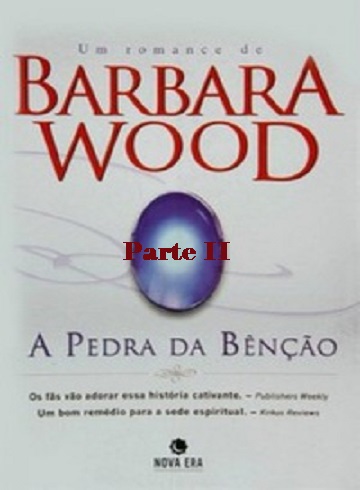Biblio "SEBO"




Três Milhões de Anos Atrás
A Pedra da Bênção se formou a incontáveis anos-luz da Terra, do outro lado das estrelas.
Surgiu de uma explosão cataclísmica de proporções estelares que lançou fragmentos cósmicos através do espaço. Como um navio reluzente, o pedaço incandescente de massa estelar navegou pelo mar sideral, rugindo e sibilando na noite escura enquanto se apressava rumo à destruição inevitável num jovem e selvagem planeta.
Mastodontes e mamutes pararam de pastar e piscaram por causa da faixa chamejante no céu, o conteúdo de ferro do meteoro criando um rastro incandescente enquanto ardia na atmosfera. Testemunhando o evento catastrófico estava uma família de assustados hominídeos — pequenas criaturas que se assemelhavam aos macacos, embora suas sobrancelhas não fossem tão proeminentes, e andassem eretos — à procura de alimento numa floresta primeva. De súbito, eles ficaram paralisados de medo e em seguida foram atirados ao chão de sua postura ereta recém-adquirida em conseqüência da onda de choque causada pelo impacto do meteorito.
A colisão aqueceu a pedra a ponto de derretê-la e espalhar fragmentos como chuva. Na fornalha do vulcão a poeira de estrelas do meteoro se liquefez e fundiu-se com elementos cristalinos na terra, o quartzo doméstico despedaçou-se para abraçar microdiamantes cósmicos como se pelo toque da vara de condão de um alquimista. A cratera formada pelo impacto esfriou-se gradualmente e se encheu com água da chuva e, por dois milhões de anos, torrentes pluviais, descendo de vulcões próximos, alimentaram o lago da cratera, assoreando-a, cobrindo os fragmentos celestiais com camada após camada de areia. Depois um sublevantamento geológico mudou para leste a bacia de drenagem do lago, criando uma torrente que começou a escavar uma ravina que iria um dia, bem no futuro, ser chamada de Olduvai num continente chamado África. O lago finalmente se esvaziou e ventos subseqüentes carregaram as camadas de assoreamento para expor mais uma vez os fragmentos do meteoro. Eram duros, pelotas feias brilhando apenas aqui e ali. Mas um deles era singular, forjado talvez por acaso, sorte ou destino. Nascido da força e violência, era liso e ovóide após milênios sendo curtido e polido por água, areia e vento, e reluzia com um profundo brilho azul tal como o céu que o havia liberado. Pássaros voavam acima, despejando sementes que vicejaram em luxuriante vegetação, dando à pedra um anteparo protetor de modo que apenas um ocasional raio de sol, refletido de sua superfície de cristal, denunciava sua presença.
Outros mil anos se passaram, depois mais outros, enquanto a pedra que um dia seria reverenciada como mágica e terrível, amaldiçoada e abençoada, esperava...

África, 100 Mil Anos Atrás
A caçadora agachou-se na relva, as orelhas lançadas para trás, o corpo retesado e pronto a saltar.
A curta distância, um pequeno grupo de humanos escavava em busca de sementes e raízes, sem se dar conta dos olhos de âmbar que os observavam. Embora de envergadura maciça com músculos poderosos, a caçadora era, contudo um animal lento. Ao contrário de seus adversários, os leões e leopardos, que eram ágeis e caçavam sua presa, o tigre-dentes-de-sabre precisava ficar à espreita e pegar sua caça de surpresa.
E assim ela permaneceu imóvel na relva amarelada, observando, esperando enquanto a presa, sem desconfiar, chegava mais perto.
O sol se ergueu e a planície africana ficou mais quente. Os humanos iam avançando em sua interminável busca de alimento, estofando a boca com nozes e bagas, enchendo o ar com o som de mastigação ruidosa e o ocasional grunhido de palavra falada. A fera esperava. Era preciso ter paciência.
Finalmente, uma criança, mal se sustentando nas pernas, se afastou de sua mãe. O bote foi rápido e brutal. Um grito agudo da criança e a caçadora estava trotando rapidamente com o corpo tenro em suas mandíbulas letais. Os humanos imediatamente lhe deram caça, gritando e brandindo lanças frágeis.
E então a tigresa se foi, desaparecendo em meio ao emaranhado de arbustos para sua toca oculta, a criança freneticamente se contorcendo e guinchando entre dentes cortantes. Os humanos, temendo segui-la na mata densa, corriam em frenesi, pulando para cima e para baixo, golpeando o solo com porretes rústicos, seus berros se elevando ao céu, onde abutres já começavam a se reunir na esperança de sobras. A mãe da criança, uma jovem mulher que os outros chamavam de Vespa, corria de um lado para outro diante da abertura por onde a fera havia desaparecido.
Então veio o grito de um dos homens. Ele gesticulou para que fossem embora e todos eles, como um único corpo, saíram em largas passadas do emaranhado espinhoso. Vespa se recusava a partir, muito embora duas mulheres tentassem arrastá-la. Ela arremessou-se ao solo e uivou como se acometida de dor física. Por fim, assustados pelo pensamento de que o felino pudesse retornar, os outros a abandonaram e empreenderam uma rápida escapada para uma plataforma de árvores próxima, onde se apressaram a subir para a segurança dos galhos.
Lá permaneceram até que o sol começou a mergulhar no horizonte e as sombras se adensaram. Já não ouviam mais os gritos da mãe desesperada. O silêncio do fim de tarde só havia sido quebrado uma vez por um único grito agudo, e depois tudo se aquietou. Com os estômagos roncando e a sede impelindo-os a se mover, eles desceram das árvores e olharam brevemente para o ponto sangrento onde tinham visto Vespa pela última vez, depois voltaram-se para oeste e recomeçaram sua busca de alimento.
O pequeno bando de humanos caminhava empertigado enquanto atravessava a savana africana, os membros longos e os torsos esguios movendo-se com uma fluida graça animal. Não usavam nenhuma roupa, nenhum ornamento. Carregavam lanças e machadinhas rústicas. Eram setenta e seis, sua faixa etária se estendendo de recém-nascido à velhice. Nove das mulheres estavam grávidas. Enquanto seguia inflexivelmente à frente na sua eterna procura de comida, esta família de primeiros humanos ignorava que dali a centenas de milhares de anos, num mundo que não podiam imaginar, seus descendentes iriam chamá-los de Homo sapiens — "Homem, o Sábio".
Perigo
Mulher Alta jazia imóvel no ninho-leito que havia partilhado com Velha Mãe, os sentidos repentinamente em alerta para os sons e odores do alvorecer. A fumaça da fogueira do acampamento quase extinta. O aroma pronunciado de madeira carbonizada. O ar frio e cortante. Pássaros nos galhos das árvores, acordando para o dia, arrulhando e crocitando numa cacofonia de pios. Mas nenhum rosnado de leão ou latido de hiena, nenhum silvo de serpente, que eram os habituais avisos de perigo.
Mesmo assim, Mulher Alta não se moveu. Embora tremesse de frio e desejasse aquecer-se junto a Velha Mãe, que devia estar perto das pedras refratárias atiçando as cinzas para a vida, ela permaneceu no leito. O perigo ainda estava lá, podia senti-lo fortemente.
Ergueu lentamente a cabeça e piscou através do amanhecer enfumaçado. A Família estava agitada. Ela ouvia a voz rascante e ofegante de início da manhã de Espinha de Peixe, assim chamado quando quase morreu engasgado com uma espinha e Ventas o salvou ao esbordoá-lo firme entre as omoplatas, fazendo a espinha sair voando para a fogueira do acampamento. Espinha de Peixe não teve mais fôlego desde então. Lá estava Velha Mãe como sempre, alimentando o fogo com relva enquanto Ventas se agachava junto a ela para examinar uma irritante picada de inseto infeccionando no seu saco escrotal. Atiçadora de Fogo estava sentada e ninando seu bebê. Faminto e Caroço ainda ressonavam nos seus leitos enquanto Escorpião urinava numa árvore. E na meia-luz a silhueta de Leão que grunhia em atividade sexual com Descobridora de Mel.
Nada fora do comum.
Mulher Alta sentou-se e esfregou os olhos. O sono da Família tinha sido perturbado durante a noite pelos gritos frenéticos de um dos filhos de Ratinha, um garoto que dormia tão perto do fogo que rolara para cima das cinzas quentes e ficara gravemente queimado. Foi uma lição aprendida por todas as crianças. A própria Mulher Alta ostentava uma cicatriz de queimadura ao longo da coxa direita desde que dormira muito perto do fogo quando criança. O garoto, embora choramingando agora que sua mãe aplicava lodo molhado à carne viva, parecia bem. Mulher Alta olhou para os outros membros da Família que estavam começando a se arrastar para beber água no poço, seus movimentos sonolentos e preguiçosos. Não via neles quaisquer sinais de alarme ou medo.
Ainda assim, alguma coisa estava errada. Embora não pudesse vê-la, ouvi-la ou farejá-la, a jovem mulher sabia com cada instinto do seu corpo que uma ameaça espreitava nas proximidades. Mas Mulher Alta não possuía o intelecto mental para apreender o que poderia ser, nem o dom da linguagem para transmitir seus temores aos outros. Na sua mente ela ouvia: aviso. Mas se ela fosse falar a palavra, os outros rapidamente iriam procurar por cobras venenosas, cães selvagens ou tigres-dentes-de-sabre. Não veriam nada e especulariam por que Mulher Alta os alertara.
Não é um aviso para hoje, sussurrou sua mente quando ela por fim deixou a segurança do seu ninho-leito. É um aviso para amanhã.
Mas a jovem fêmea nesta família de humanos primevos não tinha como expressar seu pensamento. Eles não possuíam o conceito de "futuro". O perigo que estava vindo era estranho para criaturas que só conheciam o perigo presente. Os humanos na savana viviam tal como os animais em torno deles, pastando e rapinando, procurando água, correndo dos predadores, aliviando ânsias sexuais e dormindo quando o sol se punha e os estômagos estavam cheios.
À medida que o sol matinal despontava, a Família foi saindo da proteção das espadanas e juncos e seguiu para a planície aberta, sentindo-se a salvo agora que a aurora rompera por completo sobre seu mundo, dispersando a noite e seus perigos. Mulher Alta, com o coração repleto de um pavor sem nome, juntou-se aos outros enquanto eles abandonavam o acampamento noturno e começavam a busca diária por comida.
Ela parou e recomeçou a examinar as cercanias, esperando vislumbrar a nova ameaça que sentia tão fortemente. Mas tudo que via era um mar de relva da cor do leão, pontuado com árvores frondosas e outeiros rochosos se estendendo até os morros distantes. Predadores não seguiam o grupo de humanos impelidos pela sede, nenhuma ameaça pairava sob o céu nevoento. Mulher Alta viu rebanhos de antílopes pastando, girafas mordiscando folhas, zebras balançando os rabos. Nada de estranho ou novo.
Apenas a montanha à frente no horizonte. Estivera adormecida por alguns dias, mas agora soltava fumaça e cinzas para o céu. Aquilo era novo.
Mas os humanos o ignoravam — Ventas, enquanto capturava um gafanhoto e o esmagava na boca; Descobridora de Mel, enquanto arrancava um feixe de flores para ver se as raízes eram comestíveis; Faminto, enquanto procurava abutres no céu nevoento, o que seria indício de uma carcaça e a possibilidade de carne. Ignorantes da ameaça que o vulcão representava, os humanos continuavam na sua coleta inflexível, caminhando descalços sobre a terra vermelha e a relva espinhenta, vagueando por um mundo feito de lagos e pântanos, florestas e savanas, e habitado por crocodilos, rinocerontes, babuínos, elefantes, girafas, lebres, besouros, antílopes, abutres e serpentes.
A família de Mulher Alta raramente encontrava outros da sua própria espécie, embora ocasionalmente sentisse que humanos viviam além dos limites do seu próprio pequeno território. Teria sido difícil se aventurar além das orlas da sua terra, pois estas eram barreiras difíceis de transpor: uma escarpa íngreme de um lado, um rio largo e profundo do outro, e ainda um pântano impassível. A família de Mulher Alta mantinha-se dentro dessas fronteiras, seguindo o instinto e a memória, perambulando e sobrevivendo por gerações.
A Família viajava num grupo compacto, mantendo os velhos, mulheres e crianças no centro protegido enquanto os homens guarneciam os flancos com porretes e machadinhas, atentos aos predadores, que sempre visavam ao fraco, e este bando de humanos era realmente fraco; tinham ficado sem água desde a véspera. Eles se arrastavam sob o sol que despontava, os lábios e bocas ressequidos enquanto sonhavam com um rio correndo límpido, onde encontrariam tubérculos, ovos de tartaruga e feixes de vegetação comestível, ou talvez uma lebre, um saboroso flamingo capturado entre touceiras de papiro. Seus nomes mudavam segundo as circunstâncias, pois nomes nada mais eram que artifícios de comunicação, um meio de capacitar os membros da família a gritar ou falar um para o outro. Descobridora de Mel ganhou seu nome no dia em que encontrou uma colméia e a Família teve o gosto de açúcar pela primeira vez em mais de um ano. Caroço recebeu seu nome após subir numa árvore para escapar de um leopardo, só para cair ao solo e ganhar uma pancada na cabeça que formou um galo permanente. Caolho perdeu a vista direita quando ele e Leão tentaram enxotar um bando de abutres que se alimentavam de um rinoceronte morto, e um dos abutres havia reagido. Sapo era perito na captura de sapos, distraindo sua presa com uma das mãos e agarrando-a com a outra. Mulher Alta foi assim chamada porque era a mais alta da Família.
Os humanos viviam por impulsos, instintos e intuições animais. Poucos deles nutriam pensamentos. E como não pensavam, não faziam perguntas e, portanto, não tinham necessidade de vir com respostas. Eles não especulavam, não questionavam nada. O mundo era feito somente do que eles podiam ver, ouvir, cheirar, tocar e provar. Nada era oculto ou desconhecido. Um tigre-dentes-de-sabre era apenas isso — um predador quando vivo, uma fonte de alimento quando morto. Por esta razão os humanos não eram supersticiosos e ainda não haviam formado conceitos de magia, espíritos ou poderes ocultos. Eles não tentavam explicar o vento porque não lhes ocorria assim fazer. Quando Atiçadora de Fogo sentava-se para fazer uma fogueira, não se preocupava em saber de onde vinham as fagulhas, ou por que um ancestral, milhares de anos antes, tivera a idéia de fazer fogo. Atiçadora de Fogo simplesmente aprendera ao observar sua mãe, que por sua vez tinha aprendido ao observar a mãe dela.
Alimento era qualquer coisa que pudessem encontrar, e como possuíam recursos de fala e habilidades sociais limitados, a caça era primitiva, ficando restrita a presas menores — lagartos, pássaros, peixes e coelhos. A família de Mulher Alta vivia na ignorância de quem ou o que eles eram, e do fato de que tinham percorrido uma longa escala evolucionária, significando que eles e sua espécie permaneceriam fisicamente imutáveis pelas próximas centenas de milhares de anos.
Eles também ignoravam que, com Mulher Alta e o novo perigo que ela sentia, uma segunda evolução estava prestes a começar.
Enquanto procurava plantas comestíveis e insetos, uma visão a assombrou: o poço que tinham ativado para aquela manhã. Para pesar da Família, durante a noite a água ficara tão coberta de fuligem e cinza vulcânicas que tornara-se imprestável para beber. A sede os impelira quando eles normalmente teriam ficado para comer, e os impelia agora, continuamente, para oeste, seguindo Leão, que sabia onde se situava o manancial seguinte de água fresca, as cabeças erguendo-se acima da relva alta, de modo que pudessem ver os rebanhos de animais selvagens movendo-se na mesma busca por água. O céu tinha uma cor estranha, o ar estava com odor acre e penetrante. E diretamente à frente no horizonte, a montanha expelia fumaça como nunca fizera antes.
A noite nunca era silenciosa na planície africana, com leões rugindo sobre presas recém-abatidas e hienas emitindo latidos arrepiantes para alertar os parceiros da possibilidade de alimento. Os humanos abrigados na floresta dormiam de modo intermitente, apesar das fogueiras que mantinham contra a escuridão para lhes fornecer luz e calor e conservar as feras à distância. Mas duas noites antes tinha sido diferente. Apesar de habituados ao perigo constante, o medo dos humanos havia aumentado e se aguçado, fazendo-os piscar no escuro e ouvir o martelar de seus corações. Algo estranho e terrível estava acontecendo no mundo à volta deles, e como não tinham palavras para essas novas calamidades, nenhum pensamento coerente nas suas mentes primitivas poderia trazer razão, e, portanto consolo, e os assustados humanos só podiam se arrebanhar nas garras do puro poder irracional.
Eles não tinham como saber que terremotos haviam sacudido esta região muitas vezes antes, ou que a montanha no horizonte expelira lava para o céu por milênios, ficando adormecida ocasionalmente, como esteve nas últimas poucas centenas de anos. Mas agora ela estava ativa, seu cone lançando um apavorante brilho vermelho contra o céu noturno, a terra tremendo e rugindo como se tivesse vida.
Mas apenas Mulher Alta se lembrava desses terrores enquanto os outros de seu grupo percorriam com os olhos o solo e a vegetação, atentos a cupinzeiros, plantas carregadas de vagens e parreiras rastejantes que poderiam ser indício de bagas amargas.
Quando Caolho chutou um tronco apodrecido para expor larvas coleantes, os humanos caíram sobre o banquete, pegando as larvas e enchendo a boca com elas. A comida nunca era partilhada. O mais forte comia, o mais fraco passava fome. Leão, o macho dominante no grupo, abriu caminho para encher as mãos de petiscos brancos.
Quando jovem, Leão tinha se aproximado da carcaça de uma velha leoa e conseguira esfolá-la antes que os abutres descessem. Ele envergou o couro sangrento sobre os ombros, permitindo que se ajustasse a seu corpo enquanto fedia e tornava-se viveiro de bichos de varejeira até finalmente secar. Como não a removera ao longo dos anos, a pele dura era agora parte dele, seu longo cabelo havia crescido dentro dela e rangia quando ele se movia.
Leão não havia sido escolhido como o líder da Família — entre eles não existia voto ou consenso. Ele simplesmente decidira um dia que seria o líder e os outros o haviam seguido. A companheira ocasional de Leão, Descobridora de Mel, era dominante entre as fêmeas porque era grande e forte e possuía uma personalidade cobiçosa e agressiva. Nas refeições ela empurrava para fora do caminho as mulheres mais fracas a fim de obter comida para sua prole, roubando das outras e devorando mais do que lhe caberia. Leão e Descobridora de Mel usavam ambas as mãos em concha para pegar as gordas larvas brancas do tronco podre e encher a boca com elas, e quando se sentiam satisfeitos e Descobridora de Mel tinha visto que suas cinco crias haviam comido, eles se afastavam para que os mais fracos da família pudessem encher as bocas com as sobras das indolentes larvas.
Mulher Alta mastigou um punhado de larvas e depois cuspiu a papa na palma da mão. Quando estendeu a mão para Velha Mãe, que não tinha dentes, a anciã sorveu de bom grado o alimento mastigado.
Devoradas as larvas, os humanos descansavam sob o sol do meio- dia. Os homens mais fortes ficavam vigiando os predadores enquanto os demais se ocupavam com as atividades cotidianas de ninar bebês, enfeitar-se, cochilar e se empenhar em alívio sexual. Os intercursos sexuais costumavam ser breves e eram rapidamente esquecidos, mesmo entre casais que partilhavam uma afeição temporária. Não existiam relacionamentos de longo prazo, e a satisfação da ânsia sexual era assumida aleatoriamente ao sabor do acaso. Escorpião fungava ao redor das mulheres, sem saber que estava procurando o odor característico que indicava que uma fêmea estava em sua fase fértil. Às vezes era a fêmea quem fazia a busca, como Bebê fazia agora, instintivamente ansiosa por um intercurso apressado com um macho. Uma vez que Escorpião já estava ocupado com Ratinha, Bebê escolheu Faminto e, embora ele não estivesse interessado a princípio, ela conseguiu excitá-lo e montou nele com a maior satisfação.
À medida que a Família se dedicava às suas necessidades, e a montanha ao longe continuava a expelir fogo e gás para o céu, Mulher Alta mantinha uma atenta vigilância, esperando vislumbrar as orelhas ou a sombra do novo perigo que os espreitava. Mas não havia nada ali.
Eles se arrastaram durante a tarde, a sede queimando suas bocas, as crianças chorando por água, as mães tentando acalmá-las enquanto os homens faziam rápidas incursões longe do grupo, protegendo os olhos para perscrutar a planície, procurando indícios de um poço ou córrego. Eles seguiram rastros de elas e gnus, esperando que os rebanhos os conduzissem à água. Reparavam na direção dos pássaros em vôo, particularmente aves pernaltas: garças, cegonhas e egretas. Procuravam também por elefantes porque eram animais que passavam a maior parte do seu tempo na água, rolando na lama para esfriar o couro ressecado pelo sol ou submergindo quase por completo, deixando apenas a extremidade de suas trombas à tona para poderem respirar. Mas os humanos não viram garças, elãs, gnus nem elefantes que pudessem conduzi-los à água.
Ao se aproximarem dos ossos de uma zebra, tiveram uma breve satisfação. Mas quando viram que os ossos compridos já tinham sido quebrados e o tutano sugado, foi grande a sua decepção. Os humanos nem precisaram examinar as pegadas em volta da carcaça para saber que as hienas haviam roubado seu banquete.
Seguiram em frente. Perto de um outeiro relvoso, Leão fez o grupo dar uma parada abrupta, silenciando-o com um gesto. Eles prestaram atenção e na brisa ouviram um "yeow-yeow... yeow" nas proximidades — os ruídos chilreados característicos que os guepardos fazem para se comunicar com sua prole. Cautelosamente, os humanos recuaram, mantendo-se contra o vento para que os felinos não os farejassem.
Enquanto as mulheres e crianças escavavam à procura de quaisquer vegetais ou insetos comestíveis que pudessem encontrar, os homens, com suas lanças com pontas de madeira aguçadas, estavam em alerta para uma possível caça. Embora as perícias de caça organizada estivessem além das capacidades deles, sabiam que uma girafa ficava mais vulnerável quando bebendo em um poço — tinha de abrir amplamente as pernas para alcançar a água, e nesta posição era um alvo fácil para humanos que agissem com rapidez e lanças afiadas.
Ventas gritou subitamente de satisfação quando apoiou-se num joelho e apontou para rastros dispersos de chacais no solo. Os chacais eram notórios por enterrar suas presas mortas e voltar para comê-las mais tarde. Mas uma escavação frenética na área circundante não surtiu nenhuma caça recém-enterrada.
Eles prosseguiram — calorentos, famintos, sedentos, até que Leão finalmente soltou um grito que os outros entenderam como significando que tinha descoberto água. Então, começaram a correr. Mulher Alta envolveu Velha Mãe com um braço para ajudá-la a prosseguir.
Leão nem sempre tinha sido o líder da Família. Antes dele, um homem chamado Rio fora o membro dominante, tomando para si as melhores porções de alimento, monopolizando as fêmeas, decidindo onde a Família dormiria à noite. Rio ganhara seu nome por causa de um perigoso encontro com uma inundação. A Família conseguira alcançar terras altas a tempo, mas Rio fora apanhado. Uma árvore arrancada das raízes pela correnteza havia sido a sua salvação. Encontraram-no dias depois sobre um banco de areia, machucado, exausto, mas ainda vivo. A Família o chamou assim por causa do novo rio que passou a fluir pelo seu território, e por algum tempo ele usufruiu da supremacia sobre o grupo, até que Leão o desafiou por causa de uma fêmea.
A luta tinha sido até a morte, os dois se agredindo com porretes enquanto a Família assistia, aos gritos. Quando um ensangüentado Rio finalmente fugiu, Leão sacudiu os punhos no ar e depois prontamente possuiu uma excitada Descobridora de Mel com grande vigor. Rio nunca mais foi visto, nem se ouviu falar dele de novo.
Depois disso, a Família seguira Leão obedientemente e sem questionar. Sua rústica sociedade não era igualitária pela simples razão de que os membros da família não eram capazes de pensar por si próprios. Como os rebanhos pastando na savana em torno deles, ou os seus primos macacos vivendo nas distantes florestas tropicais, o grupo precisava de um líder para sobreviver. Alguém sempre se destacava sobre os demais, quer pela força física, quer pela superioridade mental. Nem sempre era um macho. Antes do líder chamado Rio houvera uma mulher forte de nome Hiena, assim chamada por que ria que nem uma. Ela conduzira a Família no seu ciclo eterno e imutável de escavação-coleta. Hiena se lembrava das fronteiras do território, sabia onde havia água boa, onde podiam encontrar bagas e quais estações produziam nozes e sementes. E quando uma noite ela foi apanhada longe dos outros por um bando de hienas, a Família vagueou sem rumo até que uma inundação transformou Rio em seu novo líder.
Agora Leão os guiava até o suprimento de água fresca de que ele se lembrava de quatro estações atrás — um poço artesiano bem protegido sob uma saliência pedregosa. Eles se precipitaram para o poço e beberam sofregamente até se fartar. Mas quando, saciada a sede, olharam em volta à procura de comida, nada encontraram. Nenhum banco de areia no qual escavar ovos de tartaruga ou caranguejos de água doce, nem flores de raízes tenras nem vegetação abrigando sementes saborosas. Leão observou o cenário com desprazer — certamente houvera relva ali antes — e por fim indicou com um grunhido que tinham de prosseguir.
Mulher Alta parou para olhar o poço no qual tinham acabado de beber. Examinou a superfície clara e depois olhou para o céu fumacento. Olhou de novo para a água e desta vez levou em conta a saliência rochosa. Franziu o cenho. A água que haviam ativado de manhã estava imprestável para beber. Esta água estava limpa e doce. Sua mente pelejou para fazer a ligação. O céu fuliginoso, a saliência rochosa, a água limpa.
E então o pensamento se formou: Esta água estava protegida.
Ela observou a Família enquanto caminhavam penosamente — Leão liderando-os com seu manto de pele, Descobridora de Mel ao seu lado com um bebê nos braços, uma criança pequena montada nos ombros e uma outra mais velha agarrada a sua mão livre —, tropeçando, vacilando, a sede esquecida agora que suas barrigas doíam de fome. Mulher Alta queria chamá-los de volta. Queria avisá-los de algo, mas não sabia do quê. Tinha a ver com o novo perigo sem nome que vinha sentindo ultimamente. E agora ela sabia que, de alguma maneira, o perigo estava ligado à água — a água coberta de fuligem do amanhecer, este poço límpido e o poço para onde Leão os levava, mais distante ao longo da antiga trilha.
Sentiu um puxão no braço. Velha Mãe, o pequeno rosto esbranquiçado virado para Mulher Alta com uma expressão preocupada. Elas não deviam ficar para trás.
Quando a Família chegou a um baobá carregado de frutos, todos que podiam agitar uma vara golpearam os galhos, fazendo cair os frutos carnudos. A Família se banqueteou, sentados ou agachados, ou mesmo comendo de pé, de modo que pudessem ficar de olho em possíveis predadores. Depois cochilaram debaixo da frondosa árvore, sentindo o calor da tarde se assentar em sua carne e ossos. Mães amamentavam bebês enquanto os irmãos rolavam alegremente na terra. Caolho estava interessado por uma fêmea. Ele observava Bebê enquanto ela vasculhava as vagens na esperança de encontrar uma fechada, e quando ele lhe fez cócegas e atacou-a, ela riu e ficou de quatro, permitindo que ele a penetrasse. Descobridora de Mel catava piolhos no cabelo emaranhado de Leão, Velha Mãe besuntava de cuspe a queimadura do garotinho e Mulher Alta, recostada melancólica contra uma árvore, mantinha os olhos na distante montanha raivosa.
Após um cochilo, eles puseram-se em atividade e, mais uma vez impelidos pela fome, seguiram para oeste. Ao pôr-do-sol, a Família chegou a um largo riacho onde elefantes se banhavam, borrifando água com suas trombas. Os humanos se aproximaram cautelosos da margem, atentos a qualquer coisa que se assemelhasse a troncos flutuantes. Podiam ser crocodilos, apenas com os olhos, narinas e uma pequena parte do dorso à tona da água. Embora os crocodilos caçassem principalmente à noite, eles eram notórios por atacar durante o dia se pressentissem uma presa fácil. Mais de uma vez os humanos tinham visto um dos seus, ser arrebatado da margem de um rio e carregado para o fundo num piscar de olhos.
Embora ficassem consternados ao encontrar a superfície do preguiçoso riacho coberta de fuligem e cinza, viram apesar de tudo uma abundância de pássaros ao longo das margens — tordeiros e íbis, gansos e maçaricos -—, uma promessa de ninhos cheios de ovos. E como o sol estava mergulhando no horizonte e as sombras se adensavam, decidiram passar a noite ali.
Enquanto algumas das mulheres e as crianças começavam a reunir talos altos de capim e plantas flexíveis para os ninhos-leito, Mulher Alta e Velha Mãe e outras mulheres escavavam as margens arenosas à procura de crustáceos. Sapo e seus irmãos caçavam rãs-touro. Durante a estação seca as rãs-touro ficavam adormecidas em tocas debaixo do solo, só saindo quando os primeiros pingos da estação chuvosa amaciavam a terra. Como ali não chovia havia várias semanas, os garotos esperavam que a caça fosse boa. Atiçadora de Fogo mandou seus filhos colherem o estrume de qualquer rebanho que tivesse pastado ali recentemente e depois pôs-se a trabalhar com suas pedras de ignição, usando gravetos secos para iniciar um fogo lento. Quando se acrescentou estrume de zebra e gnu, a fogueira ardeu instantaneamente, e os homens acenderam tochas feitas de seiva e ramos de árvores em volta do perímetro do acampamento para manter os predadores afastados. Uma hora de coleta também produziu folhas de chicória, tubérculos e a carcaça de um mangusto gordo que ainda não estava bichada. Os humanos comeram avidamente, devorando tudo, sem guardar sequer uma semente ou um ovo para a fome do dia seguinte.
Finalmente se acomodaram para a noite dentro da proteção de uma cerca feita de arbusto espinhoso e ramos de acácia, os homens reunidos a um lado do fogo enquanto as mulheres e crianças se juntavam do outro. Agora era a hora de se enfeitar, um ritual noturno que era impelido pela necessidade primal por companhia e toque, e que de maneiras sutis estabelecia que existia um arremedo de ordem social entre eles.
Usando uma machadinha de quartzo que Faminto tinha feito para ela, Bebê cortou o cabelo de seus filhos. Se não fosse controlado, o cabelo cresceria até a cintura e se tornaria um risco. Bebê era a prova disso, tendo fugido de sua mãe quando era pequena porque odiava ter seu cabelo cortado, ele cresceu até a cintura e era alisado com gordura, até que um dia ele se emaranhou num arbusto espinhoso, prendendo-a. Quando a Família finalmente soltou a histérica Bebê da armadilha, partes de seu couro cabeludo tinham sido laceradas e sangravam profundamente. Foi quando ela recebeu seu nome, porque não parou de chorar por vários dias. Agora as partes calvas na cabeça de Bebê haviam cicatrizado e o cabelo crescia em tufos horrorosos.
Algumas mulheres catavam piolhos no cabelo dos filhos, esmagado-os entre os dentes, e emplastravam os pequeninos e outras mulheres com lodo trazido do poço. O riso delas elevava-se para o céu como as fagulhas das fogueiras, com a ocasional palavra penetrante ou de aviso.
Embora as mulheres estivessem ocupadas, todas se mantinham de olho em Estéril, assim chamada por não ter filhos. Ela andava seguindo a grávida Fuinha por toda parte. Todos se lembravam do dia em que Bebê tinha parido sua quinta cria e Estéril a havia arrebatado, com placenta e tudo, e fugido com ela. Todos saíram em sua perseguição até que a pegaram, o recém-nascido morrendo no tumulto quando as mulheres a surraram quase até a morte. Depois disso, Estéril sempre seguia atrás da Família quando eles saíam para escavar e dormia distante do fogo, como uma sombra à orla do campo. Mas Estéril estava se tornando ousada ultimamente e ficava rodeando Fuinha, que se mostrava assustada. Ela perdera suas três crianças anteriores por picada de cobra, queda de um precipício rochoso e para um leopardo que ousadamente invadira o acampamento uma noite e carregara a criança.
Os homens estavam reunidos do outro lado da fogueira principal. Sempre que um jovem macho tornava-se crescido demais para ficar com as mulheres e bebês, ele ia sentar-se com os homens mais velhos, para observar e imitar as mãos cheias de cicatrizes e calos enquanto eles aparavam ferramentas de sílex e afiavam gravetos compridos para transformá-los em lanças rudimentares. Aqui, os jovens machos, não mais sob o domínio de suas mães, aprendiam os comportamentos masculinos: a transformar madeira em armas e rocha em ferramentas; a identificar rastros de animais; a sentir o odor do vento e farejar uma presa. Eles aprendiam as poucas palavras, sons e gestos que os machos usavam para comunicação. E, como as fêmeas, eles enfeitavam um ao outro, arrancando coisas vivas do cabelo emaranhado e besuntando de lodo o corpo um do outro. O lodo, como uma proteção contra o calor, picadas de insetos e plantas venenosas, tinha de ser reaplicado diariamente e era uma parte importante do ritual noturno. Os jovens machos trapaceavam pela honra de enfeitar Leão e os homens mais velhos.
Lesma, assim chamado por ser vagaroso, estava rugindo seu protesto por ter de montar guarda. Após uma troca de gritos e punhos furiosos, Leão acomodou a disputa rachando uma lança na cabeça de Lesma. O homem derrotado seguiu para seu posto, limpando o sangue dos olhos.
O velho Escorpião esfregou o braço e a perna esquerdos, que estavam ficando estranhamente dormentes, enquanto Caroço tentava coçar uma comichão que não podia alcançar, recorrendo à árvore mais próxima, onde se esfregou acima e abaixo no tronco duro até a pele se romper e sangrar. Ocasionalmente eles relanceavam os olhos sobre o fogo para as industriosas mulheres, criaturas que os homens subconscientemente reverenciavam porque só as mulheres pariam bebês, os machos sendo alheios da sua própria parte no processo. As fêmeas eram imprevisíveis. Uma mulher que não estivesse interessada em relação sexual podia ser má quando forçada. O pobre Beiço, que costumava ser chamado de Nariz de Pássaro, adquirira seu nome depois de um encontro com Mulher Alta. Quando ele tentou penetrá-la contra sua vontade, ela reagiu, mordendo parte de seu lábio inferior que sangrou por vários dias e exsudou pus. O ferimento se fechou como uma fenda pregueada. Agora, seus dentes inferiores estavam permanentemente à mostra. Depois disso, Beiço deixou Mulher Alta em paz, como fez a maioria dos outros machos. Os poucos que haviam tentado possuí-la decidiram, após uma luta exaustiva, que não valia a pena, pois o que não faltava eram fêmeas tolerantes por perto.
Sapo estava aborrecido consigo mesmo. No ano anterior ele e uma jovem, chamada Tamanduá por causa da sua paixão por formigas, tinham usufruído de uma união especial, como Bebê e Caolho, que estavam atualmente, terna e aconchegadamente, apreciando o prazer sexual. Mas agora, como a barriga de Tamanduá crescera e ela não queria ter nada com ele, os avanços de Sapo eram recebidos com tapas e sibilos. Ele já vira acontecer antes. Uma vez que uma fêmea paria, ela preferia a companhia de outras mulheres que tinham filhos. Juntas, elas riam e conversavam enquanto amamentavam seus bebês e ficavam de olho nas crianças que já deambulavam, ao passo que os machos desprezados ficavam relegados às suas atividades solitárias de manufatura de ferramentas e armas.
A união mãe-filho era o único vínculo real que a Família conhecia. Se um homem e uma mulher se juntavam, raramente era por longo tempo, o curso do seu relacionamento pegando fogo de paixão para logo arrefecer. Escorpião, o amigo de Sapo, agachou-se junto a ele e bateu no seu ombro em simpatia. Ele também experimentara intimidade com uma mulher até que ela teve um bebê e não quis mais nada com ele. Claro que havia aquelas que, como Descobridora de Mel, permaneciam afeiçoadas a um homem, especialmente quando ele tolerava seus bebês, como Leão fazia. Mas Escorpião e Sapo não tinham paciência com os bebês das mulheres e preferiam fêmeas que não apresentassem empecilhos.
Sapo sentia o calor aumentar dentro dele. Olhava com inveja para Caolho e Bebê, ternos e amorosos um com o outro. Caolho usufruía de liberação sexual sempre que desejava, Bebê sendo constantemente tão bem-disposta a permitir que ele se satisfizesse. Formavam presentemente o único casal firme, dormindo juntos, partilhando afeição. Caolho até mesmo tolerava os filhos dela, algo que poucos machos faziam.
De olho nas mulheres, Sapo tentou despertar interesse em algumas ao exibir sua ereção e lançando-lhes um olhar esperançoso. Mas ou elas o ignoravam ou então o enxotavam. Assim, ele voltou para a fogueira e remexeu as brasas. Para seu prazer encontrou uma cebola esquecida, esturricada, mas ainda comível. Ele entregou-a para Atiçadora de Fogo, que imediatamente agarrou o acepipe e se pôs de quatro, apoiando-se num braço enquanto que com a mão livre comia ruidosamente a cebola. Sapo não demorou muito. Ele logo se satisfez e caminhou trôpego para dormir no seu ninho-leito.
Quando Leão acabou de comer, seu olhar caiu sobre Velha Mãe, que estava chupando uma raiz. Leão e Velha Mãe tinham sido paridos pela mesma mulher, haviam mamado nos mesmos peitos e brincado juntos quando crianças. Depois que Velha Mãe havia procriado doze vezes, Leão demonstrara respeito por ela. Mas agora ela estava ficando senil e formou-se em sua mente a noção obscura de que estavam desperdiçando comida com a velha. Antes que ela pudesse esboçar qualquer reação, ele passou rápido por ela, arrebatou a raiz de seus dedos e enfiou-a entre os próprios dentes.
Vendo o que tinha acontecido, Mulher Alta foi até a consternada Velha Mãe, fazendo uns ruídos cantarolados e puxando o cabelo dela.
Velha Mãe era a pessoa mais antiga da Família, embora ninguém soubesse exatamente quão antiga, uma vez que a Família não fazia cálculos de anos ou estações. Se alguém tivesse feito as contas, eles saberiam que ela alcançara a adiantada idade de 55 anos. Mulher Alta, por outro lado, vivera por 15 verões e sabia vagamente que era a filha de uma mulher que Velha Mãe tinha parido.
Observando Leão enquanto ele circulava pelo acampamento antes de se acomodar em seu ninho-leito, Mulher Alta sentiu-se invadida por uma inquietação inominável. Tinha a ver com Velha Mãe e quão indefesa ela estava. Uma lembrança indefinida veio à sua mente jovem: sua própria mãe, tendo quebrado uma perna, foi deixada para trás quando não pôde mais caminhar, uma figura solitária sentada contra o tronco de uma árvore espinhosa, observando a Família prosseguir. O grupo não podia ficar sobrecarregado por um membro fraco, pois os predadores estavam sempre vigilantes na relva alta. Quando a Família passou de novo por ali, não havia nenhum vestígio da mãe de Mulher Alta.
Finalmente todos começaram a se acomodar para a noite, mães e filhos enrolados juntos nos seus ninhos-leitos, os homens do outro lado da fogueira, encontrando pontos confortáveis, deitando costas com costas para se aquecer, sobressaltando-se e se virando aos sons de rosnados e latidos próximos na escuridão. Incapaz de dormir, Mulher Alta deixou o ninho-leito que dividia com Velha Mãe e seguiu cautelosa até a água. A curta distância viu que uma pequena manada de elefantes — apenas fêmeas com suas crias — viera para passar a noite, dormindo na maneira peculiar da sua espécie, recostados contra uma árvore ou uns contra os outros. Quando alcançou a beira da água, olhou para a superfície coberta com espessa cinza vulcânica. A seguir olhou para cima, para as estrelas sendo lentamente devoradas por fumaça, e tentou mais uma vez entender o turbilhão em sua mente.
Isto relacionava-se com o novo perigo.
Ela olhou de volta para o acampamento, onde setenta e poucos humanos estavam se acomodando para a noite. Imediatamente, roncos se elevaram para o céu, junto a grunhidos e suspiros noturnos. Ela reconheceu os gemidos e ofegos de um casal engajado em intercurso sexual. Um bebê chorou e foi rapidamente aquietado. O som inconfundível de Ventas arrotando. E os bocejos ruidosos dos homens que guardavam o perímetro com lanças e tochas para proteger a Família durante a noite. Todos pareciam despreocupados; para eles a vida seguia como sempre tinha sido. Mas Mulher Alta estava inquieta. Somente ela sentia que o mundo não ia bem.
Mas de que maneira? Leão estava conduzindo a Família para todos os lugares ancestrais que haviam percorrido por gerações. Encontravam a comida que sempre tinham encontrado; encontravam até mesmo água onde supostamente deveria estar, embora coberta de cinza. Havia a segurança e a sobrevivência de sempre. Mudança assustava a Família. O conceito de mudança nem passava por suas mentes.
Mas agora estava começando a passar — ao menos pela mente de um de seus membros mais jovens.
Mulher Alta examinou a noite com seus olhos castanhos, atenta a qualquer movimento suspeito. Sempre alerta, nunca baixando aguarda, Mulher Alta vivia como a Família vivia, por instinto, sagacidade e um forte senso de sobrevivência. Mas esta noite era diferente, como tinham sido as últimas poucas noites, desde que a sensação de um perigo havia sido plantada dentro dela. Um perigo que não podia ver nem dar nome. Que não deixava rastros nem indícios, que não rosnava nem silvava, que não possuía nem garras nem caninos, embora fizesse os pequenos pêlos de sua nuca se arrepiarem.
Ela examinou as estrelas e viu o quanto estavam tragadas pela fumaça. Viu as cinzas chuviscando do céu. Examinou a água coberta pela fuligem e inalou o odor de enxofre e magma que vinha do distante vulcão. Viu o modo como a relva se vergava ao vento noturno, como as árvores se inclinavam e de que maneira as folhas secas voavam. E de repente, com um pulo do seu coração, entendeu.
Mulher Alta prendeu a respiração e congelou enquanto a ameaça sem nome tomava forma em sua mente e percebeu tudo num segundo atordoante, despercebido por qualquer outro membro da família: que o poço de água do dia seguinte — apesar do que gerações de experiência lhes haviam mostrado — ia ser coberto com cinza.
Um grito rasgou a noite.
Era Fuinha, nas dores do parto. As mulheres rapidamente a ajudaram a sair do acampamento e ir para o recesso das árvores. Os machos pularam nervosamente para a periferia do acampamento, empunhando as lanças rústicas e juntando pedras para jogar nos predadores. Tão logo os felinos e hienas ouvissem o grito de um ser humano vulnerável e sentissem o cheiro de sangue do parto, certamente viriam. As fêmeas humanas instintivamente formaram um círculo em torno de Fuinha, de costas para ela, gritando e batendo com os pés para encobrir os gritos de dor e a vulnerabilidade da parturiente.
Ela não teve ajuda. Agarrando-se ao tronco de uma acácia, Fuinha ficou de cócoras e empurrou, fazendo força enquanto se encontrava nas garras do frio terror. Acima dos gritos das mulheres teria ela ouvido o rugido triunfante de um leão? Haveria um bando de felinos prestes a voar das árvores, com garras, mandíbulas e olhos amarelos, para rasgá-la em pedaços?
Finalmente o bebê nasceu e Fuinha de imediato o levou ao peito, sacudindo-o e dando palmadas até ele chorar. Velha Mãe ajoelhou-se ao lado e massageou-lhe o abdome, como fizera ao longo dos anos a si mesma e suas filhas, induzindo a placenta a ser expelida. E quando a placenta saiu e as mulheres enterraram apressadamente o sangue e as secundinas, a Família se reuniu em torno da nova mãe para olhar com curiosidade a criatura que se contorcia no seu seio.
De repente, Estéril lançou-se à frente e arrebatou o bebê que mamava dos braços de Fuinha. As mulheres correram atrás dela, jogando pedras. Estéril largou o bebê, mas as mulheres continuaram a perseguição até capturá-la. Arrancaram galhos das árvores e bateram nela sem piedade, só parando quando a forma ensangüentada a seus pés estava irreconhecível. Quando tiveram certeza de que Estéril não mais respirava voltaram ao acampamento com o bebê que, miraculosamente, ainda vivia.
Leão decidiu que a Família deveria se mudar sem demora. O cadáver de Estéril e o sangue do parto atrairiam perigosos carniceiros, principalmente os abutres que podiam ser determinados e destemidos. Assim, levantaram acampamento embora ainda fosse noite e, armados com tochas, fizeram seu caminho pela planície aberta. Enquanto viajavam sob a lua cheia, ouviram atrás deles os animais chegarem, rosnando selvagemente enquanto dilaceravam o corpo de Estéril.
Outro amanhecer e a cinza leve continuava a cair do céu. Os humanos começaram a se agitar, despertando para o barulhento canto de pássaros e o ruidoso guinchar de macacos nas árvores. Atentos aos predadores agora que as fogueiras periféricas se haviam extinguido, seguiram para o bebedouro onde zebras e gazelas tentavam em vão saciar a sede. A água não podia ser vista por causa da espessa camada de fuligem depositada na sua superfície. Mas os humanos, capazes de afastar com as mãos a poeira vulcânica, encontraram água quase saibrosa e de péssimo sabor. Enquanto os outros começavam a escavar à procura de ovos e crustáceos, e a vasculhar as tocas em busca de rãs, tartarugas e raízes de lírio, Mulher Alta voltou os olhos para oeste, onde a montanha fumacenta avultava na paisagem ainda escura do amanhecer.
As estrelas não podiam ser vistas, por causa das grandes nuvens de fumaça que se formavam em todas as direções. Virando-se, Mulher Alta perscrutou o horizonte a leste, que estava ficando pálido, onde o sol em breve surgiria. Lá o céu estava claro e fresco, as últimas estrelas ainda visíveis. Olhou de volta para a montanha e vivenciou de novo a revelação da noite anterior, quando, pela primeira vez na história de seu povo, havia tomado partes separadas de uma equação e as combinado em uma resposta: a montanha estava expelindo fumaça... o vento soprava para leste... desta forma contaminando os reservatórios de água em seu caminho.
Tentou contar aos outros, tentou encontrar palavras e gestos que transmitissem a essência deste novo perigo. Mas Leão, agindo apenas por instinto e memória ancestral, nada sabendo do conceito de causa e efeito, e compreendendo apenas que o mundo sempre tinha sido de um jeito e o seria eternamente, não era capaz de dar este salto mental. O que tinham a montanha e o vento a ver com água? Pegando sua lança rústica, ele ordenou que a Família se pusesse a caminho.
Mulher Alta insistiu.
— É mau! — disse, desesperadamente, apontando para oeste. — Mau! — depois gesticulou freneticamente para leste, onde o céu estava claro e onde sabia que a água seria limpa. — Lá bom! Nós vamos!
Leão olhou para os outros. Mas suas faces estavam inexpressivas porque não faziam idéia do que Mulher Alta tentava dizer. Por que mudar o que sempre tinham feito?
E assim abandonaram o acampamento mais uma vez e começaram sua coleta diária enquanto observavam o céu procurando abutres, que poderiam significar uma carcaça e a possibilidade de ossos compridos cheios de saboroso tutano. Leão e os homens mais fortes sacudiam árvores para derrubar nozes e frutos, e vagens que seriam tostadas mais tarde na fogueira. As fêmeas se agachavam junto ao cupinzeiro, inserindo gravetos para expelir os gordos insetos e comê-los. As crianças ocupavam-se com um ninho de formigas do mel, mordendo cuidadosamente os abdomes inchados de néctar enquanto evitavam suas aguçadas mandíbulas. Com o alimento chegando em tão magras porções, a coleta nunca cessava. Só raramente deparavam com um animal morto recentemente, que ainda não tinha sido descoberto pelas hienas e abutres, e os humanos o esfolavam e se fartavam com a carne.
Mulher Alta caminhava com medo: A água estará pior mais adiante.
Por volta do meio-dia, ela subiu num pequeno outeiro e, protegendo os olhos, examinou a savana amarelo-leão. Quando imediatamente começou a chamar e agitar os braços, os outros souberam que ela achara um ninho de ovos de avestruz. Os humanos se aproximaram cautelosos, espionando a enorme ave que guardava o ninho. As penas pretas e brancas lhes diziam que era um macho, o que era incomum, já que normalmente cabia às fêmeas de cor castanha chocar no ninho durante o dia, enquanto os machos chocavam à noite. Aquele ali parecia enorme e perigoso. Mantiveram-se atentos para a fêmea, que por certo estaria nas proximidades e que seria igualmente letal ao guarnecer seu ninho.
Leão deu um grito e Faminto, Caroço, Escorpião, Ventas e todos os outros machos investiram correndo para o avestruz com lanças e porretes, gritando e enxotando e fazendo o maior barulho possível. A ave gigante voou do ninho com um grande bater de asas e enfrentou os intrusos, as penas do peito sobressaindo, o pescoço estendido à frente enquanto atacava com o bico e chutava com suas poderosas pernas. Então a fêmea apareceu, uma enorme ameaça castanha disparando pela planície na velocidade máxima, as asas espalhadas, o pescoço estendido à frente, o grito alto e estridente.
Enquanto Leão e os homens lutavam com as aves, Mulher Alta e as outras fêmeas recolhiam o maior número de ovos que podiam e saíam em disparada. Alcançando um bosquete, elas começaram imediatamente a quebrar os ovos enormes e a beber seu conteúdo. Quando Leão e seus companheiros voltaram ofegantes, tendo deixado um desolado casal de avestruzes para gemer sobre um ninho destruído, eles pegaram a sua parte, martelando a casca espessa dos ovos para abrir buracos, depois puxando a gema e a clara com os dedos. Alguns gritaram deliciados quando encontraram fetos de avestruz nos seus ovos e estalaram as criaturas, triturando-as em suas bocas. Mulher Alta pegou um ovo para Velha Mãe, rachou-o no topo e o depositou nas mãos da idosa. Quando teve certeza de que Velha Mãe havia comido o suficiente, sentou-se para comer o último ovo que poupara. Mal o tinha aberto, quando Leão surgiu, arrebatou-lhe o ovo e o enfiou na boca, engolindo a gema enorme e soltando um arroto barulhento. A seguir ele jogou fora a casca vazia e atacou-a, fazendo-a mudar de posição. Agarrando seus pulsos com uma das mãos e pressionando seu pescoço com a outra, avançou para dentro dela enquanto Mulher Alta gritava em protesto.
Ao terminar, ele caminhou trôpego para uma soneca, procurando o lugar mais sombreado. Ele chegou ao melhor ponto apenas para encontrar Escorpião recostado desafiadoramente a uma árvore. Um punho erguido e um rosnado de Leão, um breve choque de vontades, e Escorpião se afastou ressentido e mal-humorado.
Ao meio-dia eles dormiram, quando a savana estava em paz. Um grupo de leões se estendia ao sol, não muito distante, mas os restos de uma caça próxima — que estava sendo terminada por abutres e na qual os humanos não tinham o menor interesse, eles próprios saciados — garantiram ao povo de Mulher Alta que os felinos haviam comido recentemente e que, portanto não representavam ameaça. Enquanto a Família cochilava, Mulher Alta remexia as cascas de ovo estilhaçadas na esperança de encontrar restos de gema e clara. Mas pior do que sua fome era a sede. Mais uma vez ela observou as nuvens de fumaça no céu e sentiu que quanto mais seguissem naquela direção, pior seria a qualidade da água.
A montanha fumacenta tinha ido dormir, sua pluma de escória e cinzas definhando, de modo que o ar havia clareado um pouco. Após dias subsistindo de raízes, cebolas silvestres e dos raros ninhos de ovos, os humanos agora ansiavam por carne. Seguiram um rebanho misto de antílopes e zebras, sabendo que os felinos estariam fazendo o mesmo. Quando o rebanho parou para pastar, Ventas subiu num outeiro relvoso para dar uma olhada enquanto os outros ficavam agachados na vegetação.
Em meio à quietude da manhã, à medida que o dia esquentava e a terra começava a crestar, os humanos observavam e esperavam. Finalmente, sua paciência foi recompensada. Viram uma leoa movendo-se furtivamente pela relva. Os humanos sabiam como ela caçava: uma vez que muitos animais podiam correr mais rápido que o leão, ela ficaria contra o vento, sem ser notada, rastejaria até o mais perto possível dos animais pastando até sua presa ficar ao alcance.
Mulher Alta, Velha Mãe, Bebê, Faminto e os demais se agacharam imóveis, seus olhos em Ventas enquanto ele assinalava o progresso do felino. De repente, a leoa disparou à frente, fazendo pássaros alçarem vôo em sobressalto. O rebanho pôs-se em fuga. A leoa, porém era ágil, correndo apenas um curto percurso antes de capturar uma zebra estropiada. A leoa voou no ar e desferiu uma patada no flanco da zebra, fazendo-a cair de lado. Enquanto a zebra lutava para se levantar, a leoa já estava sobre ela, cravando as mandíbulas no seu focinho, mantendo a pressão ali até que, gradualmente a zebra sufocou e morreu. Enquanto a leoa arrastava sua presa para a sombra de um baobá, os humanos a seguiram — contra o vento e silenciosamente. Voltaram a se agachar quando viram o grupo de machos e filhotes se apressando à frente para o banquete. O ar foi brevemente preenchido com rosnados e silvos selvagens enquanto os leões lutavam uns com os outros antes de se acomodarem para devorar a carcaça. Acima, os abutres já voavam em círculos.
Com os estômagos roncando e as bocas salivando na expectativa de carne, a família de Mulher Alta esperou pacientemente, escondida, observando. O ar se encheu brevemente de rosnados e silvos selvagens. Até mesmo as crianças sabiam que o silêncio era crucial, que ele significava a diferença entre comer e ser comido. A tarde se estendeu, as sombras se adensaram, os únicos sons na brisa sendo a alimentação voraz dos felinos. As costas e as pernas de Ventas doíam. Faminto queria desesperadamente coçar as axilas; moscas tinham se fixado na pele nua e mordiam ferozmente. Mas os humanos não se moviam. Sabiam que sua oportunidade chegaria.
O sol afundava no horizonte. Várias crianças começaram a queixar-se e a chorar, mas agora os felinos, já plenamente saciados, começavam a se afastar da dilacerada carcaça para tirar uma longa soneca. Os humanos observavam enquanto os machos se afastavam a trote, bocejando, seguidos pelos gordos filhotes com os focinhos ensangüentados. Quando os leões se haviam jogado sob o baobá, os abutres se moveram. Ventas e Faminto olharam para Leão, aguardando pelo sinal, e quando ele foi dado, todos se lançaram à frente, gritando e jogando pedras nos abutres. Mas os pássaros gigantes, impelidos pela sua própria fome, não iam desistir do prêmio. Espalhando suas asas maciças, eles resistiram com bicos e garras para proteger o que era seu.
Os humanos foram forçados a bater em retirada, famintos e cansados, alguns sangrando pelo confronto com os abutres.
Eles se agacharam de novo na relva, desta vez, atentos às hienas e cães selvagens que inevitavelmente viriam limpar os ossos. Após um breve crepúsculo, a noite caiu e os abutres continuaram a se banquetear. Mulher Alta passou a mão sobre os lábios crestados. O estômago doía-lhe de fome. Os bebês de Descobridora de Mel choramingavam em protesto. E ainda assim os humanos esperavam.
Finalmente, à medida que uma lua fulgurante se erguia acima do horizonte, lançando um brilho láteo na paisagem, os abutres foram embora, empanturrados. Brandindo lanças e uivando na maior capacidade de seus pulmões, os humanos conseguiram manter as hienas afastadas do que restara da zebra — pouco mais do que couro e osso. Eles agiram rapidamente, usando machadinhas afiadas para separar as pernas da zebra do corpo. Com seus troféus sobre as cabeças os humanos partiram, deixando que as hienas acabassem com tendões, ligamentos e pêlos.
Dentro de um bosquete protetor, Atiçadora de Fogo começou imediatamente a acender fogueiras para manter os predadores à distância. Leão e outros homens fortes puseram-se a trabalhar, arrancando a pele das pernas da zebra. Depois que estavam limpas, quebraram os ossos com rapidez e perícia para expor o precioso e cremoso tutano rosado que havia no seu interior. Salivando, os humanos gemeram e suspiraram à semelhante visão, e instantaneamente se esqueceram das longas horas de vigília na relva, das juntas e dos membros doloridos. Não houve nenhum frenesi alimentar por causa do tutano. Leão repartiu igualmente a iguaria apetitosa e desta vez todos receberam seu quinhão, até mesmo Velha Mãe.
Mulher Alta tentou novamente protestar contra a direção que estavam tomando e desta vez Leão atingiu-a com o dorso da mão, fazendo-a rolar pelo chão. Reunindo as crianças e bebês e suas poucas posses, a Família recomeçou a seguir para oeste. Velha Mãe foi ajudar Mulher Alta, emitindo sons tranqüilizadores e dando tapinhas na face furiosa da neta.
Quando começaram a respirar o ar vulcânico fumacento, Velha Mãe de repente gemeu e levou a mão ao peito. Seus passos falharam enquanto ela ofegava. Mulher Alta pegou-a pelo braço, levantando-a. Deram mais alguns passos quando Velha Mãe finalmente soltou um grito e desfaleceu. Os outros relancearam os olhos para ela, mas continuaram andando, preocupados somente com comida. Observavam os cupinzeiros e arbustos de bagas, árvores carregadas de nozes, e a coisa mais rara de todas: uma colméia. Mas não davam a menor importância a Velha Mãe, que fizera o parto de metade de suas mães. Apenas Mulher Alta se preocupava em ajudar a idosa, finalmente erguendo-a e carregando-a nos ombros. A medida que o céu equatorial despontava, o peso ia aumentando. Finalmente, após uma viagem extenuante, Mulher Alta, com toda a sua estatura e força, não pôde mais carregar Velha Mãe.
Elas desabaram por terra e a Família, forçada a parar, ficou ali em volta, indecisa. Leão ajoelhou-se sobre a mulher inconsciente e cheirou sua face. Deu uns tapinhas nas bochechas de Velha Mãe e forçou-a a abrir a boca. Depois ele viu os olhos fechados e os lábios azulados.
— Hum, morta — grunhiu, querendo dizer que tinha sido melhor assim. Levantou-se e comandou: — Vamos.
Algumas das mulheres começaram a choramingar. Outras irromperam em lágrimas. Descobridora de Mel bateu com os pés, agitou os braços e fez sons de lamento. Narigudo recolheu sua mãe inconsciente nos braços e chorou sobre ela. Caroço sentou-se ao lado de Velha Mãe e pegou as mãos dela. As crianças pequenas, aterrorizadas pelas ações dos adultos, começaram a chorar. Mas Leão, pegando suas lanças e porrete, deu as costas ao grupo e começou a marchar resoluto para oeste. Um por um, eles o acompanharam, até que todo o bando se foi, os retardatários olhando para trás enquanto Mulher Alta ficava com Velha Mãe.
Mulher Alta amava Velha Mãe com uma ferocidade que não sabia definir. Quando sua verdadeira mãe tinha ficado para trás por causa de uma perna quebrada, Mulher Alta havia chorado por vários dias. Foi Velha Mãe quem a tinha tomado num reconfortante abraço, e quem a alimentara e dormira junto a ela depois disso. Mãe da minha mãe, pensou Mulher Alta, compreendendo vagamente sua ligação especial com esta mulher numa família que não possuía nenhum conceito de parentesco.
Em breve elas se viram sozinhas na savana, com exceção dos abutres que voavam em círculos acima. Mulher Alta arrastou Velha Mãe para a segurança das árvores e recostou-a contra um tronco robusto. O dia estava morrendo. O cair da noite traria os carnívoros de olhos dourados que chegariam perto das humanas indefesas.
Mulher Alta encontrou duas pedras e, agachando-se junto a um monte de folhas secas, começou a esfregar uma pedra na outra. Era preciso paciência infinita e força de vontade, e seus ombros e costas começaram a doer com o esforço. Mas ela vira Atiçadora de Fogo realizar aquilo com sucesso inúmeras vezes, de modo que sabia ser possível. Mais e mais, enquanto o céu escurecia e as estrelas pelejavam para espiar através da fumaça vulcânica, Mulher Alta atritava as pedras uma na outra e por fim foi recompensada com uma pequena chama. Ela gentilmente soprou-a para a vida, alimentando-a com mais folhas secas até que flamejou mais alta. A seguir, colocou pedras em volta do fogo e gravetos em cima, e extraiu conforto do brilho contra a noite.
Velha Mãe, ainda inconsciente, continuava a respirar com dificuldade, os olhos fechados, o rosto contorcido de dor. Mulher Alta sentou-se perto dela e aguardou. Já vira a morte antes. Ela chegava para os animais da savana. Às vezes chegava também para alguns membros da Família. Seus corpos eram deixados para trás e a Família conversaria sobre eles por talvez uma estação ou duas até que fossem esquecidos. O fato de que ela própria poderia um dia morrer não entrava na cabeça de Mulher Alta. Os conceitos de mortalidade e conhecimento de si própria lampejavam menos em sua mente do que as distantes estrelas.
Após um instante, Mulher Alta percebeu que Velha Mãe precisava de água. Quando viu um canteiro de flores, quase tão alto quanto ela, salpicado de florações bem formadas e folhas felpudas, ela calculou que deveria haver água por perto. Ficando de quatro, escavou o solo esperando encontrar umidade. Ouviu um bando de hienas latindo nas proximidades, seus corpos fazendo sons farfalhantes no mato. Os pêlos na nuca de Mulher Alta se arrepiaram. Já tinha visto hienas arrebatarem um ser humano, devorando-o vivo selvagemente enquanto o infeliz gritava. Mulher Alta sabia que somente o fogo mantinha as feras a distância e que deveria voltar imediatamente a ele e manter as chamas vivas.
Seu cavoucar tornou-se cada vez mais frenético. Certamente haveria água por perto para sustentar flores tão grandes e caules tão carnudos. Ela cravou os dedos na terra dura até que sangraram.
Sentou-se em frustração, a fadiga rastejando por seus membros, e com um forte desejo de dormir. Mas tinha de encontrar água e precisava manter o fogo. E devia proteger Velha Mãe dos predadores que espreitavam na escuridão.
E então ela viu um raio de luar refletido. Água! Clara e azul, empoçada na base de uma das flores. Mas quando esticou o braço para ela descobriu que a água estava dura e não era uma pequena poça, afinal. Colhendo-a com a mão em concha, ficou intrigada com o fato de a água azul estar embaçada com as folhas secas da planta dedaleira. Como poderia a água ser sólida? E ainda assim só podia ser água, pois era transparente e lisa e parecia que a qualquer momento tornar-se-ia líquida.
Ela carregou a pedra, formada havia três milhões de anos a partir de um meteorito, e voltou para onde Velha Mãe estava. Embalando a anciã nos braços, gentilmente passou a pedra lisa entre seus lábios ressequidos. Velha Mãe imediatamente começou a sugar, a saliva aparecendo nas comissuras dos lábios, de modo que Mulher Alta soube que a água se tornara líquida.
Um momento depois, contudo, para sua surpresa, o cristal escorregou dos lábios de Velha Mãe e quando Mulher Alta o recuperou viu que a água continuava sólida. Mas agora ela pôde vê-la mais claramente, porque a língua da anciã limpara a pedra dos seus resíduos vegetais.
O cristal se ajustava presunçosamente na palma da mão de Mulher Alta, tal como um ovo se acomodaria num ninho. E era liso como um ovo, mas com uma superfície aquosa que refletia a luz da lua tal como fazia um lago ou um riacho. Quando o revirou, ergueu-o entre dois dedos, viu azuis mais profundos no seu núcleo e depois, mais profundo ainda, alguma coisa branca, aguçada e cintilante.
Um suspiro de Velha Mãe desviou a atenção de Mulher Alta do cristal. Ela viu com espanto que os lábios da anciã haviam mudado do azulado para um tom rosado e que ela respirava mais facilmente. Pouco depois, Velha Mãe abriu os olhos e sorriu. A seguir sentou-se e tocou os seios murchos com espanto. A dor no peito se fora.
Juntas, elas olharam fixamente para a pedra transparente. Alheias aos poderes curativos da digitalina na planta, elas acreditaram que havia sido a água na pedra que salvara Velha Mãe.
Quando alcançaram a Família ao alvorecer, os outros ergueram a vista de sua coleta com suave curiosidade, pois Mulher Alta e Velha Mãe já tinham começado a sair da lembrança deles. Com gestos e palavras limitadas, Velha Mãe explicou como a pedra-água a trouxera de volta da morte. E quando Mulher Alta passou a pedra de mão em mão pelos familiares sedentos, eles a sugaram até que começaram a salivar. Por um momento a sede foi aplacada e, por um momento, cada um deles olhou Mulher Alta com espanto e um pouco de medo.
Ela deparou com o estranho por acidente. Estivera escavando em busca de ovos de salamandra na folhagem alta que orlava o lago ocidental quando o ouviu à beira da água. Ela nunca o vira antes — um homem alto com ombros largos e coxas musculosas — e enquanto o espiava, ficou especulando de onde ele tinha vindo.
A Família chegara ao lago no dia anterior para descobrir a água coberta de cinzas e todos os peixes mortos e apodrecidos. A coleta de ovos de tartaruga e répteis provara-se infrutífera, e a vegetação ao longo da margem estava tão coberta de cinzas vulcânicas que raízes tinham ficado enegrecidas e impróprias para consumo. Da vida dos pássaros silvestres só restavam ninhos cheios de comida boa de grou e ovos de pelicano. Havia apenas um pequeno bando de patos lutando pela sobrevivência entre espadanas e juncos embranquiçados. Todos os membros fisicamente aptos da família se haviam dispersado numa área ampla em busca de comida enquanto os idosos e as crianças permaneciam acampados numa saliência rochosa relativamente a salvo de predadores. Mulher Alta havia avistado uma pequena manada de zebras de joelhos à beira da água, tentando beber através da cinza, quando viu o jovem estranho. Ele estava fazendo algo intrigante.
Enquanto segurava uma tira feita de tendão animal, enlaçada e provida de uma pedra, com a outra mão ele jogou um seixo na água, obrigando os patos selvagens a alçar vôo de repente. Depois o estranho rodopiou o tendão sobre a cabeça e o fez arremessar a pedra. Diante dos olhos atônitos de Mulher Alta, a pedra atravessou o ar e acertou um dos patos, fazendo-o desabar. O jovem chapinhou na água rasa e recolheu o pato morto.
Mulher Alta ofegou.
O estranho parou. Virou-se na direção dela e perscrutou com atenção a muralha de relva até que Mulher Alta, inexplicavelmente encorajada, saiu do esconderijo.
Cometeu a ousadia porque usava em volta do pescoço a poderosa pedra-água presa num cordão feito de relva. Ela pendia entre seus seios como um pingo d'água gigante, seu núcleo nebuloso, formado há três milhões de anos quando a poeira de diamante cósmica fundira-se com o quartzo da terra, bruxuleando como um coração.
Ela e o estranho entreolharam-se cautelosamente.
A aparência dele diferia levemente daquela da Família: o nariz de um formato diferente, a mandíbula mais forte, os olhos uma intrigante cor de musgo. O cabelo, como aquele da família de Mulher Alta, era longo e emaranhado, e entretecido com barro vermelho, mas ele o havia enfeitado com pedaços de concha e pedra, o que Mulher Alta achou muito cativante. O mais intrigante nele era a coleção de ovos de avestruz que pendia de seus quadris num cinturão feito de juncos tecidos. Ele fizera buracos nos ovos e os tampara com barro.
Embora suas línguas não se assemelhassem, o jovem conseguiu explicar que seu nome era Espinho e que procedia de outra família além da planície, num vale que Mulher Alta jamais vira. Com gestos e sons, ele contou a Mulher Alta por que recebera o nome de Espinho.
Enquanto ele pulava em volta gritando em dor zombeteira, fazendo a mímica do seu acidente, massageando as nádegas onde muitos espinhos tinham se enfiado, Mulher Alta rapidamente entendeu que ele ganhara seu nome ao cair sobre uma moita de espinhos. Ela riu histericamente e quando ele terminou, grato pelo riso dela, o jovem deu o pato para Mulher Alta.
Ela ficou sombria. Uma lembrança de súbito obscureceu sua mente: muito tempo atrás, antes que Leão fosse o líder, antes até do líder chamado Rio, quando ela era muito pequena, dois estranhos foram parar no acampamento. Tinham vindo de além da cordilheira, onde a Família nunca se aventurara. Todos desconfiaram de início, mas depois os novos machos foram aceitos no grupo. Mas então algo tinha acontecido — uma luta. Mulher Alta se lembrava do sangue e do líder da Família mutilado na relva. Um dos dois estranhos assumira o lugar dele e a Família o seguira depois disso.
Será que este estranho viera para matar Leão e tornar-se o novo líder?
Enquanto ela o observava em muda curiosidade, Espinho caçou mais alguns patos com sua funda e pedras e, juntos, eles os levaram para o acampamento de Mulher Alta.
A Família gritou deliciada com os patos, pois fazia vários dias que não sentiam o gosto de carne, e depois todos voltaram sua curiosidade para o recém-chegado. Crianças espiavam encabuladas por detrás das pernas de suas mães, enquanto as garotas mais velhas o fitavam ousadamente. Descobridora de Mel esticou a mão para pegar a genitália de Espinho, mas ele pulou para trás, rindo, os olhos fixos em Mulher Alta. Quando Leão gesticulou para os ovos de avestruz em torno da cintura de Espinho, este soltou um e ofereceu a ele. Leão ficou intrigado com o buraco tampado, examinou-o, depois enfiou o dedo no buraco e ficou atônito ao descobrir água em lugar de gema. Espinho demonstrou como aprumar o ovo e deixar a água gotejar para a boca. A seguir entregou o ovo a Leão para que ele bebesse. A Família estava atônita. Que tipo de ave poria ovos com água dentro? Mas Mulher Alta entendia: Espinho colocara a água depois de esvaziar as cascas dos ovos. Daí chegou a uma conclusão ainda mais espantosa, a de que tinha palavras para explicar e que não passava de uma idéia conflitante em sua mente: Espinho carregava água com ele já prevendo a futura sede.
Puseram os patos no fogo, para soltar as penas e cozinhar parcial' mente a carne. E a Família usufruiu de um banquete aquela noite, que se encerrou alegremente com todos arremessando ossos uns nos outros. Velha Mãe sugou com alegria o tutano de pato e engoliu a água fresca dos ovos de avestruz. Todas as mulheres no grupo olhavam para o jovem macho, excitado por seu vigor e suas cabriolas. E até mesmo os homens, por enquanto, ficaram felizes em receber o intruso no seu meio.
A Família permaneceu em torno do lago, banqueteando-se com os patos de Espinho enquanto eles duraram. Espinho não se sentava ao redor do fogo como os outros homens faziam, afiando ferramentas de pedra e fabricando lanças. Havia uma inquietação nele, e uma necessidade de atenção. Para Mulher Alta ele parecia uma criança grande, ansiosa para provocar riso nos outros com suas pantomimas. Diante dos olhares levemente curiosos dava cambalhotas, pulava e fazia mímica, sem qualquer motivo aparente. Mas depois de algumas noites, com Mulher Alta sendo a primeira a compreender o que ele queria dizer, a Família começou a apreender que havia significado nas palhaçadas do recém-chegado.
Ele estava contando histórias.
Platéias numa era futura o chamariam de um canastrão, mas a família de Mulher Alta estava entusiasmada por sua arte cênica. Diversão era algo desconhecido para eles, e a narração de eventos passados mais estranha ainda. Porém, à medida que começaram a entender seus gestos, sons e expressões faciais, viram histórias emergindo. Eram histórias simples, pequenos dramas nos quais Espinho encenava uma caçada com o povo carregando vitoriosamente uma girafa nas costas para o acampamento, ou um quase afogamento no qual uma criança era salva, ou uma luta feroz com um crocodilo que resultava em morte. Espinho em breve tinha a família de Mulher Alta rindo e batendo nas coxas, ou chorando e derramando lágrimas pelas faces, ou ofegando de medo ou grunhindo em espanto. A comida poderia ser escassa neste lago abandonado por outros animais, e a água poderia ser ruim e salobra, matando até os peixes que nela residiam, mas Espinho fazia os humanos se esquecerem da fome e sede enquanto narrava vezes sem conta a história cômica de como ganhara seu nome. Eles nunca se cansavam de vê-lo cair na "moita de espinhos" e sofrer com eles enfiados nas nádegas.
E então, uma noite, os espantou ainda mais ao se transformar de repente em outra pessoa.
Ele se levantou do seu lugar junto ao fogo e começou a andar em volta do círculo de uma maneira estranha — o braço esquerdo encolhido, a perna esquerda arrastando-se para trás. De início lançaram-lhe olhares intrigados e depois ofegaram. Ele parecia Escorpião! Subitamente apavorados, olharam em torno para ver se Escorpião ainda estava presente — teria ele, de alguma forma, se apossado do corpo de Espinho? Mas ele estava lá, olhando em choque para o recém-chegado. O lado esquerdo de Escorpião ficara cada vez mais dormente, tornando inúteis seu braço e perna esquerdos.
E então, diante de olhos atônitos, Espinho passou para outra postura, oscilando os quadris e fazendo a mímica de encher a boca de comida. Descobridora de Mel!
Ventas gritou com raiva e medo, mas algumas das crianças riram. E então quando Espinho puxou o longo cabelo emaranhado até se arrepiar e depois caminhou com passos miúdos afetados — e todos reconheceram de imediato Bebê —, os outros começaram a rir.
Em breve Espinho tinha todo mundo uivando com histeria e a coisa tornou-se um jogo. Ele caminhava trôpego, examinava um graveto e todos gritavam: "Lesma!" Ele esfregava as costas de cima a baixo numa árvore e todo mundo exclamava: "Caroço!" E quando levantava um menino pequeno nas costas, enganchando os braços da criança sob o queixo e as pernas em volta da cintura, numa imitação do manto pútrido que Leão usava, todos agarravam o estômago num acesso de riso.
Espinho ficava feliz em fazê-los rir. Esta família não era diferente da sua: coletavam os mesmos alimentos, seguiam trilhas antigas, viviam na mesma estrutura. Mulheres e crianças agrupavam-se, enquanto os machos formavam seu próprio grupo à parte, e ainda assim todos se empenhavam na sobrevivência da Família. As mulheres se dedicavam aos mesmos rituais de embelezamento e criação dos filhos, enquanto os homens afiavam lanças e cortavam machadinhas das rochas. A raiva era rápida para se manifestar, mas também arrefecia rapidamente. Havia os costumeiros ciúme e inveja, amigos e inimigos. Velha Mãe lembrava Salgueiro em sua família, com as pernas tortas e seios esbranquiçados e gengivas desdentadas. Ventas e Caroço o faziam se lembrar de seus irmãos e de como tinham feito travessuras juntos quando pequenos.
E então havia Mulher Alta.
Ela era diferente dos outros, não apenas mais alta como também mais sábia. Ele via a preocupação com que observava a montanha fumegante no horizonte, como o cenho dela se franzia à visão das nuvens negras formando-se no céu. Ele próprio havia observado o mesmo fenômeno e achou-o preocupante. Porém mais que a inteligência era o corpo forte de Mulher Alta que o atraía, as pernas longas e o passo firme. Gostava do modo como ela ria e como tratava as mulheres mais fracas com justiça, sempre se certificando de que tivessem o que comer. Ela o fazia se lembrar das mulheres de sua família, uma lembrança que estava se desvanecendo cada vez mais rápido.
Espinho não sabia por que deixara sua família. Certa manhã fora acometido por uma inquietude inexplicável. Ele pegara sua machadinha e seu porrete e partira. Outros homens antes dele já tinham feito o mesmo: o irmão de sua mãe, Braço Curto, e o irmão mais velho de Espinho, Uma Orelha. Nem todos os homens deixavam a família de Espinho. A maioria ficava. Mas a sede de viagem acometia uns poucos em cada geração, e quando eles partiam nunca voltavam.
Espinho abandonara sua família adormecida com imagens vagas na sua mente: da mulher que lhe dera vida, das suas irmãs. Agora, enquanto olhava para esta atraente fêmea alta, não estava cônscio de que a escassez de fêmeas desejáveis em sua família tivesse sido a razão de sua partida, de que havia ido embora por instinto, tal como outros machos jovens de outros grupos humanos tinham de tempos em tempos, ao longo das gerações, se juntado a sua própria família. Espinho não se despedira. Com o tempo, sua família o esqueceria, bem como, com o tempo, Espinho se esqueceria dela.
O lago finalmente ficou tão poluído que o último dos patos desapareceu, forçando a família a se mudar.
As condições pioraram. Começaram a encontrar animais mortos e, embora no início isto significasse banquetes de carne para a família, à medida que prosseguiam na sua viagem para oeste e encontravam cada vez mais elãs, gnus, elefantes e rinocerontes — centenas de milhares de carcaças malcheirosas, o ar espesso com o fedor de carne podre e nuvens de moscas-varejeiras —, a carne agora estava pútrida demais para ser consumida por humanos.
Mulher Alta percebeu que animais de rebanho andavam morrendo porque a vegetação estava coberta de cinza e escumalho. Só quem estava comendo bem eram os carniceiros, chacais, hienas e abutres, todos ficando gordos. Ela e Espinho concordavam que havia uma ligação entre o vulcão e os animais que morriam. Mas Leão insistia para que a Família seguisse para oeste a fim de encontrar água e comida.
A cada dia que passava, as fontes de água se tornavam cada vez piores. A comida escasseava à medida que os pequenos animais desapareciam e as plantas eram sepultadas em fuligem. O céu ficava cada vez mais escuro e o solo estrondeava com freqüência crescente. A cada pôr-do-sol, Mulher Alta observava a montanha fumacenta com aflições e entendia cada vez mais claramente que Leão os estava guiando para o perigo.
O leite das mães secava e os bebês morriam. Após carregar seu bebê morto durante dias, Fuinha finalmente sentou-se ao lado de um alto cupinzeiro que dias antes teria fornecido um banquete para a Família, mas que agora se achava inexplicavelmente vazio, e então inclinou a cabeça sobre seu bebê e lá permaneceu enquanto a Família prosseguia.
Uma noite Mulher Alta agitou-se num sono inquieto, seus sonhos visitados pelo sorriso e cabriolas cômicas de Espinho. Ela agitou-se num calor que nunca sentira antes, e num anseio que parecia fome, embora não fosse comida o que desejasse. Despertou com o latido solitário de um cachorro distante e então viu uma silhueta movendo-se pelo acampamento adormecido. Reconheceu Espinho e especulou sobre o que ele estaria fazendo. Talvez apenas se aliviando. Talvez estivesse vindo para o ninho-leito dela. Mas Espinho rastejou pelo acampamento, passou pela periferia e saiu na planície aberta. Mulher Alta o seguiu, mas só até as tochas protetoras e a cerca de ramo de acácia, onde Lesma e Escorpião estavam em sentinela. Ela esperou pela volta de Espinho. Ao alvorecer ele ainda não tinha voltado e a Família precisava partir;
Passaram-se quatro dias e Espinho ainda não se reunira ao grupo. Mulher Alta chorou silenciosamente em seu ninho-leito, temerosa de que o estranho encantador estivesse morto, e imaginando por que ele partira quando a Família o recebera tão bem. A paixão que ela havia começado a sentir por ele foi substituída por dor e pesar, emoções que a jovem nunca vivenciara antes.
E então, de súbito, ele estava lá, de pé sobre um outeiro, o sol poente às suas costas, agitando os braços e pulando sem parar. A Família reconheceu seus sons e gestos como sendo bons sinais e correu em sua direção. Ele acenou para que o seguissem, e todos correram atrás do jovem enquanto ele os conduzia ao longo de um serpenteante leito de rio, agora seco, e por sobre outra colina, ao longo de um estreito cânion rochoso, onde apontou orgulhoso para o que descobrira.
Um bosquete de tamarineiros. E cada parte do tamarino era comestível.
Os homens assolaram como gafanhotos as árvores altas e densamente ramificadas, arrebatando as vagens polpudas, rasgando as folhas, desnudando a casca e enchendo a boca. O fruto carnudo saciava a sede e a casca tapeava a fome. Atiçadora de Fogo acendeu uma fogueira e todos lançaram sementes de tamarindo nas pedras quentes para comê-las mais tarde.
Agora Mulher Alta chorava de alegria, e de admiração. Todos achavam que Espinho tinha fugido da sede e da fome. Mas agora todos sabiam que ele saíra em busca de comida para a Família — e a encontrara.
O equilíbrio de poder mudou num instante. Para Espinho foi dado agora o tamarindo mais suculento. Para Leão deram os restos.
Quando os tamarineiros foram devastados, sem sobrar folha, semente ou pedaço de casca, a Família partiu. Mas desta vez todos carregavam líquido. Antes que consumissem toda a polpa encontrada no fruto do tamarino, Espinho lhes mostrara como espremê-la nos ovos de avestruz vazios para levar com eles.
Ainda depararam com carcaças apodrecidas, mas o tutano estava bom e nutritivo. Por um momento o vulcão descansou e as estrelas puderam de novo ser vistas brevemente. E quando Espinho levou a Família a um poço artesiano que lhes deu água fresca, ele decidiu que passariam a noite ali.
Leão não foi consultado.
O calor que tinha começado a arder em Mulher Alta, na noite em que todos pensaram que Espinho os havia abandonado, continuou a crescer dentro dela até que os pensamentos em Espinho preenchessem sua mente noite e dia. Estava faminta pelo seu corpo, seu toque. Quando a Família se enfeitava junto à fogueira do acampamento, era Espinho quem ela queria sentir espalhando lodo em sua pele. Mulher Alta relanceou os olhos encabulada pelo acampamento para vê-lo com os outros rapazes, demonstrando-lhes como tinha feito sua funda, rindo com eles. E quando olhou de volta, ela sentiu o surto de calor, como fagulhas disparadas das brasas.
Dominada pela inquietação, ela se afastou do grupo e foi até o afloramento rochoso onde algumas garças sujas de fuligem chapinhavam na rasa água artesiana. Estava vagamente cônscia do seu contentamento em ver as estrelas e a lua, muito embora o céu ainda estivesse nevoento, e também contente do solo não ribombar havia vários dias.
E poderia ter especulado sobre estes mistérios se não estivesse tomada por um estranho encantamento.
Quando ouviu passadas através da relva seca não ficou alarmada. Um instinto lhe disse quem era e por que ele a tinha seguido. Virou-se e viu o sorriso de Espinho à luz da lua.
Ela já vira outros agirem desta forma muitas vezes sem compreender por que o faziam, o toque e a intimidade, o saborear e o farejar. Mas agora isto a deixou totalmente cálida. Espinho pressionou a boca em suas faces e pescoço, e esfregou o nariz contra o dela; as mãos de Mulher Alta descobriram pontos no corpo dele que o fizeram gemer. Ambos riram. Começaram a fazer cócegas um no outro até que Mulher Alta, guinchando de tanto rir, de repente livrou-se e fugiu dele. Espinho a perseguiu, gritando e agitando os braços. Mulher Alta certificou-se de não superá-lo, embora pudesse tê-lo feito com suas pernas compridas. Quando ele a capturou, ambos berrando de riso, Mulher Alta caiu de joelhos e permitiu-lhe que a penetrasse. Antes que ele acabasse, escapou de novo e, rindo, rolou de costas e puxou-o para baixo. Quando Espinho voltou a penetrá-la, Mulher Alta o agarrou com firmeza e rolou vezes sem conta com ele dentro dela, seus gritos de prazer se elevando ao céu.
Passavam os dias completamente envolvidos um com o outro. Ele a cheirava toda. Ela provava o sal nas axilas dele. Espinho pulava de um lado para outro e cabriolava. Ele se espichava tão alto quanto podia e expandia o peito para mostrar-lhe quão grande era. Ela desviava a vista pudicamente, fingindo não se importar. Embora ele tivesse a sua coleção de fêmeas, sua afeição era somente para Mulher Alta. Enfeitavam-se mutuamente e dormiam no mesmo ninho, braços e pernas entrelaçados. Mulher Alta jamais conhecera afeição tão profunda, nem mesmo por Velha Mãe. Quando dormia nos braços de Espinho não sentia medo de nada, e quando ele a acariciava e penetrava agarrava-o com uma paixão dolorida. Também havia algo mais: não estava mais só em seu medo de um novo perigo porque Espinho também olhava para o céu e via como o vento soprava a fumaça e sabia que perigo jazia além do próximo amanhecer.
Velha Mãe por fim morreu, fechando os olhos com a cabeça acomodada na barriga grávida de Mulher Alta. A Família berrava e batia no chão com bastões, depois finalmente depositaram o corpo da anciã na relva e partiram.
Certa manhã, quando o céu se encheu de fumaça e o solo ribombou, a filha mais velha de Descobridora de Mel, recém-entrada na puberdade e sentindo novos instintos excitantes brotando dentro de si, observava Espinho enquanto ele criava uma nova funda do tendão arrancado da carcaça de um elã. Ela olhava para seus ombros largos e braços fortes, depois se aproximou dele, rindo, e inclinou-se, rebolando o traseiro nu. Espinho ficou instantaneamente excitado. Mas ela não era a parceira que ele desejava. Pondo-se de pé, olhou em torno à procura de Mulher Alta e, ao vê-la debulhando vagens do baobá, correu até ela. Fez-lhe cócegas, brincou com o cabelo dela, pulou em torno e fez ruídos cômicos. Ela riu e puxou-o para baixo, entre os arbustos, onde copularam sob o sol quente.
Leão observava em frio distanciamento. Desde a chegada do estranho que as fêmeas haviam deixado de oferecer-se a ele. As crianças seguiam o recém-chegado por toda parte, os homens olhavam Espinho com admiração. Com suas pedras mortíferas Espinho conseguia derrubar o pássaro ocasional que se aventurasse no céu repleto de fumaça. A noite ele os divertia com sua mímica engraçada. Todo mundo gostava de Espinho.
A idéia foi de Descobridora de Mel, já que sentia-se infeliz com o modo como Espinho invertera o equilíbrio de poder na Família. Agora que Leão havia sido deposto, devia ela, portanto, estando Mulher Alta grávida, assumir o posto de fêmea dominante.
Aproximaram-se de Espinho com sorrisos e gestos de amizade — Caroço, Faminto, Ventas e Descobridora de Mel, a facção leal a Leão.
Espinho estava sentado sob a sombra de uma acácia, colocando tendões rígidos nas suas novas fundas. Espinho tinha colhido os compridos tendões da carcaça decomposta de uma girafa e agora os mastigava e socava com pedras até que estivessem flexíveis o bastante para produzir uma arma acurada.
Ele olhou para o sorriso de Descobridora de Mel, que estava lhe oferecendo um punhado de pequenas maçãs murchas. Espinho ficou deliciado. Esta mulher forte não fora calorosa com ele desde que se juntara à Família. Ficou contente em saber agora que ela finalmente o aceitava. Enquanto ele se erguia e pegava as maçãs, Leão e os outros homens apareceram subitamente com porretes, bastões e pedras grandes.
Espinho os fitou, intrigado. Depois sorriu e ofereceu-lhes uma parte das maçãs. Quando Leão jogou fora as frutas, o rosto de Espinho ficou sem expressão e no momento seguinte estavam todos sobre ele, cinco homens robustos agitando suas armas contra seu corpo esguio.
Usando os braços para se proteger, Espinho saltou para trás e caiu contra a árvore. Enquanto as pancadas choviam sobre ele, Espinho tentava freneticamente entender o que estava acontecendo. Caiu de joelhos e procurou pelas fundas que jaziam na relva. Alcançou-as, mas o porrete de Leão bateu contra seus antebraços. Espinho tentou fazer algo engraçado, fazê-los rir, mas o sangue escorria do seu nariz e couro cabeludo. Enquanto estava de joelhos, abriu as mãos numa pergunta: por quê? Leão provocou um alto estalido ao vibrar seu porrete na têmpora de Espinho. Enquanto se enrodilhava e tentava se proteger, Espinho gritava sob a chuva de porretadas e pontapés. Pouco antes de perder a consciência, sua mente reviveu com imagens: da mulher que o dera à luz, do acampamento no vale onde havia crescido, das risadas com seus irmãos, da consciência de liberdade na savana sob o sol quente. E depois a dor abateu-se sobre ele como uma maré negra. Mulher Alta foi seu último pensamento antes de morrer.
Tendo ouvido os gritos, Mulher Alta e os outros irromperam do mato. E quando ela viu o corpo massacrado de Espinho, seus uivos se elevaram aos céus. Ela caiu sobre Espinho e urrou seu ultraje. Puxou-o pelos ombros, tentando despertá-lo; lambeu seus ferimentos e provou seu sangue. Tomou-lhe o rosto espancado nas mãos e deixou que suas lágrimas caíssem sobre a carne machucada. Mas ele continuava imóvel e sem respirar. A família observava em silêncio enquanto Mulher Alta continuava a uivar e a bater no solo com os punhos. E então ela caiu num silêncio mortal, e quando afinal se ergueu, todos recuaram.
Ela era uma visão de poder — alta e grávida com a pedra-água azul reluzindo entre os seios intumescidos. Encontrou os olhos dos matadores de Espinho um por um, e todos eles, exceto Leão e Descobridora de Mel, desviaram a vista, envergonhados.
O silêncio caiu sobre a cena, só quebrado pelo zumbido dos insetos e pelo som distante da terra ribombando. Toda a Família olhava, até mesmo as crianças continham a língua enquanto Mulher Alta desafiava os adversários com um olhar decidido.
E então, todos os olhos acompanhado-a, ela abaixou-se lentamente e apanhou do chão uma das fundas de Espinho e uma pedra. Leão retesou- se em preparação, os dedos apertados em torno do cabo de seu porrete. Mas Mulher Alta moveu-se tão rápida e inesperadamente que o pegou de guarda baixa. Num piscar de olhos ela tinha a funda de Espinho equipada com a pedra pontiaguda e, com uma varredura em arco do braço, arremessou-a certeiramente contra o crânio de Descobridora de Mel.
Atônita, a mulher mais velha cambaleou para trás. Antes que qualquer um pudesse reagir, antes que Leão pudesse erguer o porrete, Mulher Alta rodopiou de novo a funda, desta vez atingindo Descobridora de Mel entre os olhos. Com um grito ela caiu, e no mesmo instante Mulher Alta estava de pé sobre ela, rodopiando a funda para baixo com grande força, golpeando vezes sem conta, até que o rosto de Descobridora de Mel ficou irreconhecível.
Quando acabou, Mulher Alta virou-se para Leão e cuspiu com desprezo a seus pés.
Ele não se moveu. Com o vento quente espalhando cinza vulcânica a sua volta, Mulher Alta manteve os olhos fixos em Leão, desafiando-o para luta, muito embora ele fosse maior e mais forte, carregasse lanças e um porrete, e suas costas estivessem protegidas pela pele podre de uma leoa.
Enquanto se desafiavam com olhares hostis, o ódio mútuo enchendo o ar como as centelhas do vulcão, a Família olhando com a respiração suspensa à espera do próximo movimento, a terra subitamente tremeu, mais violentamente do que costumava, desequilibrando as pessoas.
Instintivamente, a Família correu para as árvores próximas, mas Mulher Alta não se moveu. Atrás da floresta erguia-se a montanha de fogo. A cinza chovia lá de cima, brasas quentes e destroços incandescentes. Os galhos mais altos explodiam em chamas.
E subitamente tudo ficou claro para ela, o perigo sem nome que tinha começado a espreitá-la meses antes, seu crescente senso de pavor, de saber que alguma coisa estava errada. Agora deu outro salto: Este lugar não era bom. E embora sua espécie tivesse vivido e evoluído ali por milhões de anos, era hora de partir.
Olhou para a água-pedra que pendia entre os seios. Ergueu-a e segurou-a na palma da mão como um ovo e, dando as costas para a montanha escaldante, viu que a extremidade mais fina da pedra azul apontava diretamente à frente, na direção leste, e no seu núcleo de cristal-diamante viu um rio e a promessa de água.
Erguendo um braço, apontou para oeste, onde o céu estava repleto de fumaça vulcânica negra, e gritou:
Ruim! Nós morremos! — Depois ergueu o outro braço e apontou para o céu claro a leste. — Lá! Nós vamos! — Sua voz era forte e sobressaía sobre o ruído ribombeante. A Família trocou olhares nervosos e ela pôde ver por sua postura que muitos queriam ir com ela. Mas ainda estavam com medo de Leão.
Nós vamos — disse com firmeza, apontando.
Leão virou-se na direção do vulcão fumegante num gesto de desafio e destemor. E quando começou a caminhar, outros o seguiram— Faminto, Caroço e Escorpião.
Mais uma vez, Mulher Alta cuspiu no chão com desprezo, depois lançou um último olhar a Espinho, o pobre corpo espancado já desaparecendo debaixo de uma camada fina de cinza. Olhou para os outros — Bebê, Ventas, Atiçadora de Fogo, Espinha de Peixe — e quando viu que estavam com ela, virou as costas à nuvem letal que enchia o céu a oeste e deu seu primeiro passo decisivo para o leste, voltando pelo mesmo caminho que tinham vindo.
Não pararam para olhar Leão e seu pequeno grupo se dirigindo resolutamente para oeste, mas permaneceram junto a Mulher Alta, cuja passada larga quase os deixava para trás. Ao longo do caminho pararam para colher ovos de avestruz e enchê-los com água fresca, e quando encontraram comida Mulher Alta instruiu os companheiros a não comer tudo, mas a carregar sementes e nozes, para o caso de necessidade futura.
Enquanto viajavam para leste, o solo continuou o ribombar e, finalmente, a montanha explodiu. Mulher Alta e seu grupo viraram-se para ver uma enorme nuvem negra se espalhando rapidamente pelo céu, embaçando o sol e engolfando o ocidente num inferno de condenação. Era a erupção final de um vulcão que, num dia futuro muito longínquo, seria chamado Kilimanjaro. E engoliu num instante Leão e seu teimoso bando de seguidores.
Ínterim
Triste pela morte do jovem macho que a havia encantado e tendo em mente que jamais iria esquecê-lo, Mulher Alta deu as costas ao jardim que uma vez tinha sido o seu mundo. Armada com a água-pedra e acreditando que o poder para conduzir seu povo vinha desta e não de dentro de si própria, continuou a levar a Família para leste, onde, tal como previra, encontraram água fresca. Permaneceram lá tempo o bastante para Mulher Alta dar à luz seu primeiro filho, não sabendo que ele era a progênie do jovem macho chamado Espinho. Depois se puseram em marcha até que finalmente alcançaram um litoral rico em crustáceos e, quando escavaram o solo, poços de água potável. Encontraram ali também uma nova espécie de árvore que fornecia alimento, água e sombra: o coqueiro que crescia fartamente. Ali a Família permaneceu por outros milhares de anos, até que sua população cresceu demais para o supri- mento local de comida. E mais uma vez tiveram de se mudar. Alguns se dirigiram para o sul ao longo da costa para estabelecer a África meridional, porém a maioria seguiu para o norte, acompanhando as linhas costeiras de terras que um dia se chamariam Quênia, Etiópia e Egito. Paravam ali por gerações, povoando um lugar, depois se mudando, sempre em busca de novas fontes de comida e territórios virgens. E com eles ia a pedra azul, passada de uma geração para outra.
À medida que os milênios passavam, os descendentes de Mulher Alta espalharam sua semente ao longo de rios e vales, sobre montanhas e florestas, desbravando o novo território tão distante das suas origens, aprendendo a construir abrigos ou a viver em cavernas, criando palavras e meios de se comunicar, desenvolvendo novas ferramentas e armas e técnicas de caça. À medida que melhorava a habilidade lingüística, o mesmo se dava com a organização social, que capacitava a criação de grupos de caça planejados. Os humanos evoluíram de coletores para predadores. O pensamento nasceu e com ele as perguntas, e com as perguntas veio a necessidade de respostas. E assim havia espíritos, tabus, certo e errado, fantasmas, e a magia nasceu. Assim a pedra azul, fragmento de um antigo meteoro, tendo viajado com os humanos, reverenciada e acalentada, tornou-se não mais poderosa em si mesma, mas poderosa por causa do espírito que nela habitava.
Quando os descendentes de Mulher Alta alcançaram o Nilo, eles se dividiram — alguns decidiram ficar; outros, prosseguir, e a pedra azul foi carregada rumo ao norte, onde geleiras cobriam o mundo em gelo branco cegante. O povo de Mulher Alta encontrou outros que já estavam lá — outra raça de humanos que haviam nascido de ancestrais separados e que eram, portanto levemente diferentes, mais pesados, nutridos e mais peludos. Escaramuças por território eram inevitáveis e a água-pedra mágica caiu nas mãos do clã estrangeiro, que adorava lobos. Uma xamã deste Clã do Lobo olhou fundo no núcleo do cristal e reconheceu sua magia, e assim ela a pôs na barriga de uma estatueta de pedra.
Assim a água-pedra tornou-se um símbolo da gravidez e do poder feminino.
O Oriente Próximo, 35 Mil Anos Atrás
Elas nunca tinham visto nevoeiro antes
As assustadas mulheres, tão longe de seu lar e irremediavelmente perdidas, pensaram que a névoa branca fosse um espírito maligno arrastando-se na floresta sobre pés fantasmagóricos, separando os humanos fugitivos dos demais habitantes do mundo, mantendo-as aprisionadas num domínio silencioso e sem feições. À tarde, a névoa se dissipava o suficiente para dar às mulheres uma breve visão das redondezas e depois, quando as estrelas sumiam, ela voltava sorrateira e isolava as mulheres mais uma vez.
Mas a névoa não era a única ameaça nesta nova paisagem estranha por onde a tribo de Laliari tinha vagueado por semanas. Havia fantasmas por toda parte — escondidos, sem nome, terrificantes. Portanto, as andarilhas permaneciam agrupadas enquanto viajavam por este mundo hostil, tremendo de frio na névoa rodopiante porque só usavam saias de palha — roupa adequada para o vale fluvial quente que havia sido seu lar, mas insuficiente nesta nova terra estranha para a qual se viram forçadas a fugir.
Estamos mortas? — indagou num sussurro Keeka, enquanto mantinha o bebê adormecido em sua teta. — Perecemos com os homens no mar raivoso e agora somos fantasmas? Morrer é isto? — Ela estava se referindo à sua cegueira na névoa espessa, à maneira soturna como suas vozes soavam, aos sons embotados que seus pés descalços faziam no solo. Era como se caminhassem por um domínio que não pertencia aos vivos. Keeka achava que pelo menos deviam parecer fantasmas—certamente suas companheiras pareciam, enquanto se moviam cautelosas através da espessa névoa branca, mulheres de seios nus com o cabelo caindo até a cintura, os corpos pesadamente ornados com concha, osso e marfim, fardos de couro animal amarrados nos ombros, as mãos segurando lanças com ponta de pedra. Mas elas não tinham feições de fantasmas, pensou Keeka. Os olhos, arregalados de medo e confusão, eram definitivamente humanos.
Estamos mortas? — repetiu ela.
Mas Keeka não recebia nenhuma resposta de sua prima Laliari, que estava por demais, pesarosa para falar. Porque pior do que o nevoeiro ameaçador, o frio e os fantasmas ocultos era a perda dos seus homens.
A cabeça escura de Doron desaparecendo na água violenta.
Ela tentou retratar seu adorado Doron como tinha sido antes da tragédia — jovem, sem barba, esguio —, um corajoso caçador que preferia sentar-se pacificamente e esculpir marfim junto ao acampamento noturno. Doron gostava de rir e contar histórias, e tinha uma tolerância rara com crianças, ao contrário dos outros homens do clã, que não eram pacientes com os mais novos. Doron não se importava que subissem no seu colo, de fato gostava disso, e podia ser visto rindo (embora ficasse vermelho de embaraço quando flagrado). Mas Laliari se lembrava principalmente do abraço de Doron à noite, de como ele adormecia depois com os braços em torno dela, respirando suavemente em sua nuca.
Laliari reprimiu um soluço. Não devia pensar nele. Pensar nos mortos trazia má sorte.
A invasão os pegara de surpresa. Laliari e seu povo levavam sua vida cotidiana no vale fluvial que habitavam por incontáveis gerações quando estrangeiros do oeste haviam aparecido de súbito através das planícies relvosas, centenas de milhares deles, dizendo que sua terra estava morrendo e virando um deserto. Tinham explicado seu apuro enquanto olhavam cobiçosamente as terras férteis de cada lado do rio de Laliari, os rebanhos pastando, a fartura de peixes e aves. Uma generosidade de alimento. Mas eles queriam se apoderar de tudo. A disputa territorial que se seguiu tinha sido longa e amarga, com os recém-chegados mais fortes e em maior número empurrando o clã de Laliari para o norte, forçando-os a fugir com seus pertences nas costas — os ossos maciços de elefante que formavam a estrutura de suas tendas ambulantes, e os couros que estendiam sobre os ossos para servir de teto e paredes. Quando o clã chegou ao delta onde o rio se bifurcava encontrou outro povo, muito parecido com o seu, mas não disposto a partilhar suas fontes de alimento. E assim ocorreu outra batalha sangrenta por terra e comida. O resultado foi o povo de Laliari ter sido expulso de novo, desta vez para leste.
O que havia começado com um enorme êxodo de várias centenas de pessoas reduzira-se àquela altura a um bando de 89, com as mulheres, crianças e idosos seguindo à frente enquanto os homens permaneciam à retaguarda para protegê-los da perseguição dos habitantes do delta. Chegaram a uma vasta extensão de terra pantanosa e juncos e começaram a atravessá-la. No exato momento em que as mulheres chegaram ao outro lado, viraram-se a tempo de ver uma monstruosa muralha de água investindo como se surgida do nada, um dilúvio veloz disparando pelo pantanal enquanto engolia os homens indefesos que estavam na metade da travessia.
As mulheres, no seu solo elevado, observaram chocadas os caçadores desaparecerem num instante na água turbulenta, braços e pernas se agitando como frágeis gravetos, os gritos dos homens silenciados à medida que a água enchia seus pulmões. E depois a inundação foi se acalmando e as mulheres, ignorando que esta área pantanosa era sujeita aos caprichos das marés de quadratura da primavera — que a transformavam por vezes num atoleiro e numa inundação em outras — acreditaram estar na margem de um mar recém-formado.
Atônitas e em choque, voltaram-se para o norte, seguindo a orla oriental do novo mar até chegarem a uma massa de água mais larga — maior do que seu próprio rio no seu ponto mais amplo, mais larga do que o novo mar que cobrira o pantanal de juncos e os corpos de seus homens. De fato, esta vasta área continuava até o horizonte e as mulheres não podiam ver nem terras nem árvores do outro lado. Era também a primeira vez que viam uma ressaca e gritaram de pavor enquanto a água rolava na direção delas em ondas imensas, explodindo na praia, recuando, só para rolar à frente de novo, como um animal tentando atacá-las. Embora tivessem encontrado bastante alimento ali, nos remansos formados pela maré — lapas, litorinas e mexilhões —, as mulheres tinham-se virado e fugido, seguindo terra adentro para longe do mar que um dia seria chamado de Mediterrâneo, e atravessaram um deserto hostil até alcançarem um vale fluvial nevoento que pouco se assemelhava àquele de onde tinham vindo.
Aqui, separadas de sua terra ancestral, de seus homens e de tudo que conheciam, começara a procura de um novo lar — um bando esfarrapado e errante de 19 mulheres, dois anciãos e 22 bebês e crianças.
Enquanto viajavam através de mais um alvorecer enevoado, tendo passado outra noite sem lua, tomadas pelo medo, as mulheres mantinham uma vigilância esperançosa por sinais do espírito do seu clã, a gazela. Não tinham avistado nenhuma desde que deixaram o vale fluvial. E se não houvesse gazelas nesta terra estranha? O clã morreria sem o seu espírito? Laliari, arrastando-se à frente com sua parentela feminina por um vale estranho, estava assombrada com um pensamento até mais assustador: ali havia coisas piores do que perder o espírito do clã. Coisas até mesmo piores do que perder seus homens. Porque neste estranho mundo envolto pela névoa não podiam ver a lua. Na verdade, fazia semanas que não a viam.
Laliari não estava só nos seus temores. Enquanto as outras mulheres pranteavam a perda de seus homens, maior ainda era o pesar pela perda da lua, que não aparecia havia muitos dias. Começaram a recear que a lua tivesse ido embora para sempre. Sem a lua não haveria bebês, e a falta de bebês significaria a morte definitiva do clã. Os primeiros sinais já surgiam entre elas: nas semanas desde que tinham sido largadas à própria sorte, nenhuma das mulheres engravidara.
Enquanto mudava a posição do pesado fardo de seus ombros, Laliari olhou à frente para os dois anciãos que lideravam o pequeno bando em meio ao nevoeiro e tentou se reconfortar com o pensamento de que Alawa e Bellek, com seus poderes sobrenaturais e conhecimento de magia, encontrariam a lua.
Mas Laliari não poderia saber que Alawa era impelida por um profundo terror que ela própria sentia e que abrigava um terrível segredo.
A velha Alawa era a Guardiã dos Chifres da Gazela e, portanto, depositária da história do clã. Seu nome significava "aquela que tem procurado", porque quando criança tinha se extraviado e o clã a procurara durante dias. Ela tivera a honra de usar os chifres de gazela na cabeça, amarrados sob o queixo com tiras de tendão animal. Os lóbulos das orelhas de Alawa tinham sido tão esticados ao longo dos anos com penduricalhos ornamentais que agora repousavam sobre os ombros ossudos. No meio dos seios murchos pendiam colares de concha, osso e marfim. Amuletos cobriam as outras partes de seu corpo, não para ornamentação, mas para magia ritualística. O povo de Alawa sabia que para a sobrevivência cada orifício corporal devia ser guardado contra a invasão de espíritos malignos. Na infância, o septo nasal era perfurado com pena de avestruz e mantido aberto até a idade adulta com uma agulha de marfim. Isto impedia que espíritos malignos entrassem no corpo pelas narinas. As orelhas eram perfuradas, em cima e embaixo, bem como os lábios. Amuletos mágicos estavam atados aos cintos de modo que pendiam protetoramente sobre nádegas e púbis, pois os espíritos eram notórios por penetrar nos seres humanos pelos orifícios retais e vaginais.
O outro ancião era Bellek, o xamã do clã e Guardião dos Cogumelos. Como Alawa, seu cabelo era longo e branco, amarrado com contas que tilintavam gentilmente enquanto ele caminhava. Sua única vestimenta era uma tanga feita de pele de gazela macia, estando seu corpo pesadamente decorado com amuletos mágicos, tal como Alawa. Bellek carregava cogumelos secos numa algibeira de couro, mas também procurava por frescos nas áreas boscosas às margens deste rio estrangeiro. Embora houvesse fartura de cogumelos e o bando se alimentasse bem deles enquanto viajava por esta terra estranha de névoas e fantasmas, Bellek estava procurando por um determinado cogumelo, aquele com um "caule fino e comprido e um chapéu peculiar que sempre acharam semelhante a um mamilo de mulher. Eram estes cogumelos que, quando ingeridos, transportavam uma pessoa a um plano metafísico habitado por seres sobrenaturais.
Laliari estava grata pelo clã ainda dispor de Bellek e Alawa, pois os idosos eram os mais prezados membros da comunidade e, juntos, Laliari estava certa, a velha dupla encontraria a lua.
Como se sentindo os olhos da garota sobre si, Alawa parou de súbito e voltou-se para observar a mulher mais jovem através da névoa. Os outros também pararam e olharam alarmados para Alawa. O silêncio que os engolfava era aterrorizante, pois tratava-se do silêncio de fantasmas contendo suas línguas, de espíritos malignos esperando para arremeter. Várias das mulheres reuniram os filhos a sua volta e estreitaram os bebês nos braços. O momento parecia estar suspenso no tempo. Laliari prendeu a respiração. Todos esperavam. E então Alawa, tendo chegado a uma decisão secreta, virou-se e retomou sua marcha cansada.
A decisão secreta de Alawa era a seguinte: não chegara ainda a hora de contar aos demais o seu novo conhecimento, que lhe deixava o coração pesado de tristeza. Havia lido as pedras mágicas e analisado os seus sonhos, tinha observado a fumaça da fogueira do acampamento e rastreado o vôo das fagulhas, e tudo aquilo havia revelado uma terrível verdade que não deixava dúvida na mente de Alawa.
Para a sobrevivência do clã, as crianças deveriam morrer.
À tarde o nevoeiro se dissipou, como sabiam que aconteceria, permitindo aos refugiados uma visão de uma desconhecida terra florestal e uma margem de rio arenosa diante do sol que mergulhava no horizonte e lhes roubava a luz.
Pararam para descansar. Enquanto Keeka e outras mulheres jovens se acomodavam para amamentar e garotas adolescentes iam buscar água, Laliari abriu sua última reserva de tâmaras e as distribuiu entre o grupo. As tâmaras haviam sido colhidas dias antes, num pequeno bosque de palmeiras junto ao rio. Com todos jogando pedras nos cachos de frutos suculentos à grande altura, tinham feito uma generosa coleta, banqueteando-se ali mesmo e depois enchendo os cestos para carregá-los nas costas.
Enquanto os outros comiam, Alawa separou-se do grupo para encontrar um local parcialmente ensolarado para a leitura de suas pedras. Ao mesmo tempo, encurvado e de vista curta, Bellek examinava cada galho e rebento, cada arbusto e talo de grama a fim de determinar se este era um lugar de bom augúrio para ali se fixarem. Até então, quase nada de boa magia havia visto ali.
Havia 65 mil anos não ocorrera a um homem chamado Leão que seu povo podia alterar suas circunstâncias. Mas isto havia ocorrido a uma garota chamada Mulher Alta e foram as ações empreendidas por ela que possibilitaram a sobrevivência da raça. Foi este o legado que deixou para seus descendentes, saber que não precisavam ficar à mercê de seu meio ambiente. Contudo, no decorrer dos milênios, como os humanos se haviam multiplicado e expandido as fronteiras de seu mundo, os descendentes de Mulher Alta tinham se especializado no seu recém-adquirido conhecimento de mudança e controle, pois agora tentavam constantemente administrar cada aspecto microscópico do seu meio ambiente através do apaziguamento e da veneração de fantasmas. Tinham de ficar sempre alertas, a fim de manter o equilíbrio de seu mundo. O mais leve passo em falso podia desagradar os espíritos e trazer má sorte ao povo. Se cruzassem um riacho tinham de primeiro dizer: "Desejamos passar em paz, ó espírito deste riacho." Quando matavam um animal, pediam o perdão dele. Ficavam sempre "lendo" as redondezas. Enquanto seus ancestrais, havia 65 milênios, mal deram atenção a um vulcão fumegante, Laliari e sua família liam presságios na mais leve fagulha de uma brasa. Por isso, Alawa, enquanto interpretava o lançamento de suas pedras mágicas, imaginava o que haviam feito de errado no Mar de Juncos para que ele engolisse os caçadores. Claro que, ignorando tratar-se de um mar, não poderiam ter proferido as palavras adequadas. Nem sequer sabiam seu nome, então como poderiam ter invocado os espíritos daquelas águas? Mas certamente tinham sido sinais a ser lidos — sempre havia sinais. O que teriam deixado escapar que evitaria a catástrofe?
E, pensou sombriamente enquanto juntava suas pedras, sinais que evitariam a catástrofe ainda por vir. Porque mais uma vez a coleção de seixos e pedrinhas passadas de mão em mão ao longo de incontáveis gerações, todo o caminho retroagindo ao primeiro Guardião dos Chifres de Gazela, transmitia a mesma mensagem: as crianças teriam de morrer.
Ela espiou por entre as árvores o lamentável grupo de mulheres e crianças, enfraquecido pela falta de sono. Eram assoladas por pesadelos, sonhos terríveis em que Alawa acreditava fossem a conseqüência dos mortos não terem tido um lugar de repouso. Se o lugar de repouso tivesse sido providenciado, os fantasmas infelizes não estariam agora assombrando os sonhos dos vivos.
Sua própria filha, correndo, um invasor grudado nos seus calcanhares, agarrando seus cabelos esvoaçantes, desequilibrando-a, e depois batendo-lhes nas costas, seu porrete subindo e descendo, sem parar.
De início foram apenas uns poucos invasores e Doron e os caçadores foram capazes de expulsá-los. Mas então outros estranhos haviam chegado, tendo ouvido falar da fértil savana verde exuberante de vida selvagem, e depois mais invasores, enxameando como formigas sobre as colinas ocidentais até que o povo de Alawa fosse sobrepujado. Seguindo para o norte, haviam encontrado outros assentamentos — parentes que viam na reunião anual dos clãs: o Clã do Crocodilo, do qual Bellek viera muitos anos antes, e o Clã da Graça, que havia sido o de Doron. Aqui, com a ajuda dos parentes, o povo de Alawa tentara parar e lutar. Porém os invasores, mais fortes e mais numerosos, insistiram no seu ataque, decididos a não dividir o seu vale fértil.
O pequeno Hinto, filho da filha de Alawa, agarrado por um braço e arremessado ao arpara cair sobre a lança de um invasor. Istaqa, Guardião da Cabana da Lua, virando-se para arremessar uma lança num perseguidor, só para ser atingido por uma pedra no rosto, com tanta força que lhe rachou o crânio. O sangue escorrendo na terra. Os gritos dos feridos. Os gemidos dos moribundos. O medo cego e o pânico. A velha Alawa correndo pela vida, os pés batendo em cadência com o coração em disparada. O jovem Doron e os caçadores ficando para trás a fim de proteger as mulheres e os idosos.
Talvez eles devessem realizar a assembléia silenciosa agora, pensou Alawa enquanto se punha de pé, as velhas juntas estalando. Talvez isto apaziguasse os fantasmas infelizes que estavam assombrando seus sonhos. Mas havia um problema: realizar o ritual implicava falar os nomes dos mortos, e para fazê-lo era preciso quebrar o mais poderoso tabu do clã.
Ela olhou para as crianças e sentiu-se assolada por imensa tristeza. Muitas eram órfãs, suas mães tendo sido mortas durante as batalhas com os invasores. E ali estava o pequeno Gowron, filho da filha de sua filha, brincando com uma rã que havia encontrado. A própria Alawa tinha perfurado o pequeno nariz dele com o osso de garça que impedia a entrada de maus espíritos no corpo pelas narinas. Doía no coração de Alawa saber que ele devia morrer.
Ela voltou sua atenção para Bellek, inclinado e arquejando enquanto explorava os bosques de tamargueiras circundantes em busca de sinais e presságios. Ele precisava encontrar a lua, e, portanto era crucial que prestasse atenção e se concentrasse em cada pequeno detalhe. Um equívoco poderia trazer desgraça para eles.
Mesmo na sua terra ancestral o povo tinha vivido em constante medo do mundo que os cercava. A morte vinha com freqüência, rápida e brutal, de modo que mesmo lá, entre rochas, árvores e rio familiares, havia bastante o que temer. O povo se mantivera em alerta constante para não ofender quaisquer espíritos, proferindo constantemente os encantamentos, carregando os amuletos certos, fazendo os gestos apropriados que haviam aprendido desde a mais tenra infância. Mas um dos problemas que enfrentavam neste estranho lugar era não saber o nome das coisas. Estavam vendo flores e árvores desconhecidas, pássaros de nova plumagem, peixes que nunca haviam encontrado antes. Como chamá-los? Como saber se não causariam dano aos sobreviventes do Clã da Gazela?
Enquanto observava o velho e murcho xamã prosseguir nas suas leituras, agachando-se para examinar um seixo, cheirando uma flor, peneirando a terra por entre os dedos, Alawa imaginava como ele reagiria às notícias dela. Ocorreu-lhe que Bellek poderia não gostar de ter de matar as crianças, mesmo que isto significasse a sobrevivência do clã.
Também lhe ocorreu que Bellek já não era mais útil.
Alawa, de qualquer modo, sempre desdenhara os homens, já que eles não criavam vida, e com freqüência especulara por que a lua produzia meninos. Talvez lá no seu vale fluvial os homens tivessem sido bons para trazer para casa carne de rinocerontes e hipopótamos, tarefa pesada demais para mulheres, alimentando assim o clã por semanas. Mas este novo lugar era farto de alimento ao alcance da mão para ser colhido. Caçadores não eram mais necessários. Era por isto que seus sonhos e as pedras mágicas lhe diziam para sacrificar as crianças? Como uma forma de depurar o clã?
Alawa voltou sua atenção para as crianças enquanto elas comiam e brincavam e grudavam-se aos seios maternos. Ela observava especialmente os meninos, que iam da idade lactente ao início da puberdade. Garotos acima desta faixa etária haviam deixado suas mães para se juntar ao bando de caçadores, tendo, portanto perecido no Mar de Juncos. Enquanto mantinha os olhos nos meninos, Alawa pensou de novo nos caçadores mortos, na lua perdida e nos pesadelos que estavam assolando as mulheres, e o pensamento assustador que se formara em sua mente dias antes falou mais alto agora: que os homens afogados eram infelizes e tinham inveja dos vivos. Era por isto que assombravam os sonhos das mulheres. Como poderia ser de outra forma se nunca houvera uma assembléia silenciosa realizada por eles? Todo mundo sabia que os mortos invejavam os vivos, o que explicava por que os fantasmas eram tão temidos. E os caçadores mortos não invejariam especialmente os meninos que podiam ver crescendo para assumir seus lugares?
Por mais que relutasse em levar a cabo a tarefa, Alawa estava firme na sua resolução. Enquanto os caçadores continuassem a ter inveja dos garotos, e, portanto a assombrar as mulheres, a lua não apareceria. E sem a lua, o clã morreria. Portanto, os garotos deveriam ser sacrificados para afastar os fantasmas. Então a lua voltaria e colocaria novos bebês no ventre das mulheres. E assim o clã sobreviveria.
Na próxima parada para descanso, as mulheres sentaram-se recostadas nas árvores para amamentar os bebês e aninhar as crianças. Algumas, tendo chegado ao limite de sua energia, começaram a chorar.
Todos tinham perdido entes queridos no Mar de Juncos — filhos, irmãos, sobrinhos, tios, parceiros de cama. Bellek vira a morte de seus irmãos mais novos; Keeka, a dos filhos das irmãs de sua mãe; Alawa, cinco filhos e doze filhos de suas filhas; Laliari, seus irmãos e seu amado Doron. Uma perda além da compreensão, além da conta. Quando a maré nova engolira o bando de caçadores, as mulheres tinham percorrido a praia de cima a baixo, aos gritos, na esperança de encontrar sobreviventes. Duas se haviam lançado na água turbulenta, desaparecendo para sempre. As mulheres acamparam na nova praia por uma semana até que Bellek, depois de ter comido cogumelos mágicos e caminhado pelo domínio inferior, decidira que o lugar trazia má sorte e que deviam partir. Isto foi quando haviam seguido rumo ao norte para encontrar um mar vasto e terrível, e então voltaram para o interior, para ir em busca da lua.
Mas ainda não a tinham encontrado e as mulheres estavam inconsoláveis.
Ao ver as lágrimas escorrendo pelas faces de Keeka, Laliari abriu a bolsa que pendia do cinto e, tirando um punhado de nozes, ofereceu à prima.
Keeka tinha sido roliça antes dos invasores chegarem. Ela adorava comer. Tinha vivido numa cabana com sua mãe, a mãe de sua mãe e seus próprios seis filhos, e toda noite, depois da refeição comunal, ela corria de volta à cabana para estocar a comida que escondera debaixo da saia de palha. Keeka também adorava se acasalar com os homens e não precisava ser persuadida. Não obstante, os caçadores que entravam e saíam de sua cabana com freqüência lhe davam presentes extras de alimento, e assim peixe seco e pernis de coelho pendiam do teto de seu abrigo, junto a cebolas, tâmaras e espigas de milho. Mas ninguém se importava. Todos no clã comiam bem.
Enquanto Keeka pegava as nozes e as devorava, Laliari olhou para trás, por entre as árvores e viu uma figura trágica espreitando da névoa: Aquela-que-não-tem-nome. Laliari estava espantada por ter a pobre criatura sobrevivido tanto tempo, já que fora excluída do clã, tendo de seguir atrás dos outros através da névoa espessa. Laliari sentia piedade dela. As pessoas tinham medo de mulheres sem filhos porque as consideravam possuídas por um espírito maligno. Se não, como explicar por que a lua não as favorecia com bebês? Antes que os invasores chegassem, Aquela-que-não-tem-nome tinha vivido à margem do assentamento, tratada como invisível, comendo sobras jogadas fora. Ela havia sido proibida de tocar na comida que outra pessoa fosse comer, ou na água, ou na cabana de alguém. E nenhum homem podia abraçá-la, não importava quão desesperada fosse sua necessidade de alívio sexual.
Não-tem-nome não havia nascido com má sorte. De fato, começara como qualquer outra garota. Laliari lembrava-se de quando o clã celebrara o primeiro fluxo lunar de Não-tem-nome, como ela havia sido tratada especialmente de acordo com a tradição, todos pronunciando seu nome com alegria, mimando-a e cumulando-a de presentes e comida. E houve celebração maior ainda quando tornou-se grávida pela primeira vez e sua posição no clã elevou-se bastante. Mas quando o fluxo lunar de Não-tem-nome continuou aparecendo regularmente e as estações iam e vinham sem que produzisse um bebê, as pessoas começaram a olhá-la de esguelha até que finalmente tornou-se uma pária, privada de seu nome e da permanência junto ao clã.
Embora Laliari tivesse se acostumado com a pobre criatura que os vinha seguindo desde o Mar de Juncos, a presença sombria de Não-tem-nome agora fazia o medo crescer dentro dela. Sem a lua, iriam todas terminar que nem ela?
Laliari enrolou os dedos ansiosos em volta do amuleto mágico que usava no pescoço, um talismã de marfim que tinha sido esculpido durante a lua crescente. Também usava um colar feito com mais de cem vespões que esmeradamente colecionara, secara e lustrara. Pareciam pequenas nozes e faziam um som crepitante suave enquanto andava. Não era para ornamentações, mas para que o poder dos espíritos vespões a protegessem e ao seu clã, os vespões sendo defensores tão ferozes de seus próprios lares. E numa bolsinha que pendia do cinto tecido de sua saia de palha estavam as preciosas sementes e pétalas secas da flor-do-lótus, seu espírito protetor pessoal.
Mas Laliari agora pouco conforto encontrava em amuletos e colares. Ela e suas irmãs e primas haviam perdido sua terra, seus homens, e a lua. Se ao menos pudesse falar o nome do seu adorado Doron, que conforto isto seria.
Mas nomes eram magia poderosa, não deviam ser pronunciados de modo frívolo, pois um nome incorporava a própria essência de uma pessoa e estava diretamente ligado ao seu espírito. Como os nomes envolviam magia e sorte e determinavam como devia correr a vida de uma pessoa, eles não eram dados superficialmente, mas só depois de uma meditação e da leitura de sinais de presságios. Às vezes um nome mudava na adolescência, ou após um acontecimento de vulto na vida de uma pessoa. Ou, dependendo de uma ocupação específica que adotassem, como Bellek, que significava "leitor de sinais". Laliari, significando "nascida entre os lótus", tinha sido assim chamada porque sua mãe apanhava água do rio quando as dores do parto começaram. Até o fim de seus dias Laliari seria protegida pela flor-do-lótus. Keeka, "filha do pôr-do-sol", assim era desde que havia nascido. Libertador, "gavião que espalha suas asas", havia sido o mais poderoso dos caçadores. Uma vez adotado um nome, ele não podia mais ser usado de novo. Finalmente, trazia má sorte falar o nome de uma pessoa depois da morte, como se isto invocasse o seu infeliz fantasma. E assim Laliari teve de parar de falar o nome de Doron, e, portanto o próprio Doron foi definitivamente esquecido.
Ela puxou a pele de gazela mais sobre si. Quando descobriram que não podiam mais agüentar o frio, as mulheres tinham amarrado os fardos que transportavam às costas, as peles de animais servindo de agasalho. Em casa, quando o rio estava baixo, viviam junto à margem, mas quando o rio começava a sua cheia anual e inundava as margens, o povo derrubava seus abrigos e se mudava para um terreno mais alto, construindo novos abrigos de peles e presas de elefante. Quando se viram forçados a fugir dos invasores, as mulheres haviam amarrado as preciosas peles em fardos e as transportavam nas costas. Agora as usavam como proteção contra o frio que fazia nesta terra estrangeira.
Tiritando de frio, Laliari pensou de novo em Doron e em como ele a havia aquecido à noite na cabana de sua mãe. Lágrimas brotaram em seus olhos. Laliari amava Doron porque ele fora muito paciente com ela depois da morte do bebê. Embora a maioria dos homens pranteasse a morte de qualquer criança, já que era uma perda para o clã, eles rapidamente se refaziam e não conseguiam entender o prolongado pesar de uma mãe. Afinal, argumentavam os homens, a lua sempre dava mais crianças a uma mulher. Mas Doron havia compreendido. Apesar de ele próprio jamais ter sabido o que era parir um filho ou uma filha, e que seu único parentesco com um bebê só pudesse ser pelos filhos de sua irmã, entendia que o bebê de Laliari era do sangue dela e que ela lamentaria como ele próprio teria lamentado a morte do filho de sua irmã.
Agora Doron estava morto. Engolido por um mar recém-nascido.
Alawa gritou em alarme. As árvores estavam chorando!
Era apenas a névoa, tão espessa no vale que o orvalho tinha se acumulado nos galhos e folhas e gotejava como chuva. Mas Alawa sabia o que isto realmente significava: os espíritos das árvores estavam infelizes.
Fez um gesto protetor e recuou rapidamente. Seus medos cresciam a cada dia. Apesar da insistência de Bellek de que quanto mais para o norte seguissem maior a chance de encontrarem a lua, Alawa não estava tão certa. Tudo sobre o exílio deles havia sido estranho e desnorteante, começando com o mar interior que não continha nenhum peixe, nem vida de qualquer espécie. Quando as mulheres viajaram para leste a partir do mar que não possuía nenhuma margem oposta e encontraram um volume de água no qual nenhum peixe nadava, nenhuma alga vicejava, circundado por uma praia coberta de sal que não produzira mexilhões ou juncos — um mar completamente sem vida —, ficaram alarmadas. Até mesmo Alawa havia jurado que nunca tivera uma visão tão estranha. Mas então seguiram o litoral salgado e chegaram a um rio que fluía para trás!
Temeroso demais para dar outro passo, o grupo havia acampado na margem do rio que fluía para trás, enquanto Bellek comera os cogumelos mágicos e caminhara pela terra de visões. Ao despertar, ele havia decretado que este novo rio era seguro, apesar de seu fluxo para trás, e que deviam continuar a segui-lo, pois a lua ficava ao norte, além da névoa.
E assim partiram, viajando primeiro por um trecho seco onde o solo era rochoso e coberto de vegetação esparsa, e depois para um lugar ao longo do rio fluindo para trás onde cresciam salgueiros, oleandros e tamargueiras. Mas à medida que progrediam cada vez mais para o norte, o rio se estreitava e serpenteava, com colinas escarpadas erguendo-se acima das margens. Bem ao contrário do rio largo e plano de sua terra de origem! E este rio fluía como uma serpente, desviando-se para trás em si mesmo, de modo que às vezes o bando de Alawa estava caminhando para oeste ao longo de sua margem, a seguir para o norte e depois para leste! Como se o rio não pudesse decidir o que queria.
Haviam encontrado estranhas paisagens. Ao norte do mar morto depararam com uma planície aberta onde crescia relva farta. Mas onde estavam os animais? Bellek examinou o solo e descobriu vestígios de estrume, o que significava que rebanhos tinham passado por ali. Onde estavam agora? Teria o estranho nevoeiro noturno carregado os animais para longe, como fizera com a lua?
E agora tinham deparado com árvores que choravam. A cada noite sem lua, a cada dia sem que ninguém engravidasse no bando, a ansiedade de Alawa crescia. Os meninos deviam ser sacrificados logo ou a lua estaria perdida para sempre.
Ao pôr-do-sol depararam com uma visão que os deixou atônitos. As mulheres e crianças caíram em silêncio e olharam fixamente, incapazes no início de acreditar no espetáculo inteiramente horrível. Na base de um penhasco elevava-se uma montanha de esqueletos — centenas de antílopes empilhados uns sobre os outros, os crânios fendidos, os ossos quebrados. Alawa olhou para cima e viu a íngreme parede de um penhasco elevando-se acima das carcaças. Estes animais tinham se atirado do platô para a morte. Por quê? O que os teria assustado?
As mulheres se apressaram, ansiosas em deixar para trás os fantasmas dos desditosos animais.
Chegaram finalmente à margem de um lago de água doce que gerações futuras iriam chamar erroneamente de Mar da Galiléia. Densamente margeado por árvores e arbustos, tamargueiras e rododendros, suas águas eram pródigas em peixes e uma fartura de pássaros povoava a praia. Ali o nevoeiro se dissipara e a luz do sol do fim de tarde ainda aquecia a terra. Farejando o vento e estudando as nuvens, Bellek ergueu seu cajado, que estava decorado com amuletos mágicos e rabos de gazela, e decretou que ali a magia era boa, ali iriam acampar e passar a noite.
Enquanto ele e a velha Alawa dedicavam-se aos seus rituais noturnos para deixar o acampamento a salvo de espíritos malévolos, gravando símbolos protetores nas árvores e arrumando pedras em ordem ritualística, as mulheres desdobravam os couros para criar quebra-ventos. Como as presas de elefante tinham sido perdidas quando os caçadores se afogaram, era impossível construir cabanas adequadas, de modo que usaram três troncos, árvores novas e galhos robustos enfiados no solo. O povo do Clã da Gazela praticava a vida comunal — os abrigos eram divididos não para famílias individuais, mas de acordo com grupos e propósito ritualístico. Havia as cabanas mais amplas, onde os caçadores dormiam separados das mulheres; as cabanas individuais dos idosos reverenciados; os abrigos das mulheres jovens que ainda não haviam tido bebês; a cabana da lua das mulheres; a cabana do xamã; a cabana dos jovens caçadores principiantes; e algumas pequenas unidades matriarcais consistindo de avó, mães, irmãs e bebês. E os abrigos eram sempre redondos, de modo a não haver cantos onde espíritos pudessem espreitar.
Suas prioridades nesta noite, enquanto se apressavam para montar acampamento antes do sol se pôr, eram a cabana de Alawa e a cabana da lua.
Durante a menstruação as mulheres eram vulneráveis e precisavam de proteção contra espíritos malignos e fantasmas infelizes que estavam sempre esperando por uma chance de se apossar de um ser humano vivo. Esta era a época de magia poderosa, quando se decidia se a nova vida começaria no corpo de uma mulher. Ela olharia para a lua e a fase lunar sinalizaria a sua hora de apartar-se dos demais. Ela pegaria seus amuletos mágicos e alimentos especiais e se retiraria para esperar e observar os sinais: se o fluxo lunar viesse, não haveria criança nela. Mas se ele não aparecesse, então ela estava grávida. Assim a cabana da lua foi erguida primeiro, com Alawa entoando encantamentos protetores em torno da entrada, festonando cordões de conchas de cauri, símbolo poderoso da genitália feminina, e traçando símbolos mágicos na terra, usando ocre para simbolizar o precioso sangue lunar.
O segundo abrigo era para Alawa. Poucas mulheres viviam depois da menopausa e, portanto aquelas que o conseguiam eram tratadas com o maior respeito, pois acreditava-se que eram possuidoras da grande sabedoria lunar.
Enquanto procurava por comida, o grupo deparou com uma árvore que era nova para eles: da altura do joelho e folhosa, carregada de vagens contendo sementes brancas e carnudas. Depois de provarem para ter certeza de que o fruto não era venenoso, as mulheres começaram imediatamente a colher os grãos-de-bico. Nesse ínterim, Bellek foi até a beira da água e, por mais precária que estivesse sua vista, enxergou vida nos bancos de areia do lago, fazendo-o estalar os lábios na expectativa de uma refeição de peixe cozido. Mandaram as crianças procurar bagas e ovos, com advertências severas para que respeitassem os tabus adequados, muito embora estivessem numa terra estranha, e para que se certificassem de não ofender quaisquer espíritos.
Finalmente Alawa designou alguém para observar a lua, com instruções para acordar todo o grupo ao primeiro avistamento. Com sorte, esta seria a noite da lua surgir antes que o nevoeiro voltasse.
Enquanto as mulheres e crianças se agrupavam junto ao fogo confortador para comer e se enfeitar mutuamente, para remendar cestos e afiar lanças, amamentar bebês e tentar esquecer seus medos, Alawa deslizou para a beira da água. Se a lua não se mostrasse naquela noite, tinha decidido, então ela deveria agir. No dia seguinte os meninos teriam de morrer.
Enquanto alimentava seus seis filhos, Keeka observou a velha se esgueirar do acampamento, o corpo outrora orgulhoso agora dolorosamente curvado sob o peso dos chifres de gazela. Keeka vinha suspeitando já havia algum tempo que Alawa carregava um segredo. Ela sabia o que era. Alawa estava se preparando para escolher sua sucessora.
E como a Guardiã dos Chifres de Gazela era a mais importante pessoa do clã, sempre tinha a melhor cabana, a melhor comida. Keeka queria ser a sucessora de Alawa, mas não era uma coisa que pudesse simplesmente pedir. A escolha era determinada por presságios, pela leitura de sinais e pela interpretação dos sonhos. Uma vez feita a escolha, a sucessora viveria constantemente ao lado de Alawa para aprender a história do clã, ouvir as narrativas e memorizá-las, como Alawa tinha feito quando era jovem, muitas estações atrás. E agora haveria uma nova narrativa adicionada à longa história do clã: a invasão do povo ocidental, a luta do clã pelo vale fluvial, o afogamento dos homens no novo mar, a perda da lua, e esta viagem para encontrar um novo lar.
Enquanto via Alawa desaparecer através do matagal em direção ao lago, a atenção de Keeka foi capturada por uma risada estridente. Sua prima Laliari havia pegado um dos órfãos em seu colo e fazia-lhe cócegas. Os pensamentos de Keeka se congelaram. Desconfiava que Alawa poderia escolher Laliari.
O ódio de Keeka pela prima começara dois anos antes, quando o belo Doron havia se juntado ao Clã da Gazela. Keeka tentara de todos os modos atraí-lo para sua cabana, mas ele estava interessado somente em Laliari. E aquilo era raro. A união física entre homens e mulheres era sempre aleatória e em série, com poucas normas e nenhum compromisso. Mas Doron e Laliari haviam desenvolvido uma afeição singular que os tornara desinteressados em outros, um relacionamento que antecipava o casamento e a união de um casal por toda a vida, conceitos que só existiriam depois de 25 milênios.
Quanto mais Keeka desejara o jovem e belo caçador, e quanto mais ele a ignorava, mais o seu desejo de tê-lo crescera para virar uma obsessão. Quando ele se afogou no Mar de Juncos, Keeka sentiu um júbilo secreto, pois agora Laliari também não poderia tê-lo. Aos seus sentimentos de triunfo sobre a prima juntava-se o fato de que Laliari não tinha filhos, seu bebê tendo morrido antes de completar uma estação. E uma vez que não havia lua nesta nova terra para dar-lhe outro filho, Keeka, com sua ninhada de seis, olhava para a prima com um senso de superioridade presunçosa.
Agora odiava pensar em Laliari como a sucessora de Alawa.
Depois da refeição e dos enfeites, era a hora das histórias. As mulheres esperavam Alawa aparecer junto à fogueira e começavam sua recitação noturna. O povo de Laliari gostava das histórias porque elas os ligava ao passado e os faziam sentir-se parte de um cosmo de outro modo desnorteante e assustador. As narrativas os ligavam à natureza; mitos e lendas confortavam em familiaridade e explicavam mistérios. As mulheres e crianças sempre mantinham silêncio quando Alawa começava em sua voz frágil e estalante: "Muito, muito tempo atrás... antes que existisse o Clã da Gazela, antes que houvesse gente, antes que houvesse o rio... nossas mães vieram do sul. Elas nasceram da Primeira Mãe, que as mandou seguir para o norte e encontrar um lar. Trouxeram o rio com elas. A cada nascer da lua elas fizeram a água fluir, até que vieram para o nosso vale e souberam que sua andança havia terminado..."
À medida que a ausência de Alawa da fogueira se prolongava, as mulheres tentavam controlar seus medos. Sabiam que ela estava procurando a lua. Mas agora que a noite tinha caído, o nevoeiro se arrastado de volta para o vale, as mulheres suspeitavam que Alawa mais uma vez não teria a visão da lua.
Laliari olhou para cima e tentou perscrutar através do teto nevoento. A lua era mais do que a doadora de bebês e reguladora dos corpos das mulheres: também fornecia luz valiosa durante a noite quando necessário. Ao contrário do sol, que brilhava inutilmente durante o dia quando já havia luz e cuja face era brilhante demais para ser encarada, uma pessoa podia olhar para a lua horas e horas sem ficar cega. A lua, dependendo das suas fases, fazia com que as flores se abrissem à noite, os felinos caçassem, as marés enchessem. A lua era previsível, reconfortante como uma mãe. A cada noite, após os dias terríveis da Lua Negra, o clã se reunia no trecho sagrado do rio e observava a primeira ascensão da Lua Bebê — uma lasca de unha no horizonte. Eles davam suspiros de alívio, depois se felicitavam e dançavam enquanto ela se erguia no céu, pois significava que a vida ia continuar.
Enquanto Laliari embalava um dos bebês sem mãe, seus pensamentos se desviaram para o bebê que havia parido um ano antes. A lua o tinha dado a ela pouco depois de Doron juntar-se ao clã. O neonato não viveu muito tempo, porém, e Laliari teve de levá-lo para as colinas escarpadas a leste e deixá-lo lá. Às vezes olhava na direção do sol nascente e imaginava seu bebê lá, especulando se o seu espírito estaria infeliz. Sentira um curioso impulso de voltar ao local, mas trazia má sorte ficar perto do lugar de coisas mortas. Se alguém morresse numa cabana, ela era queimada e o clã se mudava para um ponto mais distante ao longo do rio para montar um novo acampamento.
Retroagindo no tempo da doença e morte do seu bebê, Laliari só podia culpar a si mesma, pois devia ter ofendido involuntariamente um espírito, de modo que ele veio a puni-la matando seu filho. E ainda assim Laliari era sempre cuidadosa em seguir os regulamentos e obedecer às leis da magia e da sorte. Era por isto que o território deles tinha sido invadido por estrangeiros, resultando na morte de seus caçadores no mar de juncos assassino? Será que todo o clã, de alguma forma, negligenciara alguma coisa? Então como eles esperavam sobreviver neste novo lugar, quando nem sequer conheciam nenhuma das regras?
Ela sabia que trazia má sorte pensar nos mortos, mas ainda era um grande conforto preencher a mente com lembranças de Doron. Como eles haviam se conhecido, por exemplo. O Encontro Anual dos Clãs acontecia a cada ano durante a inundação, quando o rio transbordava de suas margens. Milhares afluíam vindo de vales acima e abaixo, montando abrigos redondos e içando símbolos dos clãs. Era durante o Encontro que se resolviam as disputas, traçavam-se as linhas de parentescos, trocavam-se notícias e mexericos, dívidas eram pagas, desforras obtidas e, mais importante de tudo, pessoas mudavam de família. As famílias com poucas mulheres recebiam fêmeas de famílias com excesso delas. Era um processo prolongado e complexo, levado a cabo por todos os grupos, com os anciãos intervindo nas situações de conflito. Doron e outro rapaz tinham sido trocados por duas moças do clã de Laliari. Ela e Doron haviam passado uma semana se observando dissimuladamente. Tinha sido uma época de acanhamento e excitação, de despertar dos instintos. Laliari nunca notara antes como os homens possuíam ombros maravilhosamente fortes — especialmente Doron — e o Doron de 19 anos de idade descobrira-se afogueado à visão da cintura fina e amplos quadris de Laliari. Na época em que o Encontro Anual tinha sido dissolvido e Doron seguira com Laliari e o clã dela para sua terra ancestral, ambos passavam cada noite nos braços um do outro.
Subitamente acometida de pesar, Laliari apoiou a testa nos joelhos e começou a chorar em silêncio.
Lá embaixo, na beira da água, outra alma estava desolada de pesar. Alawa, olhando por sobre a extensão de água, chegara a uma dolorosa decisão: era assim que os meninos deviam morrer — por afogamento, como haviam morrido os caçadores.
Ela voltou-se para o som de passos e viu a silhueta familiar de Bellek emergir por entre os juncos altos. Ele parou ao lado dela por um longo momento, o peito ossudo subindo e descendo em respiração dificultosa. Havia algum tempo que sabia que Alawa estava chegando a uma importante decisão. Ela está ficando pronta para escolher sua sucessora, pensou.
Ele gostaria de opinar na escolha, mas apenas a Guardiã dos Chifres de Gazela sabia quem deveria ser a próxima Guardiã. Isto nada tinha a ver com opiniões e votos, mas sim com o que o mundo-espírito desejava, com o que o espírito-gazela quisesse. E apenas Alawa sabia o que lhe diziam seus sonhos e as pedras mágicas.
Vai ser Keeka? — perguntou ele, suavemente, esperando que não fosse. Keeka possuía um traço de glutoneria que ele temia ser prejudicial para o clã. Se a escolha lhe coubesse optaria por Laliari, porque a guardiã das histórias do clã tinha de ser isenta de egoísmo.
Alawa balançou a cabeça lentamente por causa do peso dos chifres de gazela. Quando era mais jovem os chifres lhe tinham sido quase leves. Mas com a idade foram ficando pesados, de modo que seu pescoço vergava debaixo deles.
Amanhã os meninos devem morrer — disse numa voz coaxante.
Ele a fitou como se não tivesse ouvido corretamente.
O que disse?
Os meninos devem morrer. Os fantasmas dos caçadores estão invejosos deles. É por isso que nos assombram, é por isto que a lua se esconde. Se os meninos não morrerem, então o clã morrerá. Para sempre.
Ele inspirou fundo e traçou um gesto protetor no ar.
Nós o faremos no lago — disse Alawa, resoluta. — Os caçadores morreram afogados e assim será com os meninos. — Ela voltou os olhos penetrantes para ele. — Bellek, você também deve morrer.
Eu? — espantou-se ele. — Mas o clã precisa de mim!
O clã ainda terá a mim. E se a lua desejar que tenhamos homens, ele nos dará outros.
Mas que ameaça eu represento? Os meninos, sim, porque eles crescerão para se tornar caçadores. Mas eu sou um velho.
A voz dela se elevou.
E você tornou os caçadores invejosos por continuar vivo. Homem egoísta! Teria coragem de ameaçar nosso povo de extinção por se negar a cumprir o presságio?
Ele começou a tremer.
Não pode haver um engano?
Como ousa?! — gritou ela. — Você questiona os meus sonhos! Questiona o que os espíritos me contaram! Você traz má sorte para nós com suas dúvidas! — Ela agitou as mãos diante dos próprios olhos como se para enxotar um espírito maligno. — Renegue o que acabou de dizer ou todos nós sofreremos as conseqüências!
Desculpe — disse ele numa voz minúscula. — Não tive a intenção de duvidar. Os espíritos falaram. Os... — Ele mal pôde forçar-se a dizer: — Os meninos morrerão.
Enquanto Alawa dormia debaixo das macias peles de animais, Laliari encontrava-se sentada com as costas apoiadas na parede de couro. Ela ficara surpresa quando a anciã pediu que lhe fizesse companhia na cabana. Laliari não deixara de notar os olhares de admiração e inveja de todos os demais. Especialmente de Keeka, pois todos sabiam o que isto significava: que Alawa estava considerando fazer de Laliari sua sucessora.
Mas a anciã tinha ido dormir imediatamente, e agora a cabana estava aquecida e aconchegante. Laliari trouxe os joelhos ao peito e, enlaçando-os com os braços, descansou a cabeça nos antebraços. Ela não pretendera pegar no sono, mas quando acordou a luz da aurora nevoenta já rastejava por debaixo da tenda. E ela soube, mesmo sem olhar, que Alawa estava morta.
A jovem mulher fugiu para fora da cabana, o cabelo projetando-se em terror. Nunca antes estivera em proximidade tão estreita com uma pessoa no momento da morte. Para onde tinha ido o espírito de Alawa? Laliari se lembrou de que no lar deles, lá no rio, um homem e uma mulher estiveram dormindo juntos e o homem despertara para descobrir a mulher morta. Bellek fizera leituras e proclamara que o homem estava agora possuído pelo espírito da mulher morta. Assim, o clã o expulsou do assentamento e não lhe permitiu voltar. E nunca mais o viram.
Em pânico, Laliari apertou as narinas, tentando atrasadamente impedir que o fantasma da anciã entrasse nelas. Seus lamentos acordaram os outros. Imediatamente eles rasgaram a cabana de Alawa e fizeram preparativos para a reunião silenciosa. Bellek examinou Laliari com grande atenção, olhando seus ouvidos, olhos, boca e vagina até ficar satisfeito. "Não há nenhum espírito", disse com firmeza, deixando-a à vontade. Talvez Alawa estivesse muito velha para o espírito deixar seu corpo rapidamente, como acontecia com gente mais jovem. Aquele velho fantasma poderia, mesmo neste exato momento, estar ainda lutando para escapar de seu invólucro de carne. Bellek informou às desventuradas mulheres que era necessário fazer uma boa reunião silenciosa como garantia de que, quando partissem, a velha Alawa não os seguisse para assombrá-los.
Era um ritual tão velho quanto o tempo, realizado através das gerações desde que o primeiro povo pranteou seus mortos. Bellek traçou um círculo na terra em volta do cadáver de Alawa e entoou palavras mágicas. Enquanto fazia isto, as mulheres comeram e beberam até se fartar, pois iriam jejuar até o próximo ciclo do sol. As crianças iriam sentar-se silenciosamente com as mães, só deixando o círculo para se aliviar quando suas bexigas estivessem cheias. O silêncio tinha de ser absoluto e ninguém deveria comer ou beber, pois se o fizessem os espíritos dos falecidos ficariam incomodados e ciumentos. Todos sabiam que os fantasmas estavam infelizes — afinal, ninguém queria morrer. E como sentiam-se infelizes, os fantasmas queriam tornar os vivos infelizes também, e portanto os assombravam. O propósito da assembléia silenciosa era convencer o fantasma de que este lugar era tedioso, sem comida, bebida ou risos, na esperança de que isto os levasse a procurar lugares melhores.
Bellek havia coberto o cadáver com uma pele de gazela, dizendo aos outros que era para impedir o espírito de Alawa de tentar possuir um deles. Mas fizera isto por outro motivo. Ninguém mais senão ele notara as marcas na garganta da anciã e a expressão de medo que se congelara em seu rosto ao morrer — prova de que Alawa havia interpretado mal seus sonhos e cometera um erro acerca dos caçadores desejarem que os meninos fossem sacrificados. Como ela poderia ter morrido de susto e estrangulamento se não fosse obra dos fantasmas dos caçadores, que rastejaram até sua tenda e a mataram?
Por sorte, Alawa não havia revelado seus planos a mais ninguém, e assim Bellek guardou o segredo para si. Enquanto estivesse vivo, os meninos estariam a salvo — e ele também.
Depois que as desoladas mulheres sentaram-se em um círculo silencioso por um dia e uma noite, os estômagos roncando de fome, as bocas ressecadas de sede, as juntas doendo por falta de movimento, as crianças inquietas e irritadas, elas dividiram os pertences de Alawa de acordo com a necessidade individual, com os chifres de gazela indo para Bellek. Por fim, deixando o corpo onde jazia, desmontaram o acampamento e retomaram sua viagem para o norte.
As noites se tornaram mais frias, o nevoeiro rolava vezes sem conta, e as mulheres do Clã da Gazela, desacostumadas com o outono e seus nevoeiros e não sabendo que ele finalmente cederia lugar às chuvas de inverno, acreditavam que ficariam presas na névoa para sempre. Elas tiritavam de frio nos seus abrigos precários, desfrutavam de pouco sono e aquecimento, até que finalmente, uma noite, foram acordadas por uma violenta tormenta, diferente de tudo que já haviam vivenciado — uma tempestade que rugia de oeste berrava descendo as montanhas próximas e fustigava o frágil acampamento com um bafo gélido, caindo como lanças. As mulheres combatiam o vento para conservar seus abrigos, mas o malévolo vendaval, uivando como um animal ferido, derrubava os couros protetores de gazela e os carregavam para o lago turbulento. Árvores e arbustos eram desenraizados, ramos encharcados voavam enquanto as mulheres aterrorizadas se amparavam umas nas outras e tentavam proteger as crianças.
Quando terminou e o raiar do dia expôs uma paisagem devastada, as mulheres tiveram uma visão que as deixou atônitas: as montanhas, que eram verdes, agora estavam brancas.
— O que é isto? — perguntou Keeka, abraçando com força os filhos pequenos enquanto as outras mulheres gritavam e gemiam de medo. Laliari olhou fixamente para os picos distantes e sentiu um bolo frio formar-se na garganta. O que significavam as montanhas brancas? Tinham virado fantasmas? Estaria o mundo chegando ao fim?
O velho Bellek, trêmulo pela umidade, os lábios e dedos esfolados pelo frio, olhava desolado por sobre o lago onde as peles de gazela flutuavam na água. Ele não tinha medo das montanhas — há muito tempo, na sua infância, ouvira narrativas sobre uma coisa chamada neve. O mundo não estava chegando ao fim, mas o tempo estava mudando. Ele decidiu que, pela sobrevivência, o grupo tinha de encontrar um abrigo mais firme.
Virou-se para oeste e contemplou os penhascos que se erguiam como paredes a prumo da planície ondulada. Os penhascos eram acanalados com cavernas. Bellek suspeitava que elas poderiam ser quentes e secas no seu interior, mas o velho era cauteloso com cavernas. Seu povo nunca vivera nelas e certamente jamais as explorara por dentro. Cavernas eram o covil de morcegos e chacais. Pior, cavernas eram a morada dos espíritos infelizes dos mortos. Ainda assim, pensava enquanto esfregava os braços congelados, sem as presas de elefante e agora as peles de gazela, como é que as mulheres fariam abrigos adequados?
Quando anunciou sua decisão de investigar as cavernas, um coro de protestos se elevou. Mas Laliari, vendo a sabedoria da decisão, se ofereceu para acompanhá-lo. Todavia, estivera na cabana da lua durante a tempestade, e seu fluxo mensal ainda não cessara, de modo que tinham de esperar.
Por volta do terceiro dia já era seguro para ela viajar, e assim coletaram comida e água e passaram um dia em preparação espiritual. Partiram pesadamente armados com amuletos poderosos e com símbolos místicos pintados em seus corpos como proteção contra fantasmas e seres sobrenaturais. Com as mulheres e crianças soluçando numa despedida infeliz, a corajosa dupla seguiu para oeste do lago.
Alcançaram os penhascos ao meio-dia, onde fizeram uma pausa para comer tâmaras e ovos de tordeiro e entoar encantamentos para aplacar espíritos hostis. Laliari começou a subir primeiro, encontrando a rota mais fácil entre os penedos, depois parando para ajudar Bellek. Encontraram uma trilha rústica levando às cavernas e suas saliências rochosas, uma trilha coberta de ossos de animais e ferramentas de sílex, indicando que pessoas já tinham vivido ali.
Laliari cantava em voz alta ao entrar, mais um aviso a possíveis humanos do que aos espíritos. Se houvesse de fato pessoas vivendo ali, ela não queria alarmá-las ou pegá-las desprevenidas. Era melhor anunciar sua presença, decidiu. Uma abordagem ruidosa significava que não tinham nada a esconder e chegavam amistosamente.
Mas não encontraram ninguém.
As cavernas de calcário eram profundas e escuras, habitadas somente por formidáveis estalagmites. Em cada uma Laliari e Bellek encontraram ferramentas de pedra cobrindo o chão — machadinhas, raspadeiras e cutelos —, bem como restos de animais — cavalos, rinocerontes e cervos — indicando que pessoas já tinham vivido ali, e também que haviam se alimentado bem. Mas para onde tinham ido os humanos que deixaram lareiras carbonizadas, ferramentas quebradas e, em algumas, símbolos espantosos pintados nas paredes de calcário, os dois só podiam especular.
Após um dia e uma noite investigando as cavernas, Laliari e Bellek ficaram desestimulados. Embora fossem claramente excelentes abrigos — afinal, outras pessoas tinham considerado as cavernas habitáveis — era exatamente porque outro povo havia vivido neles que Bellek não podia instalar ali seu clã. A caverna que selecionassem teria de ser intocada por humanos ou espíritos, pois do contrário isto poderia ser um convite à má sorte pairando sobre suas cabeças.
Ao segundo crepúsculo uma leve garoa começou a cair, deixando as rochas escorregadias. Enquanto se arrastavam ao longo do precipício para a caverna seguinte, Bellek perdeu o equilíbrio e caiu. Laliari o agarrou, mas não antes que a ponta aguçada de uma pedra cortasse sua canela. Laliari ajudou o velho por todo o restante do caminho, onde rapidamente escaparam da chuva entrando numa caverna aquecida e seca.
Ali percebera não só evidência de habitação humana, como também os vestígios de uma fogueira recente. Quando sentiram no ar os cheiros remanescentes de alimento cozido, a sua fome voraz superou o medo de estranhos. Olhando apressadamente em volta à procura de habitantes — a caverna parecia ter sido abandonada —, eles, a seguir, procuraram por comida. Quando Laliari viu o que estava obviamente recém-enterrado no chão da caverna, recordou-se de que às vezes seu povo estocava ou "sazonava" alimento na terra. Caiu de joelhos e começou a cavar. Quando seus dedos encontraram algo macio e firme que parecia um animal, ela sorriu para Bellek. Com sorte, teriam o que comer. Mas quando retirou a terra e viu o que estava enterrado ali, deu um grito e saltou para trás.
Bellek adiantou-se e espiou a cova.
Um garotinho jazia de lado com os joelhos dobrados junto ao peito. Arrumados em torno dele havia ferramentas de sílex e chifres de cabra, e espalhadas sobre o cadáver pétalas de jacinto e malva-rosa e ramagens de pinheiro. Bellek rapidamente fez um sinal protetor e recuou. Estavam na presença de uma criança recém-falecida!
Laliari arregalou os olhos assustados para o ancião e, antes que pudesse perguntar a ele o que deviam fazer para se salvarem, uma forma negra subitamente entrou na caverna, enorme e peluda. Arremeteu sobre Laliari, mandando-a ao chão.
Com os punhos e dentes Laliari combateu a fera, rolando com ela numa luta violenta. Quando conseguiu pôr-se de pé, a fera capturou-a pelo tornozelo e a puxou de volta. Pegando-a pela cintura» a besta ergueu Laliari no ar e, com força inumana e um rosnado brutal, arremessou-a ao outro lado da caverna, onde ela bateu de cabeça contra a parede. Ignorando Bellek, que mantinha-se congelado em choque, o animal — que afinal não passava de um homem usando peles — correu de volta à cova funerária e começou a cobrir rapidamente a criança morta.
Momentos depois, Laliari voltou a si. Quando sua mente clareou e os olhos entraram em foco, descobriu-se sentada com as costas apoiadas na parede da caverna, Bellek agachado a seu lado, uma das mãos sobre a perna ensangüentada. Ela então olhou na direção do centro da caverna, onde ocorria uma cena espantosa.
O bruto que a havia atacado estava de cócoras sobre a cova onde jazia a criança morta soltando sons lúgubres, os braços agitando-se como aqueles de um homem possuído por um espírito. Laliari foi instantaneamente possuída pelo terror. Ela queria correr para fora da caverna e afastar-se o mais que pudesse do cadáver, porém a perna de Bellek sangrava gravemente e o velho estava ficando pálido. Chegou mais perto, pôs um braço em torno dos ombros dele e tentou imaginar na sua mente confusa o que deveriam fazer para se proteger.
Nesse meio-tempo, enquanto continuava a ignorar os dois intrusos, o homem vestido de peles encerrou seu cântico e espargiu o último punhado de pétalas sobre a sepultura. Depois voltou à fogueira quase extinta e reavivou-a, a fumaça espiralando para desaparecer através de um orifício não visto no teto. Relanceou o olhar mais uma vez para os estranhos, para ver os amplos olhos da garota observando-o.
Ele havia saído para caçar e agora tirava a pele de duas lebres e jogava as carcaças nas chamas. Quando uma ficou crestada, limpou as cinzas e preparou-se para devorá-la. O homem chamava-se Zant e era o último de seu povo neste vale.
Enquanto comia, Zant olhava zangadamente para os dois agachados contra a parede. O ancião gemia de dor enquanto o sangue escorria do ferimento. A garota mantinha os braços em torno dele, com medo nos olhos. Deveria tê-los matado por quebrarem um tabu tão poderoso como profanar um túmulo. Talvez ainda o fizesse, pensou enquanto continuava a comer.
As horas se passaram. O estranho permaneceu agachado junto ao fogo cálido, o rosto refletido no brilho. Laliari pensara a princípio que fosse um animal porque nunca tinha visto um humano usando peles. Ele era feio também, achou, a testa proeminente e nariz enorme fazendo-o parecer mais um animal do que gente. Mais perturbadora ainda era a cor dos olhos, que ela podia ver mesmo desta distância: eram azuis, como o céu. Laliari nunca tinha visto olhos azuis antes e imaginou se eram olhos de um fantasma. Seria por isso que ele não temia estar na presença de um cadáver?
Quando os gemidos de Bellek ficaram mais altos, o estranho se levantou e foi até eles. Laliari ficou de pé e colocou-se entre Bellek e o estranho. Ele empurrou-a para o lado e agachou-se. Laliari observou atentamente enquanto ele inspecionava o ferimento. Ao mais leve gesto de ameaça, ela defenderia Bellek com a sua vida. Mas tudo que o estranho fez foi tirar alguma coisa de uma bolsa no seu cinto e aplicá-la no ferimento. Quando Bellek retraiu-se ao toque do homem, Laliari preparou-se para saltar sobre ele. Mas então o desconforto de Bellek pareceu acalmar-se após um momento, e o estranho voltou para perto do fogo. Laliari foi no mesmo instante para o lado de Bellek, examinando com atenção o corte na sua canela, farejando o ferimento para saber o que o estranho havia aplicado. Lançou a Bellek um olhar indagador, e ele pareceu despreocupado. Um momento depois, o estranho retornou com um odre de água e uma lebre assada, entregando ambos a Laliari.
Embora esfomeada, ela hesitou. A distribuição de comida no clã era governada por regulamentos complexos, e o consumo de carne dependia de muitas condições: qual o caçador que havia abatido o animal e em que circunstâncias, quem era a mãe do caçador e a mãe da mãe dele, quais anciãos tinham o direito de comer primeiro, em qual fase da lua estavam. Como Laliari poderia ter certeza de que o estranho pronunciara os encantamentos corretos quando matara a lebre? Ela certamente não o ouvira entoar as invocações adequadas enquanto esfolava a coisa e a lançava ao fogo.
A idéia de consumir carne proibida a encheu de uma vaga e incômoda sensação de sacrilégio, mas a carne estava tostada e rosada e gotejando gordura e sucos, seu aroma sublime. E o pobre Bellek lambia os beiços. A fome venceu. Laliari aceitou o oferecimento.
Seu instinto a impelia a devorar a lebre imediatamente, mas a lei do clã ditava que Bellek deveria comer primeiro. Assim, ela mordeu nacos, mastigou, depois cuspiu a papa na palma da mão para ele lamber sofregamente. O processo era lento e trabalhoso, e o tempo todo o estranho permaneceu agachado, observando-os.
A saia de palha de Laliari parecia desconcertá-lo enquanto ele virava a cabeça, tocando as longas fibras secas com um dedo curioso. Ele puxou o cinto de relva tecida, como se intrigado com o mistério da relva brotar da pele dela. Depois ele olhou longa e firmemente para a agulha de marfim que perfurava o nariz dela, e quando esticou a mão para tocá-la, Laliari afastou-a com um tapa.
Quando o velho tinha comido até se fartar e fechado os olhos fatigado, Laliari devorou o resto da lebre, sugando até os ossos e lambendo a gordura dos dedos, o tempo todo de olho no estranho feioso.
Finalmente ele entediou-se e voltou para junto do fogo. Estava quente na caverna e todos acabaram caindo no sono. Laliari acordou durante a noite para ver o estranho deitado de bruços sobre o túmulo, soluçando. Ela estava intrigada. Entendia o pesar, mas será que ele não se dava conta de que estava atraindo má sorte para si ao permanecer tão próximo de um cadáver? A própria Laliari desejava poder fugir desta caverna. Mas a chuva agora estava caindo com mais força lá fora, e a perna ferida de Bellek o tornara incapaz de caminhar. Visões da criança morta na cova encheram de novo sua cabeça, e pensamentos de seu fantasma espreitando nas sombras tornaram o sono impossível.
Finalmente o estranho sentou-se e, após ficar sentado por longo tempo no monte de terra, como se avaliando uma decisão em sua mente, fez um gesto para que Laliari se juntasse a ele no fogo.
Ela relutou até que a curiosidade a venceu. Olhou para Bellek, que dormia intermitentemente, depois foi até a fogueira, mantendo distância da sepultura da criança.
Quando cruzou as pernas e sentou-se, relanceou os olhos para os pertences do estranho amontoados perto de seu leito de peles: lanças com ponta de sílex e machadinhas, pequenas bolsas de couro estofadas com conteúdos misteriosos, tigelas ocas de pedra cheias de nozes e sementes. Ela mantinha as mãos acima do fogo para aquecê-las. Conservando a cabeça baixa, estudou o estranho por entre as pestanas. Colares de tendão animal com penduricalhos de osso e marfim pendiam sobre o peito peludo. O cabelo longo e emaranhado estava amarrado com contas e conchas. Pequenas tatuagens de cor púrpura pontuavam braços e pernas. Em outras palavras, ele se assemelhava aos homens de seu próprio clã, com exceção das feições grosseiras.
Ela perguntava a si mesma por que ele estava sozinho ali, para onde seu povo tinha ido.
Por fim, olhou-o diretamente e perguntou:
— Quem é você?
Ele sacudiu a cabeça. Não entendia.
Usando gestos repetitivos, apontando para si e depois para ele, Laliari finalmente transmitiu sua pergunta. Ele bateu no peito e de sua boca saiu algo que soava como "Ts'ank't". Mas quando ela tentou repetir, o mais próximo a que pôde chegar disso foi "Zant". E "Laliari" estava tão acima da capacidade dele, não importava quão atentamente observasse os lábios e a língua dela enquanto pronunciava o nome, que acabou virando "lali" e assim ela era Lali.
Tentaram maior comunicação com Zant dando nome a outras coisas — a caverna, o fogo, a chuva, até mesmo Bellek — usando palavras de sua própria língua. Mas Laliari tinha dificuldade em repeti-las. E quando disse palavras na língua dela Zant tentou pronunciá-las, mas logo desistiu. Finalmente ficaram em silêncio, reconhecendo os limites de suas capacidades de comunicação, olhando as chamas para avaliar este milagre de conhecer um humano de outro mundo. Uma pergunta, porém, dominava a mente de Laliari e por fim ela não se conteve mais. Apontando para o monte de terra fofa no centro do chão da caverna, lançou um olhar indagador a Zant.
Ela ficou atônita ao ver as lágrimas inundarem os olhos dele. Poucos homens no seu clã choravam abertamente, e quando as lágrimas desceram por suas faces, ficou ainda mais alarmada. Havia poder nas lágrimas, tal como havia poder em sangue, urina e saliva. Mas ele meramente enxugou-as e proferiu uma palavra incompreensível. Quando lançou-lhe um olhar intrigado, ele repetiu a palavra e, enquanto a repetia vezes sem conta, apontando para o monte, Laliari percebeu que estava dizendo o nome da criança.
Laliari ficou de pé, horrorizada. Olhou rapidamente em volta da caverna procurando o fantasma do garoto, fazendo gestos frenéticos para se proteger.
Zant não entendia. Gostava de dizer o nome do menino, pois trazia-lhe conforto. Por que isto a assustava? Erguendo-se de junto do fogo, arrastou-se de volta à sepultura, onde se ajoelhou e amorosamente bateu de leve na terra recém-socada. Mas Laliari só conseguiu sacudir a cabeça, temerosa.
Zant pensou a respeito. Voltou à fogueira e, agachando-se de novo, procurou dentro da pele que cobria seu torso e tirou uma pequena pedra cinzenta. Estendeu-a para Laliari.
Como ela não a pegou, ele grunhiu uma palavra e, para grande espanto de Laliari, sorriu. Isto transformou seu rosto. De repente, a brutalidade desapareceu e ele pareceu tão comum como qualquer um de seus próprios parentes. Continuou a oferecer a pedra e ela afinal aceitou. Segurando-a na palma da mão, franziu o cenho sobre a pedra, sem compreender.
A pedra cinzenta, que tinha claramente sido moldada por ferramentas, enchia sua mão. Pontuda no topo e no fundo, a parte do meio era formada por protuberâncias macias e redondas. Laliari não fazia idéia do que era até que Zant tocou-lhe o peito nu com a ponta de um dedo e depois tocou uma das saliências redondas na pedra. Ela olhou com mais atenção e, depois de um segundo, o formato tornou-se reconhecível. Era uma mulher grávida.
Laliari ofegou. Nunca vira antes a representação de um humano. Que magia era esta que lhe permitia segurar uma pequena mulher na sua mão?
E então a luz do fogo reproduziu a estatueta em lampejos penetrantes e Laliari viu que, fixada no abdome da estatueta, estava a mais linda pedra azul que já vira. Parecia água congelada, ou um pedaço do céu de verão. Era como o azul dos olhos de Zant, e quando captou a luz do fogo, disparou de volta reflexos tão deslumbrantes que Laliari ficou mesmerizada.
Trouxe a pedra para mais perto e olhou atentamente para seu núcleo translúcido. A fogueira estalou. Bellek ressonou no seu canto. Laliari continuou a olhar fixamente para as profundezas de azul cristalino até que viu — e gritou.
No interior da pedra azul pôde ver um bebê num útero!
Zant tentou explicar que muito tempo antes seus antepassados haviam tomado a pedra azul de invasores do sul e uma curandeira de seu povo a inserira na barriga da estatueta de pedra. O que Laliari não podia saber era que quando os ancestrais de Zant seguiram rebanhos de animais para o sul rumo a climas mais quentes, haviam levado a pedra azul de volta para os territórios de seus proprietários originais, os descendentes de Mulher Alta, dos quais, ironicamente, Laliari era uma.
Agora ele estava tentando explicar a Laliari uma ligação entre a estatueta grávida e a criança morta na cova. Mas Laliari, por mais que desejasse entender, continuava no escuro.
De repente, um gemido alto encheu a caverna e Bellek gritou por Laliari. Quando foi até ele, viu que estava enrodilhado de lado e tremendo gravemente. Tentou esfregar seus membros frios e fazer respiração boca a boca, mas seu tremor só ficava cada vez mais violento e os lábios adquiriam um tom azulado. Afastando-a gentilmente, Zant acolheu o frágil ancião nos braços e carregou-o de volta ao fogo. Depositando Bellek no círculo de calor, Zant pegou um de seus próprios cobertores de pele e dobrou-o sobre o corpo trêmulo. Após um instante, Bellek se aquietou de novo, dormindo pacificamente. Zant pousou a mão desajeitada sobre a testa frágil e murmurou palavras que Laliari, mistificada, não entendeu.
O estado de Bellek piorou. O ferimento infeccionara e ele ardia de febre. Mas Zant cuidou do velho diligentemente. Apesar da chuva incessante, ele se aventurava todo dia fora da caverna e retornava com alimento que o velho podia comer — raízes macias, ovos e nozes moídas numa pasta comestível — e remédios — aloé para o ferimento, casca de salgueiro embebida em água quente para a febre. Enquanto Laliari observava o quão ternamente Zant cuidava do velho xamã, pousando a cabeça frágil de Bellek no seu braço forte para ajudá-lo a beber e cantando suavemente em sua língua estrangeira, começaram a desvanecer sua cautela e repulsa iniciais por ele.
Ainda assim, continuava sendo um homem misterioso.
Por que estava sozinho? Onde estava seu povo? Teria seu clã morrido porque não havia mais lua? Seria a criança na cova a última de sua espécie e agora Zant se achava sozinho?
O que tinha acontecido aos rebanhos de animais no vale, para onde tinham ido?
Finalmente havia a pequena mulher grávida com o bebê de pedra azul no abdome. O que significava?
Enquanto tais perguntas povoavam sua mente, Laliari preocupava-se também com seu próprio povo no acampamento junto ao lago. Sem os poderes de Alawa e Bellek, eles ficavam indefesos e vulneráveis. E certamente estariam apavorados agora — nunca antes seu povo passara tantos dias de aguaceiro interminável. Enquanto olhava na direção da abertura da caverna e via a chuva constante lá fora, ela pensava na lua perdida, nos animais que se foram do vale, em Zant como o último de sua espécie, e especulava: Estará o mundo chegando ao fim?
Enquanto Zant continuava a cuidar de Bellek para restaurar-lhe a saúde, era hora de exploração e descoberta para o homem e a mulher de raças diferentes. Zant instruiu Laliari no conhecimento de ervas curativas locais encontradas no vale, e Laliari colheu raízes e vegetais, demonstrando como seu povo os cozinhava. Mas Zant desprezava essas coisas. Seu povo só comia carne. Ele dispensou os vegetais com um desdenhoso aceno de mão. "Para cavalos", disse. "Não para homens". Ele explicou que pertencia ao Clã do Lobo e os lobos eram carnívoros. Laliari nunca tinha visto um lobo.
Espalhadas pela caverna havia peculiares tigelas de pedra, cada uma contendo resíduos de gordura animal queimada. Zant demonstrou sua utilidade ao pôr uma tigela no fogo e depois entregá-la a Laliari. Ela observou espantada. Era uma luz queimando constantemente. Uma vez que seu povo não habitava cavernas e vivia em abrigos com aberturas para o céu — e, portanto para as estrelas e a lua —, nunca tinha inventado lâmpadas. E enquanto seu povo havia aprendido a carregar brasas para fazer um fogo futuramente, o fogo em si nunca era carregado!
Zant transportava coisas em sacolas confeccionadas de bexigas, estômagos e couros de animais. Laliari, procedente de um vale fluvial rico em relvas altas e juncos, carregava um cesto que espantou Zant, pois ele nunca vira palha trançada.
Como Zant e seu povo eram carnívoros, nunca tinham sido hábeis na captura de peixes. Por que seriam, com tanta caça à sua volta? Mas a caça agora escasseava no vale, e na chuva era mais pobre ainda. Assim, Laliari demonstrou como pescar com uma rede feita de fibras vegetais e tendões animais. Escolhendo um dia em que a chuva estiou brevemente e o sol despontou por entre as nuvens, eles desceram um córrego apinhado de peixes. Desenrolando a rede que carregava no cesto, Laliari pôs peso nela com pedras e lançou-a no riacho. Zant, excitado ao ver tantos peixes se contorcendo na rede, entrou na água para içá-la. Mas ele escorregou e caiu, fazendo Laliari se dobrar de riso enquanto ele subia de volta à margem, sacudindo-se comicamente. Sua túnica de pele estava encharcada, portanto ele a despiu e pôs sobre as pedras para secar. O riso de Laliari morreu ao ver seu torso nu.
A pele dele era branca como nuvens de verão, mas coberta por finos pêlos negros que reluziam com gotículas de água. O peito era fundo, os ombros e braços poderosamente musculosos. Uma tanga de couro fino cobria sua masculinidade, mas as nádegas estavam expostas, firmes e brancas, movendo-se enquanto o sol se escondia atrás de uma nuvem e o dia esfriava. Quando Zant ergueu os braços para torcer o comprido cabelo, Laliari viu músculos e tendões se retesarem sob sua pele molhada de um modo que lhe susteve a respiração.
Quando o sol surgiu um instante depois, Zant virou-se para ele e ergueu o rosto para receber os cálidos raios. Ele ficou completamente imóvel, sua nudez sarapintada de luz solar e sombra, brilhando com a água, o longo cabelo preto escorrendo pelas costas. Laliari observou-o de perfil, o peito poderoso empinado à frente, o cenho pesado e o nariz grande se impelindo na direção do céu, e ela imaginou em pasmo encantamento se era assim que um lobo se parecia.
E depois as nuvens cobriram o sol, o dia voltou a esfriar e o momento terminou, mas não o encantamento de Laliari. Enquanto observava Zant recuperar sua túnica encharcada, ela se maravilhava com o poder e o mistério sombrio dele, e sentiu um calor estranho começar a arder nas suas entranhas. Quando ele se virou de súbito e seus olhos azuis capturaram os dela, Laliari sentiu o coração pular de um jeito como nunca antes, como uma gazela no interior de seu peito — alegre, feliz, saltando de vida.
Mas depois ela ficou imediatamente triste, pois lembrou-se da solidão dele.
Todos os dias Laliari observava Zant deixar a caverna, com lança e machadinha em punho, e desaparecer na chuva. Regressava um bom tempo depois, sempre com uma caça, mas tremendo de frio, sem nada falar, esfolando o animal e lançando a carne no fogo. Ela o observava se agachar e olhar fixamente para as chamas, um olhar de tristeza desamparada no rosto, e especulava. Por que ele ficava? Por que não partia? De vez em quando ele olhava para cima, como se sentisse que ela o observava, seus olhos se encontravam e Laliari sentia alguma coisa — ela não sabia o quê — tomar lugar no interior aquecido e fumacento da caverna.
Passado algum tempo, Zant começou a levar o alimento cozido para ela e Bellek. Certificava-se de que ambos tinham comido antes de se servir, embora fosse ele o responsável pela caça. E enquanto comia, Laliari sentia os olhos dele sobre ela, olhos cheios de solidão, indagando, ansiando.
Passavam as manhãs à procura de comida, as tardes em comunicação canhestra e as noites em sono inquieto. Não possuíam as palavras para descrever o que estava acontecendo, nem podiam explicar o fluxo de emoções estranhas que os capturara. Laliari e Zant cuidavam de Bellek, trazendo-o de volta à saúde, mas ambos sentiam algo mais acontecendo na caverna, algo tomando forma, como um fantasma, porém não inamistoso, talvez como o fantasma do fogo, porque cada qual sentia um calor crescendo dentro de si. Laliari se perguntava como o povo de Zant extraía prazer, e Zant queria saber como os homens e mulheres do povo dela se acasalavam. Tabus desconhecidos permaneciam entre eles, bem como o temor de quebrá-los.
Quando Laliari deixou a caverna subitamente um dia, levando seus pertences e algum alimento, murmurando palavras de estímulo ao velho Bellek, Zant entendeu. As mulheres de seu próprio clã praticavam a segregação durante seu fluxo lunar.
Quando ela retornou à caverna, cinco dias depois, Zant exibiu-lhe uma visão espantosa que abriu sua mente e explicou muitas coisas.
A chuva tinha estiado e o sol rompeu por entre as nuvens. Certificando-se de que Bellek permanecia quente e confortável, Zant tomou Laliari pela mão, levou-a para fora da caverna, e subiram uma trilha estreita que ia até o cume dos penhascos. Lá, parada no topo do mundo sob um céu que continuava ao infinito, Laliari sentiu o vento invadir seu espírito e erguê-la a grandes alturas. Abaixo, viu as planícies e colunas ondulantes, agora começando a se cobrir com o verde da primavera, e ao longe o imenso lago de água doce, onde seu povo estava acampado. Laliari nunca estivera tão alto, nunca tivera uma tal visão do mundo.
Mas esta não foi a única visão que ia explicar muitas coisas. Zant, sem dizer uma palavra, guiou-a até a distante e abrupta beirada do platô. Laliari ficou apavorada ao chegar a uma queda tão repentina e precipitosa, mas Zant agarrou seu braço e sorriu encorajando-a. Ela moveu-se até a beirada e, com medo de que o vento pudesse carregá-la, olhou para baixo.
Lá, viu algo que lhe interrompeu a respiração.
Abaixo deles, erguendo-se do fundo de uma ravina profunda, estava uma montanha de carcaças de cavalo. Animais inteiros, apenas com as barrigas rasgadas, tinham as peles, ossos e caudas intactos. O fedor era atordoante, pois as carcaças estavam apodrecendo. Por meio da gesticulação e mímica de Zant, o horrível quadro começou a se formar na mente de Laliari: Zant e seu povo tinham conduzido aquela manada à destruição. Era assim que eles caçavam. Ela se lembrou da montanha de carcaças de antílopes que seu povo tinha encontrado semanas antes, de como o fato havia chamado a atenção de todos. Agora entendia que eles tinham sido impelidos a galope do penhasco para sua destruição.
Mas, ela se deu conta com evidente horror, eles só haviam utilizado uma pequena parte dos animais. À medida que Zant falava com suas palavras canhestras e gesticulação inábil, Laliari imaginava a carnificina: o povo de Zant rasgando a barriga dos animais, muitos deles ainda vivos, e tateando dentro para arrancar os órgãos tenros, banqueteando-se com corações pulsantes e fígados fumegantes, pintando-se com sangue, ganhando poder com o espírito do cavalo.
A princípio, Laliari ficou horrorizada com o desperdício. Seu próprio povo teria feito uso de cada órgão e tendão, até mesmo das crinas de cavalo. Mas depois viu que o tabu mais horrendo havia sido quebrado: a maioria desses animais compunha-se de fêmeas. Quando seu clã caçava só visava aos machos, uma vez que estes, incapazes de parir filhotes, não eram necessários para a sobrevivência de um rebanho. Matar as fêmeas significava matar sua futura prole e, definitivamente, matar o rebanho por completo. Enquanto ela olhava em desalento para o desperdício da matança — algumas das fêmeas tinham morrido prenhes —, percebeu que seu povo não havia encontrado cavalos durante sua viagem desde o Mar de Juncos. Seriam estes os últimos da espécie?
Ela voltou-se para o homem que a excitara e aturdira, e que agora a horrorizava e causava repulsa, como fizera na noite em que se conheceram. Um homem capaz de aplicar um toque tão gentil no ferimento infeccionado de um velho frágil, e ainda assim capaz de impelir centenas de cavalos a uma morte inútil sem sequer pensar neste desperdício. Enquanto ele continuava a falar, gesticulando para o norte com a mão nodosa, batendo no peito, exibindo orgulho e bravata, mas com os olhos traindo a completa solidão que o dominara nestas semanas, uma revelação rompeu como uma aurora na mente de Laliari: que Zant não era o último de sua espécie, afinal. Seu povo, tendo matado em demasia neste vale, via-se agora forçado a seguir para o norte em busca de outros rebanhos. Eles eram o Clã do Lobo, explicou ele, e, portanto estavam seguindo as alcatéias que iam atrás das manadas. Seu povo estava acampado a apenas uns poucos dias de jornada para o norte, depois do lago e na direção das montanhas, onde esperavam por ele.
Finalmente Bellek ficou curado e Zant declarou que era hora de ele partir. Recolheu seus pertences e depois iniciou uma triste despedida. Agora era o momento do toque permissivo, pois iam separar-se.
— Lali — disse ele de uma maneira tão desesperada que tocou-lhe o coração, e os dedos rudes dele nas suas faces enviaram ondas de calor por seu corpo. Ela cobriu a mão dele com a sua e pressionou-a contra o rosto, virando a cabeça de modo que seus lábios encontrassem a palma da mão calosa num longo e doloroso beijo.
Sob as espessas sobrancelhas, lágrimas brilhavam nos olhos azuis. Ele falou seu nome de novo, mas nenhum som saiu. Emoções sem nome e sentimentos indefinidos inundaram Laliari, que nunca havia sido tocada desta forma — nem no primeiro abraço de Doron, nem ao testemunhar a morte dele. Este estrangeiro sombrio e desconcertante de outro mundo havia entrado em seu íntimo de uma forma que Laliari desconhecia, despertando um novo espírito, um que ansiava, ardia e acreditava que ela morreria sem Zant.
Ele puxou Laliari para os seus braços e ela roçou-lhe a face com a boca. A respiração de Zant era quente no seu pescoço; sentiu a masculinidade contra si. Zant baixou-a para o chão da caverna e Laliari o atraiu para cima dela. Ele a chamou de Lali e febrilmente acariciou-lhe os membros. Ela murmurou "Zant" e abriu-se, oferecendo-se. Zant era maior do que Doron em tudo, e senti-lo a fez perder a respiração.
Bellek, esperando lá fora na saliência rochosa, e compreendendo essas coisas, agachou-se e começou a catar lêndeas no cabelo.
Zant ficou com Laliari por sete noites e sete dias, tempo que passaram se conhecendo e descobrindo um ao outro, gastando as horas do dia em caça e pesca e as horas noturnas em abraços apaixonados. Quando ele finalmente partiu, souberam que nunca mais se veriam. O lugar de Laliari era junto a seu povo, onde, embora nunca tivesse sabido, iria um dia usar os chifres de gazela. E Zant devia apressar-se rumo ao norte para juntar-se ao seu clã, ignorando que, por causa da sua forma de caçar, manadas inteiras de mamutes, cavalos, renas e cabritos-monteses seriam impelidos para a beira de penhascos, muitos deles para a extinção de suas espécies. Zant e seu povo migrariam para o norte, ignorando o fato de que sua própria raça estava à beira da extinção, por motivos que permaneceriam um mistério 35 mil anos no futuro, quando ele e sua espécie seriam chamados de Homens de Neandertal.
Após a partida de Zant, Laliari recolheu suas coisas tristemente e preparava-se para voltar ao lago com Bellek quando encontrou enfiada em um dos seus cestos a pequena estatueta com o bebê de pedra azul na barriga. Um presente de Zant.
Enquanto vagueavam pela planície, Laliari ajudando Bellek quando ele manquejava, especulavam em silêncio se o acampamento ainda estaria lá, já que haviam se ausentado por muito tempo. Mas então viram a fumaça das fogueiras e ouviram no vento o riso das crianças. E quando chegaram mais perto viram...
Fantasmas!
Bellek conteve-se e emitiu um som estranho de espanto. Mas a vista de Laliari estava melhor e assim ela pôde ver que os homens no acampamento não eram fantasmas, mas sim seus próprios caçadores, dados como mortos no mar porém agora muito bem vivos. Eles apressaram o passo e logo Laliari estava correndo, procurando desesperadamente por um rosto familiar no grupo. E então o viu.
Doron, que havia sobrevivido ao afogamento no mar raivoso.
Eles tinham sido carregados por quilômetros correnteza abaixo, explicaram dramaticamente à excitada platéia, e foram depositados na praia — uma praia oposta àquela onde estavam as mulheres. E assim tiveram de esperar a maré mudar e o Mar de Junco recuar antes que pudessem fazer a travessia. Não sabiam para onde haviam ido as mulheres. Decorreram dias antes que achassem a trilha do grupo, depois do que haviam simplesmente seguido os símbolos mágicos, que Bellek entalhara nas árvores durante a caminhada das mulheres pelo vale fluvial acima.
E agora estavam ali, o clã reunido mais uma vez. Laliari olhou para Doron com lágrimas de alegria, mas com Zant no pensamento...
Naquela noite, enquanto Bellek regalava a todos com o relato da permanência deles nas cavernas — muito embora tivesse passado a maior parte do tempo adormecido — e enquanto Laliari passava a estatueta da fertilidade em torno do círculo para que todos se maravilhassem, veio de repente um grito da orla do acampamento. Um dos caçadores que haviam sido designados para observar a lua entrou correndo na luz, agitando os braços, uma expressão desvairada no rosto. Todos ficaram imediatamente de pé e correram para uma clareira onde então eles viram...
Todos arfaram.
A lua erguia-se grande, redonda e brilhante no céu iluminado pelas estrelas.
O Clã da Gazela fez uma grande comemoração àquela noite, na qual Bellek distribuiu cogumelos mágicos. Logo, todos ao redor da fogueira se deliciavam com alucinações, cores intensificadas e um sentimento glorioso de bem-estar. Os corações inflados de afeição mútua, as pulsações aceleradas pelo desejo. Casais se formaram, Doron guiando Laliari para a privacidade dos juncos e espadanas. Bellek se viu embalado nos braços de duas mulheres jovens extasiadas. E Libertador, o companheiro caçador de Doron, buscou conforto entre as pernas quentes e bem-vindas de Não-tem-nome, esquecendo a posição dela como pária.
Na manhã seguinte, todos concordaram que não poderia ser coincidência que a lua tivesse retornado com Laliari e Bellek. E Laliari, ela própria tentando explicar o fenômeno espantoso, disse que a lua devia ter vindo com a pedra azul que o estranho na caverna lhe dera.
Os outros duvidavam da conclusão de Laliari e silenciosamente decidiram que ela estava errada, até um mês depois, quando a maioria das mulheres do clã descobriu-se grávida, inclusive Não-tem-nome. A estatueta foi examinada mais detidamente desta vez e agora não podia haver engano: havia os seios e a barriga de uma mulher grávida, e ao centro do cristal azul um bebê podia ser visto claramente.
A pedra trouxera a lua, e, portanto a vida, de volta ao clã.
E assim outra celebração teve lugar, com todos cantando em louvor de Laliari. Enquanto modestamente aceitava a honraria, pensando tristemente em Zant, mas com felicidade em Doron, ela deixou de notar do outro lado do círculo um par de olhos observando-a — Keeka, que não estava nem um pouco satisfeita por sua prima ter regressado das cavernas.
A vingança estava na mente de Keeka.
Ela estivera secretamente satisfeita quando a exploração das cavernas por Laliari se estendera por semanas. Embora tivesse ficado assustada — como todos os demais — com o pensamento que Bellek poderia ter morrido e assim ficariam privados de alguém que lesse os presságios e os orientasse, ela secretamente esperara que a prima nunca mais voltasse. E então, quando Doron e os outros sobreviventes reapareceram, Keeka tinha visto a chance de conquistar Doron. Quase o havia conseguido, também. Ele começara a sentar-se perto dela durante a refeição da noite e demonstrara interesse em dormir com ela — e então Bellek e Laliari ressurgiram da névoa!
Nos sete anos desde então, Laliari subira no conceito do clã porque eles acreditavam que sua pedra da fertilidade retirara a lua do esconderijo. Tão poderosa era a pedra azul que mesmo a estéril Não-tem-nome dera à luz e agora readquirira o seu antigo nome e era respeitada como mãe. O clã havia escolhido Laliari como a nova Guardiã dos Chifres de Gazela. Agora tinha três filhos, Doron dormia na sua cabana em vez de com os caçadores, e todo mundo a amava. Keeka, no seu ciúme, não pôde mais suportar.
Mas o método de vingança tinha de ser cuidadosamente planejado. Laliari não devia saber que era Keeka quem a havia matado, pois do contrário o fantasma de Laliari iria assombrá-la por toda a sua vida. Mas como matar uma pessoa sem o conhecimento dela? Todos os métodos em que pôde pensar — usar uma lança ou um porrete, empurrar Laliari do alto de um penhasco — careciam do necessário anonimato. E ela não podia enganar a prima do modo como havia enganado a velha Alawa. Quando Keeka rastejara na cabana da velha para estrangulá-la — o que tinha sido obrigada a fazer após entreouvir Alawa contar a Bellek que deveriam matar os meninos, os meninos de Keeka! —, ela havia coberto o rosto com lodo e disfarçado o cabelo com folhas, convencendo a anciã de que era um fantasma. Mas Laliari tinha mente e olhos aguçados e saberia quem era sua assassina.
As mulheres tinham ido às planícies ondulantes para colher plantas da primavera. No seu novo lar o clã se havia adaptado a um novo ritmo sazonal. Em vez de serem governados pela inundação anual de um rio, como tinham sido no seu vale ancestral a oeste do Mar de Juncos, eles eram agora regulados pelo ciclo de nevoeiro outonal, pela neve do inverno, pela floração da primavera e pelo calor do verão. Tiveram de aprender os novos padrões migratórios da caça e dos pássaros, e quando sair em busca de cereais e frutos silvestres comestíveis. As saias de palha não mais protegiam contra o frio do inverno, e assim aprenderam a confeccionar túnicas e perneiras com as peles de animais. Nos invernos se recolhiam às cavernas quentes e secas nos penhascos, mas saíam na primavera para construir abrigos de relva junto ao lago de água doce.
E assim foi que Keeka, junto a outras mulheres, estava coletando comida quando deparou com uma planta que nunca vira antes. Tinha origem bem mais ao norte, nas montanhas de um país que um dia seria chamado Turquia, e ao longo dos séculos a semente desta planta havia sido carregada pelos ventos e enraizou-se nas margens do lago da Galiléia. Keeka, com seus cestos entretecidos e varas de cavar, fez uma pausa para contemplar os estranhos caules altos e vermelhos e amplas folhas verdes. O clã tinha encontrado muitos alimentos novos no vale, de modo que isto não constituiu nenhuma surpresa. Contudo, enquanto se inclinava para colher uma, viu algo que a fez congelar.
Roedores jaziam mortos no solo entre as novas plantas.
Keeka arfou e deu um passo atrás. Havia espíritos malignos neste lugar! Enquanto ela traçava um gesto protetor e murmurava apressadamente um encantamento, algo entre os roedores mortos a fez parar e chegar mais perto para examinar.
Após um momento, percebeu que os animais deviam ter mordiscado as folhas desta nova planta pouco antes de morrer. Na verdade, um ainda estava vivo, retorcendo-se em convulsões. Um instante mais tarde, enrijeceu-se e morreu. Keeka manteve distância, temerosa do espírito venenoso que residia na planta, mas não fugiu porque uma visão inesperada formava-se na sua mente: Laliari deitada no solo como os roedores, morta pelo espírito maligno da planta.
Viu de repente ali o seu instrumento de vingança.
Repleta de uma excitação irrefletida, Keeka correu para a beira da água e cobriu as mãos com lodo fresco. Depois entoou encantamentos protetores enquanto cautelosamente tirava o ruibarbo do solo. Jogando rapidamente a planta no cesto, correu de volta à água para lavar e esfregar as mãos. Sorriu por sua sagacidade, pois não seria ela a perpetrar o assassinato, mas sim o espírito maligno na planta. Enquanto se apressava de volta ao cesto com seu conteúdo maligno, pensou em como seria a sua vida depois que Laliari se fosse, e aí seu sorriso alargou-se numa deliciosa expectativa de seduzir o belo Doron na sua cabana.
As tentativas iniciais do clã de fabricar roupas resultaram em fracasso total — pois as peles dos caprinos que podiam encontrar se tornavam duras, rígidas e não-maleáveis —, e assim o povo de Laliari havia tiritado de frio no seu primeiro inverno nas cavernas. Mas Laliari tinha visto quão macias e flexíveis eram as peles de Zant, portanto ela e as suas parentas passaram todo o inverno seguinte esticando e raspando os couros até que secassem e adquirissem uma maciez confortável. Depois utilizaram agulhas de osso para perfurar as peles a fim de extrair fibras para costura. Era por isso que agora ela permanecia numa pequena colina ventosa usando uma longa túnica de pele de cabra e botas de couro, sua nenêm de oito meses abrigada numa bolsa de pele de ovelha às suas costas. Os dois outros filhos de Laliari, Vivek e Josu, estavam aquecidos em mantas e perneiras feitas da pele macia de gazela enquanto caçavam gafanhotos.
Laliari era uma figura destacada ao se postar alta e orgulhosa na colina, examinando a nova vegetação para os primeiros frutos da primavera, pois na cabeça ostentava os chifres de gazela do clã, atados firmemente sob o queixo com tendão animal. Ela estava pensando no canteiro de alho que vicejava córrego abaixo, mas infelizmente era cedo demais para colhê-lo. Seria preciso esperar pelos meados do verão, o que era péssimo para o clã, que havia desenvolvido um gosto por ele. Ela olhou para a antiga e maciça figueira que vicejava na colina e estudou o fruto ainda não maduro. Haveria outro ciclo lunar antes que o clã pudesse provar a doçura do figo. Finalmente, ela divisou um pé de amora de que se lembrava do ano anterior, e ficou deliciada ao descobrir as primeiras bagas prontas para serem colhidas.
Enquanto juntava as amoras no cesto, a brisa mudou e a banhou com um delicado perfume — o aroma do jacinto azul-escuro, brotando aos milhares sobre as colinas e prados. Também em floração, quase da noite para o dia, havia campos de narcisos brancos ofuscantes. Depois de passar os meses sombrios em cavernas fumacentas, o povo do Clã da Gazela estava se deleitando no renascimento da primavera.
A própria Laliari estava inundada de alegria inexprimível. A nenêm adormecida em suas costas e ao lado dela, na relva alta e doce, seus dois filhos preciosos.
O mais velho, Vivek, tinha seis anos de idade com espessas sobrancelhas sombreando os olhos, e já em tão tenra idade exibia os sinais da proeminente mandíbula que teria um dia. Sua semelhança com Zant não se constituiu numa surpresa para Laliari, já que fora a estatueta da fertilidade de Zant, com o bebê de pedra azul na barriga, que lhe tinha dado este filho. O segundo filho de Laliari, Josu, era um garoto esperto de quatro anos com cabelo louro-acastanhado e braços e pernas gorduchos. Amanhã seria o dia de ele ter o nariz perfurado. Haveria uma grande celebração e ele ganharia sua própria machadinha e um colar de conchas feito com talismãs de boa sorte.
Era difícil se lembrar agora do terror que uma vez sentira naquela terra, ou que seu povo se considerara estranho ali. O clã chegara a amar aquele lugar por causa do lago de água doce. Ela ergueu o rosto para a brisa e pensou em Zant. Ela esperava que ele tivesse encontrado seu povo, que estivesse feliz agora e que fosse à caça com seus companheiros. Laliari nunca mais retornara à caverna onde se haviam conhecido, pois uma criança jazia sepultada lá e Bellek decretara que a caverna era proibida.
Ouvindo um assovio alto, Laliari voltou-se para ver a prima Keeka chegando. Apesar da friagem no ar, Keeka estava de seios nus e exibindo orgulhosamente um lindo colar de litorina que um dos caçadores fizera para ela. Keeka envelhecera desde a travessia do Mar de Juncos, e depois que o clã havia se estabelecido junto ao lago, retomara seu velho hábito de estocar comida.
Contudo, para surpresa de Laliari, Keeka tinha vindo partilhar esta ocasião. Trazia um cesto contendo folhas verdes largas e declarou que era uma nova planta maravilhosamente deliciosa que havia descoberto. Grata, Laliari aceitou o cesto e em troca ofereceu a Keeka um cesto de amoras. Enquanto Keeka se afastava sorrindo, já enchendo a boca com punhados de amoras, Laliari deu uma pequena mordida na nova planta e não achou nada de especial na folha castanho-amarelada.
— Mamãe.
Ela olhou para baixo, viu Josu com as mãozinhas estendidas e deu-lhe uma folha, em seguida dando outra ao garoto mais velho. Vivek provou a folha e, fazendo uma careta, cuspiu-a. Mas Josu mastigava na maior felicidade a sua folha de ruibarbo.
Tendo enchido de amoras dois cestos grandes, Laliari chamou os dois filhos e seguiram de volta ao acampamento. Outras mulheres estavam chegando agora com suas coletas: dentes-de-leão verdes e pepinos silvestres, sementes de coentro e ovos de pomba, bem como um bom arrasto de juncos, que serviam para fazer cestos e tinham um núcleo comestível. Os homens retornaram com peixes na rede, cestos de lapa e duas cabras jovens recém-esfoladas. Tudo seria repartido segundo as normas e todos comeriam bem,
Enquanto eram entoados os encantamentos ritualísticos, a carne foi cortada, assada e distribuída, primeiro para as mães dos caçadores, a seguir para os idosos e assim por diante, com os próprios caçadores sendo os últimos da fila. Laliari amamentava a neném e verificava se seus outros filhos recebiam comida suficiente. Enquanto Vivek engolia feliz uma gema de ovo, o pequeno Josu continuava a segurar a folha de ruibarbo, mordiscando-a o tempo todo. Alguém deparara com um campo de trigo temporão e o tinha partilhado. Cada pessoa enfardava os caules unidos e segurava as espigas sobre o fogo até que a palha estivesse quase toda queimada. Depois esfregavam as espigas entre as palmas das mãos para soltar os grãos enquanto os iam enfiando na boca.
Depois da refeição, o acampamento ficava barulhento como de costume, com as mulheres se enfeitando e tecendo cestos, os homens afiando facas de sílex e comentando a caçada do dia. Isto foi momentos antes de Laliari notar que Josu estava se queixando de dor na boca. Ela deu uma olhada e viu curiosas lesões no interior de suas bochechas e lábios. Ficou instantaneamente alarmada. Será que um espírito maligno tinha entrado nele? Josu ainda não usava as perfurações protetoras no nariz e nos lábios.
Aqui também — acrescentou ele, pressionando o abdome com as mãos.
Está doendo aí?
Ele fez que sim com a cabeça.
O coração de Laliari saltou. O fantasma tinha entrado pela boca e agora estava no estômago do menino!
Enquanto tentava pensar no que fazer, Josu começou a estremecer. Ela o trouxe para seus braços.
Está com frio, meu tesouro?
Os grandes olhos redondos a fitaram de volta quando os tremores subitamente pioraram.
Agora outras mulheres se aproximavam, inspecionando o garoto, pondo as mãos nele e murmurando preocupação.
Laliari o estreitou nos braços e embalou-o. Quando ele de repente começou a dar chiados e ofegar, Laliari chamou Bellek. Quando o ancião chegou com seus amuletos e encantamentos, o clã se agrupou em torno para observar. Bellek examinou o garoto e se pôs a trabalhar imediatamente com seus remédios. Enquanto as chamas das várias fogueiras dançavam sob as estrelas, lançando os humanos alternadamente em brilho e sombra, ele colocou talismãs poderosos no corpo de Josu, entoando encantamentos místicos enquanto o fazia. Depois mergulhou os dedos em potes de corantes e pintou símbolos curativos na testa, peito e pé do garoto.
A respiração de Josu piorou.
À frente do grupo, enquanto enfiava nozes na boca com suprema indiferença, Keeka observava. Devido à sua própria cobiça básica, não lhe havia ocorrido que Laliari ofereceria as folhas primeiro aos filhos. Assim o espírito do mal tinha entrado no garoto em vez de em Laliari. Keeka era inteligente o bastante para saber que não teria outra chance e que Doron não seria dela. Ainda assim, extraiu alguma satisfação com a expressão de terror rio rosto da prima, e as lágrimas que escorriam por suas faces.
A esta altura Josu estava inconsciente e todo o clã olhava, sem fala.
E então, de repente, ele começou a ter convulsões.
Salve-o! —gritou Laliari, segurando-o.
Enquanto o velho Bellek tremia sem saber o que fazer, as convulsões pararam.
Josu? — chamou Laliari em súbita esperança.
O peito do garoto inflou numa profunda inspiração, depois ele soltou o ar num tremor prolongado e desigual. E então ficou imóvel.
A assembléia silenciosa foi a mais profunda e pesarosa assembléia que o clã já havia realizado, e mesmo quando começaram a desmontar o acampamento — pois agora eles deviam partir e entregar o corpinho de Josu aos elementos — ainda assim ninguém falou, seus movimentos pesados e laboriosos, os rostos marcados pelo pesar.
Mas urgia que partissem, agora que o ritual tinha sido realizado, e enquanto punham seus fardos nos ombros para começar a viagem mais distante ao longo da praia, Laliari não se moveu. Permaneceu ao lado do cadáver do filho, o rosto dela mais branco do que a neve remanescente nas montanhas distantes. Os membros do clã moviam-se nervosamente, aterrorizados com a má sorte que ela estava trazendo para eles.
Quando subitamente recolheu o frio menininho nos braços e lamuriou-se para o céu, os outros se afastaram de medo. Devemos deixá-la, sugeriu metade deles. Mas ela tem os chifres de gazela, argumentaram os outros. Doron acocorou-se perto dela, a indecisão sombreando seu belo rosto. Ele estendeu a mão, porém não ousou tocá-la.
Depois de um choro amargo pelo filho, Laliari finalmente silenciou e um estranho ânimo se abateu sobre ela. Ficou mortalmente calma, os olhos fixos e sem expressão. Estavam fixos nas cavernas dos penhascos próximos. De repente, pensou na caverna onde havia conhecido Zant e na criança lá sepultada. Procurando numa pequena sacola que pendia de sua cintura, ela pegou a estatueta de pedra com o bebê de cristal azul no abdome. Enquanto o olhava fixamente, se recordou da noite em que Zant a mostrara pela primeira vez, a noite em que ele havia enterrado a criança. Não entendera à época o que ele estava tentando lhe dizer, mas agora ocorria-lhe: o cristal não representava um útero com um bebê dentro — era um túmulo com uma criança nele.
Meu filho não será deixado para os animais selvagens. Não será deixado ao vento e aos fantasmas. E não será esquecido.
Enquanto os outros observavam, perplexos, Laliari primeiro certificou-se de que a nenêm estivesse a salvo na bolsa às suas costas, depois recolheu o corpo de Josu, instruiu Vivek a agarrar-se em sua saia e começou a se afastar do acampamento.
Os outros pararam, perguntando-se o que ela estaria fazendo. Mas quando Bellek começou a capengar atrás dela, os demais começaram a segui-los. Mas mantiveram distância, ficando atrás do velho xamã cheios de curiosidade. Ele ordenaria que abandonasse o garoto e voltasse? E para onde estaria indo Laliari?
Tiveram a resposta quando ela chegou ao sopé do penhasco e iniciou a desajeitada subida pela trilha rochosa que tinham usado pelos sete anos passados. Precisou parar diversas vezes para depositar o corpo de Josu e ajudar Vivek a subir e ultrapassar penedos, depois pegava de novo o trágico fardo e retomava seu caminho, resoluta.
Ela não olhava para trás.
A caverna que Laliari escolheu era uma que não tinha sido habitada e por isto era pequena e pouco profunda, o teto baixo demais. Mas estava protegida dos elementos e o chão era macio e arenoso. Depositando Josu gentilmente, pegou o graveto de cavar que sempre pendia de seu cinto e começou a escavação.
Todos se agruparam à entrada, espiando, sussurrando, ninguém corajoso o bastante para entrar. Alguns minutos depois, a neném de Laliari começou a chorar. Ela fez uma pausa na escavação para soltar a bolsa das costas e levá-la ao peito. Quando a neném se satisfez e dormiu de novo, Laliari colocou-a num local seguro e recomeçou a escavar.
Quando já havia produzido uma cova, ergueu o corpo de Josu e ternamente o colocou lá dentro, ajeitando-o numa posição confortável, como se estivesse adormecido. Depois se levantou e saiu da caverna, os outros abrindo caminho para ela passar. Todos se posicionaram no precipício rochoso para observar, enquanto ela se movia em meio a penedos e arbustos colhendo flores silvestres e ramos fragrantes. Quando seus braços estavam cheios, voltou com as folhagens e gentilmente espalhou-as sobre o corpo de Josu. A seguir cobriu-o com terra arenosa, enchendo a cova e socando a terra até que estivesse firme.
Foi então para a entrada da caverna, onde seu filho de seis anos de idade estava com Doron. Pegando Vivek pela mão, o levou até a sepultura e disse:
Você não precisa ter medo. Seu irmão está dormindo agora. Está a salvo de fantasmas e de danos. E ele não pode lhe causar nenhum mal. O nome dele é Josu e você vai se lembrar dele para sempre.
Todos arfaram. Laliari tinha mencionado o nome do morto!
Ela não se importava com ninguém, nem mesmo com Bellek, que estava mortalmente pálido. Estava consciente apenas do tremendo alívio que a inundou ao saber que o filho ficaria a salvo ali naquela caverna, para continuar junto a sua família para sempre.
Quando finalmente ela emergiu sob a luz da lua, com a neném atada às costas e o pequeno Vivek a seu lado, Laliari ergueu a estatueta com a pedra azul para que todos a vissem. Todos permaneceram em silêncio para ouvi-la, pois afinal era a Guardiã dos Chifres de Gazela.
A Mãe dá a vida, e para a Mãe a vida retorna. Não devemos nos esquecer desta dádiva que ela nos dá. Deste dia em diante, o nome dos mortos deixa de ser tabu.
Laliari sabia que não seria fácil para seu povo superar um antigo tabu. Mas manteve-se firme em sua nova resolução. Seu povo não sofreria mais, como ela e as mulheres haviam sofrido por seus homens supostamente afogados, sem o consolo de pronunciar o nome de seus entes queridos. Os mortos não deviam ser esquecidos, ela entendia agora. Uma sabedoria aprendida de um estrangeiro chamado Zant.
Ínterim
Todos passaram a temer Laliari depois disso – pelo menos por um tempo. Mas quando viram que nenhuma má sorte se abatera sobre o clã por ela ter pronunciado o nome de uma criança morta, que de fato a nova estação trouxe uma fartura de alimento ao vale, começaram a especular se ela possuía algum novo poder. Quando Bellek morreu na primavera seguinte, Laliari falou seu nome durante a assembléia silenciosa, narrou os feitos dele durante sua longa vida. Depois deitou-o para descansar na caverna junto a Josu. Quando mais uma vez não ocorreu má sorte ao clã por Laliari ter quebrado o tabu do nome, os outros começaram a perder o medo e a pronunciar o nome daqueles que partiram muito tempo atrás — filhos e irmãos que tinham perecido às mãos dos invasores.
Quando os fantasmas não mais os assombravam e o vale continuou a prover alimento farto, o povo começou a se esquecer do antigo tabu até que se tornou normal falar dos falecidos nas assembléias silenciosas — de modo que não era mais uma assembléia silenciosa, mas sim uma assembléia memorial. Como foi a tosca estatueta com a espantosa pedra azul que havia instruído Laliari nessas novas leis, tornou-se o costume em cada assembléia memorial passar a pedra de mão em mão para cada participante segurá-la enquanto falava palavras de louvor e se recordava dos falecidos.
Quando, anos depois, Laliari foi posta a repousar na caverna, junto ao filho, cada integrante do clã se revezou para contar as melhores coisas que se lembrava da idosa Guardiã dos Chifres de Gazela, mas o que mais sobressaiu foi a época, muitas estações atrás, antes que a maioria do clã tivesse nascido, que Laliari trouxera a lua e a fertilidade de volta a seu povo e os havia ensinado a relembrar os mortos.
Agora que a raça de humanos que quase havia levado a vida selvagem à extinção tinha partido, ela gradualmente retornava ao vale do rio Jordão, e o povo do Clã da Gazela seguia as manadas, movendo-se com as estações, veraneando em frescas nascentes ao sul, hibernando nas aquecidas cavernas ao norte. E sempre, para onde quer que fossem, a pequena estatueta da fertilidade os acompanhava.
O milagre da pedra azul residia na sua beleza. Se ela tivesse sido mais vulgar como o jaspe, ou opaca e embotada como a cornalina, poderia ter sido deixada de lado, extraviada e esquecida. Mas seu brilho estonteante fascinava as pessoas, e cada geração subseqüente ficou tão enfeitiçada que a pepita tremeluzente de meteorito cósmico foi passada adiante e mantida a salvo, para ser reverenciada, adorada e admirada.
A pedra azul por fim se tornou tão especial que o clã parou de carregá-la por toda parte como se fosse um amuleto vulgar. Como era engastada no abdome de uma mulher de pedra, um abrigo em miniatura foi construído para ela, uma pequenina cabana feita de madeira e lodo entregue aos cuidados de um zelador especial. Tal como o Guardião dos Chifres de Gazela e o Guardião dos Cogumelos, havia agora um Guardião da Pedra.
Dez mil anos depois que Laliari e Zant tinham caído nos braços um do outro, um inverno particularmente frio atingiu o vale e o mar da Galiléia ficou coberto de neve. O povo do Clã da Gazela sentou-se agrupado nas suas cavernas e o Guardião da Pedra teve um sonho. No sonho o cristal azul falou com ele e disse-lhe que estava farto de viver num corpo pequeno. Assim, os anciãos do clã conferenciaram e decidiram que a pedra deveria ser transferida para um novo corpo, melhor e mais amplo, como era merecedor o seu poder. Artesãos foram incumbidos de esculpir uma nova estatueta, mais detalhada e mais real, desta vez com feições faciais e até mesmo um comprido cabelo de mulher delineado em sua cabeça. O cristal azul foi então amorosamente inserido no seu abdome, pois o cristal era o espírito da estátua. A pequena casa da estátua foi também ampliada e construída com material mais durável e, por ficar mais pesada, exigia agora dois homens para carregá-la até uma plataforma entre dois postes. Toda vez que o Clã da Gazela se mudava, a estátua seguia com eles na sua casa especial, e os homens disputavam a honra de ser um dos carregadores.
À medida que o tamanho da estátua e de sua casa cresciam, aumentava em poder na mente das pessoas. Vinte mil anos depois de Laliari ter enterrado seu filho numa caverna da Galiléia, o povo do Clã da Gazela sabia que uma deusa habitava entre eles. Ela vivia no útero de cristal de uma mulher de pedra que vivia na sua própria casa de pedra.
O clã cresceu em tamanho e número até que se tornou amplo demais para ser sustentado pelas fontes locais de alimento. E assim grupos menores se dispersaram para reclamar outros territórios de caça e coleta. Mas todos continuavam a pertencer à mesma tribo, reverenciando os mesmos ancestrais e a mesma deusa, e todos se reuniam em um Encontro de Clãs anual no verão, junto a uma nascente perene, bem ao norte do mar Morto e a oeste do rio Jordão.
Havia dois clãs principais agora, o ocidental e o setentrional, que eram divididos em famílias. A família de Talitha era do Clã da Gazela, no norte; Serophia pertencia ao Clã do Corvo, no oeste. Tinha se tornado costume, quando as famílias e clãs se reuniam anualmente no oásis ao norte do mar Morto, passar a guarda da deusa para outra família a fim de ser mantida em segurança até o ano seguinte. Gerações futuras iriam declarar que não havia sido nenhuma coincidência o fato de Talitha ter descoberto o suco de uva mágico exatamente no verão em que a deusa estava sob sua guarda.
E foi então que toda a encrenca começou.
Mas, na realidade, diriam os contadores de história, a encrenca realmente começara anos antes, quando Talitha e Serophia eram jovens e os clãs estavam acampados ao norte do mar morto, enfrentando o ressequido calor do verão. Não era incomum aparecerem estranhos ocasionais, caçadores que preferiam viver e perambular sozinhos, sem ligações com famílias ou clãs. Tais homens surgiam das colinas com caça fresca e procuravam o acampamento em busca de uma lareira, onde partilhariam sua caça com quem quer que a esfolasse e cozinhasse para eles. Talitha, a roliça mãe de cinco filhos, era conhecida por possuir uma boa lareira, cujo fogo nunca se extinguia. Suas pedras de cozimento estavam sempre quentes, e ela conhecia segredos acerca de condimentos. Também tinha um corpo voluptuoso e gostava de usufruir o prazer com os homens. Assim foi que o estranho chegado naquele verão, um caçador forte chamado Bazel, carregando uma bela ovelha sobre os ombros, dirigiu-se à tenda da Talitha, onde permaneceu por uma semana, desfrutando de seu leito e de sua comida. Quando ele deu sinais de que ia partir, pois perambular era parte de sua natureza, Talitha decidiu que queria mantê-lo, e assim o seduziu com deliciosos grãos assados e suco prensado das uvas, habilidades que ela aperfeiçoara e que não partilhava com ninguém.
Ele ficou mais uma semana na tenda de Talitha, e então, certa manhã, foi para as montanhas caçar gazelas. Quando voltou, não foi para Talitha, mas para um abrigo de palha do outro lado da nascente, onde outro clã estava acampado. Este segundo abrigo era mantido por uma mulher chamada Serophia, mais nova e mais esguia que Talitha, e com menos filhos. Ali Bazel passou outras duas semanas de prazer antes de mais uma vez virar os olhos inquietos para o horizonte. Enquanto os homens do clã ficaram para lá de satisfeitos em saber que o recém-chegado ia partir, pois eles próprios ambicionavam Talitha e Serophia, as duas mulheres não gostaram nem um pouco da decisão de Bazel. Cada qual queria ficar com o caçador para si permanentemente.
A competição que se seguiu tornou-se a principal diversão naquele verão e foi comentada durante muitos anos. Talitha e Serophia desfecharam uma campanha que os caçadores declararam ser comparável às melhores táticas de qualquer batalha ou caçada, com Bazel alegremente no meio, dividindo seu tempo entre tenda e choça o mais democraticamente possível. Ele nunca se alimentara tão bem, nem desfrutara de tanto sexo. Foi um verão que jamais esqueceria.
Mas então chegou o dia em que videntes anunciaram ser a hora de desfazer o Encontro e os clãs começarem a voltar para seus lares de inverno. Talitha e Serophia ficaram desesperadas, pois Bazel ainda não assumira um compromisso.
Ninguém pôde dizer realmente o que aconteceu depois. Acusações partiam de todos os lados: alguns diziam que Talitha havia posto mau-olhado em Serophia; outros diziam que Serophia fizera magia negra para Talitha. As duas mulheres foram acometidas de um fluxo sangrento que provocava urinação dolorosa, tornando-as incapazes de fazer sexo, e que só foi melhorar no inverno. Nem os videntes nem as curandeiras puderam adivinhar qual era o problema, nem descobrir uma cura. Ainda assim, ficou claro que cada uma tinha sido invadida por um espírito maligno. Uma noite, durante um escurecer da lua, Bazel decidiu partir antes que o acusassem de ter trazido este espírito maligno para o acampamento. Pegou sua lança e escafedeu-se do acampamento para nunca mais ser visto.
Enquanto os clãs viajavam para o oeste e para o norte rumo às terras ancestrais, ambas as mulheres estavam doentes e infelizes, cada qual culpando a outra por este infortúnio, e cada qual alimentando um rancor tão profundo e negro que estava fadado a ter repercussões nos séculos por vir.
"E agora chegamos ao Verão das Uvas." Era como os contadores introduziam o assunto. "O verão em que toda a encrenca começou."
A esta altura o caçador Bazel estava esquecido. Somente o ódio mútuo entre as duas mulheres persistia. Com o passar dos anos, cada qual subira de posição no respectivo clã. Ambas haviam produzido um número prodigioso de filhos, sendo agora avós reverenciadas, cheias do poder lunar pós-menopausa. Talitha desenvolvera ossos largos e estrutura pesada porque trazia o sangue de Zant nas veias. Serophia ainda era esguia, mas sem nenhum traço de fragilidade. Ambas eram feitas de boa têmpera e tinham personalidade indomável. À medida que as estações passavam e os clãs continuavam a se reunir anualmente, a guerra continuava, surda. "Argh, os grãos-de-bico de Serophia têm gosto de estrume de porco!" Talitha resmungava para as mulheres dos outros clãs. "Cada ovo em que Talitha toca apodrece!" Serophia dizia a quem quisesse ouvir.
A rivalidade entre elas tornou-se uma lenda e uma fonte de divertimento para os mexeriqueiros do clã. Abelhudos corriam de lá para cá, a fim de repassar as novidades. Quando Serophia declarava: "Quando um homem se enfia entre as pernas de Talitha, ela cai no sono!" Talitha replicava: "Quando um homem se enfia entre as pernas de Serophia, quem cai no sono é ele!" Mesmo os homens — aqueles que à ocasião não estavam envolvidos com mulheres e que, portanto reuniam-se ao lado de fora da tenda comunal dos caçadores, homens que raramente se envolviam em questões femininas — acabaram se envolvendo. Pontos eram ganhos por um lado e outro, apostas eram feitas. A cada encontro de verão, as mais recentes notícias sobre a briga Talitha-Serophia tornavam-se o divertimento noturno em todas as fogueiras de acampamento.
Por causa de uma febre e uma fraqueza, a pendenga terminou durante o que em breve seria o lendário Verão das Uvas.
O clã de Talitha, na sua jornada pelas cavernas do norte, tinha sido retardado por uma febre de início de verão que se disseminara entre as crianças, de modo que o clã de Serophia foi o primeiro a chegar à nascente do sul. Vendo que estavam sozinhos, e sabendo que Talitha tinha uma paixão por uvas, Serophia ordenou aos seus parentes que colhessem todas as uvas silvestres, limpando as videiras. Quando os outros clãs menores chegaram, Serophia alegremente trocou as uvas pelas mercadorias que os outros tinham a oferecer — fibra de linho do sul, sal do leste. Mas quando o enorme bando de Talitha chegou, não havia mais uvas para comerciar, e nada restava nas videiras. Quando Talitha soube do que tinha acontecido, ficou furiosa.
Ela marchou até a tenda de Serophia e quando viu manchas frescas de suco de uva na saia de couro de corça da sua rival, ela explodiu:
Você deixa os bodes montarem em você!
Os escorpiões fogem quando vêem você chegar! — cuspiu Serophia de volta.
Os abutres nem tocariam na sua carcaça!
Quando as cobras mordem você, elas morrem!
As famílias tiveram de apartá-las, e enquanto Serophia apreciava o presunçoso sentimento de vitória, Talitha tramava secretamente a retaliação.
No verão seguinte, Talitha providenciou para que seu clã chegasse primeiro. Lá, o seu povo limpou as videiras até a última uva. Comeram parte da colheita e negociaram parte com os clãs, menores. O que sobrou, Talitha mandou que estocassem em cestos estanques e depois os escondessem numa caverna de calcário próxima. Quando os clãs retornassem no verão seguinte, Serophia poderia colher todas as uvas que quisesse, pois Talitha já teria um suprimento secreto.
Mas quando os clãs se reuniram um ano mais tarde na nascente perene para erguer suas tendas e choupanas, para acender suas fogueiras para cozinhar e começar os rituais de verão de fazer negócios, formar alianças e julgar infratores da lei, o povo de Talitha teve um choque. Os cestos cheios de uvas, tão bem escondidos, que tinham permanecido intocados na caverna escura e fria por um ano, haviam sofrido uma estranha transformação.
As uvas tinham continuado a amadurecer até que as peles se romperam e se misturaram com as polpas, de modo que os cestos continham agora um mingau amolecido. Mas o aroma não era desagradável, e quando um dos videntes mergulhou um dedo no suco e o provou, descobriu um sabor exótico e intrigante.
Talitha então mergulhou a mão, encheu a palma com o caldo púrpura e o sugou. Todos esperaram enquanto ela estalava os lábios e a língua percorria o interior da boca, com um ar de indecisão no rosto.
— O que você acha, Talitha? — perguntou Janka, o atual Guardião da Deusa, um homem solene e enfadonho dado a ares de empáfia.
Talitha lambeu o restante da mistura na palma da mão e depois encheu a mão em concha de novo. Ela não conseguia decidir se gostava do sabor ou não. Mas havia algo mais, alguma coisa que ela não podia pôr o dedo para...
Ela bebeu um pouco mais, pensou a respeito um pouco mais e descobriu-se de súbito em animada disposição. Declarando bebível aquele suco de uva, Talitha ordenou aos homens que arrastassem os pesados e inflados cestos de volta ao acampamento deles, que era apenas parte de um maciço acampamento com centenas de tendas e abrigos na planície que circundava a fonte borbulhante. Na hora em que o grupo de Talitha voltou com os cestos, inúmeras fogueiras de cozinhar enviavam fumaça para as estrelas, risos e gritos enchiam o ar, famílias ocupavam-se com a indústria da vida — então o povo do Clã da Gazela se reuniu para avaliar o novo mistério que os envolvia.
Sentada num amplo escabelo, os cotovelos firmados nas coxas monumentais, Talitha mergulhou uma taça de madeira em um dos cestos da caverna e bebeu de novo. Enquanto todos observavam e esperavam, ela mais uma vez estalou os lábios e fez a língua percorrer o interior da boca. Um gosto estranho, pensou, mas palatável. Não havia nada da habitual doçura encontrada no sumo de uva, mas sim uma espécie peculiar de secura. Sinalizando para os outros, todos enfiaram suas taças de madeira na beberagem e provaram-na, alguns hesitantes, outros destemidamente. Lábios estalavam ruidosamente, opiniões percorriam o círculo, a indecisão impelia as taças de volta ao suco vezes sem conta.
Numa coisa todos concordaram: eles não faziam a menor idéia do que estavam bebendo.
Decorrido algum tempo, contudo, sintomas estranhos começaram a se manifestar: fala engrolada, marcha vacilante, soluços e explosões de riso sem razão aparente. Talitha ficou um tanto alarmada. Teria seu povo sido possuído por espíritos malignos? Lá estavam seus dois irmãos, segurando-se um no outro enquanto cambaleavam. E suas irmãs, uma rindo à toa, a outra chorando. Ela própria sentia-se um tanto acalorada. Quando o normalmente reservado Janka soltou gases, todos explodiram em riso. Apreciando esta reação, ele repetiu o gesto de propósito, e quando todos riram a mais não poder como se fosse a coisa mais engraçada de suas vidas, ele fez sons grosseiros com a boca até que todo o grupo estava rolando de rir, segurando a barriga. Talitha também ria, mas um medo pairava no fundo de sua mente. Não era assim que eles agiam habitualmente. O que os estava possuindo? Infelizmente não podia pensar com clareza e, à medida que bebia mais do suco de uva, ia se esquecendo do assunto. E então quando Janka, o enfadonho e solene Guardião da Deusa, agarrou-a de repente e começou a beijá-la, em vez de sentir-se ultrajada — Talitha certamente não dera a entender que estava interessada em copular com ele —, ela riu e alegremente levantou a saia para ele para sua grande surpresa.
Ele terminou rapidamente e logo rolou de lado para cair no sono ao seu lado. Talitha serviu-se de mais suco de uva e percebeu chocada que seus joelhos não doíam mais.
Fazia meses que os joelhos a incomodavam, as juntas inchando a ponto de ela ter de ser carregada por toda parte. Até mesmo o curto trajeto até a caverna de calcário a havia afligido com tamanha dor que exigira dois homens robustos para carregá-la de volta. Mas agora, estranhamente, os joelhos não só se apresentavam em bom estado, como também pareciam os joelhos de uma mulher jovem!
Isto tanto a espantava quanto a agradava — certamente estavam tomando uma bebida mágica. Uma bebida repleta dos espíritos da felicidade e da saúde. Uma bênção da deusa!
Porém quanto mais bebia, em vez de continuar a sentir-se jovem e alegre, começou a sentir-se emotiva e, depois de outra dose mais forte ainda, conseguiu se pôr de pé e seguiu cambaleando pelos acampamentos, esbarrando nas pessoas, quase chegando a derrubar uma tenda, até entrar no recinto de Serophia, onde todos caíram no mais absoluto silêncio.
Talitha começou a chorar e a bater no peito.
— Nós somos primas, Serophia! Somos parentes! Devíamos amar uma à outra, não nos odiarmos! Estou errada. Sou muito ambiciosa e egoísta. — Ela se ajoelhou. — Pode me perdoar, minha cara prima?
Serophia estava em tal estado de choque que só pôde olhar fixamente de boca escancarada. Dois dos sobrinhos de Talitha, que estiveram procurando-a, entraram no círculo e, ao verem a tia em tal estado, imediatamente a pegaram pelos cotovelos, ergueram-na e saíram do recinto, com Serophia e seus parentes olhando abobados.
Quando chegaram à tenda de Talitha, ela estava incoerente — tal como os demais membros da família. Quando os sobrinhos a depositaram sobre suas peles de dormir, ela caiu no sono imediatamente, seu alto ressonar enchendo a noite.
Na manhã seguinte a história foi diferente.
Todos começaram a despertar lentamente para descobrir que se sentiam absolutamente mal. Demônios martelavam suas cabeças e agitavam seus estômagos, espíritos malignos provocavam cólicas nos seus intestinos e desencadeavam diarréia. Suas mãos tremiam, a visão estava turva. Mortificação e embaraço os assolaram enquanto subitamente se recordavam das momices da noite anterior. Pior, afligiam-se com a perda de memória.
Quando Talitha saiu cambaleando de sua tenda, agarrando a cabeça, semicerrou os olhos na luz da manhã para ver Ari de quatro, vomitando violentamente; Janka bebendo de uma cabaça de água como se todos os rios do mundo não pudessem saciar sua sede; e todos os outros agarrando a cabeça e gemendo. Algumas mulheres estavam temerosas de descobrir evidência física de envolvimento em intercurso sexual do qual não conseguiam se lembrar.
Talitha estava tão perplexa, quanto assustada. Como podiam ter ficado tão alegres na noite anterior, e ainda assim se sentir à beira da morte na manhã seguinte? Certamente haviam sido possuídos por espíritos que a princípio os fizeram sentir-se felizes e alegres, mas depois os deixaram doentes e infelizes — os mais ardilosos espíritos!
A própria Talitha não se lembrava de sua visita ao acampamento de Serophia até que viu a expressão envergonhada de seus dois sobrinhos, os únicos que não haviam bebido o suco de uva na noite anterior. Enquanto ela especulava por que eles não a fitavam nos olhos e por que pareciam crianças travessas a ponto de levar uma sova, ocorreu-lhe a razão. Ela se ajoelhara pedindo o perdão de Serophia.
"Pelas tetas da Deusa!" ela berrou. Todos eles estiveram possuídos pelo espírito do mal?
Não obstante, Talitha não queria abrir mão por completo da nova bebida. Afinal, tinha havido bom humor. Ela instruiu os videntes e o Guardião da Deusa para que lessem os sinais e presságios, que meditassem a respeito do que havia acontecido e que orassem à Deusa por orientação. E depois de um dia de retiro e prece, jejum e ingestão de cogumelos mágicos, os profetas do clã declararam que a bebida tinha sido transformada pela Deusa e dado a eles, filhos eleitos, como uma dádiva especial. Afinal, os videntes e o Guardião da Deusa também se lembravam das boas sensações da noite anterior. E assim abordaram a situação com cuidado, olhando o suco transformado como uma bebida sagrada, não para ser tomada levianamente, mas sim com grande solenidade.
A notícia espalhou-se pelo vasto acampamento até que todos só falavam no suco de uva mágico. Talitha convidou os chefes dos outros clãs a beber o suco e dar sua opinião. Serophia não foi convidada ostensivamente. Eles passaram a taça de mão em mão e provaram o vinho. Sentiram as veias se aquecerem e os ouvidos zumbirem agradavelmente. Os chefes de clã e videntes conferenciaram e debateram, beberam mais vinho e por fim concordaram que o suco encantado não era uma coisa má. Afinal, deixava a pessoa alegre, amortecia a dor e proporcionava um sono pacífico. De fato, era claramente uma bebida sagrada, imbuída pela Deusa do espírito da vida.
O Clã da Gazela hibernou nas cavernas do norte e na primavera seguinte chegou ao local do Encontro antes dos outros clãs. Eles colheram as uvas e as transportaram direto para as cavernas secretas acima do mar Morto. Esperaram uma semana e voltaram para provar o suco. Mas tudo que encontraram foram uvas. Esperaram mais uma semana, e ainda não havia nenhum suco mágico. Finamente Talitha declarou que era preciso esperar um ano para que ocorresse a transformação, e assim mantiveram-se afastados da caverna, cuja existência não revelavam aos outros clãs. E quando retornaram no verão seguinte, foram direto para sua caverna secreta, onde provaram, o suco com grande apreensão. A transformação ocorrera! Desta vez Talitha partilhou a bebida especial com os outros clãs e aceitou artigos em barganha.
Na quarta vez em que a família visitou a nascente perene, Talitha disse que não fazia sentido voltar às cavernas para o inverno quando podiam construir abrigos firmes ali. Melhor ficar e vigiar as uvas, ela ponderou, do que partir e correr o risco de outras pessoas se apoderarem delas.
Mas sua antiga tradição dizia: o que foi, é; o que é, sempre será. Eles fizeram o circuito anual norte-sul-norte simplesmente porque sempre o tinham feito. Mas agora, tal como Mulher Alta havia determinado que, para a sobrevivência, o povo deveria partir, Talitha decidiu que seu povo deveria ficar. Assustava-os não retornar às cavernas para o inverno, mas ao mesmo tempo descobriram que gostavam de ficar ali na nascente perene. Também temiam secretamente que, caso partissem, nunca mais pudessem provar da bebida mágica. Portanto, Talitha enviou um contingente ao norte para desenterrar os ossos de seus ancestrais da caverna e trazê-los de volta para um novo sepultamento. Ponderava que se os ancestrais fossem enterrados ali, então aquela seria a terra ancestral.
Assim, construíram abrigos sólidos e autonomearam-se guardiões do vinho alegre. Ao voltarem no verão seguinte, com a uva já madura, Talitha liderou a família na colheita, na produção do suco e estocagem da bebida mágica. Desconhecendo a levedura que ocorria espontaneamente na casca das uvas, ou sua ação química sobre o açúcar na fruta, transformando-o em álcool, ou que o processo era chamado de fermentação, eles acreditaram que fosse a Deusa instilando a uva, de outra forma inócua, com propriedades que deixavam os homens alegres e as mulheres grávidas.
A família de Talitha monopolizava as videiras, mas felizmente trocavam o vinho por mercadorias que os outros clãs tivessem a oferecer. Mas enquanto ela excluía o clã de Serophia deste vívido comércio, que dava a ela uma vitória na sua rixa com a prima, Talitha não sabia que outra descoberta secreta estava ocorrendo.
Uma segunda colheita valiosa vicejava naturalmente junto à nascente perene, e a cada verão os clãs desfrutavam de mais cevada do que necessitavam, assando as espigas nas suas fogueiras e comendo os grãos. Serophia decidiu que, em retaliação pela vitória de Talitha, iria monopolizar a colheita de cevada, negociando com os outros mas excluindo o clã da sua rival. Também decidiu que, tal como o clã de Talitha, sua família permaneceria na nascente para garantir a posse da cevada. Mas nenhuma caverna secreta estava envolvida; as sementes de cevada colhidas eram armazenadas em cestos em uma das tendas de Serophia, e divididas para consumo ou comércio.
E mais anos se passaram, com o clã de Talitha trocando vinho por mercadorias de um lado da nascente e o clã de Serophia permutando grãos de cevada do outro, até o Verão da Chuva, quando um segundo milagre ocorreu.
A chuva era bastante rara no vale do rio Jordão, mais ainda durante o verão, e então quando uma tempestade desabou, enviando um dilúvio que durou dias sobre o acampamento, os infelizes colonos descobriram goteiras nas suas tendas que nunca antes tiveram de enfrentar. Não só dormiram com as roupas ensopadas, como a chuva inundou os cestos com os grãos de cevada armazenados, estragando-os.
Serophia, no seu orgulho, não mandou esvaziar os cestos. Ela manteve segredo do suprimento de cevada estragada para que o fato não chegasse ao conhecimento de Talitha e lhe desse um motivo para tripudiar. E então, num dia de outono, um sobrinho notou que a tenda onde estava estocada a cevada estragada tinha um cheiro peculiar. Fazendo uma inspeção, a família descobriu que os cestos estavam inchados e distendidos, e que dentro deles, em vez de sementes encharcadas de cevada, havia um líquido espesso que desprendia um aroma pungente. Como Talitha, o clã de Serophia nada sabia acerca de levedura transportada pelo ar e seu efeito sobre a cevada ensopada de água e a resultante fermentação. Tudo que sabiam era que a bebida transformada deixava as pessoas exultantes.
Com o tempo, os descendentes de Serophia aprenderam a fabricar cerveja intencionalmente e assim nasceu um novo comércio.
Como os clãs não mais perambulavam, o povo descobriu que tinha tempo extra nas mãos, e assim transformaram o seu tempo e energia despreocupadamente à fabricação de jóias, ferramentas e instrumentos musicais, e aperfeiçoando os métodos de curtição de couro. A comida tornou-se mais sofisticada. Em vez de comer grãos de trigo silvestre direto da espiga, as mulheres descobriram que moer o grão entre pedras e cozinhá-lo com água produzia um mingau nutritivo. Num dia de outono uma mulher chamada Fara foi subitamente retirada dos seus afazeres e, na sua pressa, entornou a mistura de água e grão nas pedras quentes. Quando ela retornou descobriu uma iguaria mais gostosa do que mingau, e que se conservava bem. E assim uma terceira família decidiu tornar a nascente perene o seu lar permanente, e se dedicou à lucrativa indústria da panificação.
Mais famílias chegavam, e uma vez que as pessoas começaram a cultivar seus próprios vegetais, que eram regados pela nascente borbulhante, fornecendo assim uma fonte de alimento pronto, o povo não via mais necessidade de perambular em busca de comida fresca. Começaram a construir moradias permanentes e a permanência significava que a riqueza material não mais se limitava ao que um indivíduo pudesse carregar. Casas particulares feitas com tijolos de lodo começaram a se encher com mercadorias e pertences pessoais, bugigangas e penduricalhos, criando pela primeira vez duas novas categorias de pessoas: o rico e o pobre.
E a Deusa, com sua miraculosa pedra azul que transformava uva em vinho e cevada em cerveja, tornou-se o foco de uma nova tendência de preces. Não eram mais apenas preces para os mortos, para fertilidade e saúde; agora havia preces para a chuva e para fazer as lavouras vicejarem, preces por uma colheita farta, preces para mais fregueses.
O pobre orava para tornar-se rico, e o rico orava para ficar mais rico.
Vale do Rio Jordão, 10.000 Anos Atrás
Por tudo que Avram sabia, a noite poderia ter sido preenchida com portentos e aparições, cometas e a lua se eclipsando — uma noite sinistra e assustadora, anunciando o Juízo Final e o Armagedom. Ou poderia ter sido uma pacífica noite de verão. Ninguém saberia disto por Avram — ele estava num mundo todo seu.
Que sonho ele tivera! Marit nos seus braços, luxuriante e complacente, cálida e acessível, inclinando-se, erguendo os quadris e os lábios para ele. Um sonho tão repleto de paixão que mesmo agora, enquanto percorria o vinhedo na luz fria do alvorecer, a pele de Avram ainda ardia de febre. Enquanto subia a escada de madeira da torre de observação, mão após mão, rodelas de pão de cevada balançando de uma corda a um dos ombros, um odre de cerveja diluída pendendo do outro—pois Avram passaria o dia na torre, observando saqueadores —, sentiu sua excitação recomeçar. Quando chegou ao topo, tinha de novo uma ereção plena. Em toda a sua vida Avram nunca estivera tão apaixonado, ou tão infeliz.
Estava com 16 anos de idade.
O objeto de seu amor era uma garota de 14 anos, com seios em botão e olhos como os de uma gazela. Tinha membros longos, era graciosa como o vento, de temperamento doce e afável. A sua infelicidade residia no fato de Marit pertencer à Casa de Serophia, ao passo que Avram integrava a Casa de Talitha. A rixa entre as famílias já durava dois séculos e o ódio mútuo era lendário. Se alguém soubesse do amor secreto de Avram pela proibida Marit, ele seria humilhado publicamente, amaldiçoado, surrado, confinado à míngua, e talvez até mesmo castrado. Pelo menos era assim que a mente jovem de Avram imaginava a punição que poderia sofrer.
Mas não podia parar de pensar nas palavras que seu abba, Yubal, pronunciara três anos antes, quando Avram começara a notar mudanças no seu próprio corpo. "A vida é dura, companheiro. E uma labuta diária preenchida com dor e sofrimento. Assim, na sua sabedoria, a Deusa nos concedeu o dom do prazer para compensar toda essa infelicidade. Ela o fez para que homens e mulheres possam se dar prazer, a fim de fazê-los esquecer sua infelicidade. Portanto, quando o desejo cair sobre você, companheiro, extraia seu prazer onde puder, pois é isto que deseja a Mãe de nós todos."
Evidentemente Yubal estava certo, pois parecia a Avram que os cidadãos do Lugar da Nascente Perene estavam singularmente preocupados em agradar a Deusa neste aspecto. O passatempo tradicional do assentamento era um círculo interminável de paixões, se estabelecendo e se rompendo. Cidadãos brincalhões, que sempre gostaram de mexericos, sentar-se-iam sobre barris de cerveja e fariam apostas sobre quanto tempo um novo casal duraria, ou quem estaria rastejando diante da cabana de quem. Às vezes, a ruptura de um relacionamento era mútua, porém com mais freqüência devia-se ao tédio de um dos parceiros, que se afastava. Era quando irrompiam as brigas, em especial se um dos parceiros tivesse ido viver com outra pessoa. Todos ainda comentavam sobre o dia em que a parteira Lea havia flagrado Uriah, o fabricante de flechas, com uma das irmãs Cebola. Lea arrancara o couro cabeludo da mulher e depois jogara água fervente em Uriah. O fabricante de flechas escapara do assentamento para nunca mais voltar. Mas também houve aquelas raras pessoas que ficaram juntas por uma vida inteira — sua própria mãe e o seu abba tinham sido um tal exemplo —, e era assim que ele visualizava agora para si mesmo e a deliciosa Marit: amantes pela eternidade.
Enquanto permanecia sob a plataforma sombreada no topo da torre — a cobertura de palha sendo vital, pois agora era verão e os dias iam ficando mais quentes —, Avram tentou atrair com profundas inspirações o ar gélido da manhã, esperando que ele esfriasse seu ardor de modo a poder concentrar-se na busca de sinais de saqueadores através das colinas e ravinas. E estava determinado a fazer um bom trabalho. No ano anterior, quando saqueadores tinham vindo do leste, não houvera nenhum aviso. Sua mãe havia sido brutalmente chacinada e suas duas irmãs raptadas. E por isso a torre fora construída, e era trabalho de Avram sentar-se lá em cima como um guarda contra futuros ataques.
Os saqueadores não vinham a cada ano, não havia como prever seus ataques. Uma raça selvagem, sua terra ficava do outro lado das montanhas orientais, que vivia da caça e do roubo. Ninguém sabia quem eles eram ou como viviam, porque ninguém tivera coragem de segui-los após uma incursão. Mas circulavam rumores. Dizia-se que os saqueadores comiam pedra e bebiam areia, que não tinham nenhuma mulher de sua própria raça, mas que se perpetuavam raptando as mulheres de outras tribos. Que suas almas podiam deixar os corpos enquanto dormiam. Que podiam mudar de forma e com freqüência espreitavam o povo da nascente perene disfarçados como corvos e ratos. Que comiam seus mortos.
Portanto a vigilância era essencial. Mas não era fácil examinar constantemente o horizonte procurando saqueadores, ou proteger as fileiras de videiras dos ladrões, especialmente enquanto Avram não pudesse excluir de sua mente a bela Marit e o delicioso sonho que tivera na noite anterior. Certamente nenhum homem jamais tinha sido tão afligido pelo desejo como ele. Nem mesmo o seu abba, Yubal, que chorara abertamente quando a mãe de Avram tinha sido morta, declarando que era a única mulher que já amara.
O rapaz aprumou os ombros e começou sua vigilância.
O céu estava róseo acima das montanhas orientais e o assentamento chamado de Lugar da Nascente Perene — e que situava-se a meio dia de viagem a oeste do rio que o povo chamava de Jordão, que significava "o descendente", pois fluía do norte para o sul — despertava na névoa matinal, fogueiras crepitavam para a vida, aromas de pão fresco e carne assada enchiam o ar, vozes se elevavam em raiva,,alegria, surpresa e impaciência. De onde se encontrava Avram podia não apenas ver o vinhedo de seu abba como também os campos de cevada de Serophia — e bosques de oliveiras e pomares de romãzeiras e plataformas de tamareiras — e uma excelente vista do assentamento central, um vasto conglomerado de cerca de duas mil almas vivendo em casas de tijolos de lodo, choupanas de palha, tendas de pele de cabra ou simplesmente dormindo no chão enrodilhados em peles e com seus bens terrenos protegidos sob a cabeça.
Enquanto muitas pessoas viviam aqui permanentemente, algumas chegavam num dia para partir no outro. Pessoas vinham ao Lugar da Nascente Perene para trocar obsidiana por sal, conchas de cauri por óleo de linho, malaquita verde por fibra de linho, cerveja por vinho, e carne por pão. E no centro desta colméia de humanidade, com longos canais de irrigação se expandindo como as patas de uma aranha, borbulhava a nascente perene de água doce, onde mesmo agora na luz do dia que rompia, meninas e mulheres mergulhavam seus cestos e cântaros.
Avram suspirou, inquieto. Todas aquelas fêmeas e nenhuma delas era tão linda ou fascinante quanto sua amada Marit.
Como muitos garotos de sua idade, Avram não era inexperiente nas questões de sexo. Embora a diversão consistisse principalmente em ir para as colinas com seus amigos para capturar uma ovelha selvagem e passear montado nela, ele se empenhara em algumas limitadas experiências sexuais com garotas. Mas com Marit ele nunca tivera qualquer experiência, afinal. Em todos aqueles anos vivendo em propriedades adjacentes eles jamais haviam trocado uma única palavra. Ele tinha certeza de que sua avó o mataria se tentasse.
Avram desejava ter vivido nos Velhos Dias, que ele imaginava terem sido bem melhores que os atuais. Ele adorava ouvir as histórias dos ancestrais — não de Talitha e Serophia, mas dos ancestrais muito antigos — quando seu povo era nômade e tinha vivido em uma única tribo e homens e mulheres extraíam seu prazer com quem lhes aprouvesse. Mas agora não havia mais nômades viajando em grandes clãs, mas sim pequenas famílias que viviam em uma casa no mesmo trato de terra e que de algum modo fazia o povo pensar que aqueles que viviam no mesmo trato de terra eram melhores do que os que viviam em outro. "O vinho de Yubal tem gosto de mijo de jumento", Molok, o abba de Marit, vivia falando. "A cerveja de Molok foi espremida dos testículos de porcos" Yubal, o abba de Avram, contra-atacava. Não que os dois homens expressassem tais opiniões cara a cara. Membros das Casas de Talitha e Serophia não se falavam havia gerações.
Portanto era esperado que nunca, jamais, se visse um rapaz e uma moça dessas famílias nos braços um do outro.
Avram não achava justo. A rivalidade pertencia aos ancestrais, não a ele. Os ancestrais tinham tido sua hora e sua opinião. Agora era a vez de Avram. Ele fantasiava acerca de fugir com Marit (uma vez imaginou um modo de falar com ela primeiro), levá-la para longe do vinhedo dele e do campo de cevada dela, para longe das tendas, cabanas e casas de tijolos de lodo, para explorarem o mundo juntos. Porque Avram tinha nascido sonhador e indagador, a alma inquieta, a mente eternamente perguntando e especulando os porquês. Em outra época ele teria sido um astrônomo ou um explorador, um inventor ou um erudito. Mas telescópios e navios, a metalurgia e o alfabeto, até mesmo a roda e os animais domesticados ainda eram coisas muito distantes.
Desatando uma rodela achatada de pão de cevada, ele arrancou um pedaço e, enquanto mastigava, voltou os olhos para o amontoado das humildes moradias de tijolos de lodo que se acocoravam à beira do campo de cevada de Serophia — a cabana de secagem, o galpão, onde os barris de grãos de cevada fermentavam para virar cerveja, e a casa particular, onde a família de Marit vivia — e soltou um suspiro repleto de anseio, seu ardor muito mais aguçado porque não fazia idéia de como Marit se sentia em relação a ele.
Pensou nas ocasiões em que havia capturado o olhar dela. Apenas umas poucas semanas antes, no festival do Equinócio da Primavera, ela havia subitamente desviado a vista e um rubor apareceu em seu rosto. Era um sinal de boa sorte? Significava que ela correspondia ao seu sentimento? Se ao menos ele soubesse!
À medida que o sol distante rompia sobre as montanhas, Avram tentava vislumbrar Marit no assentamento — nesta hora tão adiantada, ele consideraria um vislumbre dela como um sinal de boa sorte, significando que o restante do dia correria bem. Mas tudo que viu foi a gorda Cochava correndo atrás dos filhos com uma vara; dois oleiros discutindo aos brados a respeito de um barril de cerveja (aparentemente não haviam parado de beber durante a noite toda); Enoch, o tiradentes, e Lea, a parteira, se empenhavam numa cópula apressada contra uma árvore. Viu o pescador Dagan cambaleando deploravelmente para fora da cabana de Mahalia, seus pertences voando atrás dele, arremessados por uma mão furiosa lá dentro. No mês passado Dagan estivera vivendo com Ziva, e nos mês retrasado com Anath. Avram imaginava o que haveria de errado com Dagan, que fazia as mulheres se cansarem dele tão rapidamente e expulsá-lo. Pobre Dagan — sem uma mulher e sua lareira, como um homem ia viver?
Então Avram teve uma visão que o fez rir bem alto. Ali estava o louco Namir com outras das suas experiências com cabras! Dois anos antes, Namir insistira na noção de que em vez de caçar as cabras nas colinas, matando o que precisavam e depois retornando ao assentamento, seria bem menos trabalhoso trazer as cabras vivas para casa, guardando-as num cercado, e abatendo-as como alimento ou comércio sempre que houvesse necessidade. Assim, ele e seus sobrinhos foram para as colinas e capturaram o máximo possível de cabras. Mas como desejavam que o rebanho se perpetuasse por si mesmo, capturaram somente as fêmeas, deixando os machos para trás. Mas depois de um ano, as cabras paravam de dar cria e a remanescente do pequeno rebanho era comida ou negociada. Enquanto seus vizinhos riam, Namir dedicava-se a fazer seu plano funcionar.
"Afinal", ele dizia a seus amigos por cima dos tonéis de cerveja, "se os rebanhos de cabras se perpetuam nas colinas, por que não no meu cercado?"
Então ele ia lá de novo e capturava outras cabras, trazendo-as para o redil com cercas feitas de gravetos, galhos e arbustos. Desta vez nenhuma das cabras havia dado cria, mas em época alguma o rebanho cativo fora comido ou vendido. Então aqui estava ele de novo, determinado a manter o seu rebanho de cabras, liderando seus atrapalhados sobrinhos pelo assentamento que despertava, enquanto carregavam as cabras, balindo e se contorcendo amarradas em varas compridas. Avram simplesmente podia ver, através do acúmulo de fumaça, quatro homens sentados sob uma árvore e partilhando um barril de cerveja, que gritavam insultos para Namir e faziam apostas sobre quanto tempo duraria este rebanho capturado.
Avram achava que todo mundo no assentamento tinha um esquema, e não tão absurdo quanto o de Namir. Ele se lembrava de quando todos haviam zombado de um outro homem, Yasap, que chegara dez anos antes e plantara campos de flores. O povo tinha rido: Para que serviam as flores? Todos pararam de rir quando as abelhas descobriram os campos e Yasap manteve colméias e estocou mel. Pela primeira vez desde que se lembravam, as pessoas tiveram açúcar o ano todo, e tão grande era a procura que Yasap se tornara o terceiro homem mais rico do assentamento.
Cada vez mais pessoas, chegando ao Lugar da Nascente Perene pela primeira vez, olhavam em torno e viam oportunidades para uma vida mais fácil, construíam abrigos e paravam de perambular. Pessoas com habilidades especiais trocavam seus serviços por comida, roupa e jóias: barreiros e tatuadores, adivinhos e leitores dos astros, entalhadores de ossos e polidores de pedra, pescadores e curtidores de couro, parteiras e curandeiras, armadilheiros e caçadores. Todos vinham, a maioria ficava.
Se eu fosse livre e dono do meu nariz, Avram pensou, nem tentaria pensar em maneiras de permanecer aqui. Eu empacotaria pão e cerveja, pegaria minha lança e iria ver o que há do outro lado das montanhas.
Ao ouvir gritos estridentes, ele olhou para baixo e viu seus irmãos pequenos correndo por entre as filas de parreiras, expulsando os pássaros. Respectivamente com 13, 11 e 10 anos, os garotos adoravam o vinhedo e fizeram dele o seu mundo. Na colheita da semana seguinte, eles se alinhariam com os adultos para encher cestos com fruta madura, e mais tarde, quando todas as uvas estivessem colhidas, os pezinhos dos garotos iriam trabalhar duro na prensa, esmagando as uvas para produzir suco.
Avram já ia acenar para Caleb, o mais velho de seus irmãos menores, quando viu algo que o fez congelar. Uma mulher idosa, de seios nus e trajando uma saia comprida de pele de corça, o cabelo trançado exibindo estrias brancas debaixo da tintura de hena, caminhava penosamente ao longo da trilha, sobrecarregada pelos muitos colares de pedras e conchas que pesavam sobre seu corpo murcho. Mas ela era saudável, e era dever de uma mulher ostentar assim a riqueza da família.
Os olhos de Avram quase saltaram das órbitas. Por que sua avó seguia pela trilha rumo ao Santuário da Deusa? Isto o espantou e alarmou. O que ela estava fazendo do lado de fora tão cedo? Só podia ser uma mensagem urgente. Teria ela descoberto acerca do seu desejo secreto por Marit? Estaria indo pedir à Deusa que lançasse um encantamento sobre ele? Como muitos rapazes, Avram tinha pavor da sua avó. As anciãs possuíam poder inimaginável.
Ele alcançou automaticamente o talismã que pendia de um cordão de couro em volta de seu pescoço. Por tradição, quando uma criança chegava aos sete anos e dava a impressão de que chegaria à idade adulta — pois muitas morriam precocemente —, ela ganhava um nome permanente e uma pequena algibeira na qual levava talismãs preciosos: o seu cordão umbilical, seco e enrugado, o primeiro dente, um cacho do cabelo da mãe. Talvez um pequeno fetiche animal, algumas folhas secas de uma planta protetora, tudo destinado a pessoa saudável e livre de dano. Enquanto apertava o talismã que continha seixos mágicos, pedaços de osso e de galhos, Avram especulava se seria poderoso o bastante para protegê-lo de sua própria avó.
Ele observava a velha caminhar entre as cabanas e abrigos, contornando pilhas de vísceras animais, apressando-se em meio ao mau cheiro que circundava o curtume onde couros sangrentos estavam sendo estendidos ao sol, e por fim subindo a trilha que conduzia à pequena estrutura de tijolos de lodo que abrigava o Santuário da Deusa. Avram viu Reina, a sacerdotisa, emergir da pequena casa para recepcionar a visitante.
Mesmo dali, Avram podia ver os seios magníficos de Reina. No verão, todas as mulheres do assentamento ficavam de seios nus de modo que os homens pudessem banquetear os olhos com os tesouros de suas mulheres. Era isto que havia desencadeado seu novo desejo por Marit: quando ela havia se transformado de menina em mulher? Os seios de Reina eram empinados e firmes, nem um pouco caídos como costumavam ser os das mulheres de sua idade, porque nunca tivera filhos. Quando havia sido designada sacerdotisa, dedicara a sua virgindade à Deusa. Mas isto não a fazia menos feminina. Reina avermelhava os mamilos com ocre e perfumava os cabelos com óleos fragrantes. Seus quadris eram amplos e a cintura de sua saia de pele de corça ficava bem abaixo do umbigo, pouco acima do triângulo abençoado que não era domínio de nenhum homem.
Avram suspirou de novo em desejo e confusão típicos da juventude, imaginando por que a Deusa tinha criado esta fome perturbadora entre homens e mulheres. Reina, em quem nenhum homem podia tocar, fazendo com que os homens ansiassem tocá-la acima de tudo. Marit, a dona do seu coração e a quem nunca teria. Onde estava o prazer nisto tudo?
Quando viu sua avó sair pouco depois do Santuário da Deusa, onde a estátua sagrada com o núcleo de cristal azul era guardada e cuidada, ficou surpreso com a pressa da anciã em voltar para casa, como se estivesse premida pela urgência. Logo depois Avram ouviu duas vozes na casa se elevando. Vovó e seu abba estavam discutindo!
Um momento depois, o abba irrompeu da casa como se tomado pela fúria, e disparou pela trilha de terra que levava aos campos de cevada e à casa onde Marit morava.
Avram ficou incomodado ao ver Yubal tão aflito. Uma lembrança: Yubal carregando-o nos ombros, as enormes mãos dele apertando seus tornozelos, as passadas largas de Yubal sustentando-os através dos prados e cruzando regatos. Avram sentira-se como um gigante e cavalgara aqueles ombros largos com tamanho orgulho que não queria mais descer. Avram não conhecia quaisquer outros garotos que tivessem usufruído de um tal relacionamento com seu abba.
Nem todos os homens mereciam o honorífico "abba", que significava "senhor", ou "mestre", habitualmente acima de um negócio próspero, por vezes acima da casa e dos filhos de uma mulher que se tornara devotada a ele. Embora poucos homens ficassem com uma mulher por longo tempo, especialmente se começassem tendo filhos, Yubal era uma rara exceção, pois tinha sido claro na sua afeição pela mãe de Avram, e vivera na casa dela por vinte anos.
Avram observou Yubal — belo em roupa de pele excelente, o cabelo longo e a barba ricamente lubrificados como convinha à sua posição elevada — dar alguns passos e depois parar subitamente, coçar o queixo, e voltar-se para pegar a trilha em direção ao assentamento, como se tivesse mudado de idéia de repente. Momentos depois, Avram viu Yubal sentar-se debaixo da árvore umbrosa de Joktan, o mercador de cerveja. Yubal foi saudado com palavras de boas-vindas, pois era um dos mais estimados e admirados no assentamento. Depois ele fez sinal para Joktan, que apresentou um canudo de junco que quase chegava a dois braços de comprimento. Yubal afundou o canudo no alto tonel, afastando a espuma do processo de fermentação que sempre entupia a superfície, e começou a sugar o líquido abaixo. A cerveja de Joktan era muito inferior à de Molok, mas Yubal jurava que preferia beber mijo de serpente a permitir que a cerveja da família de Serophia passasse por seus lábios.
Ao ver Yubal, Avram redobrou seus esforços como vigia. Era por causa de seu abba que ele queria fazer um bom trabalho. Queria que Yubal se orgulhasse dele. Contudo, por mais que se esforçasse para ser um bom atalaia, havia lembretes em toda parte da sua nova obsessão por Marit e sexo.
Reluzindo brilhantemente no sol da manhã sobre a porta da casa do polidor de pedra estava um retrato recém-pintado da genitália feminina. O velho estava esperançoso de que isto ajudasse na gravidez de suas filhas. Muitas famílias pintavam tais símbolos ao lado de suas portas da frente — em geral seios e vulvas — na esperança de convidar a fecundidade para suas casas. Tais mulheres esperançosas procuravam a sacerdotisa Reina em busca de encantamentos mágicos, poções de fertilidade e ervas com poderes sobrenaturais.
Os homens não tomavam parte na busca da fertilidade porque o povo de Avram ainda não estava ciente de que eles contribuíam para a procriação. A concepção era um mistério trabalhado unicamente pelas mulheres, através do poder da Deusa.
Um grito trouxe sua atenção de volta ao assentamento e às suas atividades. Um dos criminosos atados a um poste de punição perto da nascente borbulhante gritava para as crianças que lhe arremessavam fezes e coisas podres. Embora habitualmente fossem os trapaceiros e mentirosos, invasores de propriedade e mexeriqueiros maliciosos os candidatos aos postes de punição, o homem que estava lá agora, nu e indefeso, tinha ficado bêbado, subido num telhado e urinado em passantes incautos. Sua punição teria sido mais leve se uma das vítimas não fosse a avó de Avram. Mais dois homens estavam amarrados aos postes, punição pelo estupro de uma filha da Casa de Edra. Como estes homens eram o alvo das mulheres iradas, que jogavam pedras e estrume neles, um grupo de circunstantes apostava se os estupradores sobreviveriam até o pôr-do-sol.
A justiça na comunidade era rápida e brutal. Ladrões tinham a mão cortada. Assassinos eram executados. Do seu ponto privilegiado na torre, Avram pôde ver, do outro lado dos campos de trigo, o cadáver de um assassino que pendia de uma árvore, a execução tão recente que os corvos ainda estavam bicando seus olhos.
Avram congelou.
Em seguida protegeu os olhos e tentou aguçar o alcance de visão. Aquilo era uma coluna de poeira? Vindo de nordeste?
Ele sentiu um nó na garganta. Saqueadores!
Mas então seus olhos se arregalaram e ele arquejou. Não eram saqueadores, afinal, mas sim a caravana de Hadadezer!
— Mãe Abençoada! — gritou ele, e, como não podia descer os degraus com rapidez suficiente, se jogou da metade da escada para o chão.
Avram correu gritando e agitando os braços — os mercadores de obsidiana tinham chegado! Esta noite haveria um banquete sem igual. E num ajuntamento tão feliz, com tantas pessoas bebendo e se deleitando, quem notaria se dois jovens se arriscassem a trocar um olhar proibido?
A caravana era sempre uma visão a ser contemplada: um rio virtual de humanidade que havia fluído por cima de montanhas, campinas e riachos, mil almas marchando como vadios, cada homem um animal de carga vergado ao peso de mercadorias e suprimentos. Alguns levavam cangas de madeira nos ombros com fardos pendendo de cada extremidade; outros sustentavam nas costas cestos presos por tiras de couro que passavam por suas testas; mercadorias mais pesadas eram rebocadas sobre trenós por equipes de homens emparelhados. Era um esforço longo, lento, opressivo para cobrir muitos quilômetros, tropeçando em cardos e pedras, assando debaixo do sol, congelando sob a chuva, através de desfiladeiros e de desertos abrasadores. Mas não havia outra maneira de fazer isto. O povo do sul queria o que o povo do norte tinha a fim de comerciar e vice-versa. Embora alguns montanheses valentes do norte fossem experientes com gado para domá-lo e treiná-lo a fim de que se tornassem animais de tração e carga, os resultados até então tinham sido malsucedidos. Assim, às costas dos homens chegavam malaquita e azurita, ocre e cinabre; artigos feitos de alabastro, mármore e pedra; de peles e chifres; e os finos artigos de mesa pelos quais o país do norte era famoso — molheiras, oveiros e travessas minúsculas com cabos entalhados. Tudo isto era trazido para o sul, onde seria trocado por papiro e óleos, especiarias e trigo, turquesa e conchas, que seriam transportados para o norte nas mesmas costas arqueadas.
Na caravana também havia mulheres, da mesma forma sobrecarregadas com roupas de cama, tendas, aves vivas e apetrechos de cozinha — as mulheres que estavam seguindo seus homens ou que se juntaram ao comboio no meio do caminho, algumas carregando crianças no ventre, poucas delas tendo nascido durante o impressionante progresso da caravana para o sul. Algumas dessas mulheres deixariam a caravana quando ela chegasse ao Lugar da Nascente Perene, ao passo que as mulheres locais abandonariam a Nascente Perene e desapareceriam rumo ao sul com a caravana.
 frente deste enorme comboio humano viajava um mercador de obsidiana chamado Hadadezer, cujo meio de transporte pessoal era outro portento digno de nota. Hadadezer não caminhava — para lugar algum. E certamente não os 3.200km que compreendiam o percurso de sua caravana. Uma plataforma de transporte consistindo de duas estacas firmes com uma cilha de galhos e juncos era carregada nos ombros de oito homens robustos. Nela Hadadezer viajava em esplendor, sentado de pernas cruzadas sobre esteiras, com macias almofadas estofadas de penas de ganso apoiando braços e costas. Uma vez que todo mundo sabia que um homem gordo era um homem rico, a julgar pela generosa cintura de Hadadezer, ele devia ser o homem mais rico do mundo.
O comprido cabelo preto de Hadadezer era impressivamente lubrificado e trançado, alcançando a sua cintura, bem como a sua enorme barba preta, também lubrificada e trançada, e entremeada com uma opulência de contas e conchas. Ele usava uma túnica de couro que alcançava os joelhos e era inteiramente coberta de conchas de cauri, um traje tão esplêndido que fazia as pessoas babar em assombro. Seis mil anos depois, os descendentes de Hadadezer se enfeitariam com ouro e prata, diamantes e esmeraldas, mas naquele tempo, quando os metais e gemas preciosos ainda estavam para ser descobertos nos recessos secretos da terra, o cauri era o ornamento opcional. Serviam também como moeda no comércio.
Hadadezer era conhecido em toda parte como sendo um homem astuto. Na sua juventude ele iniciara um comércio de olíbano, uma resina colhida de uma árvore chamada lebonah — que significa "branco" — que crescia no norte. Quando aceso, o incenso liberava um delicioso perfume, tornando-se imediatamente popular, com uma grande demanda nos dois vales do rio. No entanto, embora cobrasse caro pelo produto, Hadadezer também pagava um alto preço aos coletores da resina, sobrando-lhe uma pequena margem de lucro. Mas em determinada estação, enquanto atravessava o país densamente florestal do norte, ele descobriu que a madeira fragrante dos juníperos e pinheiros, quando pulverizada, adulterava de tal maneira o incenso de olíbano que ninguém poderia reclamar que estava recebendo um produto diluído. Desta maneira ele aumentou seu suprimento de resina, cobrou o mesmo preço e conseguiu um lucro muito maior.
Hadadezer nunca deixava escapar uma oportunidade. Uma razão para seu sucesso como mercador era que utilizava uma forma complexa de contabilidade que só ele entendia. Como papel e escrita ainda estavam a 4.000 anos no futuro, o mercador de obsidiana confiava num sistema de símbolos gravados em tábuas de argila que só ele podia identificar, amarradas em vários cordões que pendiam do seu cinto.
O povo do assentamento apressou-se a recepcionar a caravana em ansiosa expectativa da noite iminente em que velhas camaradagens seriam renovadas, amantes se reuniriam, inimigos resolveriam suas pendências, contratos seriam acertados, promessas cumpridas e negociados todos os tipos de mercadorias e serviços. À medida que o sol se erguia e liberava um dia abrasador, tendas eram armadas, fogueiras acesas, odres de vinho e barris de cerveja abertos. E tal como os cidadãos do assentamento buscariam diversão e prazeres no acampamento da caravana, os componentes do serviço braçal da caravana, tendo trabalhado por tanto tempo, iriam para a aldeia à procura de pão, cerveja, jogo e sexo.
Hadadezer ficaria no Lugar da Nascente Perene por cinco dias, após o que seus homens levantariam acampamento, colocariam os fardos nos ombros e prosseguiriam rumo ao sul para o vale do rio Nilo, onde acampariam de novo, antes de dar meia-volta e refazer toda a jornada para casa ao norte.
Hadadezer fazia todo o percurso, do seu lar montanhês no norte ao delta do Nilo no sul, em um ano e suas visitas ao Lugar da Nascente Perene coincidiam com cada solstício de verão e de inverno.
Cada homem e mulher capazes de caminhar, rastejar ou ser carregados estariam no banquete da noite, pois ia ser uma noitada de prazer e diversão. Os cidadãos diligentes do Lugar da Nascente Perene passavam as duas metades do ano na expectativa da chegada da caravana de Hadadezer. Esta noite eles próprios iam se divertir.
Com uma exceção infeliz.
Depois de ter tido permissão para observar a Procissão da Deusa enquanto ela percorria o acampamento da caravana para abençoar os visitantes e todo o comércio que ali seria realizado, Avram fora mandado de volta ao vinhedo, onde seus irmãos mais novos estavam em patrulha contra os ladrões.
Carregando sua tocha flamejante enquanto subia e descia pelas fileiras de parreiras, Avram pensava ansiosamente nos homens da caravana e nas histórias maravilhosas que sempre contavam de caçadas selvagens, de mares que afogavam homens, de mulheres com fogo entre as pernas e gigantes altos como as árvores. Eles tinham viajado Nilo acima e encontrado povos com a pele escura como a noite. No extremo norte viram um animal que não era nem cavalo nem antílope, mas alguma coisa entre essas espécies, com duas corcovas no dorso. Avram ansiava por ser um mercador. Não queria ficar esmagando uvas com os pés até o fim de sua vida.
Também sabia que Marit estaria em algum lugar naquela grande aglomeração de humanidade feliz, talvez comprando hena ou admirando um colar de conchas. Talvez se afastasse da companhia da mãe e das irmãs para assistir a um macaco amestrado fazendo estripulias, ou comprar uma das guloseimas condimentadas pelas quais as mulheres da montanha eram famosas. E enquanto estivesse lá, fora do olho vigilante de sua família, sob a lua e as estrelas, em meio aos sons de riso, de disputas e festança, e rodeada pelos aromas inebriantes de fumaça, perfume e comida sendo cozinhada, talvez nem se importasse com a proximidade de um certo rapaz, talvez ele até tocasse acidentalmente em seu braço.
A paixão era mais forte do que a obediência. Avram não pôde mais agüentar. Entregando a tocha a seu irmão Caleb com uma desculpa murmurada, ele escapuliu do vinhedo como uma sombra.
O acampamento cobria a planície além dos campos de trigo e cevada e se estendia quase até o rio Jordão, a fumaça de seus fogos se elevando até as estrelas. Havia tanta coisa acontecendo, tanta coisa para ver e fazer que, enquanto Avram se entregava à multidão de festeiros, sua mente quase se desviou da obsessão por Marit. Parou agora e então observou entretenimentos tais como acrobatas e mágicos, dançarinos e malabaristas, encantadores de serpentes e espertalhões — todos ávidos por separar o espectador incauto de suas preciosas conchas de cauri.
Em toda parte em que Avram ia, comida era oferecida. Espetos maciços continham carne assada de porco ou cabrito, esteiras e junco estavam amontoados de pilhas de pão de cevada e tigelas de mel, e nem se podia contar o número de tonéis de cerveja com canudos compridos para beber. E ele continuou a procurar por Marit.
Aproximou-se de uma multidão assistindo a uma dançarina que nada vestia exceto um colar e cinto feitos de conchas. Ela era linda e voluptuosa, toda curvas, suor e carne, remexendo-se e dançando mais sedutoramente a uma batida de tambor e acompanhamento de palmas. Avram não sabia quem era, mas queria entocar-se com ela, incendiar-se no seu recesso mais profundo. Sentiu um calor elevar-se nele, ardendo mais do que mil sóis. A garganta ficou seca. A língua enchia sua boca. Os olhos disparavam como flechas para as coxas da moça. Pensou em Marit. Uma fome dolorida o invadiu.
Desviou os olhos da dançarina e viu, a uma curta distância, o abba de Marit pechinchando passionalmente com um vendedor de marfim. Molok era um homem baixo, de pernas tortas compactas e uma barriga generosa pendendo por cima do cinto, um sinal de prosperidade e uma paixão pela sua própria cerveja. Um homem de temperamento intenso que podia cortar os testículos de qualquer homem descendente de Talitha que olhasse na direção de uma mulher do clã de Serophia.
Avram sentia o coração chegar à garganta. Que loucura era esta? Por que persistia nesta obsessão fadada a não ter um final feliz?
Estava a ponto de decidir que sua procura por Marit só traria má sorte e que deveria voltar para patrulhar o vinhedo com seus irmãos, o que era esperado que estivesse fazendo, quando viu um grupo de damas reunido em torno de um vendedor de hena. Não foi a aparência das mulheres que captou sua atenção, mas sim o modo como elas soavam: seu riso, e de uma em especial, alto e ritmado como o canto de um certo passarinho que vivia nos salgueiros às margens do rio.
Num instante o acampamento sumiu. A terra desapareceu sob os pés de Avram. O céu acima dissolveu-se no nada. Até que só restou a doce Marit e seu riso delicioso.
— Abra caminho, garoto! — gritou um açougueiro que estava tentando passar com uma carcaça de ovelha.
Mas Avram parecia feito de pau — apalermado e imóvel. Seu mal de amor o lavava como chuva morna. Os pulmões se esforçavam para respirar. Ele imaginou se era possível morrer de amor.
E então Marit virou-se e olhou para ele. E um milagre ocorreu.
A noite subitamente retornou com todas as suas estrelas e a lua, reluzindo mais brilhantemente do que fizera em um milênio, e a terra voltou a sustentar seus pés, boa, sólida e cheia de promessa; o acampamento se materializou de novo com todas as pessoas rindo, música e dançarinos rodopiando, e uma sensação festiva no ar fumacento. O coração de Avram deslizou de volta ao peito enquanto outra parte dele se erguia, e o calor brotou por toda a sua pele. Porque Marit estava olhando para ele — direto para ele, os olhos escuros grudados nos dele, prendendo-o, bebendo-o, tomando-o para dentro de si, como fizera muitas vezes nos sonhos de Avram.
Ele engoliu em seco. Não podia haver nenhum equívoco naquele olhar.
O Vale dos Corvos era um leito de rio que se enchia de água turbulenta durante as tormentas de inverno, mas que ficava seco durante o verão.
A sombra de Avram iluminada pela lua o seguia como uma cúmplice, intensamente delineada nas paredes rochosas do cânion estreito. Ele prestava atenção ao silêncio, aos uivos solitários dos chacais, ao vento assoviando através da ravina rochosa. Havia uma friagem no ar noturno, mas sua pele ardia de febre. Ele observou a lua, cheia e brilhante, traçar o seu eterno curso no céu.
Nutria pouca esperança de que Marit viesse. O subterfúgio era simples: recorrera à ajuda de um amigo para passar uma mensagem secreta a Marit quando ela visitasse o poço. Ele diria a ela que Avram havia encontrado uma flor rara no Vale dos Corvos e que gostaria de lhe mostrar. Marit saberia que se tratava de uma mentira, mas era a desculpa necessária para ela, se quisesse mesmo vir.
Avram acocorou-se e esperou. Quando a brisa mudou, ele ouviu a música e os risos da festa de despedida da caravana, e seu nariz captava um ocasional aroma de cozinha. Seu estômago roncava, mas ele não estava faminto. Sua impaciência e nervosismo cresciam.
O tempo passou. A lua continuou a viajar pelo céu. Avram pôs-se de pé e ficou medindo passos. Marit não viria. Tinha sido um tolo em pensar o contrário.
E então lá estava ela, como se houvesse deslizado de um raio lunar e pousado silenciosamente.
Olharam um para o outro pelo curto espaço rochoso. Era a primeira vez na vida deles que ficavam sozinhos -— sempre havia por perto as irmãs dela ou os irmãos de Avram, ou outras pessoas do assentamento. Mas agora eram somente eles, sozinhos sob as estrelas.
Avram percebeu que estava tremendo, tanto de medo quanto de excitação. Em todas as suas fantasias ele nunca havia se deparado com o medo. E, súbita e tardiamente, ocorreu-lhe que as ancestrais estariam aqui com eles neste cânion: Talitha e Serophia, combatentes fantasmagóricas vigilantes para ver que tabus a sua progénie iria quebrar. Ele sentiu um suor frio percorrer-lhe as costas e traçar trilhas gélidas espinha abaixo. Avram tinha certeza de que, se acaso se voltasse de súbito veria Talitha de pé atrás dele, furiosa, irada, pronta a separar-lhe a cabeça do corpo.
Ele viu Marit esfregar os braços e olhar furtivamente para a esquerda e a direita, como se também esperasse ver sua vingativa ancestral assomar sobre ela para desferir um golpe mortal.
Mas o momento se estendeu e tudo que ouviam era o vento assoviando por entre as rochas, e tudo que viam eram sombras, a luz da lua, e um ao outro. Avram clareou a garganta. Sua voz lhe soou como um trovão.
Marit olhava para as próprias mãos.
A flor — disse suavemente. — Você...
Ele engoliu em seco.
Eu...
Ela esperou.
Ele achou que as chamas fossem irromper todas sobre ele.
Eu... — recomeçou.
Todas as fantasias acerca deles trocando as primeiras palavras não o haviam preparado para a realidade. De repente sentiu os olhos de sua avó e seu abba sobre si, e de seus ancestrais por todo o caminho de volta até Talitha, e sentiu uma estocada de medo. Um suor frio extinguiu o calor na sua pele e o fez tremer. O que ele estava fazendo? Quebrando o mais sério tabu da sua família!
E aí ele viu que Marit também tremia e percebeu o risco que assumira ao vir encontrá-lo, quão perigoso era igualmente para ela. Molok produziria estrias vermelhas nas suas costas nuas se soubesse!
Eles poderiam desistir agora e ainda se salvarem. Ele correria para o alto das colinas e deixaria Marit voltar para casa. Nada teria sido mais sábio.
Mas nenhum dos dois se moveu. Estavam prisioneiros do luar e do seu desejo mútuo, a garota de 14 anos de idade e o garoto de 16 a um passo de se tornarem homem e mulher.
Mais tarde, nenhum dos dois saberia dizer quem foi que tomou a iniciativa. Mas um passo era só o que bastava, etapas restantes seguindo-se numa ordem rápida, e num instante aquilo anulava todos os séculos e éons de tempo que os precederam antes que estivessem nos braços um do outro.
Avram pressionou os lábios contra os de Marit, cujos braços enlaçaram-lhe o pescoço. No seu desesperado, apressado e muito desajeitado primeiro beijo, cada qual imaginava as paredes do cânion se fendendo e desabando para sepultar os dois numa avalanche. Eles imaginavam ouvir os gritos dos ancestrais ultrajados e sentir o hálito frio da morte cair sobre eles.
Mas no fim eram apenas Avram e Marit, abraçados e em fogo, alheios a quaisquer fantasmas que pudessem estar observando, esquecidos de tabus e repercussões, de linhas de sangue e vingança. E quando tomaram fôlego suficiente para proferir uma palavra, ambos escolheram a palavra "amor".
Na manhã seguinte, Avram ficou atento aos sinais de má sorte para a família. Acordou esperando encontrar a casa em ruínas, ou o telhado em chamas, ou uma erupção de pústulas em sua pele. Mas a manhã estava calma e sua avó tomava seu desjejum de cerveja, como de hábito. Ela não se queixou de sonhos maus, não exibiu quaisquer sinais de que algo estivesse errado. Yubal, todavia, parecia num ânimo mais pensativo do que habitualmente, mas Avram atribuiu isto à colheita de uva iminente.
Avram consumiu sua cerveja e pão em silêncio nervoso e, antes de sair de casa, prestou obediência extra aos ancestrais, deixando a maior porção do seu desjejum para eles como costumava, orando para que não assombrassem a casa por causa de uma transgressão com Marit.
Embora vivesse em medo constante de retaliação, do solo subitamente engolindo-o, ou de um raio do céu de verão atingindo-o, os dias passaram sem nenhuma evidência de má sorte entrando na casa. Avram ganhou confiança e conseguiu arranjar outro encontro secreto com Marit no Vale dos Corvos. Ela também não relatou nada fora do comum em sua casa — nem assombrações, nem má sorte —, de modo que estava tudo bem com os ancestrais que eles tivessem feito o que fizeram. "E vontade da Deusa que tenhamos prazer", Avram argumentou, enquanto a atraía para seus braços. "Portanto, quem são os ancestrais para desobedecer à Deusa?"
Como conseguiram manter suas atividades clandestinas em segredo foi um milagre que os convenceu de que a Deusa devia estar do lado deles, pois nas semanas e meses que se seguiram, os dias preenchidos com beijos roubados, noites de abraços proibidos, ninguém nas famílias suspeitou e os dois nunca foram descobertos. Avram conseguia escapar a pretexto de ir pescar e ninguém percebia nada de estranho no comportamento de Marit, pois estava na idade em que as garotas ficavam sonhadoras e davam caminhadas ao luar. Sua mãe até mesmo a encorajava, porque caminhadas ao luar com freqüência resultavam em gravidez.
Enquanto Avram e Marit expressavam seu amor secreto ao longo das estações, esquecidos do resto do mundo, perdidos nos olhos um do outro, uma mudança ocorreu no jovem de 16 anos. Quando estava com Marit, ele se sentia completo, como se fossem uma só alma partilhando dois corpos. E quando se viam afastados, ele sentia-se vazio e sem objetivo. Pior eram os cinco dias por mês que ela passava na cabana da lua em comunhão especial com a Deusa — em tais ocasiões Marit não só ficava separada dele fisicamente, como também em espírito, pois os dias confiscados eram gastos em prece e ritual e em comunhão direta com Al-Iari.
Avram e Marit partilhavam não só o seu amor e seus corpos, mas também seus sonhos. Ele contou a ela que ansiava por ser um mercador como Hadadezer. Não queria esmagar uvas com os pés por toda a sua vida. O problema era que o sonho conflitava com seu coração, pois se optasse pela vida de mercador nunca estaria em casa e não veria Marit por longo tempo. Como conciliar as duas coisas?
Marit tinha uma visão diferente: "Eu amo ser parte de uma longa corrente de vida, saber que saí da minha mãe, que saiu da mãe dela, todo o percurso de volta a Serophia e até a própria Deusa Al-Iari. Isto me dá um grande consolo e também uma sensação maravilhosa de saber que minhas filhas, quando as tiver, vão crescer para dar continuidade à corrente."
Avram foi subitamente golpeado pelas injustiças da vida. A estirpe de uma mulher continuava enquanto a de um homem não, exceto por suas irmãs.
À época em que meio ano tinha se passado e estava quase na hora do solstício de inverno e do retorno da caravana de Hadadezer, Avram e Marit orgulhavam-se de como haviam mantido o seu segredo. Tinham até mesmo conseguido fingir, na frente dos outros, que eles se detestavam. Na sua ingenuidade juvenil acreditavam que poderiam continuar com isto para sempre.
Não havia prova maior do poder criador de vida da Deusa do que na feitura do vinho. Então não era a caverna o útero da Mãe Terra? E não era o suco de uva do vinhedo de Yubal como o fluxo lunar mensal de uma mulher? Todo mundo sabia que quando o fluxo lunar de uma mulher era mantido dentro de seu útero, uma criança começava a crescer. E assim se dava com o milagre do vinho: o suco da uva era carregado para a caverna-útero e lá conservado em mistério e escuridão até que, seis meses depois, os homens chegavam para descobrir que ele tinha sido miraculosamente transformado numa bebida com "vida".
Portanto, a degustação da vindima era o mais importante e solene rito religioso no Lugar da Nascente Perene. A própria Deusa, carregada nos ombros de homens robustos, seu núcleo de cristal azul reluzindo aos primeiros raios solares, liderava a procissão até a caverna sagrada no sul. A estátua havia sido esculpida cem anos antes a partir de um único bloco de arenito. Tinha 90 cm de altura e era maravilhosa em seus detalhes, desde os olhos amplos e sábios de Al-Iari até as delicadas sandálias nos seus pés. A pedra de cristal, antiga e mágica, e poderosa além de tudo conhecido até então, assentava-se entre os seios nus da Deusa.
O ar da manhã era revigorante e gélido, o solstício de inverno estando a poucos dias dali enquanto o cortejo marchava solenemente ao longo da planície e descia para o rio, continuando rumo ao sul para o mar Morto, onde ficavam as cavernas de vinho sagradas. Os penhascos foram alcançados ao meio-dia, onde a sacerdotisa ordenou que todos dessem uma parada. Vendo que a Deusa estava sobre seu trono de pedra, Reina conduziu uma prece. Uma ovelha foi sacrificada e colocada sobre o altar.
Então a avó de Avram, seu abba, Yubal, Avram e seus irmãos mais novos continuaram a subir sozinhos a estreita trilha até a entrada da caverna.
Nem um som era ouvido em meio à sussurrada reunião, pois a primeira degustação da vindima de verão diria às pessoas como seria o ano dali para a frente.
A avó parou na entrada e, erguendo os braços, orou em voz alta para a Deusa e para quaisquer espíritos e fantasmas que pudessem estar nas proximidades. Ela pronunciou palavras que retroagiam aos dias de Talitha, quando o primeiro vinho foi criado nesta caverna, depois empoou a soleira com olíbano e folhas de loureiro, uma mistura sagrada com o intuito de santificar a área. Ela entrou primeiro, para fazer fogo com sílex e acender as lamparinas que tinham sido colocadas lá no verão. Ela pisava de leve para sua intrusão não perturbar a sacralidade da caverna.
Quando ela se convenceu de que os odres de vinho estavam intocados, que nenhum sacrilégio havia sido cometido ali durante os meses de fermentação — pois a morte era a punição para qualquer um que entrasse na caverna do vinho — ela chamou Yubal. Ele era o abba da casa, era também o abba do vinhedo, e portanto devia ser o primeiro a provar.
Para surpresa de Avram, Yubal tocou seu braço e indicou que deveria juntar-se a eles. Avram nunca cruzara a soleira da caverna sagrada. Estava cheio de espanto enquanto seguia Yubal na escuridão e podia sentir a presença do poder da Deusa a sua volta. Pensou em Marit lá fora entre os circunstantes e encheu-se de orgulho por ela poder vê-lo entrar na caverna sagrada.
Yubal fez uma pausa diante dos odres de vinho, estocados em prateleiras de calcário esculpidas das paredes da caverna, e olhou para o rapazola a seu lado, alto e bonito, com os primeiros vestígios de barba no rosto. Yubal não podia explicar por que se sentia daquela maneira em relação ao garoto. Acontecera enquanto a mãe de Avram estava grávida. Eles deitavam-se juntos em sua esteira de dormir e Yubal olhava admirado para o grande volume em sua barriga, observando-o se mexer quando o bebê estava ativo. Yubal pousava a mão naquela maravilhosa protuberância e sentia o bebê mover-se sob os dedos, e alguma coisa miraculosa baixava sobre ele — parecia que o bebê estava se mexendo dentro dele próprio.
Antes de continuarmos, Avram — disse Yubal numa voz baixa e ressonante que não ia além da entrada da caverna —, tenho algo a lhe contar. — Ele sorriu. — Novidades maravilhosas.
Ele fitou os olhos expectantes do garoto e tornou-se mais sombrio. No passado nunca tivera dificuldade para falar com Avram. Eles haviam sido muito chegados e nunca tiveram problemas de comunicação. Nem mesmo naquela vez em que Avram completou 13 anos e Yubal tivera de explicar os regulamentos e tabus em relação às mulheres, sobre a tenda especial para onde elas se recolhiam uma vez por mês, o fluxo lunar que criava vida nova e que era o único campo de ação das mulheres. Havia sido difícil explicar tudo isto ao garoto. O poder do mistério feminino simplesmente quase lhe bloqueava as palavras na boca.
Apesar de toda a sua riqueza, Yubal era um homem simples. Entendia do seu vinhedo e do seu vinho, mas as mulheres escarneciam dele. Havia aquele segredo sobre elas... aquele lugar escondido dentro delas onde um homem extraía seu prazer mas também onde a vida começava, onde a Deusa morava. O medo do sangue menstrual era forte em Yubal, tal como na maioria dos homens. Até mesmo entrar em contato com ele, segundo os mitos, significava morte instantânea para um homem, pois o sangue lunar carregava o poder da Deusa, o poder da vida e da morte. Quando o sangue de uma mulher parava de vir, isto significava que uma nova criança estava sendo formada. Mas quando o fluxo aparecia, isto significava que a vida havia morrido.
Nossa casa está para receber um novo membro — disse Yubal, agora à luz bruxuleante da caverna.
Avram fitou-o, surpreso. Na sua fascinação por Marit, Avram estivera tão cego a tudo que nem soubera que seu abba se achava envolvido em planos para unir sua família a outra. Mas, claro, era um passo que, cedo ou tarde, deveria ser dado.
As tradições e leis das alianças familiares começaram com as primeiras famílias do assentamento, gerações atrás, quando atacantes chegaram e saquearam lavouras e casas. Os ancestrais haviam decidido que, para a sobrevivência do assentamento, as famílias deviam proteger-se. Através de gerações descobrira-se que o meio mais exitoso de garantir proteção mútua em tempos de invasão ou calamidades era a permuta periódica de filhos e filhas. No caso da família de Avram, havia poucos varões para trabalhar no vinhedo e proteger a safra dos saqueadores. Yubal costumava contratar homens para ajudar, mas eles tendiam a comer as uvas e fugiam à chegada dos invasores. Do mesmo modo, não havia mulheres agora na Casa de Talitha, exceto a idosa avó. Contando somente com Yubal e Avram e os três garotos mais novos, a casa iria morrer. Assim, uma mulher seria agregada à família, de preferência uma com muitos irmãos e tios, homens dispostos a proteger o vinhedo e não roubar da família à qual se haviam juntado.
Quem vai ser? — perguntou Avram, com várias candidatas povoando sua mente — as filhas de Sol, o plantador de milho, as sobrinhas de Guri, o fabricante de lamparinas, a mais nova das irmãs Cebola.
Yubal pigarreou e mudou de posição.
Uma filha da Casa de Serophia vai se juntar à nossa família.
Avram olhou fixamente para ele.
Serophia — murmurou bobamente.
Yubal ergueu a mão.
É um choque para você, eu sei. Mas a Deusa foi consultada e falou por intermédio de Reina. Também consultamos o leitor dos astros e os videntes. Todos concordaram que uma família tão antiga e nobre como a nossa só pode aliar-se a uma casa de igual estatura. Qual seria ela senão a de Serophia?
O próprio Yubal não ficara muito feliz com a idéia, e argumentara a respeito com a avó. Edra era uma boa Casa, ele havia sugerido, e também a linhagem de Abihail. Mas a avó — e a Deusa — havia prevalecido. Não seria nenhuma outra casa. E assim, por meio de um representante (já que era impensável que abbas rivais se falassem), Yubal abordara Molok sobre a questão de criar uma aliança entre as duas famílias. Mas Yubal tivera uma vantagem. Soubera pelo mercador Hadadezer que Molok estava ficando preocupado com o seu comércio cervejeiro. Estava se tornando cada vez mais fácil fabricar cerveja — tudo que tinha-se de fazer era comprar pão de cevada, colocá-lo de molho para formar uma pasta e estocar o produto até que fermentasse, sem precisar se incomodar com um campo de cevada que exigia cultivo, colheita e proteção contra gafanhotos e ladrões. Corria o boato de que o negócio de Molok estava começando a fracassar e que ele procurava maneiras de diversificar para manter a prosperidade da família. Porém Molok era rico em outra área: sua casa tinha muitos filhos fortes, e assim Yubal decidiu que a proteção dos filhos de outro homem em troca de uma prensa de vinho e uma parte da colheita de uva era uma boa barganha. Depois de séculos de rivalidade, uma aliança foi acertada.
Embora os descendentes de Serophia devam ainda nos odiar — disse Yubal —, eles protegerão a irmã em caso de ataques, protegendo também a nós e ao nosso vinhedo.
Com qual filha, abbal — perguntou Avram num sussurro.
A mais nova. A garota Marit.
Avram sentiu-se como se atingido por um raio e empanzinado por mel ao mesmo tempo. Seu choque e sua alegria colidiram para deixá-lo tonto.
Yubal apressou-se ao perceber o choque nas feições de Avram.
Não o culpo por ficar furioso. Mas isto é pelos ancestrais e pela linhagem de sangue. Mas agora tenho notícias melhores!
Avram tentou encontrar voz para dizer: "O que haveria de melhor do que ter minha amada Marit debaixo de meu próprio teto", porém Yubal continuava a falar rapidamente:
Entrei em acordo com Parthalan, da Casa de Edra. Vamos nos unir mandando você para morar com eles. Pense nisso, Avram! Morar com os fabricantes de conchas! Uma posição muito invejada, uma vez que o trabalho deles é limpo, sem suor, sem calos, as mãos deles estão sempre macias e limpas. E eles têm várias filhas bonitas com as quais você pode ter prazer.
Yubal estava contente com sua própria esperteza — veja só a expressão no rosto do garoto! Ele está prestes a desmaiar com a sua súbita boa sorte. Uma vez que Avram era um sonhador, sempre imaginando o que haveria do outro lado das colinas e não se interessando pelo vinhedo ou pela produção do vinho, Yubal achara que a melhor solução estava em Parthalan, pois ele e suas filhas viajavam anualmente para o Grande Mar, onde coletavam conchas de cauri, mariscos, vieiras e madrepérola, que traziam para ser esculpidas em forma de jóias, fetiches, amuletos e adornos mágicos. Parthalan era rico e estivera procurando um varão saudável para agregar a sua família. Portanto, Yubal fechou um acordo com Parthalan: Avram ia se juntar à Casa de Edra e, em troca, Parthalan faria um pagamento anual à Casa de Talitha em conchas de madrepérola.
O rosto de Yubal reluzia de alegria à luz bruxuleante.
Finalmente você verá o que existe do outro lado das colinas! Que vida melhor você poderia pedir?
Oh, abba — gritou Avram, a voz ressoando das paredes da caverna. — Estas são notícias terríveis.
A face de Yubal murchou.
O que quer dizer? Você devia estar jubiloso. Nunca se sentiu feliz trabalhando no vinhedo ou na prensa de vinho. Agora lhe está sendo oferecida a chance de ver o que existe do outro lado do horizonte. Estou realizando o seu sonho e você fica furioso?
Meu sonho é Marit! — replicou Avram.
Yubal o olhou fixamente.
Do que está falando?
Marit. Eu amo Marit.
—- Você tem uma paixão pela garota? Eu nem fazia idéia. Você por certo manteve isto em segredo.
Avram baixou a cabeça.
Abba, não posso deixá-la.
Mas tem de fazê-lo.
Não posso ser separado de Marit.
Você ainda é muito jovem, companheiro. Uma vez que passar as mãos nas coxas suculentas das filhas de Parthalan...
Não quero as filhas do fabricante de conchas. Quero Marit!
O rosto de Yubal ficou sombrio. Amava o garoto, mas Avram estava passando dos limites na caverna sagrada.
Você não pode tê-la, Avram, e fico de coração partido agora, ao saber o que fiz. Mas todos os arranjos já foram feitos com Parthalan, os acordos estabelecidos. Juramos diante da Deusa. Não podemos voltar atrás em nossa palavra. — Yubal pousou a mão pesada no ombro de Avram. — Mas pense nisto: Marit estará em nossa casa, a salvo e protegida. E estará aqui quando você voltar do Grande Mar.
Avram sentia-se totalmente infeliz.
Os caçadores de madrepérola se ausentam por um ano a cada vez.
Mas eles retornam para esculpir e vender suas conchas. Você ficará com Marit então.
Eu morrerei no Grande Mar.
Yubal suspirou. O dia não correra como ele esperara. Ainda assim, nada se podia fazer a respeito. Além disso, Avram era jovem, superaria o problema. Era hora de prosseguir e se lembrar do que tinham ido fazer na caverna. Mas, primeiro, havia algo mais que Yubal queria fazer.
Ele usava uma presa de lobo numa tira de couro em volta do pescoço. Certa vez estivera caçando nas colinas e fora atacado por um lobo. Yubal por pouco não morrera — seu corpo ainda exibia as cicatrizes. Os homens que o trouxeram para casa, coberto de sangue, também tinham trazido o lobo morto, com a faca de Yubal enterrada em seu peito. Yubal mais tarde retirou uma das presas do lobo como troféu e a colocou num pingente: um grande canino amarelo ainda com as manchas cor de ferrugem de seu próprio sangue. Era uma poderosa proteção contra malefícios porque possuía o espírito do lobo.
Ele tirou a presa do pescoço e a pendurou no pescoço de Avram.
Para protegê-lo enquanto estiver no Grande Mar.
O jovem ficou sem fala. Olhou para o poderoso talismã e sentiu uma constrição na garganta. Custou a encontrar a voz.
— Juro honrar a família e o seu contrato com Parthalan, abba.
E na sua mente ele viu Marit, acenando adeus de um outeiro, sua figura ficando menor até se perder de vista.
Só mesmo um cego, pensou Hadadezer cinicamente, não veria que Yubal tinha cometido um terrível erro.
Enquanto devorava um pernil de cordeiro, o mercador de obsidiana vez por outra limpava as mãos gordurosas na sua farta barba e olhava em torno, achando que o banquete mais parecia um funeral do que uma festa. Os irmãos da garota do clã de Serophia contemplavam o dote. Molok bebia demais. A mãe de Marit exibia um falso riso, demasiadamente alto. Usando jóias de conchas e ossos em excesso, parecia que a qualquer momento desabaria sob todo aquele peso. A avó da Casa de Talitha, exibindo um rosto nauseantemente doce, bajulava os convidados. E havia comida demais, mesmo para estas famílias ricas. O que esperavam? Que uns poucos gestos, um ritual prescrito, juras diante de sua deusa —- e de repente todo o ódio que tinha sido entranhado neles desde o nascimento desapareceria? Pelo Grande Criador! Havia má sorte demais pairando sobre o banquete. Pela primeira vez, em todos os seus anos de comes e bebes no Lugar da Nascente Perene, Hadadezer estava ansioso por voltar para sua própria tenda e afastar-se daquela atmosfera aziaga.
Infelizmente, era um convidado de honra — sua caravana deveria partir no dia seguinte para o norte — e, portanto não podia se retirar. Tinha de ficar sentado naquela festa deplorável e depois seguir a procissão que sairia da casa da garota até seu novo lar. Uma curta distância separava a Casa de Serophia da de Talitha, mas na mente de Hadadezer seria um cortejo interminável. Suspirou. Felizmente não se esperava que adiasse sua partida para juntar-se à procissão que levaria o taciturno garoto do clã Talitha, Avram, para seu novo lar com os fabricantes de conchas.
Pelo menos a garota parecia feliz, sentada no seu pequeno trono decorado com flores de inverno, na cabeça uma coroa de flores de loureiro, o peito mal se elevando e baixando ao peso de tantos colares de conchas de cauri, presentes da família e de amigos. Mas seus novos parentes, Yubal e Avram, pareciam tão desolados quanto duas almas poderiam estar. E estavam bebendo demais, mesmo para os padrões de Hadadezer.
A noite arrastou-se com um falso ar de felicidade até que finalmente a sacerdotisa Reina deu o sinal para que se efetivasse o estágio final da unificação das duas famílias. Hadadezer suspirou de alívio e sinalizou para seus carregadores, que imediatamente se apresentaram e puseram nos ombros a liteira. Seguiram a garota e sua família a uma distância discreta, depois o mercador fez outro sinal e seus carregadores desviaram-se da procissão e levaram o amo para o acampamento da caravana, onde duas jovens adoráveis aguardavam para partilhar a cama dele.
Yubal mal podia caminhar. Lamentava tanto o contrato que fizera com os caçadores de madrepérola—na verdade achara que Avram receberia a notícia com satisfação — que enfiara mais vinho pela goela abaixo do que estava acostumado. Uma dor profunda que nenhuma quantidade de bebida fermentada poderia amenizar também afligia Yubal: a realidade de que ele tivera de procurar Molok para propor esta aliança. Embora de início se sentisse presunçoso ao saber do desespero de Molok para salvar seu decadente negócio de cerveja, até mesmo saindo das negociações achando que fizera um favor ao homem, a realidade do passo que tinha dado agora estava cravada na sua garganta como um espinho. Por maiores que fossem as bênçãos da Deusa ou os bons augúrios dos amigos, as garantias dos videntes e dos leitores de astros de que fizera a coisa certa, nada podia afastar a sensação amarga no estômago de Yubal. Ele ainda odiava o clã de Serophia, Molok acima de todos, e agora lamentava não ter encontrado outro jeito de proteger seu vinhedo.
Avram também estava infeliz porque partiria em uma semana para passar um ano fora. E, assim, também bebera mais vinho do que estava acostumado.
Quando o cortejo chegou à casa de Talitha, Reina invocou as bênçãos da Deusa e o grupo reunido saudou e desejou felicidades às suas famílias. Molok e sua irmã deram um beijo de despedida em Marit, os carrancudos irmãos dela olharam para Yubal e mandaram-lhe uma mensagem silenciosa de que estariam muito atentos ao bem-estar da irmã. E então o grupo se desfez, com Yubal e Avram cambaleando bêbados para seus catres enquanto a avó conduzia Marit para a parte da casa destinada às mulheres.
A lua estava cheia, amarela e protuberante, mais parecendo uma lua de primavera do que de inverno, e penetrava através do telhado de palha com mil raios minúsculos. A luz radiante também penetrou pela pequena janela na parede de tijolos de lodo e caiu em frente a Marit enquanto ela se deitava de olhos arregalados em sua nova cama. Ela aguardava por Avram. Haviam combinado que, quando todos estivessem dormindo, ele viria para a cama dela.
Mas onde ele estava?
Ela prestou atenção no silêncio na casa, quebrado apenas pelo ressonar da velha e dos irmãos mais novos. Depois, decidindo que não esperaria mais, deslizou para fora da cama, nua, e foi pé ante pé até o outro lado.
No mesmo momento, Yubal agitava-se num sonho afetado pela lua no qual a sua amada parceira de cama, a mãe de Avram, lhe aparecia, dizendo que não estava morta, afinal, e que voltara para ele. Mas enquanto a tomava nos braços e eles começavam a fazer amor, acordou de súbito e piscou numa névoa de embriaguez, incapaz de distinguir entre sonho e realidade. Para onde ela tinha ido?
Ouvindo um som, virou a cabeça para o lado e a viu — a mãe de Avram, jovem, esguia e nua, atravessando na ponta dos pés o cômodo comunal. Ela estava vindo para o lado masculino da casa, para ele.
Yubal conseguiu se levantar e se aproximar dela, puxando-a rudemente para seus braços.
O grito de Marit acordou Avram. Ele piscou na escuridão e franziu o cenho para as duas figuras humanas capturadas brevemente na luz irregular da lua. Teve dificuldade de se livrar da visão dupla. Esfregou os olhos e observou de novo.
Ele levantou-se e caiu de joelhos. Não, devia estar sonhando. Era uma alucinação.
Olhou para eles novamente. A imagem nadava diante dele, como se a casa houvesse de alguma forma afundado na nascente perene, estivesse debaixo da água. Viu braços pálidos contorcendo-se como serpentes, e duas cabeças realizando uma dança estranha. Pernas trôpegas, corpos se agitando. Amantes num abraço aquático.
E então vivenciou um daqueles momentos de clareza absoluta em meio a um estupor embriagado: Marit! Nos braços de Yubal!
Tentou outra vez se pôr de pé, mas o chão debaixo dele oscilava e balançava como a torre de observação numa tempestade. A bile subiu- lhe à garganta e ele percebeu que ia vomitar.
Correu para fora a tempo, vomitando no pequeno canteiro de repolho de sua avó. Aspirou o ar noturno e quando começava a voltar para a casa, a náusea recomeçou.
As mãos de Yubal no corpo de Marit.
Tentou voltar, porém um mal-estar pior do que aquele causado pelo vinho o sobrepujou. Yubal e Marit! Seus pensamentos voavam e colidiam, sem coesão, não passando de uma mixórdia de conceitos e sentimentos borrados.
Assim, ele virou-se e correu. Suando e sentindo-se mal, com o mundo rodopiando a sua volta, se embrenhou no vinhedo, onde seu cérebro intoxicado explodiu com pensamentos irracionais. A mente perturbada de Avram chegou a noção de que Yubal planejara tudo aquilo só para ter Marit.
Não — sussurrou, enquanto desabava no chão.—Não pode ser.
Tentou achar um sentido para o que seus olhos tinham visto, mas o cérebro estava encharcado de vinho, os pensamentos não vinham numa ordem lógica. De repente, raiva e ciúme explodiram dentro dele.
Erguendo o punho em direção ao céu, gritou:
Você me traiu! — Engasgou nos seus soluços enquanto se equilibrava nas pernas trôpegas. — Fez tudo isto de propósito! Trazendo minha amada para a casa e me enviando para o Grande Mar. Você queria ela para si o tempo todo! Maldito seja, Yubal! Que sofra mil mortes terríveis!
Soluçando cheio de náuseas, o mundo rodopiando a sua volta, Avram correu de novo, chocando-se com as videiras, os olhos cegados pelas lágrimas, a doença de corpo e alma engolfando-o enquanto mergulhava numa escuridão que o engoliu por completo.
Luz brilhante. Gemidos.
Avram jazia completamente imóvel, imaginando por que se sentia tão mal. A cabeça martelava e o estômago roncava. A boca parecia tão seca como poeira e amarga.
Outro gemido. Ele percebeu que saíra de sua própria garganta.
Pouco a pouco, ergueu as pálpebras e se acostumou com a luz. Luz do sol, filtrando-se por uma abertura numa tenda.
Por que ele estava numa tenda?
Quando tentou se sentar, a náusea o percorreu numa onda tão poderosa que ele caiu de costas no leito. Um leito de peles. Não o seu próprio leito.
De quem era aquela tenda? E por que ele estava nela? Como chegara ali? Tentou se lembrar, mas sua mente estava escura como um tanque de lama. A memória chegou-lhe em vagas reminiscências: o banquete celebrando a aliança das duas famílias, o cortejo para casa. Sua avó conduzindo Marit para o setor feminino da casa, ele e Yubal se deitando nas suas esteiras de dormir.
A partir daí, nada.
Quando ouviu um som sussurrante, voltou-se na sua direção e viu uma mulher de pele escura embalando utensílios de cozinha num cesto. Tentou falar e, quando ela viu que ele estava acordado, deu-lhe um odre de água para beber, explicando que ela e suas irmãs o haviam encontrado do lado de fora da tenda, jazendo sobre o próprio vômito. Trouxeram- no para dentro e o limparam, depois deixaram-no dormir.
Ele sentou-se e aninhou a cabeça, que estava cheia de demônios furiosos. O jovem de 16 anos não se lembrava de ter-se sentido tão mal em sua vida. Estava doente? Vomitando? Mas por que ali no acampamento da caravana? Por que não na sua casa?
Ele conseguiu se ajoelhar, depois se pôr de pé, mas oscilou instavelmente e sua cabeça martelou sem piedade. Confuso, observou a mulher azafamada em levar coisas para fora da tenda. De fato, tudo que restava era o leito onde tinha dormido. Então lembrou-se: a caravana de Hadadezer estava partindo esta manhã.
Devo voltar para casa antes que notem que saí.
Mas a luz cegante do sol o fez parar na abertura da tenda. Pondo a mão sobre os olhos, combateu a náusea crescente e tentou aprumar-se. Sua bexiga estava cheia e ele tinha urgência em aliviar-se.
Havia privacidade atrás da tenda. Enquanto urinava, viu o vasto acampamento sendo desmontado. Então virou-se na direção do assentamento, onde percebeu que um grande coro de choro e lamento erguia-se para o céu, um som que só ocorria quando alguém importante tinha morrido.
Contornando a frente da tenda onde a mulher de pele escura estava descravando as estacas, Avram perguntou-lhe o que havia acontecido no assentamento. Ela explicou que um vinicultor estivera fazendo amor com uma garota e morrera nos braços dela.
Avram pestanejou para ela. Um vinicultor? Fazendo amor com uma garota?
E tudo retornou: Avram acordando para ver Yubal beijando Marit. A fuga para a horta, o punho erguido e a maldição gritada aos céus. E então...
Agora se lembrava, uma cena indistinta e horrenda que observara do seu esconderijo entre as videiras: um grito, seguido por Marit correndo da casa. Sua avó saindo, chorando e golpeando o peito. Os irmãos de Avram cambaleando como se atingidos por um raio. Outras pessoas chegando, indo para a casa. Os vizinhos gritando: "Yubal está morto! O abba da Casa de Talitha foi juntar-se aos seus ancestrais."
Avram agora lembrava-se do seu choque embriagado à ocasião, escondido nas videiras, sem conseguir sair do lugar em estupefação. Yubal estava morto?
E então a lembrança: Avram, sacudindo um punho para o céu. "Que sofra mil mortes horríveis!"
Ele correu às cegas do vinhedo, nauseado e confuso, descobrindo-se no santuário da Deusa.
A memória retornou-lhe, indistinta e obscura. A casa de Al-Iari, pequena e de teto rebaixado, o interior escuro iluminado por lamparinas que lançavam luz sobre prateleiras repletas de amuletos mágicos, ervas curativas, poções, pós e encantos para fertilidade. E acima o altar dela...
A estátua.
E, deslumbrante à luz das lamparinas, a pedra azul. O coração da Deusa. O seu coração clemente. Em seu desespero embriagado, Avram tinha impulsivamente lançado os braços em torno das pernas de pedra de Al-Iari, perdendo o equilíbrio e levando a imagem ansiada com ele. Um estalido alto.
Avram agora cambaleava contra a tenda como se tivesse sido atingido. A Deusa caída estilhaçada no chão.
Não podia ter sido real! Não passava de um distorcido e monstruoso pesadelo.
Quando ouviu alguém fazendo-lhe uma pergunta, ele piscou para a mulher de pele escura.
— Você conhece o vinicultor? — repetiu ela.
Mas tudo em que ele conseguia pensar era na estátua estilhaçada de Al-Iari. Não houve nenhum pesadelo, tinha sido real. Ele havia matado a Deusa!
E então outra lembrança: o cristal azul, sua mão buscando-o cegamente, enroscando-se em volta dele, tateando por seu talismã, enfiando a pedra dentro da macia bolsa de couro.
A respiração suspensa pelo choque, Avram trouxe agora a mão para cima e pousou-a sobre o peito, onde podia sentir, sob a túnica, a protuberância do talismã. Mas agora estava maior e tinha uma nova solidez.
A pedra azul, o coração da Deusa.
Tentou se mover, tentou gritar, forçar lágrimas, impelir os pulmões a expressar seu ultraje e pesar. Mas nada dentro dele se moveu, seu corpo não obedecia. Como um homem sob um encantamento, observou as mulheres desmontarem a tenda e a empacotarem num trenó. E quando começaram a caminhar com o restante da caravana, um êxodo em massa se retirando do Lugar da Nascente Perene, Avram, sem hesitar, juntou-se a ela.
Era uma família de sete mulheres: avó, mãe, três filhas e duas primas. Disseram-lhe que eram emplumadoras e que seria bem-vindo se quisesse acompanhá-las. E assim ele seguiu com as emplumadoras, um rapaz mudo e sem nome que teria deixado as mulheres precavidas se não fosse tão bem-apessoado e nitidamente o filho de uma família rica.
Os dias e semanas se passaram numa névoa. Avram fazia o trabalho pesado para as mulheres durante o dia e à noite elas o acarinhavam e beijavam, dizendo que ele era um garoto muito bonito, e o atraíam para seus corpos cheios de luxúria. Passado algum tempo, o entorpecimento se desvaneceu e Avram reconheceu o completo infeliz em que se transformara. Ele matara seu abba, trouxera desgraça para sua linhagem e rompera um contrato com Parthalan, tinha abandonado Marit e, ao roubar o coração da Deusa, a havia matado igualmente. E assim ele permitia que as mulheres, que desconheciam os detalhes de sua tragédia, o consolassem e lhe oferecessem refúgio.
Elas ignoravam que o garoto viajando em sua companhia não passava de uma sombra, uma carapaça sem alma que não tinha nenhum objetivo. Seu corpo movia-se por instinto — para dormir, comer, urinar. Quando uma xícara era colocada em suas mãos ele bebia, e quando as mulheres visitavam seu leito à noite, o corpo de Avram reagia como o de um homem e ele extraía seu prazer. Mas o próprio Avram não sentia nenhum prazer, nenhuma fome ou dor. Ele se movia num domínio que não pertencia nem aos vivos nem aos mortos.
A caravana seguia rumo ao norte, um lento rio de humanidade sobrecarregada, parando em pequenos assentamentos e depois prosseguindo, passando pelo lago de água doce e a Caverna de Al-Iari, na floresta luxuriante onde crescia a árvore lebonah. Avram puxava o trenó das emplumadoras e montava a tenda delas à noite enquanto suas companhias femininas o alimentavam e se deliciavam com sua juventude e inocência. E embora ele houvesse perdido todo cuidado com sua própria segurança e bem-estar, alguma coisa nele o fazia manter-se escondido de Hadadezer, que tinha sido amigo de Yubal.
Entorpecido em mente, corpo e espírito, Avram observava as emplumadoras no seu habilidoso trabalho. O talento delas, conhecido ao longo da rota da caravana, que ia das montanhas do extremo norte ao delta do Nilo, residia no seu instinto para dispor penas sobre couro do modo como eram assentadas em camadas num pássaro. Eram também peritas no uso da cor, de modo que seus leques, capas, cintos e capuzes obtinham os mais altos preços.
Sabendo que havia um espírito mau de doença dentro dele, a matriarca alimentava Avram com infusões medicinais destinadas a afastar os maus espíritos. Ela cantarolava sobre Avram e pousava nele as mãos curativas. Suas filhas e sobrinhas o rodeavam num adorável círculo e cantavam para ele, especialmente quando ele acordava dos pesadelos nos quais via-se correndo atrás de Yubal, tentando chamá-lo de volta.
Talvez não houvesse um espírito maligno dentro dele, afinal, a matriarca por fim decretou quando as suas ministrações não apresentaram reação. Talvez o próprio espírito do rapaz tivesse morrido. E uma vez morto, um espírito não podia ser revivido.
Era primavera quando a caravana finalmente emergiu de um desfiladeiro da montanha e serpenteou para seu platô imenso e relvoso onde outras famílias estavam acampadas junto a um lago raso. As emplumadoras convidaram Avram a continuar com elas até a sua aldeia de casas de pedra, situada a apenas um dia de viagem, onde ele poderia viver uma vida de ócio com elas por dois anos, antes que se juntassem de novo à caravana de Hadadezer. Mas ele sentiu uma compulsão em movimento, o sol poente chamando-o por motivos que não entendia. Ele descobriu que este era um acampamento de inverno e que uma vez que as chuvas cessassem as famílias ali acampadas descravariam as estacas das tendas e seguiriam os rebanhos que migrariam em busca da relva de primavera. Portanto foi até as tendas e ofereceu-se como trabalhador braçal caso lhe permitissem viajar com eles.
E assim Avram continuou a sua fuga do Lugar da Nascente Perene. As emplumadoras deram-lhe um adeus lacrimoso e uma linda capa feita com penas de ganso, e com sua nova família ele viajou através do platô da Anatólia, uma suave planura de relva baixa, salgueiros atrofiados e tulipas e peônias silvestres. Eles seguiram enormes manadas de cavalos, burros e antílopes selvagens. Avram viu os camelos de corcova dupla, marmotas gordas se aquecendo ao sol, estorninhos cor-de-rosa agrupados aos milhares, e grous que construíam os ninhos no solo. Mas, no que lhe interessava, todas essas maravilhas poderiam ter sido cinza e pedra. Avram não dissera seu nome nem contara sua história à família nômade, mas trabalhava duro para eles e mantinha sua paz. Quando as mulheres rastejavam para o seu leito, reagia tão objetiva e mecanicamente como tinha sido com as emplumadoras. Ele dava-lhes prazer com seu corpo, mas não dava nada do seu coração.
Quando chegaram à orla ocidental do platô, ele acenou para a família e continuou a descida para o litoral, onde alcançou um exíguo corpo de água que erroneamente tomou por um rio, não sabendo que era de fato um estreito ligando dois grandes mares e separando dois continentes. Avram também não sabia do encolhimento de geleiras no continente europeu e da resultante elevação do nível do mar, que ao longo dos milênios transformaria este pequeno estreito numa ampla passagem de navegação que seria um dia chamado de Bósforo.
Foi aqui que ele viu barcos pela primeira vez e conheceu um homem que o levaria para o outro lado. Avram acabara de completar 18 anos e achava que sua vida chegava ao fim.
Ele viajava sozinho.
Se percebia sinais de humanos, fazia um longo contorno para evitá-los. E na sua auto-suficiência adquirida durante a inflexível jornada para o ocidente, Avram o sonhador tornou-se gradualmente Avram o caçador, aquele que preparava as armadilhas, o pescador. Ele desenvolveu armadilhas para pegar coelhos e lanças para pescar salmão. Escavava em busca de crustáceos ao longo das praias e dormia ao lado de uma fogueira solitária à noite. A capa de penas o protegia do vento e da chuva e durante o verão inclemente ele a pendurava em estacas para fazer sombra. Seu corpo adolescente magro começou a ganhar musculatura, e a barba despontou. Ele prosseguia para oeste quando podia, mas quando encontrava litorais e via-se à orla de mares sem praias do lado oposto, movia-se rumo ao norte, sem saber que estava traçando rotas que oito milênios depois seriam seguidas por homens chamados Alexandre, o Grande, e São Paulo.
No estuário na costa leste da terra que um dia seria chamada Itália, ele se deparou com uma aldeia onde pessoas comiam uma quantidade tremenda de amêijoas; tinham até mesmo uma ferramenta especial de sílex para abri-las. Aquele povo vivia em abrigos de palha que vinham abaixo a cada tempestade. Como Avram fizera uma exaustiva viagem e necessitava de descanso, decidiu permanecer com eles por uma estação e depois seguir em frente. Mas não dissera aos comedores de amêijoas o seu nome e sua história, nem aprendera a língua deles, pois agora considerava a vida uma efêmera impermanência, e saber de nomes e histórias não tinha mais importância. Sempre que ansiava por seu lar no Lugar da Nascente Perene, ou experimentava sentimentos cálidos naquela direção, ele endurecia seu coração juvenil e se recordava do crime que havia cometido e da desonra que trouxera para sua família. Era um homem amaldiçoado e destinado a ser excluído para sempre de seu próprio povo.
O horizonte continuava a chamá-lo, tal como na sua infância, só que agora ele o seguia não para ver o que havia do outro lado, mas sim porque não tinha mais para onde ir. E na sua necessidade irracional de pôr cada vez mais chão debaixo de seus pés, em lugar nenhum encontrou outro assentamento igual ao seu na nascente perene. Certa vez havia imaginado que em toda parte as pessoas viviam em casas feitas de tijolos de lodo e mantinham seus próprios pomares, mas agora via, enquanto viajava para o norte, atravessando rios e prados sem nome, subindo colinas e picos, que os habitantes do Lugar da Nascente Perene eram únicos no mundo.
Soube também algo mais: por causa da presa de lobo que Yubal lhe dera na caverna sagrada do vinho, ele não podia sofrer dano algum. Nos dias e semanas viajando para a nascente do rio Jordão e além, e depois para oeste através do platô anatoliano, e finalmente ao fazer a travessia num barco de fundo chato, nenhum dano sofrera. Se os comedores de amêijoas o receberam bem, outros o trataram com cautela. Os animais o deixavam em paz. E assim ele veio a perceber que era o poder do espírito do lobo que o protegia.
Mas a proteção não lhe trazia nenhuma alegria ou auxílio, pois havia uma certa ironia no fato de Yubal ter dado a ele a presa de lobo. Se Yubal a tivesse conservado para si, a maldição de Avram não o teria matado.
Ele continuou rumo ao norte, seguindo rios caudalosos e sobrevivendo em montanhas mais altas do que qualquer uma que já vira. Descobriu florestas e bétulas, pinheiros e carvalho nas quais a caça principal era o cervo vermelho e gado selvagem. Ali deparou com uma raça de caçadores de bisões. Ele trocou sua capa de penas, que já não era mais excelente, mas ainda assim uma novidade, por peles, botas e lança adequadas. Juntava-se a grupos de caça, ficava com eles por um tempo e depois seguia viagem. Ele nunca revelava o seu nome, jamais contava a sua história. Mas era um bom caçador, sempre dividia a caça, respeitava as leis e os tabus dos outros e nunca se deitava com uma mulher sem o consentimento dela.
Em todo este tempo mantinha a pedra azul junto ao peito, escondida, um símbolo de seus crimes e sua vergonha. Desde sua fuga do Lugar da Nascente Perene que ele não a tirava de sua bolsinha-talismã. Mas nem um dia se passava sem que não estivesse ciente de sua presença ali: fria, impessoal, sentenciosa. E à noite, quando era visitado por sonhos — de Marit procurando por ele no Vale dos Corvos, Yubal chamando-o para baixo da torre de observação —, nada contava aos companheiros a respeito do seu tormento.
Chegou o dia em que a inquietação lhe sobreveio novamente. Olhando para o norte, perguntou aos caçadores de bisão o que havia naquela direção. "Fantasmas", eles disseram.
Assim, Avram disse adeus aos caçadores de bisão e seguiu rumo ao norte para a terra dos fantasmas.
Enrolado em peles, com lanças e flechas amarradas às costas, e viajando sobre as raquetes de neve que os caçadores lhe tinham dado, Avram finalmente chegou à orla de uma vasta e branca região selvagem. Havia mais neve do que ele já vira, neve infinita sem nenhuma montanha oposta, nem mesmo um horizonte, e os ventos sopravam mais ferozmente do que jamais imaginara, produzindo rajadas uivantes, mais parecidas com os gritos de mil demônios, que lhe atravessavam a pele até congelar seu próprio núcleo. Ele pensou: Cheguei ao fim do mundo. Este é o meu destino.
Enquanto começava a caminhar, o vento mudou e soprou seu capuz de pele para trás, fulminando seu rosto com um bafo gélido. Pegando rapidamente o capuz e mantendo-o com firmeza debaixo do queixo, ele prosseguiu em frente, ignorando que de fato estava cruzando um mar, que não se encontrava mais em terra firme. Não fazia idéia do que havia no fim de sua jornada, exceto uma vaga noção de que se dirigia para a terra dos mortos. Enquanto lhe ocorria que já deveria estar morto e que isto era uma mera formalidade, o gelo sob seus pés subitamente cedeu, mergulhando-o na água gelada.
Avram lutou freneticamente por um apoio no gelo, que continuava a se quebrar sob suas luvas de pele. Enquanto se debatia na água, algo chocou-se contra suas pernas e ele vislumbrou um enorme monstro marrom nadando em volta dele. Foi dominado pelo terror. Não desejava mais estar morto, mas sim bem vivo. Porém seus esforços eram fúteis enquanto sentia as pernas se entorpecerem na água, um entorpecimento que começava a se arrastar por todo o corpo. Quando o último ponto de apoio no gelo se rompeu e a água gélida cobriu-lhe a cabeça, seu último pensamento foi para Marit e para o cálido brilho do sol.
Avram estava voando. Mas não como um pássaro, percebeu, pois estava meio sentado, meio reclinado, os braços dobrados confortavelmente sobre o peito, debaixo de uma pilha de peles. É assim que os mortos viajam para a terra dos ancestrais?
Enquanto piscava através de uma camada de pele em volta da face, viu a paisagem toda branca passar correndo. Franziu o cenho. Não voava, tampouco estava correndo, pois suas pernas estavam esticadas diante dele e igualmente embrulhadas em peles quentes. Olhou direto à frente e quando seus olhos foram capazes de focalizar, viu que estava sendo transportado por uma alcatéia de lobos. Sou o jantar deles. Talvez fosse uma vingança por Yubal ter matado aquele lobo tantos anos atrás. Portanto, a presa não mais servia como proteção.
Podem me comer então, gritou sua mente. É o que mereço. E de novo caiu na inconsciência.
Quando acordou em seguida, a sensação de voar tinha diminuído e ele viu pequenas colinas redondas e brancas se delineando mais perto. Olhou para os lobos de novo e desta vez percebeu que não eram lobos comuns e que pareciam estar atrelados a tiras de couro. Quando ouviu um grito, notou que alguém estava de pé logo atrás, elevando-se acima dele, gritando comandos para os lobos. Tentou ver um rosto, mas ele estava coberto com peles.
Decidindo que não tinha certeza de que preferia estar morto, desmaiou de novo e quando acordou foi para descobrir-se num pequeno lugar escuro que cheirava a óleo queimado e a suor humano. Piscou e tentou ajustar a visão. O teto era feito de gelo. Estaria ele numa caverna de gelo? Nada disso, ele podia ver as suturas onde os blocos de gelo se uniam. Era uma casa — feita de gelo. E estava deitado em algum tipo de leito, e por debaixo das peles estava nu. Alguém lhe tirara as roupas! Tentou apalpar seu talismã, mas havia algo errado com seus braços. Não conseguia movê-los.
Uma voz próxima, a seguir uma sombra na parede. Piscou de novo e viu um rosto entrar em foco. Velho, enrugado e com um sorriso desdentado. Ela falou. Por fim, ele achou que era uma mulher. E então, para seu espanto, ela retirou suas cobertas, expondo-o ao ar. "Mulher indecente!", gritou, só para perceber que o grito tinha sido dentro de sua cabeça. Ele não podia mover a mandíbula, nem mesmo abrir a boca. Enquanto Avram jazia alquebrado e indefeso, a velha escancarou sua boca e espiou dentro; depois inspecionou seu umbigo e estimulou os testículos. Finalmente, as mãos rudes começaram a trabalhar na sua carne congelada, primeiro apertando e pressionando seus dedos, depois massageando a vida de volta a eles. Ergueu as mãos dele até sua boca e soprou nelas. Ele não sentiu o hálito quente nem o toque das mãos. E quando ela se inclinou sobre seu corpo, continuou a não sentir nada.
Ela parou e lançou-lhe um olhar preocupado. Após proferir algumas palavras incompreensíveis, rastejou para fora do abrigo por uma abertura que não havia notado antes. "Você não tem que deitar em cima de mim!" ele queria gritar, mas seus lábios e a língua não obedeciam.
Ela não o deixou por longo tempo e quando saiu e retornou, estava acompanhada de outra pessoa, uma figura alta e de ombros largos. Avram observou intrigado a outra pessoa despir camadas de roupas para revelar seios fartos, cintura fina e quadris deslumbrantes. Ela deitou-se ao lado dele e o tomou nos braços. A velha os cobriu e saiu da cabana de gelo.
Avram vagueou dentro e fora da consciência muitas vezes antes de ficar plenamente desperto. A primeira coisa que notou foram as pestanas douradas jazendo no alto de faces pálidas, um nariz afilado e uma larga boca rosada. Bem mais tarde, ele descobriria que o nome dela era Frida e que fora quem salvara sua vida ao puxá-lo do gelo.
Sua recuperação levou semanas e deveu-se principalmente a Frida e à velha, que o massageavam e alimentavam com peixe e sopa e ervas curativas. Homens vieram olhá-lo, agachando-se no interior da pequena casa e fazendo perguntas que não entendia. A cada noite ele sentia-se adormecer nos braços cálidos de Frida e despertar na manhã seguinte para descobrir o cabelo cor de linho dela espalhado sobre seu peito. Na manhã em que acordou com uma ereção, a velha declarou-o curado e Frida não dormiu mais com ele depois disso.
Mais tarde, ele descobriria por que salvaram sua vida e por que dividiram com ele o pequeno estoque de comida que tinham. Antes que ele houvesse caído no gelo, antes que tivesse começado sua jornada através do mar congelado, um vento soprara o capuz da sua cabeça e Frida o tinha visto. Ignorando que havia gente por perto, Avram pegara o capuz de volta e começava a seguir pelo ermo congelado, mas não sem Frida ter visto o cabelo preto e a pele trigueira. Entre os deuses deles, ela explicaria mais tarde, depois que Avram aprendeu a língua, os de cabelo escuro eram os guardiães das florestas e cavernas e possuíam poderes prodigiosos.
Certa manhã, finalmente, a velha depositou as roupas de Avram diante dele, novamente secas e macias, e ele ansiosamente as vestiu. Não conteve a alegria ao ver seu talismã, ainda na bolsinha de couro, e que pareceu-lhe estar intocado. Mas mesmo assim a abriu, para certificar-se de que nada de valor se tivesse perdido na sua luta com o gelo. Embora a velha observasse curiosa à medida que os objetos eram retirados — a tira que era o seu ressequido cordão umbilical, um dente de bebê, a presa de lobo de Yubal —, foi só quando viu o cristal azul que ela gritou.
Para espanto de Avram, ela rastejou apressada retirando-se da casa de gelo e ele pôde ouvi-la gritando lá fora. Um momento depois, o homem mais corpulento que Avram já vira espremeu-se para dentro. Por um instante, Avram pensou que o estranho ia roubar o cristal. Em vez disso, ele se acocorou no chão de gelo e olhou maravilhado para a pedra. Olhou para Avram e fez uma pergunta à qual este só pôde responder: "Não entendo a língua de vocês." O homem assentiu e começou a se retirar. Depois parou e fez sinal para que Avram o seguisse.
Com o talismã em segurança em torno de seu pescoço e oculto de novo sob a túnica de pele, Avram deu seus primeiros passos para descobrir que a "manhã" tinha raiado apenas em sua imaginação, pois descobriu-se numa terra de escuridão constante.
O povo reuniu-se em volta dele, timidamente curioso acerca do recém-chegado. Usavam jaquetas com capuz, calças e botas, à prova de água, de pele de foca, e todos eram tão parecidos que ele imaginou como os homens e mulheres podiam distinguir seus parceiros nos momentos de prazer. Mas a maioria deles se assemelhava a fantasmas, pois a pele era como fumaça branca e o cabelo tinha a cor de trigo desbotado. E como eram altos! Até mesmo as mulheres superavam Avram em altura. Elas pareciam considerar uma novidade a sua baixa estatura, cabelo preto e pele azeitonada.
O líder do clã apresentou-se como Bodolf.
Na sua jornada pelo continente, Avram havia encontrado ursos. Bodolf lhe lembrava um urso — um urso enorme e pálido, com uma risada trovejante. Bodolf não usava nenhum óleo em sua barba, como faziam os homens no clã de Avram, mas trançava o longo cabelo louro. Todavia, suas tranças não eram adornadas com conchas e contas, mas sim com ossos de dedos humanos. "Arrancados dos cadáveres de nossos inimigos", Bodolf vangloriou-se mais tarde.
Avram foi então apresentado a um homem chamado Eskil, a quem considerou irmão de Bodolf, tão forte era a semelhança. Mas então reparou que Eskil era consideravelmente mais jovem — tio e sobrinho talvez? E então tudo se esclareceu quando Bodolf disse:
"Eskil e eu não somos parentes de sangue. Ele é filho de minha parceira de fogueira, a mulher com quem passei todos os meus invernos." Bodolf era um daqueles que não buscavam variedade, mas satisfazia-se com a mesma mulher a cada ano.
Aquela noite — embora o sol nem tivesse despontado —- o clã realizou um banquete em homenagem ao seu visitante que possuía um pedaço do céu. Avram comeu foca pela primeira vez na vida, e também experimentou azeite de baleia e a carne de um urso cuja pele era branca como a neve. Eles ansiavam impressioná-lo com sua iguaria favorita — um ganso assado que tinha sido alimentado apenas com peixe podre, o que supostamente conferia à carne um sabor exótico, que Avram porém achou repugnante. Ainda assim, ele estava grato por continuar vivo e na companhia de uma raça tão hospitaleira. Especialmente as mulheres, com seus cabelos parecendo barbas de milho e a pele macia como fruto, que o consideravam uma novidade intrigante.
Ele continuou a partilhar a casa de gelo da velha e ganhava seu sustento entretendo o clã com o que eles chamavam de mentiras: descrições de palmeiras e desertos arenosos, girafas e hipopótamos, e verões tão quentes que a água caída numa pedra chiava e evaporava.
Aos primeiros sinais da primavera, o clã de Bodolf, que se autodenominava o Povo da Rena, deixou as casas de gelo e viajou de trenó para uma região montanhosa, onde pinheiros e bétulas estavam derramando suas camadas de neve. Ali o povo se pôs a trabalhar cortando troncos de árvores. O trabalho prosseguiu noite e dia até que uma robusta casa de troncos foi construída, ampla o bastante para que todos lá vivessem e dormissem. Avram ajudava, brandindo machados e aplicando resina de pinheiro, comendo com eles na hora das refeições, mas dormindo sozinho à noite. Avram não queria aprender a língua deles, não queria saber seus nomes.
Quando tinha seus momentos a sós, ele olhava para o verde novo crescendo e, lembrando-se da primavera no Lugar da Nascente Perene, voltava os olhos para o sul. Uma vez que não podia mais prosseguir nem para o norte nem para oeste — ele havia chegado à orla do mundo —, talvez fosse hora de voltar.
Mas... para onde? Para o Lugar da Fonte Perene, onde só conheceria desonra? Só havia uma razão para voltar: ele fantasiava Marit vivendo na sua casa, em companhia da sua avó e irmãos.
"Fique com a gente", Bodolf disse, pondo o braço em torno dos ombros do rapaz. "Nós lhe contaremos nossas histórias e você nos contará as suas. E beberemos juntos e alegraremos os corações de nossos ancestrais."
Eles apresentaram Avram ao hidromel, uma bebida feita de mel fermentado que consumiam em quantidades copiosas nos meses de verão. Quando Avram provou a bebida e viu quão atrativamente o cabelo de Frida capturava a luz do fogo, decidiu que não havia pressa em partir.
Ele os observava na caça, ouvia-os conversar e, gradualmente, embora a contragosto, aprendeu a língua deles.
Como vocês vieram viver num lugar como este? — perguntou ele, pensando na sua terra abençoada pelo sol, que parecia um lugar mais adequado para se viver.
Nossos ancestrais viveram originalmente no sul. Quando as renas ouviram os chamados para o norte, elas para lá se dirigiram e nossos ancestrais as seguiram. — Bodolf apontou para as montanhas se elevando da terra como facas e os grandes rios de gelo no meio. — Os chamados vinham daquelas geleiras. Eles foram se retirando para o norte e deixaram para trás o líquen e o musgo de que nossa rena tanto gostava. Assim, pode-se dizer que aquelas geleiras nos trouxeram para cá.
Por que elas estão se retirando?
Bodolf deu de ombros.
Talvez o céu as esteja chamando de volta.
E voltarão de novo? — perguntou Avram, tentando imaginar um mundo inteiramente coberto de gelo.
Isso depende dos deuses. Talvez. Algum dia.
Avram olhou para o cercado onde os estranhos lobos eram mantidos. Para seu espanto, os homens os estavam alimentando e não eram atacados.
Como isto é possível? — indagou Avram.
Vocês não têm cães lá na sua terra?
O que são cães?
Primos dos lobos.
Vocês os domaram?
Eles é que nos domaram — disse Bodolf com um sorriso. — Eles se aproximaram dos nossos ancestrais e disseram: "Se nos alimentarem, trabalharemos para vocês e lhes faremos companhia nas noites escuras."
Avram aprendeu que o povo de Bodolf venerava a rena, como fornecedora de alimento e peles, mas também como criadora de vida.
Os magníficos animais eram mantidos num amplo cercado onde tinham liberdade para circular, belos animais com pêlo escuro e mantos brancos, e chifres tão esplêndidos que pareciam árvores. Ver tais animais domesticados pelos homens era um assombro para Avram, porém mais espantoso ainda era como as renas permitiam-se ser ordenhadas. Ele pensou em Namir e suas experiências para domesticar as cabras e de repente adquiriu um novo respeito pelo homem, porque não pensava que fosse possível domar os animais.
Bodolf contou-lhe acerca dos dias dos seus ancestrais, quando eles costumavam caçar rebanhos de renas no gelo e como um homem havia se extraviado de seu grupo de caça. Enquanto ele jazia na neve, congelado, faminto à beira da morte, uma rena se materializou e agachou-se junto a ele, mantendo-o aquecido com seu corpo maciço, permitindo depois que ele bebesse o seu leite. E enquanto Rena o trazia de volta à vida, ela disse para o homem: "Não nos cacem e não nos abatam. Levem algumas de nós para viver com vocês e os alimentaremos e manteremos aquecidos. Mas deixem meus rebanhos vaguearem livres." Assim, eles capturaram fêmeas por algum tempo, e então Rena chegou ao ancestral num sonho e falou de novo: "Você não pode separar minhas fêmeas dos machos, pois como os homens e mulheres, minhas renas devem ter prazer." Assim, os ancestrais trouxeram um macho para viver com as fêmeas, e o povo teve leite para sempre depois disso.
Avram franziu o cenho.
Mas como é que os animais obtêm prazer? — perguntou, tentando imaginar isto.
Bodolf riu e fez um gesto com as mãos.
Do mesmo jeito que os humanos! Os animais não são diferentes!
Tendo visto animais apenas quando os haviam caçado nas colinas, perseguindo-os com lanças, arcos e flechas, Avram nunca presenciara este comportamento. Se a Deusa criou ato de prazer íntimo para as pessoas, por que não também para os animais?
Com a chegada da primavera — disse Bodolf com satisfação —, os novilhos terão nascido.
Avram cerrou as sobrancelhas.
Como sabe disso? A lua escolhe quando os novos vão nascer. Os homens não têm como prever isto.
Bodolf lançou-lhe um olhar impaciente.
Vocês não têm animais na sua terra?
Temos muitos.
E eles não dão cria?
Quando caçamos na primavera, vemos filhotes entre os rebanhos.
Então isto pode ser previsto! Porque é desta maneira — disse Bodolf, mais uma vez fazendo um gesto rude do ato sexual com suas mãos — que o espírito de Rena provê as fêmeas de cria. Ela faz o mesmo com os humanos. Quando uma mulher sonha com uma rena, ou inala a fumaça da carne de rena no fogo, ou se usa um amuleto de rena em volta do pescoço, ela ficará grávida. A rena é a doadora de vida de todas as coisas. Não acontece o mesmo entre seu povo?
Na minha terra é a lua que deixa uma mulher com criança — disse Avram, ainda não convencido acerca de animais e prazer sexual.
Contudo, mais intrigante para Avram do que o enigma da rena era o das próprias pessoas. Ele observou mais casais permanentes entre o Povo da Rena do que entre sua própria espécie. Não havia alianças entre famílias, mas sim entre duas pessoas: a mulher fornecia lareira e abrigo, enquanto o homem provinha alimento e proteção. Talvez isto se devesse aos invernos prolongados e inclementes que tornavam a vida mais dura aqui, fazendo, portanto a sobrevivência depender de cooperação. Avram pensou: Um homem aqui não tem como sair vagando à noite em busca de mulher, não é como nas noites quentes e abafadas no Lugar da Nascente Perene, onde a cópula é freqüente e sob as estrelas.
Quando o verão se foi e o inverno era iminente, Bodolf propôs a Avram que escolhesse uma companheira para a estação fria. Quando Avram disse que estava acostumado a dormir junto aos homens, Bodolf e os outros irromperam em riso e disseram: "Escolha uma mulher. O que há de melhor para se manter aquecido?"
Ele pensou em Frida e descobriu que ela ainda não havia escolhido um parceiro para o inverno. No entanto, para obter acesso ao abrigo de uma mulher o homem primeiro tinha de demonstrar que era um bom provedor de alimento. E assim Bodolf e Eskil levaram Avram para fazer sua primeira caçada.
Os caçadores deslizaram através dos ermos congelados sobre esquis e trenós puxados por cães enquanto iam à caça do urso polar e do alce. Avram jogou para trás seu capuz e ergueu o rosto para o céu. Que velocidade! Que liberdade! Ele chamou os outros e eles acenaram de volta, e por um momento Avram se esqueceu de sua condição desolada e amaldiçoada, de que era um assassino, um rompedor de juramentos, um homem que havia abandonado sua amada e maculado a honra de sua família. Durante estas poucas horas ele se sentiu limpo e livre, e por um breve tempo se permitiu pensar com sentimentalismo nos três irmãos, imaginando como eles teriam apreciado esta aventura no gelo.
Mas quando viu Bodolf e Eskil juntos, e seu vínculo especial, isto o fez se lembrar de seu relacionamento com Yubal, e seu coração doeu de novo com pesar. Alguma coisa ele podia dizer a esta gente: que era possível matar um homem com um juramento proferido.
Os dias ficaram mais curtos e o Povo da Rena deixou a floresta e dirigiu-se ao ermo congelado para construir suas casas de gelo. Bodolf testou a neve com sua faca em vários lugares antes de encontrar o peso e a textura certos para a construção.
— A neve é muito irregular aqui... macia demais no topo e dura demais no fundo. Mas é o melhor que podemos encontrar.
Ele e Eskil cortaram o primeiro bloco de gelo. Avram ajudou-os a virar o enorme pedaço; a seguir, Bodolf esculpiu um bloco utilizável do meio dele. Os blocos foram fixados camada por camada numa espiral e quando o domo foi completado, Bodolf escavou uma plataforma de dormir ao varrer com a pá para fora do pequeno buraco de entrada o excesso de neve na base do domo.
Depois de construírem o abrigo deles, Bodolf e Eskil levaram Avram à caça da foca, que era feita no oceano congelado. Bodolf explicou que, como as focas precisavam respirar, elas faziam buracos no gelo quando ele começava a congelar e depois retornavam periodicamente em busca de ar. Avram observou enquanto os caçadores usavam seus semi-lobos para localizar estes buracos pelo odor, depois eles deslizavam um osso de baleia fino pelo gelo e esperavam. Quando o osso de baleia trepidava, isto significava que a foca estava subindo à superfície e assim o caçador rapidamente arremessava o seu harpão. Isto exigia que um homem ficasse totalmente imóvel por várias horas, uma tarefa à qual Avram estava acostumado, graças aos seus turnos de vigia na torre de observação de Yubal.
Embora todos rissem das tentativas frustradas de Avram em arpoar uma foca, eles finalmente se uniram e o ajudaram a capturar uma, de modo que ele não teria de passar os meses de inverno com velhos que roncavam. Era costume trazer uma carcaça de foca diretamente a uma mulher, pois ela devia oferecer-lhe uma caneca de água como sinal de hospitalidade, tornando assim propício o espírito da foca. Portanto, Avram trouxe sua foca para Frida. Ela ofereceu água ao animal e convidou Avram para sua lareira.
Eles estavam na casa de gelo de Bodolf e sua mulher de muitos anos, Thornhild, com Eskil e uma garota de sorriso tímido, e Avram e Frida, que se sentaram de mãos dadas. Eles ouviam os lobos uivando na noite e a explicação de Bodolf para Avram.
Ninguém sabe por que os lobos uivam. Talvez eles vejam fantasmas, ou estejam possuídos pelos espíritos dos homens que mataram. Talvez gostem do som das suas próprias vozes — disse Bodolf com um sorriso. — Eles bebiam o último hidromel do verão e apreciavam o calor das peles e de um braseiro fumegante na aconchegante casa de gelo. — Os lobos têm grande satisfação em uivar juntos. Já os ouvi uivar quando saúdam um ao outro depois de uma caçada.
Como as pessoas — disse Avram com um sorriso.
Ele sentia-se cada vez mais à vontade com o Povo da Rena, muito embora se achasse superior a eles e soubesse que eles próprios se consideravam superiores a ele. Sua rivalidade era bem-humorada. Quando Avram tentou descrever sua casa, Bodolf perguntou:
Vocês vivem na mesma casa o ano todo?
Sim, e por muitos anos.
Seus companheiros ficaram chocados. Empinaram os narizes e fizeram caras e bocas.
Nós as varremos — disse Avram na defensiva. — Mantemos as casas limpas.
Por que ficam na mesma casa?
Para tomar conta do vinhedo.
Têm de tomar conta do vinhedo?
Foi o que eu disse.
Se não tomarem conta as uvas não vão crescer?
Oh, as uvas crescerão.
Então por que tomar conta do vinhedo?
Para evitar que outros peguem as uvas.
Por que evitar que outras pessoas peguem as uvas?
Porque elas são nossas.
Bodolf trocou olhares com os outros.
Então quando estrangeiros aparecem a uva não é para eles?
Isso mesmo.
Por que não? O fruto está na parreira.
Mas meu abba plantou as parreiras e portanto as uvas são dele.
Eskil franziu o cenho.
Se o seu abba morresse, as uvas também morreriam?
Bem, não.
Então como é que elas são dele?
Avram explicou a história de Talitha e Serophia, que contou com grande solenidade. Para sua indignação, eles explodiram em risos. Mas então, enquanto continuava a beber o mel fermentado e a contar sua história, ele também começou a achá-la engraçada e, após um instante, viu-se agarrando o estômago e rindo das extravagâncias daquelas mulheres impossíveis tanto tempo atrás.
No final, apesar de suas diferenças, Avram e o Povo da Rena concordavam numa coisa: que bebidas fermentadas eram maravilhosas.
Finalmente eles quiseram ouvir sua própria história, e quando a contou Avram assim concluiu:
Não sei por que fujo ou por que continuo fugindo. Poderia ter ficado com as emplumadoras e levado uma vida confortável. Mas fui impelido para o oeste e agora pareço ter chegado ao fim do mundo.
Talvez você esteja numa busca de visão — disse Bodolf, e os outros concordaram solenemente.
Assim Avram passou seu segundo inverno entre o Povo da Rena, caçando focas e trazendo-as para Frida, dormindo nos braços dela à noite, rindo com ela durante o dia — embora noite e dia fosse tudo a mesma coisa. Ela mostrou-lhe luzes no céu setentrional, fantasmas dançantes de cores fabulosas. Ele contou-lhe sobre o deserto e o mar de sal sem nenhuma forma de vida. Faziam amor no seu casulo de peles e gelo, e nos braços de Frida ele se esquecia por instantes da vergonha que o impelira até ali e do crime que havia cometido. Ele enterrava o rosto no cabelo de barba de milho e declarava que ela era o amor da sua vida. Mas Frida limitava-se a rir e o provocava, pois ouvira-o chamar por Marit durante o sono, e sabia que sua rival era uma mulher de sonho com cabelos negros.
Avram aprendeu a viver num novo ritmo de luz e escuridão. Os dias eram mais brilhantes da primavera ao fim do verão, e mais escuros entre o outono e a primavera. Por três meses o sol nunca caía abaixo do horizonte e por três meses nunca despontava. O ciclo de mudança das estações era o surgimento e desaparecimento de gelo sólido no mar. Ele aprendeu acerca dos deuses de Bodolf e da superstição de seu povo e respeitou suas crenças. Aprendeu a gostar do sabor da carne de foca, e no verão acompanhava Frida ao cume dos picos nevados, de onde podiam ver o mundo inteiro. O Povo da Rena se tatuava usando uma fina agulha de osso para desenhar um traçado coberto de fuligem sob a pele, e numa primavera Avram corajosamente submeteu-se à arte da agulha na testa. O Lugar da Nascente Perene tornou-se um sonho. Marit e os outros pareciam produto de sua imaginação. Aquela terra de calor e luz solar, tão distante desta terra de frio e neve, talvez nem existisse.
Quando uma das cadelas de trenó pariu uma ninhada de filhotes, Avram descobriu uma cachorrinha mais afetuosa do que os outros e começou a visitar o cercado onde eram mantidos. O sentimento deve ter sido mútuo, pois a filhote começava a gemer sempre que Avram ia embora. Finalmente começou a pular o cercado e a seguir Avram até a casa de troncos. Avram deu-lhe o nome de Cadela e ela tornou-se sua companhia constante depois disso.
Foi durante seu quinto verão com o Povo da Rena que os sonhos começaram. Cenas envolvendo Yubal e Marit, a sacerdotisa Reina, seus irmãos, e até mesmo Hadadezer; sonhos cálidos e sedutores, coloridos nos verdes e dourados da primavera do Jordão. A mente adormecida de Avram nadava como um bebê buscando aquecimento, os dedos alcançando papoulas vermelhas e peônias rosadas, tâmaras doces e romãs suculentas. Os sonhos eram tão reais que quando ele acordava ficava atônito por ver-se de volta ao gélido norte, e especulava como sua alma fora capaz de viajar uma distância tão grande em tão curto tempo.
Os sonhos aumentaram em freqüência e intensidade até fazê-lo chorar e se lamentar como um cão doente. Bodolf e Frida ficaram cada vez mais alarmados. Portanto consultaram a leitora de pedras.
A leitora de pedras era pequena e velha, seu corpo parecendo uma castanha murcha dentro do seu invólucro de peles de foca e rena. Mas os olhos eram aguçados como a estrela polar, e piscavam com uma intensidade que fez Avram acreditar que ela teria as respostas.
Todos se sentaram num círculo e observaram o oráculo soprar numa sacola de couro e depois jogar as pedras num quadrado de pele de foca macia. Ela apontou com um dedo arqueado para cada uma delas. Sua voz soou estalada:
Esta pedra detém suas esperanças e medos. Esta pedra é o que não pode ser alterado e deve ser esperado. Esta aqui fala de sua atual situação. — Ela olhou para Avram. — Você deseja ficar. Você deseja partir. Este é o seu dilema.
As pedras podem me dizer o que fazer?
Ela respirou lenta e suavemente.
Existe um espírito animal do seu lado, um que não reconheço. Um pequeno animal com chifres altos que ondulam como fumaça. Seu couro é da cor do hidromel, listras pretas delineiam sua barriga branca. — Ela ergueu os olhos. — É o espírito do seu clã.
—- A gazela — disse ele, pasmo. Como a velha podia descrevê-la tão bem, se nunca tinha visto uma antes? — O que ela quer que eu faça?
A velha sacudiu a cabeça.
Não é o que ela quer que você faça. — A velha o encarou fixamente por um momento, os olhos parecendo duas pontas de agulha no rosto enrugado. — Há outra pedra — disse ela, por fim. — Não as minhas. Mas esta aí. — Apontou para a bolsa que pendia sobre o peito dele. — Azul como o céu, transparente como o mar. Esta pedra possui a resposta.
Avram ergueu o amuleto que tinha sob a jaqueta de pele e abriu-o com cuidado. Trazendo o cristal para fora, ele o embalou na palma da mão, a poderosa pedra que tinha sido dada à seu povo pela própria Laliari antes do começo dos tempos. Quando olhou no seu núcleo, viu a poeira do diamante cósmico e percebeu que se tratava da nascente borbulhante que era o coração do seu lar. Ele pensou: O cristal é o coração da Deusa, pertence do santuário no Lugar da Nascente Perene.
Era também onde seu próprio coração pertencia, entre seu próprio povo. Ele sabia disso agora. Durante sua estada entre o povo da Rena, Avram ignorava a lenta mudança que ocorrera no seu íntimo. O pesar se dissolvera, e com seu declínio uma nova emoção tomara o seu lugar: um anseio de voltar para casa.
Quando disse adeus ao Povo da Rena, Avram deu a presa de lobo para Bodolf, porque o lobo era inimigo deles. Em troca, Bodolf deu-lhe um pedaço de âmbar entalhado na forma de um urso polar. Ele beijou Frida, que estava grávida de nove meses, e desejou-lhe o melhor. Depois pendurou seu fardo às costas, pegou a lança e o arco e, com Cadela trotando a seu lado, dirigiu-se para o sul, rumo à ponte de gelo que o levaria ao outro lado do mar, de volta à trilha que o trouxera para cá cinco anos antes.
A época em que Avram alcançou a aldeia da montanha que era o lar de Hadadezer, fazia quase um ano desde que deixara Bodolf e seu povo, e mais de nove anos desde que fugira do Lugar da Nascente Perene. Ele e Cadela tinham vivido uma aventura juntos, viajando de volta pelas montanhas e rios de que Avram se lembrava ter atravessado na vinda. Eram bons companheiros, dormiam juntos para se aquecerem, Cadela dava o alarme quando havia perigo próximo e Avram partilhava sua caça todas as noites com a fiel canina. Haviam também salvado a vida um do outro — uma vez, quando um urso atacou Cadela e a teria matado não fosse a lança habilidosamente arremessada por Avram, e outra vez em que um felino selvagem pulou sobre Avram e o teria dilacerado até a morte não fossem as fortes mandíbulas de Cadela. Para Avram fora também um tempo de descoberta. Seu único relacionamento com animais tinha sido para usá-los como alimento ou vestuário. Mas este novo contato com a cachorra trouxe uma alegria tranqüila que Avram jamais conhecera.
Quando chegaram à fortaleza de pedras nas montanhas, a dupla causou uma comoção enquanto os homens de guarda queriam matar o "lobo". Mas Avram foi capaz, ao invocar o nome de Hadadezer, de forçá-los a poupar sua companheira. E quando ele foi conduzido por um labirinto de altos muros e túneis de pedra, as pessoas murmuravam embasbacadas entre si a respeito do animal selvagem.
A cidade fortificada era um peculiar aglomerado de casas tão coladas umas às outras que partilhavam paredes comuns, formando uma estranha colméia de moradas sem janelas ou portas, servindo de entrada as aberturas nos tetos. Avram foi conduzido a um pátio tão sombreado por muralhas e pelos picos de montanha circundantes que nenhuma luz solar tocava as pedras do pavimento. Aqui Hadadezer estava vivendo seus dias derradeiros, numa esplêndida plataforma forrada com almofadas e peles, cercado por criados que atendiam todas as suas necessidades. Seu rosto estava redondo como a lua cheia e reluzia de suor, o corpo enorme e pesado com pés inchados, dando a impressão de que não tocava o solo havia anos. Seus olhos quase saltaram das dobras de carne que os envolviam quando viu seu visitante.
Grande Criador, é meu velho amigo Yubal!
Avram parou de chofre e imaginou se o mercador estaria vendo fantasmas. E então percebeu que Hadadezer estava olhando para ele.
Está equivocado, pois sou Avram, filho de Chanah, da Casa de Talitha. Não deve se lembrar de mim...
É claro que me lembro de você! — o velho exultou. — Grande Criador, que dia abençoado este para ver o filho de meu bom e querido amigo, que seu espírito possa conhecer a paz!
Filho? — disse Avram.
Hadadezer agitou os braços, tão grossos como pernis de cordeiro.
Falo de modo figurado, já que obviamente, um homem não pode ter filhos. Mas sua semelhança com Yubal, possa ele descansar com a Deusa, é prova do forte espírito e influência do estimado homem sobre você! — Ele deu uma ordem e o objeto mais espantoso foi trazido ao pátio: uma lousa de obsidiana quase tão alta e larga quanto um homem, polida como uma faca e tão plana quanto o mar Morto, encaixada numa moldura de concha. Quando angulada na posição certa, o fantasma de Yubal materializou-se dentro do vidro vulcânico. Avram pulou para trás e traçou no ar um sinal protetor.
Hadadezer riu.
Não tenha medo, companheiro! Trata-se apenas de você, num reflexo espelhado!
Aturdido, Avram girou a cabeça para lá e para cá, ergueu um pé calçado de pele e depois o outro, e concluiu que a imagem era mesmo a dele.
Isto o deixou subitamente nervoso. O único lugar onde uma pessoa podia ver seu reflexo era na água, e considerava-se de muito mau agouro alguém olhar-se fixamente na água, pois ela poderia roubar-lhe o espírito.
Agora ele olhava fascinado para o homem barbudo que o observava do vidro preto. E era Yubal, sem tirar nem pôr.
Vamos, vamos, sente-se — disse Hadadezer. — Iremos comer, beber e conversar sobre os velhos dias, que eram melhores que os atuais. Desde o início dos tempos, os velhos dias sempre foram os melhores.
Enquanto os criados do anfitrião traziam um enorme barril de cerveja com dois canudos compridos, Avram relatou sua longa e extraordinária jornada, omitindo apenas o motivo que o levara a partir.
E o que é isto? — disse Hadadezer, notando Cadela pela primeira vez. Ela se enroscava aos pés de Avram e descansava a cabeça sobre as próprias patas.
É minha fiel companheira.
Você viaja com uma loba? E eu que pensava já ter visto de tudo! Que tipo de mundo é este? — perguntou Hadadezer, após sugar uma boa quantidade de cerveja e limpar a boca com a mão.
É tão diferente como as pessoas são diferentes. Há homens que vivem como ursos, homens que vivem no gelo, homens que rastejam sobre as barrigas e pintam as imagens dos animais que mataram.
E cidades? Você viu cidades?
Só aqui e no Lugar da Nascente Perene. — De repente, ele encheu-se de melancolia ao mencionar o local onde nascera e por estar de novo na companhia de alguém que fazia parte do seu passado. As lembranças voltaram, deixando um nó na sua garganta.
Hadadezer deve ter notado a névoa nos olhos de Avram, pois disse em voz baixa:
Nós todos nos perguntamos para onde você teria ido. A maioria o considerou morto. Você fugiu porque Yubal tinha morrido? Sim, claro que foi por isso. Você era jovem e estava assustado. E compreensível. Depois que Yubal morreu e você desapareceu, ficou óbvio para todos que tinha sido um grande erro tentar unir as duas famílias. Era claro que as maldições de Talitha e Serophia pairavam sobre todos.
Travessas de comida foram postas diante deles: galinha cozida recheada, vegetais no azeite, pão sem fermento, tigelinhas de sal e uma repelente infusão chamada iogurte.
Sim, suponho que tenha sido um choque para você, pobre companheiro — continuou Hadadezer enquanto se servia de pombo assado recheado de cogumelo e alho —, saber da morte de Yubal. Não foi, porém uma surpresa para mim, nem um pouco.
A mão de Avram, segurando uma noz em salmoura, parou diante da boca.
O que quer dizer?
Yubal andava se queixando da cabeça. Acredito que nunca lhe contou para não preocupá-lo. Toda vez que ele se enfurecia ou fazia esforço excessivo, sua cabeça martelava dolorosamente. Ele me perguntou se eu tinha um remédio e respondi que não. Contudo, avisei-o para controlar seu temperamento e corpo, já que eu tinha visto este mal afligir homens muito mais jovens. Dizem que ele morreu enquanto se empenhava com uma jovem. — Hadadezer assentiu sabiamente. — Foi isto que o matou.
Avram olhava em franco aturdimento para aquela montanha humana, cuja barba estava salpicada com o jantar da véspera. Yubal já tinha um problema que acabaria por matá-lo? Então não havia sido a maldição de Avram a causa de sua morte?
Ele estava estupefato. Depois de carregar o peso da culpa todos aqueles anos, e tendo ele sido subitamente suspenso...
Yubal já trazia a morte dentro de si.
Eu não matei meu adorado abba.
Avram mal pôde conter um choro de alegria. Subitamente extasiado, ele queria sacrificar-se de imediato para a deusa e para quaisquer deuses locais que existissem. Sentia vontade de pular e lançar os braços em volta do montanhoso Hadadezer. Ele queria dançar e contar a todos como o mundo era um lugar maravilhoso. Em vez disso, tomou um generoso gole de cerveja e estalou os lábios com prazer.
Hadadezer acomodou seu enorme peso na plataforma, que lhe servia não só de liteira como também de leito.
Muita coisa aconteceu depois disso, meu rapaz — disse. Dois anos depois da morte de Yubal, os saqueadores chegaram, desta vez em maior número. Muita gente morreu. E então, no ano seguinte, vieram os gafanhotos.
Avram ficou repentinamente solene, e ávido por notícias de casa.
Minha avó ainda está viva? E como vão meus irmãos?
Por acaso, a noite em que Yubal morreu representou minha última visita a sua casa. Quando retornei para cá para as montanhas, percebi que meus dias de mercador haviam chegado ao fim. Passei o comércio das caravanas para os filhos de minha irmã, de modo que pudesse desfrutar os anos que me restavam. Meus sobrinhos só relatam as novidades mais importantes: saqueadores, gafanhotos, colheitas devastadas. Mas os nomes de quem está vivo, de quem morreu... — Ele abriu as mãos gordas como presunto. Continuou para explicar que seu comércio de caravanas passava por tempos difíceis, devido em parte aos infortúnios do Lugar da Nascente Perene. — Eles não mais comerciam vinho — disse —, e isto é uma coisa que lamento profundamente.
O canudo de beber caiu da mão de Avram.
O que aconteceu com o vinho?
Hadadezer deu de ombros.
Eles agora só o produzem para consumo próprio.
Avram imaginou seus irmãos labutando no vinhedo, homens agora, não mais garotos, pelejando para plantar as videiras, colher as uvas, encher a pensa de vinho e depois transportar as cascas para a caverna sagrada. Tudo isto sem a sábia e inflexível supervisão de Yubal.
Está voltando para lá? — perguntou Hadadezer, enquanto discretamente puxava uma bexiga de cabra e urinava dentro dela. Avram imaginou como o homem devia fazer para esvaziar os intestinos e tentou não pensar mais nisto.
Sim, estou indo para casa. Já faz quase dez anos.
Hadadezer assentiu, entregando a bexiga a um criado e limpando as mãos na barba.
Estou pensando, meu jovem amigo, que podemos tocar um negócio juntos, eu e você. — E quando o astuto mercador esboçou o plano que tinha em mente, Avram teve de reconhecer que ele servia a seus dois objetivos. Quando a caravana partisse de novo para o sul em seu circuito anual, Avram estaria à testa dela.
Ele passou o verão na peculiar cidade montanhesa de Hadadezer, apreciando a hospitalidade do mercador e aceitando os recatados convites feitos pelas sobrinhas de Hadadezer para partilhar da cama delas. Enquanto estava lá ele viu muitos prodígios novos, pois aquele povo intrépido era de uma estirpe industriosa e inventiva: experiências em cerâmica feita de barro e cozida num forno; pepitas de cobre sendo derretidas e moldadas em ferramentas; homens começando a treinar gado para puxar arados. Quando Avram comentou sobre uma mulher que amamentava um cordeiro no próprio seio, Hadadezer disse:
Observamos que um bebê e um cordeiro neonato formam um rápido vínculo com sua mãe. Quando separado do rebanho ao nascer e amamentado por uma ama-de-leite humana, o cordeirinho liga-se à mãe postiça e vive docilmente com a família humana. Descobrimos isto por acidente. Uma mulher que havia perdido seu bebê adotou sem remorso um filhotinho selvagem e amamentou-o, e desde então ele a segue por toda a aldeia. Agora nós temos cabras domesticadas. Agora não é preciso caçá-las — acrescentou Hadadezer, um homem devotado a encontrar meios para conservar sua energia.
Avram foi levado a uma fieira de baias de madeira onde as vacas eram abrigadas, animais que não haviam nascido na terra agreste, mas aqui, nos estábulos da montanha, onde eram mantidas por causa do seu leite, tal como as renas de Bodolf.
Você notou que reverenciamos o touro, Avram — disse Hadadezer, que tinha sido trazido aos estábulos na sua liteira. — O touro é o criador da vida. Nossas mulheres se banham no sangue do touro a fim de engravidar.
Avram notara os chifres de bezerro que estavam presentes em muitas casas, e símbolos do touro em toda parte. Ele olhou com assombro para os plácidos animais que se deixavam manipular pelos homens. Que magia possuía este povo para domar animais?
— No tempo de nossos ancestrais — disse Hadadezer enquanto oferecia a Avram uma taça de iogurte —, antes de construirmos esta cidade de montanha, quando ainda vivíamos em tendas e vagueávamos pela planície, adorávamos a terra e o céu, pois nada sabíamos de como o touro dava à vaca sua cria. E então os deuses disseram aos nossos ancestrais que parassem de vaguear e construíssem este lugar, e que trouxessem animais das planícies e os mantivessem aqui, de modo que o espírito do Grande Touro pudesse tornar nosso povo frutífero. É isto que faz o meu povo tão forte, Avram, o espírito do Grande Touro, ao passo que o seu povo nasceu da lua, o que o torna fraco. Não pretendo insultar, mas apenas falar a verdade. Você verá por si mesmo como a vida no Lugar da Nascente Perene perdeu vigor e vitalidade. Se pudesse, eu mandaria um touro com você, mas eles são impossíveis de controlar.
Avram notou que Hadadezer falava de touros tal como Bodolf havia falado da rena, de modo que imaginou que cada raça era propagada por um deus diferente. Isto explicava por que os povos do mundo variavam na sua aparência e características — o Povo da Rena, com cabelos e pele claros por beber o leite da rena; o povo de Hadadezer, com suas feições avermelhadas do sangue do touro. E meu povo é pequeno e escuro, pois nascemos da lua e o domínio dela é a noite.
Enquanto residiu entre os muros de pedra e o povo de pele rosada, aprendendo seus costumes e dormindo com suas mulheres, acostumando o estômago com iogurte, queijo e leite, uma estranha doença começou a se insinuar na alma de Avram. Não era uma doença carnal, alardeada por sinais ou sintomas físicos, mas sim por um distúrbio do espírito. Entrou no corpo de Avram por meio de sonhos que eram sinistros e turbulentos, e as lembranças que traziam eram espontâneas, sombrias e inquietantes, tudo centrado num único tema: a noite em que Yubal morreu. No sono Avram era forçado a reviver aquela noite vezes sem conta, vendo-se despertar, flagar as duas figuras nuas abraçadas na escuridão, percebendo que Yubal havia maquinado tudo de modo a ter Marit para si. A dor daquela descoberta voltava com força renovada a cada manhã em que Avram despertava de sonhos que o deixavam banhado em suor. Em todos aqueles anos viajando por terras estrangeiras, pouca atenção dedicara à duplicidade de Yubal, o próprio motivo que o levara a amaldiçoá-lo, em primeiro lugar. Mas agora sabia que não fora sua maldição que tinha matado Yubal. Agora que estava livre para recordar outros aspectos daquela noite fatídica, Avram foi assolado com a verdade inevitável e brutal de que o homem que tinha amado e reverenciado havia arranjado para que partisse com os caçadores de madrepérola de modo a ter Marit para si.
Por fim, o calor do verão se foi e Hadadezer consultou o vidente local, que declarou ser uma ocasião propícia para a partida da caravana.
Na noite que antecedeu a partida, Hadadezer confidenciou a Avram que não deveria ter entregue o negócio aos filhos de sua irmã, porque eles eram um bando de indolentes que desprezavam o trabalho duro e que não possuíam tino comercial. Ele admitiu francamente achar que o estavam trapaceando. Infelizmente a tradição ditava que a herança deveria permanecer no seio da família.
— Mas isto não significa que eu não possa colocar agentes ao longo da rota, homens com cuja lealdade possa contar.
Avram seria o representante de Hadadezer no lugar da Nascente Perene. Os quatro outros agentes eram os filhos da mulher com quem o mercador vivera por muitos anos. O mais velho exibia uma tal semelhança com Hadadezer que Avram foi levado a se recordar de Yubal e dele próprio, e de Bodolf e Eskil. Hadadezer confiava nestes três homens porque eles o amavam e honravam, além de manterem uma contabilidade honesta do comércio nos assentamentos onde viviam: no país das árvores lebonah, na costa do Grande Mar, na embocadura do delta do Nilo e na aldeia que estava florescendo e crescendo rapidamente nas margens meridionais do rio. Hadadezer ofereceu presentes ao seu hóspede e Avram os escolheu cuidadosamente, pensando em Parthalan, Reina e Marit. Estes presentes seriam o começo de sua reparação a eles. Em troca, deu a Hadadezer o urso polar de âmbar de Bodolf, que o velho mercador apreciou como uma criança.
Na manhã da partida, Avram viu outra curiosidade: burros treinados para carregar grandes cargas. Embora o Povo da Rena tivesse domado as renas para dar leite e os cães para puxar trenós, certamente não havia pensado em utilizá-los para transporte de carga. Isto era espantoso.
Existem limites — avisou Hadadezer. — Se tratar e alimentar bem os burros, eles carregarão as cargas para você. Não tente montar neles, pois se verá desagradavelmente jogado de volta ao chão.
Avram riu e pensou que o velho mercador devia estar bêbado, pois quem alguma vez ouvira falar de um homem montando um animal?
Hadadezer tinha os burros e os homens carregados com mercadoria para comerciar — sementes para cultivo, obsidiana para fabricar ferramentas e armas —, bem como provisões de peixe salgado, cerveja e pão.
Como um investimento — disse ele para Avram, bufando pelo esforço de ter dado tantas ordens, muito embora não tivesse saído de sua liteira —, refortifique o assentamento na primavera, Avram. Torne-o de novo um lugar próspero, deste modo minha caravana voltará a ser lucrativa.
Avram deu um beijo de adeus nas sobrinhas rechonchudas de Hadadezer e, enquanto conduzia a caravana pelo portão principal da cidade murada e rumo ao desfiladeiro sul da montanha, animou o coração e aferrolhou o espírito. Estava preparado para pedir perdão aos irmãos por ter fugido e desonrado a família; ele se lançaria diante de Parthalan e restauraria a honra familiar; suplicaria perdão a Marit e voltaria a dedicar seu coração a ela. Mas nunca pediria perdão ao fantasma de Yubal, pois ele é que lhe devia perdão.
A caravana percorria a mesma rota para o sul que levara um jovem desolado para o norte dez anos antes, mas agora Avram via o interior com olhos abertos. Naquela jornada no passado em companhia das emplumadoras ele era um rapaz sem alma que tinha olhado a paisagem com olhos desinteressados e nada observara. Mas agora via florestas de cedro fragrantes e suntuosas, a Caverna de Al-Iari e o lar dos seus ancestrais, e um rio tão docemente familiar que caiu por terra e chorou com alegria cheia de remorso.
O céu estava cinzento e uma chuva fina de inverno caía quando a caravana chegou ao Lugar da Nascente Perene. A multidão de boas-vindas na colina estava menor do que no passado, e Avram imaginou se era porque não havia mais torres de observação, ninguém para alertar os cidadãos de que a caravana estava chegando. Mas à medida que chegava mais perto, caminhando à frente de sua tropa de burros, ele viu que o próprio assentamento estava muito menor desde que o vira pela última vez, e percebeu em choque que não havia mais estruturas de tijolo de lodo, nem a casa onde havia crescido. Reconheceu o homem que veio correndo para saudá-lo como Namir, o domesticador de cabras, mais velho e grisalho e caminhando desajeitado por causa de uma coxeadura. Atrás dele vinha gente que Avram não conhecia, de modo que imaginou que talvez toda a população tivesse se mudado em dez anos.
Namir então parou de súbito, piscou como uma coruja e gritou:
— É um fantasma! — E correu de volta para o assentamento antes que Avram pudesse assegurar-lhe de que não era Yubal retornando de entre os mortos.
Os outros, os cidadãos mais velhos, pararam igualmente embasbacados, as faces pálidas de medo, enquanto os mais jovens comiam com os olhos Cadela e a tropa de burros, pois nunca tinham visto tais coisas.
Avram deu o sinal para a caravana armar acampamento. Homens exaustos descarregaram seus fardos, rezingando em voz alta como era o seu direito, fogueiras de cozinhar foram acesas — embora mais fumaça do que chama se elevasse dos galhos e gravetos umedecidos — e as tendas se ergueram à luz garoenta. Avram achou que era um deplorável negócio de ralé, sem comparação com os grandes dias de Hadadezer. Mas seu ânimo estava elevado enquanto procurava ansiosamente por rostos familiares na multidão crescente. Seus irmãos, será que os reconheceria? Sua avó já deveria ter morrido. E Marit, ainda uma garota em sua mente, estaria ela aqui?
Finalmente um homem de baixa estatura, mas com a pose empertigada de um galo de briga se adiantou, caminhando com um imponente cajado de madeira. Levou algum tempo para Avram reconhecer Molok, o abba de Marit.
Bem-vindos, bem-vindos! — gritou ele com entusiasmo, mas Avram notou o ar de curiosidade no rosto do velho enquanto o fitava com o cenho franzido de um homem tentando identificar alguma coisa. Agora todos vinham saudar a caravana à medida que a notícia se espalhava pelo assentamento e mais gente ia chegando.
Três homens vieram correndo, ainda empunhando suas enxadas. Avram mal os reconheceu. Em todos os seus anos de viagem, os irmãos tinham permanecido jovens em sua mente, ele nunca os imaginara crescendo. Mas eles eram adultos agora, robustos e bonitos. Para choque de Avram, Caleb caiu de joelhos e enlaçou suas pernas com os braços.
Abençoado seja este dia que traz nosso irmão para casa! Pensávamos que estivesse morto!
Levante-se, mano — disse Avram, erguendo Caleb pelos cotovelos. — Eu é que devia cair a seus pés.
Abraçaram-se, derramando lágrimas nos ombros um do outro, e depois os irmãos mais novos recepcionaram Avram, chorando abertamente de alegria.
Conheço você, homem? — perguntou Molok, semicerrando os olhos tomados pela catarata. — Não me é estranho.
Abba Molok — disse ele, respeitosamente. — Sou Avram, filho de Chanah, da Casa de Talitha.
Avram?! Disseram que você estava morto. Mas está carnudo demais para ser um fantasma! — Molok ergueu os braços, dando-se ares de importância, e decretou que o resto do dia seria de comemoração, um anúncio desnecessário, uma vez que barris de cerveja já vinham sendo rolados, bodes e ovelhas recém-abatidos chegavam às costas dos homens, rodelas de pão de cevada se materializavam juntamente com potes de mel, travessas de peixe salgado e fartura de frutas. O som de flautas e chocalhos encheu o ar antes que todas as tendas estivessem erguidas, com gritos de congraçamento e reconhecimento e risos de boas-vindas enquanto o pessoal da caravana se misturava com o povo do assentamento.
Afinal, era que nem nos velhos dias.
Ao crepúsculo todo o assentamento, ao que parecia, tinha se apresentado, partilhando comida e fogareiros, mexericos e novidades. Mas os dois rostos que Avram procurava ainda não haviam surgido. Ele receava perguntar aos seus irmãos o que fora feito de Marit e da sacerdotisa Reina.
Embora o assentamento fosse o seu lar, Avram montou um pequeno acampamento no interior da caravana, ainda incerto da sua posição entre sua gente. Apesar de não mais sentir-se culpado pela morte de Yubal, havia ainda a questão da desonra. Mas nada parecia errado enquanto seus irmãos, na maior felicidade, traziam patos para assar, cestos de pão e odres de vinho. Eles estavam cheios de novidades para contar, mas também ansiavam por ouvir as novidades de Avram, notando a tatuagem em sua testa e querendo saber onde ele estivera em todos aqueles anos.
Quando Avram viu como seus velhos amigos e vizinhos se entregavam prazerosamente à celebração improvisada, seus infortúnios momentaneamente esquecidos, suas preocupações com o dia de amanhã voando como um pássaro, algo que não lhe ocorrera em todos aqueles anos de ausência ocorreu-lhe agora: que o povo do assentamento não sabia quem havia roubado o coração de cristal azul da Deusa. Além disso, ignoravam que ele havia fugido por covardia, ou que propositadamente desonrara o contrato que Yubal firmara com os caçadores de madrepérola. A reputação de desgraça e vergonha entre seu povo, na imaginação de Avram, devia-se apenas ao fato de que, como dissera Hadadezer, não sabiam o que acontecera com ele. Eles acharam que eu tinha sido morto, ou seqüestrado, ou vagueado para escapar do pesar e de alguma forma morrido. Como posso pedir-lhes perdão se nem sabem o que há para perdoar?
E então viu alguma coisa mais nos olhos deles, repletos de esperança: não queriam conhecer a verdade. Deu-se conta num momento de sobressalto que, tão grandes tinham sido os fardos e os infortúnios sofridos durante sua ausência, seria a maior crueldade introduzir agora desonra, vergonha e culpa em suas vidas. Assim, inventou uma vívida história envolvendo pesar, sumiço, perda de memória, ter sido capturado, e sua luta para voltar — uma história épica recheada com deuses e monstros, mulheres lascivas e façanhas heróicas. A maioria duvidou da narrativa, mas adorou-a como entretenimento e, enquanto passavam de mão em mão o odre de vinho, ninguém o culpou pelo que havia acontecido dez anos antes. O passado se fora. Embebedar-se era tudo com que se preocupavam agora.
E foi então que seus irmãos lhe contaram sua própria história triste.
Houve outras épocas de má sorte enquanto ele estava ausente, contaram-lhe, não apenas os saqueadores, mas também alguns verões desafortunados e depois os gafanhotos que em um único ano devoraram todas as lavouras, de modo que muitas famílias retomaram a vida nômade. O assentamento, uma vez tão amplo e próspero, ficou reduzido a uns poucos abnegados. "De que vale plantar e cultivar uma colheita só para ela ser roubada?"
Ele perguntou acerca da colheita de verão da uva, já que o solstício de inverno era iminente e eles teriam de ir em breve à caverna sagrada para a degustação da nova vindima. Mas Caleb sacudiu tristemente a cabeça, dizendo que houvera uma colheita deplorável naquele verão, apenas o suficiente para comerciar com viajantes em trânsito.
Os nômades vieram, acamparam aqui e se alimentaram das nossas uvas. Como só nós três os impediríamos? Não podemos montar guarda dia e noite.
Mas e quanto aos filhos de Serophia?
Depois que Yubal morreu, Marit voltou para sua família — explicou Caleb, com amargura — e assim não mais tivemos a proteção dos seus irmãos. Quando os saqueadores chegaram, os filhos de Serophia se apressaram em salvar sua safra de cevada, enquanto o nosso vinhedo foi devastado. Levamos dois anos para ter de novo uma boa safra, mas aí vieram os gafanhotos e nos arruinaram mais uma vez. Desde então, mal somos capazes de produzir vinho suficiente para o nosso consumo, pouco sobrando para comerciar.
Eram notícias alarmantes, pois o comércio vinícola era o esteio do assentamento, fora o vinho que tornara aquele povo próspero, fazendo com que largasse sua vida nômade para se fixar ali.
Isto agora vai mudar — garantiu Avram ao irmão. — Faremos o vinhedo florescer novamente, e da próxima vez que os saqueadores vierem estaremos preparados.
Ele já formulava um plano em sua mente: ofereceria aos homens locais um odre de vinho em troca de patrulhamento noturno do vinhedo.
Onde está Reina, a sacerdotisa? — perguntou, por fim, em voz cautelosa, receoso do que fossem lhe contar.
Reina estava vigiando seu santuário, disseram. A Deusa não mais aparecia entre seu povo, suas procissões tinham sido interrompidas dez anos antes. Mas ela ainda estava lá, bem como a sua fiel criada.
Escusando-se da companhia dos irmãos e convidando-os a comer e beber à vontade e ficar junto à sua fogueira, Avram ergueu-se sobre pernas instáveis e se afastou do acampamento ruidoso. Dirigiu-se primeiro ao que restava do vinhedo de Talitha e ficou desolado ao encontrá-lo mirrado e empobrecido à luz mortiça de um dia nublado. Seus irmãos tinham erguido as defesas possíveis em torno de uma pequena parcela de videiras, mas o resto do que um dia foram campos vastos e florescentes estava agora abandonado e tomado por ervas daninhas. Não havia nenhum vestígio da torre de observação que um dia estivera ali, e onde se situara a boa casa de tijolos de lodo havia agora uma ampla tenda feita de pele de cabra.
Com um senso crescente de pavor, Avram prosseguiu pelo assentamento, que estava silencioso, já que a maioria dos cidadãos se divertia no acampamento da caravana. Aqui ele recebeu um choque até maior. As condições eram piores do que imaginara de início. A moradia de Guri, o fabricante de lamparinas, a tenda dos seis irmãos fabricantes de linho, a casa das irmãs Cebola, a residência de Enoch, o arranca-dentes, e de Lea, a parteira, a casa de tijolos de lodo de Namir e a de Yasap, o coletor de mel — tudo se fora. O assentamento estava caindo aos pedaços e tinha o aspecto temporário da época dos ancestrais, sem nenhum sinal de permanência.
Quando encontrou Parthalan, o caçador de madrepérola, Avram quase sucumbiu. O velho estava sozinho e quase cego, mal subsistindo num abrigo de palha e mal conseguindo esculpir as poucas conchas que lhe chegavam. Ele chorou ao ver Avram, não denotando qualquer acusação ao rapaz pelo seu próprio infortúnio.
— A vida é uma maldição — disse Parthalan. — A morte é uma bênção.
Avram pensou nos presentes que trouxera para Parthalan: lindas conchas para esculpir que se estragariam sob as mãos vacilantes do homem quase cego.
Enquanto deixava o velho artesão de conchas, Avram sentiu a bile subir-lhe à garganta. Nada acontecia por acaso, ele sabia, tudo tinha uma causa. Enquanto olhava em torno do empobrecido assentamento e notava o selo da má sorte em tudo que via, ele soube qual era a causa. Tudo era culpa de Yubal. Se não fosse a duplicidade de Yubal, maquinando alianças que traziam má sorte a fim de obter Marit para si, ele talvez não tivesse morrido e hoje o vinhedo estaria florescente, a comunidade próspera.
Com o coração pesado de amargura, Avram tomou a última trilha que sabia ser preciso seguir: a que levava à residência de Serophia. A Marit.
Ali também não existia mais a casa de tijolos de lodo, seu alicerce dilapidado visível nas extremidades da tenda que havia sido erguida no local. Ela se encontrava à entrada, alimentando o forno, as rodelas de pão de cevada dourando nas pedras quentes. Ela não olhou para cima, mas Avram sentiu que ela sabia da sua presença.
Marit se tornara lindamente roliça durante sua ausência. Não mais esguia, ela estava feminil, com carne e curvas para encher os braços de um homem. Mas não os braços dele, pensou resolutamente, pois embora seu coração ainda doesse de amor por ela e seu corpo estivesse faminto pelo contato, a lembrança daquela última noite, quando a viu nos braços de Yubal, era mais dolorosa do que mil ferimentos de faca. Ele sabia que nunca seria capaz de fitá-la novamente sem se recordar do logro de Yubal, nem de pousar as mãos sobre a pele dela sem ver as marcas das dele, nuas e aferradas num abraço febril.
Por que você veio? — perguntou ela numa voz tão inexpressiva quanto poeira.
Avram ficou sem saber o que dizer. Havia imaginado que ela ficaria satisfeita em revê-lo. Ou pelo menos contente por saber que ele estava vivo.
Ela virou-se e o fitou com olhos pétreos. O rosto, ainda redondo e lindo, estava delineado com rugas, e os cantos da boca descaídos por tantos anos de penúria e desapontamento.
Eu sabia que você estava vivo, Avram. Todos os outros diziam que deveria estar morto, mas aqui no meu coração eu sabia o que lhe havia acontecido. Você nos viu naquela noite, Yubal e eu. Você acordou, nos viu, e depois fugiu. Esperei que voltasse e, como não o fez e os dias e semanas se passaram, me dei conta de que você tinha fugido, e por quê.
Eu tinha todo o direito — replicou ele em justa indignação.
Você não tinha nenhum direito! Ficou com ciúme de mim e Yubal sem sequer saber o que estava vendo. Você tirou sua conclusão e julgou nós dois. Achou que eu e Yubal estávamos tendo prazer juntos.
Foi o que vi.
Avram, você já observou a lua por tempo demasiado? Se tivesse observado por mais um momento, teria me visto repelir o abraço de Yubal, teria ouvido Yubal me chamar pelo nome de sua mãe. Teria visto ele se desculpar embaraçado, o teria visto começar a voltar para o seu leito, e depois o teria visto agarrar a cabeça e desabar no chão. Não confiava em nós? No seu abba e na sua amada?
Ele pestanejou.
Eu pensei...
Este é o seu problema! Pensar demais! — Ela enxugou uma lágrima no rosto.
Ele a olhou fixamente, atordoado demais para falar.
Nenhum homem se deitou comigo depois daquilo. Tornei-me uma mulher intocável porque acreditavam que eu fosse amaldiçoada e que fazia cair mortos os homens que me tocassem. Em todos esses anos jamais experimentei o conforto de um único abraço.
Por que não esclareceu tudo? — gritou ele.
Como combater um boato, Avram? O povo sempre acreditará naquilo que deseja acreditar, quer seja verdade ou não. — Ela acrescentou, amarga: — Certamente, você acreditou.
Como você deve ter me odiado em todos esses anos — sussurrou ele, roucamente.
A princípio odiei. Depois amadureci para sentir apenas desprezo. Enquanto todos diziam que devia estar morto e eu ficava orando por você, guardei segredo. De qualquer modo, quem me daria ouvidos? Uma mulher com uma maldição pesando sobre ela! — Colocando as mãos nos quadris, ela espichou o queixo e disse em tom desafiador: — Você é o único homem com quem me deitei. Pode dizer a mesma coisa, Avram? Com quantas mulheres você se deitou nestes dez anos?
Ele a fitou, um tolo indefeso, enquanto sua mente contava as mulheres: as emplumadoras, as nômades, as comedoras de amêijoas, as caçadoras de bisões, Frida, as sobrinhas de Hadadezer.
Marit deu-lhe as costas e alimentou mais o forno.
Dez anos jogados fora. Eu e você estamos no meio das nossas vidas, Avram. Sua avó viveu até os 62 anos, mas ela era abençoada. Ninguém vive tanto tempo. Tudo que podemos esperar por enquanto é alguns anos à mais de boa saúde, antes de nos tornarmos um fardo para nossas famílias. E um fardo eu serei, pois a Deusa optou por me negar filhos. Sou estéril, Avram, e não há nada menos merecedor de alimento e abrigo do que uma mulher estéril. Agora vá embora. Vá sentir piedade por si próprio em outro lugar. Não vai encontrar nenhuma piedade aqui.
Ele saiu cambaleando para a noite, atordoado e confuso. Grande Deusa! gritava sua mente. O que foi que eu fiz?
Seus pés o conduziram para o único lugar que restava para ir. O santuário da deusa era menor e mais humilde do que aquele de tijolos de lodo que ele se recordava, e era feito apenas de madeira e palha com uma cabana anexa onde morava a sacerdotisa. Soubera por seus irmãos que Reina havia sido reduzida a baixas condições, embora fosse ainda a sacerdotisa de Al-Iari. Ela fora raptada pelos saqueadores, disseram, e a experiência a deixara amarga. Para culminar, por causa do desaparecimento da pedra azul, muitas pessoas se afastaram da Deusa — especialmente depois dos saqueadores e dos gafanhotos, seguidos pelo verão de má sorte em que as colheitas goraram. O povo culpava a sacerdotisa por ter interpretado mal os sinais, e, portanto Reina não mais recebia os presentes generosos do passado, mal tendo o bastante para a mera subsistência.
Encontrou-a mexendo uma panela de mingau no fogo, adicionando ervas para economizar. Seu cabelo estava grisalho agora, mas esmeradamente penteado e trançado. Não usava mais o vestido de linho fino; uma pele de corça manchada cobria sua estrutura esguia. Ela parecia cansada, derrotada. Avram sentiu-se perdido de repente. Tinha vindo em busca de consolo e orientação, ter seu mundo posto em ordem novamente. Mas a sacerdotisa parecia mais necessitada de ajuda do que ele. Ficou sem saber o que dizer, então arrastou os pés para anunciar sua presença.
Ela ergueu a vista e seus olhos se arregalaram.
Yubal!
Acalme-se, Senhora Sacerdotisa — disse ele, depressa. — Não sou Yubal, não sou um fantasma. Sou Avram.
Avram? — Ela pegou uma lamparina e trouxe para perto dele. A luz ele viu os círculos escuros sob os olhos de Reina, a idade que os últimos dez anos tinham posto sobre ela, e as cavidades nas suas faces. Isto o alarmou. Nem mesmo a sacerdotisa estava imune à má sorte deste lugar.
Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto inspecionava cada centímetro da face de Avram, tocando o seu comprido cabelo entrançado, sua barba de adulto, até mesmo o grisalho nas têmporas, embora não tivesse ainda trinta anos. Os olhos de Reina pareciam banquetear-se nele enquanto passeavam pelos ombros largos e o peito musculoso, depois para o rosto, e detinham-se um momento na curiosa tatuagem. Então ela sorriu. O sorriso suavizou-lhe as feições e a fez parecer mais jovem.
Sim, é Avram. Agora posso ver. Mas como se parece com Yubal! Ouvi dizer que a caravana chegou, mas ninguém me disse que você havia chegado com ela. Vamos, temos de beber e relembrar, e agradecer à Deusa pelo seu retorno a salvo.
Ela não lhe perguntou por que fora embora, nem para onde tinha ido e por que regressara. Era como se toda a curiosidade tivesse ido embora dela. Ou talvez, pensou ele, dez anos de privações a tivessem ensinado a aceitar e não mais questionar. Reina não tinha nenhum vinho para oferecer e a cerveja estava diluída e choca, mas ele aceitou-a com grande gratidão e sentou-se com ela ao lado de um braseiro fumegante, pois a noite invernal estava esfriando.
Reina bebeu, e Avram ficou chocado por ela não ter servido primeiro uma libação para a Deusa.
É bom revê-lo, Avram — disse ela, calorosamente. — Ver você é como ter Yubal de volta. Eu era apaixonada por ele, você sabe.
Isto o pegou de surpresa.
Eu não sabia.
Era um segredo meu. Mas apesar de nunca ter tido prazer com ele havia desejo no meu coração, e, portanto creio que a Deusa me puniu por quebrar meu voto de castidade. Quando os saqueadores atacaram e me usaram brutalmente, isto matou dentro de mim todo o desejo por Yubal ou por qualquer outro homem, e ensinou-me que o prazer entre homem e mulher não é prazer, mas sim dor.
Ele olhou para seu caneco de madeira, para a ínfima ração de cerveja com resíduos flutuando na sua superfície, e sentiu o coração retumbar dentro do peito.
Sinto muito, mesmo — sussurrou, sentindo-se tão desolado quanto as terras incultas do povo de Bodolf. — Como foi que tanta má sorte chegou para nosso povo?
Ela sacudiu a cabeça.
Não sei nem mesmo quando começou. Talvez tenha começado com alguma coisa pequena, talvez alguém invadindo a sombra de outro, ou uma criada quebrando uma panela, ou um ancestral sendo insultado.
Eu fugi — revelou ele.
Ela assentiu com a cabeça, os olhos fixados na pequena chama da lamparina.
Vi uma coisa que interpretei mal, e como um covarde...
Reina ergueu a mão endurecida pelos calos.
O que passou, passou. E o amanhã pode jamais chegar. Assim, devemos viver o momento presente, Avram.
Vim em busca de perdão.
Não tenho nada que perdoar.
Refiro-me ao perdão da Deusa.
Ela lançou-lhe um olhar atônito.
Você não sabia? A Deusa nos abandonou. — Ela falava com simplicidade e sem rancor, como se toda raiva tivesse sido drenada de dentro dela. Isto o alarmou mais do que se ela houvesse descarregado sua fúria sobre ele, tal como fizera Marit.
E de repente deu-se conta da magnitude de sua transgressão. A má sorte deste lugar não fora conseqüência de uma panela quebrada ou da afronta sofrida por um ancestral. Era culpa dele. Avram, filho de Chanah, da estirpe de Talitha. Ele havia causado esta calamidade.
Grande Deusa — murmurou, enquanto o quadro terrível desdobrava-se diante dela: seu equívoco em relação a Yubal e Marit, o roubo do cristal e sua fuga covarde para o norte.
Tirando o amuleto de debaixo da túnica, ele abriu e despejou a pedra azul na mão. Entregou-a para Reina, o cristal captando a luz da lamparina e refletindo-a na forma de estrelas.
Ela arfou.
Você trouxe a Deusa de volta!
Não — disse ele. — Ela é que me trouxe de volta. Você deve mostrar a pedra às pessoas, de modo que saibam que a Deusa voltou para elas.
Reina chorou por um momneto, o rosto enterrado nas mãos, os ombros finos tremendo. Então se recompôs e pegou a pedra gentilmente, como se fosse frágil como casca de ovo.
Não contarei ao povo por enquanto, porque existem aqueles que vão se lembrar de que a pedra desapareceu na mesma noite da sua fuga, e concluirão que ela voltou no mesmo dia do seu regresso. Planejarei um momento especial para revelar o milagre às pessoas, de modo que nenhuma suspeita recaia sobre você. Construirei para ela um novo santuário, maior e melhor que o antigo. Darei um enorme banquete e direi ao povo que a Deusa voltou para nós.
Acho que regressei com uma nova sabedoria — disse Avram —, pois pude ver o mundo e a gente que nele habita. Mas descobri que não tenho nenhuma sabedoria, afinal, e que estou tão destroçado quanto na época em que as emplumadoras me levaram para o norte. Toda esta má sorte aconteceu por minha causa. O que devo fazer para me redimir e trazer mais uma vez a boa sorte para nosso povo?
Ela pousou a mão no braço dele.
Já prestou seus respeitos a Yubal desde que regressou? Tem de fazê-lo, Avram. Vá honrá-lo imediatamente, e reze por ele. Yubal era sábio. Ele lhe mostrará o caminho. E — acrescentou, com voz trêmula — bendito seja por trazer de volta o espírito da Deusa, pois agora ela trará prosperidade para nossos filhos!
Enquanto se preparava para partir, ele fez uma pausa.
Marit não tem filhos — disse. — Pode ajudá-la?
Ela já me procurou e tentamos, ano após ano. Dei-lhe amuletos e poções, preces e encantamentos. Dei-lhe placenta para comer e fumaça para inalar. Mas todo mês seu fluxo lunar aparece. — Reina segurou o cristal azul junto ao peito e seu sorriso brilhou como nos velhos dias. — Mas talvez agora haja esperança, pois Marit ainda está na sua fase fértil.
Avram retornou à tenda dos irmãos e encontrou o nicho ancestral onde viviam as pequenas estátuas dos antepassados. A de Yubal tinha a forma de um lobo e Avram se lembrou da presa de lobo que Yubal lhe dera. Disse agora ao seu venerado abba:
Em todos aqueles dias e noites de minha fuga para o oeste, enquanto atravessava terras estrangeiras e hostis, pensei que era o espírito do lobo que me protegia. Mas agora sei que era você, abba, caminhando comigo, me guiando, mantendo-me a salvo. — Ele pegou a minúscula presa de lobo e beijou-a. — Juro, abba, sobre o seu espírito e os espíritos de nossos ancestrais, que reverterei a má sorte que trouxe para nosso povo.
Ele teve um sonho no qual Yubal lhe falava. Yubal segurava a pedra azul da Deusa e dizia:
Você deve construir defesas para o assentamento. Uma muralha e uma torre.
Começarei a cortar árvores — respondeu Avram no seu sonho.
Não, árvores não. As defesas não devem ser feitas de madeira, pois a madeira pode queimar.
Tijolos de lodo, então. Começarei a trabalhar imediatamente.
Mas Yubal sacudiu a cabeça.
Tijolo de lodo se dissolve na chuva. — Ele estendeu a pedra azul a Avram. — É como isto que você deve construir. As paredes devem ser tão duráveis quanto o núcleo da Deusa.
Quando acordou, Avram já sabia o que tinha de fazer.
Após um desjejum de pão e cerveja, calçou suas perneiras de pele e as botas, mas ficou nu da cintura para cima. A seguir, antes do sol despontar sobre os penhascos a leste, ele pegou os burros de Hadadezer e subiu para as colinas próximas. A medida que o céu se nublava e um vento frio soprava, Avram seguia trabalhando. Escavou a terra com as mãos nuas e recolheu pedras de um peso tão grande que o fizeram ofegar com o esforço. Hora após hora, ele laboriosamente foi desenterrando pedras e colocando-as nas alcofas dos burros. Quando retornou ao assentamento seguiu direto para a fonte borbulhante e esvaziou as alcofas no solo. Depois, sem uma palavra sequer aos circunstantes, voltou para as colinas.
Continuou indo e vindo, mourejando sob o céu cinzento, mudo acerca de seu trabalho enquanto trazia pedras e mais pedras para depositar junto à fonte — e os cidadãos se agrupavam e observavam. Ele labutou até bem depois do crepúsculo, sem dizer uma palavra a ninguém, levando os burros para fora do assentamento e retornando com as pedras. Sua única companhia era Cadela, que trotava fielmente a seu lado.
Naquela noite Avram caiu na cama exausto, dormiu só um pouco e levantou antes da aurora para alimentar os animais, afagando-os e sussurrando nas suas orelhas. E depois os conduziu de volta às colinas.
Mais pessoas se agrupavam para observar sua desconcertante atividade. Alguém arrastou um barril de cerveja para o local e vendeu canudos. Os homens começaram a especular o insano projeto de Avram. Uma pilha de pedras ao lado da fonte borbulhante. Teria ele enlouquecido?
Quando finalmente começaram a dirigir-se a ele, indagando sobre o que estava fazendo, Avram não respondeu. Seu rosto era uma máscara de firme determinação. E quando ele fazia uma pausa, era apenas para mergulhar as mãos no escoamento da fonte, pois as palmas estavam esfoladas e sangrando. Quando Caleb e seus outros irmãos chegaram, Avram não falou com eles. Somente quando a muralha e a torre estivessem concluídas é que ele expiaria seus pecados.
Ele trabalhava até o ponto da exaustão, nunca descansando, mal comendo, até finalmente desmaiar junto à fonte, ao lado da sua montanha de pedras.
Os circunstantes receavam tocá-lo, pois achavam que estava possuído. Quando Marit chegou correndo e o viu jazendo inconsciente no solo, cuspiu para eles e perguntou:
— Vocês não têm nenhum orgulho? Não têm honra? Não movem um dedo para ajudar seu amigo?
Caleb surgiu e ajudou a carregar Avram para a tenda de Marit, onde o depositaram na cama dela, no compartimento feminino do abrigo. Os irmãos de Marit, que tinham vindo do campo de cevada para almoçar, olharam para seu velho rival com desdém, mas um olhar feroz da sua irmã os silenciou.
Peguem sua refeição e voltem para o trabalho — disse e eles obedeceram, pois Marit se tornara a chefe da família desde que sua mãe morrera e Molok ficara perturbado da cabeça.
Marit lavou as mãos de Avram e aplicou um ungüento curativo, depois as envolveu em ataduras de linho. Ela limpou-lhe o rosto e lavou seu peito e os membros, e enquanto o fazia suas lágrimas caíam sobre a pele nua de Avram. Ela contou a Avram que ele havia olhado para a lua por tempo demasiado, mas seu corpo estava gasto e a pele acinzentada, e ela soube que demônios o tinham impelido a escavar pedras nas colinas. Cadela enroscava-se à seus pés e Marit não conseguia afastar o animal.
Quando Avram acordou, Marit estava afagando sua testa e dizendo:
Avram, nem consigo começar a entender o que aconteceu a todos nós, ou por que a Deusa escolhe tais sinais para nós. Sou uma simples mulher. Mas de uma coisa estou certa: de meu amor por você. Ela se estendeu ao lado dele e Avram debilmente a tomou nos braços. Ele já sentia a boa sorte retornando.
Na manhã seguinte ele acordou com gritos de júbilo.
O que está havendo?
Marit estava penteando e trançando seu cabelo. Ela sorriu-lhe e parecia quase jovem outra vez.
Reina está dizendo que o coração da Deusa retornou. — E ela caiu nos braços dele para expressar sua alegria.
Quando se viu forte o bastante, Avram retomou a tarefa de reunir pedras para a muralha e a torre. Marit juntou-se a ele, carregando dois cestos. Ao meio-dia, Caleb e seus outros irmãos aumentaram o grupo. E ainda assim os cidadãos continuavam só olhando.
No terceiro dia Namir chegou com um cesto, trazendo quatro de seus sobrinhos. Ao anoitecer, a pilha de pedras aumentara consideravelmente.
Na manhã seguinte, Avram acordou para descobrir homens e garotos já no trabalho, indo e voltando constantemente do assentamento, despejando pedras e retornando às colinas. A visão do cristal azul no peito da Deusa tinha animado os cidadãos da nascente perene, dando-lhes uma nova esperança.
Avram ordenou que uma trincheira fosse cavada para ser a fundação da muralha. As mulheres tomaram parte, prendendo a bainha de suas saias nos cintos e agachando-se com gravetos de cavar e cestos. À medida que a trincheira se transformava num enorme perímetro em volta do poço, os homens rapidamente decidiram que queriam suas casas no interior da muralha, e assim a indústria manufatureira de tijolos começou até que todo o assentamento reviveu com a tarefa de sua reconstrução, o poder da Deusa mais uma vez dentro deles. Eles labutaram por todo o inverno e a primavera, com os garotos em torres de observação provisórias para vigiar os invasores. E a primeira camada de pedras foi erguida.
Enquanto isso, Avram contratara homens para patrulhar os vinhedos em troca de vinho. Seus irmãos trouxeram as videiras de volta à vida e agora elas estavam florescendo e produzindo frutos. Outros cidadãos uniram-se para ajudar a manter o vinhedo saudável. Podavam e tiravam as ervas daninhas, fertilizavam e regavam, pois todos gostavam de vinho e mantinham afastados os ladrões de uvas com varas e porretes.
E então ocorreram dois milagres para os quais Avram não estava preparado.
O primeiro aconteceu depois do desaparecimento de Cadela numa tarde. Isto deixou Avram preocupado por vários dias até que, certa manhã, ela se materializou à porta, o pêlo coberto com as urtigas das colinas, e caiu exausta a seus pés. Decorrido algum tempo, Avram notou que a barriga de Cadela começou a inchar, e quando ela pariu uma ninhada de filhotes, ele soube que uma nova população havia fixado residência no Lugar da Nascente Perene.
Então ocorreu o segundo milagre.
-— Estou grávida —- disse Marit com tal assombro na voz que se pensaria que ela havia visto o próprio rosto da Deusa.
Foi de fato um milagre, um sinal de que a Deusa trouxera as suas bênçãos de volta a seu povo. Mas enquanto fazia um terno amor com Marit àquela noite, Avram estava ciente de que alguma coisa no fundo de sua mente, como uma borboleta translúcida, perturbava e provocava sem que conseguisse capturá-la.
Naquele verão, enquanto novas camadas eram acrescentadas ao perímetro da muralha, casas de tijolo de lodo iam sendo erigidas no interior do círculo e uma robusta torre de pedra começava a se erguer sob as mãos dos pedreiros, o vinhedo de Avram produziu uma farta colheita e todos fizeram uma pausa na construção para esmagar as uvas na prensa de vinho.
Reina e a Deusa lideraram o cortejo até a caverna sagrada, e à medida que se aproximavam soprou um vento suave e tranqüilizante, adocicado e fresco. Avram fez uma pausa para observar a planície que se estendia até o mar Morto e teve a estranha sensação de que alguém com hálito perfumado o estava bafejando. Seu cabelo e barba se agitavam à brisa de verão e então a luz do sol dardejou sobre o mar morto em lanças de luz dourada. O dia assumiu um ar surreal. De repente, ele ouviu o zumbido pesado dos insetos, as cores ficaram mais brilhantes do que antes, como se toda a natureza a sua volta estivesse tentando lhe dizer alguma coisa.
Ele fez a procissão parar na base dos penhascos e semicerrou os olhos para a sombreada abertura da caverna. Ela o golpeou de novo, como golpeara gerações anteriores, com aquela forma parecida com um útero. E no útero da Mãe Terra o suco de uva seria carregado e colocado nas prateleiras esculpidas, onde permaneceria a salvo no escuro enquanto a Deusa elaborava sua transformação mágica e dotaria de vida o suco, fazendo-o virar vinho.
Enquanto Avram olhava fixamente para a caverna, a borboleta translúcida voltou para os recessos de sua mente, para esvoaçar com intangibilidade enlouquecedora: era um pensamento esperando para ser formado, uma idéia prestes a se tornar conhecida. Porém, por mais que ele tentasse agarrá-la, ela não vinha a ele.
Depois que os odres de vinho foram colocados na caverna, todos retornaram ao assentamento para continuar trabalhando na muralha e nas casas de tijolo de lodo. Mas a mente de Avram estava distraída. Ele ajudava a misturar palha ao lodo para fazer os tijolos, inspecionava o progresso da muralha de pedra e trabalhava com os outros homens para montar a escada interna da nova torre, mas parte de sua mente sempre continuava a caçar o fogo-fátuo que nela fixara residência.
Então, um fim de tarde, quando estava sentado debaixo de um caramanchão, bebendo cerveja enquanto Marit amassava ervilhas e cebolas para a ceia, seus olhos caíram sobre Cadela amamentando as crias. E ocorreu-lhe algo que não havia notado antes: que quatro filhotes eram brancos como Cadela, mas dois eram cinzentos como os lobos selvagens das colinas.
Pela primeira vez Avram imaginou como Cadela tinha engravidado. Cadela procedia de uma terra bem afastada da soberania da lua. Era oriunda do território da deusa Rena. Teria o poder de fertilidade de Rena se estendido tão longe? Além disso, como o espírito do lobo entrara no útero de Cadela?
O ânimo de Avram tornou-se filosófico enquanto olhava para Marit, muito adiantada em sua gravidez, e ele se perguntou: E isto que cria vida? Bodolf e seu povo acreditavam que era o espírito da rena. Hadadezer acreditava no espírito do touro. E o povo da Nascente Perene sabia que era a lua quem criava vida. Será que haveria um poder mais amplo, um poder mais difuso que o da rena, do touro e das luas locais? Pensou de novo na caverna do vinho e no suco de uva armazenado na escuridão fecunda, sendo transformado de suco em vinho, recebendo a "vida" doada pela Deusa. E mais uma vez o pensamento impalpável, aquela borboleta irritante, que recusava-se a ser capturada.
Nas semanas seguintes, Avram descobriu-se dando longas caminhadas pelas campinas e cânions desertos, para ficar à sós consigo mesmo e seus pensamentos indefiníveis. A noite ele se revirava em sonhos estranhos envolvendo Bodolf e Eskil, Yubal e ele próprio, Hadadezer e os filhos da mulher com quem o mercador vivera por muitos anos. O significado dos sonhos lhe escapa até uma tarde de outono, quando ele foi mais uma vez impelido a separar-se da companhia dos homens, com apenas Cadela trotando fielmente nos seus calcanhares. Avram chegou a um lago. Agachou-se e viu Yubal olhando para cima. Foi então que o significado dos sonhos lhe ocorreu: os homens mais novos assemelhavam-se aos seus anciãos.
Tal como os filhotes de Cadela eram parecidos com a mãe, mas assemelhando-se também aos lobos das colinas.
Uma tarde foi visitar Namir, que estava resmungando com uma aljava de flechas, tentando em vão endireitá-las. Depois de oferecer a Namir um odre de vinho e tomar assento à sombra, Avram perguntou ao velho o que ele havia observado entre os rebanhos de cabras.
Você os viu fazer isto? — E fez um gesto com ambas as mãos.
Namir deu de ombros.
Vi as cabras fazerem muitas coisas. Elas correm, brincam e lutam, como fazem as pessoas.
Mas você viu isto? — E repetiu o gesto.
Namir trouxe uma haste de flecha para perto dos olhos e examinou- a com desprazer.
Sim, suponho que sim.
Por que elas fazem isto?
Ele finalmente desviou a vista do seu trabalho.
Avram, você olhou para a lua por tempo demais?
Quando você prendia as cabras, só prendia as fêmeas?
E claro! Os machos são inúteis. A não ser que seja para comê-los diretamente.
Avram contou-lhe sobre as renas de Bodolf e os touros de Hadadezer. Namir coçou a cabeça.
Está dizendo que os animais sentem prazer como nós humanos? Algum daqueles seus burros deu-lhe um coice na cabeça, Avram?
Quando nós caçamos, os animais fogem de nós. Tão logo sentem o nosso cheiro, eles se dispersam, não param para ter prazer um com o outro. Como sabemos o que eles fazem quando não estamos por perto?
Namir torceu o nariz.
Hã?
Animais num cercado, alimentados e domesticados, não fogem de nós. Namir, vi com meus próprios olhos animais tendo prazer da mesma maneira que os homens.
Loucura! — disse o velho com uma risada, mas Avram percebeu a curiosidade rastejando nos olhos dele.
Esta noção não abandonava a mente de Avram. Ele pensou de novo no cercado das renas — os machos montando as fêmeas. A época não sabia que os animais faziam isto. Explorou as lembranças dos dias iniciais de sua fuga, quando viajara através da planície da Anatólia com os nômades. Haviam acampado entre rebanhos selvagens e vez por outra ele vira animais montando um no outro. Avram havia pensado que talvez fosse uma forma de luta, ou brincadeira. Recordou-se do touro de Hadadezer dando prazer às vacas. E de Cadela desaparecendo nas colinas e voltando para parir filhotes mestiços de lobo.
Era este ato que criava vida nova? Não espírito-criado, mas sim macho e fêmea, homem e mulher. Mas como? Porque isto não ocorria a toda hora. Havia, porém o velho Guri, o fabricante de lamparinas, que gostava de ter seu prazer com garotas novas, e elas nunca engravidavam. E a mais velha das Irmãs Cebola, que deitava com muitos homens e nunca teve filho. E então ele pensou: garotas e mulheres mais velhas não têm o fluxo lunar.
Ficou atônito. Era isso? Todos sabiam que o fluxo lunar era o que a Deusa usava para criar bebês. Mas e se o fluxo lunar fosse como suco de uva? Porque este era o milagre essencial da vida: as uvas não se fermentavam em vinho, nem o suco de uva fermentava-se contido numa taça de madeira. Uvas eram uvas e suco era suco. Era necessário o poder da Deusa na sua caverna para transformá-los em vinho.
Mas são necessários homens para carregar o suco de uva até a caverna.
Avram paralisou-se como se atingido por um raio. Virando o rosto para a brisa, perscrutou a distância e viu na planície ondulada que circundava a fonte borbulhante os novos campos arados para plantio. E percebeu o que não tinha visto antes: como os sulcos no solo pareciam as partes íntimas de uma mulher. E então visualizou a semente sendo espalhada pela mão de um homem.
Homens e mulheres juntos é que criavam vida?
Não, ele se corrigiu. É a Deusa quem cria vida — este poder é só dela. Mas ela usa tanto o macho quanto a fêmea para formar esta nova vida.
Ele quase caiu sob o peso da revelação: O vinho é feito do mesmo modo que são feitos os bebês, através do poder da Deusa. Mas simplesmente como as uvas colocadas na caverna não se transformam numa bebida sagrada, mas sim exigem o esforço colaborativo do homem para se transformarem em vinho, então resulta que o fluxo lunar por si só não pode se tomar uma criança, pois exige o envolvimento de um homem. E sementes espalhadas forçadamente em sob não preparado não são propensas a brotar como aquelas semeadas em campos arados. Caverna, campo e mulher: todos são a Mãe. Cada qual traz a vida. Mas não por si próprios; cada qual necessita da colaboração de um homem.
E então vinha a mais perturbadora percepção de todas: Marit, que não havia se deitado com homem nenhum em onze anos, agora estava grávida.
Avram foi para o santuário da Deusa buscar aconselhamento. Ele orou e silenciosamente perguntou: Estou entretendo pensamentos blasfemos? Mas então viu Reina e lembrou que, muito tempo antes, ele a tinha olhado com desejo juvenil e que havia se perguntado à época por que a Deusa criara esta ânsia confusa entre homens e mulheres. Agora lhe parecia, como na sua atormentada juventude, que a intimidade entre homens e mulheres não era só prazer, como Yubal o fizera acreditar. "A Deusa deu-nos este prazer para nos ajudar a esquecer nossa dor", seu abba dissera tempos antes. Mas agora não fazia sentido para Avram. A busca do prazer íntimo era acompanhada pela dor e com freqüência seguida por tragédia. Por que tinha a Deusa criado este magnetismo inescapável entre homens e mulheres?
E então ela falou para ele: É para garantir que a vida seja criada, Avram.
Ele começou a tremer de excitação. Sua pergunta seguinte quase o aterrorizou: E, portanto isto é homem e mulher, macho e fêmea? ele perguntou referindo-se à estátua com o coração de meteorito.
Como se em resposta, o cristal azul pareceu tremeluzir e emitir pontos de luz. Avram olhou fixamente para a pedra mística e procurou profundamente no seu coração, lutando para ver uma resposta. E no instante seguinte sua mente abriu-se numa epifania cegante: onde tinha visto uma vez a essência láctea no núcleo do cristal como a nascente perene, ele agora a reconhecia como uma essência do homem quando extrai seu prazer com uma mulher. O fluxo lunar e o fluido de um homem, combinando-se na caverna da mulher, para a Deusa operar seu milagre.
De repente, tudo se encaixava. Como se tivesse observado o mundo com olhos turvos por toda a sua vida e subitamente sua visão estivesse aguçada. Tudo isto fazia sentido, o milagre completo da coisa. Agora ele o via em todo lugar que ia: pássaros construindo ninhos juntos, macho e fêmea, para produzir ovos e alimentar suas crias; peixes nadando nos riachos, as fêmeas para depositar ovos, os machos para nadar sobre eles e abençoá-los com sua essência procriadora. Ele se sentiu ligado a tudo do gênero humano e a tudo da natureza de um modo como nunca sentira antes. Não mais um espectador na criação, mas uma parte integral dela. Recordou-se do que Marit dissera certa vez acerca de ser um elo numa longa corrente. Agora ele também era parte da corrente, sem o qual os elos subseqüentes não se ligariam aos precedentes. Marit, grávida — do seu filho.
Era como se o céu tivesse se aberto. Por toda a sua vida Avram especulara e desejara desvendar os mistérios da natureza. Enquanto olhava em volta de si mesmo, tudo de repente fez sentido, de repente ele entendeu.
Voltou direto para sua tenda, onde se prostrou diante dos avatares dos ancestrais, e falou para Yubal, abrindo o coração e oferecendo a alma, declarando seu amor e reverência pelo homem, derramando lágrimas de alívio e alegria enquanto chamava o seu abba, desta vez acrescentado uma nova interpretação à palavra, pois embora tivesse sempre significado "mestre" ou "intendente de uma casa", a partir de agora significaria também "pai".
Avram não divulgou este seu novo conhecimento, pois sabia que o povo se limitaria a rir e a declarar que havia fitado a lua por tempo demais. Mas discretamente aconselhou Namir a colocar os machos junto das fêmeas da próxima vez em que capturasse um rebanho, e assinalou a Guri, o fabricante de lamparinas, que o seu projeto de criar porcos não era uma noção bizarra. A Marit, porém, ele contou as novidades miraculosas, e ela as aceitou por terem vindo da Deusa. Avram sabia que, no devido tempo, à medida que os homens criassem burros e cães, cabras e porcos, eles iriam fazer as mesmas observações que ele fizera, e chegar às mesmas conclusões.
Por fim, a muralha foi concluída.
Todos se reuniram para celebrar a inauguração da nova torre, que iriam chamar de Jericó, significando "abençoada pela lua". Avram subiu pela nova escada de pedra doze anos depois do dia em que subira a escada de madeira da torre de observação de seu pai no vinhedo, num fatídico amanhecer que parecia tão distante no tempo. À época, era um garoto imberbe, repleto de incertezas e falta de objetivo, impulsionando-se para cima degrau por degrau, tentando extrair sentido de um mundo confuso. Agora era um homem, confiante e cheio de propósito, pousando os pés com firmeza, um após outro, nos degraus de pedra.
Entre os orgulhosos espectadores estava Marit, carregando seu filho no quadril, um menino robusto de treze meses. Ao seu lado estava Cadela, sua barriga outra vez inchada e flanqueada por uma nova geração de filhotes. Avram tinha visto as primeiras crias de Cadela crescerem para a maturidade e depois fazer travessuras e montar uma na outra até que as fêmeas engravidaram, de modo que uma nova geração de cães domesticados estava prestes a juntar-se ao assentamento. Namir estava sorrindo à luz do sol, o gordo, próspero e muito orgulhoso proprietário de um florescente rebanho de cabras, porque aceitara o conselho de Avram. Guri estava de novo fazendo experiências com porcos e as irmãs Cebola acrescentando um cercado de patos no seu terreno, descobrindo, tal como Avram descobrira, que havia uma harmonia maior na natureza do que pensavam anteriormente, uma assombrosa interdependência que era como uma linda e tremeluzente teia de aranha, com animais, espíritos e humanos — todos ligados num contrato sagrado.
Avram alcançou o topo da torre, e quando emergiu na brilhante luz do sol, um rugido elevou-se da multidão. Os cidadãos de Jericó olhavam para sua realização com grande orgulho e segurança, pois em nenhum lugar do mundo havia muralhas como aquelas, que nenhum invasor seria capaz de derrubar. Enquanto recebia bem o rugido ensurdecedor, sentindo-se em paz e perdoado de seus pecados passados, Avram permitiu que seus pensamentos flutuassem acima das distâncias até alcançarem o Povo da Rena — Frida e o filho que estava carregando quando ele partiu. Seu filho.
Avram deixara seu sangue lá no norte congelado, a estirpe de Talitha, a estirpe de Yubal, para ser carregado por outros, a tantos quilômetros de distância.
Ínterim
Avram nunca entendeu por que lhe havia sido dado o conhecimento da paternidade. Mas a Deusa tinha suas razões e pelo resto da vida ele agradeceu-lhe dia e noite, suas preces repletas de louvores para a Mãe de todos. Com o tempo, embora não nos dias de Avram ou nos dias de seus filhos e netos, a Mãe de Todos se juntaria ao Pai de Todos, até que um dia, no futuro não muito distante, a Mãe seria suplantada inteiramente pelo Pai.
Jericó prosperou. Avram e Marit tiveram mais filhos, o rebanho de cabras de Namir aumentou, novas ninhadas nasceram para Cadela e suas crias. Guri deixou de fabricar lamparinas para ser um próspero criador de porcos. Novas safras foram plantadas, trigo e milho, algodão e fibra de linho, mais animais foram domesticados e criados para dar leite, ovos e lã. Com rendimento aumentado e boa sorte, o povo fez sacrifícios para a Deusa. Seu santuário foi ampliado e o número de sacerdotisas cresceu. Com o passar dos séculos, a muralha não mais guardava semelhança com aquela arquitetada por Avram, pois, como era de se esperar, ao longo das eras as muralhas de Jericó cairiam para ser reconstruídas vezes sem conta.
A manufatura de têxteis chegou a Jericó, e também o alfabeto e a escrita. Dois mil anos após Avram e Marit juntarem seus ancestrais, um homem chamado Azizu estava na sua roda de oleiro e acidentalmente a derrubou. Enquanto a observava girar ao seu lado, uma idéia ocorreu- lhe. Resultaria em muita tentativa e erro, mas Azizu teve êxito em fazer duas rodas rolarem sobre um eixo, acima do qual ele colocou um carro. Agora ele podia transportar dez vezes mais cerâmica do que antes, e creditava sua inspiração a uma visita ao santuário da Deusa, onde beijara seu coração de cristal azul para ter sorte. Quatro mil anos depois de Hadadezer espantar Avram com pepitas de cobre extraídas com as mãos em concha do leito de um riacho, homens estavam garimpando cobre e latão e fundindo-os juntos para produzir bronze. Mil anos depois disso, os homens descobriram o ferro e como dominá-lo, e o mundo mudou para sempre.
À medida que as populações aumentavam, assentamentos se tornaram aldeias e aldeias se tornaram cidades. Líderes se destacaram das massas e se chamaram reis ou rainhas para governarem os outros. O poder de Al-Iari cresceu, seu santuário tornou-se um tabernáculo e depois um templo com sacerdotes e sacerdotisas. Seu povo chamou a si mesmo de cananitas, e viajantes de Babilônia e Suméria a reconheceram como a sua adorada Ishtar e Inanna. Perto de Baal ela era venerada por sua fertilidade, e embora sua fisionomia mudasse com o passar dos anos, sendo sua estátua substituída muitas vezes, o velho cristal azul ainda era o seu coração.
E assim ela sobrevivera, protegida e adorada por milhares de gerações desde a época da Laliari e Zant. E então invasores chegaram do vale do Nilo, liderados por um faraó, conquistador feroz, chamado Amenófis que levou de volta não apenas escravos como também se apossou de deuses e deusas. Entre eles figurava a Deusa padroeira de Jericó, que foi abrigada temporariamente e respeitada no santuário de deusas egípcias menores, onde seu coração cristalino capturou o olhar de uma rainha adúltera.
Quando a rainha foi depositada para seu repouso final numa esplêndida tumba além da imaginação (devido à consciência culpada do rei que a envenenara) o cristal azul a acompanhou, e ali rainha e cristal dormiram num mundo escuro e sem ar, anônimos e esquecidos por milhares de anos até que ladrões de tumbas, bêbados, cheirando a urina e cobertos de picadas de pulga, abriram caminho na tumba e trouxeram a antiga pedra azul de volta à luz do dia. A lágrima de meteorito azul-do-céu mudou de mãos ao longo de uma sucessão de anos enquanto foi trazida, vendida, roubada, disputada e apostada até parar em poder de um importante funcionário romano, que mandou engastar a pedra num lindo colar para sua esposa.
Ele pretendia que o presente fosse uma punição.
Roma, 64 d.C.
A prece da Sra. Amélia era de desespero.
Por favor, permiti que a criança seja saudável.
O santuário dos deuses domésticos continha várias divindades romanas, portanto a Sra. Amélia tinha de recorrer a alguma das mais poderosas no panteão. Mas, uma vez que as circunstâncias exigiam a interferência especial de uma deusa que tivesse empatia com o apelo de uma mãe, a Sra. Amélia havia escolhido uma a quem o povo chamava de Virgem Abençoada (porque concebera um filho sem a assistência de um homem), uma deusa que conhecera o sofrimento quando seu filho fora pendurado numa árvore para morrer, descer ao submundo e depois voltar ressuscitado. Portanto era a esta piedosa mãe, a Rainha do Céu, a quem a Sra. Amélia fazia agora o seu pedido:
— Permiti, por favor, que a criança nasça sem defeitos ou incapacidades. Permiti que caia nas boas graças do marido de minha filha e que seja aceita na família.
Suas palavras sussurradas morreram no silêncio da manhã. Morreram porque não havia nenhum significado por trás delas, nenhuma fé. Sua prece era uma impostura, uma devoção da boca para fora. A Sra. Amélia fazia esses apelos de piedade porque era o que se esperava dela; como uma matrona modelo romana ela sempre fez a coisa certa, sempre manteve as aparências. Mas seu coração estava completamente vazio de fé. Como podia uma mulher acreditar em deusas quando os homens tinham o direito de dispor dos bebês das mulheres?
Terminada a prece, ela persignou-se, tocando a testa, o peito e os ombros, porque uma vez tinha visto isto sendo feito por um devoto de Hermes, o antigo deus-salvador conhecido como a Palavra Tornada Carne. O sinal-da-cruz vinha de anos de hábito. A Sra. Amélia não mais acreditava no seu poder. Ela se lembrava de um tempo em que as preces eram um consolo, em que os deuses eram um consolo. Mas agora os deuses se tinham ido e não havia nenhum consolo no mundo.
De repente a casa foi tomada por gritos, ecoando das paredes, colunas e estatuária. Sua filha estava em trabalho de parto havia um dia e meio e as parteiras começavam a se desesperar.
A Sra. Amélia deu as costas à Virgem Abençoada Juno, mãe do deus- salvador Marte, e passou pela colunata sombreada que envolvia o jardim interno da vila, onde uma fonte jorrava docemente neste dia quente de primavera. A Sra. Amélia não se incomodava em visitar o santuário dos ancestrais. Fazia anos que não orava para eles. Sem deuses não poderia haver vida após a morte, e sem vida após a morte os ancestrais não poderiam existir.
Ela deslizou silenciosamente pelo átrio onde rapazes jogavam dados e riam, despreocupados com os gritos que rasgavam a paz matinal. Eram três filhos dela e dois genros, bem como amigos íntimos da jovem cujo filho estava lutando para vir ao mundo. Enquanto atravessava o umbral da porta aberta viu o marido da sua filha, um jovem prestes a ser pai reclinado à vontade, bebendo vinho e jogando dados como se não desse a menor importância ao mundo.
Talvez ele não dê, pensou com um rancor que não lhe era peculiar. O parto era somente problema das mulheres.
Um pensamento voejou como uma sombra pela mente de Amélia, rápido e negro como um corvo: Nós mulheres carregamos filhos dentro de nossos corpos, os alimentamos com nosso fôlego e nosso sangue, nossos batimentos cardíacos bombeiam a vida neles, e por quase dez meses a criança e a mãe são um único ser. E então chegam as dores do parto, o dilacerar da carne e o fluxo de sangue, a agonia de impelir a nova vida para o mundo. Porém para você, jovem pai, não há dor nem sangue. Um momento de prazer e, nove meses depois, você bebe vinho, joga dados e decide o destino do recém-nascido.
Amélia experimentou uma pontada de ressentimento. Não apenas em relação ao seu genro, mas a todos os homens que decidiam sobre a vida e a morte tão cegamente como se estivessem num jogo de dados. Ela nem sempre se sentira assim. Houve um tempo em que Amélia, esposa do poderoso e nobre Cornélio Gaio Vitélio, acreditava nos deuses e pensava que a vida era boa. Mas toda a alegria e fé se extinguiram no dia em que a morte prevalecera sobre a vida.
Um dia não diferente do de hoje.
Seu caminho foi bloqueado de repente por um homem idoso, o Leitor dos Pássaros, que ela contratara para interpretar os sinais. O velho grego exercia um lucrativo negócio porque os romanos eram um povo supersticioso, sempre observando sinais e presságios, lendo significado em cada nuvem e ribombar de trovão. Para um romano o dia não podia começar sem que antes não fosse determinado se era um dia auspicioso para tratar de negócios, para se casar, para fazer molho de peixe. E entre todos os instrumentos de augúrio, desde os nós dos dedos às folhas de chá, o vôo dos pássaros era o mais importante — até mesmo a palavra "auspicioso" derivava de auspicium, que significava adivinhação por meio do vôo dos pássaros.
— Li os auspícios, senhora — começou o Leitor dos Pássaros. — Vejo um homem. Seus braços estão abertos, prontos para abraçá-la.
-— A mim? Certamente se refere à minha filha. Ou ao seu recém-nascido.
Os sinais são muito claros. Um homem está vindo para sua vida, senhora. E está abrindo os braços em boas-vindas.
O único homem em quem podia pensar era seu marido, Cornélio, que deveria voltar em breve do Egito. Mas isto não seria possível. Fazia anos que ele não abria os braços para ela.
O que dizem os pássaros sobre minha filha?
O adivinho deu de ombros — um gesto rápido — e estendeu a mão para receber o pagamento.
Nada dizem sobre ela, apenas sobre a senhora.
Amélia deu ao homem uma moeda de ouro e apressou-se ao longo da colunata rumo ao quarto onde sua filha pelejava para trazer uma nova vida ao mundo.
A Sra. Amélia havia tomado todas as precauções para assegurar o êxito desta gravidez, a primeira de sua filha mais nova. Tão logo Cornélia lhe anunciara a gravidez, Amélia insistira para que ficasse em casa por esse tempo, casa, neste caso, sendo a vila no campo onde a família Vitélio havia produzido vinho e azeite durante gerações. Amélia teria preferido sua casa na cidade, mas sempre que seu marido Cornélio estava ausente, como agora, insistia para que ela e a criadagem se retirassem para o campo. Apenas Amélia conhecia a razão secreta para esta regra inflexível. Só ela sabia que era uma forma de punição.
Ela entrou no quarto, que estava repleto de parteiras e suas assistentes, as tias e primas de Cornélia, sua irmã mais velha e duas cunhadas, além do astrólogo que sentava-se a um canto com seus mapas e instrumentos, pronto a registrar o momento do nascimento da criança. Seguindo uma tradição muito antiga entre as famílias aristocratas, a filha de Amélia recebera seu nome em homenagem ao pai, portanto Cornélia (tal como o filho mais velho era Cornélio), o que às vezes gerava confusão. Amélia gostaria que a filha tivesse o seu nome, mas assim não ocorrera.
O coração de Amélia tendia para Cornélia que, aos 17 anos, tinha a mesma idade que ela própria ao dar à luz seu primeiro filho, que estaria agora com 26 anos se tivesse vivido. A segunda gravidez de Amélia resultara em aborto, mas a terceira, quando estava com 21 anos, gerara seu filho mais velho, Cornélio, de 22 anos, estudando direito para seguir as pegadas de seu ilustre pai. Amélia engravidara sete vezes depois disso: uma tinha lhe dado seus gêmeos, agora com 20 anos, uma produzira Cornélia, duas geraram bebês que morreram na infância, uma outra dera- lhe Gaio, seu filho de 13 anos, mais uma terminara em aborto e a gravidez final, seis anos antes, quando ela estava com 37 anos, tinha sido aquela que alterara sua vida e seu universo para sempre.
Aproximou-se da cama da filha e, olhando-a com simpatia e preocupação, colocou a mão na testa febril de Cornélia num desejo sincero de que pudesse ser capaz de transferir a dor para si.
A jovem afastou-lhe a mão.
Onde está papai? — perguntou, mal-humorada. — Quero papai.
Amélia sentiu uma estocada de dor. Cornélia não tinha concordado
finalmente em ficar na casa de campo porque quisesse estar com a mãe, mas sim porque desejava estar lá quando seu pai retornasse do Egito.
Mandei uma mensagem para Óstia — disse Amélia. — Tão logo o navio chegue, ele será avisado.
Cornélia desviou a vista da mãe e ergueu as mãos para a irmã e as cunhadas. As jovens mulheres se agruparam em torno dela até que Amélia viu-se fora do círculo. Ela não protestou. Já tinha sido excluída do círculo familiar anos antes, quando o desgosto a impelira a cometer um ato imperdoável. Meninas pequenas que um dia a adoravam e a seguiam por toda parte como raios de sol, tinham virado as costas para uma mulher que decidiram não ser mais digna do seu amor.
Sim! ela queria gritar, assim como quisera gritar nos últimos seis anos. Cometi adultério. Busquei consolo nos braços de outro homem. Mas não foi por necessidade de sexo ou amor — fui movida pelo pesar, porque minha filha nasceu aleijada e meu marido a jogou fora!
Mas o grito foi mudo, como sempre acontecia — ninguém se importava com o motivo que havia levado Amélia a dormir com outro homem, somente com que o tinha feito — e ela apertou as mãos com força enquanto observava a parteira em seu trabalho. A mulher havia lubrificado o canal de parto com gordura de ganso, e mesmo assim o bebê não vinha. Ela então extraiu uma comprida pena branca da sua sacola, subiu no leito para montar na mulher em trabalho de parto e começou a atiçar o nariz de Cornélia para que ela espirasse.
A Sra. Amélia fechou os olhos enquanto uma lembrança dolorosa lampejava em sua mente. Seu próprio trabalho de parto durante o nascimento de seu último filho, o bebê que Cornélio se recusara a aceitar, ordenando a uma criada que o levasse, com poucos minutos de nascido, para ser deixado exposto às intempéries num monte de lixo. Amélia nem chegara a ver o bebê. Tinha sido tirado direto de seu útero para Cornélio, que dera uma olhada no pé deformado e declarara a criança inadequada. Amélia passara os anos que se seguiram tentando entender o que tinha feito para causar a deformação, pois certamente só devia culpar a si mesma. De que outro modo explicaria a má-formação do pé? Com o coração cheio de pesar ela havia revivido vezes sem conta os meses da gravidez, tentando descobrir o único erro, o único deslize que cometera e que causara a deformação. E então lhe ocorrera: o dia em que estivera sentada no jardim de sua casa citadina. Lia um livro de poesia e não sentira a borboleta pousar no seu pé. Foi só quando olhou para baixo que a viu, e como ficara tão absorta pela sua proximidade e beleza, e sua evidente falta de medo — pois continuara pousada ali, agitando suas asas frágeis —, não a tinha enxotado. Não sabia quanto tempo a borboleta ficara descansando no seu pé, mas era claro que tinha sido o suficiente para deixar uma marca no bebê que tomava no seu útero naquele momento, pois três meses mais tarde ele nasceu com um pé deformado, marcando-o para ser jogado num monte de lixo.
Por este motivo, a Sra. Amélia tinha sido tão protetora em relação à filha nos últimos meses, lendo os auspícios várias vezes por dia, atenta aos sinais, tomando cuidado para não quebrar quaisquer tabus ou atrair má sorte para a casa. Quando um gato preto aparecera no jardim, ela mandara matá-lo de imediato. Mas um gato branco extraviado tinha sido trazido e mimado para dar sorte. A Sra. Amélia não suportaria ver a filha passar pela agonia que ela própria passara com aquele último bebê perdido.
Uma vez que a pena não produzira resultados, a parteira procurou de novo em sua sacola e extraiu uma medida de pimenta que esvaziou na palma da mão. Levando-a ao nariz de Cornélia, mandou-a inalar profundamente. A jovem o fez e produziu um espirro tão violento que o bebê foi impelido para baixo.
Eis a cabeça! — gritou a assistente.
Momentos depois, o neonato escorregou para o cobertor à espera. Enquanto a parteira atava e cortava o cordão umbilical, a Sra. Amélia se postou apreensiva ao lado da cama.
E um menino? — perguntou Cornélia, arquejante. — Nasceu perfeito?
Mas Amélia não disse nada. Tendo nascido o bebê, a questão agora saía das mãos das mulheres. O que acontecesse a seguir dependia do marido de sua filha. Se ele rejeitasse o filho, então era melhor Cornélia não ficar sabendo de nada, pois ele seria levado da casa e depositado num monte de lixo para ser exposto aos elementos.
Tão logo a parteira enrolou o neonato num cobertor, a Sra. Amélia tomou-o dela e, embalando gentilmente o bebê, apressou-se para fora do quarto. Atrás de si, Amélia ouviu Cornélia perguntando à parteira se era menino ou menina. Mas a mulher, já escaldada, sabiamente ficou em silêncio. Quanto menos a mãe soubesse do bebê, melhor.
A Sra. Amélia penetrou no átrio e de imediato ganhou a atenção dos rapazes lá reunidos: seu filho mais velho, Cornélio, que já era pai de duas crianças; o filho seguinte, gêmeo da filha de 20 anos de Amélia; o filho mais novo, de apenas 13 anos; o jovem marido de sua filha de 20 anos; primos e amigos íntimos; e finalmente o marido de Cornélia, de 19 anos, espigando-se alto e orgulhoso, ciente da solenidade da antiga tradição que estava prestes a seguir e da gravidade de suas ações seguintes.
Ela depositou o bebê aos pés dele e recuou. Ninguém se moveu ou respirou enquanto ele se inclinava e abria o cobertor para ver o sexo da criança. Se fosse menina, e não tivesse defeitos, ele a reconheceria como sua e depois a entregaria para amas-de-leite escravas, como ditava o costume. Mas se fosse menino, e sem defeitos, ele o pegaria no colo e o declararia seu filho diante da família e amigos.
O momento se prolongou. Amélia estava quase em pânico. Seis anos atrás, Cornélio abrindo o cobertor, vendo que era uma menina, e a seguir vendo o pé defeituoso que a deixaria aleijada por toda a vida. Virando-se de costas. Gesticulando furioso para a escrava que desapareceu com a criança como se fosse um lixo derramado. E Cornélia, de apenas 11 anos, entrando às pressas no quarto e dizendo: "Mamãe, o papai mandou jogar fora o bebê. Era um monstro?"
E agora a própria Cornélia estava esperando pelas mesmas notícias...
O recém-nascido era um menino, perfeito e imaculado. O jovem pai abriu um sorriso e ergueu o bebê do chão.
Tenho um filho! — gritou, e todos deram vivas e o cumprimentaram.
A Sra. Amélia quase desfaleceu de alívio. Mas quando já ia correr de volta à filha com as boas novas, houve uma súbita comoção do lado de fora. Filo, o mordomo da vila, materializou-se à porta com seu bastão de madeira e postura majestosa.
Senhora, o amo chegou — anunciou.
Ela levou a mão à boca. Não estava preparada!
Amélia não seguiu diretamente para recepcionar Cornélio. Em vez disso observou das sombras enquanto escravos se apressavam em receber seu amo com vinho e bebida, para livrá-lo de sua toga, para alvoroçar em torno dele em nítido excitamento: quando o amo estava fora, a vida no campo era mortalmente tediosa. Cornélio aceitou a adulação com a afabilidade de um rei. Aos 45 anos, Cornélio era alto e bem- apessoado, com apenas um leve tom grisalho nas têmporas. Amélia quase pôde se lembrar de como era quando estava apaixonada por ele. Mas isto foi antes que descobrisse seu frio e implacável coração, quando ele soubera por amigos de sua breve indiscrição com um poeta de passagem por Roma. Ela havia confessado e pedido perdão, dizendo a ele que tudo se devera ao pesar pela perda de seu último bebê, e que o poeta tinha entoado as palavras que ela precisava ouvir. Mas Cornélio replicara que nunca a perdoaria, e então tudo mudou.
Ela seguiu silenciosamente o marido enquanto ele ia direto para o quarto de parto, onde cumprimentou seu genro e pegou o bebê da ama-de-leite para cumulá-lo de atenções. Depois ele sentou-se no leito e inclinou-se sobre Cornélia, que sempre tinha sido a sua favorita. Quando os dois estavam juntos, Amélia sempre se sentia excluída. Que segredos estaria ele sussurrando agora para a filha?
Um garotinho chegou correndo e gritando:
— Papai! Papai!
Lúcio, um garoto gorducho e mimado de nove anos, era seguido por um velho cachorro chamado Fido, o nome romano mais popular para um cachorro, significando "fiel". Fido era um nome adequado também para o menino, pois ele adorava o pai e o seguia por toda parte. Amélia observava Cornélio envolver o menino num amoroso abraço. Ele não era realmente filho deles, apenas adotivo. Cornélio adotara o garoto quando ele ficou órfão aos três anos. Lúcio era filho de primos distantes, e, portanto da família. Amélia tentara amar Lúcio, mas não conseguira encontrar lugar no seu coração. Não era culpa do garoto. Amélia jamais se esqueceria de que Cornélio tinha aceitado um filho de outra mulher enquanto se livrara do seu.
Amélia estava com 37 anos quando concebera seu último filho. Já havia começado a sentir as mudanças no corpo, sinais de que sua fertilidade estava chegando ao fim. E, portanto aquela tinha sido uma gravidez especial porque seria a sua última, e ela havia amado a vida no seu útero mais profundamente do que qualquer um de seus outros filhos. Seria a companhia na sua velhice, quando os outros filhos teriam crescido e seguido suas vidas, o filho especial a receber da velha mãe atenção e sabedoria.
E então Cornélio o havia jogado fora.
Amélia tentara lembrar a si mesma de que na verdade deveria ser grata: ter cinco filhos sobreviventes em dez gestações era um sinal de favorecimento dos deuses. Crianças romanas nem sequer recebiam nome até completarem um ano de idade, a mortalidade infantil era, portanto comum. Teria aquele ser precioso sobrevivido ao monturo? Haveria em algum lugar de Roma uma orfãzinha manquitolando com um pé aleijado? Pessoas que escavavam lixo para recuperar vasos quebrados, lamparinas, sobras de papiro e roupa, às vezes recolhiam bebês ainda respirando. Tais resgates não eram feitos por compaixão, mas sim por lucro: uma criança podia ser criada com um mínimo de alimentação e cuidados e depois, se vivesse até os três ou quatro anos de idade, poderia ser vendida no mercado de escravos por um lucro quase puro. Se tivesse sorte, a criança cresceria para servir a um senhor bondoso. O mais provável, porém era que fosse vendida para uma servidão brutal e, se de todo atraente, para entretenimento sexual.
Após observar a reunião da família como se através dos olhos de um estranho — pois sabia que nunca seria incluída, não importando que fosse esposa e mãe —, Amélia saiu de seu lugar nas sombras e foi dar instruções ao cozinheiro para o banquete da noite. A tensão da manhã dispersada, a casa agora estava em plena atividade. O fato de o recém-nascido ter sido aceito na família pelo jovem senhor era motivo suficiente para comemoração, mas agora havia a perspectiva extra e excitante de retorno à cidade.
Mas enquanto Amélia inspecionava a caça recém-abatida e discutia os molhos com o cozinheiro, para sua grande surpresa o mordomo Filo apareceu inesperadamente anunciando que seu marido queria vê-la. Amélia não confiava em Filo. Sabia que suas pálpebras sonolentas escondiam um arguto intelecto. Desconfiava que ele a espionava e relatava suas atividades a Cornélio.
Amélia não seguiu direto para os aposentos privativos do marido: parou na sua própria suíte para verificar o cabelo, a roupa, o perfume. Ficou subitamente nervosa. Por que ele pedira para vê-la? Amélia e o marido mal se falavam, até mesmo depois de uma separação de sete meses.
Cornélio Vitélio, um dos advogados mais populares de Roma e presentemente um favorito da plebe, tinha ido ao Egito para supervisionar os negócios que a família mantinha lá. Amélia e o marido eram muito ricos. Enquanto Cornélio era dono de minas de cobre na Sicília, uma frota de navios cargueiros e lavouras de grãos no Egito, Amélia possuía vários imóveis de aluguel no coração de Roma.
Ela o encontrou sentado a uma pequena escrivaninha. Havia acabado de chegar de uma jornada tão longa e já se inteirava da correspondência e das novidades. Ela ficou ali plantada pacientemente. Então limpou a garganta e finalmente perguntou:
Como estava o Egito, meu senhor?
Egípcio — respondeu ele, de modo desinteressado.
Amélia gostaria de ter ido com ele. Desde criança que sonhava em visitar as ruínas do Egito, mas claro que tais sonhos estavam agora além de toda esperança de se tornarem realidade. Enquanto esperava nervosa que Cornélio dissesse por que mandara chamá-la, pensou freneticamente acerca dos últimos sete meses para ver se havia alguma coisa que o marido pudesse remotamente considerar uma infração das regras que lhe impusera.
Mas era impossível se lembrar de algo. Cornélio poderia interpretar sua mais leve palavra ou gesto como um ato de rebelião. Fosse o que fosse, o que faria com ela desta vez? Deixá-la na casa de campo enquanto retornava para Roma? Achava que não ia agüentar por muito mais tempo aquela exclusão.
Sua punição sempre se manifestava de modo sutil. E parte de seu controle sobre ela era que nem sempre permitia-lhe abordar o assunto a ser explicado. Cornélio a tinha julgado e ponto final. Ela queria dizer- lhe: "Deixe-me contar por que fiz aquilo."
Mas o assunto estava encerrado, muito embora fosse o assunto dela, parte de sua vida, e ela teria controle sobre qualquer coisa que fosse discutida ou não. Cornélio não a interrogara como outros maridos costumavam fazer. Não erguera a voz ou a xingara. Ela com freqüência pensava que, se ao menos fizesse essas coisas, então o "monstro" poderia ser trazido à tona e talvez expulso de suas vidas. Mas Cornélio bloqueara todas as saídas, assegurando-se de que o fantasma sem nome não pudesse escapar, que continuasse a viver entre eles como seu tormento particular.
O adultério foi algo que tinha simplesmente acontecido. Ela ficara desconsolada com a perda do bebê. O caso de amor só durara uma semana, mas tinha sido o bastante. Em vez de divorciar-se e bani-la para o exílio, como era o seu direito, Cornélio a surpreendera ao continuar casado com ela. A ocasião havia achado que era seu modo de perdoá-la. O verdadeiro motivo, porém, era exatamente o oposto.
Cornélio agora controlava por completo a sua vida e periodicamente, como parte de sua punição contínua, ordenava que permanecesse no campo. Amélia adorava a cidade, onde estavam todos os seus amigos e seus amados teatros e livrarias. Sempre que era obrigada a ficar no campo lembrava-se de Júlia, a filha de Augusto, que fora exilada para a ilha de Panolateria, um árido afloramento vulcânico no oceano que era tão pequeno que ela podia percorrer toda sua extensão e largura em menos de uma hora. Júlia não tinha direito a vinho nem alimentos preferidos, nem animais de estimação ou entretenimentos ou companhia — nenhum tipo de luxo. E lá tinha morrido após anos sem ver ninguém a não ser o velho que trazia peixe da praia. Tal era o destino das esposas adúlteras quando não eram de fato executadas por seu crime.
Cornélio porém escolhera uma punição mais lenta, mais dolorosa. Em vez de simplesmente abatê-la com um golpe e bani-la para o exílio, ele mantinha Amélia de modo a poder rebaixá-la lentamente, privando-a de autoconfiança e orgulho. Havia a estátua de uma deusa no jardim, exposta aos elementos, e a cada estação ela ficara um pouco menor, um pouco mais reduzida enquanto o vento e a chuva a erodiam. Muito tempo atrás tinha sido uma bela e perfeita estátua, com feições faciais distintamente cinzeladas, mas agora o nariz, as faces e o queixo estavam desgastados, o rosto sem forma a ponto de não mais se saber que deusa tinha sido. Era assim que Amélia agora se via: era uma estátua exposta aos ímpetos do marido. E, como uma estátua, permanecia imóvel sem poder fugir. Algum dia, temia, estaria tão descaracterizada que sua identidade não mais seria conhecida.
Cornélio ergueu-se por fim da escrivaninha e entregou-lhe uma pequena caixa de ébano.
Amélia olhou para ela.
— O que é isto?
Fique com ela.
Ele havia lhe trazido um presente? Seu coração pulou com uma breve esperança. Os meses passados no Egito e a ausência de casa teriam lhe dado uma pausa para refletir e reconsiderar? Ela pensou na profecia do Leitor de Pássaros, de um homem recebendo-a de braços abertos, e imaginou num ímpeto de excitamento se Cornélio por fim a perdoara.
Amélia inspirou fundo quando abriu a caixa e viu o que havia dentro dela: o mais estranho colar em que já havia pousado os olhos.
Atordoada de alegria e súbita esperança, cuidadosamente tirou a corrente de ouro da caixa e segurou-a de encontro à luz. Engastada com perícia no ouro estava uma atordoante pedra azul, lisa e em forma de ovo, emitindo tonalidades dos céus, do arco-íris e lagos. Enquanto colocava o colar no pescoço, Cornélio disse:
Diz a lenda que foi encontrado no túmulo de uma rainha egípcia que enganou o marido e foi condenada à morte por isso.
A alegria e a esperança de Amélia desmoronaram. Neste instante, ela viu a verdade de sua vida: uma mulher cujos filhos não mais precisavam dela, cujo marido era frio e cruel, e cujos poucos amigos mexericavam sobre ela pelas costas. Uma situação intolerável. Ainda assim, nunca poderia partir, pois a lei dava a Cornélio direito absoluto de vida e morte sobre ela. Além disso, ela errara e merecia ser punida.
Amélia acordou com um sobressalto.
Prestou atenção na noite e ouviu, através da janela aberta, o barulho incessante da cidade. O tráfego sobre rodas era proibido nas ruas de Roma durante o dia, e, portanto a noite era preenchida pelo clape-clape de cascos e pelo rangido das carroças. Mas não fora a cidade que a tinha acordado.
Quem está aí? — sussurrou na escuridão.
Como não houve resposta, continuou imóvel, prendendo a respiração. Estava certa de ter sentido uma presença no quarto.
Cornélio? — chamou, mesmo sabendo que seria impossível.
Sua pele de repente arrepiou-se e sentiu o couro cabeludo comichar. Tomada por um pavor inominável, sentou-se. O quarto estava inundado por um radiante luar. Olhou em torno do quarto, mas não viu ninguém.
Levantando-se da cama, atravessou o quarto para olhar pela janela. Roma dormia. Telhados, torres, colinas e vales, tudo estava banhado pela luz brilhante da lua e das estrelas. E o inflexível tráfego nas ruas, estranhamente solene e abafado, como se fantasmas fossem os condutores dos cavalos e mulas.
Sentiu um gélido arfar às suas costas. Virando-se num sobressalto, examinou o quarto mais uma vez. Seus sentidos estavam aguçados. A mobília destacava-se com soturna nitidez à luz sobrenatural da lua. De repente, nem parecia mais seu quarto, afinal. Ele a fazia pensar em túmulos e morte.
Atravessando o chão frio, alcançou a penteadeira e olhou para a caixa de ébano que Cornélio trouxera do Egito. E de repente ela soube: Aí jaz a presença sem nome. O cristal azul odioso que repousara por mil anos sobre o peito de uma mulher morta. Aquilo a aterrorizou. Quando Cornélio o entregara a ela, Amélia olhara longa e detidamente para as profundezas azuis da pedra, e o que tinha visto a inundara de tamanho pavor que pusera de lado o colar, jurando nunca mais trazê-lo de novo à luz.
Porque tinha visto o fantasma da rainha assassinada.
Enquanto um raio de sol matinal filtrava-se através da janela, Amélia sentou-se à penteadeira como sempre fazia, aplicando maquiagem, examinando as jóias, arrumando o cabelo: um ritual necessário. Amélia conservava sua sanidade mantendo as aparências. Ao arrumar o cabelo, ela arrumava suas emoções. Ao fazer o que se esperava dela, não precisava pensar ou tomar decisões. Sendo uma mulher de certa posição, havia regras que deviam ser seguidas, e Amélia as seguia quase obsessivamente. Era como um mímico no teatro, toda gestos e nenhuma substância. Tinha amado Cornélio uma vez, muito tempo antes, mas agora não conseguia relembrar como tinha sido — amar Cornélio ou simplesmente amar. Ela não ficara apaixonada por seu amante, um homem que conhecera por somente uma semana e cujo rosto mal podia invocar agora. Em retrospecto, não podia se recordar das emoções que a impeliram ao abraço dele, e por certo não restava nenhum vestígio daquela fortuita paixão física.
O adultério era uma coisa estranha. Tudo dependia de quem o cometia, e com quem. Entre as classes baixas, a traição conjugal era quase um esporte nacional e uma grande fonte de piada para o teatro. Mas a nobreza se pautava por um padrão diferente, e uma esposa transviada era vista como traidora não só pelo marido, mas também por toda a classe social a que pertencia. Como Lucilla, a linda viúva de um senhor famoso, lhe dissera uma vez despudoradamente, o pecado não era o adultério em si, mas sim a adúltera ser flagrada. Amélia tinha agido na maior estupidez, e por isso os senhores e damas de Roma não podiam perdoá-la.
Cuidado com o número quatro, senhora — grasnou o astrólogo numa voz envelhecida enquanto consultava um mapa astral.
A Sra. Amélia desviou a vista do espelho. Estivera aplicando pó-de-arroz nos círculos escuros sob os olhos, porque, uma vez que conseguira voltar a dormir, os pesadelos a assolaram com terrificantes cenários de túmulos, sarcófagos e rainhas mortas vingativas.
O número quatro? — perguntou ela.
E o seu número de má sorte hoje — explicou o velho que lia o horóscopo de Amélia a cada manhã. — Deve ser evitado a todo custo.
Ela olhou para o seu reflexo. Por que evitaria um número que era tão prevalente? O universo era feito de quatros: os quatro elementos, os quatro ventos, as quatro fases da lua. E as pessoas: quatro membros, os quatro ventrículos cardíacos, quatro paixões.
Suas garotas escravas estavam arrumando seu cabelo para o dia e fazendo um belo trabalho, pois gostavam da sua ama. Amélia era mais gentil do que muitas senhoras da sua classe e não espetava as escravas com grampos de cabelo se não fizessem as coisas de modo correto.
As duas jovens escravas trabalhavam com o cuidado necessário para uma senhora variar o estilo do seu cabelo; usar o mesmo cabelo dia após dia simplesmente não se fazia. Nesta manhã os longos cachos de Amélia, tingidos com hena para cobrir fios grisalhos, estavam assentados com uma tiara na sua cabeça. Como esposa de um Vitélio, era importante que sempre se apresentasse no melhor de si. Amélia usava vestidos feitos de seda chinesa, colares feitos de pérolas do oceano Indico e jóias de prata espanhola e ouro da Dalmácia. Uma estranha poderia até mesmo invejá-la.
Existe algo nos seus mapas acerca de um homem me saudando com os braços abertos? — perguntou.
O idoso adivinho arqueou as espessas sobrancelhas brancas.
Braços abertos, senhora?
Como se para me abraçar ou me acolher.
Ele sacudiu a cabeça e recolheu seus apetrechos.
Nada, senhora — disse e saiu.
Amélia mordeu o lábio. O Leitor de Pássaros na casa de campo nunca errava. Suas profecias se confirmavam com freqüência fantástica. Infelizmente o leitor de auspícios não acompanhara o séquito familiar na volta à cidade.
Ela estremeceu — não de frio, mas de medo. O colar. Ele a assustava, mesmo oculto na caixa. O cristal azul, duro e frio a fazia pensar em morte. Era da cor da crueldade e da intransigência. Não havia piedade na pedra, tal como não havia nenhuma no doador. Agradável à vista, mas duro e frio com um coração ilegível, como o próprio Cornélio.
Pensou no poder do marido, no poder dos homens em geral. Que poder tinham as mulheres? A virgindade de Amélia, e, portanto sua sexualidade, havia sido guardada por seu pai e seus irmãos. Quando se casou, fora entregue pelo pai ao seu marido. Em nenhuma fase da sua vida tinha sido dona de si própria. Quando os irmãos chegavam de visita, eles a saudavam, como todos os parentes homens romanos saudavam seus parentes mulheres, com beijos em ambas as faces. Não era um gesto de afeição, mas um meio dissimulado para detectar vinho no hálito da mulher, pois beber álcool era considerado inadequado. Não tenho sequer o direito de decidir o que entra em meu estômago!
Amélia estremeceu de novo, quase receosa de mirar-se no espelho por medo do que poderia ver — o espectro da rainha morta pairando atrás dela. Aquele colar horrível. Era como se Cornélio tivesse trazido um fantasma para o lar. Se ao menos ela pudesse orar! Houve uma época em que a prece tinha sido um consolo. Mas agora só havia um deserto espiritual, onde a fé tinha um dia florescido.
Como invejava sua amiga Raquel, tão devota, tão ativa na sua comunidade religiosa, e tão certa do seu lugar no mundo. Raquel sabia da sua perda de fé e tentara, a sua maneira persuasiva e gentil, trazer a amiga para a fé judaica. Mas a religião de Raquel apenas frustrou e confundiu Amélia. Se uma centena de deuses romanos não conseguiam inspirar a fé, como é que apenas um conseguiria?
Com os pensamentos agora em Raquel, Amélia se recordou da sua surpresa da noite anterior, quando recebera um convite para comparecer hoje à casa da amiga. Era um dia em que normalmente Amélia não teria visto Raquel, pois era o dia sagrado da sua religião, chamado Sabbath. Mais espantoso ainda era que o convite mencionava uma refeição. Como a lei rabínica proibia os judeus de comer com gentios, em todos aqueles anos de amizade nem uma única vez ela e Raquel haviam repartido um pão. E, portanto Amélia estava excitada e ansiosa pelo dia. Mas precisava ser cautelosa para não demonstrar sua alegria a Cornélio, ou ele poderia ordenar que ficasse em casa.
Amélia sabia por que Cornélio tinha permitido que continuasse sua amizade com Raquel, quando a havia privado de quaisquer outros privilégios e liberdade: era para ter algo que mantivesse seu poder sobre ela, uma coisa preciosa que pudesse tomar e assim conservá-la com medo dele. Se Cornélio negasse todos os seus prazeres e a tornasse sua prisioneira, nada mais teria com que ameaçá-la, controlá-la. As saídas para a casa de Raquel eram o constante lembrete de Cornélio acerca de seu poder sobre a esposa. E ele a mantinha em suspense. Amélia nunca sabia até o último minuto se ele lhe daria permissão para sair de casa. Portanto, embora ela estivesse feliz por rever Raquel, permanecia aquela nuvem: seria esta a última vez?
— O dia é o mais favorável para apresentar seu caso no tribunal, excelência. — O astrólogo pessoal de Cornélio assentiu com satisfação sobre seus cálculos. — Mais favorável, de fato. Eu diria que o caso estará resolvido ao meio-dia.
Enquanto três escravos penavam para arrumar a toga de seu amo, medindo acuradamente as pregas, Cornélio relanceou os olhos para a porta aberta. Sabia que Amélia, pairando como um pardal, espreitava logo além dela.
Ela nem sempre tinha sido tímida. Houve um tempo em que Amélia fora uma mulher forte com uma personalidade adequada a sua própria posição de relevo na sociedade romana. A triste ruína tinha sido por sua própria culpa. E o divórcio com banimento era a punição adequada. Mas somente Cornélio sabia de sua razão secreta para continuar casado com ela. Os romanos não gostavam de solteiros, especialmente os ricos. O Imperador Augusto tinha ido tão longe a ponto de quase transformar a solterice em crime. Se Cornélio se divorciasse de Amélia, cada mãe de uma filha solteira, cada viúva ou divorciada, cada mulher casadoura no Império estaria atrás dele. Assim sendo, Amélia era o seu escudo. Ele de fato estava contente com o modo como manipulara sua vida tão bem. Amélia não era mais uma esposa ingerente nem um obstáculo, não constava mais em sua agenda de obrigações — realmente podia ignorá-la por completo —, embora ainda fosse uma barreira conveniente contra as caçadoras de marido. Muito bem arranjado, de fato.
E aquele colar! Um golpe de gênio, poderia dizer de si mesmo. No momento em que o mercador egípcio lhe oferecera o colar roubado de uma tumba, Cornélio soubera que era perfeito para Amélia — a quinquilharia extravagante de uma rainha adúltera. E a ocasião não poderia ter sido melhor. A indiscrição de sua esposa já fazia seis anos e as pessoas começavam a esquecer. O cristal azul com sua lenda escandalosa era a maneira perfeita para refrescar a memória das pessoas. Era também um meio excelente de anunciar de modo sutil o seu crescente poder em Roma, pois o cristal dizia: Se eu posso fazer isto com minha esposa, imagine o que posso fazer com você.
Uma pequena multidão o aguardava no átrio. Só fazia dois dias que Cornélio estava em Roma e já se espalhara a notícia de que o rico patrono estava de volta.
Eles sempre chegavam ao raiar do dia. Jovens famintos buscando favores, referências, apresentações. Eles se apressavam de seus alojamentos decrépitos em cortiços para vir prestar seus respeitos ao patrono do qual dependiam para a subsistência. Em troca de presentes e alimentos, estes ansiosos clientes acompanhavam Cornélio nas suas rondas pela cidade. Era uma tradição romana: quanto maior o séquito, mais importante o patrono. E Cornélio Gaio Vitélio tinha umas das maiores claques em Roma.
Cornélio era um advogado bem-sucedido e influente, com muitos contatos nos altos escalões. Sempre que era anunciado que ele ia se apresentar nos tribunais, multidões afluíam para assistir. Sua generosidade era também bastante notória. Cornélio patrocinava dias grátis nos banhos, com seu nome exibido com destaque num estandarte sobre a entrada. Na arena, um dos toldos para abençoado alívio da luz do sol tinha o nome de Cornélio estampado, informando ao populacho que esta sombra tinha sido fornecida por ele gratuitamente. Ele enviava escravos para as ruas soprando trombetas e proclamando sua grandeza, seguidos por mais escravos distribuindo pão. Cornélio aspirava ser cônsul algum dia, perdendo em poder apenas para o imperador, o que lhe dava o direito de ter um ano batizado com seu nome, de modo que fosse lembrado por toda a eternidade. Pães e toldos eram um preço ínfimo a pagar por tal glória.
Ele pensou em Amélia, de pé em frente a sua porta, esperando.
Um homem tinha somente uma verdadeira posse: o seu bom nome. Que lhe tirassem suas terras, sua fortuna e suas realizações, e mesmo assim ninguém tocaria nele enquanto mantivesse intacto o seu bom nome.
Esta era uma coisa que um homem tinha o direito de defender a qualquer preço. E não havia humilhação pior em Roma do que ser motivo de riso. Ser alvo de piadas era para outros homens, não para Cornélio Gaio Vitélio, cujo sangue patrício corria mais puro do que o do próprio imperador (embora Cornélio fosse o último a ousar relembrar Nero deste fato). Banir sua esposa adúltera para o exílio teria sido fácil demais, a saída do covarde. Cornélio mostrava a Roma de que têmpera era feito ao mantê-la e fazer dela um exemplo contínuo para as outras esposas.
O casamento deles tinha sido arranjado, a unificação de duas famílias poderosas por meio do contrato esponsalício de Cornélio e Amélia quando tinham 11 e 8 anos de idade, respectivamente. Oito anos depois se casaram e passados mais cinco já eram pais. Após o primeiro filho, que ganhou o nome do pai, houve uma sucessão de gestações, resultando em abortos, partos de natimortos e bebês saudáveis — uma mistura normal. Com o passar dos anos, Cornélio estabeleceu sua reputação pela oratória e por ganhar causas nos tribunais, e Amélia era uma esposa exemplar. Um homem não podia querer mais.
Então ela veio a tornar-se amiga de Agripina, mãe de Nero e a mais poderosa mulher do Império romano — uma mulher que certa vez assistira aos jogos usando mantos tecidos inteiramente com fios de ouro, de modo que havia ofuscado os espectadores! Agripina estava morta agora, graças aos deuses, mas Cornélio jamais se esqueceria daquele momento de humilhação seis anos antes no circo, quando ele e Amélia, ela grávida à época, entraram no camarote imperial como convidados e a multidão se levantou com um rugido de aprovação. Cornélio tinha erguido os braços em agradecimento pela adulação e Agripina dissera: "Estão saudando a sua esposa e não a você, seu idiota."
Como ele saberia que Amélia tinha convencido pessoalmente o mais popular auriga de Roma a sair de sua aposentadoria para uma última corrida? As atividades de uma esposa não eram da conta do marido, desde que seus filhos estivessem sendo criados adequadamente, a casa fosse bem administrada e ela mantivesse ilibados o seu nome e a sua reputação. Tudo mais a que as esposas se dedicassem — caridade, festas, compras — não dizia respeito aos maridos. Assim, como Cornélio poderia saber que Amélia liderara uma delegação de senhoras patrícias para adular e implorar ao arrogante auriga que voltasse para mais uma corrida? Como Amélia tinha sido bem-sucedida onde outros haviam fracassado e como Roma adorava o auriga a ponto de quase endeusar o homem, a turba elevara Amélia à posição de heroína.
E seu marido completamente por fora.
Cornélio virou alvo de piadas durante meses depois disso. As pessoas recitavam rimas e rabiscavam versos nos muros, tornando "Cornélio Vitélio" um eufemismo para marido tolo. E não havia nada que pudesse fazer a respeito sem que parecesse mais tolo ainda. A humilhação e o ressentimento o haviam devorado como um câncer até que ocorreu-lhe uma idéia de vingança. Não poderia derrubar Amélia do seu pedestal popular, mas por certo seria capaz de derrubá-la do pedestal pessoal. Mesmo que o bebê tivesse nascido perfeito, ele o teria declarado inadequado e o mandaria para o lixo. Por sorte tinha sido uma menina, e ninguém olhara de perto o bastante ou tivera coragem para contestar a existência de um pé deformado. Retirada a criança, apesar das súplicas histéricas, para ficar exposta numa pilha de lixo a ser consumido por pássaros, ratos e pelas intempéries, o domínio de Cornélio estabelecia-se mais uma vez.
E então a tola mulher tinha ido dormir com outro homem — um poeta popular! E ainda fora estúpida o bastante para não ser discreta, e aí sua indiscrição foi descoberta. Mais uma vez, Cornélio tivera de agir. Mas não para bani-la de Roma. Já que era tão queridinha da ralé, que a ralé fosse constantemente lembrada de que não passava de uma puta.
Tendo os escravos finalmente ajeitado sua toga, Cornélio afastou-se e foi examinar-se num espelho de corpo inteiro feito de cobre polido.
— Suponho que queira visitar a judia — disse ele para ninguém em particular. Cornélio nunca se referia a Raquel pelo nome. Não gostava de judeus e opunha-se à política imperial de tolerância em relação a eles e sua seita secreta. Havia também convenientemente se esquecido de que fora o marido da judia, um médico chamado Solomon, o salvador da vida de um de seus filhos.
Amélia finalmente entrou pela porta aberta.
Se eu puder.
Ele agitou a toga, virou-se de um lado e do outro diante do espelho, deu uma ordem aos criados, examinou as unhas perfeitamente manicuradas, e depois perguntou:
E algo que você realmente deseja fazer?
Ela mordeu o lábio inferior.
Sim, Cornélio. — Queria desesperadamente ter permissão para ir à casa de Raquel. Após visitar a amiga, esperava parar nas livrarias perto do Fórum para ver se havia chegado uma nova coleção de poesia. Mas teria de ser uma parada rápida, e teria de esconder o livro de Cornélio.
Ele finalmente a fitou.
Você não está usando o meu presente.
O coração dela saltou. O colar!
Pensei... ele não parece caro demais para...
A judia é sua melhor amiga. Achei que você gostaria de mostrá-lo a ela.
Amélia engoliu em seco.
Está bem, Cornélio. Eu o usarei, se assim deseja.
Neste caso, pode ir visitá-la.
Ela tentou não demonstrar seu intenso alívio.
Esteja de volta antes do pôr-do-sol — acrescentou ele. — Teremos convidados à noite.
Quem...
E nada de parar nas livrarias perto do Fórum. Venha direto para casa. Eu saberei, se assim não fizer.
Ela baixou a cabeça e sussurrou:
Está bem, Cornélio.
Ele a dispensou e Amélia retornou aos seus aposentos; lá, retirou da caixa o colar de ouro com o odiado cristal azul e colocou-o no pescoço. Quando sentiu o peso dele contra o peito, intuiu sombras se agrupando a seu redor. Não teve escolha senão levar consigo o fantasma da rainha egípcia.
Enquanto percorria as ruas na sua liteira acortinada, Amélia recebia bem o barulho e os odores de Roma. Acostumadas com o ar puro do campo, suas narinas experimentaram um choque, como sempre ocorria durante os primeiros dias de regresso à cidade, devido aos odores e miasmas que envolviam esta metrópole eternamente malcheirosa. Não precisou abrir a cortina para saber que estavam na rua dos Pisoeiros, pois estes usavam urina no tratamento da lã e portanto sempre punham jarras do lado de fora das lojas para que os passantes urinassem nelas. O odor era tão familiar quanto de pão assando. Em outras ruas, fezes animais e humanas assavam ao sol para desprender um fedor que se mesclava aos aromas de cozinha, bem como de peixe se deteriorando. Mas para Amélia o cheiro mais penetrante e mais bem-vindo de todos era o de humanidade.
As ruas de Roma estavam congestionadas de gente buscando excitamento e diversão; gente comprando, gente vendendo, homens desejando ser vistos ou ver quem podiam ver, mulheres fazendo escândalo ou mexericando. Cada esquina tinha seus artistas itinerantes — malabaristas, palhaços, adivinhos e encantadores de serpentes. O caminho podia ser bloqueado por uma multidão assistindo a um engolidor de espadas ou um trio de acrobatas esperando ganhar algumas moedas. Mágicos com pombos competiam contra anões com macacos. Havia cantores e artistas de calçada, engolidores de fogo e mímicos. Oradores subiam em caixotes e falavam de tudo, desde as virtudes da alimentação natural aos males do sexo. Marinheiros com perna de pau divertiam as pessoas com papagaios treinados para falar palavrões; poetas declamavam em grego e latim; charlatães vendiam poções e elixires que curavam tudo. Fosse nas praças de mercados, nos parques no Fórum, nas ruas estreitas ou largas, as turbas romanas remoinhavam como cardumes de peixes incansáveis, eternamente em busca de entretenimento. Elas lotavam lojas e tavernas com seu apetite por vinho e carne; mexericavam e flertavam, brigavam e marcavam encontros amorosos em mil lugares animados. Os becos escuros ofereciam diversão mais abjeta: lutas selvagens de cães, dançarinas nuas, prostitutas infantis. Sexo era comprado barato e consumado rapidamente sem qualquer sentimento. Mulheres sofrendo privações se ofereciam, bem como suas filhas e até suas crianças por uma bisnaga de pão. E assassinatos eram cometidos, em acessos emocionais ou por meio de frio planejamento.
A Sra. Amélia, que navegava por tudo aquilo na sua liteira transportada por quatro escravos fortes que gritavam para abrir caminho, adorava aquela atmosfera. Roma a fazia reviver, e a ajudava a esquecer o fantasma que viajava em sua companhia.
Na hora em que a liteira parou diante de um muro alto com um sólido portão, o sol tinha alcançado seu auge. Amélia puxou uma corda e ouviu um sininho em algum lugar no interior. Quando o portão se abriu e Amélia começou a entrar, ela esticou o braço e esfregou a ponta dos dedos sobre uma pequena peça de argila inserida no muro. Era chamada de mezuzah e continha um papiro com palavras sagradas inscritas. Ela o tocou automaticamente, da mesma maneira como fazia o sinal-da-cruz de vez em quando, não porque acreditasse no poder das palavras, mas por respeito a Raquel, que acreditava.
Para Amélia, a melhor parte de estar com Raquel era a sensação de ficar à vontade. Raquel não era uma mulher competitiva ou mexeriqueira. Amélia nunca se sentia como se estivesse sendo silenciosamente avaliada ou criticada, como acontecia com outras mulheres do seu círculo social. Com Raquel, qualquer pessoa podia ser falante ou calada na sua companhia. Quando se encontravam, o passatempo preferido delas era dar caminhadas ao longo do rio Tibre, percorrer as prateleiras de livros, observar os divertimentos de rua, ou passar horas sem fim no jardim de Raquel num jogo amistoso de cães-e-chacais, onde só se ouvia o rolar dos dados e o claque-claque produzido pelo movimento das peças do jogo. Mas elas nunca haviam ceado juntas, e, portanto Amélia estava na expectativa de uma nova experiência.
Sua amiga desceu para recepcioná-la, uma mulher mais velha, rechonchuda e de rosto redondo, com uma riqueza de colares de prata reluzindo no peito.
Minha querida Amélia — disse Raquel enquanto se abraçavam. — Como senti sua falta! — Lágrimas brilhavam nos seus olhos. — E você ganhou outro neto!
Um menino saudável!
Graças a Deus! Cornélia está passando bem?
Ela e o marido ainda estão no campo. Deverão retornar a Roma dentro de poucos dias. Mas você, Raquel, você parece ótima! — Fazia sete meses que não se encontravam, e embora sua amiga sempre se apresentasse no ápice da saúde, Amélia não pôde deixar de notar que a mulher mais velha refulgia por completo. Trajando uma onerosa seda azul-escura, orlada com adornos de prata, Raquel realmente parecia anos mais jovem. Ao enlaçar o braço no de Amélia, Raquel explicou que ela e suas filhas tinham acabado de retornar da sinagoga e que Amélia era a primeira convidada a chegar.
Hoje é o Shavuot, o feriado que celebra o dia em que Moisés recebeu de Deus a Torá e os Dez Mandamentos no monte Sinai. Em Jerusalém, o povo está levando oferendas dos primeiros frutos das suas colheitas para o templo. É por isso que minha casa está decorada especialmente com flores e plantas, para nos lembrar que se trata de um feriado da colheita. É um festival de peregrinação, e Solomon e eu sempre esperamos algum dia celebrar o Shavuot em Jerusalém.
Ela parou a meio caminho porque algo tinha reluzido à luz do sol, chamando sua atenção: uma corrente de ouro em volta do pescoço de Amélia.
O que é isto? Um colar que você esconde?
Quando Amélia trouxe o cristal azul para a luz, Raquel fez menção de tocá-lo.
Não o faça — disse Amélia, puxando-o de volta.
Por quê?
Há uma maldição nele.
Os olhos de Raquel se arregalaram em choque.
Este colar foi tomado da múmia de uma rainha egípcia.
Raquel pôs a mão no peito.
Roubado da morta? Deus nos proteja, Amélia, por que usa uma coisa dessas?
Porque Cornélio me obrigou.
Raquel não disse nada. Todas as palavras que tinha a dizer sobre Cornélio haviam sido proferidas muito tempo antes.
Sinto-lhe a presença.
De quem?
Da rainha morta. E como se Cornélio tivesse trazido o fantasma dela para casa.
Não há fantasmas nesta casa — disse Raquel dando o braço a Amélia. — Estará a salvo aqui.
Enquanto entravam no frescor do átrio, Raquel parou e tomou as mãos de Amélia entre as suas com uma calidez especial na voz.
— Não posso lhe esconder as boas-novas por nem um minuto a mais. Oh, minha cara amiga, que coisa maravilhosa aconteceu enquanto você estava no campo! Você sabe como a vida tem sido desolada para mim desde o falecimento de Solomon.
O marido de Raquel tinha sido um médico treinado na escola grega — um médico hipocrático muito requisitado por sua perícia e honestidade. As duas mulheres se conheceram quando um dos filhos de Amélia foi ferido e mandaram chamar Solomon. Ele e Raquel eram recém-chegados a Roma, procedentes de Corinto. Solomon tinha explicado que seus pais e irmãos eram médicos lá, e como não queria tomar a clientela deles preferiu vir para Roma, onde descobriu que havia carência de bons médicos. Raquel e Solomon tinham usufruído de um daqueles raros casamentos em que os cônjuges se adoram. Em Roma era altamente deselegante maridos e mulheres apaixonados, e especialmente reprovador demonstrações de afeição diante dos outros. Amélia se recordava do quanto ficara chocada ao ver Solomon beijar a esposa na face. Raquel não tinha sido mais a mesma desde a sua morte, pois havia ficado um vazio incapaz de ser preenchido.
Mas agora ela parecia fervilhante de alegria.
Eu — disse para Amélia — costumava pensar: se ao menos pudesse ter uma garantia de que tornaria a ver Solomon! Bem, agora tenho esta garantia. — Raquel continuou para contar acerca de um herói judeu que chamavam de Redentor, de uma promessa de vida eterna. — Cristo é o nosso meio de obter paz espiritual. Na sua morte ele unificou judeus e gentios ao romper com aquilo que os dividia, a velha lei, o que resultou na criação de uma nova.
Quando viu o ar intrigado de Amélia, ela riu.
É confuso — disse —, mas em breve ficará tudo claro. Há respostas aqui também para você, minha cara amiga.
Os outros começaram a chegar. Amélia ficou surpresa com a mistura de convidados, pois certa vez Raquel lhe dissera que ela era sua única amiga não-judia e, ainda assim, havia gentios no grupo. E nem se restringiam à categoria social de Raquel, mas pareciam ter sido extraídos de todos os degraus da vida, incluindo escravos que, para espanto de Amélia, eram recepcionados com a mesma calidez. Era um acontecimento. Como o judaísmo era tão misterioso para a maioria dos romanos, Amélia tinha imaginado que seus rituais religiosos fossem acontecimentos silenciosos e solenes, como aqueles nos templos de Isis e Juno. Mas Raquel explicou à espantada amiga que estas reuniões eram padronizadas com base nos encontros semanais na sinagoga, que tinham propósitos tanto sociais quanto espirituais.
Havia três mesas de jantar circundadas por nove sofás, com três convidados por sofá. Neste dia Raquel exibia sua habilidade como boa anfitriã, pois era considerado falta de educação ter menos de nove pessoas a uma mesa, ou mais de 27 pessoas numa festa. Todas as lareiras tinham sido acesas na noite anterior, pois era proibido acender fogueiras no Sabbath.
E um prazer receber os gentios entre nós hoje — disse Raquel, quando todos haviam se acomodado.
Um homem idoso usando um solidéu e um xale franjado protestou em voz alta sobre a presença de não-judeus e saiu.
Mandando um rapaz atrás dele, Raquel explicou a Amélia:
Muitos de nós ainda estão divididos em questões de prática. Cada comunidade tem suas próprias regras e dogmas de crença. Os anciãos estão tentando unificar as comunidades, mas o mundo é um lugar grande. Os irmãos e irmãs em Corinto mantêm práticas diferentes das nossas, e os irmãos e irmãs em Éfeso mantêm práticas diferentes daquelas de Corinto e de nós em Roma!
Amélia viu que o velho vinha sendo conduzido de volta pelo rapaz, que dizia:
Lembre-se das palavras do profeta Isaías quando disse: "Farei de vós uma luz para os gentios, para que possais levar minha salvação para os confins da terra."
O idoso assumiu seu lugar no sofá, mas ainda não parecia convencido ou contente com a presença de não-judeus.
Sh'ma Yisrael: Adonai Elohenu Adonai Ehad! — entoou Raquel, conduzindo os judeus à prece.
Barukh Shem Kevod Malkhuto le-olam vaed! Entoaram eles de volta.
Raquel então sorriu para os novos convidados e repetiu a prece em latim para que entendessem:
Ouve, ó Israel: o Senhor é nosso Deus, o Senhor é Único! Abençoado seja o Seu glorioso Reino para todo o sempre!
A reunião parecia consistir de leitura de cartas e narração de histórias. Amélia reconheceu algumas das histórias, uma vez que a ressurreição de deuses não era novidade. O deus Marte havia sido martirizado e descido ao inferno por três dias e voltara. Outros salvadores tinham feito o mesmo em épocas anteriores; até mesmo Rômulo, o primeiro rei de Roma, aparecera em carne e osso aos seus seguidores após sua morte e dissera a eles que estava sendo levado aos deuses. Júlio César e Augusto eram agora deuses. Homens se tornando deuses era lugar-comum. E quanto a uma vida após a morte, Isis já prometera isto. O grupo falou da crucificação de seu redentor. Isto nada significava para Amélia, pois criminosos eram crucificados todo dia. Cruzes se enfileiravam nas estradas que levavam a Roma, e era raro ver uma desocupada. E quanto a Jesus realizando milagres e curando doentes, isto também não era coisa rara, pois em Roma milagres eram observados nas ruas diariamente, mágicos que transformavam água em vinho, e curadores fazendo o aleijado andar. Ainda assim, ela ouvia educadamente e se espantava com a atenção dos ouvintes.
A prima de Raquel de Corinto estava presente, aquela que trouxera cartas para ser lidas em voz alta.
— Não temos sinagogas — sussurrou Raquel para Amélia —, nem templos, nem centros estruturados de veneração. Reunimo-nos em casas particulares. Minha prima, tal como eu, é uma benfeitora da nova fé e dá festas na sua casa em Corinto. A sua cunhada, que vive em Efeso, é também benfeitora e dá banquetes em sua casa. E assim que nos reunimos. Mas não somos iguais em nossas regras e crenças. Existe um grupo em Alexandria, por exemplo, que é formado inteiramente de gentios, e portanto escolheram organizar suas reuniões no domingo, o dia sagrado de Mitra, em vez de no Sabbath. E não seguem a regra kosher de alimentação, mas comem aquilo que sempre comeram: porco e crustáceos, leite com carne. Os companheiros que conheceram o Mestre enviam cartas para as muitas comunidades numa tentativa de nos juntar sob uma única ideologia. Mas é difícil, sendo o império tão vasto.
Amélia não via tanta influência gentia nesta reunião. A maioria era de judeus. Havia um menorá sobre a mesa. A cabeça de Raquel estava coberta, como a dos homens, e a maioria deles usava xales franjados e filactérios na testa. Primeiro eles recitaram preces em hebraico, depois em latim. E os pratos, embora variados e fartos, nada continham de porco ou crustáceos, nem leite ou queijo. Mas havia peixe no vapor com um molho saboroso, galinha ensopada e uma vitela doce e tenra.
Raquel, presidindo, explicou aos recém-chegados que era um banquete em homenagem à chegada Daquele Que Era Aguardado — o Messias que trará o reino de Deus para os judeus. Depois os apresentou:
Hoje temos novos amigos entre nós. Alguns de vocês desaprovam gentios em nosso meio. Mas Paulo nos disse que perante Deus não somos nem judeus nem gentios, mas todos iguais diante Dele.
Raquel repartiu pedaços de pão e passou-os ao redor.
Bem-aventurados sejam os humildes — cantou ela.
Pois eles herdarão a terra — entoaram os outros em resposta.
E assim por diante, num belo cântico antifonário.
Amélia notou que eles dirigiam suas preces a alguém chamado Abba.
Abba é o nome do seu deus? — perguntou ela.
O aramaico era a língua de nosso Senhor, e "abba" é a palavra aramaica para "pai". Jesus se dirigia a Deus como Abba, e assim fazemos agora.
Embora o ânimo deles fosse alegre, Amélia sentia uma tensão subjacente. Havia uma estranha ansiedade entre o grupo e, à medida que ouvia suas histórias, ela começou a entender a fonte desta ansiedade: o redentor deles havia sido crucificado trinta anos antes e poucos dos seus seguidores originais ainda estavam vivos. Todos diziam isto dando a entender que seu retorno se daria em breve.
A qualquer dia agora — garantiu Raquel ao grupo.
Aquilo era novidade para Amélia, pois não conseguia imaginar um único deus salvador que tivesse prometido voltar, ou que tivesse voltado de fato após ressuscitar. Raquel continuou, contando sobre tribos nas fronteiras do império que fomentavam rebelião contra Roma, e depois citou sinais e prodígios que anunciavam o fim do mundo.
As palavras de encerramento foram pronunciadas por um homem idoso a quem eles chamavam de Pedro, o que soava estranho para Amélia, pois estavam falando em latim e, portanto chamando-o de Rocha. Nunca antes soubera de um homem chamado Rocha. Quando perguntou por que tinha um nome tão estranho, Raquel replicou:
Porque ele é Simão, a Rocha, que se refere a sua tenacidade e lealdade. Ele foi o primeiro discípulo de nosso Senhor.
Pedro não parecia fazer jus a seu homônimo. Baixo, velho e frágil, ele ceve de ser ajudado a ir até o sofá, onde começou a falar numa voz tão suave quanto uma pluma. Começou louvando a Deus e depois falou sobre a sacralidade da vida. Boa parte disso pouco significava para a Sra. Amélia, que ouvia educadamente exortações como: "Sois um povo eleito, um sacerdócio régio, uma nação sagrada. Uma vez não formastes um povo, mas agora sois o povo de Deus", e "O fim dos tempos está próximo, portanto viveis vossas vidas aqui como estrangeiros em medo."
Finalmente houve uma coleta de dinheiro, parte do qual seria distribuído entre os pobres de Roma, o restante sendo enviado para comunidades cristãs carentes do império. Quando todos se preparavam para ir embora, Raquel pediu que Amélia ficasse, pois estava ansiosa por ouvir a opinião da amiga. Mas Amélia teve de confessar que não entendia esta nova crença, nem podia aceitar que o mundo estivesse próximo do fim.
Muito obrigada, minha querida amiga, por me incluir no encontro de hoje. Mas isto não é para mim. Não possuo a fé que você exige dos seus correligionários. Nem sinto que o seu redentor se interessaria por mim. — Ela se calou de súbito.
O frágil e velho apóstolo chamado Pedro preparava-se para liderar o grupo numa prece final, e ante os olhos atônitos de Amélia ele se levantou, abriu os braços e começou a recitar:
Pai Abençoado no Céu...
Ela olhou chocada para os braços abertos e se lembrou da profecia do Leitor de Pássaros. Era este o homem previsto?
O calor do verão se abatia sobre eles e, portanto Raquel preparava o jardim do peristilo para a reunião do Sabbath. O grupo aumentara e ela não mais podia manter o banquete em três conjuntos de três sofás. Agora os convidados sentavam-se no chão ou em bancos, e comiam de tábuas de pão que ela passava de mão em mão. Como não possuíam um lugar formal de veneração, eles chamavam seu grupo de uma ecclesia, uma palavra grega que significava "convocado à assembléia" e que gerações futuras chamariam de igreja. A casa de Raquel era agora uma casa-igreja, como era o lar de Cloé em Corinto, o de Ninfa em Laodicéia, e assim por diante. E todas as casas-igrejas reunidas estavam começando a ser chamadas de Igreja Universal.
A fé crescia com tal rapidez que Raquel agora realizava batismos diariamente na fonte do seu jardim no peristilo, com sua pequena estátua de Baco no topo, despejando água sobre os cristãos convertidos. Ela levava a cabo o ritual da maneira como sua prima Cloé lhe ensinara, que tinha aprendido do missionário Paulo, que aprendera de Pedro em Jerusalém. Havia conforto no ritual e na corrente inquebrantável, pois o próprio Jesus tinha sido assim batizado no rio Jordão. E agora, quase quarenta anos depois, seus seguidores faziam o mesmo. Raquel teve também de batizar sua melhor amiga.
Ela olhou para Amélia, cuja contribuição para a refeição comunal era de pãezinhos assados por ela mesma e estampados com a cruz de Hermes.
Amélia não fazia idéia de quão intensamente Raquel orava por ela. Não era apenas para trazer a amiga para o alegre redil de Jesus Cristo — uma razão mais urgente deu força às preces de Raquel: a salvação da alma imortal de Amélia. A própria conversão de Raquel havia ocorrido em janeiro, num dia chuvoso que nunca esqueceria, quando ouvira a mensagem da Palestina de que o salvador havia muito esperado dos judeus tinha chegado afinal e que, quando ele retornasse, as pessoas se reuniriam com os falecidos, pois como prometera Paulo, a morte era somente sono, uma "noite entre dois dias", e que aqueles batizados em nome do Senhor reviveriam. Pedro pousara as velhas mãos nodosas na cabeça de Raquel e ela sentira-se de imediato aliviada de seu pesar. Desejava que Amélia tivesse a mesma alegria.
Quando Solomon morreu, Amélia a havia consolado, vindo à casa com qualquer tempo, com palavras ou silêncio, dependendo do seu estado de espírito à ocasião, mas sempre partilhando o pesar e o fardo de se ver subitamente sozinha no mundo. Muitas vezes, naqueles dias tristes, Raquel imaginara como poderia ter suportado tudo aquilo sem Amélia.
E então os papéis se inverteram.
— Sinto como se estivesse perdendo minha alma — confessara Amélia uma tarde, enquanto a escuridão suavemente se insinuava no jardim privado. — Cornélio está me sugando, Raquel, e não tenho a força para combatê-lo.
Raquel desejou poder arrancar o colar do pescoço da amiga e triturar o venenoso cristal azul debaixo dos seus calcanhares. Mas Cornélio cuidara para que a esposa o usasse todos os dias; e pior, Amélia acreditava merecer o castigo.
Cometi adultério — dizia, com tristeza.
Amélia, ouça-me: um dia o Senhor apareceu a um grupo de pessoas prestes a apedrejar uma mulher por adultério. Ele os interrompeu e ofereceu a primeira pedra a qualquer um na turba que não tivesse cometido um pecado. E ninguém aceitou a pedra, Amélia! Cornélio não tem pecados?
Para ele é diferente. Para os homens é diferente.
Raquel não pôde argumentar contra isso, pois a desigualdade entre homens e mulheres era a mesma tanto nas tradições romanas quanto judaicas, que situavam o pai ou marido acima das mulheres na casa. Mas Jesus havia prezado a igualdade entre homens e mulheres, e a própria Raquel não era a prova disso? Na sinagoga ela devia sentar-se num balcão, atrás de uma cortina, sem tomar parte ativa no serviço, ao passo que nos banquetes do Sabbath em sua casa, para celebrar a ressurreição do Senhor, ela era a diaconisa, aquela que presidia ao serviço, às preces, que repartia o pão comunal. E quando Jesus retornasse e o novo reino de Deus tivesse início, esta seria uma nova era tanto para homens quanto para mulheres.
Raquel não desistiria em relação à amiga. Quando Jesus retornasse, somente aqueles que fossem batizados seriam admitidos no novo reino. E iria retornar em breve, pois Pedro disse que o Senhor prometera voltar durante a vida dos seus discípulos. Jesus tinha morrido havia mais de trinta anos, seus seguidores que ainda viviam estavam em idade avançada, como Pedro, que era tão frágil a ponto de parecer que cada expiração sua seria a última. Enquanto provava o guisado que estivera cozinhando desde o início do Sabbath na noite anterior, com pedaços de cordeiro tão tenros que desmanchavam na boca, Raquel jurava que, custasse o que custasse, qualquer que fosse a força e objetivo mental que tivesse de empregar, iria salvar a alma da amiga.
Amélia cantarolava enquanto arrumava as pequenas fôrmas de pão nas travessas. Essas pequenas tarefas a faziam sentir-se útil. Na sua própria casa ela não era mais necessária. Cornélio passava cada vez mais tempo no palácio imperial, já que se tornara um integrante do círculo íntimo de Nero. E embora Amélia tivesse cinco filhos, um genro, duas noras e quatro netos, sua casa no Aventino era um lugar estranhamente silencioso e deserto. Só restavam os dois garotos: Gaio, que dentro de dois anos receberia a toga da maioridade e que já passava a maior parte do tempo com colegas de escola e tutores, não tendo mais tempo para dedicar à mãe; e o pequeno Lúcio, que não era seu filho legítimo, que tinha babá e tutores e a atenção de Cornélio quando o marido estava em casa. Amélia percorria os cômodos, colunatas e jardins da sua residência na colina como que procurando alguma coisa. Raquel disse-lhe que era por fé que ela ansiava, mas Amélia não tinha muita certeza. Se fosse fé que estivesse procurando já não a teria encontrado a esta altura, neste viveiro de zelo e fervor religioso? Em algumas reuniões, as pessoas caíam no chão em acessos de êxtase religioso, falando incoerentemente ou profetizando o fim dos tempos. O grupo orou, cantou e batizou novos convertidos, atestou o Senhor como o seu salvador e hipotecou a alma a Deus. Mas até então nada disso sensibilizara Amélia.
Dedicou sua atenção ao preparo de comida especial para o pobre Jafé que, não tendo língua, sentia dificuldade para comer. Sua língua havia sido cortada por um amo sádico e ele se juntara à casa-igreja de Raquel porque o Deus judaico ouvia a prece muda. Um sacerdote no templo de Júpiter tinha cobrado uma taxa para recitar em voz alta a prece de Jafé, dizendo: "Como espera que o deus o ouça se não pode falar?"
Quando Amélia passou uma travessa de pão para Cleandro, um jovem escravo com um pé deformado a quem Raquel libertara recentemente, não pôde deixar de pensar no seu bebê, novamente especulando se havia sobrevivido ao monturo ou se já estava no além esperando para reunir-se à sua mãe, como Jesus havia prometido. Se ao menos ela pudesse acreditar! Amélia não se juntara ao grupo de Raquel movida pela fé, mas por amizade. Sentia-se útil agora, e parte de uma família: Gaspar, o escravo liberto com apenas um braço; Jafé, o mudo sem língua; Cloé, a evangelista de Corinto; Feba, uma diaconisa idosa que vivia aqui em Roma. Para Amélia não importava que Jesus fosse muitas coisas para muita gente — sábio, rebelde, mestre, curador, redentor, filho de Deus —, pois não tinha o próprio Jesus falado em parábolas que cada um deveria interpretar sua mensagem segundo a própria crença? Amélia via Jesus como um professor da vida moral. Não via divindade nele, nem poderes miraculosos, à exceção de que sua mensagem trouxera a felicidade de volta à sua vida. Aquilo era um milagre.
Imaginou se Cornélio havia notado a mudança nela. E se por ventura pensasse nela, o que poderia supor que estivesse fazendo? Será que no seu quadro mental ela e Raquel seriam duas matronas contentes, comparando os netos e se queixando dos penteados da moda? Provavelmente não poderia imaginar que nas reuniões semanais Amélia se descobrira integrada, especialmente na mistura social. Estremeceu ao pensar na reação dele ao fato de sua esposa estar repartindo o pão com homens e mulheres de baixa extração, ou descobrir que ela doara um bracelete — que tinha sido o seu presente de casamento a ela, 27 anos antes — para ajudar a tirar da prisão um judeu de Tarso.
Cornélio. Após tantos anos, ainda não o compreendia. Por que, por exemplo, depois de seis anos, ele estava aumentando sua punição a ela, aproveitando cada oportunidade para humilhá-la, quando por certo já era hora de deixar o assunto cair no esquecimento? Mas então começou a perceber os olhares enviesados na sua direção e a ouvir os sussurros às suas costas. Logo após seu retorno a Roma, os rumores por fim chegaram ao seu conhecimento: Cornélio levara a bela viúva Lucilla para o Egito. Amélia ficou arrasada. O colar de cristal azul era um meio de manter em destaque o pecado dela, enquanto ele tranqüilamente seguia em frente com seu próprio pecado.
Desde o retorno do campo, ela e Cornélio tinham mergulhado de volta no turbilhão social de jantares toda noite e festividades nos feriados, já que a alta sociedade romana pouco mais tinha a fazer. Cornélio sempre insistia para que Amélia usasse o colar egípcio, e embora ela o escondesse sob o vestido, ele a obrigava a mostrá-lo aos outros, enquanto contava a lenda da rainha adúltera. A Imperatriz Pompéia, a esposa de Nero, sopesara na mão o pesado pingente de ouro, estreitara os olhos ao brilho do cristal azul e dissera com alegria deliciada: "Que escândalo!"
Pesadelos assombravam Amélia e durante o dia, estivesse cuidando do jardim, tecendo, ou inspecionando a casa, sentia a sombra negra da rainha egípcia nos seus calcanhares, um fantasma malévolo a recordar seu pecado. Mas quando ia aos alegres banquetes do Sabbath na casa de Raquel, onde os convidados eram ruidosos e seguiam as leis do seu deus, Amélia sentia o coração leve. Desejava poder dizer a Raquel: "Sou uma crente." Mas como ocorria isto, este milagre da fé? O que era isto que atuava dentro das pessoas, que vivenciavam súbitas epifanias, exatamente ali no jardim de Raquel, forçando-as a cair de joelhos e a falar numa língua incompreensível? E por que este poder misterioso funcionava em algumas pessoas, mas não em outras? Toda semana, congregantes cantavam, batiam palmas e gritavam "Aleluia!" E lançavam-se num frenesi, ficavam cada vez mais febris de devoção e muitos caíam em acessos de êxtase religioso e histeria, enquanto os demais simplesmente olhavam em frustração.
Estavam todos tão convencidos de que o mundo estava chegando ao fim — não só os do grupo de Raquel, mas também os visitantes das casas-igrejas de todo o império —, que muitos tinham aberto mão de todas as suas posses. Até mesmo a casa de Raquel estava mudando: ela libertara seus escravos, boa parte da sua mobília cara se fora, e seus vestidos de seda tinham sido substituídos por roupas feitas em casa. E ela constantemente coletava dinheiro para enviar aos seus irmãos mais pobres em Jerusalém, e sua exótica coleção de colares de prata tinha sido sacrificada para financiar missões evangélicas na Espanha e na Germânia.
Mas Amélia descobrira que a falta de uma fé unificada entre os cristãos estava crescendo. Mais gentios se juntavam, pessoas de todas as classes sociais trazendo com elas, suas próprias crenças, de modo que quando Raquel encerrou, liderando-os na prece "Ouve, ó Israel!", vários se persignaram, ou fizeram o sinal sagrado de Osíris. Ocasionalmente, visitantes especiais vinham falar para a assembléia, alguns que até mesmo tinham conhecido Jesus, mas estes eram homens muito velhos que falavam em voz coaxada, seu grego tão coloquial que precisavam de intérpretes mesmo num grupo que falava grego! Para perplexidade de Amélia, mesmo estes homens podiam não concordar com o que acontecera na Galiléia havia mais de trinta anos. Havia os seguidores de um homem chamado Paulo, que nunca conhecera Jesus pessoalmente, mas que era popular porque as pessoas interpretavam a sua pregação como se pudessem prosseguir levando a mesma vida de antes (Paulo continuava escrevendo epístolas para orientar as pessoas nesta questão, mas elas aparentemente continuavam a interpretá-lo mal). Outro grupo, formado principalmente de gregos, interpretava a mensagem de Cristo de acordo com a filosofia grega. Os seguidores de Pedro, o homem mais popular no movimento cristão, acreditava na observância estrita da lei judaica e que os gentios deveriam ser convertidos ao judaísmo antes de se tornarem cristãos. E depois havia os místicos, procedentes de religiões misteriosas. Eles alegavam que a nova seita não deveria se desenvolver em torno de homens comuns, mas apenas pela união mística com Cristo. Cada grupo se achava mais correto e superior aos outros.
Crenças individuais variavam igualmente: embora todos acreditassem na volta iminente de Jesus, alguns diziam que ele chegaria numa carruagem de ouro, outros diziam que chegaria humildemente montado num burro; alguns argumentavam que ele deveria vir para Roma, outros diziam que deveria aparecer primeiro em Jerusalém. Sobre o Reino de Deus, eles discordavam quanto a sua natureza, onde se situava e quando seria estabelecido. Alguns olhavam Jesus como um príncipe da paz, outros como um profeta da guerra.
Para aumentar a confusão, havia os muitos evangelhos que circulavam em pergaminhos, cartas e livros, cada qual declarando ser a "autêntica" mensagem de Cristo, embora todos tivessem sido escritos muito tempo depois de sua morte. Para aumentar ainda mais a confusão, havia o fato de que poucos homens que conheceram Jesus realmente ainda estavam vivos. Uma nova geração que nunca ouvira a pregação de Jesus estava interpretando eventos de trinta anos passados, cotejando-os com questões e maneiras contemporâneas. O debate sobre a conversão dos gentios continuava acirrado: batismo ou circuncisão. Os que defendiam a circuncisão alegavam que era fácil demais juntar a fé, que os convertidos não renunciariam aos seus velhos deuses, meramente acrescentando Jesus ao seu panteão. Cristãos gentios estavam começando a louvar o nome de Jesus no 25º dia de dezembro, quando comemoravam o nascimento de Mitra, e adeptos de Isis, a Rainha do Céu, diziam que a mãe de Jesus, Maria, era a Deusa encarnada. Cada pessoa acreditava que era do seu deus o reino que Jesus proclamava.
Havia até mesmo um debate acerca do nome do Senhor. Ele era Joshua, Yeshua, Iesous, ou Jesus, dependendo da nação e língua de cada um. Alguns o chamavam de Bar-Abbas, significando "filho do pai", ao passo que outros argumentavam que Bar-Abbas, cujo primeiro nome era também Jesus, fora um homem completamente diferente. E aqueles que o chamavam de Jesus bar-Joseph eram contestados pelos que alegavam que se o Senhor se autodenominava o filho de Deus, então ele não tinha nenhum pai terreno, como outros salvadores que o antecederam.
Mas Amélia não estava preocupada com regras e ideologia, ou com quem estava certo ou errado, ou com qual fosse o verdadeiro nome do Senhor, pois ao contrário dos outros ela não acreditava em Jesus, nem no seu deus, nem nas promessas que tinha feito. Amélia comparecia às reuniões semanais pela amizade e boa companhia, para estar entre pessoas que não mexericavam, que não julgavam seus erros passados, que davam-se as mãos e cantavam juntas e partilhavam um farto banquete em nome de um mártir crucificado. Vinha principalmente porque, como Raquel havia prometido, o fantasma maligno que habitava o cristal azul que ela usava sob o vestido ficava do lado de fora da porta — e pelo conjuro de uma tarde Amélia conhecia paz e amor e sentia-se livre do medo.
Finalmente todos haviam chegado e a reunião do Sabbath estava prestes a começar. Raquel se preparava para ler a Torá. Havia escolhido uma passagem do Deuteronômio:
- Que outra nação é tão grande a ponto de ter seus deuses próximos a ela do modo como o Senhor nosso Deus está próximo a nós sempre que oramos a ele?
Raquel tinha finalmente rompido com a sinagoga, onde as mulheres eram proibidas de ler a Torá para a congregação. Quando o rabino lhe disse que devia interromper tal prática, ela lhe recordou que Míriam fora uma profetisa por seus próprios méritos e que ajudara seu irmão Moisés a tirar os israelitas do Egito como uma igual, não como uma subordinada dele.
Antes que pudesse desenrolar o pergaminho, um dos seus escravos libertos veio correndo ao jardim para avisá-la que um retardatário tinha chegado. Irrompeu um grande alvoroço quando todos souberam quem era.
Quem é? — perguntou Amélia ao se voltar para a idosa Feba.
Seu nome é Maria e conheceu o Senhor — disse Feba com a reverência e hesitação na voz que uma presença tão importante merecia. — Uma mulher de posses e influência, que alimentou e abrigou Jesus e os apóstolos que deveriam divulgar a mensagem.
Amélia sabia que Jesus tivera muitas mulheres entre seus adeptos, mulheres que deram sua riqueza a ele e sua causa, tal como Raquel, Feba e Cloé faziam hoje. Mas não sabia que alguma delas ainda estivesse viva.
Maria foi sua companheira mais íntima — prosseguiu Feba —, seu primeiro apóstolo. Quando Jesus foi preso, Pedro e os outros negaram conhecê-lo. Quando Jesus foi crucificado, foram só as mulheres que choraram ao pé da cruz. As mulheres recolheram seu corpo e o colocaram na tumba. E depois que a tumba foi lacrada, foram as mulheres que mantiveram vigília do lado de fora, porque Pedro e os homens estavam se escondendo com medo. Quando Jesus saiu da tumba foi para as mulheres que ele apareceu primeiro e falou-lhes da sua ressurreição. Creio secretamente — disse a anciã com uma luz nos olhos — que quando o Senhor retornar, virá primeiro para esta mulher, para Maria.
A visitante não tinha uma aparência marcante. Mulher de idade avançada, era baixa e encurvada e trajava roupa branca tecida em casa. Caminhava com uma bengala e com a ajuda de uma mulher jovem, e quando falou foi numa voz tão fina quanto a asa de uma borboleta. O seu grego era o dialeto coloquial da Palestina, e sua jovem acompanhante o traduziu para o latim em benefício da assembléia. Ela falava claramente, mas do fundo do coração.
O dia de julho era quente; moscas voejavam no jardim, abelhas enchiam o ar com seu zumbido. Dificilmente soprava uma brisa, de modo que as pessoas tinham de se abanar. A um canto, um velho começou a cochilar.
Maria primeiro pediu que todos orassem com ela. Todos se levantaram com os braços abertos e a cabeça para trás numa imitação do Ser Crucificado, os olhos abertos e voltados para o céu enquanto cantavam alto e em uníssono. Depois, vários se persignaram. Maria então começou sua história:
— Meu Senhor é o mais bondoso dos homens. Ele amava as criancinhas e seu coração chorava à visão de doença, pobreza e injustiça. Ele curava, abençoava e ensinava bondade.
O calor do dia se fixou no jardim, como um convidado desejando ouvir a história, trazendo com ele uma espécie de calidez mágica, um efeito soporífero que transformava as palavras da anciã num cântico hipnótico. Embalada pelo calor e pela cadência das palavras de Maria, Amélia sentiu-se deslizar para uma espécie de consciência alterada, como se tivesse bebido vinho sem adicionar água, e após um momento começou a não mais ouvir palavras, mas sim a ver imagens. Viu-se caminhando com Jesus nas verdejantes colinas da Galiléia; de pé à margem do lago e ouvindo-o pregar de um barco de pesca; ela sentada entre rochas e relva enquanto ele falava de cima de um outeiro a respeito de misericórdia e bondade e de oferecer a outra face; provou seu vinho durante um casamento e sentiu o sorriso dele esfregar sua face quando passou por ela.
Maria falou de cambistas e sacerdotes, de uma menininha em coma, de um homem chamado Lázaro. Amélia viu um banquete de peixe e pão, cheirou a poeira das estradas e atalhos da Palestina e ouviu o tropel dos cascos quando os soldados romanos passaram.
O ar pesado, o calor, o zumbido de abelhas, e o jardim deslizou para uma outra era, outro lugar, levando Amélia junto. A voz débil de Maria pintando retratos vívidos. E então, de súbito...
Ele estava lá! No jardim de Raquel! O judeu renegado e o pregador da paz, o fanático armado e o filho de Deus, suas imagens múltiplas espiralando das pedras quentes do calçamento, tremeluzindo como fantasmas, finalmente se reunindo para formar um homem.
Amélia estava paralisada. As palavras de Maria, voejando no ar túrgido com as abelhas e libélulas, tinham trazido o homem para a companhia deles, e Amélia viu a carne, o sangue e os tendões dele. Quando Maria falou que Jesus questionou por que Deus colocara este fardo sobre ele, Amélia viu o embaraço nos seus olhos e o suor na sua testa. Quando contou como Jesus orou, Amélia viu a glória irradiada do rosto dele. Todos os Jesus que tinham pregado e debatido por toda parte estavam ali agora, entre os brotos e o verdor de um jardim romano, na forma de um homem, não mais um mito ou mistério, mas um homem nascido de uma mãe, pleno de todas as esperanças e dúvidas e defeitos que eram o quinhão da humanidade.
— E então ele foi traído — disse Maria, a voz falhando. — Soldados romanos o desnudaram e zombaram dele, perfuraram sua testa com espinhos e lanharam-lhe as costas com chicotadas. E depois o meu Senhor foi forçado a carregar as traves da sua cruz por toda Jerusalém enquanto o povo apupava e jogava sujeira nele. Pregos foram cravados nos seus pulsos e pés, e a seguir ele foi içado para que todos vissem. Meu precioso Senhor ficou pendurado como um animal deplorável, sangrando e indefeso, humilhado e envergonhado. Quando as moscas começaram a se banquetear nos ferimentos, quando o ar começou a abandonar seus pulmões e o rosto se contorceu na agonia final, ele falou. Pediu ao Pai que perdoasse os homens que lhe tinham feito aquilo.
Alguns no jardim começaram a chorar, um suave som sussurrado, mais angustiado na sua contenção do que todos os uivos de pranteadores da terra. Outros estavam chocados demais até mesmo para respirar. Amélia viu-se profundamente tocada. Nenhuma das pregações de Pedro, das exortações de Paulo e das leituras de pergaminhos, epístolas e evangelhos haviam conseguido aquilo que as palavras faladas suavemente pela anciã Maria tinham feito: trazer Jesus para a vida.
Amélia pressionou a mão contra o peito, pois sentia o ar preso nos pulmões. Quando sentiu o colar sob o tecido, imaginou o que seria. Então, lembrando-se, retirou o pingente e olhou para o cristal azul à luz difratada do jardim de Raquel. Enquanto olhava fixamente o cristal, pôde ver a pobre criatura que tinha sido torturada pelos soldados romanos, seu corpo emaciado por meses de privação e sacrifício, o rosto escorrendo sangue, a pele tenra ferida e lanhada, os pés escorregando e vacilando nas pedras ásperas de uma rua de Jerusalém. Amélia já vira muitos criminosos crucificados, ainda assim nunca tinha visto o homem, nunca parara para pensar sobre a mente e o coração sob a carne torturada. Quantos deles, aquelas pobres criaturas pendendo de vigas ao longo da via Ápia, tinham sido inocentes? Quantos tiveram famílias, mulheres que amavam, crianças com quem sonhavam? Quantos haviam sido pendurados em cruzes injustamente, enquanto as famílias choravam a seus pés?
— Sim — repetiu Maria, a voz cansada pela lembrança daquela tragédia ocorrida trinta anos antes —, depois de tudo que sofreu, nosso Senhor pediu a Deus que perdoasse os que o haviam torturado.
Amélia sentiu um aperto na garganta. Via o cristal azul em meio às lágrimas; parecia liquefazer-se em suas mãos. Jesus, depois de tudo que fizeram com ele, no seu último alento, pediu a seu deus que perdoasse aqueles que tanto o haviam maltratado. E de súbito viu claramente o coração do cristal. Não era o fantasma de uma rainha egípcia, afinal, nem Simão Pedro em prece, mas sim Jesus, pendendo na cruz, os braços abertos em boas vindas, pronto para abraçá-la. Tal como havia profetizado o Leitor de Pássaros!
Amélia gritou. Estivera-o carregando todas aquelas semanas contra o peito sem saber — o homem com os braços abertos para recebê-la.
Amélia foi batizada.
Todos compareceram, todos os seus novos amigos. Festejaram depois, e oraram, choraram e riram juntos. Raquel teve a honra de realizar a cerimônia no tanque de sua fonte, com lágrimas de alegria escorrendo pelas faces enquanto a água escorria sobre a cabeça de Amélia. Não importava para Amélia que a família nada soubesse da sua recém-conversão religiosa. Eles não entenderiam e ela não iria tentar explicar. Talvez com o tempo, disse a si mesma, começasse a falar de sua experiência pessoal, e talvez pudesse trazer um dos filhos para sua nova fé. Era sua esperança secreta: ver Cornélia e os outros ajoelhados em alegria na fonte batismal de Raquel.
— O que é isto? — ouviu Cornélio perguntar quando entrou no jardim. Como era seu hábito, ele falava sem um cumprimento ou introdução.
Amélia estava regando as flores e especulava se as rosas de verão sempre tiveram este aroma tão peculiar. Sentia como se estivesse vendo o mundo com novos olhos, como o evangelista Paulo disse ter ocorrido quando as escamas caíram dos seus olhos. Tudo em torno dela assumia uma nova cor, nova vibração. Como aquelas rosas. Decidiu que cortaria um buquê para Feba, que estava de cama com um resfriado de verão, e lhe faria uma visita. Era uma das obrigações dos membros da casa-igreja realizar o Bikur Cholin — o grande mitzvah, ou ato louvável, de visitar os doentes —, mas Amélia não encarava isto como um dever. Considerava Feba como uma irmã.
Sua fé ainda não estava consolidada como a de Raquel. Embora se sentisse enlevada, ainda continuava confusa. Não era algo que pudesse explicar a alguém, não havia palavras suficientes. A aceitação total não era instantânea. Ainda era preciso pensar muito a respeito. O conceito de um deus totalmente aceito embora não visto, por exemplo. Não havia estátuas nem imagens dele. Amélia nunca antes rezara para um espírito. Seu cristal azul ajudava, pois nele podia ver a imagem do Redentor crucificado. Outros na casa-igreja também empregavam imagens, pois as pessoas adoravam seus símbolos familiares e reconfortantes e não viram razão para abrir mão deles: Gaspar orava para sua estátua de Dioniso, ele próprio tendo sido um deus-salvador crucificado; Jafé continuava a usar sua velha cruz de Hermes; e um recém-chegado da Babilônia, que um dia adorara Tamuz, o Pastor, tinha pintado um pequeno mural no jardim de Raquel representando Jesus como um pastor com um cordeiro nos ombros. O conceito de haver apenas Deus e não Deusa era igualmente difícil para Amélia aceitar, pois toda a natureza não era feita de macho e fêmea? Portanto, como os cristãos que ainda oravam a Isis, Amélia conservava sua fé em Juno, a Virgem Abençoada. Outros dogmas da nova fé também eram novos e ela lutava para aceitá-los, mas de uma coisa não tinha dúvida, que Jesus a perdoara por seus pecados e fraquezas e que uma nova vida a aguardava.
Amélia — repetiu Cornélio, com impaciência —, o que é isto?
Bom-dia, Cornélio. — Ela não se voltou.
Quero saber o que é isto.
Há uma coisa interessante acerca das rosas de verão — disse ela, olhando para os frágeis botões nas mãos. — Sempre ensinei a remover todos os botões e folhas fenecidos para estimular a planta a rebrotar. Mas nem todas as rosas rebrotam, sabia disso? Algumas são apenas brotações de primavera e para esse tipo de rosa mesmo que você as apare nada acontece. Mas para aquelas que rebrotam, tais como estas rosas-chá, este procedimento estimulará a nova leva de brotos.
Amélia — disse ele exasperado —, olhe para mim quando estiver falando com você.
Ela voltou-se, e o olho de Cornélio captou o lampejo de luz solar azul no peito de Amélia. O colar estava visível, aparente.
Não acha interessante, Cornélio? — continuou ela. — Que ao remover flores mortas você promova o crescimento de novas?
Diga-me o que é isto.
Ela olhou de relance para o objeto na mão dele.
Parece um pergaminho, Cornélio.
É o balanço dos aluguéis coletados no quarteirão de cortiços no Décimo Distrito. Ou melhor, dos aluguéis não coletados. Você não pressionou os inquilinos a pagar. Por quê?
Porque eles não podem. Há mães com crianças e ninguém para provê-las. Há homens libertos sem emprego. Há doentes e idosos. Não têm condições de pagar o aluguel.
Isto não é problema nosso. Quero esses aluguéis cobrados imediatamente.
O prédio é meu, Cornélio. Eu decidirei sobre os aluguéis.
Suas palavras, e seu tom, o silenciaram por um momento.
Você nunca teve qualquer tino comercial, Amélia — disse. — Mandarei Filo com o guarda da cidade para cobrar aqueles aluguéis.
O prédio é meu — repetiu ela, terna, mas firmemente. — Meu pai o deixou para mim. Sou a proprietária legal. E decido quem paga aluguel e quem não.
Não percebe quanto dinheiro estamos perdendo?
Ela o olhou de cima a baixo, detendo-se na fina toga branca com bainhas púrpuras em dobras exatas sobre o corpo dele.
Você não olha para os carentes alimentados por ele.
Os olhos dele chamejaram.
Muito bem — disse, batendo com o pergaminho na palma da mão, como se para pontuar as palavras. — Eu mesmo vou cobrar os aluguéis.
Cornélio levou um mês com um pelotão de guardas para arrancar o exorbitante aluguel dos assustados inquilinos; Amélia levou uma tarde para devolvê-lo.
Todos os nossos amigos estão comentando, Amélia. Você fez de mim motivo de chacota.
Estavam de novo no jardim. Cornélio ostentava uma expressão tempestuosa.
Cornélio — disse ela, usando o tom que costumava empregar para dirigir-se ao pequeno Lúcio —, eu lhe disse que não ia cobrar aluguel daquela gente. Não até que as condições deles melhorem.
Ele semicerrou os olhos para o colar, novamente sobre o vestido.
Não sei o que deu em você, mas acho que precisa permanecer em casa por uns tempos. Não vai mais visitar a judia. — Ele virou-se para sair, depois parou: — Amélia? Você me ouviu?
Sim, Cornélio, ouvi.
Está resolvido, então. Você não vai visitar a judia.
Enquanto olhava para Cornélio, ela pensou na crença de Raquel de que o mundo estava chegando a um fim. Muitos cristãos partilhavam da crença e portanto nas reuniões do Sabath ocorreram muitos debates acerca da natureza deste fim. Iria o mundo se transformar numa bola de fogo? Haveria terremotos e inundações? Nações se sublevariam e lutariam até que só restasse uma única? Muitos viam anjos com trombetas no caminho, outros viam pragas e morte. Qualquer que fosse a possibilidade, Amélia imaginava como Cornélio reagiria. Fantasiou-o andando de um lado para o outro, como fazia nos tribunais, e gritando: "Ei, esperem um minuto, não podem fazer isto!" Ela quase sorriu.
Amélia? Você me ouviu?
Sim, Cornélio, ouvi.
Muito bem, então. Você nunca mais irá à casa da judia. — Começou a se retirar de novo, depois parou. — Amélia?
Sim, Cornélio?
Os olhos dele chamejaram para o peito dela, onde o colar egípcio estava atrevidamente exposto, o cristal azul lançando agudos reflexos à luz do sol.
Acha que isto é apropriado? — disse, apontando para o colar.
Ela olhou para baixo.
Foi um presente seu, Cornélio. Não quer que eu o exiba?
Depois que a apóstola chamada Maria partira, naquele memorável dia da epifania de Amélia, ela havia perguntado a Raquel como poderia obter este perdão que Jesus pedira para seus torturadores e ficou atônita ao saber que a pessoa não tinha de pagar taxas a um templo nem sacrificar um animal. Nem teria de recorrer a um intermediário como um sacerdote ou uma sacerdotisa. "Basta falar diretamente a Deus," Raquel dissera, "peça o perdão Dele, conserve isto no seu coração e será perdoada."
Amélia voltara da casa de Raquel num turbilhão de emoções. Grata por não haver ninguém em casa quando chegou, seguiu direto para seu santuário particular, um pequeno jardim com uma fonte e uma estátua de Ísis, e lá refletiu durante a tarde e a noite sobre o que tinha acontecido. A raiva dos homens que torturavam seres inocentes permanecia com ela até que ficou mais focalizada. Cornélio, recusando-se a perdoá-la. Mas depois que dormiu e despertou para um novo amanhecer, suas paixões se destilaram para um elemento singular: um novo poder. Não mais repleta de fúria, não mais em dor e confusão, não mais se sentindo fraca e indefesa, Amélia despertara para uma nova aurora e um novo ser. Então deslizou o colar por cima da cabeça e o deixou pender exposto sobre o vestido, enquanto pensava: "se sou uma mulher marcada, então é melhor deixar que o mundo veja."
Cornélio estreitou os olhos. Não era hábito de Amélia fazer encenações. Esqueceria o assunto do colar por enquanto.
Então está decidido — disse ele. — Você não verá mais a judia. — Esperou. — Você me ouviu?
Ouvi.
Então obedecerá.
Não, Cornélio. Continuarei a visitar minha amiga Raquel.
Amélia!
Sim, Cornélio?
Ela notou pela primeira vez que ele começara a pentear o cabelo de trás para a frente. A calvície não era admirada em Roma, era de fato considerada um sinal de fraqueza. Os homens portanto se submetiam a grandes sacrifícios para compensar, os mesmos homens que ridicularizavam suas esposas por gastar tempo demais com seus cabeleireiros. Esta constatação sobressaltou Amélia, mais ainda porque despertava-lhe não um sentimento de desdém pelo marido, mas sim de pena. Bustos de Júlio César mostravam-no como um homem de cabelo muito ralo. Ainda assim era um herói, um deus, ninguém pensava no seu couro cabeludo quando admirava o homem. Ela queria dizer a Cornélio, que passava horas com seu pente e óleos: lustre sua calvíce, faça-a reluzir, e depois siga em frente para a grandeza.
Proíbo-a de voltar a pôr os pés lá — disse ele.
Ela examinou as rosas.
Amélia, você me ouviu?
Não sou surda, Cornélio.
Então nunca mais irá à casa da judia.
Ela continuou cortando os botões e folhas murchas e colocando-os numa cesta.
Cornélio franziu o cenho.
Está passando mal?
Por que diz isto, Cornélio?
Você está febril.
Não, não estou.
Então por que está agindo de modo tão estranho?
Estou?
O que há com você?! — explodiu ele e instantaneamente se arrependeu. Cornélio se orgulhava de nunca perder a compostura. Oradores e advogados habilidosos tinham tentado tanto e jamais causaram mais que uma fratura na sua compostura. E agora sua esposa, entre todas as pessoas, o estava desconcertando. Ele não ia tolerar isto. — Você me ouviu — disse num tom definitivo. Depois girou nos calcanhares e saiu.
A mudança espantosa permaneceu com ele toda aquela tarde e à noite, mas recusou-se a ser arrastado para qualquer tipo de jogo que estivesse em andamento. Sabia que nada tinha a temer. Nem em mil anos Amélia ousaria desobedecê-lo.
Mas mesmo assim, na manhã seguinte, ela fez justamente isso.
Onde está a Sra. Amélia? — perguntou ao mordomo Filo.
A senhora saiu, meu senhor.
Para onde?
Para onde ela sempre vai no sábado, senhor. Para a casa da judia.
Cornélio ficou rubro. Ela ousara desobedecê-lo. Não haveria uma segunda vez.
Naquela noite, quando Amélia retornou, ele estava à espera.
Retire esse colar.
Mas agora que comecei a gostar dele...
Sei que isto é uma espécie de manobra para me forçar a perdoá-la...
Ora, Cornélio, não preciso que você me perdoe. Já fui perdoada por alguém maior que você.
Quem?—perguntou ele com um riso seco. — A judia? Pare com isso, Amélia.
Se devo ficar marcada como uma adúltera, Cornélio, então deixe que todo mundo saiba da minha vergonha.
Quero que tire esse colar.
Você deseja que eu seja sempre lembrada do meu pecado, não é assim?
Isto tudo é por causa daquele maldito bebê, não é?
Amélia arqueou as sobrancelhas.
"Maldito bebê"? Refere-se à nossa filha, nosso último bebê? Sim, suponho que este momento tenha suas raízes naquele outro momento, seis anos atrás. Tentei ser obediente quando você jogou fora a minha filha, mas entrei em depressão. E você nem se importou, Cornélio. Assim busquei consolo nos braços de outro homem. Talvez isto tenha sido um erro, não sei. Mas sei que aquilo que você fez com minha filha foi errado.
A lei diz...
Ela empinou o queixo.
Não me interessa o que diz a lei. Leis são escritas pelos homens. Um bebê pertence a uma mulher e a ninguém mais. Você não tinha o direito de jogar minha filha fora para ficar ao relento e morrer.
A lei me dava todo o direito — replicou ele, descartando a acusação.
Não. Esta é a lei do homem, uma lei fabricada. Para uma mulher, o nascimento de um filho é a lei da natureza, e nenhum reles homem pode subordiná-la.
Quando Amélia se virou para sair, ele disse:
Fique, Amélia. Ainda não acabei de falar com você.
Mas ela continuou andando, saindo do aposento.
O uso espalhafatoso do cristal azul por parte de Amélia tornou-se o mexerico da sua classe social e mais uma vez foi o estopim de novas piadas sobre Cornélio. Ele por fim exigiu que Amélia lhe devolvesse o colar e Amélia se recusou. Para que ficasse a salvo, ela o colocava debaixo do travesseiro, de modo que, se Cornélio tentasse pegá-lo, ela despertaria e o impediria. Mas ele nunca tentou.
Quando se falaram de novo, Cornélio estava irrompendo pela casa e berrando ordens para que os escravos começassem a empacotar as coisas para uma mudança para a casa de campo. Amélia presumiu que Cornélio a estivesse punindo de novo, mas quando ele disse que havia um surto de malária e que enquanto o Campus Martius não fosse drenado ninguém estaria a salvo, ela captou um fundo de verdade nas palavras dele.
A malária vinha assolando a cidade havia séculos, e ao mesmo tempo em que ninguém conhecia uma solução para erradicar a doença em definitivo, tinha sido notado que se os pântanos no Campus Martius fossem drenados, a doença regrediria. Solomon, o marido médico de Raquel, havia sugerido que a doença não era de fato causada pelo ar viciado — o mal aria —, mas sim pelos mosquitos que proliferavam nos pântanos. Contudo, como Solomon era um judeu, os magistrados da cidade não lhe deram a menor atenção.
O que definitivamente convenceu Amélia de que esta mudança nada tinha a ver com o seu recente desafio foi que Cornélio também insistia para que toda a família fosse para o campo — Cornélia com o bebê e seu jovem marido, os gêmeos, de 20 anos, e suas esposas e bebês, o Cornélio Filho, de 22 anos, com sua esposa e duas crianças, Gaio, o caçula de 13 anos, e Lúcio, o filho adotivo, com Fido nos seus calcanhares. Acompanhado por babás e tutores, criados pessoais e uma enorme comitiva de escravos e guardas, o clã Vitélio partiu da cidade de Roma no início de uma manhã de julho, a maioria deles procurando evitar o calor, o mau cheiro e o barulho da cidade por algum tempo.
Somente Amélia tinha suas dúvidas.
Embora a propriedade de Vitélio, tal como as de todas as famílias romanas ricas, tivesse escravos que nada mais faziam senão tecer e produzir as roupas da família, Amélia acreditava, como muitas matronas, na virtude fora de moda de realizar ela própria tais tarefas.
E assim sentava-se à sombra de um sicômoro, com uma sacola de lã a seus pés, cardando as fibras em preparo para transformá-las em fios. Não estava sozinha. Suas duas filhas e duas noras, cada qual balançando um berço ou segurando uma criança se debatendo, seus filhos menores Gaio e Lúcio, e uma variedade de garotos e meninas, filhos dos escravos, reuniam- se ao seu redor para ouvir histórias que ela contava sobre um homem chamado Jesus e os três magos que lhe trouxeram presentes quando nasceu.
Era outra das divisões da nova fé: enquanto os cristãos judeus enfatizavam obediência a Deus e à lei de Deus, os cristãos gentios adoravam histórias sobre o seu redentor. E uma vez que pouco se sabia da vida do Senhor antes dos anos finais de seu ministério, e como poucos que realmente o conheceram ainda estavam vivos, os hiatos eram alegremente preenchidos pelos adeptos que forneciam histórias que achavam adequadas a Jesus. Outros deuses-salvadores, como Dioniso, Mitra e Krishna, tinham sido visitados por magos e pastores ao seu nascimento, tal como foi Jesus, pois fazia pleno sentido. Fazia alguma diferença que as histórias tivessem ou não autenticidade histórica? Na sua familiaridade universal, elas serviam para tornar mais fácil a aceitação de Jesus pelos neófitos.
Quando Amélia terminou a história, o pequeno Lúcio pôs os braços em volta de Amélia.
Jesus também me ama, mãe? — perguntou ele.
Crianças, vão brincar — ordenou Cornélia de repente, queixando-se de que fazia muito calor para ter crianças por perto. Sua irmã e cunhadas, entediadas com as histórias e com o calor, recolheram seus bebês e se dirigiram para a residência, onde os chafarizes ofereciam algum alívio. Mas Cornélia permaneceu debaixo da árvore, ordenando a um escravo que trouxesse mais vinho gelado e a outro que aplicasse mais vigor à pena de avestruz que usava para abaná-la. Balançando o berço onde seu bebê se agitava nas suas fraldas molhadas, ela disse:
Tive um sonho esta noite. Alguma coisa está errada na cidade.
Ganhou imediata atenção de sua mãe. Sonhos eram importantes.
Suas mensagens não deviam ser ignoradas.
Não era nada específico — continuou Cornélia, olhando fixamente para o muro do jardim, como se pudesse ver além dele, por sobre os quilômetros e as montanhas, até onde Roma assava no calor de julho. — Gostaria que papai viesse se juntar a nós.
Ele tem muitas obrigações.
Obrigações! — replicou Cornélia, mal-humorada. — Ele está em Roma com sua amante! Não sabia disso, mãe, que papai tem uma amante?
Amélia havia muito que suspeitava. Cornélio tinha um apetite sexual saudável, e como fazia anos que não visitava seu leito, ela presumia que buscasse alívio em outra cama. Continuou a cardar a lã.
Como pode tolerar isto?
Amélia olhou para a filha. Cornélia estava representando a parte injuriada, com se o pai estivesse sendo infiel a ela.
O que seu pai faz é da conta dele.
Sabe quem é, não sabe? E Lucilla. Ele a levou para o Egito. Sabia disso?
Amélia não queria falar a respeito, pois era de mau gosto e, além do mais, sua filha não tinha nada a ver com isso.
Cornélia olhou para a mãe e disse, franzindo o cenho:
Você está ganhando peso.
Amélia se examinou. Era verdade, ela estava ficando rechonchuda. Mas que mulher não fica, depois de dez gestações?
Acontece que as pessoas envelhecem, Cornélia — disse, especulando à inesperada crítica.
Mesmo assim, isso não fica bem. — Cornélia gesticulou com impaciência para que a ama-de-leite levasse o bebê. — E esta nova religião. Venerar um judeu morto! Não tem cabimento.
Amélia depôs a cardação.
Cornélia, por que está tão furiosa comigo?
Não estou furiosa com você.
Bem, então alguma coisa a deixou de mau humor.
Cornélia, com 17 anos de idade e detestando a monotonia da vida campestre, enxotou uma abelha do braço.
A amante de papai. Você o forçou a isso.
Este assunto é entre mim e seu pai.
E depois por que usa esse colar? Não é correto ostentá-lo.
Amélia contornou sua impaciência.
Foi presente do seu pai.
Francamente, mamãe, não sou criança. Sei por que ele o deu a você. Roma inteira sabe. Portanto, deveria evitar usá-lo.
Amélia passou a mão sobre a lã cardada, sentindo a preciosa lanolina na ponta dos dedos. O fato que acontecera seis anos antes nunca fora abordado entre as duas. E havia desejado que nunca fosse.
Cornélia, querida — começou.
Não tente se defender — disse Cornélia enquanto pegava um cacho perdido de cabelo na nuca suada e o enfiava de volta no coque. — Você fez papai se afastar — disse com petulância. — Ele é apenas um homem. Com a sua infidelidade, você o impeliu para outra mulher.
Cornélia!
É verdade. Do contrário, papai jamais cometeria adultério.
Amélia olhou fixamente para a filha, totalmente chocada.
E ele continua se encontrando com ela — continuou Cornélia, irritada. — E tudo por sua culpa!
O que seu pai faz rio tempo que lhe sobra...
E não é só isso. Tem esse garoto, Lúcio. — O órfão que Cornélio adotara.
Amélia olhou para onde Lúcio estava brincando com Fido.
O que tem ele?
Ele a chama de mãe.
Sou a mãe dele, pelo menos legalmente — disse Amélia, e um terrível pressentimento começou a pairar sobre ela. — E ele é um parente de sangue — continuou, a garganta se apertando com um presságio enregelante. — Seus pais eram da família Vitélio.
Oh, mãe, como pode ser tão cega?
De repente, tudo veio à luz. O que Amélia tinha sabido inconscientemente por algum tempo, mas que ela ignorara enganando a si mesma: a semelhança com Cornélio devia-se ao sangue Vitélio. Mas agora percebia claramente o que Cornélia estava a ponto de revelar: que Lúcio era filho de Cornélio.
Pressionando a mão contra o colar, extraindo consolo ao sentir o cristal sob dos dedos, ela recitou uma prece silenciosa: Deus, dai-me força...
Não vamos mais falar neste assunto — disse de modo áspero, procurando por mais lã.
E não a incomoda o fato de Lúcio ser filho de Lucilla? Que todos em Roma saibam que papai adotou o bastardo de sua amante e que continua se encontrando com ela?
Já basta! — disse Amélia. E enquanto enfrentava o olhar desafiador da filha, notou pela primeira vez que a forte semelhança de Cornélia com o pai não era natural. Amélia se recordou de uma época em que Cornélia possuía feições mais suaves, um rosto mais clemente. Mas à medida que os anos passavam ela desenvolvera o hábito de apertar as narinas e enrijecer os lábios em constante desaprovação, tal como Cornélio. O resultado foi moldar seu rosto como o dele. — Cornélia, o que a faz me desprezar tanto?
A filha desviou os olhos.
Você traiu papai.
Depois que ele jogou fora meu bebê. — Pronto. Estava dito.
Ele fez a coisa certa. Ela era deformada! Você deve ter feito alguma coisa errada!
Amélia ficou atônita ao ver sua filha à beira das lágrimas.
-— Foi tudo culpa sua! O bebê... tudo!
E no exato momento em que Cornélia fazia a acusação, um escravo chegou correndo e gritando:
Senhora! Senhora! Roma está em chamas!
Eles viram as labaredas por seis dias, recebendo informes de mensageiros que iam diariamente se inteirar da catástrofe. A rotina na vila se alterou. Houve uma pausa nas atividades cotidianas enquanto a família e os escravos subiam no telhado e viam o céu vermelho a distância. Roma, pegando fogo...
Era o fim do mundo? Amélia especulou. Era isto que Raquel e seus amigos estiveram profetizando? Jesus estava prestes a entrar em Roma?
Cornélio mandou avisar que estava tudo bem. Tinha ido a Anzio para dar as notícias ao imperador. Mas era com seus amigos que Amélia estava preocupada: Feba, que estava velha e doente; Jafé, que, sendo mudo, não podia pedir socorro; e Gaspar, o maneta. Com eles iriam escapar das chamas?
Mais tarde saberiam que o fogo tinha começado no circo, onde se juntavam o Palatino e as colinas Celina. Irrompendo em lojas que vendiam produtos inflamáveis e incentivado pelo vento, o incêndio se alastrara instantaneamente, já que não havia mansões muradas nem templos para detê-lo. O fogo tinha se propagado primeiro pelos espaços planos, depois pelas colinas, evitando todos os esforços capazes de interrompê-lo. As ruas estreitas e sinuosas da cidade velha e os cortiços irregulares tornaram o seu progresso rápido e fácil. Mas o pior foi o pânico que tomou conta da população enquanto tentava escapar por avenidas e becos congestionados de gente. Testemunhas oculares traziam relatos do caos — os mais fortes pisoteando os indefesos. Quando o povo corria às cegas, berrando pelas ruas repletas de fumaça, encontrava uma muralha de chamas diante dele ou flanqueando-o. Quando alguns conseguiam escapar para um quarteirão vizinho eram seguidos pelo fogo — como uma besta com vontade própria. Finalmente o populacho aterrorizado conseguiu fugir para as estradas que levavam aos campos e fazendas.
Houve relatos bizarros de gangues ameaçadoras impedindo que se combatesse as chamas. Tochas eram abertamente arremessadas por homens que declaravam estar cumprindo ordens. E então começava a obscena e desenfreada pilhagem. Pessoas que jaziam nas ruas, ainda vivas, eram despojadas de roupas e jóias. Homens tentando salvar suas casas eram ameaçados com porretes enquanto vândalos se apressavam em saquear.
Quando Nero retornou para a cidade que ainda ardia em chamas, certificando-se de que todos soubessem que havia deixado a segurança de Anzio, arriscando, portanto a própria vida por amar tanto o seu povo, ele mandou abrir o Campus Martius, os prédios públicos de Agripa, até mesmo seus próprios jardins para refrigério das massas desabrigadas. Mandou que trouxessem alimentos das cidades vizinhas e o preço do milho foi reduzido. Ainda assim, essas medidas não lhe valeram nenhum elogio, pois começara a espalhar-se um boato de que, enquanto a cidade queimava, Nero havia se exibido para o seu círculo íntimo, cantando sobre a destruição de Tróia. E um boato ainda pior: que o próprio Nero, desejando construir uma nova cidade, havia ordenado o incêndio.
Por volta do sexto dia, as chamas em fúria só encontravam solo nu e céu aberto, e o fogo finalmente se extinguiu ao sopé da colina Esquilina. Dos catorze distritos de Roma, somente quatro permaneceram intactos. Três ficaram completamente ao rés do chão, os outros foram reduzidos a ruínas fumegantes. Era impossível contar as mansões, casas de cômodos e templos destruídos. E o número de desabrigados, crianças órfãs e viúvas estava além de qualquer avaliação.
Por uma semana Amélia ficou com o coração na garganta enquanto pensava nos seus amigos, aguardando ansiosamente por notícias. Se não tivesse sua própria família para pensar, teria ido pessoalmente, pois levas de refugiados estavam agora se amontoando nas estradas e esmolando junto às vilas dos ricos. Ela teria aberto suas portas caso não houvesse maus elementos entre eles, bandidos que, tirando vantagem do desastre, passaram a saquear o interior, a atacar refugiados e residências, até que uma coorte de soldados foi despachada para restaurar a ordem.
Até receber uma mensagem da própria Raquel, Amélia nada pôde fazer senão esperar, preocupar-se e orar.
Cornélio finalmente retornou para relatar que embora suas propriedades na cidade tivessem sido poupadas, boa parte das outras na colina eram ruínas enegrecidas, e a casa da família fora danificada pela fumaça. Ele providenciara imediatamente a construção de uma nova residência, e nesse meio-tempo toda a família iria permanecer no campo, onde a água e o ar eram puros e frescos, ficando a salvo de doenças que estavam agora grassando na cidade destruída.
Levaria ainda quase um ano antes que retornassem, mas nesse ínterim Amélia recebeu uma carta de Raquel dizendo que a casa dela havia sido poupada e que a maioria dos membros da casa-igreja, graças a Deus, passaram incólumes pelo desastre. Eles estavam retomando as reuniões semanais do Sabbath e incluindo Amélia nas suas preces. Raquel também conseguiu enviar visitantes e cartas de Paulo, e aproveitando-se de que Cornélio passava a maior parte do tempo na cidade, Amélia organizou uma pequena casa-igreja e convidou a família e escravos para participar. Cornélia nada tinha a ver com as atividades de sua mãe e passava a maior parte do tempo irascível por causa da sua segunda gravidez, mantendo um pavilhão de veraneio adjacente à vila, onde recebia seus próprios amigos.
Enquanto isso, Roma foi reconstruída e muitos lucraram com isso. Nero contratou empreiteiros para retirar entulho e despejá-lo nos pântanos de Óstia em embarcações que desciam o Tibre. Ele decretou que uma parte de cada prédio novo fosse feita de pedras à prova de fogo vindas de Alba. Proprietários eram obrigados a manter em suas casas aparatos de combate a incêndio, tais equipamentos podendo ser comprados de distribuidores locais. Roma se mantinha viva com o tilintar das moedas trocando de mãos.
Passado algum tempo, Amélia começou a especular a nova jovialidade de Cornélio. Sempre que visitava a vila de campo, ele anunciava que iam ficar incrivelmente ricos com a reconstrução de Roma. Seus navios foram os únicos a obter o contrato para transportar os novos materiais de construção. Ele tivera a previsão, gabava-se, de monopolizar o mercado nas pedreiras. Após um momento, relembrando como ele tinha insistido para que toda a família se mudasse para o campo, e a pressa nesta mudança, um pensamento terrível começou a assombrar Amélia: Cornélio teria sabido do incêndio antes do tempo?
Chegou finalmente o dia em que ele anunciou que estava tudo pronto para retornarem à cidade. Ninguém ficou com o coração mais feliz do que Amélia.
— Poderia ser roubado — disse Cornélio, franzindo o cenho para o cristal azul que reluzia tão impudentemente no peito de Amélia. — Um ladrão poderia arrancá-lo do seu pescoço. Seria melhor deixar o colar em casa, Amélia.
Mas ela limitou-se a dar a resposta habitual.
Foi um presente seu, e deverei usá-lo sempre.
Então pelo menos use-o sob o vestido.
Mas Amélia não fez qualquer movimento para ocultar o cristal azul.
Na sua liteira acortinada eles estavam chegando ao grande circo na colina Vaticano. Era um grande dia para o imperador e toda Roma se dirigia para lá. Amélia na verdade não queria ir, mas sabia que sua ausência seria notada pela família imperial. Além disso, seu marido era um dos patrocinadores dos eventos do dia; ela dificilmente poderia perdê-los. Jamais apreciara os combates dos gladiadores nem os torneios de matança de feras. Mas iria suportar aquilo, pois Cornélio prometera que no dia seguinte poderia visitar Raquel.
Fazia menos de uma semana de seu retorno à Roma e Amélia tivera pouco tempo para se inteirar das notícias mais recentes junto a seus amigos cristãos. Como Cornélio havia prometido, sua nova casa na colina Aventino era ainda mais espaçosa e luxuosa do que a antiga mansão, e Amélia tivera as mãos e as horas ocupadas com compra de mobiliários, pintura dos murais, aquisição de novos escravos. E então Cornélio anunciara que Nero estava oferecendo jogos em agradecimento aos deuses pelo renascimento da cidade.
Multidões entravam pelas rampas e pelas fileiras ascendentes, se empurrando, acotovelando, engalfinhando para ocupar a metade superior dos inúmeros assentos sobranceiros à enorme arena. Agitado e barulhento, despido de educação e boas maneiras, o povaréu se espremia, homens, mulheres e crianças, gritando, rindo e suando na sua paixão por entretenimento. Mais abaixo as primeiras filas estavam ocupadas por senadores, sacerdotes, magistrados e outros funcionários proeminentes. As fileiras seguintes estavam abarrotadas de cidadãos ricos e bem-situados. Era onde o clã Vitélio tinha um camarote exclusivo.
Toda a família comparecera. Sentados atrás de Cornélio e Amélia, estavam Cornélia e o marido, Cornélio Júnior e a esposa, os gêmeos com as esposas e os jovens Gaio e Lúcio. As mulheres jovens já juntavam as cabeças, mexericando sobre quem estava lá e com quem; quem estava vestindo as cores erradas naquele ano, usando penteados fora de moda, quem parecia mais velho, mais gordo, menos aceitável socialmente. Amélia esforçou-se para ignorar a presença da bela viúva Lucilla, que sentava-se desacompanhada a dois camarotes de distância, convidada de um senador. Lucilla reverberava ao sol com seu cabelo tingido de louro, num atordoante vestido e estola de seda cor-de-rosa.
No decorrer do ano do Grande Incêndio, Amélia e a filha não discutiram mais sobre a amante de Cornélio. Não obstante, ainda era possível sentir a tensão entre elas, um bolsão de ar gélido que apartava mãe e filha.
Um céu impecável pairava acima; mais tarde, os toldos seriam desdobrados para proteger os espectadores do sol. Aromas de fritura flutuavam sobre a multidão enquanto vendedores ambulantes preparavam alimentos que seriam vendidos durante o dia: salsichas de porco e pão quente, pombos assados e peixe ensopado, tortas de fruta e bolos de mel. E acima do burburinho dos que chegavam havia o rugido das feras inquietas e assustadas nas jaulas. O estado de espírito era febril, pois espalhara-se pela cidade que Nero estava oferecendo uma surpresa especial naquele dia, uma que ele e seus patrocinadores tinham conseguido manter em segredo. Não restava nenhum assento vago quando as trombetas anunciaram a chegada da família imperial. Retardatários tiveram de ficar de pé no topo do estádio, que já estava totalmente lotado. Irrompeu um tumulto nos portões de entrada para a arena, enquanto avisavam a uma turba furiosa que não havia mais lugares. Com lanças e porretes os guardas a dispersaram, com pessoas sendo pisoteadas no processo. Um dia típico no circo.
Os jogos foram abertos com grande pompa e fanfarra e cerimônias religiosas, pois tinham suas raízes na propiciação ritual dos deuses séculos antes. Sacerdotes e sacerdotisas sacrificavam carneiros e pombos e os ofereciam a Júpiter e Marte, a Apolo e Vénus. Incenso flutuava no ar, água sacra era espargida na areia. Cada um dos espectadores sabia que havia um lado solene para os entretenimentos na arena, que tal esporte sangrento era necessário para a saúde e contínua prosperidade do império.
Nero chegou, atravessando a areia com grande cerimônia, deixando a turba eufórica. Uma vez acomodado no camarote imperial, ele ordenou a abertura dos jogos. Uma fanfarra de trombetas introduziu um espetáculo de mímica, seguida por xamãs e mágicos, acrobatas e palhaços, ursos bailarinos e destemidos ginetes a cavalo, trupes de garotas dançarinas em trajes sensuais, bandas marciais e desfiles de elefantes, girafas e camelos. Um espetáculo cômico com avestruzes, mantidas em cativeiro por tanto tempo que ao serem libertadas, literalmente brincavam em volta da arena; era um grande prazer para a turba, pois arqueiros apareciam de súbito e caçavam as aves cômicas e assustadas com flechadas até dizimar todas elas. A seguir começaram os jogos sangrentos: combates de gladiadores, caçada a feras, batalhas simuladas, até que a areia ficasse toda vermelha. Nos intervalos, vinham os escravos com ganchos e correntes para arrastar cadáveres e carcaças e espalhar areia limpa, enquanto os espectadores comiam, bebiam e se aliviavam.
O dia avançava e ficava mais quente. As latrinas transbordantes começavam a feder e o odor de sangue, não importava o quanto estivesse coberto por areia, enchia o ar. Quando a turba começou a se inquietar, trombetas ressoaram e Nero anunciou que, pela vontade dos deuses, havia descoberto os autores do incêndio que destruíra a sua adorada cidade e matara e ferira tantos de seus amados cidadãos. Portões se abriram e um esfarrapado grupo de pessoas saiu, piscando à luz do sol. Amélia olhou, surpresa. Ela esperara ver bandidos rudes, desertores do exército, o tipo de gente que sempre via nestas execuções criminais. Mas este grupo parecia constituído de...
Mulheres! Velhos! Crianças!
Cornélio — disse Amélia com veemência, mas silenciosa o bastante para que ninguém mais ouvisse —, certamente Nero não acredita que estas pessoas sejam responsáveis pelo incêndio!
Ele tem provas.
Mas olhe para elas. Dificilmente são...
Ela franziu o cenho. Estava vendo rostos familiares entre eles? Inclinou-se à frente e sombreou os olhos. Aquele velho... possuía uma forte semelhança com Pedro, o pescador, que tinha sido convidado para a casa-igreja de Raquel.
Ela ofegou. Era Pedro! Sendo chicoteado por um soldado até cair de joelhos e a multidão rugir com aprovação. E lá estava Priscila! E Flávio, e o velho Saul.
Mãe Abençoada Juno! — sussurrou Amélia. — Cornélio, eu conheço aquelas pessoas!
Como Cornélio não disse nada, Amélia olhou para ele e ficou atônita ao ver o sorriso presunçoso em sua face. Cornélio não a fitou nos olhos, mas manteve o olhar no entretenimento de cuja organização participara: a execução dos pretensos autores do Grande Incêndio.
E então Amélia viu algo que fez seu estômago embrulhar e a garganta se contrair. Suas mãos voaram para a boca e ela deu um grito. Raquel, lá na arena ensangüentada, sendo impelida pela ponta de uma lança. O cabelo estava solto e caindo sobre os ombros. Mesmo daquela distância, Amélia pôde ver cortes e hematomas. Sua amiga tinha sido torturada.
Amélia sentou-se, congelada e sem fala, enquanto observava o grupo cambalear até onde cruzes tinham sido fixadas na areia — os guardas golpeando velhos, mulheres e crianças até pô-los de joelhos e obrigando-os a rastejar até as vigas de madeira cruzadas e a deitar de costas enquanto 25 mil espectadores riam, zombavam e gritavam:
Morte aos judeus!
Cornélio, é preciso parar com isso — disse Amélia num esforço sobre-humano.
Shhh! O imperador!
Amélia olhou para Nero, que por acaso, naquele momento, olhava na direção deles. Quando ele deu um aceno amigável e Amélia não notou qualquer malícia no seu sorriso, nenhum rancor no olhar, ela percebeu que o imperador não fazia a menor idéia de sua ligação com as pessoas que iam morrer.
Olhou de novo para Cornélio, o belo perfil dele apresentado a ela como a efígie de uma moeda.
Interrompa isto — repetiu com mais firmeza. — Não pode permitir tal coisa. Aquelas pessoas são inocentes. São amigos meus.
Cornélio por fim se virou para ela com um ar que a congelou até a medula.
Por que eu deveria fazer o que você pede? Por acaso eu não lhe fiz pedidos que preferiu ignorar? — Seu olhar se fixou de modo significativo no cristal azul no peito de Amélia.
Ela sentiu-se subitamente arrasada.
Está fazendo isto para me punir? Está matando inocentes por causa... — Foi tomada pela náusea. — ...por causa de sua raiva contra mim? Por tudo que é mais sagrado, Cornélio, que tipo de monstro é você?
O gentil, Amélia — disse ele com um sorriso —, que sabe como agradar uma multidão. — Ele acenou um braço abarcando os espectadores, cujo rugido de aprovação era ensurdecedor.
As mortes de Raquel e dos outros foram tornadas grotescas. Aqueles não condenados à crucificação foram vestidos com peles de animais e dilacerados por cães e leões. As crucificações ficaram para o final, ao pôr-do-sol, de modo que o efeito dos corpos queimados fosse o mais espetacular possível. Amélia ficou chocada ao observar as cruzes se erguerem no ar com cordas puxadas por outros cristãos condenados. Ouviu os cânticos e preces e gritos das deploráveis criaturas pendendo das cruzes enquanto punham fogo em uma a uma. A platéia gritava em aprovação enquanto as vítimas gritavam e se contorciam sob as chamas.
Morram! — gritavam. — Morram os incendiários de nossa cidade!
Amélia via desejo de vingança nos rostos, pois muitos haviam perdido seus lares ou entes queridos no Grande Incêndio. Depois disto eles voltariam para casa apaziguados, um pouco menos queixosos, um pouco menos infelizes com sua sina, e os boatos de que o próprio Nero incendiara Roma iriam gradualmente se extinguir.
Preciso parar com isso! — Amélia começou a se levantar do assento, mas Cornélio agarrou-lhe o braço com força.
Está louca? — sibilou ele. — Pense na sua família!
Olhou por sobre o ombro para Cornélia e a irmã unidas enquanto apontavam para alguém na frisa dos magistrados. Os dois garotos, Gaio e Lúcio, tendo se entediado com o espetáculo, estavam na fileira de cima, cuspindo nos espectadores abaixo. Seus filhos adultos e genros estavam se espreguiçando com os braços enganchados nos encostos de seus assentos, meio observando o espetáculo com taças de vinho nas mãos.
Amélia começou a soluçar. À medida que a fumaça e o odor de carne queimada atingia suas narinas, ela foi sentindo o fogo das cruzes descer por sua garganta abaixo e queimar-lhe o coração. Sentia a alma inflamar-se enquanto seus amigos ardiam na arena abaixo. O enjôo aumentou e a dor percorria cada nervo e fibra do seu corpo. Raquel já estava irreconhecível, e embora seu corpo carbonizado se movesse, Amélia orou para que fosse apenas reflexo e não porque sua amiga ainda estivesse viva.
Ninguém questionou a matança. Ninguém parou para pensar que, para pôr um fim aos boatos que o ligavam ao Grande Incêndio, Nero havia decidido inculpar outros. Ninguém questionou a escolha de um grupo de judeus renegados chamados cristãos, que já possuíam má fama na cidade. Dentre as áreas poupadas pelo fogo, uma foi a região ao longo do rio Tibre onde vivia uma enorme população judia. E todos ainda se lembravam de quando, apenas quinze anos antes, o Imperador Cláudio banira alguns judeus ricos de Roma por causarem princípios de tumultos nas sinagogas com suas disputas a respeito de Cristo.
Com a dor desvanecendo para choque e embotamento, Amélia olhou para o rosto de Cornélio enquanto seus amigos cristãos ardiam. As feições do marido conservavam um tal ar de ódio puro, não-diluído, que ela ficou chocada. E então percebeu que não era a primeira vez que via tal expressão no rosto dele. Tinha vindo à tona uma vez antes, também na arena, quando haviam sido convidados para o camarote imperial e a multidão saudara Amélia. Cornélio tinha erguido os braços, entendendo que a adulação fosse dirigida a ele. E aí a mãe de Nero o humilhara, chamando-o de idiota, e por um instante Cornélio lançara este mesmo olhar venenoso sobre ela.
De repente, Amélia soube a verdade.
Amélia chorou como nunca havia chorado antes. Nem mesmo quando Cornélio jogara fora seu bebê ela derramara lágrimas tão angustiadas. Enquanto a casa dormia e tudo estava em silêncio, deitou-se de bruços e enterrou o rosto no travesseiro, os pulmões liberando grandes soluços, a dor dilacerando-lhe o corpo. Por todo o tempo que lhe restasse de vida, jamais a imagem da morte de Raquel sairia de sua mente. Nem ela queria que saísse. Seria o seu memorial particular para a querida amiga, o lembrete diário do martírio de Raquel.
Outras emoções a inundaram juntamente com o pesar: fúria, amargura, ódio. Saíram com suas lágrimas como veneno, ensopando o travesseiro até que, bem depois da meia-noite, seu choro começou a se extinguir.
Sentou-se na cama, sentindo uma nova hostilidade estranha no coração. Não em relação ao Imperador Nero, nem à turba na arma, mas a um único homem: um monstro chamado Cornélio.
Foi até os aposentos e postou-se sobre Cornélio enquanto ele dormia, as perguntas sussurrando na sua mente: Por que Nero puniu os cristãos? Como ele soube de nós? Em Roma parece haver uma seita religiosa em cada esquina. E não passamos de um ramo dos judeus. Informações sobre nosso grupo não chegariam tão alto quanto aos ouvidos de Nero... a não ser que alguém nos delatasse a ele. Alguém que desejasse nos ver destruídos. Foi você, Cornélio? Foi mais uma de suas maneiras de me punir? Que monstro você é! Jesus, pendurado na cruz, foi capaz de perdoar seus verdugos. Mas não posso perdoá-lo, Cornélio.
Ocorreu-lhe que podia matá-lo naquele momento, enquanto dormia. Podia esfaqueá-lo ali mesmo e depois dar o alarme, rasgar seu vestido e dizer aos guardas da casa que um invasor tinha sido o criminoso. E ela escaparia livre. Mas Amélia sabia que jamais mataria Cornélio. A liberdade não viria com a morte dele, porque ela já estava livre.
Amélia ergueu o cristal azul à luz da lua e viu o espírito benevolente abrigado no seu peito. O fantasma da rainha egípcia se fora. Um salvador assumira o seu lugar.
Ela foi com um único escravo, um africano enorme que era cristão. Ele iluminou o caminho com uma tocha grande o suficiente para deter quaisquer possíveis ladrões nas ruas tomadas pela noite. Quando chegaram à barulhenta casa de cômodos, uma das poucas não atingidas pelo Grande Incêndio, o africano liderou o caminho por uma estreita escadaria de pedra repleta de odores repulsivos, ratos em fuga, paredes cobertas com inscrições raivosas. Não havia portas nos batentes, apenas trapos pendentes que forneciam alguma privacidade.
Amélia não tinha medo. Era uma nova mulher. E viera buscar respostas.
Chegando à porta que lhe havia sido indicada, abriu a cortina de trapo e espiou. A ocupante, uma velha decrépita, olhou para cima, com um sobressalto. Estava comendo mingau de uma tigela de madeira, sua única luz sendo a proveniente da lua.
Amélia tirou o véu que lhe cobria a cabeça e aproximou a tocha do rosto de modo que a mulher pudesse vê-la claramente.
Você me conhece, mãe? — disse ela, usando o título respeitoso para mulheres idosas.
A mulher olhou-a chocada e com medo.
Não tenha medo. Não vim lhe fazer mal. — Amélia tirou algumas moedas e as depositou sobre a mesa. — Diga, não está me reconhecendo?
A parteira olhou para as moedas, a seguir para sua espantosa visitante. Baixou a tigela e limpou os dedos na roupa
Eu me lembro de você — disse.
-— Você fez o parto de uma criança sete anos atrás. Uma menina.
A velha assentiu.
A criança era deformada?
A parteira baixou a cabeça.
Não...
E tudo se encaixou então. A ira de sua filha, gritando: "E tudo culpa sua. O bebê... tudo." Cornélia tinha 11 anos de idade quando o bebê nasceu e foi depositado aos pés de Cornélio. Ela voltara correndo para o quarto, medo nos olhos, exigindo saber por que seu pai tinha recusado o bebê. Agora Amélia entendia. A criança nascera perfeita e a pequena Cornélia, adoradora incondicional do pai, não havia entendido por que Cornélio faria tal coisa.
Agora Amélia sabia a verdade: não era a mãe que Cornélia odiava.
Quando chegou em casa na colina do Aventino, Cornélio sentia-se de bem com a vida. Acabara de ganhar uma causa no tribunal e a platéia tinha aplaudido. Seu lar estava de novo em paz e Amélia era outra mulher. Desde que testemunhara a punição dos cristãos na arena, ela mais uma vez se tornara uma mulher calada e dócil. E parara de ostentar aquele maldito colar para que todos vissem.
Ao entrar no átrio imaginou onde estariam os escravos. Era hábito do mordomo recepcioná-lo, porém não havia qualquer sinal de Filo. Estava a ponto de chamar por ele quando ouviu vozes cantando em uníssono. Aproximou-se mais do jardim e ouviu as palavras em latim: "Pai-nosso que estais no céu, abençoado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossos pecados e livrai-nos do mal."
Cornélio atravessou a porta aberta e olhou para o jardim. Um grupo de pessoas — a maioria estranhos, mas seus escravos entre eles, inclusive Filo — estava de pé com os braços abertos, as cabeças jogadas para trás e olhos fechados enquanto oravam. Então viu Amélia diante do grupo, liderando-o.
Quando todos fizeram o sinal-da-cruz e disseram "amém", Amélia abriu os olhos e lançou-lhe um olhar direto.
Mas ambos sabiam ter chegado a um ponto decisivo.
Como a casa e todos os escravos e bens de Raquel haviam sido confiscados por Nero, a reunião semanal de Sabbath seria realizada na casa de Feba. Mas ela estava muito idosa e a artrite a incomodava, e, portanto necessitava de assistência. Amélia estava no mercado, comprando comida para o banquete. Apesar do que acontecera com Raquel e os outros, mais pessoas do que nunca estavam se juntando à fé cristã, especialmente quando Nero parara de persegui-los. Por isso esperava-se uma multidão. Enquanto pechinchava pelo melhor preço do vinho, os pensamentos de Amélia estavam naqueles sacrificados na arena.
Boatos haviam percorrido a cidade. Após o Grande Incêndio, todos diziam, Nero tentara aplacar os céus. Depois de consultar livros sibilinos, preces foram dirigidas a Vulcano, Ceres e Prosérpina. Juno também foi propiciada. Mas nem os recursos humanos, nem a munificência imperial, nem o apelo aos deuses puderam eliminar suspeitas sinistras de que o incêndio tinha sido perpetrado a mando do próprio imperador. Para abafar este boato, Nero precisou de bodes expiatórios. E escolheu os cristãos.
Ninguém soube por que escolheu aquele grupo em particular, embora Amélia tivesse suas próprias suspeitas sombrias. O povo dizia que provavelmente era porque os cristãos fossem na maioria ricos, e os romanos sempre invejaram e suspeitaram dos ricos, perguntando como eles podiam possuir tanta riqueza. Circularam boatos de magia negra e sacrifícios de crianças. Estranhamente, após o espetáculo na arena, a perseguição aos cristãos teve um fim. O plano de Nero voltara-se contra ele, à medida que as vítimas ganharam a simpatia do povo, que sentia que inocentes tinham sido sacrificados em lugar do interesse nacional pela brutalidade de um homem. E, de qualquer modo, ninguém se importava muito com uma seita insignificante, até o próprio Nero se esquecera dos cristãos por causa de seus próprios problemas pessoais. E assim os cristãos estavam de novo a salvo.
—- Desculpe-me, por acaso é a sra. Amélia, esposa de Cornélio Gaio Vitélio?
Amélia virou-se para deparar com um oficial da Prefeitura parando diante dela, o rosto sombreado pela viseira do capacete. Estava acompanhado por seis guardas robustos.
Sou — disse ela.
Poderia nos acompanhar, senhora?
A Prefeitura romana, que abrigava a principal prisão da cidade, situava-se junto ao Fórum como uma presença imponente. Do lado externo, uma impressionante fachada de mármore branco com lindas colunas estriadas e estatuária dava para a praça aberta, mas seu interior era um emaranhado de corredores e celas escuras e ameaçadoras.
Por que me trouxeram aqui? — indagou Amélia enquanto era levada para os porões abaixo do prédio principal. Sua escolta nada respondia, mas marchava inflexível ao seu lado, o clangor das suas couraças ecoando das paredes úmidas.
Pararam diante de uma pesada porta de madeira. O guarda a abriu e deu um passo para o lado, indicando a Amélia que entrasse.
Sou uma prisioneira?—perguntou em descrença. À luz da tocha do guarda ela pôde ver o interior sinistro da cela, pequena e cheirando mal.
Por favor, senhora — disse, gesticulando de novo.
O impulso de Amélia foi protestar, até mesmo fugir. Mas sabia que não adiantava. Qualquer que fosse o equívoco cometido, em breve seria esclarecido. De cabeça erguida, entrou na cela como se estivesse entrando num templo iluminado pelo sol.
A porta foi batida com estrondo atrás dela, que ouviu o giro das chaves na fechadura. Enquanto os guardas se afastavam, levando a tocha, a escuridão caiu sobre Amélia, que foi tomada imediatamente pelo pânico. Correu até a porta e fez pressão contra ela. Havia uma pequena abertura pouco acima de sua cabeça, coberta com barras e além do seu alcance. Mesmo na ponta dos pés não conseguia ver lá fora. Mas uma luz tênue filtrava-se de candelabros no corredor e por fim seus olhos se ajustaram à escuridão.
A cela era escura e cheirava a mofo e urina, com correntes nas paredes e palha podre amontoada nos cantos. Podia ver antigas manchas de sangue no chão, podia ouvir os gritos débeis dos outros prisioneiros. Combatendo o medo e o pânico que ameaçavam capturá-la, tentou ordenar os pensamentos. Claro que havia um equívoco! Mas... os guardas tinham sabido onde encontrá-la no mercado; haviam-na identificado à primeira vista e sabiam seu nome. Isto significava que alguém os instruíra. Mas quem? E, mais intrigante ainda, por quê?
De repente, um terrível pressentimento a invadiu: Poderiam mantê-la encarcerada ali para sempre? Desabou no chão de pedra, o ouvido pressionado contra a porta maciça e sentada com os joelhos encolhidos. A escuridão fechava-se em torno, e a miríade de odores desagradáveis enchia sua cabeça. Sentiu alguma coisa passar correndo por seu pé e gritou. Certamente a família daria por sua falta e iria investigar! Mas ela ouvira falar de gente sendo encarcerada nesta prisão para sempre, esquecida...
Juntou as mãos e começou a rezar.
Cornélio Vitélio chegou à prisão vestindo sua toga de bainha púrpura, uma vestimenta para poucos privilegiados, e a usava agora de propósito, não tanto para impressionar os guardas da Prefeitura, mas para relembrar Amélia de sua posição e poder.
Ela está aqui? — perguntou ao homem de serviço.
Esteve aqui desde o primeiro turno de guarda, excelência — disse o comandante da guarda, dando a Cornélio o tipo de saudação breve que os militares de carreira dispensavam aos civis importantes. —Já faz dez horas.
Sem comida e água?
Nem uma gota ou naco, como o senhor ordenou. Mas demos a ela um balde para suas necessidades. Por quanto tempo deveremos mantê-la aqui?
Eu lhe informarei. Por enquanto não diga nada a ela.
O comandante da guarda aprendera ao longo dos anos que era melhor manter a boca fechada. O popular advogado — ele próprio já bebera diversas cervejas pagas por Cornélio Vitélio — não era o primeiro homem a ter um parente incômodo mantido na prisão como um meio de reprimir um comportamento indesejado. Ele deu uma piscadela e voltou ao seu jogo de dados,
Cornélio seguiu o carcereiro pelo corredor malcheiroso e parou do lado de fora da porta para entrar com a mente organizada, como freqüentemente fazia diante de um tribunal. Depois fez um sinal para o carcereiro.
Pelos deuses, Amélia! — disse enquanto se apressava para dentro, a porta batendo atrás dele.
Cornélio! — Ela correu para os braços do marido.
Não pude acreditar quando me disseram que estava presa!
Por que estou aqui? Estou sob prisão? Ninguém me disse nada.
Sente-se, fique calma. Parece que alguém a denunciou como cristã.
Ela olhou para ele.
Mas Cornélio, não é segredo eu ser cristã. E não é um crime ser.
Receio que Nero ainda esteja buscando vingança contra os cristãos, mas faz isto em segredo, por causa da antipatia pública. — Quando viu que Amélia acreditava nele, pois ficara muito pálida e parecia assustada, ele acrescentou: — Nero permitiu que eu viesse falar com você antes que o interrogatório de verdade comece.
Está se referindo a... tortura? — disse ela com a boca tão seca que mal podia falar.
Renuncie a esta nova fé, Amélia. É só me dar o nome dos adeptos e estará livre.
E se eu não der?
Então está fora das minhas mãos. —Ele as espalhou para enfatizar.
Amélia pensou nas pessoas que se haviam tornado preciosas para ela
— Gaspar, Jafé, Cloé, Feba — e começou a tremer violentamente. Seria capaz de dar os nomes sob tortura?
Até quando... — começou ela. — Até quando Nero insistirá nisso?
Cornélio deu de ombros, do modo como ela o vira fazer durante um julgamento. Um gesto mais expressivo do que palavras.
Cornélio, me ajude! Quero viver! Quero ver nossos netos crescerem. Quero ver Gaio receber sua toga de adulto. — Naquele momento a vida nunca parecera tão doce. E jamais ela sentira-se tão desesperada. — Por favor, Cornélio! Peço-lhe em nome dos nossos filhos. Ajude-me!
Ele a pegou pelos ombros.
Eu quero, Amélia. Pelos deuses, por tudo que houve entre nós, jamais desejaria que passasse por isto! Mas Nero pôs isto na cabeça. Diga o que eles querem saber e sairá daqui comigo hoje mesmo.
Ela o fitou, os olhos cheios de terror.
Não... posso.
Então me diga que passarei para os guardas. Eles permitirão. Quando e onde acontece a próxima reunião dos cristãos? E quem são eles?
Amélia não tinha como saber que Cornélio não faria nada com os nomes — que ele não contaria aos guardas e os amigos dela escapariam incólumes. Ela acreditava que eles seriam prejudicados e permaneceu em silêncio. Cornélio tentou outra tática.
Desista desta nova fé, Amélia, e podemos voltar a ser como antes, anos atrás, quando éramos felizes. Levarei você para o Egito. Gostaria disso?
Ela procurou o rosto do marido à luz da tocha que bruxuleava através da pequena grade na porta. Cornélio pareceu genuinamente incomodado.
Nero pode matar o meu corpo, Cornélio — disse, por fim —, como fez com meus amigos. Mas eles não estão mortos. Portanto, ele não tem poder sobre a morte. No fim, o que ele realmente ganha?
Cornélio lançou-lhe um olhar perscrutador. Estaria Amélia se referindo a Nero, ou havia uma referência velada a ele próprio? Não, não percebia nenhuma malícia nos olhos dela.
Se permitir que isto aconteça, você não pode me amar nem à sua família. Você não está pensando em nossos filhos!
Mas eu estou! — gritou ela. — Oh, Cornélio, é por meus filhos que faço isto!
Se não quiser me dar ouvidos, Amélia, então não há nada que eu possa fazer. — Ele virou-se para sair.
Não! — gritou Amélia. — Não me abandone aqui!
Basta uma coisa bem simples para obter sua liberdade, Amélia. Qualquer criança pode ver isto.
Ela o fitou horrorizada.
Vai mesmo deixar-me aqui neste lugar horrendo?
Como eu disse, está fora das minhas mãos.
Cornélio certificou-se de parecer tão impotente e abjeto quanto possível quando a porta da cela foi fechada e aferrolhada, mas enquanto seguia o carcereiro pelo corredor sentiu-se levemente aborrecido com a recusa de Amélia em cooperar. Havia esperado pelo último minuto de súplica e choro e depois pela sua vitória. Portanto disse ao comandante da guarda para manter Amélia sem comida e água durante a noite. Ele pensou por um momento.
—- Pode providenciar para que ouça sons de tortura? — perguntou.
Posso fazer melhor que isso, excelência — disse o soldado, que freqüentemente aliviava o tédio do seu serviço com diversões sádicas. — Posso entrar na cela da senhora com as mãos cheias de sangue. Sempre funciona.
Amélia acordou com o som da chave na fechadura de ferro. Sentou-se devagar, sentindo dores em todas as juntas por ter dormido num chão de pedra. Havia mordidas em sua pele; algumas coçavam, outras doíam. Jamais experimentara tanta sede.
Cornélio? — sussurrou.
Mas era sua filha. Amélia ficou surpresa com a aparência terrível de Cornélia.
Mãe — disse a jovem de 19 anos enquanto se reunia a Amélia num abraço cheio de lágrimas. — Que coisa terrível!
Você trouxe... — começou Amélia. Estava chocada com sua própria fraqueza física. — Posso beber um pouco de água?
Cornélia bateu na porta e gritou o pedido da mãe. Um minuto depois o carcereiro — não era o mesmo da noite anterior — voltava com uma moringa de água, uma tocha acesa e dois banquinhos para sentar. Tinha o ar de um homem não muito satisfeito com seu serviço.
Eu soube por Cornélio — disse Cornélia, referindo-se ao irmão, não ao pai. — Ele esteve visitando um cliente aqui na prisão e ouviu falar que você tinha sido detida. Oh, mãe, não pude acreditar! Por que está aqui?
Amélia teve primeiro que aplacar a sede, bebendo direto do gargalo e apreciando a sensação da água escorrendo por suas mãos, braços e pescoço. Imaginou que nem cem banhos a tornariam limpa. Por fim relatou a conversa que tivera com Cornélio, especulando por que ele não estava lá.
Mas — disse Cornélia, com uma carranca — não ouvi falar de nenhuma nova perseguição. Nero está preocupado demais com o próprio pescoço ultimamente para dar atenção aos outros.
E então Amélia soube. O que ela realmente sabia, no fundo coração - o que a havia visitado em sonhos e sussurrado a ela em cadência com o rumor dos ratos e os gritos intermináveis dos outros prisioneiros: que tudo aquilo era obra de Cornélio. Ao forçá-la a renunciar a sua nova fé, ele triunfaria sobre ela novamente.
E, no instante seguinte, Cornélia também soube.
É papai, não é? — sussurrou. — Por quê? Por que ele odeia você?
É tudo por causa de vaidade ferida. Fui a causa de um grande golpe no orgulho de seu pai. Não o fiz de propósito. A multidão na arena...
Eu me lembro! Todo mundo falou disso por semanas, Papai achou que a turba o estava saudando, quando era a você. É por isso...
Por isso o que, Cornélia?
A jovem baixou a cabeça.
Vi o bebê. Era perfeito. Não havia nenhum pé deformado. Mas papai ordenou que o levassem. Foi horrível. Não soube o que pensar dele.
Seu pai era o seu herói e se transformou apenas num homem.
E ele continua a punir você. Não permita, mãe. Dê o que ele quer e ficará livre.
Amélia sacudiu a cabeça.
Se der o que Cornélio quer, nunca mais serei livre.
Será, sim. Eu a ajudarei! Ele não poderá perseguir nós duas, mãe - o tom de Cornélia ficou frenético —, ele não é Nero! E somente papai que a está fazendo passar por isto.
Filha, ouça-me. Não importa que seja Nero, ou um estádio cheio de gente, ou apenas um homem. Não posso renunciar à minha fé.
Cornélia caiu de joelhos e, pousando a cabeça no colo da mãe, soluçou, Enquanto acariciava o cabelo da filha, Amélia admirou-se de que dois anos antes, no dia em que Cornélia deu à luz seu primeiro filho, ela, Amélia, era uma mulher sem fé. Mas agora tinha uma fartura de fé e gostaria de poder partilhá-la com a filha, passando-a para ela como uma taça de esperança efervescente.
Vá agora, filha — murmurou ela. — Tome conta da família por mim. Cuide para que todos fiquem bem. E quanto ao pequeno Lúcio, trate-o como seu irmão, Cornélia, pois ele de fato é.
Abraçaram-se, beijaram-se e disseram adeus, com Cornélia protestando que devia cuidar era da libertação da mãe. Mas Amélia sabia que não seria fácil, pois Cornélio detinha todo o poder ali.
Sua filha tinha ido embora fazia poucos minutos quando Cornélio chegou. Amélia suspeitou que ele já estivesse lá fora, à espera.
De uma vez por todas, mulher, vai renunciar a esta loucura? — perguntou. E quando sacudiu a cabeça, Amélia viu a autêntica frustração no rosto dele.
Cornélio, acho que quando você me levou ao circo, foi para me assustar — acusou ela. — Creio que esperava que testemunhar a morte de Raquel me faria desistir da nova fé. Mas teve o efeito contrário. Por causa daquilo que vi, por causa do que você me forçou a testemunhar — sua voz ficou mais forte —, por ter assassinado meus amigos, estou mais firme do que nunca em minha resolução. Jamais darei os nomes dos meus companheiros cristãos, e nunca renunciarei à minha fé.
Ele se avultou sobre ela em sua impressiva toga profissional — um traje que fazia as multidões lhe abrirem caminho — e ela viu a raiva fervilhar em seus olhos. Mas Cornélio não disse mais nenhuma palavra, e quando girou nos calcanhares e saiu, a porta fechando-se atrás dele, Amélia soube que sua causa estava perdida. Quer Nero estivesse envolvido quer não; quer as acusações contra ela fossem verdadeiras quer não, ela sabia que de alguma forma Cornélio ia arquitetar sua desforra final sobre ela. Iria vê-la punida na arena. E Amélia não estaria só: ele crucificaria Jafé, Cloé e todos os outros, deixando-a por último.
Descendo o corredor úmido e subindo as escadas escorregadias que deveriam ter provocado tamanho pavor na sua esposa a ponto de torná-la obediente a ele de novo, Cornélio galgava furioso cada degrau. Mas uma nova idéia já se formava em sua mente, um meio de transformar em vantagem esta situação posta a perder. Diria a Amélia que conseguira obter sua libertação ao usar seu peso político e o prestígio de seu nome e reputação. Ela então comentaria isto com os seus amigos até que, em brevíssimo tempo, ele, Cornélio, despontasse como herói.
Assim, foi com alguma impaciência que ele quis dar a ordem para o comandante da guarda libertá-la, como os dois tinham previamente combinado. Porém o comandante não estava. Um subalterno explicou que seu superior se ausentara momentaneamente e levara consigo o molho de chaves.
— Vá procurá-lo! — berrou Cornélio, ansioso agora para obter a libertação de Amélia e o realce de sua reputação.
Na cela escura, Amélia sentia-se mal e aterrorizada. Suava em bicas e tremia da cabeça aos pés. Pensava nos anos que ainda lhe restariam. Sua família, os bebês que ainda iam crescer, sua casa na cidade, e até mesmo a vila no campo, tudo se tornou de repente precioso para ela. Queria assistir às cerimônias da toga de Gaio e Lúcio, ver o filho mais velho ganhar sua primeira causa nos tribunais, embalar os novos bebês de suas filhas, ficar velha e sábia e aproveitar cada crepúsculo flamejante. Como havia prezado tudo isto, sua vida, sua família, em que teria louvado cada alvorecer, abraçado cada dia!
Ela orou como nunca havia orado antes, esta mulher que em certa época não tivera fé, mas que estava agora tão repleta de fé que orava não só ao seu novo redentor, mas também à Mãe Abençoada Juno. Orou por um sinal. O que devo fazer?
Esperou pela resposta, mas tudo que ouvia era o silêncio opressivo das paredes maciças que a aprisionavam e os gritos débeis de prisioneiros suplicando por liberdade, comida e água. Ouvia os batimentos do seu próprio coração, os temores sussurrados da própria consciência. Ela orava e prestava atenção. E finalmente, exausta de medo, fome e sede, Amélia tirou o colar de debaixo do vestido e olhou fixamente para o coração do cristal azul, o amontoado de poeira cósmica que tomara a forma de um salvador crucificado. E foi assim que a resposta lhe veio.
Foi esta pedra que lhe devolvera a fé nos deuses e fortalecia sua fé agora. E soube o que devia fazer.
Com mãos trêmulas, esforçou-se para soltar o cristal do seu engaste de ouro. Quando o conseguiu, segurou-o contra a débil luz e quase gritou ante tamanha beleza. Devido ao engaste de ouro, não tinha visto sua linda transparência, a nitidez e a claridade totais da imagem de Jesus no seu interior. Como era estranho agora pensar que havia considerado esta pedra amaldiçoada, que a imagem era a de um fantasma. Mas, claro, era exatamente assim que Cornélio queria que ela pensasse.
E então pensou na dor que estava por vir, na tortura e agonia, e por fim na morte ignominiosa na arena. Sabia que sob tortura não teria força para não revelar os nomes e paradeiro de seus amigos. Seu coração martelou. Em espírito queria ser forte, mas sabia que a carne poderia fraquejar. Porém talvez adquirisse a força antes de a tortura começar.
De repente viu-se pensando de novo naquele dia, oito anos antes, em que Cornélio, decidindo sobre a vida e a morte, optara pela morte. Agora Amélia enfrentava a mesma escolha. Pensando no bebê inocente exposto ao relento para morrer, ela escolheu a vida: a vida eterna.
Tendo tomado a decisão, Amélia sentiu uma estranha calma pairar sobre si e, de repente, todos os mistérios ficaram claros. Talvez, pensou, quando falou sobre o fim do mundo, Jesus não quisesse dizer que o fim chegaria para todas as pessoas de uma vez, mas sim para cada qual em seu tempo, à medida que alguém morresse e uma nova vida começasse. Para mim, esta noite, o mundo chega a um fim.
Ela susteve a respiração e ficou atenta. Ouviu vozes murmuradas no fim do corredor. Tinha de agir rapidamente, antes que viessem buscá-la.
Engolir a pedra não foi fácil. Tão logo a pôs na boca, começou a suar e sentiu o estômago embrulhar. E pensou em toda a vida que ainda teria pela frente, a bela casa e o marido querendo agora ser amoroso com ela, querendo começar de novo, cumulá-la de presentes. Mas tudo em que podia pensar era no homem na cruz que perdoara seus crucificadores e que a tinha purificado pelo batismo.
Pôs a pedra mais fundo na boca e ainda assim não conseguiu engolir. Portanto impeliu-a com o dedo e quando começou a ter náuseas, receou vomitá-la de volta ou que perdesse os sentidos e os guardas extraíssem a pedra antes que completasse o seu trabalho.
Nauseada e sentindo uma dor cruciante, forçou o cristal mais fundo na garganta, rezando mentalmente: "Deus, perdoai-me por tirar minha própria vida, mas sou feita de carne fraca. Não posso suportar o fato de levar meus amados amigos para a arena comigo, embora nossas mortes sejam aquelas dos mártires."
E então entrou em ação o selvagem instinto de sobrevivência, e ela entrou em pânico. O coração disparou e as mãos aferraram a garganta. Embora quisesse morrer, o corpo resistia. Os pulmões lutavam para respirar. A boca se arreganhava buscando ar. Estocadas de dor disparavam pelo peito, e a cabeça parecia a ponto de explodir. Ela caiu ao chão e se contorceu como um peixe fora da água. Sentia os pulmões em fogo e sinos repicando em seus ouvidos. Querido Deus, terminai com meu sofrimento!
E então veio de repente uma estranha paz e a vida refluiu do seu corpo como as pétalas de uma rosa de verão, caindo uma a uma. E assim fez o cristal azul, este fragmento do cosmo — maravilhoso no seu mistério e perfeição, tendo muito tempo antes orientado uma garota da África chamada Mulher Alta, tendo levado uma outra chamada Laliari a perder o medo dos mortos e tendo mostrado a um homem chamado Avram o seu lugar no mundo —, alojado firmemente na garganta de uma mulher de tremenda fé. À medida que a escuridão começou a engolfá-la, enquanto se preparava para a morte e para reunir-se a Raquel e seus queridos amigos, e talvez à criança abandonada que nascera perfeita, Amélia não deixou de notar a ironia: o objeto com o qual seu marido pretendera puni-la veio a ser o instrumento da sua redenção.
Ínterim
Os guardas não sabiam como ela havia morrido, mas seu rosto estava congestionado de sangue, a língua púrpura e projetada. O médico da prisão disse que a sra. Amélia tinha o aspecto de alguém que sofrera um ataque cardíaco. O medo da tortura na arena deve ter sido grande para ela, disse. Cornélio se recordava de que Amélia tinha dito que sua idéia de levá-la ao circo fracassara. Era verdade. Ele desejara causar medo nela, mas não a ponto de matá-la.
Então Cornélio viu uma coisa que os outros não perceberam — estava faltando a pedra do colar — e nesse momento soube o que Amélia tinha feito.
Mas não desejando que sua esposa adquirisse o prestígio de mártir, preferindo em vez disso que o povo acreditasse que havia morrido por covardia, ele nada revelou sobre a falta da pedra azul e o heróico método de morte que ela empregara. Manteve-se em silêncio e tornou-se o modelo de marido pesaroso.
Sua filha Cornélia, por sua vez, ficou furiosa de pesar, culpando o pai pela tragédia. Proibiu-o de cremar a mãe e, em vez disso, Amélia teve seu repouso final num belo mausoléu que parecia uma casa, com falsas janelas, portas e um jardim. E toda semana Cornélia ia visitar o túmulo, fazendo uma grande demonstração do seu pesar. Como uma desforra particular contra o pai, Cornélia abraçou a religião de sua mãe — embora não acreditasse nela — e praticou o cristianismo abertamente, transformando seu lar numa casa-igreja, ostentando isto sempre que podia, até chegar o dia em que percebeu ser realmente uma cristã. No seu novo zelo ela fez campanha para manter viva a memória da mãe e assim insistiu para que os cristãos comemorassem o martírio de Amélia todo ano na data de sua morte. Cornélia fazia um panegírico anual sobre como Amélia desafiara as autoridades e morrera por sua fé.
Quando o primeiro filho de Cornélia — o menino nascido no dia do retorno de Cornélio do Egito, trazendo consigo o colar com o cristal azul roubado da tumba de uma rainha — chegou à idade adulta e tornou-se um cristão apaixonado e destacado diácono da igreja, ele ordenou que fosse feito um relicário de prata para abrigar os restos de sua avó. Num dia de grande veneração, perante uma assembléia de centenas de devotos, os ossos envoltos num sudário foram reverentemente mudados do caixão para o relicário e colocados num santuário onde todos podiam vir a venerá-los.
Nos seus dias finais, Cornélia seguiu os passos da mãe e tornou-se mártir à época do Imperador Domiciano, que mandou cortar sua língua durante um espetáculo no circo.
Cornélio, não tendo sofrido grande perda com a morte da esposa, finalmente foi indicado para cônsul, obtendo assim um ano batizado em sua homenagem e garantindo, ele presunçosamente acreditava, sua lembrança na história. Infelizmente, o império passou para um novo governo e a lista dos cônsules caiu no esquecimento. Ao mesmo tempo, Amélia veio a tornar-se conhecida pelo martírio que sofreu e até mesmo ganhou uma igreja em sua homenagem. E Cornélio Gaio Vitélio desapareceu da história.
Os ossos de Santa Amélia foram removidos da cripta familiar durante a era de ouro do Imperador Marco Aurélio e colocados numa igreja recém-construída onde milhares iam venerá-la. Lá ela dormiu pacificamente, os descendentes louvaram anualmente sua memória na data do martírio, até que, no ano de 303 d.C., irrompeu a última e mais brutal das perseguições aos cristãos sob a gestão do Imperador Diocleciano.
O primeiro edito de Diocleciano foi proibir as assembléias cristãs. E as igrejas e livros sacros deviam ser destruídos, e todos os cristãos obrigados a renegar sua religião e sacrificar-se somente aos deuses do Estado. A penalidade para os recalcitrantes era a morte. Durante uma reunião secreta de bispos e diáconos, ficou combinado que, embora a morte significasse martírio instantâneo e, portanto união com Jesus no céu, era também necessário para a fé que alguns de seus integrantes sobrevivessem para levar a palavra além do império. Muitos foram atraídos para selecionar estes missionários. Relíquias, livros e objetos sacros, entre os quais o relicário contendo os restos de Santa Amélia foram reunidos e escamoteados de Roma no meio de uma noite tempestuosa, e embarcados num navio sobre um mar encapelado.
Rompendo ondas tão altas quanto prédios numa noite negra como breu, a Sra. Amélia, ex-mulher de Cornélio Gaio Vitélio, foi trasladada para a província da Britânia, onde simpatizantes cristãos viviam num assentamento chamado Portus, certa vez uma guarnição romana, mas agora uma florescente cidade conhecida por suas enguias.
Livro Cinco, Inglaterra, 1022 d.C.
Madre Winifred, prioresa do convento Santa Amélia, olhou pela janela do scriptorium e pensou: primavera!
Oh, abençoadas cores da natureza, pincel de Deus em ação: botões de cereja rosa pálido, amoras vermelhas e pretas, bagas escarlates de pilriteiro e junquilhos amarelo-sol. Oxalá sua própria paleta de pintura fosse tão rica e variada! As iluminuras que poderia criar!
As cores davam esperanças. Talvez este ano o abade lhe permitisse pintar o retábulo do altar.
Seu entusiasmo murchou. Ela tivera o sonho de novo, embora não pudesse realmente chamá-lo de um sonho, pois lhe viera enquanto estava acordada. Uma visão, então, enquanto orava para Santa Amélia. E na visão contemplou o que já tinha visto inúmeras vezes: a vida da santa abençoada, desde a adolescência à conversão ao cristianismo, desde sua prisão por soldados romanos a uma morte de mártir nas mãos do Imperador Nero. Embora Winifired não fizesse idéia de como eram os soldados romanos, ou até mesmo um imperador romano, nem como as pessoas se vestiam e viviam mil anos atrás — e claro que ninguém sabia como Amélia tinha sido, por certo seus ossos não eram examinados havia séculos —, tinha certeza de que a visão era acurada, pois procedia de Deus.
O problema agora era como convencer o abade. Tal qual um osso entre dois cachorros, o retábulo era uma questão que havia preocupado os dois por mais tempo do que Winifred podia lembrar. Ela pedia para trabalhar em algo mais desafiador do que um manuscrito, e o abade (tanto o atual quanto seus antecessores) se opunha, alegando que sua vontade era inconveniente e de fato beirava os pecados do orgulho e da ambição. Embora Winifred aquiescesse a cada vez, pois assumira votos de obediência, sua mente rebelde pensava secretamente: os homens pintam quadros, as mulheres só são boas para letras maiúsculas.
Porque era exatamente isto que Madre Winifred e as irmãs do convento faziam...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades