



Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




A Sonda do Tempo
AS CIÊNCIAS NA FICÇÃO CIENTÍFICA
Arthur Clarke deu a este volume o subtítulo de "As Ciências na Ficção Científica". Isso porque, explica ele em sua introdução, "essas histórias foram selecionadas por ilustrarem, cada uma, um aspecto particular da ciência ou da tecnologia modernas — de preferência os aspectos menos familiares, os mais surpreendentes".
Ressalva, porém, que o objetivo de cada história é, antes de tudo, não "chatear", mas entreter e deliciar o leitor.
Além dessa introdução, Arthur Clarke escreveu uma saborosa apresentação de cada autor, situando-os no mundo da ficção científica, revelando também quais suas impressões pessoais sobre eles.
Essas histórias, anteriormente inéditas em antologia, e agora resgatadas de seu esquecimento pelo maior dos escritores do gênero, foram escolhidas para atingir com a mesma força tanto os seus aficcionados quanto aqueles que ainda não despertaram para o fascínio da ficção científica.
Estão presentes, além do próprio Arthur Clarke, nomes do porte de Julian Huxley, Isaac Asimov, Robert Heinlein, e outros.
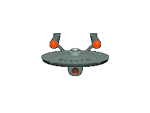
INTRODUÇÃO
Ciência e Ficção Científica
MATEMÁTICA
Robert A. Heinlein / E Ele Construiu Uma Casa Torta
CIBERNÉTICA
Murray Leinster / O Wabbler
METEOROLOGIA
Theodore L. Thomas / O Meteorologista
ARQUEOLOGIA
Robert Silverberg / O Negócio de Antigüidades
EXOBIOLOGIA
James H. Schmitz / Vovô
FÍSICA
Isaac Asimov / Não é a Ultima Palavra!
MEDICINA
Cyril Kornbluth / A Maleta Preta
ASTRONOMIA
Philip Latham / A Cegueira
FISIOLOGIA
Arthur C. Clarke / Respire Fundo
QUÍMICA
Jack Vance / Os Oleiros de Firsk
BIOLOGIA
Julian Huxley / As Experiências do Dr. Hascombe
A ficção científica deve ser um dos campos da literatura que mais antologias mereceu — o que é, naturalmente, um tributo à sua vitalidade e à sua popularidade. Mas esta mesma popularidade é embaraçosa para o suposto antologista — a maioria dos melhores contos já foi usada vezes sem conta e é difícil pensar em uma nova forma de abordar o assunto. Robôs, Invasores do Espaço, Viagens no Tempo, Mutantes — todos os temas clássicos — já foram empregados para dar coerência às coletâneas de contos (a maioria editada por Groff Conklin).
Entretanto, qualquer antologia, salvo se compilada, marcando fichários ao acaso, deve ter um padrão ou esboço global. Neste volume o esquema é muito simples, embora, pelo que me conste, nunca tenha sido usado antes. Estes contos foram todos selecionados porque ilustram um aspecto particular da ciência ou da tecnologia — de preferência um aspecto surpreendente ou estranho.
Dito isto, quero acrescentar, rapidamente, algo para tranqüilizar o leitor. A primeira função de um conto é o de entreter — não instruir ou pregar. Nenhum escritor deve jamais esquecer as palavras imortais de Sam Goldwyn: "Se você tiver uma mensagem use o Cabo Submarino." Embora estes contos tenham sido escolhidos, principalmente, devido ao seu conteúdo científico, a seleção final teve por base o entretenimento. Portanto, numerosos contos, cheios de inventividade, foram rejeitados, simplesmente, porque não se enquadravam nesta categoria.
O teste definitivo de qualquer história se faz quando é relida, de preferência após o lapso de alguns anos. Se for boa, a segunda leitura dará tanto prazer quanto a primeira. Se for excelente, a segunda leitura será mais saborosa. Se for uma obra-prima, melhorará a cada leitura. E inútil dizer que existem muito poucas obras-primas, tanto dentro como fora da ficção científica, e não garanto que se encontre alguma neste volume. Entretanto, estou razoavelmente certo de que todos estes contos valem a pena ser lidos ao menos duas vezes e que a maioria deixará uma lembrança duradoura na memória do leitor. A prova de que uma história é realmente medíocre é que a pessoa não poderá lembrar-se de que já a leu alguma vez.
Felizmente, hoje em dia, não há mais necessidade de defender a ficção científica contra os analfabetos que, até bem pouco, estavam inclinados a atacá-la. Entretanto, velhos aficionados como eu, conservam ainda mecanismos automáticos de defesa; é difícil abandonar os instintos de uma vida inteira, e posso ainda recordar os dias em que costumava esconder as capas das minhas Histórias Fantásticas e Espantosas de 1930. (Isso é que era Arte Pop.) Estes instintos fazem-nos cair às vezes no extremo oposto, como aconteceu comigo, recentemente, numa reunião do PEN Clube de Nova York, quando declarei que a ficção científica era uma ponte entre as famosas "Duas Culturas".
Hoje repudio, ou pelo menos modifico esta afirmação pois, pensando bem, não acredito que haja duas culturas; o que existe é a cultura e a não-cultura. Uma pessoa que conheça tudo sobre as comédias de Aristófanes e nada sobre a Segunda Lei de Termodinâmica é tão inculta como aquela que dominou a teoria quântica, mas pensa que Van Gogh pintou a Capela Sistina. (É ocioso dizer que estes tipos extremos não existem; mas há alguns bem parecidos.) Por conseguinte, agora afirmaria, não que a ficção científica é uma ponte entre duas culturas, mas que é uma das muitas pontes à cultura, e só isso. No momento, essa ponte tem muito pouco trânsito; mas terá mais.
É minha esperança que estes contos — alguns dos quais nunca figuraram em uma antologia e outros, tenho a satisfação de dizer, foram salvos do esquecimento — agradarão enormemente aos fãs da ficção científica e àqueles que pouco ou nada se interessam pela ciência. Mas, acima de tudo, espero que eles acendam nos jovens leitores um sentimento de espanto e admiração que, para a mente imaginativa e inquisidora, torna este tipo de literatura mais gratificante do que qualquer outro.
Desejaria agradecer ao meu infatigável agente, Scott Meredith, pela sugestão do plano desta antologia; a Bob Silverberg, pela sua pesquisa e por ter posto à minha disposição seus arquivos, que tanta nostalgia provocam, de Fantásticos, Assombrosos, Maravilhosos, etc.; a Bárbara Silverberg, pelas longas horas gastas com o aparelho de fotocópia; e a Don Fine por protelar tantas vezes o prazo para a entrega deste trabalho.
ARTHUR C. CLARKE
E ELE CONSTRUIU UMA CASA TORTA
Bob Heinlein é um dos fundadores da ficção científica moderna e o primeiro a utilizar muitos dos temas tornados lugares-comuns nos últimos trinta anos. É um pouco exagerado dizer que sua influência é comparável à de H.G. Wells, que também plantou as sementes que autores posteriores tiveram a felicidade de colher.
E, como Wells, o interesse principal de Heinlein tem sido a interação da ciência sobre a sociedade — cada aspecto da sociedade, desde a política até a guerra, desde a religião até o esporte. Formado em Annapolis, com um profundo conhecimento de engenharia e tecnologia, fez um notável esforço para alertar o público americano indiferente sobre a importância das viagens espaciais, escrevendo um excelente filme — Destino: Lua (1950). Milhões de pessoas, então descrentes, viram um astronauta americano impelindo-se através do vácuo por meio de jatos de um cilindro de oxigênio. (Onde será que os escritores de ficção científica arranjam essas idéias?)
A engraçada história que se segue, embora tenha um quarto de século, ainda é uma das minhas preferidas, possivelmente por duas razões: é sobre a quarta dimensão e eu sempre tive um fraco por esse lugar interessante. Minha primeira palestra na TV foi uma conferência sobre a quarta dimensão, dada sem interrupção, diretamente para uma câmara; desde então, todas as outras palestras que fiz pela TV têm sido brincadeira de crianças.
A segunda razão refere-se a chez Heinlein. Dez anos depois de ter escrito este conto, Bob e sua encantadora Ginny construíram uma casa extraordinária — longe de ser torta — no estimulante clima de Colorado Springs.
Era cheia de detalhes funcionais que, como outras idéias de Heinlein, hoje são do domínio público, e eu tive o privilégio de habitá-la durante uma semana em 1952. Espero que um dia tenha a oportunidade de pagar a hospitalidade de Bob e Ginny no clima reconhecidamente mais úmido e pegajoso de Colombo.
E ELE CONSTRUIU UMA CASA TORTA¹
1. O título vem de uma rima infantil, muito conhecida: "There was a crooked man... And he built a crooked house..." N. do T.
Os americanos são considerados loucos em qualquer parte do mundo.
Em geral, admitem que há uma boa base para essa acusação, mas apontam a Califórnia como o foco da infecção. Os californianos afirmam com seriedade que essa reputação vem, unicamente, dos atos praticados pelos habitantes do condado de Los Angeles. Os habitantes de Los Angeles, se pressionados, admitirão a acusação, mas explicarão imediatamente: "É Hollywood. Não é nossa culpa — não procuramos isso; Hollywood simplesmente aconteceu."
Os habitantes de Hollywood não se importam; vangloriam-se disso. Se o leitor estiver interessado, eles o levarão de carro até Laurel Canyon, "... onde mantemos os casos violentos". Os habitantes do Canyon — as mulheres de pernas bronzeadas, os homens de calção, constantemente ocupados em construir e reconstruir suas alegres casas, nunca terminadas — olham com leve desprezo para as criaturas insípidas que moram em apartamentos, guardando zelosamente no coração o conhecimento secreto de que eles, e somente eles, sabem como viver.
Avenida Lookout Mountain é o nome de uma garganta secundária que se eleva de Laurel Canyon. Os outros habitantes não gostam que isto seja mencionado — afinal, tudo tem um limite.
Lá no alto de Lookout Mountain, no número 8775, do lado oposto do Hermit — o Hermit original de Hollywood — morava Quintus Teal, arquiteto graduado.
Até a arquitetura do sul da Califórnia e diferente. Os cachorros-quentes são vendidos numa estrutura construída como um cãozinho, chamado "The Pup".² As casquinhas de sorvete são vendidas em uma casquinha gigante feita de estuque, c anúncios luminosos proclamam "Adquira o Hábito da Tigela de Chili", colocados nos telhados de prédios que, evidentemente, são tigelas de chili. A gasolina, o óleo e os mapas rodoviários grátis são distribuídos embaixo das asas de aviões de carga trimotores, enquanto que toaletes, rigorosamente fiscalizados e inspecionados de hora em hora para o seu conforto, estão localizados na cabina do avião. Estas coisas poderão surpreender ou divertir o turista, mas os habitantes do lugar, que caminham de cabeça descoberta sob o famoso sol californiano, ao meio-dia, acham isso a coisa mais natural do mundo.
2. "The Pup", em inglês, quer dizer filhote de cachorro. N. do T.
Quintus Teal considerava tímidos, desajeitados e fracos os esforços dos seus colegas na arquitetura.
— O que é uma casa? — perguntou ao seu amigo Homer Bailey.
— Bem... — Bailey respondeu cautelosamente —, falando em termos gerais, sempre considerei uma casa como uma invenção para a gente se abrigar da chuva.
— Nada disso! Você é tão ruim como os outros.
— Eu não disse que a definição era completa...
— Completa! Não chega nem perto. Desse ponto de vista seria a mesma coisa estar de cócoras nas cavernas. Mas não culpo você — continuou Teal com magnanimidade. — Você não é pior do que esses caras que a gente vê por aí, fazendo arquitetura. Mesmo os Modernos — tudo o que eles fizeram foi abandonar a Escola Bolo-de-Noiva em favor da Escola Posto-de-Serviço; descartaram-se dos pericotes e jogaram um pouco de cromado, mas no fundo são tão conservadores e tradicionais como uma prefeitura do interior. Neutra! Schindler! O que é que esses caras têm? O que é que Frank Lloyd Wright tem que eu não tenho?
— Contratos — respondeu seu amigo, laconicamente.
— Hem? O que você disse? — Teal tropeçou nas palavras, hesitou, mas recuperou-se. — Contratos. Correto. E por quê? Porque eu não penso numa casa como uma caverna atapetada; penso nela como uma máquina para se viver, um processo vital, uma coisa viva e dinâmica, que muda com o humor do seu ocupante — não é um enorme esquife, morto, estático. Por que devemos nos sujeitar aos conceitos petrificados dos nossos antepassados? Qualquer tolo com os mais parcos conhecimentos de geometria descritiva pode desenhar uma casa com a maior facilidade. A geometria estática de Euclides é a única matemática? Devemos nós ignorar completamente a teoria Picard-Vessiot? E que me diz dos sistemas modulares? Isto sem falar nas ricas sugestões da estereoquímica. Não haverá lugar na arquitetura para a transformação, a homomorfologia, as estruturas acionais?
— Macacos me mordam se eu sei — respondeu Bailey. — Por mim pode até estar falando sobre a quarta dimensão que não me diz nada.
— E por que não? Por que deveríamos limitar-nos ao... Espere! — Interrompeu-se e ficou olhando para longe. — Homer, acho que você disse uma coisa certa aí. E por que não? Pense na infinita riqueza de relacionamento e articulação nas quartas dimensões. Que casa, que casa... — Ficou imóvel, seus pálidos olhos saltados piscavam pensativamente.
Bailey estendeu a mão e sacudiu-lhe o braço. — Acorde. De que diabo você está falando, quartas dimensões? O tempo é a quarta dimensão; você não pode meter pregos nisso.
Teal sacudiu o braço, libertando-o. — Certo. Certo. O tempo é a quarta dimensão, mas estou pensando na quarta dimensão espacial, como comprimento, altura e largura. Em economia de materiais e conveniência de disposições não há nada que se lhe compare. Isso sem falar da economia de terreno — poderia colocar uma casa de oito cômodos no terreno agora ocupado por uma casa de um só. Como um tesseract...
— O que é um tesseract?
— Você não foi à escola? O tesseract é um hipercubo, uma figura quadrada, com uma quarta dimensão, assim como um cubo tem três e um quadrado duas. — Teal correu até a cozinha do seu apartamento e voltou com uma caixa de palitos que esvaziou sobre a mesa, entre os dois, varrendo com a mão, displicentemente, copos e uma garrafa de gin Holland, quase vazia. — Vou precisar de um pouco de plasticina. Tinha um pouco aqui na semana passada. — Remexeu numa das gavetas da mesa de trabalho, atopetada de coisas, que obstruía um canto da sala de jantar e voltou com um pouco de argila oleosa. — Aqui está.
— O que é que vai fazer?
— Vou lhe mostrar. — Teal, imediatamente, tirou pedacinhos de argila e fez bolinhas do tamanho de ervilhas. Espetou palitos em quatro delas e uniu-as, formando um quadrado. — Olhe! Isto é um quadrado.
— Isso é óbvio.
— Outro igual a esse, mais quatro palitos, e temos um cubo. — Os palitos estavam agora arrumados como a armação de uma caixa quadrada, um cubo, com as bolinhas de argila segurando os cantos. — Agora fazemos outro cubo igual ao primeiro e ambos serão dois lados do tesseract.
Bailey começou a ajudar a fazer as bolinhas de massa para o segundo cubo, mas ficou fascinado pela textura sensual da argila dócil e começou a trabalhá-la, dando-lhe forma com os dedos.
— Olhe — disse, mostrando o seu trabalho, uma pequena figura —, Gypsy Rose Lee!
— Parece mais com Gargântua; ela devia processá-lo. Agora preste atenção. Você abre um canto do primeiro cubo, prende o segundo cubo a um canto e depois fecha esse canto. Então, tome mais oito palitos e ligue o fundo do primeiro cubo ao fundo do segundo, inclinado, e a parte superior do primeiro à parte superior do segundo, da mesma maneira. — Teal fez isto rapidamente, enquanto falava.
— E o que é que isso deve ser? — perguntou Bailey, desconfiado.
— Isso é um tesseract, oito cubos formando os lados de um hipercubo em quatro dimensões.
— Para mim, isso parece mais uma cama-de-gato. De qualquer forma, você tem aí somente dois cubos. Onde estão os outros seis?
— Use sua imaginação, homem. Considere a parte de cima do primeiro cubo em relação à parte superior do segundo cubo; esse é o cubo número três. Então os dois cubos de baixo, depois a parte da frente de cada cubo, as partes de trás, o lado direito, o lado esquerdo — oito cubos — disse, apontando para eles.
— Êee, eu os vejo. Mas, ainda assim, não são cubos, são — como se diz — prismas. Não são quadrados, eles se inclinam.
— Isso é o modo como você olha para eles, em perspectiva. Se você desenhasse um cubo num pedaço de papel, os lados dos quadrados seriam inclinados, não seriam? Isso é perspectiva. Quando você olha para uma figura quadridimensional em três dimensões, naturalmente que parece torta. Mas são cubos assim mesmo.
— Talvez sejam para você, irmão, mas, para mim, eles ainda parecem tortos.
Teal não fez caso das objeções e continuou: — Agora considere isto como sendo a estrutura de uma casa de oito cômodos; há uma peça no andar térreo — isso são as áreas de serviço e a garagem. Há seis peças saindo dela no andar seguinte: living, sala de jantar, banheiro, quartos de dormir, etc. E lá no topo, completamente integrado, com janelas em todos os quatro lados, estará seu gabinete de trabalho. Olhe aí! Que tal, gosta?
— Parece-me que você tem a banheira pendurada do forro do living. Essas salas estão entrelaçadas como se fossem um polvo.
— Só em perspectiva, só em perspectiva. Olhe, vou fazer de outro modo, para que você possa vê-la. — Desta vez Teal fez um cubo de palitos, depois fez um segundo cubo com metades de palitos e colocou-o bem no centro do primeiro, prendendo os cantos do cubo pequeno aos canos do cubo grande com pedaços pequenos de palitos. — Agora — o cubo grande é o seu andar térreo, o cubo pequeno aí dentro é o gabinete de trabalho no andar superior. Os seis cubos que os ligam são os outros quartos. Está vendo?
Bailey estudou a figura e abanou a cabeça. — Ainda vejo apenas dois cubos: um grande e um pequeno! Essas outras seis coisas, desta vez, parecem pirâmides em vez de prismas, mas, ainda não são cubos.
— Certo, certo, você os está vendo numa perspectiva diferente. Não pode ver isso?
— Bem, talvez. Mas, esse quarto aí dentro. Está completamente rodeado dessas geringonças. Pensei que você tinha dito que tem janelas nos quatro lados.
— E tem — apenas, parece que está rodeado. Isso é o detalhe principal de uma casa tesseract: vista externa em todos os aposentos e, no entanto, cada parede serve para dois quartos e uma casa de oito cômodos requer apenas os alicerces para um só quarto. É revolucionário.
— Revolucionário é pouco. Você está louco, rapaz; você não pode construir uma casa assim. Esse quarto interno está do lado de dentro e ali é que fica.
Teal olhou para o amigo com exasperação controlada. — São caras como você que mantêm a arquitetura na sua infância. Quantos lados quadrados tem um cubo?
— Seis.
— E quantos deles estão do lado de dentro?
— Ora, nenhum. Todos estão do lado de fora..
— Muito bem. Agora escute — um tesseract tem oito lados cúbicos, todos no lado de fora. Agora observe. Vou abrir este tesseract como se abre uma caixa de papelão cúbica até deixá-la completamente plana. Desse modo você poderá ver todos os oito cubos. Trabalhando com muita rapidez ele construiu quatro cubos, empilhando-os um em cima do outro, fazendo uma torre cambaleante. Então construiu mais quatro cubos saindo das faces expostas do segundo cubo da torre. A estrutura oscilou um pouco nas juntas, não muito firmes, feitas das bolinhas de argila, mas ficou de pé, oito cubos numa cruz invertida, uma cruz dupla, pois os quatro cubos adicionais se projetavam em quatro direções.
— Você pode ver agora? Descansa no aposento do andar térreo, os outros seis cubos são os outros quartos e ali está seu gabinete de trabalho, bem no topo.
Bailey estudou aquilo com mais aprovação do que tivera para as outras figuras. — Pelo menos posso entendê-la. Você chama a isto também de tesseract?
— Isto é um tesseract desdobrado em três dimensões. Para rearmá-lo você enfia o cubo de cima no cubo de baixo, dobra aqueles cubos do lado até que encontrem o cubo de cima, e é isso aí. Você faz essa dobração através de uma quarta dimensão, naturalmente; você não deforma nenhum dos cubos ou os dobra para dentro de outro.
Bailey estudou mais um pouco a estrutura cambaleante. — Escute aqui — disse finalmente —, por que não esquece de dobrar esta coisa através de uma quarta dimensão — de qualquer forma você não pode fazê-lo — e constrói uma casa como isto?
— O que é que você quer dizer que não posso? É apenas um problema matemático, simples...
— Devagar, filho. Pode ser simples matemática, mas você nunca conseguiria que seus planos fossem aprovados para construção. Não existe uma quarta dimensão; esqueça. Mas este tipo de casa — poderia ter algumas vantagens.
Teal estudou o modelo. — Hm-m-m... talvez você tenha razão. Poderíamos ter o mesmo número de quartos e teríamos o mesmo tamanho de terreno. Sim, e poderíamos pôr esse piso central em feitio de cruz, apontando para o nordeste e o sudoeste e, assim por diante de modo que cada quarto recebesse a luz do sol o dia todo. O eixo interno presta-se lindamente ao aquecimento central. Colocaremos a sala de jantar no sudeste, com janelas panorâmicas em cada peça. Muito bem, Homer. Vou fazê-la! Onde é que você quer que a construa?
— Espere um pouco! Espere um pouco! Não disse que você iria construí-la para mim...
— É lógico que vou. Para quem mais? Sua mulher quer uma casa nova; e esta é a casa.
— Mas, a Sra. Bailey quer uma casa em estilo georgiano...
— Isso foi só uma idéia dela. As mulheres não sabem o que querem...
— A Sra. Bailey sabe.
— Só uma idéia que algum arquiteto antiquado lhe meteu na cabeça. Ela dirige um carro de 1941, não dirige? Ela se veste na última moda — por que deveria ela morar numa casa do século dezoito? Esta casa será mais avançada do que um modelo de 1941: está anos dentro do futuro. Ela será comentada por toda a cidade.
— Bem — terei que falar com ela.
— Nada disso. Vamos fazer-lhe uma surpresa. Tome outro drinque.
— De qualquer forma vamos de carro até Bakersfield. A companhia vai pôr dois poços em funcionamento amanhã.
— Tolice. Essa é exatamente a oportunidade que queremos. Será uma surpresa para ela quando voltarem. Pode me encher o cheque agora e suas preocupações estarão terminadas.
— Não deveria fazer nada disto sem consultá-la. Ela não vai gostar.
— Diga, quem é que veste as calças na sua família?
O cheque foi assinado quando já estavam na metade da segunda garrafa.
No sul da Califórnia as coisas são feitas com rapidez. As casas comuns ali são construídas em um mês. Sob as ordens excitadas e minuciosas de Teal, a casa tesseract elevava-se vertiginosamente em direção ao céu em dias, não em semanas, e seu segundo andar, em feitio de cruz, projetava-se em direção aos quatro cantos do mundo. Teve alguma dificuldade, a princípio, com os inspetores por causa desses quatro quartos salientes, mas, utilizando vigas resistentes e dinheiro fácil, conseguiu convencê-los da solidez da sua engenharia.
Conforme o combinado, Teal dirigiu o seu carro até a porta da frente da residência dos Bailey na manhã seguinte à volta do casal à cidade. Improvisou um toque especial na sua buzina de dois tons. Bailey espetou a cabeça para fora da porta da frente.
— Por que não usa a campainha? — disse.
— É muito vagarosa — respondeu Teal, alegremente. — Sou um homem de ação. A Sra. Bailey está pronta? Ah, aí está a senhora! Bem-vinda ao lar. Pule aqui dentro que temos uma surpresa para a senhora!
— Você conhece Teal, minha querida — disse Bailey, pouco à vontade.
A Sra. Bailey fungou: — Conheço-o. Iremos no nosso carro, Homer.
— Certamente, minha querida.
— Boa idéia — concordou Teal —, tem muito mais força do que o meu; chegaremos lá mais depressa. Eu dirijo, conheço o caminho. — Tirou as chaves da mão de Bailey, acomodou-se no assento do motorista e já tinha o motor ligado antes que a Sra. Bailey pudesse fazer qualquer coisa.
— Nunca precisam se preocupar quando dirijo — disse Teal à Sra. Bailey, virando a cabeça ao falar, ao mesmo tempo que fazia zunir o possante automóvel pela avenida, virando depois no Sunset Boulevard —; é uma questão de força e controle, um processo dinâmico, é minha especialidade; nunca tive um acidente sério.
— Você não precisará de mais do que um — respondeu ela, mordaz. — Quer, por favor, manter os olhos no trânsito?
Teal tentou explicar a ela que a situação do tráfego era uma questão, não de vista, mas de uma intuitiva integração de direções, velocidades e probabilidades, porém Bailey interrompeu-o bruscamente. — Onde está a casa, Quintus?
— Casa? — perguntou desconfiada a Sra. Bailey. — Que história é essa de casa, Homer? Você andou aprontando alguma coisa sem me dizer nada?
Teal respondeu com seu melhor modo diplomático: — Certamente que é uma casa, Sra. Bailey. E que casa! É uma surpresa de um marido devotado para a senhora. Espere até vê-la.
— Vou esperar — disse ela secamente. — Em que estilo é?
— Esta casa inaugura um novo estilo, É mais avançada do que a televisão, é mais nova do que a semana que vem. Deve ser vista para ser apreciada. E por falar nisso — continuou rapidamente, evitando uma resposta —, vocês dois sentiram o terremoto ontem à noite?
— Terremoto? Que terremoto? Homer, houve um terremoto?
— Só um pequenininho — continuou Teal —, às duas da madrugada, mais ou menos. Se não estivesse acordado, não teria notado.
A Sra. Bailey estremeceu. — Oh, esta terra horrível! Escutou isso, Homer? Poderíamos ter sido mortos na cama sem nunca saber o que aconteceu. Por que foi que me deixei convencer a deixar o Iowa?
— Mas, minha querida — protestou ele atrapalhado —, você queria vir para a Califórnia, não gostava de Des Moines.
— Não precisamos entrar em detalhes — disse ela com firmeza. — Você é um homem; deveria prever coisas como essa. Terremotos!
— Isso é uma coisa que não precisa temer no seu novo lar, Sra. Bailey — disse Teal. — É completamente à prova de terremotos; cada parte está em perfeito equilíbrio dinâmico com a outra parte.
— Bem, espero que esteja. Onde está essa casa?
— Logo depois dessa curva. Aí está o cartaz. — Um enorme cartaz, em feitio de seta, da espécie usada pelos corretores de imóveis, proclamava em letras grandes e brilhantes — mesmo para o sul da Califórnia:
A CASA DO FUTURO
Colossal — Assombrosa — Revolucionária veja como viverão seus netos
Q. Teal, Arquiteto
— Naturalmente que isso será tirado dali — disse ele, apressadamente, notando a expressão da Sra. Bailey —, logo que vocês se instalarem. — Fez a curva e parou o carro, com um rangido de freios, em frente da Casa do Futuro. — Voilà! — exclamou Teal, observando seus rostos para ver a reação.
Bailey olhava com incredulidade a Sra. Bailey, sem disfarçar a aversão. Ambos viam uma massa cúbica simples que possuía portas e janelas, mas, sem nenhum outro detalhe de construção, salvo que era decorada com intrincados desenhos matemáticos. — Teal — disse Bailey, lentamente —, que diabo você tem andado fazendo?
Teal olhou de seus rostos para a casa. A torre louca, com seus quartos salientes do segundo andar, desaparecera. Não restava nem um traço dos sete aposentos acima do andar térreo. Nada restava a não ser o único cômodo que descansava sobre os alicerces. — Macacos me mordam! — gritou. — Fui roubado!
Começou a correr.
Mas não ajudou em nada. Tanto do lado da frente como nos fundos, a história era a mesma: os outros sete quartos haviam desaparecido, sumido completamente. Bailey alcançou-o e agarrou-lhe o braço.
— Explique-se. Que história é esta de ter sido roubado? Como é que foi construir uma coisa destas — não foi o que combinamos.
— Mas, eu não fiz isto. Construí exatamente o que planejamos construir, uma casa de oito cômodos na forma de um tesseract desdobrado. Fui sabotado; foi isso! Os outros arquitetos da cidade não tiveram coragem de me deixar acabar o projeto; sabiam que estariam liquidados se o fizessem.
— Quando é que você esteve aqui pela última vez?
— Ontem à tarde.
— Tudo estava em ordem, então?
— Sim. Os jardineiros já estavam terminando.
Bailey olhou em volta para a paisagem impecavelmente acabada. — Não vejo como sete quartos poderiam ter sido desmontados e carregados daqui numa só noite sem estragar o jardim.
Teal também olhou ao seu redor. — Não parece. Não posso compreender.
A Sra. Bailey juntou-se a eles. — E daí? E daí? Será que devo distrair-me sozinha? Vamos dar uma olhada já que estamos aqui, apesar de que, estou avisando, Homer, não vou gostar.
— É, já que estamos aqui — concordou Teal, tirando uma chave do bolso, com a qual abriu a porta, deixando-os entrar pela porta da frente. — Talvez encontremos algumas pistas.
O hall de entrada estava em perfeito estado, abertas as portas corrediças que o separavam do espaço para a garagem, de modo a permitir que tivessem uma boa visão do compartimento inteiro. — Isto parece que está bem — observou Bailey. —
Vamos até o telhado, tentar descobrir o que aconteceu. Onde está a escada? Ou será que roubaram isso também?
— Oh não — respondeu Teal —, olhe... — Apertou um botão abaixo da chave da luz; um painel no forro deslizou e um lanço de escadas, leve e gracioso, desceu silenciosamente. Seus reforços eram o gélido prateado do duralumínio, os degraus e a parte vertical dos mesmos de plástico transparente. Teal retorceu-se como um menino que conseguiu realizar um truque com as cartas, enquanto a Sra. Bailey degelava perceptivelmente.
Era uma beleza.
— Muito bacana — admitiu Bailey. — Contudo, não parece levar a parte alguma.
— Oh, isso... — Teal seguiu o seu olhar. — O alçapão levanta quando você se aproxima do topo. Poços de escadas abertos são um anacronismo. Venha. — Como predissera, o tampo da escada saía do caminho à medida que subiam e permitiu que desembocassem no alto, porém, não como esperavam, no teto do único quarto. Encontraram-se parados no meio de um dos cinco quartos que compunham o segundo andar da estrutura original.
Pela primeira vez, que se saiba, Teal não teve nada a dizer. Bailey fez-lhe eco, mastigando seu charuto. Tudo estava em perfeita ordem. Diante deles, através da porta aberta e de uma divisão translúcida, estava a cozinha, o sonho de um chef, com uma engenharia doméstica das mais modernas. Metal Monel, balcão de uma peça só, com luz escondida, arranjo funcional; à esquerda, a sala de jantar, formal, mas graciosa e hospitaleira, esperava hóspedes, sua mobília disposta com perfeição.
Teal sabia, antes de virar a cabeça, que o living e a saleta seriam encontrados numa existência tanto substancial quanto impossível.
— Bem, devo admitir que isto é encantador — aprovou a Sra. Bailey —, e a cozinha é fantástica demais para se acreditar
— embora nunca teria adivinhado, ao vê-la pelo lado de fora, que esta casa tivesse tanto espaço em cima. Naturalmente, algumas mudanças terão de ser feitas. Aquela secretária, por exemplo
— se a colocássemos aqui e puséssemos o sofá lá...
— Te fecha, Matilde — interrompeu Bailey, bruscamente.
— O que você acha disto, Teal?
— Ora, Homer Bailey! O desafo...
— Te fecha, eu disse. Bem, Teal?
O arquiteto mexeu seu corpo desajeitado. — Estou com medo de dizer. Vamos subir.
— Como?
— Assim. — Tocou outro botão. Outra escada em cores mais profundas, companheira da ponte de fadas que os trouxera até ali, dava acesso ao andar seguinte. Subiram, a Sra. Bailey reclamando atrás deles, e encontraram-se no dormitório principal. As cortinas estavam fechadas, assim como as do andar de baixo, mas uma luz suave iluminou o aposento, automaticamente. Teal imediatamente acionou o botão que controlava outro lanço de escada e subiram às pressas até o gabinete de trabalho do andar superior.
— Olhe, Teal — perguntou Bailey, quando tinha recuperado o fôlego —, podemos chegar até o telhado acima desta sala? Então poderíamos dar uma olhada em volta.
— Certamente; é uma plataforma-observatório. — Subiram um quarto lanço de escadas, mas quando a tampa no alto se abriu para deixá-los passar ao outro nível, encontraram-se, não no telhado, mas, de pé na sala do andar térreo por onde tinham entrado na casa.
O rosto do Sr. Bailey adquiriu uma cor cinza-doentio. — Anjos do céu — gritou —, este lugar está assombrado. Nós vamos sair daqui! — Agarrando sua mulher escancarou a porta e atirou-se para fora.
Teal estava preocupado demais para incomodar-se com a saída deles. Havia uma resposta para tudo isto, uma resposta na qual não acreditava. Mas foi forçado a interromper suas conjecturas porque gritos roucos chegavam-lhe de algum lugar lá em cima. Abaixou a escada e correu para o alto. Bailey estava no aposento central, curvado sobre a Sra. Bailey, que desmaiara. Teal percebeu a situação, foi diretamente para o bar da saleta e serviu três dedos de conhaque num copo que alcançou a Bailey. — Pronto, isto a reanimará.
Bailey bebeu-o.
— Isso era para a Sra. Bailey — disse Teal.
— Não discuta — disse Bailey, secamente. — Sirva outro. — Teal teve a precaução de tomar um gole antes de voltar com a dose destinada à mulher do seu cliente. Encontrou-a quando abria os olhos.
— Aqui, Sra. Bailey — disse, tentando acalmá-la —, isto vai fazê-la sentir-se melhor.
— Eu nunca toco em álcool — protestou, tomando o conteúdo de um gole.
— Agora, digam-me o que aconteceu — sugeriu Teal. — Pensei que ambos tivessem ido embora.
— Mas nós fomos — saímos pela porta da frente e nos encontramos aqui em cima, na saleta.
— Diabos, é verdade! Hm-m-m... esperem um minuto. — Teal entrou na saleta. Lá descobriu que a janela panorâmica, situada numa extremidade do aposento, estava aberta. Espiou para fora, cautelosamente. Fitou com espanto, não para uma paisagem da Califórnia, mas, para dentro do aposento do andar térreo — ou um fac-símile dele. Não falou nada, mas voltou ao poço da escada que deixara aberto e olhou para baixo. O andar térreo ainda estava no lugar. De algum modo, conseguia estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo — em níveis diferentes.
Voltou para a sala central e afundou-se numa poltrona baixa em frente de Bailey, olhando-o por cima dos seus joelhos ossudos.
— Homer — disse solenemente —, você sabe o que aconteceu?
— Não, eu não sei... mas, se não descobrir logo, alguma coisa vai acontecer, e muito drástica também!
— Homer, isto é uma realização das minhas teorias. Esta casa é um verdadeiro tesseract!
— Do que é que ele está falando, Homer?
— Espere, Matilde... ora, Teal, isso é ridículo. Você aprontou alguma trapaça aqui e eu não vou tolerar isso — quase matando a Sra. Bailey de susto e deixando-me nervoso. Só o que quero é sair daqui, sem mais amostras de seus alçapões e brincadeiras idiotas de mau gosto.
— Fale por você, Homer — interrompeu a Sra. Bailey, —, eu não fiquei com medo; só me senti esquisita por uns momentos. É o meu coração; todas as pessoas da minha família são delicadas e sensíveis. Agora, com respeito a esta tessi-coisa — explique-se, Sr. Teal. Fale.
Contou-lhes do melhor modo possível, apesar das numerosas interrupções sobre a teoria que estava por trás da casa. — Do modo como vejo as coisas, Sra. Bailey — terminou —, esta casa, embora perfeitamente estável em três dimensões, não era estável em quatro dimensões. Construí uma casa no formato de um tesseract desdobrado; alguma coisa aconteceu com ela, uma sacudidela ou um tremor e caiu no seu formato normal — dobrou-se. — Estalou os dedos, subitamente. — Já sei! O terremoto!
— Terremoto?
— Sim, sim, o pequeno abalo que tivemos ontem à noite. De um ponto de vista quadridimensional esta casa era como um plano equilibrado numa das arestas. Um empurrãozinho e dobrou-se nas juntas naturais, formando uma figura quadridimensional estável.
— Pensei que você alardeava que esta casa era segura.
— É segura — tridimensionalmente.
— Não chamo segura — comentou Bailey, irritado — uma casa que desmonta ao menor abalo.
— Mas olhe à sua volta, homem! — protestou Teal. — Nada foi perturbado, nem uma peça de cristal rachada. Uma alternação através de uma quarta dimensão não pode afetar uma figura tridimensional do mesmo modo como não se pode sacudir as letras de uma página impressa. Se vocês estivessem dormindo aqui, ontem à noite, nunca teriam acordado.
— É exatamente disso que tenho medo. E por falar nisso, o seu grande gênio já descobriu algum jeito de nos tirar desta arapuca?
— Hem? Oh, sim, você e a Sra. Bailey saíram e aterrissaram de volta aqui em cima, não foi? Mas, estou certo de que não haverá nenhuma dificuldade real — entramos: podemos sair. Vou tentar. — Levantou-se e desceu apressado antes de terminar o que estava dizendo. Abriu a porta da frente, saiu e encontrou-se fitando seus companheiros, da outra ponta da saleta do segundo andar. — Bem, parece haver alguns pequenos problemas — admitiu, alegremente. — Uma mera tecnicalidade, embora sempre possamos sair pela janela. — Afastou com um puxão os longos cortinados que cobriam as portas-janelas, situadas numa das paredes da saleta. Subitamente estacou.
— Hm-m-m — disse —, isto é interessante... muito.
— O que é? — perguntou Bailey, juntando-se a ele.
— Isto. — A janela dava diretamente para a sala de jantar em vez de dar para fora. Bailey voltou para o canto onde a saleta e a sala de jantar se encontravam com a sala central num ângulo de noventa graus.
— Mas, isso não pode ser — protestou —, essa janela está, talvez, de quatro e meio a seis metros da sala de jantar.
— Não num tesseract — corrigiu Teal. — Veja. — Abriu a janela e saiu, falando por cima do ombro.
Do ponto de vista dos Baileys ele simplesmente desapareceu.
Mas não do seu. Levou alguns segundos para recuperar o fôlego. Então, cautelosamente, soltou-se da roseira com a qual ficara quase que irrevocavelmente entrelaçado, tomando mentalmente nota de nunca mais encomendar ajardinamento que incluísse plantas com espinhos, e olhou em volta.
Estava do lado de fora da casa. O volume compacto da sala do andar térreo elevava-se ao seu lado. Aparentemente, caíra do telhado.
Dobrou a esquina da casa correndo, abriu a porta da frente, com violência, e subiu correndo as escadas. — Homer! — chamou. — Sra. Bailey! Encontrei uma saída!
Bailey pareceu mais aborrecido do que contente em vê-lo. — O que foi que aconteceu com você?
— Caí para fora. Estive do lado de fora da casa. Vocês podem fazer isso com a mesma facilidade — apenas atravessem essas portas-janelas. Cuidado com a roseira, talvez tenhamos que construir outra escada.
— Como foi que voltou a entrar?
— Pela porta da frente.
— Então sairemos da mesma maneira. Venha, querida. — Bailey enfiou, resolutamente, o chapéu na cabeça e desceu as escadas com passo firme, a esposa agarrada ao seu braço.
Teal encontrou-os na saleta. — Eu podia ter-lhes dito que isso não funcionaria — observou. — Agora, eis o que devemos fazer: do modo como vejo as coisas, numa figura quadridimensional, um homem tridimensional tem duas escolhas cada vez que cruza uma linha de junção, como uma parede ou um limiar. Comumente, ele fará uma volta de noventa graus na quarta dimensão, só que não sentirá isso nas suas três dimensões. Olhem. — Teal atravessou a mesma janela pela qual caíra há poucos momentos. Atravessou-a e chegou à sala de jantar, bem onde estava, ainda falando.
— Observei onde ia e cheguei onde tencionava. — Voltou para a saleta. — Da outra vez não prestei atenção, desloquei-me através do espaço normal e caí para fora da casa. Deve ser um caso de orientação subconsciente.
— Detestaria ter de depender de orientação subconsciente quando saio de manhã para apanhar o jornal.
— Você não terá de fazê-lo; tornar-se-á automático. Bem, para sair da casa, desta vez — Sra. Bailey, se a senhora ficar de pé aqui, com as costas para a janela e pular para trás, tenho absoluta certeza de que a senhora aterrissará no jardim.
O rosto da Sra. Bailey expressava sua opinião sobre Teal e suas idéias. — Homer Bailey — disse ela com voz esganiçada, —, você vai ficar parado aí e deixar que ele sugira uma coisa des...
— Mas, Sra. Bailey — tentou explicar Teal —, podemos amarrar uma corda na senhora e baixá-la fácil.
— Esqueça, Teal — interrompeu Bailey, bruscamente. — Vamos ter de encontrar coisa melhor do que essa. Nem a Sra. Bailey nem eu estamos em condições de pular.
Teal ficou momentaneamente mudo; seguiu-se um curto silêncio. Bailey quebrou-o com: — Você escutou isso, Teal?
— Escutei o quê?
— Alguém falando a distância. Você não acha que talvez haja mais alguém na casa, pregando peças na gente?
— Oh, não há uma chance. Eu tenho a única chave que existe.
— Mas, eu tenho certeza — confirmou a Sra. Bailey. — Estou ouvindo-os desde que entramos. Vozes. Homer, não posso agüentar muito mais disto. Faça alguma coisa.
— Ora, ora, Sra. Bailey — disse Teal, tentando acalmá-la —, não fique perturbada. Não pode haver mais ninguém na casa, mas irei investigar para ter certeza. Homer, permaneça aqui com a Sra. Bailey e fique de olho nos quartos deste andar. — Passou da saleta para a sala do andar térreo e dali para a cozinha e depois para o quarto de dormir. Isto levou-o de volta à saleta, por um caminho em linha reta, isto é, indo diretamente para a frente todo o trajeto, ele retornou ao lugar de onde partira.
— Não há ninguém por aqui — disse. — Abri todas as portas e janelas no caminho... menos esta. — Chegou à janela do lado oposto àquela por onde caíra minutos atrás e descerrou as cortinas.
Viu um homem de costas para ele a quatro aposentos de distância. Teal abriu a porta-janela e mergulhou na outra sala gritando: — Lá vai ele! Pare, ladrão!
A pessoa, evidentemente, ouviu-o: fugiu precipitadamente. Teal perseguiu-o, seus membros desajeitados mexendo-se ao mesmo tempo como um polichinelo, pelo living, cozinha, sala de jantar, saleta — sala após sala — entretanto, apesar dos mais árduos esforços de Teal, a distância de quatro quartos que o intruso levava de vantagem quando começou, não parecia diminuir.
Viu o perseguido pular desajeitada, porém rapidamente, por cima do caixilho baixo da porta-janela e, ao fazê-lo, o chapéu caiu de sua cabeça. Quando chegou ao lugar onde o intruso perdera o chapéu, abaixou-se para apanhá-lo, satisfeito de ter uma desculpa para parar e tomar fôlego. Voltou para a saleta.
— Acho que ele escapou — disse. — de qualquer forma, aqui está o chapéu dele. Talvez possamos identificá-lo.
Bailey tomou o chapéu e olhou para ele depois tungou e enfiou-o na cabeça de Teal. Ajustava-se com perfeição. Teal parecia perplexo; tirou o chapéu e examinou-o. Na carneira viam-se as iniciais "Q. T.". Era o seu próprio chapéu.
Lentamente, a compreensão filtrou-se através das reações de Teal. Voltou a porta-janela e olhou para a série de aposentos pelos quais correra atrás do misterioso estranho. Viram-no agitar os braços como um semáforo.
— O que é que está fazendo? — perguntou Bailey.
— Venha ver. — Os dois juntaram-se a ele e seguiram seu olhar, fixando com olhos esbugalhados o mesmo que ele fitava. A quatro aposentos de distancia, viram as costas de três pessoas, dois homens e uma mulher. O mais alto e magro dos dois homens agitava os braços de maneira idiota.
A Sra. Bailey deu um grito e desmaiou novamente.
Minutos depois, quando a Sra. Bailey estava reanimada e já um tanto mais composta, Bailey e Teal fizeram um balanço da situação.
— Teal — disse Bailey —, não vou perder o meu tempo em botar a culpa em você; as recriminações são inúteis e estou certo de que você não planejou que isto acontecesse, mas suponho que você percebe que estamos em sérios apuros. Como é que vamos sair deste lugar? Agora parece que vamos ficar aqui até morrer de fome; cada quarto dá para outro quarto.
— Oh, não é tão mau assim. Saí uma vez, você sabe.
— Sim, mas você não pode repetir isso — você tentou.
— De qualquer forma, não tentamos todos os quartos. Ainda temos o gabinete de trabalho.
— Ah, sim, o gabinete de trabalho. Fomos por lá logo que ^ chegamos e não paramos. Tem idéia se podemos sair pelas janelas de lá?
— Não fique muito esperançoso. Matematicamente, ele deve dar para as quatro peças laterais deste andar. Entretanto, nunca abrimos as cortinas; talvez devêssemos fazê-lo.
— Bom, não vai fazer mal nenhum. Querida, acho que é melhor você ficar aqui e descansar...
— Ficar sozinha neste lugar horrível? Isso é que não! — A Sra. Bailey levantou-se de um pulo do sofá onde estivera se recuperando, antes mesmo de acabar de falar.
Subiram a escada. — Esta é a sala interna, não é, Teal? — perguntou Bailey, quando passavam pelo quarto de dormir principal e subiam ao estúdio. — Quero dizer se é o cubo pequeno do seu diagrama, que estava no meio do cubo grande e completamente rodeado.
— Isso mesmo — concordou Teal. — Bem, vamos dar uma olhada. Acho que esta janela deve dar para a cozinha. — Agarrou as cordas das venezianas e puxou-as.
Não dava para a cozinha. Ondas de vertigem sacudiram-nos. Involuntariamente, caíram no chão, tentando em vão agarrar-se aos desenhos do tapete para não cair. — Feche-a! Feche-a! — gemeu Bailey.
Dominando, em parte, um medo atávico e primitivo, Teal arrastou-se de volta à janela e conseguiu soltar a veneziana. A janela dava para baixo, em vez de para fora, de uma altura terrificante.
A Sra. Bailey desmaiara novamente.
Teal voltou para apanhar mais conhaque, enquanto Bailey esfregava os pulsos da esposa. Quando ela recuperou os sentidos, Teal foi cautelosamente até a janela e levantou uma ponta da persiana. Escorando os joelhos, estudou o panorama. Virou-se para Bailey: — Venha olhar isto, Homer. Veja se você o reconhece.
— Você fique longe daí, Homer Bailey!
— Ora, Matilde, terei cuidado. — Bailey juntou-se a Teal e " olhou para fora.
— Vê lá em cima? Aquele é o Edifício Chrysler, isto é certo. E lá está o rio East e o Brooklyn. — Olhavam diretamente para baixo, pelo lado de um prédio tremendamente alto. Mais de uns trezentos metros além, uma cidade de brinquedo, muito real e ativa, espalhava-se bem à frente de ambos.
— O que mais ou menos consigo entender é que estamos olhando para baixo, por um dos lados do edifício Empire State, de um ponto logo acima de sua torre.
— E o que é? Uma miragem?
— Não creio — é perfeito demais. Acho que o espaço dobrou-se através da quarta dimensão, aqui, e que estamos olhando para além da dobra.
— Você quer dizer que, realmente, não estamos vendo isso?
— Não, estamos vendo isso de verdade. Não sei o que aconteceria se pulássemos por esta janela, mas, eu, de jeito nenhum, quero experimentar. Mas, que vista! Rapaz, que vista! Vamos experimentar as outras janelas.
Aproximaram-se da outra janela com mais cautela, e foi bom que assim fizessem, pois era ainda mais desconcertante, fazia vacilar a razão mais do que a outra que dava para a altura vertiginosa do arranha-céu. Era uma simples paisagem marinha, vasto oceano e céu azul — porém o mar ficava onde deveria ser o céu c vice-versa. Desta vez estavam mais preparados para isso, mas ambos sentiram enjôo à vista das ondas rolando no alto; rapidamente, abaixaram a cortina sem dar chance à Sra. Bailey de ser perturbada por aquilo.
Teal olhou para a terceira janela. — Tem coragem de experimentar, Homer?
— Hrrumpf — bem, não ficaremos satisfeitos se não o fizermos. Devagar. — Teal levantou a cortina alguns centímetros. Não viu nada e levantou-a mais um pouco — ainda nada. Lentamente, levantou-a até que a janela estivesse completamente visível. Olharam para fora, para nada.
Nada, absolutamente nada. Que cor tem o nada? Não seja tolo! Que forma tem? Forma é o atributo de alguma coisa. Não tinha nem profundidade nem forma. Nem mesmo cor preta tinha. Era nada.
Bailey mastigava o seu charuto. — Teal, o que é que você pensa disto?
A atitude despreocupada de Teal foi sacudida pela primeira vez. — Não sei, Homer; realmente, não sei — mas acho que essa janela deveria ser murada. — Olhou, por uns instantes, para a cortina abaixada. — Acho que olhamos para um lugar onde o espaço não é. Olhamos do outro lado de uma esquina quadridimensional e não havia nada lá. — Esfregou os olhos. — Estou com dor de cabeça.
Esperaram um pouco antes de enfrentar a quarta janela. Como uma carta, ainda não aberta, poderia não conter más notícias. A dúvida deixava alguma esperança. Finalmente, o suspense ficou intolerável e Bailey acabou puxando a corda da persiana sem dar atenção aos protestos da esposa.
Não era tão ruim. Uma vista estendia-se à sua frente, em posição normal, a um nível em que o gabinete de trabalho parecia estar no andar térreo. Mas era nitidamente hostil.
Um sol quente, muito quente, abatia-se de um céu cor de limão. O terreno plano parecia queimado e estéril, de um marrom desbotado, incapaz de sustentar qualquer tipo de vida. Porém, vida havia: estranhas árvores atrofiadas que elevavam braços retorcidos e nodosos para o céu. Pequenas moitas de folhas espinhentas cresciam nas extremidades dessa vegetação disforme.
— Santo Deus — suspirou Bailey —, onde é isso?
Teal sacudiu a cabeça, o olhar preocupado. — Isso é demais para mim.
— Não se parece com nada na Terra. Parece mais com outro planeta — Marte, talvez.
— Não saberia dizer. Mas, você sabe, Homer, poderia ser pior do que isso, pior do que outro planeta, quero dizer.
— Hem? O que é que está dizendo?
— Poderia ser completamente fora do nosso espaço. Não tenho certeza de que esse seja o nosso sol. Parece brilhante demais.
A Sra. Bailey aproximara-se timidamente, juntando-se a eles, e agora olhava para a bizarra paisagem. — Homer — disse com voz apagada —, essas árvores horrorosas... elas me assustam.
Ele deu-lhe uma palmadinha na mão.
Teal tentou abrir o trinco da janela.
— O que é que você está fazendo? — perguntou Bailey.
— Pensei que se enfiasse a cabeça do lado de fora da janela poderia dar uma olhada e dizer mais alguma coisa.
— Bem... certo — disse Bailey com má vontade —, mas tome cuidado.
— Tomarei. — Abriu a janela um pouquinho e cheirou. — O ar é bom, pelo menos. — Abriu toda a janela.
Sua atenção foi desviada antes que pudesse pôr seu plano em prática. Um tremor desagradável, como o primeiro sinal de náusea, sacudiu todo o prédio, por um longo segundo e logo parou.
— Terremoto! — Todos falaram ao mesmo tempo. A Sra. Bailey jogou os braços em volta do pescoço do marido.
Teal engoliu em seco e se recompôs, dizendo: — Tudo bem, Sra. Bailey. Esta casa é perfeitamente segura. A senhora sabe que pode esperar tremores de acomodação do terreno depois de um abalo como o de ontem à noite. — Mal acabara de recompor suas feições numa expressão de confiança, quando veio o segundo tremor. Este não foi nenhuma trepidação suave, mas a verdadeira ondulação nauseante.
Em todo californiano, nativo ou enxertado, existe um reflexo primitivo, profundamente enraizado. Um terremoto enche-o de uma claustrofobia que lhe sacode a alma, que o impele cegamente a sair de casa! Escoteiros modelos empurrarão para fora do seu caminho velhas vovós para obedecerem a esse impulso. Conta-se que Teal e Bailey aterrissaram em cima da Sra. Bailey. Evidentemente, ela deve ter sido a primeira a saltar pela janela. A ordem de precedência não pode ser atribuída ao cavalheirismo; deve-se presumir que ela estivesse numa posição mais adequada para saltar.
Acalmaram-se, puseram os pensamentos em ordem e tentaram tirar a areia dos olhos. Suas primeiras sensações foram de alívio e de sentir a areia firme do deserto embaixo deles. Então, Bailey percebeu alguma coisa que os fez ficar de pé e cortar o discurso que a Sra. Bailey estava a ponto de fazer.
— Onde está a casa?
Sumira. Não havia nenhum sinal dela. Estavam parados no centro de uma desolação plana: o panorama que tinham visto da janela. Mas, além das árvores retorcidas, torturadas, não se via nada além do céu amarelo e a luminária lá no alto, cujo resplendor de fornalha era já quase insuportável.
Bailey olhou em volta, lentamente, depois voltou-se para o arquiteto.
— E então, Teal? — Sua voz era ameaçadora.
Teal deu de ombros, com desânimo. — Gostaria de saber. Gostaria mesmo de ter certeza de que estamos na Terra.
— Bem, não podemos ficar parados aqui. É morte certa. Que direção tomaremos?
— Qualquer uma, acho. Vamos manter o rumo pelo sol.
Já tinham caminhado penosamente, por uma distância indeterminada, quando a Sra. Bailey pediu para descansar. Pararam. Teal disse, num aparte, para Bailey: — Tem alguma idéia?
— Não... não, nenhuma. Escute, ouve alguma coisa? Teal escutou. — Talvez... a não ser que seja a minha imaginação.
— Parece um automóvel. Puxa, é um automóvel! Chegaram à rodovia que passava a menos de noventa metros.
O automóvel, quando chegou, era apenas um velho caminhão pequeno, dirigido por um rancheiro. Parou, fazendo barulho no pedregulho, ao vê-los abanar. — Estamos perdidos. Pode nos ajudar?
— Certamente. Entrem.
— Para onde vai?
— Para Los Angeles.
— Los Angeles? Diga, que lugar é este?
— Ora, vocês estão bem no meio da Floresta Nacional Joshua-Tree.
A volta foi tão deprimente quanto a Retirada de Moscou. O Sr. e a Sra. Bailey estavam sentados na cabina com o motorista, enquanto Teal sacolejava na parte traseira do caminhão, tentando proteger a cabeça do sol. Bailey subornou o bom rancheiro para que fizesse um desvio até onde estava a casa tesseract, não porque quisesse vê-la novamente, mas, para apanhar o seu carro.
Finalmente, o rancheiro virou a curva que os trouxe de volta ao lugar de onde começaram. Mas a casa não estava mais lá.
Não ficara nem mesmo o quarto do andar térreo. Desaparecera. Os Bailey, interessados, mesmo sem querer, examinaram os alicerces junto com Teal.
— Você tem alguma resposta para isto, Teal? — perguntou Bailey. •
— Deve ser que no último abalo ela simplesmente caiu noutra seção do espaço. Posso ver agora que deveria tê-la ancorado nos alicerces.
— Não é só isso o que você deveria ter feito.
— Bem, não vejo motivo para ficar abatido com isto. A casa estava no seguro e eu aprendi uma enormidade. Há possibilidades, homem, possibilidades! Puxa, neste momento tenho uma grande, nova e revolucionária idéia para uma casa...
Teal desviou rapidamente a cabeça para não ser atingido por Bailey. Sempre foi um homem de ação.
O WABBLER
Murray Leinster escrevia ficção científica antes que a maioria de nós tivesse nascido; está agora nos seus jovens setenta anos e sua produção total desde 1917 encheria, pelo menos, uns cem volumes. Entretanto, a qualidade nunca foi prejudicada pela quantidade e Will F. J&nkins — é esse o seu verdadeiro nome — foi o pioneiro de muitos dos temas básicos da ficção científica moderna. Trilhas alternadas de tempo ("Sideways In Time"), a passagem através da matéria sólida ("The Mole Pirates") e o conceito de uma nave interestelar gigante e auto-suficiente ("Próxima Centauri") são algumas das idéias que ele foi o primeiro a usar. E sua história do encontro do homem com alienígenas do espaço exterior ("First Contact") é um clássico de tal quilate que um escritor soviético recentemente achou necessário criticar. (A tese russa: no futuro não haverá conflitos, visto que todas as civilizações avançadas devem ser formadas de bons comunistas. Jornais da China, por favor copiem.)
"O Wabbler" é um conto sobre cibernética, embora fosse escrito seis anos antes que Norbert Wiener pusesse essa palavra em circulação (1948). É o melhor exemplo que conheço de um autor penetrando na "mente" de uma máquina e fazendo com que o leitor se identifique com ela. Como tal, merece um estudo cuidadoso de todos os programadores de computador, ansiosos por ultrapassar em inteligência esses imbecis que estão sob seus cuidados.
Ao ler o conto depois de vinte anos, percebi subitamente que estou muito familiarizado com o território do Wabbler. Dois anos apenas depois de Murray Leinster ter escrito esta história, o couraçado britânico Valiant foi deixado no maior dique flutuante do mundo, na costa oeste do Ceilão. Os eventos lamentáveis que se seguiram foram quase idênticos no resultado, embora não na causa, ao clímax deste conto. Descrevi-os em The Reefs of Taprobane ("Os Recifes de Taprobana") capítulo 16 — A Very Expensive Night ("Uma Noite Muito Dispendiosa"). "O Wabbler" lembra-me vivamente os meus próprios mergulhos por entre os sombrios destroços, habitados por garoupas de três metros e meio, que ainda se encontram no fundo da enseada de Trincomalee.
O WABBLER *
* Wabbler — sinônimo de wobbler — o que bamboleia, claudica, cambaleia, oscila. N. do T.
O Wabbler foi em direção ao oeste com uma dúzia de seus companheiros, de noite e na barriga de uma coisa lisa e lustrosa que voava rápido. Não havia luzes em parte alguma salvo as estrelas lá em cima. Ouvia-se um rugido surdo, contínuo e furioso que era o som que a coisa lisa e lustrosa fazia ao voar. O Wabbler repousava no seu lugar, com a cauda de três metros e meio cuidadosamente enrolada sobre sua parte traseira, esperando, com uma espécie de paciência mortífera, o cumprimento do seu destino. Ele e todos os seus irmãos tinham o feitio de uma pêra, com chifres de pontas arredondadas, absurdamente grandes, pequenos orifícios redondos onde poderiam ter sido os olhos, e aberturas blindadas onde provavelmente se situaria a boca. De certa forma pareciam não ter queixo. Também pareciam vivos, inumanos e cheios de uma espécie de ódio frio. Assemelhavam-se a demônios sem corpo, saídos de algum inferno metálico. Não era possível sentir qualquer afeição por eles. Mesmo os homens que lidavam com os Wabblers sentiam apenas uma espécie de esperança vingativa nas suas capacidades.
Os Wabblers permaneceram agachados nas suas prateleiras durante longas horas. Estava muito frio, mas eles não demonstravam senti-lo. A coisa voadora, lisa e lustrosa seguia, rugindo e rugindo. Os Wabblers esperavam. Homens mexiam-se em alguma parte da coisa voadora e entretanto não foram aonde os Wabblers se encontravam até bem no final. Mas, de algum modo, quando um homem veio e inspecionou cada um deles com muito cuidado e cutucou experimentalmente na parte inferior das prateleiras onde se encontravam os Wabblers, eles souberam que o momento chegara.
O homem foi embora. A coisa voadora inclinou-se um pouco. Parecia subir. O ar tornou-se mais frio, mas os Wabblers — todos eles — mantinham-se indiferentes. O ar não era o seu elemento. Então, quando ficou muito, muito frio o rugido da coisa voadora cessou abruptamente. O silêncio foi surpreendente. Logo, pequenos sons sussurrantes, sibilantes, tomaram o lugar do ronco, à medida que o ouvido se ajustava a outro nível de som. Esse som lamentoso e sibilante era o vento assobiando ao passar pelas asas da coisa voadora. Agora o ar estava um pouco mais quente — mas ainda muito frio. A coisa voadora planava, os motores apagados, descendo gradualmente com suave inclinação.
O Wabbler era o quarto da fila de seus irmãos a bombordo da coisa voadora. Não se mexeu, naturalmente, mas sentiu uma atmosfera de inflexível e selvagem antecipação. Parecia que todos os irmãos, friamente, trocavam cumprimentos e despedidas. A hora, definitivamente, chegara.
A coisa voadora tomou a posição horizontal. Alavancas e barras moveram-se na escuridão de sua barriga. A sensação de antecipação aumentou. Então, subitamente, só havia onze Wabblers. O vento rugia onde o décimo segundo estivera. Havia dez. Havia nove, oito, sete, seis...
O Wabbler precipitou-se para baixo, cortando a escuridão. Agora havia nuvens lá em cima. Em todo o mundo não havia um ponto de luz. Mas, lá embaixo, via-se uma fraca luminosidade. A cauda do Wabbler desenroscou-se e retorceu-se flexivelmente. O vento gritava ao passar por sua forma desajeitada. Foi caindo e caindo e caindo, seus orifícios redondos — que se assemelhavam tanto a olhos — pareciam indiferentes e completamente impassíveis. A luminosidade lá embaixo separou-se em riscas de luz azulada que eram as fosforescências emitidas pelas cristas onduladas das vagas. Para o oeste havia uma risca mais viva dessa luminosidade. Era a arrebentação.
Splash! O Wabbler mergulhou na água com uma explosão de luminosidade, e um jato de espuma de nove metros elevou-se no lugar onde ele bateu. Mas o jato cessou e o Wabbler estava a salvo debaixo da água. Mergulhou rapidamente por uns seis metros, talvez nove. Então sua queda foi interrompida. Virou-se e sua cauda, retorcendo-se, acomodou-se debaixo dele. Por uns momentos pareceu que ele tinha a intenção de nadar de volta à superfície. Porém surgiram bolhas de ar da abertura blindada que parecia uma boca. Ficou suspenso ali, na escuridão do mar — mas, de vez em quando, havia pequenas riscas de luz faiscante, quando os nativos do oceano nadavam à sua volta — e, então, lentamente, muito lentamente, desceu até acomodar-se no fundo. Sua cauda de três metros e meio parecia agitar-se um pouco, como se estivesse procurando algo no escuro.
Logo encontrou. Lodo. Lodo negro. O fundo do mar. Dezoito metros acima, as ondas marchavam para lá e para cá na escuridão. De alguma forma, através do silêncio parado, surgiu uma vibração surda. Era a arrebentação distante, castigando a costa. O Wabbler ficou imóvel por uns instantes, com a ponta da cauda apenas tocando o fundo. Depois, fez pequenos sons dentro de si mesmo. Mais borbulhas saíram do lugar redondo como uma boca. Então desceu trinta centímetros; sessenta centímetros; noventa... Noventa centímetros de sua cauda descansavam no lodo. Estava suspenso, seu feitio de pêra, uns dois metros acima do fundo do mar, com a ponta dos chifres projetando-se apenas um metro e vinte centímetros mais acima. Havia uns quinze metros de mar vazio acima dele. Não era este o seu destino. Esperava impassível pelo que viria acontecer.
Tudo era silêncio, salvo a fraca vibração da arrebentação distante. Mas havia um som infinitesimal, também, dentro do corpo do Wabbler, um tique-tique-tique-tique rítmico, apressado: era o cérebro do Wabbler em ação.
O tempo passava. Acima do mar, a coisa voadora lisa e lustrosa, subitamente rugiu ao longe. Deu uma guinada e afastou-se roncando na direção de onde viera. Sua barriga estava vazia agora e, em algum lugar dentro do mar ondulante, havia outros Wabblers cada um aguardando, como fazia o quarto Wabbler, pela coisa que o seu cérebro esperava. Passaram-se longos minutos. Os mares marchavam para lá e para cá. A arrebentação ao longe bramia e estrondeava contra a costa. E mais alto ainda, acima das nuvens, uma lua invisível mergulhava num horizonte que não se vislumbrava em parte alguma. Mas o Wabbler esperava.
A maré veio. Aqui, tão longe da arrebentação martelante, os movimentos dos níveis mais profundos do mar eram, na realidade, quase imperceptíveis. Porém a maré se dirigia para a terra. Lentamente, a pressão da água contra um dos lados do Wabbler tornou-se mais forte. O Wabbler inclinou-se imperceptivelmente em direção à costa. Logo, a curva de sua cauda flexível, que descansava sobre o lodo, endireitou-se. Ficou ereto. Surgiam minúsculas incandescências azuis no ponto em que ela remexeu a lama fosforescente. Então o Wabbler moveu-se. Em direção à costa. Arrastava a cauda, deixando uma pequena trilha de luz fantasmagórica, brilhando atrás de si.
Peixes nadavam à sua volta. Uma vez ouviu-se um som fofo, ronronante, e hélices empurraram uma coisa flutuante, invisível, pela superfície do mar. Mas estava longe e o Wabbler mantinha-se impassível. A maré subia. O Wabbler moveu-se aos arrancos. As vezes deslocava-se noventa centímetros ou um metro, outras dois metros ou três. De outra vez, onde o fundo do mar descia em suave declive, moveu-se firmemente por quase noventa metros. Veio descansar então, oscilando levemente. Então continuou aos arrancos, mais uma vez. Em algum lugar, a uma distância indefinida, estavam seus irmãos, movendo-se do mesmo modo. O Wabbler continuou andando e andando, com determinação, empurrado pela maré.
Antes que a maré mudasse, o Wabbler deslocara-se três quilômetros e pouco em direção à terra. Porém não em linha reta. Sua cauda rastejante e flexível mantinha-o na água mais profunda, e dentro da correnteza mais forte. Movia-se deliberadamente, quase sempre com pequenos arrancos, seguindo a correnteza. Esta era mais forte quando se dirigia para a entrada do ancoradouro. Ao andar os três quilômetros em direção à costa, o Wabbler também se movera uns. três quilômetros mais próximo do ancoradouro.
Chegou um momento, entretanto, em que a maré ficou parada. O Wabbler cessou os movimentos. Por meia hora ficou suspenso, muito quieto, balançando-se suavemente mas sem fazer nenhum progresso em sua marcha, enquanto o tique-tique-tique-tique do seu cérebro opunha a paciência à intenção. No fim de meia hora, ouviram-se fracos sons tintinantes dentro do seu corpo. A boca blindada soltava bolhas de ar. Afundou e parou e soltou mais borbulhas e afundou mais ainda. Deslizou muito suave e cautelosamente para dentro do limo. Então, deixou escapar mais bolhas de ar e repousou no fundo.
Esperou; dentro dele, seu cérebro tiquetaqueava impaciente, porém impassíveis os orifícios semelhantes a olhos. Permanecia na escuridão, como se fosse uma criatura de um outro mundo, esperando o evento pré-ordenado.
Ficou ali, durante horas, sem qualquer sinal de atividade. Cerca do fim desse período, a parte superior do mar tornou-se fracamente acinzentada. Tudo era ainda muito indistinto. Não era suficiente, com toda probabilidade, para que mesmo o Wabbler detectasse o leve movimento de objetos semiflutuantes no fundo do mar, movimentados pela maré vazante. Mas houve um momento em que até esses movimentos cessaram. Novamente o mar ficou parado. Era plena maré vazante. E agora o Wabbler agitou-se.
Retiniu suavemente e oscilou, no ponto em que repousava no lodo. Uma nuvem de lama remexida elevou-se, como se o Wabbler tivesse esguichado jatos de água da sua parte inferior. Cambaleou para um lado e para outro, puxando, e logo seu corpo libertou trinta ou sessenta centímetros e, depois, noventa ou um metro de sua cauda — mas ainda se retorcia e cambaleava espasmodicamente — e então, subitamente, deixou o fundo do mar e flutuou livre.
Mas só por um momento. Quase imediatamente sua cauda libertou-se, o Wabbler cuspiu bolhas de ar e de novo desceu suavemente até o fundo. Pousava na ponta da sua cauda. Cuspiu mais borbulhas. Trinta — sessenta — noventa centímetros de sua cauda descansavam no limo. Esperava. Logo, a maré enchente movimentou-o novamente.
Flutuava sempre com a correnteza. De uma vez, chegou a uma curva no canal mais profundo e a maré tinha a tendência de varrê-lo, para fora e além do canal. Mas sua cauda resistia à tentativa. No final, o Wabbler nadou, majestosamente, de volta para a água mais profunda. A correnteza era mais forte ali. Continuou andando e andando à magnífica velocidade de dois nós.
Mas quando a correnteza diminuiu, no momento em que a mudança da maré se aproximava, o Wabbler parou novamente. Oscilava acima de um metro da cauda, cujos outros dois metros e meio estavam ainda enroscados no lodo. Seu cérebro fazia tique-tique-tique-tique e emitia outros sons. Soltava borbulhas. Afundou e parou e soltou mais bolhas de ar e afundou, cautelosamente, outra vez: pousou com prudência no lodo.
Durante esse tempo de espera, o Wabbler ouviu muitos sons. Muitas vezes, durante o fluxo da maré, e também pela maré vazante, a água trouxe o barulho ronronante e sussurrante de motores. Certa vez, um barco aproximou-se muito. Ouviu-se um estranho som sibilante na água. Alguma coisa — uma linha longa — passou perto, lá por cima. Um varredor de minas e um caça-minas patrulhavam o mar, esforçando-se por detectar e arrancar minas submarinas. Mas o Wabbler não tinha um cabo de âncora para ser puxado pelo caça-minas. Permanecia, passivamente, no fundo. Porém seus olhos fitavam para cima com uma calma mortífera, até que o caça-minas se afastou.
Mais uma vez, durante as horas do dia, o Wabbler sacudiu-se, livrando-se do lodo do fundo, e nadou com a maré. E, mais uma vez — com outra espera na lama, enquanto a maré vazava —, durante a noite. Mas o dia e a noite significavam pouco para o Wabbler. Seu cérebro tiquetaqueante continuava a funcionar, incansavelmente. Parou e nadou e nadou e parou com a pertinácia impassível de uma máquina e sempre se deslocando na direção dos lugares onde a maré fluía com mais rapidez e onde os canais eram mais pronunciados.
Finalmente, chegou até um lugar onde a profundidade não passava de doze metros e uma nítida luz azul-esverdeada penetrava a água. Era a luz do sol da superfície. Nessa luz, o Wabbler era plenamente visível. Adquirira uma capa de algas e limo que formava uma espécie de aura de tentáculos esverdeados e ondulantes. Seus arremedos de olhos pareciam agora pequenos, como os de uma serpente e também muito sábios e malignos. Continuava sem queixo e sua cauda rastejante fazia-o parecer, mais do que nunca, um demônio sem corpo, saído de um inferno metálico. E agora chegou a um lugar onde, por um momento, sua cauda prendeu-se numa obstrução qualquer e, enquanto puxava para se libertar, um dos seus irmãos passou flutuando. Passou a menos de seis metros do quarto Wabbler e ambos podiam verse claramente. Mas o quarto Wabbler estava preso. Balançava para a frente e para trás na preamar, tentando soltar-se, enquanto o seu companheiro nadava implacavelmente para a frente.
Uns vinte minutos depois daquele quase encontro, houve uma explosão colossal em algum lugar e depois disso muitos sons indistintos ronronantes no mar. O Wabbler deve ter sabido o que acontecera ou talvez não. Uma rede anti-submarinos que se estenda de um lado a outro na entrada do ancoradouro não é coisa da qual a maioria das criaturas tenha conhecimento, mas era parte do ambiente do Wabbler. Seu cérebro tiquetaqueante talvez tenha interpretado a explosão com rigor, quando o destino de seu irmão encontrou aquela barreira. É mais provável que o cérebro apenas tivesse notado, com alívio, que o abalo quebrara o que o havia prendido à obstrução no lodo. O Wabbler deslocou-se para a frente no rastro do seu companheiro. Movimentava-se tranqüila e solenemente, com uma espécie de intencionalidade terrível, seguindo a correnteza da maré. Mais adiante havia uma grande rede que se estendia de um lado a outro do canal, muito além de qualquer distância que o Wabbler, supostamente, pudesse ver. Mas bem onde o Wabbler deveria passar, havia um enorme buraco aberto na rede. Para um lado jazia a cauda de outro Wabbler, arrancada do seu corpo.
O quarto Wabbler atravessou o rombo. Realmente, foi muito simples. Sua cauda, por uns momentos, raspou a rede e logo estava dentro do ancoradouro. E então o tique-tique-tique-tique do seu cérebro foi muito nítido e incisivo, pois esta era a oportunidade de cumprir o seu destino. Parou para escutar o barulho de motores, calculando a altura do som com precisão sinistra, e, dentro da bacia arredondada que lhe abrigava o cérebro, media coisas tão abstratas como variações no componente vertical do magnetismo terrestre. Havia muitos sons e muitas variações para observar, também, porque as embarcações de superfície fervilhavam pelo cenário de uma violenta explosão recente. Seus motores ronronavam e ressoavam e seus cascos de aço produziam marcantes mudanças locais na força magnética. Porém nenhuma delas chegou o suficientemente perto do Wabbler para ser o seu destino.
Continuou andando, andando, à medida que a maré subia. O ancoradouro era muito ativo, com muitas embarcações pequenas se movimentando e mais de uma vez, nessas horas diurnas, coisas que voavam pousaram na água e alçaram vôo novamente. Mas acontece que nenhuma chegou bastante perto. Uma hora depois de sua entrada no ancoradouro, o Wabbler encontrava-se numa espécie de redemoinho, numa bacia, e fez, lentamente, quatro círculos no mesmo lugar — num dos quais chegou perto das fileiras cerradas do estaqueamento — antes da hora da maré enchente. Mas, mesmo aqui, o Wabbler, depois de balançai levemente, sem fazer nenhum progresso, talvez durante uns vinte minutos, emitiu uns sons tilintantes dentro de si mesmo, deixou sair algumas bolhas de ar e deslizou até o fundo lodoso para esperar.
Ficou ali, inclinado, fitando para cima com seus pequenos olhos redondos, capazes de ver, num olhar de impassível expectativa. Pequenas embarcações perambulavam lá em cima. Numa ocasião, ouviu-se o barulho surdo de motores e o casco de madeira de uma embarcação nadou, na superfície da água, até o cais cujas pilastras o Wabbler vira. Então, rangidos partiram daquelas pilastras. O Wabbler poderia ter sabido que guindastes estavam trabalhando. Mas este, tampouco, era o seu destino.
Ouviram-se outros sons mais fortes. O guincho de engrenagens. Um nítido borbulhar de água se precipitando. Continuou e continuou. Evidentemente não se podia, de modo algum, esperar que o Wabbler compreendesse que esses sons borbulhantes, submarinos, fossem típicos de um dique seco se enchendo — inundação que começaria quase na maré baixa, quando o grande barco estivesse pronto para sair na preamar. Especialmente, não se podia esperar que o Wabbler soubesse que um grande navio de guerra ocupara o enorme e importante dique seco, e que o seu retorno ao serviço ativo restituiria muito poder à frota inimiga. Certamente, ele podia saber que, na mesma bacia, outro grande navio de guerra esperava impaciente para ser reparado. Mas, o tique-tique-tique-tique agitado que era o cérebro do Wabbler estava, agora, extraordinariamente nítido e incisivo.
Quando a maré enchente começou, novamente, o Wabbler espirrou jatos de água e balançou para a frente e para trás, até soltar-se do fundo. Ficou parado, com aparente impaciência — engrinaldado de algas e coberto de limo esverdeado — acima da cauda que balançava, rodando o lodo do ancoradouro. Parecia estar vivo e inumano e sem queixo e tinha um aspecto intensamente demoníaco, algo saído de uma geena submarina. E, depois, quando a maré começou a fluir e a água a redemoinhar em redor das docas e das comportas do dique seco, o Wabbler rumou decididamente para o lugar onde a água borbulhava, passando através de comportas.
Os barulhos no ar não chegavam até o Wabbler. Os sons debaixo da água, sim. Ouvia o troar rilhante de guindastes a vapor e escutou os guinchos penetrantes das comportas do dique seco quando se abriam. Eram portões enormes que causaram seu próprio redemoinho. O Wabbler nadou até o centro exato do redemoinho e ficou ali suspenso, esperando. Agora, pela primeira vez, parecia excitado. Dir-se-ia estremecer ligeiramente. Uma vez, quando o redemoinho dava a impressão de querer trazê-lo à superfície, soltou, pacientemente, bolhas pela abertura que parecia uma boca. E o seu cérebro fazia tique-tique-tique-tique dentro dele e, dentro da bacia que o continha, o cérebro media variações no componente vertical do magnetismo terrestre e, entre outras medições, notou o efeito de pequenos rebocadores que se aproximavam mas não entravam no dique seco. Apenas jogavam cabos lá dentro para poder rebocar o encouraçado para fora. Mas tampouco eram os rebocadores o destino do Wabbler.
Ouviu suas hélices girar, produzindo, na verdade, um barulho agradável. Mas o Wabbler estremeceu com impaciência, pois, em algum lugar dentro de si mesmo notou uma vasta variação no componente vertical magnético que aumentava e aumentava constantemente. Esse era o encouraçado saindo, muito lentamente, do seu lugar no dique seco. Moveu-se muito devagar, mas com muita firmeza, em direção ao Wabbler, e o Wabbler sabia que o seu destino estava próximo.
De algum lugar, muito longe, ouviu-se o som surdo e angustiante de uma explosão. O Wabbler teria compreendido, talvez, que outro dos seus irmãos chegara ao seu destino, mas não deu importância a isso. Seu próprio destino se aproximava. A proa de aço do encouraçado aproximava-se cada vez mais e, então, as chapas de metal do casco estavam bem em cima, e alguma coisa fez um leve clique dentro do Wabbler. O destino estava iminente, agora. Esperou, tremendo. A massa de aço, dentro do alcance dos seus sentidos, avolumou-se cada vez mais. A tensão ao reprimir-se, tornou-se mais intensa. O tique-tique-tique-tique do cérebro do Wabbler parecia acelerar-se numa velocidade frenética — intolerável. Então...
O Wabbler cumpriu o seu destino. Tornou-se uma bola chamejante de gases incandescentes — a detonação de cento e quarenta quilos de poderoso explosivo — bem embaixo da quilha de um encouraçado de trinta e cinco mil toneladas, que, nesse momento, estava a meio caminho, saindo do dique seco. As portas estanques do barco estavam abertas e a sua força auxiliar desligada, por isso não puderam ser fechadas. Havia muita necessidade desse dique seco e os reparos não eram completados nele. Mas era o destino do Wabbler acabar com tudo aquilo. Em três minutos o encouraçado jazia arrebentado no fundo da água, metade para fora e metade para dentro do dique seco. Adernou ao afundar e os seus mastros e torres de combate pareciam despojos demolidos, junto às paredes do dique seco. Tanto o cruzador como o dique estavam fora de ação para o resto da guerra.
E o Wabbler...
Muito, muito tempo depois — anos depois —, escafandristas terminaram de cortar o encouraçado afundado, para sucata. A última massa de metal cortado subiu no guindaste. O último mergulhador andou tropegamente, pela água lodosa do ancoradouro. Seus pesados sapatos esbarraram em alguma coisa. Tateou no escuro para ver se ainda havia alguma coisa para ser resgatada. Encontrou uma cauda de metal flexível de três metros e meio. O resto do Wabbler cessara de existir. Cronômetro, aparelho para medir o tempo das marés, válvulas, tanques de ar comprimido e todo o balanço do seu intrincado interior voaram, reduzidos a átomos, quando o Wabbler realizara o seu destino. Somente a cauda flexível continuava intacta.
O escafandrista concluiu que não valia a pena mandar baixar a linha novamente. Deixou a cauda cair no lodo e puxou a corda, para ser içado até a superfície.
O METEOROLOGISTA
Esta é uma história com um título enganadoramente inocente, mas inteiramente adequado. Algum dia o homem poderá manipular o clima — e quando isto acontecer, os padrões do poder global serão irremediavelmente mudados. Mas, há muito mais além de meteorologia e política em "O Meteorologista"; trata de relações pessoais, de impulsos irracionais que às vezes motivam os seres humanos — e termina com uma rápida e terrificante visão da nossa estrela mais próxima: o sol. Em todos os níveis, é um tour-de-force da ficção científica.
Theodore Thomas, que mora em Lancaster, Pennsylvania, é um bem-sucedido advogado de patentes cujos hobbies incluem a pesca submarina; uma vez vi-o atravessar o rio Delaware de um modo que deixaria Washington atônito. Sob o pseudônimo de "Leonard Lockhard", já escreveu alguns artigos-contos alegres, embora fundamentalmente sérios, ironizando o vacilante caos da lei de patentes dos Estados Unidos. Uma lei, na qual estou morbidamente interessado, relaciona-se com a impossibilidade de tirar uma patente de um satélite de comunicações até que seja muito tarde para ter algum valor.
O METEOROLOGISTA
...E o nome "Instituto de Meteorologia" continuou a ser usado, embora a organização propriamente dita tivesse mudado bastante na forma. Naquele tempo o Congresso de Meteorologia era composto de três divisões. A primeira era política — o Conselho de Meteorologia. A segunda era o ramo científico — os Consultores de Meteorologia. A terceira era a parte operante — o Instituto de Meteorologia. Todas as três divisões eram relativamente independentes e cada...
Enciclopédia Colúmbia, 32.a Edição Editora da Colúmbia University
Jonathan H. Wilburn abriu os olhos e imediatamente sentiu a tensão do dia. Ficou deitado, confuso, procurando a origem dessa tensão. Era o começo de um outro dia em Palermo. Os barulhos da rua eram normais, seu apartamento silencioso, estava se sentindo muito bem. Era isso. Sentia-se bem, muito bem, cheio de vigor e força mental e com uma sensação de estar pronto para o que desse e viesse.
Com um só movimento atirou as cobertas para trás e ficou de pé junto à cama. Nada mau para um homem que completara cinqüenta anos na semana passada. Entrou no chuveiro e dissolveu o pijama na rica espuma da loção de limpeza. Enxugou-se e ficou parado, imóvel, no centro do seu quarto de vestir. A tensão e a excitação permaneciam com ele. Fez a barba, vestiu-se e, quando enfiava a jaqueta, lembrou-se.
Em algum momento, durante a noite, enquanto dormia, decidira que era chegado o tempo de tomar uma atitude. Estava com cinqüenta anos, criara, cuidadosamente, uma boa reputação e chegara tão longe quanto era possível no curso normal dos acontecimentos. Agora era o momento de forçar, a hora de se arriscar. Para chegar ao alto na política é necessário arriscar-se.
Wilburn terminou de vestir a jaqueta. Olhou-se no espelho e arreganhou os dentes. Agora sabia por que o dia parecera diferente. Mas saber a razão não diminuía em nada a tensão. Viveria e trabalharia, alerta, esperando uma oportunidade para agarrar o deus da sorte e dar-lhe uma boa sacudidela.
Conduzira-se cautelosamente durante um quarto de século, planejando cada movimento, assegurando de antemão o sucesso do empreendimento antes de se comprometer. Lentamente subira os degraus da política, o Congresso, o Senado, as Nações Unidas, uma embaixada, várias presidências de emergência e, finalmente, a elite dos órgãos políticos: o Congresso de Meteorologia. Sua reputação estava consagrada, era conhecido como um diplomata brilhante e afável, alguém com exímia habilidade para conseguir a conciliação entre os Conselheiros hostis. Arrebanhara um considerável número de seguidores entre os duzentos membros do Conselho de Meteorologia. Mas, na política como em qualquer outra coisa, quanto mais alto se sobe tanto mais difícil torna-se a escalada. Wilburn, subitamente, chegou à conclusão de que não fizera nenhum progresso nos últimos quatro anos. Então chegou seu qüinquagésimo aniversário.
Naquela manhã Jonathan Wilburn tomou o desjejum com sua mulher. Harriet era uma mulher esguia, calmamente sensata no seu papel de esposa de um membro do Conselho de Meteorologia. Numa rápida olhada viu que seu marido estava tenso como um arame esticado. Ligou o Diner e colocou o café na frente dele. Enquanto ele o tomava, preparou dois ovos com sabor de cebola e cuidadosamente regou-os com o molho de porco que ele tanto apreciava; ela não confiava no Diner para que saíssem perfeitos. Enquanto trabalhava, conversava sobre as notícias do jornal da manhã. Wilburn tomou o seu desjejum, escutando distraído, sorrindo e resmungando respostas e ao mesmo tempo olhando para um ponto indefinido. Despediu-se de Harriet com um beijo e subiu na calçada rolante.
Foi conduzido pela calçada, no fresco ar da Sicília e logo impacientou-se de ficar parado. Saiu da calçada e andou, sentindo prazer em esticar as pernas. A distância, podia ver a cúpula do edifício principal do Conselho e sua mente voltou ao problema que o preocupava nesse momento. Mas, mesmo pensando nele, sabia que não era nada que pudesse resolver antecipadamente. Era uma coisa que teria que enfrentar de improviso. E precisava estar alerta para reconhecê-la quando viesse.
Wilburn voltou a subir na calçada rolante e nela foi até o Conselho.
Entrou no Grande Hall pelas escadas norte, e andou ao longo da parede leste até as escadas que levavam ao seu gabinete. Um grupo de excursionistas era conduzido através do Grande Hall por um guia uniformizado, que descrevia as maravilhas do Hall. Quando o guia viu Wilburn se aproximando, interrompeu o que dizia para exclamar: — E em nossa direção, à nossa esquerda, aproxima-se o Conselheiro Wilburn, de um Distrito do leste dos Estados Unidos, de quem já ouviram falar, e que desempenhará uma parte importante na votação de hoje para reduzir a água disponível no norte da Austrália!
Os excursionistas pararam, tropeçando uns nos outros à inesperada aparição de uma tal celebridade. Wilburn sorriu e abanou para eles, com isto, confundindo-os ainda mais, mas não parou para conversar. Sabia, pelos comentários do guia, que nenhum eleitor seu encontrava-se no grupo; o guia teria dado um jeito de avisá-lo para que pudesse agir de acordo. Wilburn sorriu para si mesmo — um funcionário público tinha muitas vantagens que um mero candidato não alcançara.
Wilburn dirigiu-se às escadas rolantes e subiu junto com o Conselheiro Georges DuBois, da Europa Central. DuBois disse:
— Eu o escutei. Você já decidiu como vai votar nesta questão da situação australiana, Jonathan?
— Inclino-me a um sim, mas não sei. Você sabe?
DuBois sacudiu a cabeça. — Sinto a mesma coisa. Algo que devemos fazer com a maior cautela. É uma coisa horrível fazer os homens sofrer e muito pior é fazê-lo a mulheres e crianças. Eu não sei.
Subiram até o alto da escada em silêncio e antes de se separarem Wilburn falou: — Minha mulher está comigo em tudo o que eu faço, Georges.
DuBois olhou para ele pensativamente por uns instantes e depois disse: — Sim, compreendo o que você quer dizer. As mulheres de lá têm tanta culpa quanto os homens e merecem ser tão castigadas quanto eles. Sim, isso há de ajudar-me se votar a favor. Vejo você no Conselho. — Despediram-se com um gesto mudo de respeito e compreensão mútua. DuBois era um dos Conselheiros mais ponderados e sabia bem, mais do que a maioria, a terrível responsabilidade que pesava sobre os membros do ramo político do Congresso de Meteorologia.
Wilburn cumprimentou com a cabeça os membros de sua assessoria quando passava pelo escritório externo. Uma vez sentado à mesa de trabalho, concentrou-se para assumir as múltiplas tarefas que o esperavam. A pequena pilha de papéis, arrumada cuidadosamente no centro de sua mesa, diminuía à medida que apanhava um papel após outro, ditava as palavras que resolveriam cada caso e jogava-o numa outra pilha.
Estava apenas terminando quando uma suave voz masculina fez-se ouvir pelo alto-falante:
— Tem tempo para ver um amigo?
Wilburn sorriu e levantou-se para abrir a porta da sala de trabalho ao Conselheiro Gardner Tongareva. Os dois homens sorriram e apertaram as mãos. Tongareva afundou-se numa das poltronas de Wilburn. Era um homem de pele amarela, um polinésio, enrugado, velho e sábio. Suas calças eram largas e curtas, remanescentes do sarong usado pelos seus antepassados. O cabelo era branco e a expressão do rosto simpática e bondosa. Tongareva era um desses raros homens cuja mera presença fazia surgir sorrisos nos lábios dos companheiros e paz nos seus corações. Gozava de enorme influência no Conselho, simplesmente pela força de sua personalidade.
Seu Distrito situava-se entre 15-30 graus latitude norte e 150-165 graus longitude leste, os mesmos quinze por quinze graus de uma área habitada da Terra, igual ao Distrito de cada um dos outros Conselheiros.
No caso de Tongareva, porém, a terra era surpreendentemente pequena. O único pedaço de terra na inteira região era a Ilha Marcus de dois e meio quilômetros quadrados, habitados exatamente por quatro pessoas. Este era um grande contraste com as 100 milhões de pessoas que habitavam o Distrito de Wilburn, de 30-45 graus latitude norte e 75-90 graus longitude oeste. Entretanto, repetidas vezes, quando os votos dos duzentos conselheiros, apoiados pelo peso de uma vasta população, eram contados, tornava-se evidente que Tongareva influíra numa grande percentagem do mundo inteiro.
Wilburn recostou-se no espaldar da cadeira e perguntou:
— Já chegou a uma decisão sobre a seca da Austrália? Tongareva assentiu com a cabeça. — Sim, já. Acredito que
não temos escolha senão submetê-los a um ano de seca. Crianças malcriadas devem ser castigadas e, por dois anos, essas pessoas têm persistido em manter um balanço comercial mal equilibrado. O que, na realidade, está envolvido aqui, Jonathan, é um desafio à autoridade suprema do Congresso de Meteorologia sobre todos os povos do mundo. Esse pessoal de Queensland e do Território Norte é gente teimosa. Eles não acreditam, realmente, que podemos ou iremos castigá-los, controlando seu clima em prejuízo deles. Devem ser punidos imediatamente ou outras regiões do mundo começarão a causar problemas. Desta vez uma simples estiagem para retirar-lhes sua viçosa prosperidade será suficiente. Mais tarde poderá tornar-se necessário fazê-los sofrer e ninguém deseja isso. Sim, Jonathan, meu voto será dado em favor da seca australiana.
Wilburn balançou a cabeça com gravidade. Via agora que o voto, quase certo, seria em favor do castigo. A maioria dos Conselheiros parecia sentir que era necessário e todos estavam relutantes em causar sofrimento. Mas, quando Tongareva declarasse sua posição como acabara de fazer, a relutância seria posta de lado. Wilburn falou:
— Concordo com você, Gardner. Você colocou em palavras os pensamentos da maioria de nós sobre este assunto. Votarei com você.
Tongareva permaneceu calado, mas continuou fitando Wilburn com insistência. Não era um olhar perturbador; nada do que fazia era desconcertante. Tongareva falou:
— Você é um homem diferente esta manhã, meu bom amigo. Assim como nestas últimas semanas também, você tem sido um homem diferente. Você resolveu o que quer que fosse que o perturbava e eu estou satisfeito. Não — levantou a mão ao ver que Wilburn ia falar. — É desnecessário discuti-lo. Quando precisar de mim estarei aqui para ajudá-lo. — Ficou de pé, acrescentando: — E agora devo ir discutir a situação australiana com alguns dos outros. — Sorriu e saiu antes que Wilburn pudesse dizer alguma coisa.
Wilburn ficou olhando, espantado com a enorme habilidade de Tongareva em compreender o que se passara com ele. Sacudiu a cabeça e acalmou-se e, então, encaminhou-se para sua sala de espera a fim de falar com uma dezena de pessoas que esperava para vê-lo.
— Sinto tê-los feito esperar — disse, dirigindo-se a todos, —, mas as coisas andam num ritmo febril aqui no Conselho esta manhã, como acho que devem saber. Por favor, desculpem-me por não estar com cada um de vocês a sós, mas seremos chamados para assuntos do Conselho em poucos minutos. Não queria perder a oportunidade de ver a todos por um ou dois minutos pelo menos. Talvez possamos nos encontrar hoje à tarde ou amanhã de manhã.
E Wilburn deu volta à sala, apertando mãos e fixando em sua mente o nome de cada visitante. Dois deles não eram seus eleitores. Eram intermediários políticos ou representantes dos Distritos do norte da Austrália, e lançaram-se numa arenga contra a tomada de uma ação punitiva contra os referidos Distritos.
Wilburn levantou a mão e disse:
— Cavalheiros, esta matéria não pode ser discutida nestas circunstâncias. Escutarei seus argumentos pró e contra no Plenário do Conselho, em nenhum outro lugar. Isto é tudo. — Sorriu e ia continuar sua volta pela sala quando o mais moço dos dois agarrou-lhe o braço, virou-o, fazendo com que o encarasse novamente e disse:
— Mas, Conselheiro, o senhor deve escutar. Esta pobre gente está sendo submetida a sofrimentos pelos atos de alguns dos seus líderes. O senhor não pode...
Wilburn desvencilhou-se da mão que o prendia, deu rapidamente um passo até a parede e apertou um botão. O representante empalideceu e disse:
— Oh, espere, Conselheiro, não quis lhe fazer mal. Por favor não apresente queixa contra mim. Por favor...
Dois homens com o uniforme do Congresso de Meteorologia entraram apressadamente pela porta. A voz de Wilburn era calma e sua expressão impassível, mas seus olhos cintilavam como cristais de gelo. Apontou, dizendo para os guardas: — Este homem agarrou o meu braço para forçar-me a escutar seus argumentos sobre assuntos do Conselho. Quero registrar uma queixa contra ele.
Tudo aconteceu tão rápido que o resto dos visitantes teve dificuldade em se lembrar exatamente o que acontecera. Mas as fitas se lembrariam, e Wilburn sabia que ao representante nunca mais lhe seria permitido entrar nas dependências do Congresso de Meteorologia. Os dois guardas, silenciosamente, retiraram-se da sala. O outro intermediário disse:
— Sinto muito, Conselheiro. Sinto-me responsável por sua conduta; ele é novo.
Wilburn balançou a cabeça e começou a falar, mas um carrilhão suave e musical soou repetidamente na sala. Wilburn disse para os visitantes:
— Por favor, com suas licenças. Preciso ir ao Plenário do Conselho agora. Se desejarem, podem assistir aos trabalhos, no Auditório dos Visitantes. Obrigado por virem me visitar, e espero que possamos falar mais em outra ocasião. — Abanou, sorriu e voltou para o seu gabinete.
Apressadamente, verificou com seus assistentes se estavam prontos para o trabalho do dia. Todos estavam a postos, todos sabiam o seu papel no debate que teria lugar no Plenário. Wilburn, então, tomou a esteira rolante para o Plenário, caminhando os últimos noventa metros do hall accessível ao público, onde podia ser visto. Ao chegar às portas principais vários repórteres pediram permissão para se aproximar, mas ele recusou, desejava chegar cedo à sua mesa e começar a trabalhar.
Atravessou as portas e andou por um hall curto e largo que o levou até o Plenário. Entrou num recinto enorme e andou pelo corredor central, entre os lugares dos outros membros do Conselho, até sua mesa. Alguns Conselheiros já estavam lá e o Registrador chamou o nome de Wilburn, olhou para ele e abanou. Wilburn abanou em resposta e continuou andando até a sua mesa de alta prioridade, que ficava bem na frente. Sentou-se e começou a apertar os botões e ligar as chaves que o punham em contato com tudo o que estava acontecendo. Imediatamente, uma luz se acendeu, indicando que um dos Conselheiros que estava já sentado no Plenário desejava falar com ele. O Conselheiro Hardy da longitude oeste 165-180 e latitude sul 30-45 — que continha a maior parte da Nova Zelândia — disse-lhe:
— Diga, Jonathan, você já falou com Tongareva?
— Sim, George, já falei.
— Vai votar do jeito que ele quer?
— Sim, embora gostasse de esperar, para ouvir o que for dito em oposição a isso, antes de decidir-me definitivamente. De que lado você está?
Houve uma pausa perceptível e então Hardy respondeu:
— Provavelmente votarei contra, a não ser que alguém expresse a extrema relutância do Conselho de votar em favor da seca.
— Por que é que não o faz, George?
— Talvez o faça. Obrigado Jonathan — disse, cortando o circuito.
Wilburn olhou em volta do enorme recinto e, como sempre, sentiu-se um pouco espantado pelo que via. Era mais do que a impressionante disposição das duzentas grandes mesas, a cadeira elevada do Presidente, o enorme painel que mostrava o tempo, no momento, em cada parte da superfície da Terra e a sala de comunicações adjacente à sala principal. Havia uma aura neste grande salão que era sentida por todos os homens e mulheres que entravam nele, fosse para trabalhar ou simplesmente para visitá-lo. O destino da Terra estava centralizado ali e ali estivera nos últimos cinqüenta anos. Deste recinto emanavam as decisões que controlavam o mundo.
O Congresso de Meteorologia era o poder supremo da Terra, capaz de dobrar Estados, nações, continentes e hemisférios à sua vontade. Que ditador, que país poderia sobreviver quando não caía uma gota de chuva durante um ano? Ou que ditador, ou país poderia sobreviver quando estivesse sob uma espessa camada de quinze metros de neve e gelo? O Congresso de Meteorologia podia congelar o rio Congo ou secar o Amazonas. Podia inundar o Saara ou a Terra do Fogo. Podia degelar a tundra e elevar ou descer os níveis dos oceanos à vontade. E aqui, neste Plenário, todas as decisões políticas eram tomadas e o Plenário parecia adquirir um pouco do sentimento que fora expresso durante o último meio século, depois dos primeiros dias tormentosos até o presente mais estável e ponderado. Era uma assembléia poderosa e fazia sentir o seu poder através daqueles que tinham assento nela.
Um grande número dos Conselheiros já chegara ao seu lugar. Outro carrilhão tocou e os pedidos meteorológicos começaram a ser entregues aos Conselheiros. O Relator leu-os e sua voz chegava a cada mesa através de um pequeno receptor. Ao mesmo tempo os pedidos escritos apareciam no grande painel. Deste modo os Conselheiros podiam trabalhar em outras tarefas enquanto mantinham um olho nas solicitações.
O primeiro pedido, como sempre, veio dos Amantes do Humilde Cacto e queriam menos chuva e mais desolação no Vale da Morte para salvar os suculentos cactos da extinção.
Wilburn chamou a mesa de Tongareva e disse:
— Com quantos você já falou, Gardner?
— Com uns quarenta, Jonathan. Peguei um grupo grande, tomando uma xícara de café.
— Já falou com Maitland?
Seguiu-se uma pausa perceptível. Maitland parecia sempre estar contra qualquer coisa que Wilburn defendesse. Seu distrito era 60-75 longitude oeste e 30-45 latitude norte, adjacente ao Distrito de Wilburn e incluindo a Cidade de Nova York e Boston.. Maitland sempre deixava claro que considerava Wilburn incompetente para a posição de influência que exercia no Conselho: — Não — disse Tongareva, e Wilburn podia vê-lo sacudir sua grande cabeça —, não, não falei com Maitland.
Wilburn desligou, escutou e observou. O presidente da Bolívia queixava-se de que a região que circundava Cochabamba estava recebendo mais frio do que ele achava conveniente. O prefeito de Avigait, na Groenlândia, afirmava que a colheita de milho era dez por cento menor naquele ano, devido a cinco centímetros de chuva extra e cobertura excessiva de nuvens. Wilburn balançou a cabeça; esse era um pedido que devia ser atendido com urgência. Apertou um botão na sua mesa, marcado "favorável" para assegurar-se que seria considerado por todo o Conselho.
O telefone tocou. Era um eleitor, pedindo-lhe para dirigir algumas palavras ao Rotary Clube Combinado, na sua reunião anual, no próximo dia 27 de outubro. Uma luz acendeu-se no painel, pois a assessoria de Wilburn, controlando e checando tudo, indicava que nesse dia ele estaria livre. — Sim, muito obrigado, sim — disse Wilburn, aceitando o convite. — Terei muito prazer com essa oportunidade de falar ao seu grupo. — Sabia que não havia feito nenhuma palestra nessa região há mais de um ano e já era tempo de fazê-lo. Sua assessoria talvez até tivesse engendrado toda a coisa, sutilmente.
Um fazendeiro de Gatrum, Líbia, queria que diminuíssem a água do seu vizinho de modo que todas suas colheitas fossem da mesma altura.
Logo, uma conferência entre uma meia dúzia de Conselheiros foi organizada para discutir a ordem de pronunciamentos sobre a situação australiana. Enquanto se tratava disso, Wilburn anotou um pedido do Ceilão para que lhe fosse permitido mudar sua colheita de arroz para milho nas seções insulares, com uma correspondente redução pluviométrica e temperatura média. Apertou o botão de "favorável".
Foi decidido que Georges DuBois, da Europa Central, introduzisse a proposta de seca, em linguagem apropriadamente relutante.
Um certo George Andrews, de Holtville, Califórnia, queria ver neve cair novamente antes de morrer — o que se daria em poucas semanas agora — não importava que fosse julho. Tampouco podia deixar o clima semitropical de Holtville.
Tongareva apoiaria a proposta, e então ouviriam o Conselheiro dos Distritos australianos apresentar suas razões para que a punição não devesse ser aplicada. Depois disso tocariam de ouvido.
A cidade portuária de Estocolmo solicitou um acréscimo de quinze centímetros de elevação no Mar Báltico. Kobdo, Mongólia, queixou-se que havia ocorrido duas avalanchas desastrosas devido à carga excessiva de neve. E foi ali que os cabelos na nuca de Wilburn começaram a formigar.
Ficou rígido e olhou em volta, para ver a origem dessa estranha sensação. O Plenário fervilhava de atividade. Tudo estava normal. Ficou de pé, mas não podia ver mais nada. Viu Tongareva olhar para ele. Deu de ombros e sentou-se novamente, fitando a bateria de luzes da sua mesa. Sentia a pele fervilhar à medida que a adrenalina se despejava nas veias, fazendo-o sentir-se imoderadamente excitado. O que era? Agarrou as beiradas da mesa de trabalho, fechou os olhos e forçou-se a pensar. Isolou toda atividade à sua volta, obrigando sua mente a relaxar e encontrar a fonte daquele estímulo. O problema australiano? Não, isso não. Era... era alguma coisa relacionada com os pedidos meteorológicos. Abriu os olhos, apertou o botão de "playback" e estudou novamente os pedidos.
Um após outro, agora com mais rapidez, apareciam fugazmente na tela minúscula da sua mesa. Avalanchas, o nível do Mar Báltico, neve no sul da Califórnia, a mudança de arroz para trigo, no Ceilão, o fazendeiro líbio, o... espere. Descobrira agora, voltou para o pedido e leu-o lentamente.
George Andrews, de Holtville, Califórnia, queria ver neve cair, novamente, antes de sua morte próxima e estava impossibilitado de deixar o clima semitropical da Califórnia do Sul. Quanto mais Wilburn olhava, mais certeza tinha de que aquilo parecia ter tudo do que ele precisava. Tinha um apelo universal: um moribundo com um último pedido. Seria difícil: neve caindo em julho, no sul da Califórnia, era coisa desconhecida; nem tinha certeza de que pudesse ser feito. Era quase completamente irracional; o Conselho nunca dera importância a tais pedidos no passado. Quanto mais Wilburn olhava para aquilo tanto mais ficava convencido de que encontrara a verdadeira causa onde pudesse arriscar sua carreira. Todas as pessoas do mundo estariam por trás dele, apoiando-o, se conseguisse realizá-lo. Lembrou-se de como fora tradição dos presidentes americanos mostrar, ocasionalmente, grande interesse por um indivíduo sem importância. Se falhasse, provavelmente estaria acabado para a política, mas essa era uma oportunidade que não devia desperdiçar. E havia alguma coisa com respeito ao nome George Andrews, alguma coisa que tocava, perturbando, vagamente, o fundo de sua mente, alguma coisa que o atraíra para o pedido em primeiro lugar. Não tinha importância. Estava na hora de chamar à ação todas as forças que pudesse reunir.
Pôs toda sua assessoria no circuito e cortou todos os outros contatos. Disse: — Estou considerando apoiar o pedido de George Andrews. Fez uma pausa para permitir que a declaração fosse bem compreendida, sorrindo para si mesmo do choque do seu pessoal; nunca tinham ouvido algo tão inusitado da parte dele. — Verifiquem tudo o que puderem sobre George Andrews. Assegurem-se de que esse pedido é verdadeiro e não uma cilada para um conselheiro inocente como eu. Particularmente, certifiquem-se que não existe nenhuma ligação entre George Andrews e o Conselheiro Maitland. Chequem com Greenberg, da Consultoria, quais são as chances de encontrar uma solução do problema de neve em julho no sul da Califórnia, numa área muito restrita. De posse da resposta, entrem em contato com o Instituto, provavelmente com Hechmer — ele está no sol neste momento — e verifiquem quais são as chances de se levar isto a cabo. Deverá ser completado em... um momento. — Wilburn olhou em volta. Os pedidos meteorológicos haviam terminado, o Conselheiro Yardley deixara sua mesa e andava em direção à frente do Plenário para tomar seu lugar de presidente. — Vocês têm quatro horas para conseguir toda a informação. Vão em frente e boa sorte. Desta vez vamos precisar dela. E Wilburn recostou-se na cadeira. Mas não havia tempo para relaxar.
Enquanto pusera a investigação em andamento, as chamadas haviam se acumulado. Começou a respondê-las, enquanto o Presidente Yardley impunha ordem no Conselho, dando solução rápida aos casos antigos, e depois abordou a matéria da sanção australiana. Wilburn mantinha um ouvido atento nas transações do Plenário, enquanto dava conta das chamadas e outros pedidos durante esse tempo. O Presidente anunciou a ordem dos pronunciamentos a favor e contra a resolução da seca. O Conselho acomodou-se para escutar. O Conselheiro DuBois fez as observações preliminares, expressando o profundo e permanente pesar, coisa que o Conselho considerava necessário fazer desta maneira, para sustentar os princípios do Congresso de Meteorologia. Foi um bom discurso, pensou Wilburn. Não poderia restar dúvidas da sinceridade de DuBois — tinha lágrimas nos olhos e sua voz tremia. Então, o primeiro Conselheiro da Austrália levantou-se e argumentou contra a medida.
Wilburn enfiou o receptor portátil no bolso, apertou o botão indicador de que estava escutando via receptor e deixou o recinto. Muitos dos outros Conselheiros fizeram o mesmo, a maioria dirigiu-se ao Restaurante Privativo dos Conselheiros, onde era possível tomar uma xícara de café sem ser necessário misturar-se com eleitores, imprensa, intermediários ou qualquer outra da enorme quantidade de organizações. Tomavam o café lentamente, mordis-cavam bolinhos doces e falavam. A conversa girava em torno da próxima votação e era fácil notar que as opiniões se firmavam cada vez mais a favor da resolução. Os Conselheiros falavam em voz baixa para poder seguir a tendência dos argumentos apresentados no Plenário; cada Conselheiro tinha seu receptor portátil consigo e todos ouviam pelo microfone implantado no osso atrás de uma orelha. As vozes no Plenário tornaram-se mais altas, quando se tornou claro que o Conselheiro australiano não apresentava mais do que os velhos argumentos: "não-nos-façam-sofrer" e "dêem-nos-outra-chance". O resultado da votação a favor da estiagem era agora quase uma certeza.
Wilburn voltou, lentamente, para o Plenário e despachou mais um pouco do trabalho do dia, acumulado na sua mesa. Saiu para tomar mais café e voltou. Levantou-se para fazer uma breve exposição a favor da resolução, expressando ao mesmo tempo seu pesar em considerá-la necessária. Então, à medida que argumentos pró e contra chegavam ao fim, as informações sobre George Andrews começaram a chegar.
George Andrews tinha cento e vinte e seis anos, uma cardiopatia e os médicos haviam lhe dado mais seis semanas de vida. Não existia nenhuma ligação aparente entre Andrews e o Conselheiro Maitland. Wilburn interrompeu para perguntar: — Quem verificou isso?
— Jack Parker — foi a resposta e Wilburn ouviu uma risadinha, que perdoou. Jack Parker era um dos mais sutis e agudos investigadores no seu setor e Wilburn, mentalmente, tomou nota de que o membro de sua equipe que tivera a idéia de pôr Parker naquele trabalho merecia uma gratificação. Pelo menos Wilburn podia agora tomar uma decisão sem perigo de cair numa cilada política de qualquer espécie. Mas o relatório continuava.
— Como o senhor sabe, Andrews esteve próximo de ser um dos homens mais famosos do mundo há uns cem anos atrás. Durante algum tempo parecia que Andrews receberia todo o crédito de ter inventado as barcas sésseis, mas foi finalmente vencido por Hans Daggensnurf. Houve algumas poucas pessoas, na época, que insistiram em que Andrews sempre fora o inventor e que a política suja, advogados astutos, corporações sem ética e dinheiro sujo haviam-se combinado para fazê-lo de trouxa. O termo "barcas sésseis" era o nome que Andrews dera às barcas do sol, e o nome ficara. Mas, de qualquer forma, nunca poderiam ter sido chamadas de barcas Daggensnurf.
Wilburn lembrava-se agora, espantado, que o seu subconsciente, de alguma forma, o alertara para a necessidade de descobrir quem era George Andrews. Andrews fora o George Seldon da indústria automobilística, o William Kelly do chamado processo de aço Bessemer. Todos eram homens esquecidos; um outro colhera os louros da imortalidade. No caso de Andrews, de acordo com algumas pessoas, fora ele o homem que inventara as barcas do sol, aqueles aparelhos maravilhosos que tornavam todo o Congresso de Meteorologia possível. Deslizando numa fina película de carbono gasoso, as barcas sésseis percorriam com segurança o inferno da superfície do sol, movimentando-se de local para local para excitar a atividade necessária que produziria o clima desejado. Sem as barcas sésseis não haveria Instituto de Meteorologia, composto de homens esguios e olhar duro, que trabalhavam no sol para produzir os resultados solicitados pelo Conselho de Meteorologia. Sim, Wilburn tivera sorte, realmente, em ter desenterrado esse pedaço de história antiga quando precisou.
O relatório continuava: — Checamos com os Consultores de Meteorologia, principalmente com Bob Greenberg. Ele diz que há uma forte possibilidade de encontrar um meio de fazer cair neve no sul da Califórnia nesta época do ano, mas não garante nada. Um dos membros da sua equipe tem os rudimentos de uma nova teoria, que talvez funcione, e o nosso pedido poderá ser o que esperavam para testá-la. Mas não quer ser citado neste particular. Tem um problema pessoal com o gênio que faria o trabalho se o nosso pedido for oficial. O que depreendi foi que ele gostaria que forçássemos o pedido para que pudesse resolver esse caso de um modo ou de outro com seu gênio-problema.
Wilburn perguntou: — E quanto ao Instituto?
— Bem, falamos com Hechmer como o senhor sugeriu. É o seu turno no sol neste momento, por isso está em constante comunicação direta. Diz ele que só têm um Mestre de Barcas em todo o Instituto com suficiente coragem e imaginação, mas que no momento está tendo problemas em casa. Mas Hechmer diz que se aparecermos com alguma coisa especial ele achará um meio de fazer esse seu homem produzir.
Wilburn escutou muitos outros detalhes relacionados com a situação de Andrews. Seu primeiro assistente acrescentara os detalhes de suas próprias investigações, o que demonstrou por que motivo era um membro tão bem pago da assessoria de Wilburn. Supervisionara um levantamento discreto, para saber como os eleitores de Wilburn reagiriam ao seu apoio à moção de atender ao pedido de Andrews. O resultado era previsível: se o pedido passasse rapidamente e sem problemas e se neve caísse, Wilburn seria um homem que cometera um grave erro.
O relatório terminou. Wilburn desligou sua mesa de qualquer outra atividade e lançou um rápido olhar pelo Plenário. Os debates chegavam ao fim. Todos os Conselheiros estavam visivelmente impacientes para começar a votação e era claro agora que o voto seria esmagadoramente a favor da resolução da estiagem. Wilburn recostou-se na cadeira para pensar.
Mas, mesmo assim, já sabia a resposta. Na verdade, não havia nenhuma necessidade de tomar uma decisão. Iria fazê-lo. A única pergunta era: Como? E, enquanto ele voltava a atenção para a oportunidade de apresentar sua resolução, compreendeu que o momento chegara — aqui e agora. Que melhor oportunidade do que o momento em que o Conselho estava terminando um assunto desagradável? Talvez pudesse introduzir sua moção e ela fosse aprovada para tirar o gosto desagradável da boca dos Conselheiros. Era isso. Wilburn acomodou-se para esperar pela votação. Dez minutos depois começou.
Em vinte minutos havia terminado. A votação em favor da resolução de estiagem fora 192 contra 8. O Presidente levantou o martelo para dar por encerrada a sessão. Wilburn ficou de pé.
— Sr. Presidente — disse —, acabamos de cumprir um dever desagradável, mas necessário. Agora, chamo a atenção dos honoráveis membros para a Solicitação Meteorológica Número 18, datada de hoje.
Fez uma pausa, enquanto os membros, demonstrando sua perplexidade, apertavam o botão em suas mesas, que traria de volta o pedido de Andrews. Wilburn esperou até ver todos os rostos virados para ele com expressão de incredulidade. Então falou:
— Eu apenas disse que nosso dever nesta matéria era desnecessário, mas, num sentido mais amplo, nunca tivemos um dever mais necessário na consciência para assegurar-nos que justiça seja... — e Wilburn expôs seu caso. Traçou uma breve biografia de George Andrews e falou sobre a dívida que a raça humana tinha para com ele, uma dívida que nunca fora paga. Enquanto falava, Wilburn sorriu para si mesmo ao pensar nos telefonemas que estariam sendo feitos no Plenário, nesse momento, de mesa para mesa: "O que é que deu em Jonathan?" "Será que Wilburn ficou louco?" "Cuidado com ele; deve estar tramando alguma coisa."
Wilburn falou da dificuldade em saber com certeza se o pedido estava ao menos dentro da esfera das possibilidades tecnológicas. Somente os Consultores de Meteorologia poderiam dizer. E mesmo se fosse possível, o Instituto talvez não pudesse levar a cabo a tarefa. Porém, tais considerações não deveriam impedir ao Conselho de tentar. E concluiu com uma exortação veemente por este ato de benevolência, para mostrar ao mundo que o Conselho era constituído de homens que nunca perdiam de vista o indivíduo.
Sentou-se em meio ao silêncio. Então, Tongareva levantou-se e, com palavras suaves e maneiras gentis, apoiou a resolução, enfatizando o calor e o humanismo da moção, numa ocasião em que muitos estariam pensando que o Conselho fora muito severo. Sentou-se e Maitland levantou-se no Plenário. Para surpresa de Wilburn, Maitland também apoiava a resolução. Mas, enquanto escutava, foi compreendendo que Maitland apoiava a resolução somente porque via nela desastre para Wilburn. Precisou de muita presença de espírito e coragem para Maitland fazer aquilo. Não podia saber o que Wilburn tinha em mente, mas Maitland estava disposto a confiar no seu próprio julgamento de que um erro fora cometido e tentaria tirar vantagem daquilo.
Wilburn respondeu todos os chamados telefônicos que lhe chegaram à mesa. Eram dos seus colegas do Conselho, querendo saber de que forma Wilburn desejava que apoiassem a moção. Alguns deles eram seus amigos, outros eram aqueles que lhe deviam algum favor. A todos Wilburn pediu que fizessem curtos pronunciamentos de apoio. Durante quarenta minutos os Conselheiros levantavam-se, falavam por alguns minutos e logo sentavam-se. Quando a votação terminou viu-se que foi uma das poucas votações unânimes na história do Conselho. A estiagem australiana foi esquecida, tanto no Plenário como no vídeo dos receptores de todo o mundo. Todas as atenções estavam voltadas para a pequena cidade de Holtville, Califórnia.
Wilburn. ouviu o martelo do Presidente encerrar a sessão e teve a consciência de que estava inteiramente comprometido. Seu destino estava nas mãos de outros; seu trabalho terminara por ora, possivelmente para sempre.
Mas, afinal de contas, se a gente quiser alcançar o topo na política, tem de se arriscar.
Anna Brackney subia lentamente os degraus da larga escadaria do Edifício dos Consultores de Meteorologia, meia hora adiantada, como sempre. Parou no alto e olhou para a cidade de Estocolmo. Era uma linda cidade, cheia de vida, sob seus pesados telhados brilhando à luz calma e repousante da manhã. Estocolmo era um ótimo lugar para os Consultores. De fato, tinha sido uma escolha tão boa para a espécie de trabalho que os Consultores faziam, que Anna maravilhou-se novamente, imaginando como era possível que homens a tivessem escolhido. Voltou-se novamente, e entrou.
O Supervisor de Manutenção, Hjalmar Froding, dirigia sua Máquina de Polir em volta do saguão. Viu Anna Brackney e, imediatamente, guiou a Máquina para formar um desenho de jogo-da-velha em cera no piso e, então, fez-lhe uma reverência. Ela parou, meteu o dedo na boca, apontou para a casa superior
da direita. A Máquina fez um "O" sobre ela e então colocou um "X" na casa do meio para Froding. O jogo continuou até que Froding fez três "X" enfileirados e a Máquina, triunfante, riscou uma linha reta, unindo os três "X". Hjalmar Froding inclinou-se novamente para Anna Brackney, que respondeu à reverência e seguiu seu caminho. Não fez caso das escadas rolantes e subiu pela escada comum, sentindo-se contente por ter podido, novamente, deixar Froding ganhar sem que percebesse. Anna Brackney gostava de Froding; ele falava ou sorria raramente e a tratava como se ela fosse a rainha da Suécia. Era uma pena que alguns dos outros homens dali não pudessem ser tão facilmente conduzidos.
Tinha de passar pela Sala de Meteorologia principal para alcançar seu gabinete. Um grande globo terrestre ocupava o centro da sala e mostrava a situação meteorológica, no momento, de cada parte da Terra. O globo era semelhante, na intenção, ao mapa no Plenário do Conselho de Meteorologia, mas possuía alguns aspectos adicionais. Cada fluxo de jato, variação de densidade, inversão, frente, isóbara, isalóbara, curva isotérmica, área de precipitação, área nublada e massa de ar apareciam no globo. Era uma massa de cores cambiantes, indecifrável para o olho não treinado; fazia sentido apenas para os matemeteorologistas que compunham a equipe técnica dos Consultores. As paredes curvas da sala pareciam algo saído de um pesadelo, com seu globo em constante agitação, luzes dançantes e mostradores tremeluzentes. Anna passou sem notar nada, com a insensibilidade da longa intimidade. Dirigiu-se ao telégrafo particular do Conselho de Meteorologia para ver se aquele estranho pedido já havia chegado.
O guarda da Sala de Comunicações do Conselho fez continência e afastou-se para deixá-la passar. Entrou, sentou-se e começou a folhear as mensagens do Conselho, chegadas durante a noite. Apanhou a que se referia à imposição de estiagem no norte da Austrália e leu-a. Fungou quando terminou a leitura e disse para si mesma em voz alta: "Nada, nenhum problema. Uma criança poderia fazer os cálculos para que isso acontecesse." Continuou folheando a pilha de mensagens.
Achou a que queria e leu-a com atenção. Leu-a mais uma vez. Era como o noticiário dissera: neve em julho sobre uma área de dois e meio quilômetros quadrados no sul da Califórnia. A latitude e a longitude da área eram indicadas, e era só isso o que estava escrito. Mas Anna Brackney sentiu a excitação crescer dentro dela. Aí estava o problema que, provavelmente, não podia ser solucionado com as técnicas comuns.
Enfiou o dedo na boca. Eis o que ela esperava há tanto tempo, a oportunidade de provar sua teoria. Agora, restava apenas convencer Greenberg a dar-lhe o problema. Endireitou a pilha de mensagens e foi para o seu gabinete.
Era uma sala pequena, medindo dois e meio por dois e meio metros, mas Anna Brackney ainda a considerava grande demais. Sua mesa situava-se a um canto, de frente para uma das paredes, a fim de lhe dar a ilusão de ser mais apertada do que o era de fato. Anna não podia suportar a sensação de espaços abertos quando trabalhava. Não havia uma janela sequer, nenhum quadro, nada para desviar-lhe a atenção das paredes cinza-escuro. Outros Consultores tinham idéias diferentes sobre um ambiente de trabalho adequado. Alguns gostavam de manchas de cores brilhantes, outros de vistas de florestas ou marinha, Greenberg tinha suas paredes cobertas de um emaranhado branco e preto e as paredes de Hiromaka estavam cobertas de nus artísticos. Anna teve um arrepio de asco ao se lembrar daquilo.
Em vez de sentar-se à mesa, ficou parada no meio da pequena sala, pensando como poderia persuadir Greenberg a confiar-lhe o problema Andrews. Seria difícil. Sabia que Greenberg não gostava dela, e que isso se devia unicamente ao fato dele 'ser um homem e ela uma mulher. Nenhum dos homens gostava dela e, como resultado, seu trabalho nunca recebia o crédito merecido. Num mundo de homens, nunca era permitido julgar uma mulher apenas com base no seu trabalho. Mas, se pudesse pegar o problema Andrews, ela lhes mostraria. Ela mostraria a todos eles.
O tempo era curto. O problema Andrews tinha de ser solucionado imediatamente. Às vezes, os programas meteorológicos dos Consultores levavam semanas para serem postos em prática e, se esse fosse o caso, então seria tarde demais. Tinha de ser trabalhado e solucionado agora para ver se havia tempo suficiente. Girou nos saltos e saiu correndo do gabinete, desceu as escadas rolantes e depois os largos degraus da escadaria da porta da frente do edifício. Não perderia tempo. Encontrar-se-ia com Greenberg quando ele chegasse.
Teve uma espera de dez minutos, e isso porque Greenberg estava adiantado. Disse: — Dr. Greenberg, estou pronta para começar a trabalhar imediatamente no problema Andrews, sinto que...
— Estava esperando por mim? — perguntou Greenberg.
— Sinto que sou a mais bem qualificada para resolver o problema Andrews, visto que exigirá novos procedimentos...
— Que diabo é o problema Andrews?
Olhou para ele sem entender e respondeu: — Ora, é o problema que chegou durante a noite e quero ser a pessoa que...
— Mas, a senhora alcançou-me aqui nos degraus antes de eu poder entrar. Como vou saber quais problemas chegaram durante a noite? Ainda não estive lá em cima.
— Mas o senhor deve saber... o senhor ouviu falar nele, saiu no noticiário.
— Saem muitas tolices no noticiário com respeito ao nosso trabalho, a maior parte inverídica. Por que não espera até que eu dê uma olhada nisso para saber do que está falando?
Subiram nas escadas rolantes em silêncio, ele aborrecido de ter sido abordado desse modo e ela aborrecida com o seu esforço óbvio de adiar o que ela queria.
Ele dirigiu-se para o seu gabinete, e Anna falou: — Está na Sala de Comunicações do Conselho, não no seu gabinete.
Ia responder, mas pensou melhor, entrou na Sala de Comunicações e leu a mensagem. Ela falou: — Agora, posso tê-lo?
— Olhe, que diabo. Este pedido será atendido como qualquer outro até que compreendamos suas ramificações. Vou dá-lo a Upton, como faço com todos os outros, para uma opinião preliminar e a recomendação de quem deva se ocupar dele. Depois que tiver essa recomendação decidirei o que fazer. Agora, não me incomode até que Upton tenha dado uma olhada nisto. — Viu sua boca curvar-se para baixo e seus olhos ficarem cheios de lágrimas. Já passara por estas crises de choro antes e não gostava. — Vejo-a mais tarde — disse, e afastou-se quase correndo, entrou no seu gabinete e trancou a porta. Isso era uma coisa boa no Edifício dos Consultores. Uma porta trancada era inviolável. Significava que a pessoa que se encontrava do outro lado não queria ser importunada, e tamanho o volume do trabalho que o desejo era respeitado.
Anna Brackney voltou furiosa para a sua sala de trabalho. Lá estava outra vez. Uma mulher não tinha nem uma chance por aqui; recusavam-se a tratá-la como a um homem. Depois, foi esperar na sala de Upton para explicar a coisa toda para ele.
Upton era um homem corpulento, de gênio agradável e inteligência afiada. E, mais ainda, compreendia o funcionamento de uma mente com idéias fixas. Anna contara apenas pouco mais da metade de sua história triste, quando ele percebeu que o único modo de tirá-la de suas costas, pelo resto do dia, seria estudar o pedido Andrews. Mandou buscar a mensagem, examinou-a, assobiou e sentou-se em frente do computador 2.650. Durante meia hora alimentou-o com dados e recostou-se na cadeira enquanto o computador os mastigava e depois cuspiu os resultados. O problema crescia, por isso pediu ajuda e logo havia três homens trabalhando nos computadores. Três horas mais tarde, Upton virou-se para Anna, que estivera parada atrás dele o tempo todo.
— Tem algumas idéias sobre isto? — perguntou. Ela assentiu com a cabeça.
— Pode me dizer alguma coisa sobre elas?
Anna hesitou, e depois disse: — Bem, ainda não tenho tudo. Mas acho que pode ser feito por... — ela parou, olhando desconfiada para ele, tentando descobrir de antemão se estava rindo dela — uma frente vertical.
O queixo de Upton caiu. — Uma frente ver... Você quer dizer uma frente verdadeira, inclinada verticalmente em relação à superfície da Terra?
Ela balançou a cabeça e meteu o dedo na boca. Longe de rir, Upton fitou o chão por uns momentos e depois dirigiu-se para a sala de Greenberg. Entrou sem bater e disse para o chefe: — Há uns quarenta e seis por cento de chance de realizar este pedido de Andrews, por meio de técnicas convencionais. E por falar nisso, o que há com o Conselho? Nunca os vi fazer uma coisa tão idiota antes. O que é que estão tentando fazer?
Greenberg sacudiu a cabeça. — Não sei — respondeu. — Recebi uma chamada de Wilburn, perguntando-me sobre isto. Tive a desagradável impressão de que eles estão tentando saber, exatamente, o que podemos fazer por aqui, uma espécie de teste para nós, antes de confrontar-nos com um problema realmente grande. Ontem votaram a seca para o norte da Austrália, talvez estejam se aprontando para, realmente, apertar alguma região e querem saber primeiro o que podemos fazer.
Upton comentou: — Seca na Austrália? Puxa, estão ficando um pouco durões, não? Não está parecendo o bom e indulgente Conselho que conheço. Há alguma dificuldade com a estiagem australiana?
— Não. É um problema tão comum que nem me dei ao trabalho de submetê-lo a você para triagem. Dei-o diretamente a Hiromaka. Mas há qualquer coisa por trás deste negócio de Andrews e não estou gostando. É melhor encontrar uma maneira de realizá-lo.
— Bem, a Brackney tem uma abordagem do problema que é suficientemente maluca para funcionar. Deixemos que ela tente achar uma solução e depois verificaremos se esta solução tem melhor chance de funcionar do que as técnicas convencionais.
Anna Brackney estivera parada perto da porta. Chegou perto e disse, com raiva: — O que quer dizer com "maluca"? Não há nada errado com a idéia. Apenas não querem que eu seja a pessoa a solucionar o problema. Vocês só...
— Não, não, Anna — disse Greenberg —, não é isso. Você é quem vai trabalhar nisto, por isso não...
— Muito bem, começarei agora mesmo — respondeu Anna, virando as costas e saindo.
Os dois homens olharam-se. Upton deu de ombros e Greenberg levantou os olhos para o teto, sacudiu a cabeça e suspirou.
Anna Brackney sentou-se no seu canto e fitou a parede. Passaram-se dez minutos antes que ela metesse o dedo na boca e outros vinte antes que ela tirasse um bloco e lápis e começasse a rabiscar. Trabalhou com rapidez. Com sua primeira equação, escrita numa pequena folha de papel, ela deixou sua sala à procura de um matemeteorologista residente. Anna recusou-se a usar o microfone da sua mesa para chamar um deles.
Todos os residentes estavam sentados às suas mesas, numa grande sala e, quando Anna entrou, todos se curvaram como se estivessem muito atarefados. Sem prestar atenção ao seu comportamento, Anna foi até a mesa de Betty Jepson e colocou a folha de papel na sua frente. Disse sem rodeios: — Faça uma análise de regressão nisto — e o seu dedo traçou a equação na fórmula y = a1X1 + a2x2 + ... anxn — anotando que n é igual a 46, neste caso. Tome os dados observacionais dos bancos do computador Número Oitenta-e-três. Quero uma ajustagem melhor do que noventa por cento. — Girou nos calcanhares e voltou para a sua sala.
Meia hora depois estava de volta com outra equação, para Charles Bankhead, depois outra para Joseph Pechio. Com o modelo estabelecido, ela pediu a ajuda de um matemeteorologista formado, e Greenberg designou Albert Kropa. Kropa escutou a descrição, um tanto incoerente, do que ela tentava fazer, e então começou a percorrer a sala, olhando por cima dos ombros dos residentes, para ver o que eles faziam. Aos poucos, foi compreendendo e, finalmente, saiu correndo para a sua sala de trabalho e começou a produzir suas próprias relações polinômicas.
Cada equação exigia o uso pleno de um computador 1.650 e sua própria equipe, sob a direção de um residente, e mais seis horas para chegar a um ajustamento — mesmo um ajustamento preliminar. À medida que Anna e Kropa produziam mais das equações básicas necessárias, tornou-se evidente que tempo demais estava sendo gasto para desenvolver cada uma individualmente. Anna interrompeu o trabalho e passou duas horas elaborando um método de programação num 2.230 para explorar os fatores necessários em cada análise de regressão. O computador começou a produzir as equações necessárias, na razão de uma a cada dez minutos, e então Anna e Kropa voltaram sua atenção para o método de correlacionar o fluxo de dados que cairia sobre eles quando cada análise estivesse completa. Depois de meia hora, ficou claro que não poderiam terminar aquela fase do programa antes que os dados começassem a chegar. Pediram e conseguiram mais dois matemeteorologistas formados.
Os quatro dirigiram-se para a Sala de Meteorologia, para poderem estar juntos enquanto trabalhavam. A matemática correlativa começou a desdobrar-se e todos os residentes restantes iam sendo chamados, um a um, para ajudar. Meia hora depois, todos os 1.650 estavam ocupados e Greenberg telefonou para a Universidade de Estocolmo, solicitando a utilização dos computadores deles. Esses foram suficientes por vinte minutos e, então, Greenberg solicitou meia dúzia de computadores industriais da cidade. Mas ainda não foi o suficiente. A rede de computadores começou a se alargar, progressivamente, por todo o Continente, alcançando, em duas horas, cidades costeiras do leste dos Estados Unidos. A autoridade suprema dos Consultores para resolver um problema era absoluta.
Tornou-se necessário que Upton se juntasse ao grupo e, quando o próprio Greenberg tomou um lugar no grande círculo, na Sala de Meteorologia, seguiu-se uma breve pausa no trabalho para algumas vaias e alguns carinhosos comentários irônicos. O compromisso dos Consultores era total.
Anna Brackney parecia não notar. Seus olhos estavam vidrados e falava em curtas frases secas, em contraste com aquelas vagas e confusas que costumava proferir. Parecia saber, uns momentos antes, quando aconteceria uma interrupção no crescente fluxo de dados, e intervinha, suprindo a continuidade necessária. Eram quinze horas quando Hiromaka percebeu que ninguém almoçara. Greenberg mandou buscar comida; novamente às vinte e três horas e também às nove horas da manhã do dia seguinte.
Todos tinham uma aparência horrível, com as faces encovadas, as roupas amarrotadas e profundas olheiras. Mas havia fogo nos olhos de cada um, mesmo nos do residente mais novo. Um fogo nascido da participação no problema de meteorologia mais complexo já enfrentado pelos Consultores.
Upton encarregou-se da tarefa de coordenar os padrões matemáticos relacionados com o planeta Terra. Manteve sob seu controle os resultados das análises regressivas, resultantes de variáveis tais como as diversas distâncias possíveis da Terra ao sol; as posições rotacionais da Terra com relação ao sol; a forma, posição, densidade, variações e carga de ambos os cinturões magnéticos Van Allen; a velocidade, temperatura, direção e largura de quatrocentas correntes de jato; o fluxo de calor das correntes marítimas mais importantes; o efeito da deriva de ar, causado por cada grande massa de terra; o conteúdo calórico das massas telúricas; o efeito Coriolis e, sobreposto a todos esses fatores e muitos outros, o efeito dos programas meteorológicos já existentes por toda a superfície da Terra.
Greenberg tomou o sol e trabalhou com os resultados das análises do movimento de cada mancha solar; as rotações do sol, temperaturas e pressões flutuantes da fotosfera, a camada reversível, a cromosfera e a coroa solar; variações do espectro e a potência útil emanada do ciclo de carbono e da cadeia próton-próton.
Anna andava por toda parte, ora olhando por cima do ombro de Upton, ora telefonando para os computadores em Washington, ora dirigindo um residente na sua tarefa seguinte, ora inventando um novo sistema notacional para simplificar a alimentação de modelos matemáticos, recém-derivados, aos computadores. Andava como num sonho, mas quando uma pergunta lhe era feita ou quando alguma coisa tornava-se mais lenta, suas respostas estavam longe de ser sonhadoras. Muitos dos residentes, vários operadores de computador e o próprio Upton sentiram-se fustigados por uma das suas frases secas, apontando o que podia ter sido um erro óbvio. À medida que o tempo passava, o trabalho tornava-se mais frenético, as linhas, normalmente severas, do rosto de Anna foram se suavizando e agora caminhava ereta em vez de andar com o corpo largado. Diversos matemeteorologistas, que antes nem teriam se dignado a falar com ela, a não ser que fosse absolutamente necessário, encontraram-se pedindo, por iniciativa própria, instruções para suas partes do problema.
A primeira solução parcial foi inteiramente resolvida, pela primeira vez, às onze horas da manhã seguinte. Tinha uma ajustagem de apenas oitenta por cento, mas era boa para ser a primeira; mais viriam a seguir. Mas Upton encontrou uma falha. — Nada bom — disse ele. — Esta solução também aumentaria aquela estiagem proposta para a Austrália em doze por cento. Isso seria uma beleza! Façamos uma coisa dessas e vamos nos encontrar lendo medidores de eletricidade.
O comentário tocou uma corda sensível no grupo e o riso espalhou-se, crescendo em intensidade. Em poucos instantes todo o pessoal do Edifício dos Consultores era sacudido por violentas gargalhadas, devido à longa tensão que já cobrara o seu tributo. Passaram-se vários minutos antes que olhos fossem enxugados e que as pessoas se acomodassem novamente para trabalhar melhor. Greenberg falou:
— Bem, isso é onde estará o nosso perigo. Não necessariamente na Austrália, mas, em toda parte. Precisamos ter certeza de não provocar uma reação drástica em algum lugar.
Anna Brackney ouviu-o e disse: — DePinza está trabalhando numa análise definitiva para assegurar-se de que não haja nenhuma reação indesejável. Ele terá o resultado em uma hora. — Anna afastou-se, deixando Greenberg boquiaberto atrás dela.
Eram quinze horas quando o conjunto final de equações foi terminado. A ajustagem era de noventa por cento e a verificação, comparada com a análise de DePinza, foi de cem por cento. Os residentes e os matemeteorologistas agruparam-se em redor da grande mesa, enquanto Greenberg estudava os resultados. Haviam terminado bem na hora. Os procedimentos que calcularam haviam exigido operações do lado da Terra onde bate o sol, começando três horas depois do segundo turno e continuando por mais quatro horas. Greenberg esfregou a barba, de mais de vinte e quatro horas, e disse:
— Não sei se deixo isto tudo ou não. Poderíamos mandar um relatório, comunicando que nossos processos nunca foram experimentados e não deveriam ser usados todos de uma só vez.
Os olhos do grupo voltaram-se para Anna Brackney, mas ela parecia soberbamente indiferente. Upton falou o que estava na mente de todos. — Há um pouquinho do coração de cada um aqui. — Ele inclinou a cabeça para as equações. — Visto que elas representam o melhor que podemos fazer, não vejo como podemos recomendar que não deveriam ser usadas. Neste exato momento, essas equações representam a melhor produção dos Consultores; nesse sentido elas são os Consultores. Tanto nós como as pessoas que nos colocaram neste lugar devem vencer ou cair com os nossos melhores desempenhos.
Greenberg assentiu com a cabeça e entregou duas folhas de papel a uma residente e disse:
— Decomponha isto do lado do comportamento do sol e depois mande tudo para mim, lá no Instituto de Meteorologia. Espero que não tenham que quebrar a cabeça como eu fiz. — Esfregou o rosto e acrescentou: — Bem, é para isso que somos pagos.
A residente apanhou as folhas e saiu. Os outros foram se dispersando até que somente Greenberg e Upton ficaram sozinhos. Upton então falou:
— Isto vai ser uma grande pena no chapéu de Anna Brackney. Não sei de onde ela tirou a inspiração.
— Nem eu tampouco — disse Greenberg. — Mas se ela botar o dedo na boca outra vez, sou capaz de me demitir.
Upton deu uma risadinha. — Se ela conseguir realizar isto, é melhor que todos nós aprendamos a meter os dedos na boca.
James Éden rolou para fora do beliche e se ergueu na ponta dos pés. Sim, havia um murmúrio de conversa, apenas audível no convés. Éden sacudiu a cabeça; o sol estava agitado e ia ser um dia ruim. Se a Base estivesse murmurando, então as barcas sésseis seriam difíceis de controlar. Isso nunca falhara. Tente uma manobra complicada e manhosa, e trabalhará, então, nas piores condições possíveis; trabalhe dentro da rotina e as condições serão perfeitas. Mas isso é o que se devia esperar do Instituto. Mesmo os manuais mencionavam isso — uma variação da velha lei de Finagle.¹
Éden fez a barba e vestiu a roupa, imaginando como seria a tarefa que o esperava. Eles sempre eram os últimos a saber das coisas e, no entanto, sempre os que deviam fazer o trabalho sujo. O Congresso de Meteorologia dependia inteiramente do Instituto. O Conselho não passava de um monte de velhos políticos ricos e gordos, que cocavam as costas uns dos outros e passavam os dias inventando Grandes Transações. Os Consultores eram um bando de doidos que, sentados no seu traseiro, liam em voz alta todo troço que os computadores resolviam. Mas o Instituto era diferente, um excelente grupo de homens dedicados, que faziam o seu trabalho para que o planeta Terra florescesse. Era bom estar no Instituto de Meteorologia — e, novamente, aquele pensamento.
1. Finagle — dar um jeito, trapacear. N. do T.
Éden não podia manter os pensamentos afastados do problema que o estivera incomodando durante todo o turno. Esfregou a testa e perguntou-se outra vez sobre a perversidade das mulheres. Rebeca de cabelos e olhos negros, pele branca e morna, esperava-o quando terminasse o seu turno, mas só se ele deixasse o Instituto. Podia vê-la agora, junto a ele, olhando profundamente para dentro de seus olhos, com a suave palma da mão contra sua face, dizendo: — Não vou dividir você com nenhuma pessoa ou coisa, mesmo com seu querido Instituto. Quero um marido completo. Você tem que decidir. — Com outras mulheres ele teria dado uma risada, tê-las-ia erguido e rodopiado com elas até que tivessem mudado de idéia, mas não com Rebecca, não a Rebecca de longos cabelos negros, maldição!
Deu meia volta, saiu da sua diminuta cabina e dirigiu-se para o refeitório. Uma meia dúzia de homens já se encontrava lá quando entrou. Falavam e riam. No entanto, pararam o que estavam fazendo e olharam para ele, saudando-o quando apareceu na porta: "Olá, Jim." — "Já era hora de você levantar." — "É bom vê-lo, rapaz!"
Éden reconheceu os sintomas. Estavam tensos e falavam, rindo alto demais. Sentiram-se aliviados quando Jim se juntou a eles. Precisavam de alguém em quem se apoiar e Éden sentia um pouco de pena deles por causa disso. Agora não precisariam fazer tanto esforço para parecerem normais. Os outros também tinham escutado os murmúrios no convés.
Éden sentou-se e disse: — Bom dia. Alguma coisa no Quadro de Avisos, sobre o trabalho do turno?
Os outros sacudiram a cabeça e Pisca disse: — Nenhuma palavra. Sempre esperam, informando-nos por último. Todo mundo no planeta sabe o que está acontecendo, mas nós não. Tudo o que nos chega são rumores, até o momento de sairmos e realizarmos a tarefa.
— Bem — disse Éden —, a comunicação com o Instituto não é a coisa mais fácil deste mundo, não se esqueçam. Não podemos saber de tudo logo que acontece. Mas, em parte, concordo com vocês; parece-me que poderiam manter-nos mais bem informados, à medida que as coisas vão se desenvolvendo lá na Terra.
Todos balançaram a cabeça e voltaram ao seu desjejum. Conversaram durante a refeição até que um carrilhão suave soou por toda a Base. Levantaram-se. Era hora de receber as instruções, por isso dirigiram-se para a sala de instrução no alto da Base. O Comandante Hechmer já estava lá quando entraram e tomaram seus lugares. Éden observava atentamente, enquanto procurava um lugar para sentar-se. No passado, já se perguntara se Hechmer o havia notado particularmente — um olhar extra, maior atenção quando ele fazia alguma pergunta, falando mais com ele do que com os outros durante as instruções; pequenas coisas, mas mesmo assim importantes.
O Comandante John H. Hechmer, de quarenta e cinco anos, era uma lenda no Instituto de Meteorologia. Fora ele que desenvolvera e aperfeiçoara a técnica de Jato de Extrema Precisão, em que um fino jato de prótons podia ser extraído do nível de 4.500 graus de uma mancha solar e dirigido contra um determinado local da Terra voltado para o sol. Nos dias em que Hechmer era Mestre Superior de Barcas do Instituto, grandes passos foram dados no controle da meteorologia. Um excelente e detalhado padrão meteorológico, que deixara os experts atônitos. Hechmer havia mesmo dirigido os Conselheiros, mostrando-lhes o alcance mais amplo das capacidades do Instituto. Sua direção de uma barca solar nunca fora igualada e era uma das metas da carreira de Éden — se decidisse permanecer — ser considerado como o homem que mais se aproximara de Hechmer.
Éden observava e, finalmente, quando Hechmer levantou a cabeça, pareceu a Éden que seus olhos varriam o grupo, pousando por alguns instantes nele, e depois se desviavam. Era como se Hechmer quisesse se certificar de que ele estava lá. Éden não podia ter tanta certeza disso, mas a possibilidade fez com que ele se empertigasse mais na cadeira.
Hechmer falava:
— Aqui está a Fase Um das operações do próximo turno, recebida dos Consultores. — Iluminou a parte mencionada, na folha vertical do painel que se encontrava às suas costas. Éden, apenas com um relance, percebeu que aquilo representava um afastamento substancial dos processos costumeiros. Imediatamente, começou a afundar-se na cadeira à medida que se perdia no estudo da questão e de como lidar com ela. Não percebeu que Hechmer vira sua imediata compreensão do problema. Demorou mais alguns instantes até se ouvirem alguns assobios baixos, anunciando que todos os outros também tinham compreendido.
Hechmer ficou quieto, enquanto os companheiros estudavam a página. Todos estavam pensando como o relatório deveria ser modificado para deixá-lo em condições viáveis e poder ser utilizado pelo Instituto. Os Conselheiros sempre se orgulhavam de dizer que suas soluções eram expostas em terminologia clara e explícita. Mas, do ponto de vista prático, suas soluções eram inteiramente inexeqüíveis na forma em que eram recebidas, pois não mencionavam muitas das condições do sol que o Instituto deveria enfrentar. Estas condições não eram explicadas pela matemática. Era uma das piadas discretas do Instituto escutar a falação de um Consultor sobre a perfeição de suas soluções e do pouco trabalho que tinha o Instituto, e depois perguntar ao Consultor o que sabia sobre "granulação inversora". Ninguém, a não ser um membro ativo do Instituto, podia experimentar o estranho movimento ondulante encontrado nas regiões inferiores da camada inversora.
O silêncio estendeu-se. A testa de Éden estava franzida pela concentração, enquanto tentava encontrar uma maneira de enfronhar-se no problema. Finalmente, viu uma entrada, então apanhou um bloco de papel e começou a tentar um método de decompor o problema. Hechmer começou a revisar seus próprios cálculos, enquanto os outros fitavam a página no painel, como se estivessem hipnotizados. Passaram-se uns dez minutos até que um dos outros homens começasse a escrever no papel suas próprias anotações.
Éden recostou-se na cadeira e olhou para o que escrevera. Com excitação crescente, percebeu que sua possível resposta nunca fora experimentada antes. Entretanto, à medida que olhava para ela com mais atenção, foi compreendendo que talvez nunca pudesse ser realizada; era uma abordagem radical, exigindo um comportamento da Barca não mencionado nas Especificações das Barcas.
Hechmer, finalmente, falou:
— Senhores, precisamos começar. Para dar início aos trabalhos, eis aqui a minha resposta para o problema. Equacionem-na se puderem.
Éden olhou para o papel. Também era diferente, mas, com a diferença de que esta exigia o uso de todas as Barcas no sol, coisa que nunca fora necessária. A resposta de Hechmer era efetuar a missão pelo simples peso dos números e, por este meio, arrancar dos vários níveis da atmosfera do sol o total dos jatos e lençóis necessários para produzir o clima desejado na Terra. Mas, à medida que Éden o estudava, começou a perceber falhas no plano. Os jatos, sendo tirados de diferentes partes da superfície do sol, atingiriam a Terra e seus arredores em ângulos ligeiramente diferentes do que aqueles exigidos. A resposta de Hechmer poderia funcionar, mas parecia não ter tão boa chance como a de Éden.
Hechmer dizia:
— O fator principal deste plano é a larga dispersão do encontro dos jatos. Podem pensar em alguma coisa para superar isso?
Éden não podia, pois sua mente estava mais ocupada com seu próprio plano. Se ele pudesse certificar-se de que as Barcas podiam suportar a submersão na superfície do sol, por um período determinado de tempo, haveria poucos problemas. Ora, as comunicações poderiam ser mais difíceis, mas, com somente uma Barca lá, a necessidade de comunicação seria muito reduzida; a Barca seria bem-sucedida ou não e nenhuma instrução, de parte alguma, poderia ajudar.
Um dos outros homens começava a sugerir a modificação impraticável de ter todas as Barcas trabalhando bem próximas umas das outras, um grave erro, visto que as Barcas não podiam controlar seus tórulos com a necessária destreza. Éden interrompeu-o sem pensar. — Aqui está uma possível resposta — disse, deixando cair sua página escrita sobre a mesa.
Hechmer continuou a olhar para o homem que estava falando, esperando, polidamente, que ele terminasse. O homem evitou uma situação embaraçosa, dizendo: — Vamos ver o que é que Jim tem a oferecer, antes de terminar com esta.
Hechmer colocou a página de Éden dentro do visor e todos a estudaram. Tinha a vantagem de, pelo menos, ser facilmente compreendida e todos começaram a falar ao mesmo tempo, a maioria dizendo que não podia ser feito. "Você vai perder a Barca." "Sim, e os homens que estão nela." "Não vai funcionar mesmo que a Barca agüente." "Você não pode levar uma Barca a tal profundidade", diziam.
Éden observava atentamente o rosto de Hechmer, enquanto estudava o plano. Viu os olhos do chefe se esbugalharem e, outra vez, se estreitarem. Ao mesmo tempo, Hechmer percebeu que Éden o observava intensamente. Durante alguns momentos, a sala sumiu na mente de Hechmer, sendo substituída por outra sala idêntica, há muitos anos atrás, quando um Hechmer mais moço e mais atirado observava ansiosamente os olhos do seu superior, enquanto este estudava um plano novo. Hechmer disse, sem tirar os olhos da página projetada: — Supondo que a Barca pudesse chegar lá embaixo, por que este plano não funcionará?
— Ora — disse o homem que declarara o plano inviável —, os jatos e os lençóis não emergirão, necessariamente, na direção... — Mas, enquanto falava, percebeu que a energia do campo das manchas solares estava canalizada para que funcionassem como uma lente de focalização e suas palavras foram sumindo.
Hechmer balançou a cabeça, aprovando. — Estou contente que tenha visto isso. Mais alguém? Alguma falha, uma vez que a Barca tenha chegado lá no fundo e ficado o tempo suficiente? — Os homens concentraram-se, novamente, no problema, mas, não puderam achar nada errado com ele, dada a hipótese exposta. Hechmer continuou: — Muito bem, agora, por que uma Barca não suportará esse tipo de submersão?
Um deles respondeu: — O efeito séssil não é muito forte na parte superior do tórulo. Queimará completamente.
Éden saltou: — Não. Duplique-se a alimentação de carbono na parte superior do tórulo. Isso resolverá tudo.
Discutiram durante meia hora, Éden e dois outros, defendendo o conceito e no fim não havia mais oposição. Todos trabalhavam para dar acabamento ao plano, removendo o máximo de risco possível. Quando terminaram, já não havia, realmente, nenhuma decisão para Hechmer tomar. O grupo de capitães de Barcas aceitava o plano e não era necessário dizer que a Barca de Éden seria a Barca de profundidade. Faltava apenas meia hora para o começo do turno, por isso foram se aprontar.
Éden meteu-se, com dificuldade, dentro da roupa de chumbo, soltando as mesmas pragas que todo Barqueiro, desde o primeiro, soltara. A Barca possuía ampla proteção e os trajes eram fornecidos para dar proteção somente no caso em que um vazamento deixasse penetrar alguma radiação. Mas no sol era improvável que algum vazamento deixasse entrar um pouquinho de radiação ... Muito mais certo seria que um vazamento deixasse tanto da atmosfera solar penetrar na Barca que os homens dentro dela nunca saberiam o que lhes acontecera. Uma roupa de chumbo, então, seria como querer represar um vulcão com uma pena. Não obstante, os trajes de chumbo eram obrigatórios.
A entrada na Barca desde a Base era sempre uma manobra perigosa e cheia de truques. O tórulo acima do compartimento de ligação entre ambas não era uma parte fixa do compartimento e se se movesse, todo o campo gravitacional do sol podia puxar um homem, fazendo seu corpo enterrar-se completamente nos seus sapatos. Éden deslizou para o interior da Barca, deu uma volta de inspeção, como era de praxe o capitão fazer antes de ir para o seu assento e começar os procedimentos de subida.
Notou que a atividade do sol continuava agitada. Primeiramente verificou o suprimento de carbono, o material que se vaporizava e então, na forma de uma fina película, protegia toda a Barca do calor infernal da superfície solar. As Barcas deslizavam na camada de carbono vaporizado, assim como uma gota de água se move numa camada de água vaporizada em cima de uma chapa de metal esquentada até ficar rubra; este era o efeito séssil. Depois checou o tórulo da parte superior. Aqui, numa rota circular, viajavam alguns gramas de prótons, a uma velocidade próxima à da luz. A essa velocidade, alguns gramas de prótons pesavam incalculáveis toneladas e, desse modo, anulavam a enorme atração gravitacional do próprio sol. A mesma fita magnética que supria o campo para manter os prótons no seu estado de massa-pesada servia também para manter a polaridade igual à da superfície adjacente do sol. Portanto, o tórulo e o sol repeliam-se mutuamente. Os objetos sob o tórulo estavam sujeitos a dois campos gravitacionais: o do tórulo — quase, mas não completamente — cancelando o do sol. Como resultado, os homens trabalhavam dentro das Barcas e na Base num campo de 1-G.
Éden terminou a lista de checagem, item por item, nas diversas partes em funcionamento da Barca. Sua tripulação de quatro homens trabalhava junto com ele, cada membro responsável por uma seção da Barca. Cinco minutos antes do lançamento, o painel estava verde e, quando a contagem regressiva chegou a zero, eles partiram.
A Barca portava-se bem sob o seu comando. Subia e descia, ao passo que a superfície solar fervia turbulentamente, mas ele mantinha a Barca firmemente no rumo, deslizando sobre sua fina película de vapor de carbono.
— Como vão indo? — perguntou pelo comunicador interno.
Um coro de "muito bem" chegou, como resposta, de modo que Éden inclinou a Barca mais um pouco para aumentar a velocidade. Estavam numa tabela de tempo apertada e tinham uma boa distância a percorrer. Como sempre acontecia, Éden sentiu uma sensação de embriaguez à medida que a velocidade aumentava e fez o que sempre fazia quando se sentia assim.
Com muito cuidado, foi correndo um após outro os painéis que amorteciam o som, na antepara do lado do assento do piloto. Quando o oitavo painel correu para trás, podia ouvi-lo fracamente, então puxou para trás, lentamente, o nono painel e no décimo o rugido encheu o cubículo do piloto. Éden foi inundado pelo rugido tonitruante que invadia a cabina, sacudindo-lhe o corpo com sua fúria, retirando-lhe da mente tudo menos a necessidade de lutar, concentrar-se e revidar. Este era o rugido direto e puro do próprio sol, que o atingia; a trovejante concatenação de milhões de bombas atômicas detonando a cada fração infinitesimal de cada segundo. O som e a fúria eram de fazer vacilar a mente e um homem só podia deixar entrar apenas um pouquinho e ainda manter sua sanidade mental. Mas, esse pouquinho era um som terrível, purificador, que produzia humildade, focalizando a atenção do homem nos poderes que ele controlava, advertindo-o de não se meter onde não devia.
Isto era algo que Éden nunca contara a ninguém, e que ninguém jamais lhe contara. Era seu segredo, seu modo próprio de refrescar e realimentar o que quer que fosse que o tornava o homem que era. Supunha que era o único dos pilotos a fazer isto e, visto que neste exato ponto ele não pensava com clareza, nunca lhe ocorreu imaginar por que é que os painéis móveis, à prova de som, de toda Barca, estavam situados, por acaso, do lado direito do assento do piloto.
Durante meia hora Éden dirigiu a Barca em direção ao seu primeiro ponto de ação, lidando facilmente com a violência normal da superfície do sol. Verificou o funcionamento do sistema direcional de inércia, duas vezes além do exigido pelos procedimentos de operação comuns, para certificar-se de que a agitação extra não afetaria o desempenho perfeito de sua operação. Quando se aproximavam do ponto de ação, Éden fechou os painéis de som e checou com sua tripulação: — Quatro minutos até a operação. Que cor têm vocês?
As respostas chegaram dos quatro cantos da Barca: — Tudo verde, Mestre. — As formalidades a bordo das barcas sésseis haviam começado. Cada homem observava o seu próprio programa, os dedos nos botões e os pés nos pedais, esperando pela luz do painel que indicava a posição. Finalmente, ela piscou.
As cápsulas, como torpedos, dispararam para dentro das entranhas do sol, onde o ciclo nitrogênio-carbono se agitava com fúria indizível. A uma temperatura de 3,5 milhões de graus a cabeça ablativa desintegrou-se e desprendeu para dentro do inferno uma carga de nitrogênio pesado. O nitrogênio pesado, aparecendo, como sempre, no fim do ciclo nitrogênio-carbono, rompia as condições estáveis, produzindo uma camada de hélio que servia para umedecer e resfriar as reações de fusão em toda a área daquela região. O choque térmico resultante no interior causava um colapso imediato, seguido de um incrível aumento da pressão com um aumento correspondente de temperatura. A vasta explosão abria caminho até a superfície, tornando-se uma enorme protuberância que se dirigia para a Terra, canalizando enormes massas de prótons em direção a um local pré-selecionado na vizinhança da Terra. A fase inicial da operação parecia ser bem-sucedida.
A hora seguinte passou-se em ir de ponto de ação para ponto de ação, plantando as cargas apropriadas, ora para efetuar a vasta descarga de elétrons no ângulo certo, ora para acalmar uma turbulência, ora para mudar a localização de um ponto. Em duas ocasiões os instrumentos registraram que as detonações não haviam acontecido nos locais, com suficiente precisão para obedecer as exigências de praxe, de modo que foi necessário efetuar detonações complementares. Estavam em constante, embora difícil, comunicação com as outras três Barcas e com a Base. Nenhuma das Barcas era especificamente consciente do fato, mas os começos da estiagem da Austrália haviam sido postos em curso durante a segunda hora de trabalho.
A bordo da Barca de Éden não havia nenhuma tensão, enquanto o tempo para a operação de profundidade se aproximava; todos estavam ocupados demais. Quando chegou a hora, Éden apenas fez uma checagem, através da rede de comunicações, e reduziu a polaridade do campo magnético na parte superior do tórulo. A Barca desceu rapidamente, deixando para trás a fotos-fera. À medida que caíam, Éden mantinha constante checagem na queda da temperatura das paredes da Barca. Queria estar ciente, de imediato, quando o efeito séssil começasse a diminuir. As paredes internas principiaram a aquecer antes do tempo esperado e, quando isso acontecia, o processo de aquecimento se efetuava com mais rapidez. Uma verificação imediata mostrou que a proporção de aumento de calor era mais rápida do que a proporção de descida; não podiam alcançar a profundidade exigida sem sofrer um excesso de aquecimento. A Barca não suportaria as temperaturas que Éden calculara. — Quente demais, quente demais — disse em voz alta. Verificou a profundidade; restavam ainda oitocentos metros para descer. Não valia a pena soltar a água onde estavam. Eram mais aqueles oitocentos metros ou nada. O plano estava em perigo.
Éden, na realidade, não fez uma pausa para tomar uma decisão. Simples e drasticamente cortou a força dos geradores de controle de polaridade ao tórulo e a Barca caiu como uma pedra, em direção ao centro do sol. Caiu os oitocentos metros em quarenta segundos, os últimos noventa metros em violenta desaceleração, quando Éden levantou o nível da força. A queda foi tão rápida que houve apenas pequeno aquecimento adicional. Acionou a ejeção da água e jogou a Barca no padrão que fora determinado e em dez segundos a disjunção estava completa, e um jato de oxigênio-15 começou sua trajetória em direção à Terra. O plano, ao menos, fora consumado.
Éden aumentou a força do tórulo para um nível alto e a Barca começou a subir até a segurança relativa da superfície. O tempo no nível mais profundo fora suficientemente curto para que a temperatura interna da Barca estivesse a uns toleráveis 49 graus Centígrados. O painel de controle não mostrava nenhum sinal de perturbação até que chegaram a uns noventa metros da superfície.
A subida foi diminuindo até parar. A Barca afundou um pouco e depois começou a quicar como uma bola até que finalmente encontrou um nível, ficando então imóvel. Não havia meio de reforçar a polaridade no tórulo. Os instrumentos mostravam que a força total fluía para dentro das serpentinas, mas não era suficiente. Éden começou a verificação de tudo. Apenas iniciara quando uma voz falou pelo comunicador interno: — Uma parte da nossa serpentina da parte externa da Barca não está funcionando, Mestre. Possivelmente foi queimada, mas vou dar outra checada.
Éden voltou sua atenção para as serpentinas e logo percebeu a causa evidente da potência reduzida. Ativou todos os termelementos e outros transdutores nas vizinhanças da serpentina e em dois minutos compreendeu o que acontecera. A queimadura dera-se onde a serpentina fazia uma volta fechada. O efeito séssil ali devia ter sido ligeiramente menor do que nas outras partes. O enorme calor inesperado atravessara a película de vapor de carbono e destruíra uma parte dos fios feitos da amálgama de titânio e molibdênio. A força total nas serpentinas não era o suficiente para aumentar a polaridade da Barca.
Éden falou no comunicador interno para explicar a situação à tripulação. Uma voz alegre respondeu: — Então estou contente em saber que não há nada realmente sério. Só quer dizer que não podemos subir. É isso que o senhor calcula, Mestre?
— Por enquanto sim. Alguém tem alguma sugestão?
— Sim, Mestre. Quero pedir uma licença.
— Concedida — disse Éden. — Agora concentrem-se nisto: temos que subir.
Fez-se silêncio a bordo da Barca, um silêncio que durou vinte minutos.
Éden falou: — Tentarei alcançar a Base.
Durante dez minutos Éden tentou contato com a Base ou outra Barca com seu rádio de ondas longas-longas. Estava a ponto de desistir, quando escutou uma resposta fraca e indistinta. Através do barulho, apenas pôde reconhecer o chamado da Barca comandada por Dobzhansky. Transmitiu sua situação repetidas vezes para que a outra Barca pudesse preencher as lacunas de uma das mensagens. Ficou na escuta e então soube que haviam compreendido e que notificariam a Base. Mas enquanto escutavam a fraca retransmissão todo som cessou. Uma verificação de sua posição mostrou que haviam sido levados à deriva, fora do alcance do rádio, e então Éden inclinou a Barca e começou a fazer um círculo. A três quartos do trajeto do círculo, captou de novo o sinal e ficou na escuta. Não ouviu nada a não ser comunicações de rotina.
Um dos homens disse: — Que bonito! Podemos nos movimentar, com a maior facilidade, em qualquer direção, exceto na única direção que queremos ir.
A Base estava chegando agora, através da outra Barca, e o próprio Hechmer falava. A única coisa que disse foi: — Fiquem firmes, enquanto estudamos o que podemos fazer.
Agora, já não havia mais despreocupação a bordo. A Barca flutuava a novecentos metros abaixo da superfície do sol e começaram a perceber que não havia nada que alguém pudesse fazer a respeito. Uma volta mais fechada da serpentina e a Barca ficara indefesa e impossibilitada de voltar à superfície. Cada homem ficou sentado, fitando seus instrumentos.
Uma visão de cabelos escuros flutuou em frente do painel de Éden e na sua mente podia ver a expressão acusadora no seu rosto. Era a isto que ela se referia, a Rebecca de negros cabelos, quando disse: "Não vou compartilhar você com coisa alguma." Ele compreendeu, pois agora ela teria pena dele, encurralado num lugar onde homem nenhum estivera.
— Perdemos a Barca novamente, Mestre. — As palavras o abalaram. Inclinou a Barca e começou a circular novamente. A sombra de Rebecca estava ainda sobre ele, mas, subitamente, sentiu-se muito irritado. O que era isto? As preocupações de uma mulher atrapalhando o seu trabalho? Isto não era para ele; isto não era para o Instituto. ÍNão podia haver turvação da mente, nenhuma dicotomia de lealdade — e, então, ele viu o caminho para a ascensão.
Quando completava o círculo, checou seus mapas e encontrou a mancha solar mais próxima. Estava a uma hora de distância. Voltou até o alcance de rádio e disse a Dobzhansky que estava se dirigindo para a mancha solar e que, por meio dela, chegaria à superfície. Dizendo isto rumou para lá. Com uma operação mais cuidadosa diminuíram o tempo do trajeto para cinqüenta minutos. Os últimos dez minutos do caminho foram passados em aumentar a velocidade da Barca para o máximo possível.
A novecentos metros abaixo da superfície do sol, entraram numa descontinuidade magnética, que definia a mancha solar.
Penetraram na mancha em direção oposta à sua rotação e as grandes serpentinas da Barca atravessaram as linhas de enorme força magnética. O movimento gerou força e essa força adicional fluiu para o tórulo e a Barca começou a subir. Era uma boa mancha solar, de oito mil quilômetros de diâmetro — ainda uma criança. A Barca andou em direção contrária à direção da rotação da mancha e subiu lentamente, fazendo espirais. Foi preciso muita paciência para notar que a Barca estava subindo, mas hora após hora continuaram a ascensão até que, finalmente, alcançaram a superfície indefinida do sol. Contornaram as bordas da mancha solar até que a Base os resgatou. Atracaram a Barca e entraram na Base.
Éden fez o relatório para Hechmer e tomaram medidas para arredondar mais as curvas fechadas de todas as serpentinas. O mais importante de tudo é que a técnica de profundidade fora um sucesso; foi acrescentada à lista de técnicas utilizáveis.
— Bem — disse Éden, quase no fim do relatório, esticando seus músculos cansados: — Vejo que estou escalado para outro turno daqui a uma hora. Isso não me dá muito tempo para descansar.
Então Hechmer disse aquilo que fez com que Éden ficasse satisfeito de ter decidido permanecer no Instituto: — Hm-m-m... é verdade — disse ele, dando uma olhada no seu cronômetro —, vou lhe dizer o que fazer. Pode chegar uma hora atrasado para o seu turno.
George Andrews, muito cansado, precisava fazer muito esforço para aspirar o ar para dentro dos pulmões. Deitado numa cama macia, escorado por travesseiros sob o sol quente da Califórnia, seus dedos puxavam a fina colcha que o cobria. Estava no alto de uma colina. Então viu uma nuvem esquisita, de forma cilíndrica, que parecia subir da planície, chegar muito alto, por entre as nuvens altos-cúmulos que salpicavam o céu. George Andrews sorriu, pois podia agora ver claramente que ela se aproximava. O cilindro vertical de nuvens brancas como espuma deslocava-se em sua direção e sentiu o frio quando a frente da massa gélida da nuvem o tocou. Jogou as cobertas para trás, quando os flocos de neve começaram a descer para que caíssem em cima dele. Levantou o rosto para a nevada e estava frio e era bom. Mas, mais do que isso, sentia-se feliz.
Aqui estava a neve, que ele tanto amava quando era menino. E o fato de que estava caindo, demonstrou-lhe que os homens, afinal de contas, não haviam mudado muito, pois isto era uma coisa tola. Não tinha mais problemas com o ar agora; não precisava dele. Jazia sob o cobertor de neve e era um bom cobertor.
O NEGÓCIO DE ANTIGÜIDADES
A arqueologia É uma dessas ciências, como a oceanografia, que não é uma única ciência, mas, um compêndio de ciências. Longamente praticada por amadores entusiásticos, foi recentemente revolucionada por técnicas como o carbono-14 para precisar as datas, o que causou grande consternação em muitos museus.
Robert Silverberg É um dos mais prolíficos e versáteis escritores jovens que trabalham dentro e na periferia do campo de ficção científica. Sua produção, um tanto surpreendente, inclui centenas de contos e mais de uma dezena de romances — todos produzidos num período de pouco mais de dez anos. Entre seus livros temos: Recalled to Life (Ressuscitado); Time of the Great Freeze (No Tempo da Grande Geleira) e Master of Life and Death (O Senhor da Vida e da Morte); nos últimos anos ele tem se concentrado em livros de ciência popular, particularmente em temas sobre a arqueologia, tais como o premiado Lost Cities and Vanished Civilizations (Cidades Perdidas e Civilizações Desaparecidas). Bob, um nova-iorquino que viveu toda sua vida na grande cidade, e sua mulher Bárbara moram numa vasta mansão, que ele está enchendo, andar por andar, com livros — a maioria de sua autoria.
O NEGÓCIO DE ANTIGÜIDADES
O voltusiano era um humanóide pequeno e murcho, cujos apêndices vermelhos do pescoço tremiam, como se a idéia de fazer trabalho de arqueologia de campo o excitasse insuportavelmente. Gesticulou para mim, ansiosamente, com um dos seus quatro braços tortos, incitando-me a prosseguir por cima da areia plana e fina.
— Por aqui, amigo. Aqui está o túmulo do Imperador.
— Já vou indo, Dolbak — respondi, andando penosamente, sentindo o peso da pá e da mochila nas minhas costas. Alcancei-o logo depois.
Estava de pé, próximo a um montículo arredondado no solo, e apontava para baixo. — É este — disse com alegria. — Guardei-o para o senhor.
Meti a mão no bolso e tirei um punhado tilintante de moedas, com feitio de flechas e dei-lhe uma. O voltusiano balançou a cabeça, agradeceu efusivamente e correu para ajudar-me a descarregar a mochila.
Tirando a pá de suas mãos, enterrei-a no solo e comecei a cavar. A emoção da descoberta ia se apossando de mim, como sempre acontece quando começo uma nova escavação. Suponho que essa seja a maior alegria do arqueólogo: aquele momento de apreensão, quando a pá corta a terra pela primeira vez. Cavei rapidamente, seguindo as instruções de Dolbak.
— Aí está — disse ele, com reverência. — E é uma beleza. Oh, Jarrell-senhor, estou tão contente pelo senhor!
Apoiei-me sobre o cabo da pá para descansar, antes de curvar-me para olhar. Enxuguei as gotas de suor e pensei no grande Schliemann, trabalhando no calor sufocante de Hissarlik para desenterrar as ruínas de Tróia. Schliemann, há muito tempo, é um dos meus heróis — junto com outros arqueólogos que fizeram trabalho pioneiro no solo fértil da Mãe Terra.
Cansado, dobrando um joelho, inclinei-me para procurar com a mão, na areia fina da planície voltusiana, apalpando para poder apanhar o objeto brilhante que aflorava à superfície. Retirei-o do solo com cuidado, limpando a camada de lodo que o cobria.
— Um amuleto — disse, depois de estudá-lo por uns instantes. — Terceiro Período; talismã protetor, não-especificado. Incrustado com gobrovires, lapidados em forma de esmeraldas, da mais pura água. — Completando a análise, virei-me para Dolbak e apertei sua mão com entusiasmo. — Como posso te agradecer, Dolbak?
Ele deu de ombros. — Não é necessário — disse e, dando uma olhada no amuleto, continuou: — Alcançará um preço bem alto. Alguma mulher da Terra irá usá-lo orgulhosamente.
— Ah... sim — respondi, um pouco amargo. Dolbak tocara na fonte de minha profunda frustração e tristeza.
Esta perversão da arqueologia, de torná-la um repositório de balangandãs e quinquilharias para adornar os lares e as mulheres de homens ricos, sempre me indignou. Embora nunca tenha visto a Terra, gosto de pensar que trabalho na grande tradição de Schliemann e Evans, cujas maiores descobertas podiam ser apreciadas nas galerias do Museu Britânico e do Ashmolean, e não balançando no colo pintado de alguma rapariga muito rica, que sucumbisse à paixão do momento pelas antigüidades.
Quando o Renascimento chegou, quando o interesse de todos voltou-se para o mundo antigo e os tesouros que se achavam no solo, senti uma satisfação profunda — minha profissão de escolha, pensei, possuía valor tanto para a sociedade como intrinsecamente. Como estivera enganado! Pegara este trabalho na esperança que ele me fornecesse dinheiro suficiente para levar-me à Terra — mas, ao invés disso, tornara-me apenas o lacaio pago de um comerciante de modas femininas e os museus inatingíveis da Terra continuavam sob uma camada de cinco centímetros de poeira.
Suspirei e voltei minha atenção para a escavação. O amuleto estava lá, sem jaca, na sua perfeição, uma relíquia maravilhosa do grande povo que outrora habitara Voltus. Escondendo minha tristeza, retirei carinhosamente, com ambas as mãos, o amuleto do túmulo onde descansava há milhares de anos.
Tive um impulso súbito de dar outra gorjeta a Dolbak. O alienígena engelhado aceitou as moedas, com gratidão, mas, com uma certa reserva, que me fez sentir que talvez todo este negócio parecesse a ele tão sórdido quanto a mim.
— Foi um bom dia de trabalho — disse-lhe. — Vamos voltar agora. Vamos fazer avaliar isto e eu te darei tua comissão, hem, meu velho?
— Isso será muito bom, senhor — disse suavemente Dolbak, ajudando-me a recolocar a mochila nas costas.
Atravessamos a planície e entramos na colônia terráquea, em silêncio. Ao dirigir-nos pelas ruas sinuosas até o posto de avaliação, hordas de crianças voltusianas de cor roxa e quatro braços aproximaram-se de nós, fazendo grande algazarra, oferecendo coisas para vender — coisas que elas próprias haviam feito. Alguns dos seus trabalhos eram muito belos; os voltusianos pareciam ter uma extraordinária aptidão para o artesanato. Mas desvencilhei-me deles. Tive sempre como norma não tomar conhecimento deles, não importando a beleza que um delicioso lavabo tecido de vidro pudesse ter, quão leve e delicado fosse um trabalho de marfim. Tais coisas, sendo contemporâneas, não têm valor no mercado da Terra, e um homem de meios limitados deve evitar luxos desta espécie. • *< i
O escritório de avaliação ainda estava aberto e vi, ao aproximar-me, dois ou três homens de pé, do lado de fora; cada um com seu guia voltusiano.
— Olá, Jarrell — disse roucamente um homem alto, quando eu já estava perto.
Fiz um movimento de recuo. Era David Sturges, um dos menos escrupulosos dentre os muitos arqueólogos em Voltus — um homem que não hesitava em invadir os santuários mais sagrados do planeta e causar danos irreparáveis, para arrancar um único item vendável.
— Olá, Sturges — respondi secamente.
— Teve um bom dia, meu velho? Achou alguma coisa com valor suficiente, que valha a pena para que eu envenene você?
Sorri a contragosto e assenti com a cabeça. — Um bonito amuleto do Terceiro Período. Tenho a intenção de entregá-lo imediatamente, mas, se você preferir, não o farei. Levo-o para casa, deixo-o em cima da mesa, hoje à noite. Desse modo você não arrebentará todo o lugar para achá-lo.
— Oh, isso não será necessário — respondeu Sturges. — Cheguei hoje aqui com um bom punhado de crânios esmaltados
— uma dúzia, da Era de Expansão, incrustados de volutas de platina. — Apontou para o seu guia alienígena, um voltusiano de aspecto sombrio, chamado Qabur. — Meu rapaz achou-os para mim. Um cara formidável esse Qabur. Ele chegou ao depósito secreto como se tivesse um radar no nariz.
Comecei a esboçar uma resposta em louvor do meu próprio guia, quando Zweig, o avaliador, chegou até a porta da frente do escritório e olhou para fora. — Quem é o próximo? — gritou.
— É você, Jarrell?
— Sim, senhor. — Apanhei minha pá e segui-o. Ele deixou-se cair na cadeira, atrás de sua mesa e olhou para cima, com ar cansado.
— O que é que você tem para mostrar, Jarrell?
Tirei o amuleto da mochila e entreguei-o a Zweig. Ele examinou-o cuidadosamente, notando como a luz cintilava nas facetas dos gobrovires incrustados. Olhou-me e disse: — Não é mau.
— É uma bela peça, não é?
— Não é má — repetiu. — Setenta e cinco dólares, diria.
— O quê? Calculava que essa peça valesse pelo menos quinhentos! Ora, vamos, Zweig, seja razoável. Olhe para a qualidade desses gobrovires!
— Muito bonitos — admitiu. — Mas você tem que compreender que o gobrovir, embora atraente intrinsecamente, não é uma pedra muito valiosa. E devo levar em consideração, tanto o valor intrínseco como o valor histórico, você sabe.
Fiquei carrancudo. Agora viria a longa arenga sobre a oferta e a demanda, a escassez de pedras, o custo de enviar o amuleto para a Terra, colocá-lo no mercado e mais e mais. Falei antes que ele tivesse a chance de continuar. — Não vou regatear com você, Zweig. Dê-me cento e cinqüenta ou eu fico com o amuleto.
Zweig riu com malícia. — O que você faria com ele? Doá-lo ao Museu Britânico?
A observação doeu. Olhei-o com tristeza e ele disse: — Eu lhe dou cem.
— Cento e cinqüenta, ou fico com ele.
Zweig meteu a mão na gaveta e puxou dez notas de dez dólares. Espalhou-as à sua frente, em cima da mesa. — Esta é a oferta — disse. — É o melhor que a Companhia pode fazer.
Olhei para ele durante um momento agoniante; depois, carrancudo, apanhei as dez notas e entreguei o amuleto. — Tome. Você pode dar-me trinta peças de prata pelo próximo que eu trouxer.
— Não dificulte as coisas para mim, Jarrell. Isto é apenas parte do meu trabalho.
Joguei uma nota de dez para Dolbak que esperava, cumprimentei rapidamente e saí.
Voltei para o meu alojamento mesquinho, nos arredores da colônia terráquea, num estado de profunda depressão. Cada vez que entregava uma antigüidade a Zweig — e durante os dezoito meses, desde que aceitara este maldito emprego, já entregara uma boa quantidade — sentia-me, na realidade, um Judas. Quando pensava nas fileiras de vitrinas, que minhas descobertas poderiam ter enchido na, digamos, Sala de Voltus do Museu Britânico, a lembrança doía-me. Os escudos de cristal com agarradores duplos; os serrilhados de obsidiana da mais alta qualidade; os protetores de orelhas, com as incríveis filigranas — estes eram produtos de uma das mais férteis e criativas civilizações de todas, os antigos voltusianos — e estes tesouros estavam sendo espalhados pelos quatro cantos da galáxia, como balangandãs.
O amuleto de hoje — que fizera eu com ele? Tinha-o entregue a um alcoviteiro, quase, para que fosse enviado para a Terra e vendido a quem desse mais.
Olhei em volta do quarto. Pequeno, em ordem, sem nenhuma antigüidade minha. Entregara cada tesouro a Zweig; não tinha nenhum desejo de guardar um sequer para mim. Senti que o impulso de antiquário estava morrendo dentro de mim, sufocado pelo comercialismo desenfreado que me prendera nas suas redes no momento em que assinara contrato com a Companhia.
Peguei um livro — O Palácio de Minos — e olhei-o com raiva antes de recolocá-lo na estante. Meus olhos latejavam, devido à angústia do dia; sentia-me irritado e muito cansado.
Alguém bateu na porta — timidamente a princípio, e a seguir com mais audácia.
— Entre! — gritei.
A porta abriu-se lentamente e um pequeno voltusiano entrou. Reconheci-o — era um guia desempregado, irresponsável demais para se confiar nele. — O que é que você quer, Kushkak? — perguntei, com cansaço.
— Senhor? Jarrell-senhor?
— Sim?
— O senhor precisa de um rapaz, senhor? Posso mostrar-lhe os mais belos tesouros, senhor. Somente os melhores — daqueles que dão um bom preço.
— Já tenho um guia — disse-lhe. — Dolbak. Não preciso de outro, obrigado.
O alienígena pareceu encolher-se dentro de si mesmo. Apertou os braços inferiores contra o seu corpo — tinha um ar infeliz. — Então, sinto tê-lo incomodado, Jarrell-senhor. Sinto. Sinto muito.
Observei-o recuar. Estava desesperado. Todos esses voltusianos pareciam-se com velhos murchos, mesmo os mais jovens. Era uma raça em franca decadência, com apenas traços da grandeza que deviam ter possuído nos dias em que os artefatos eram produzidos. Era estranho, entretanto, que uma raça tivesse decaído a tal ponto no decurso de uns poucos anos.
Caí num sono inquieto, sentado na minha poltrona grande. Por volta das vinte e três horas e meia, outra batida soou na porta.
— Entre — disse eu, um pouco admirado.
A figura descarnada de George Darby apareceu na porta. Darby era um arqueólogo que compartilhava comigo o desejo apaixonado de ver a Terra e o desgosto pela servidão à qual nos vendêramos.
— O que é que o traz aqui tão tarde, George? — perguntei, acrescentando o convencional: — Como foi sua exploração hoje?
— Minha exploração? Oh, minha exploração! — Parecia estranhamente excitado. — Sim, minha exploração. Você conheceu meu rapaz, Kushkak?
Fiz que sim com a cabeça. — Ele esteve aqui há pouco, procurando emprego. Não sabia que estivera trabalhando com você. — disse eu.
— Só por dois dias — disse Darby. — Concordou em trabalhar por cinco por cento, por isso tomei-o a meu serviço.
Não fiz nenhum comentário. Sabia como as coisas podiam ser difíceis.
— Ele esteve aqui, hem? — perguntou Darby, carrancudo. — Você não o empregou, não é?
— É claro que não! — respondi.
— Bem, eu sim. Mas ontem ele me levou em círculos, durante cinco horas, antes de admitir que, na realidade, não tinha nenhum lugar específico em mente, por isso despedi-o e é por isso que estou aqui.
— Por quê? Com quem você saiu hoje?
— Com ninguém — disse Darby, abruptamente. — Saí sozinho. — Pela primeira vez, reparei que seus dedos estavam trêmulos e, na melancólica meia-luz do meu quarto, seu rosto parecia pálido e cansado.
— Você foi sozinho? — repeti. — Sem um guia?
Darby balançou a cabeça, passando um dedo nervoso pelo seu topete. — Foi em parte por necessidade — não pude achar outro rapaz em tempo — e em parte porque queria experimentar, sair por minha conta. Os guias têm um modo de levar a gente, sempre, para a área das Sepulturas, você sabe. Fui em outra direção. Sozinho.
Permaneceu em silêncio por uns instantes. Fiquei pensando o que o estaria incomodando tanto assim.
Então pediu-me: — Ajude-me a tirar a mochila.
Afrouxei as correias dos seus ombros e coloquei a bolsa de lona cinza sobre uma cadeira. Ele abriu as fivelas enferrujadas, meteu a mão na bolsa e tirou, com muita ternura, alguma coisa de lá de dentro. — Olhe — disse. — O que é que você acha disto, Jarrell?
Peguei o objeto com muito cuidado e examinei-o atentamente. Era uma tigela, feita à mão, de alguma espécie de argila negra, de aspecto barrento. Marcas de dedos apareciam de forma nítida e áspera, a tigela era de formato desigual e mal-acabada. Um trabalho extremamente tosco.
— O que é isto? — perguntei. — Pré-histórico, sem dúvida. Darby esboçou um sorriso triste. — Você acha, Jarrell?
— Deve ser — respondi. — Olhe para ela; diria que foi feita por uma criança, se não fosse pelo tamanho das impressões deixadas pelos dedos na argila. Ou é muito antiga ou é o trabalho de um débil mental.
Ele balançou a cabeça e continuou: — Uma atitude lógica. Só que... achei isto no estrato abaixo da tigela — disse, entregando-me uma pequena cunha dourada no estilo do Terceiro Período.
— Isto se encontrava por baixo da tigela? — perguntei, confuso. — A tigela é mais recente do que a cunha, é o que você está dizendo?
— Sim — respondeu calmamente. Juntou as mãos. — Jarrell, estas são minhas conjecturas e pode acreditar se quiser. Descontemos a possibilidade da tigela ter sido feita por um débil mental e consideremos a possibilidade de que seja o exemplo de um período decadente da cerâmica voltusiana, da qual não sabemos nada.
— O que eu calculo — continuou ele, medindo cuidadosamente as palavras — é que a tigela data da antigüidade clássica: três mil anos, mais ou menos. E que a cunhazinha que você está admirando tanto, tenha, talvez, um ano, talvez dois, no máximo.
Quase deixei cair a cunhazinha em feitio de dente. — Você está querendo dizer que os voltusianos estão nos enganando?
— É isso mesmo — respondeu Darby. — Estou dizendo que nas suas palhoças — aquelas palhoças proibidas para nós — estão ocupados em produzir antigüidades aos montes e plantando-as nos lugares certos, onde podemos achá-las e desenterrá-las.
Era uma teoria espantosa. — O que é que vai fazer? — perguntei. — Que provas tem você?
— Nenhuma ainda. Mas eu a conseguirei. Vou desmascarar todo esse negócio sujo — disse Darby com firmeza. — Tenho a intenção de agarrar Kushkak e arrancar-lhe a verdade, mesmo que tenha de esganá-lo, e deixar o universo saber que as antigüidades voltusianas são fraudes, que os artefatos voltusianos antigos são coisas barrentas e feias, sem nenhum valor estético e de nenhum interesse para... ninguém... além... de nós... arqueólogos — terminou dizendo com amargura.
— Bravo, George! — aplaudi. — Desmascare isso, custe o que custar. Deixe que os filisteus, que pagaram tanto por estas peças, descubram que não são antigüidades e que são tão modernas quanto os fogões radiotérmicos das suas cozinhas bem aparelhadas. Isto os deixará doentes — visto que não tocam em nada que não tenha permanecido no solo por menos de uns milhares de anos, desde que este Renascimento começou a pegar.
— Exatamente — disse Darby. Senti uma nota de triunfo em sua voz. — Vou sair agora e achar Kushkak. Ele está suficientemente desesperado, para contar tudo. Quer vir comigo?
— Não... não — respondi rapidamente. Evito a violência de qualquer espécie. — Tenho algumas cartas para escrever. Tome conta disso você mesmo.
Apanhou suas duas antigüidades, levantou-se e saiu. Observei-o pela janela do meu quarto quando se distanciava pelas ruas sem calçamento até o posto de bebidas, onde Kushkak, geralmente, podia ser encontrado. Ele entrou — e, alguns minutos depois, escutei o som de vozes gritando dentro da noite.
A notícia explodiu no dia seguinte e, quando chegou o meio-dia, a vila estava em polvorosa.
Kushkak, apanhado de surpresa, contara tudo. Os voltusia-nos — brilhantes artesãos, como todos sabiam — haviam tentado vender seus trabalhos para a abastada Terra, durante anos, mas não houvera mercado. "Contemporâneo? Bah!" O que os fregueses queriam era antigüidades.
Sem poder vender seu trabalho, feito por eles mesmos, os voltusianos tinham mudado, obsequiosamente, para a manufatura de antigüidades, visto que seus ancestrais haviam sido desconsiderados a ponto de não deixar nada para comerciar a não ser os toscos potes de argila. Tiveram que criar uma história antiga, consistente, que tivesse um apelo para a imaginação dos terráqueos. Foi difícil, mas venceram o desafio e desenvolveram uma civilização comparável à do Egito, à da Babilônia e a de outras culturas fabulosas da Terra. Depois disso, foi uma coisa simples desenhar e executar as antigüidades.
E, então, foram enterradas nas camadas certas. Isto foi um trabalho difícil, mas os voltusianos conseguiram fazê-lo com facilidade, recompondo depois o estrato com a mesma habilidade de detalhe que empregavam para fabricar os objetos artísticos. O campo assim preparado, levaram o rebanho para pastar.
Olhei para os esqueléticos voltusianos com olhos cheios de novo respeito. Evidentemente, deveriam ter dominado as técnicas de arqueologia antes de começar seu embuste, de outro modo nunca teriam lidado tão bem com as relações estratificadas. Tinham levado o negócio a cabo sem uma falha — até o dia em que um terráqueo mau desenterraria uma verdadeira antigüidade voltusiana.
O ambiente era ainda caótico quando cheguei ao largo em frente do escritório de avaliações naquela tarde. Terráqueos e voltusianos rodavam por ali, sem rumo, sem saber o que fazer ou para onde ir.
Ouvi um rumor que Zweig estava morto por suas próprias mãos, mas isto foi logo desmentido pela aparição do avaliador em pessoa, com o aspecto horrivelmente perturbado, mas, ainda vivo. Foi até o escritório e pregou um cartão, escrito às pressas. Nele lia-se:
NENHUMA TRANSAÇÃO HOJE.
Sorri, então vi Dolbak passar por mim e chamei: — Estou pronto para sair agora — disse inocentemente.
Ele olhou para mim com tristeza nos seus olhos sem pálpebras. — Senhor, o senhor não ouviu? Não haverá mais viagens à Região dos Túmulos.
— Oh? Então isto é verdade?
— Sim — disse ele, melancólico —, é verdade. Obviamente, ele não podia falar mais naquilo. Foi embora
e eu encontrei-me com Darby.
— Parece que você tinha razão — disse-lhe eu. — O negócio todo desmoronou.
— Naturalmente. Quando foram confrontados com a história de Kushkak, viram que tudo estava perdido. São tão fundamentalmente honestos que não tentaram manter a farsa em face das acusações.
— De uma certa forma, isso é muito mau — disse eu. — Aquelas coisas que eles produziam eram belas, você sabe.
— Um momento, amigo — disse uma voz profunda atrás de nós. Voltamo-nos e vimos David Sturges, olhando para nós com raiva.
— O que é que você quer? — perguntou Darby.
— Quero saber por que você não ficou de boca fechada — disse Sturges. — Por que é que você teve que estragar este lindo arranjo? Que diferença fazia que as antigüidades fossem verdadeiras ou não? Enquanto as pessoas estavam dispostas a pagar por elas, por que balançar o barco?
Darby gaguejou impotente contra o homem mais corpulento, mas não fez nada.
— Você estragou tudo — continuou Sturges. — O que é que você pensa fazer para viver, agora? Você tem meios para ir a outro planeta?
— Eu fiz o que era correto.
Sturges fungou com desprezo e afastou-se. Olhei para Dar-by. — Ele tem alguma razão, você sabe. Vamos ter que ir a um outro planeta, agora. Voltus não vale um tostão. Você conseguiu desenraizar-nos e acabar com a economia de Voltus, de uma só vez. Talvez fosse melhor que tivesse ficado calado.
Ele olhou para mim com frieza, durante alguns instantes. — Jarrell, acho que o superestimei.
Uma nave veio buscar Zweig no dia seguinte e o escritório de avaliações foi fechado permanentemente. A Companhia não tocaria em Voltus novamente. A tripulação da nave atravessou apressadamente o posto terráqueo, distribuindo folhetos, informando-nos que a Companhia ainda necessitava dos nossos serviços e que poderia empregar-nos em outros planetas — contanto que pagássemos nossas passagens.
Aí é que estava. Nenhum de nós economizara o suficiente, dos pagamentos recebidos da Companhia, para sair de Voltus. Fora o sonho de todos nós — ver a Terra algum dia, explorar o mundo de onde os antepassados de nossos pais tinham vindo — mas fora uma quimera. Aos preços da Companhia, nunca poderíamos economizar o suficiente para poder ir embora.
Comecei a perceber que Darby talvez tivesse feito mal em desmascarar a fraude. Certamente, não nos ajudava em nada e era, por assim dizer, o fim do mundo para os nativos. De um só golpe, a vasta fonte de renda fora cortada e sua economia precária, destruída. Andavam calados pela rua silenciosa. Esperava ver, qualquer dia desses, os urubus pousados nos telhados.
Três dias depois que o caso estourou, um nativo trouxe-me uma mensagem. Era de David Sturges, dizendo, sucintamente: "Haverá uma reunião no meu apartamento hoje à noite."
Quando cheguei, vi que toda a pequena colônia de arqueólogos da Companhia estava lá — até Darby.
— Boa noite, Jarrell — disse Sturges polidamente quando entrei. — Acho que todos estão aqui agora; então, podemos começar. — Pigarreou e continuou:
— Senhores, alguns dos que aqui se acham têm me acusado de falta de ética. Até de desonesto. Não precisam negar. Eu não o nego. Tenho faltado com a ética. Entretanto — disse franzindo a testa — encontro-me preso no mesmo desastre que atingiu a todos e, igualmente, sem meios de remediar a situação. Por isso gostaria de dar uma pequena sugestão.
— O que é que você tem em mente, Sturges?
— Hoje de manhã — respondeu —, um dos alienígenas veio a mim com uma idéia. É boa. Em resumo, sugeriu que, como arqueólogos especializados, ensinássemos aos voltusianos como << fazer artefatos da Terra. Não há mais mercado para qualquer coisa que saia de Voltus — mas, por que não continuar a tirar vantagem das habilidades dos voltusianos, enquanto o mercado estiver aberto para as coisas da Terra? Poderíamos contrabandear os artefatos para lá, plantá-los, fazer com que fossem desenterrados novamente e vendidos lá — teríamos o lucro total e não o pagamento miserável que a Companhia nos dá!
— Isso é desonesto, Sturges — disse Darby roucamente. — Não gosto da idéia.
— Que tal, então? Gosta da idéia de morrer de fome? — perguntou Sturges. — Vamos apodrecer em Voltus a não ser que usemos nossa inteligência.
Fiquei de pé. — Talvez eu pudesse tornar as coisas mais claras para o Dr. Darby — disse. — George, estamos presos num buraco e a única coisa que podemos fazer é espernear. Estamos, como vermes, presos no oco de um pau e só o que podemos fazer é retorcer-nos. Não podemos sair de Voltus e não podemos ficar aqui. Se aceitarmos o plano de Sturges conseguiremos economizar uma boa quantia em pouco tempo. Seremos livres.
Darby não se convenceu. Sacudiu a cabeça. — Não posso concordar em falsificar antigüidades da Terra. Não... se vocês fizerem isso, eu os denunciarei!
Um silêncio de estupefação desceu sobre toda a sala, diante da ameaça. Sturges pediu-me socorro com os olhos e, molhando os lábios, falei: — Você parece não compreender, George. Uma vez funcionando, este plano vai incrementar a verdadeira arqueologia. Olhe... nós desenterramos uma meia dúzia de escaravelhos do Vale do Nilo. As pessoas compram-nos — e nós continuamos a cavar, com os lucros que fizermos. A Terra experimenta um súbito interesse; então, há um renascimento da arqueologia. Aí desenterramos escaravelhos verdadeiros.
Seus olhos brilharam, mas podia ver que ainda não estava persuadido. Joguei minha carta mais alta.
— Além disso, George, alguém terá de ir à Terra, para supervisionar o projeto.
Parei de falar, percebi a aprovação silenciosa de Sturges e continuei: — Creio — disse sonoramente — que é a decisão unânime dos que aqui estão reunidos, que nomeemos nosso grande especialista em antigüidades terráqueas como supervisor deste projeto na Terra: Dr. George Darby.
Achei que ele não resistiria a isto. E estava certo.
Seis meses depois, um arqueólogo, trabalhando perto de Gizeh, descobriu um escaravelho de belíssimos desenhos, finamente trabalhado e cravejado de estranhas pedras preciosas.
Num artigo, publicado num jornal obscuro, que nós assinamos, ele, o arqueólogo, fazia conjecturas sobre se a descoberta representava o afloramento de uma era, até agora desconhecida, da egiptologia. Vendeu a jóia a um sindicato de joalheiros, por uma soma astronômica, utilizando os lucros para financiar uma vasta escavação de todo o Vale do Nilo, coisa que não se fazia desde o declínio da arqueologia, ocorrido há mais de um século.
Pouco depois, um estudante, que trabalhava na Grécia, apareceu com um extraordinário escudo homérico.
O que fora uma ciência tão morta quanto a alquimia. subitamente floresceu para uma nova vida; o novo da Terra descobriu que seu próprio mundo continha riquezas tão desejáveis quanto aquelas de Voltus, Dariak e outros planetas explorados pelas Companhias, para encontrar quinquilharia; e custavam muito menos.
Os ateliês voltusianos estão agora funcionando a todo vapor, e as únicas limitações ao volume de nossa produção é a dificuldade de contrabandear os objetos para a Terra e enterrá-los no lugar certo. Financeiramente, estamos indo muito bem. obrigados. Darby, que dirige brilhantemente a operação na Terra, manda-nos polpudos cheques todos os meses, que dividimos entre nós, partes iguais, depois de ter pago os voltusianos.
Às vezes, sinto pesar de que tenha sido Darby e não eu a ganhar o cobiçado lugar na Terra, mas conformo-me com a idéia de que não havia outro jeito de conseguir a adesão dele. Aprendi alguma coisa sobre meios e fins. Logo estaremos todos ricos o suficiente para viajar à Terra se desejarmos.
Mas não tenho certeza de que queira ir. Existem verdadeiras antigüidades voltusianas, sabem, e estou tão interessado nelas quanto nas da Grécia e de Roma. Vejo uma oportunidade para praticar um pouco de arqueologia pura, num campo de pesquisa virgem.
Portanto, talvez fique aqui. Estou pensando em escrever um livro sobre antigüidades voltusianas — as verdadeiras, quero dizer. Todas coisas toscas, sem valor comercial. E, amanhã, vou ensinar a Dolbak como se faz cerâmica asteca do período chichimeca. É muito bonita. Acredito que haja um bom mercado para ela.
VOVÔ
A exobiologia — o estudo das formas de vida extraterrestres — foi definida como uma ciência sem sujeito. Apesar disto, seu material inexistente tem fascinado a humanidade durante, pelo menos, dois mil anos.
Dizem que William Randolph Hearst certa vez enviou um telegrama a um famoso astrônomo com a seguinte mensagem: "SE HÁ VIDA EM MARTE TELEGRAFE MIL PALAVRAS". Recebeu a resposta, repetida quinhentas vezes: "NINGUÉM SABE." Temos a sorte de viver numa época em que respostas mais informativas estão para ser dadas num futuro próximo. Que diriam, me pergunto, os estudiosos do planeta vermelho em outros tempos, a respeito do volume que tenho em cima de minha mesa de trabalho intitulado Biology and the Exploration of Mars (Biologia e a Exploração de Marte), escrito pelo Space Science Board of the National Academy of Science? Cito algumas passagens relevantes: "A essência de nossas conclusões é que a exploração de Marte... realmente merece a mais alta prioridade científica no programa espacial da nação, nas próximas décadas... Oportunidades favoráveis, entre 1969, e 1973, podem e devem ser exploradas com o máximo empenho ... A longo prazo, acredito que expedições tripuladas... farão parte da exploração do planeta...". Alguns dos nossos leitores ficarão tão surpresos quanto nós ao descobrir que as missões tripuladas a Marte serão exeqüíveis na década dos 80.
Muito antes disso, evidentemente, esperamos ter, ao menos, respostas preliminares através das sondas Mariner e suas sucessoras, que orbitarão o planeta e o examinarão como os satélites meteorológicos examinam a Terra. Entretanto, não devemos ficar muito impacientes ou esperar demais antes do pouso do homem em Marte. Vale a pena mencionar que somente uma entre o primeiro quarto de milhão de excelentes fotografias, tiradas pelo satélite Tiros, mostrou qualquer evidência de que no planeta Terra existia vida inteligente.
Na ausência de fatos concretos, os escritores de ficção científica não têm permanecido ociosos. De fato, bem pelo contrário: muito — possivelmente demais — do esforço, depois de Luciano de Samosata, século segundo da Era Cristã, foi dedicado a representar os habitantes fantásticos e freqüentemente horripilantes de outros mundos. O tradicional Monstro-de-Olhos-Esbugalhados tornou-se um símbolo da forma mais vulgar de ficção científica, que encontra o seu nadir nos filmes de horror.
Entretanto, se existe uma lição a aprender da biologia da Terra, é que as ameaças óbvias talvez não sejam as mais letais. Para um visitante marciano uma vaca poderá parecer um monstro muito mais perigoso do que uma cascavel. (Pode ser até que ele tenha razão; se uma cascavel mordesse um marciano poderia acontecer que quem morresse fosse a cobra.) O escritor de ficção científica moderno, portanto, evita os Monstros-de-Olhos-Esbugalhados, preferindo perigos muito mais sutis. E este conto de James Schmitz sugere que, quando chegarmos a outros mundos, será melhor que nos mantenhamos alertas. Os nativos podem não ser tão amistosos quanto pensamos.
Conhecido por sua imaginação extravagante, Schmitz publicou seu primeiro conto em Unknown Worlds (Mundos Desconhecidos) em 1943. Hoje dedica-se somente à literatura e, como muitos dos escritores de ficção científica, mora na Califórnia.
VOVÔ
Uma coisa penugenta, de asas verdes, do tamanho de uma galinha, voou pela encosta da colina até um ponto diretamente acima da cabeça de Cord e pairou ali uns seis metros por cima dele. Cord, um ser humano de quinze anos, encostou-se no barco dos pântanos — ou skipboat — ancorado no equador de um mundo que conhecia seres humanos há apenas quatro anos terrestres, e olhou especulativamente para a coisa que voava. A coisa era, na despreocupada e não muito precisa linguagem da Equipe Colonial de Sutang, um inseto do pântano. Escondida na penugem, atrás da cabeça do inseto, havia uma coisa menor, semiparasítica, classificada como um ginete de inseto.
Para Cord parecia uma nova espécie. Seu ginete poderia ou não vir a ser outro desconhecido. Cord era um homem de pesquisas nato; sua primeira visão do esquisito par voador atravessara-o de intermináveis curiosidades que vibravam dentro dele. Como é que esse fenômeno particular despertara isso nele, e por quê? Que coisas fascinantes poderia obrigá-lo a fazer, uma vez que o conhecesse melhor?
Normalmente, ele era impedido, por circunstâncias várias, de levar a cabo tais investigações. A Equipe Colonial era uma turma de trabalho prática e laboriosa — duas mil pessoas a quem haviam dado vinte anos para tomar posse e dominar o mundo novinho em folha de Sutang, até o ponto em que cem mil colonizadores pudessem fixar-se ali, com razoável segurança e conforto. Mesmo aos novos estudantes de colonização, como Cord, era exigido que limitassem sua curiosidade ao padrão de pesquisas estabelecido pela estação à qual estavam ligados. A inclinação de Cord para experiências independentes lhe havia granjeado a desaprovação de seus superiores imediatos em ocasiões anteriores.
Lançou um olhar despreocupado na direção da Estação Colonial da Baía Yoger, que ficava às suas costas. Não havia sinal de atividade humana naquela massa baixa, parecendo uma fortaleza na colina. Seu compartimento de saída permanecia fechado. Em quinze minutos, conforme programado, seria aberto para deixar sair a Regente Planetária que, naquele dia, inspecionava a Estação da Baía Yoger e suas principais atividades. *
Quinze minutos era tempo suficiente para descobrir alguma coisa sobre o novo inseto, decidiu Cord.
Mas teria que apanhá-lo primeiro.
Tirou do coldre uma das duas armas manuais. Esta era de sua propriedade: uma arma de projéteis, de Vanádia. Com o polegar, Cord engatilhou-a para mandar um míssil anestésico, destinado a caça miúda, e derrubou o bicho do pântano, acertando-o limpa e microscopicamente na cabeça.
Quando o inseto bateu no chão, o ginete deixou o seu "poleiro". Um pequeno demônio escarlate, redondo e elástico como uma bola de borracha, arremessou-se na direção de Cord, em três pulos, a boca escancarada para enterrar-lhe as presas venenosas de dois centímetros. Um tanto sem fôlego, Cord engatilhou a arma novamente, acertando-o no meio do salto. Era mesmo uma nova espécie! A maioria dos ginetes era inofensiva, simples sugadores de sucos de plantas...
— Cord! — era uma voz feminina.
Cord praguejou em voz baixa. Não ouvira o clique da câmara central ao abrir-se. Ela devia ter vindo do outro lado da estação.
— Oi, Grayan! — gritou ele inocentemente, sem olhar para trás. — Venha ver o que eu tenho! Uma nova espécie!
Grayan Mahoney, uma garota esguia, de cabelos pretos, dois anos mais velha do que ele, desceu a colina, quase correndo, em sua direção. Era a estudante mais brilhante da colônia e o diretor da estação, Nirmond, indicava-a, de tempos em tempos, como um belo exemplo pelo qual Cord devia pautar o seu comportamento. Apesar disso, ela e Cord eram bons amigos, mas ela gostava de mandar um pouco no rapaz.
— Cord, seu idiota! — disse, carrancuda, quando chegou perto. — Pare de agir como colecionador! Se a Regente saísse agora, você estaria frito. Nirmond esteve falando com ela a respeito de você!
— Contando o quê? — Cord perguntou, afobado.
— Para começar — disse Grayan —, que você não mantém o seu trabalho estipulado em dia. Segundo, que você foge em expedições solitárias, ao menos uma vez por mês, e tem que ser resgatado...
— Ninguém — interrompeu Cord, com calor — teve que me resgatar, ainda!
— Como é que Nirmond vai saber se você está vivo e com saúde quando você desaparece por uma semana? — respondeu Grayan. — Três — continuou, contando os itens nos dedos finos —, queixou-se que você tem, no bosque atrás da estação, jardins zoológicos particulares, de bichos não identificados e possivelmente venenosos. E quatro... bem, Nirmond, simplesmente, não quer mais ser responsável por você! — terminou, levantando os quatro dedos, significativamente.
— Puxa! — exclamou Cord desanimado, engolindo em seco. Somando assim, secamente, o seu procedimento não era tão bom.
— Puxa, mesmo! Eu vivo advertindo você! Nirmond quer que a Regente mande você de volta para Vanádia — e uma nave estelar está chegando a Nova Vênus dentro de quarenta e oito horas! — Nova Vênus era o nome da colônia principal da Equipe Colonial do lado oposto de Sutang.
— O que é que vou fazer?
— Comece a se comportar, principalmente como se tivesse bom senso. — Grayan subitamente sorriu. — Falei com a Regente, também... Nirmond ainda não se livrou de você! Se estragar a expedição de hoje às fazendas da Baía, você sairá da Equipe para sempre!
Enquanto se afastava, virou-se e acrescentou: — É bom que recoloque o skipboat no lugar; não vamos utilizá-lo; Nirmond vai nos levar no carro de esteiras até a beira da Baía e de lá sairemos de balsa. Não deixe que saibam que eu o avisei!
Cord olhou para ela, um tanto confuso. Não tinha percebido que sua reputação ficara tão ruim! Quanto a Grayan, cuja família servira em Equipes Coloniais nas últimas quatro gerações, não conseguia imaginar coisa pior do que ser desligada e mandada de volta, humilhada, para seu próprio planeta. Para surpresa sua, Cord começava a descobrir que sentia a mesma coisa a esse respeito!
Abandonando os espécimes recém-apanhados — que eles revivessem por si e voassem livres novamente —, levou correndo o skipboat para os fundos da estação e empurrou-o de volta no seu box.
A pouca distância da praia havia três balsas amarradas numa enseada coberta de juncos, em cuja margem Nirmond parará o carro de esteiras. As balsas pareciam chapéus de abas largas cujas copas eram semelhantes a um pão-de-açúcar, bastante gastas, flutuando ali, verdes e coriáceas. Ou a um aglomerado de nenúfares de seis metros de diâmetro, com a parte superior igual a um enorme abacaxi verde-cinza, crescendo no centro de cada um. Animais-plantas, de alguma espécie. Sutang era novo demais para que os seus filos houvessem sido separados em algo remotamente parecido com uma classificação. As balsas eram uma raridade local, que estava por ser investigada e que podia ser considerada inofensiva e moderadamente útil. Sua utilidade estava no fato de que eram empregadas como um meio, um tanto lento, de transporte sobre as águas rasas e pantanosas da Baía Yoger. Isso era todo o interesse que a Equipe tinha nas balsas, por enquanto.
A Regente levantara-se do assento de trás do carro, onde estivera sentada ao lado de Cord. Havia somente quatro na expedição; Grayan estava na frente com Nirmond.
— Aqueles são nossos veículos? — a Regente parecia divertida.
Nirmond sorriu, um pouco azedo. — Não os subestime, Dane! Em tempo poderão tornar-se um fator econômico importante, nesta região. Mas, na realidade, estas três são menores do que as que gosto de utilizar. — Ele examinava as margens da enseada, povoada de juncos. — Em geral, há um verdadeiro monstro estacionado aqui...
Grayan virou-se para Cord. — Talvez Cord saiba onde o Vovô está escondido.
A observação fora bem intencionada, mas Cord estava torcendo para que ninguém lhe perguntasse sobre Vovô. Todos olharam para ele.
— Ah, vocês querem o Vovô? — disse um tanto atrapalhado. — Bem, deixei-o... Quero dizer, vi-o há umas duas semanas, a mais ou menos um quilômetro e meio daqui...
Grayan suspirou. Nirmond resmungou e disse para a Regente: — As balsas têm a tendência de permanecer onde são deixadas, desde que a água seja rasa e lodosa. Elas usam um sistema de raízes capilares para extrair elementos químicos e nutrição do fundo da baía. Bem... Grayan, quer nos conduzir até lá?
Cord recostou-se no assento, sentindo-se um tanto infeliz, quando o carro de esteiras arrancou. Nirmond suspeitava que ele utilizara o Vovô numa das suas excursões não autorizadas nessa área, e Nirmond tinha razão.
— Soube que você é um perito com essas balsas — falou Dane ao seu lado. — Grayan disse-me que não poderíamos encontrar melhor timoneiro ou piloto, ou como quer que o chamem para a nossa viagem de hoje.
— Posso lidar com elas — disse Cord, transpirando. — Elas não dão trabalho nenhum! — Não sentiu que tivesse produzido boa impressão na Regente até agora. Dane era uma mulher jovem, de bonita aparência, com um modo de falar e rir espontâneo, mas não era a chefe da Equipe Colonial de Sutang à toa. Tinha jeito de ser bem capaz de mandar de volta qualquer um cuja ficha não estivesse à altura.
— Há também uma vantagem que nossas pequenas bestas têm sobre um skipboat — comentou Nirmond, lá da frente do carro. — Não precisa se preocupar que algum abocanhador tente subir a bordo com você! — Ele continuou falando, descrevendo os tentáculos como fitas que queimavam, e que as balsas espalhavam embaixo da água para desencorajar as criaturas prontas a fazer uma refeição das suas tenras partes inferiores. Os abocanhadores e duas ou três outras espécies ativas e agressivas da Baía não haviam ainda aprendido que era tolo atacar seres humanos armados num barco, mas deslizavam rapidamente na superfície para longe das balsas que perambulavam pachorrentamente.
Cord sentiu-se feliz em ser esquecido por alguns momentos. A Regente, Nirmond e Grayan eram todos gente da Terra, como a maioria dos membros da Equipe; e as pessoas da Terra deixavam-no pouco à vontade, particularmente em grupos. Vanádia, seu próprio mundo, mal se emancipara do status de colônia da Terra, coisa que talvez explicasse a diferença. Todas as pessoas da Terra que ele encontrara, até agora, pareciam dedicadas ao que Grayan Mahoney chamava de O Grande Quadro, enquanto que Nirmond, geralmente, referia-se a isso como "Nosso Propósito Aqui". Agiam estritamente de acordo com os Regulamentos das Equipes — às vezes, na opinião de Cord, de um modo bem insano. Porque, uma vez ou outra, o Regulamento não cobria inteiramente uma nova situação e então alguém acabava sendo morto. Ocasião em que o Regulamento era prontamente modificado, mas as pessoas da Terra não pareciam de modo algum perturbadas por tais eventualidades.
Grayan já tentara explicar isso a Cord: — Nós não podemos realmente saber de antemão como será um novo mundo! E, uma vez chegados lá, há coisas demais para fazer, para o tempo que temos de estudá-lo centímetro por centímetro. Você cumpre com seu trabalho e se arrisca. Mas, se obedecer o Regulamento, terá as melhores chances de sobrevivência que foram possíveis formular para você...
Cord sentia que preferia usar seu bom senso e não permitir que o Regulamento ou o trabalho o metessem numa situação que ele não pudesse resolver sozinho.
Ao que Grayan respondeu, com impaciência, que ele ainda não tinha o Grande Quadro...
O carro de esteiras deu uma guinada e parou. Grayan levantou-se e apontou. — Aquele lá é Vovô! — disse.
Dane também ficou de pé e assobiou baixinho, aparentemente impressionada com os quinze metros de largura do Vovô. Cord olhou em volta, com surpresa. Tinha quase certeza absoluta que Vovô estava a várias centenas de metros do lugar onde o deixara há duas semanas atrás e, como Nirmond dissera, elas geralmente não se deslocavam sozinhas.
Intrigado, Cord seguiu os outros pelo caminho estreito até a água, cercada de juncos do tamanho de árvores. De vez em quando tinha uma visão da plataforma do Vovô, cujas bordas apenas tocavam a margem. Então, o caminho alargou-se e ele pôde ver a balsa inteira, na água rasa, sob a luz do sol. Estacou alarmado.
Nirmond estava a ponto de subir à plataforma, à frente de Dane.
— Esperem! — gritou Cord. A preocupação tornou sua voz estridente. — Parem!
Correu até eles.
Todos se imobilizaram onde estavam e rapidamente olharam em volta. Depois olharam para Cord, que se adiantava. Eram bem treinados.
— O que é, Cord? — A voz de Nirmond era calma e intensa.
— Não subam na balsa; ela mudou! — a voz de Cord soava esquisita, mesmo aos seus próprios ouvidos. — Talvez nem seja mesmo o Vovô...
Percebeu logo que estava errado nesse último ponto, antes de terminar a frase. Espalhados em redor da balsa, viam-se pontos descorados, deixados ali por uma variedade de pistolas térmicas, uma das quais fora a dele. Era esse o modo de fazer andar aquelas coisas apáticas e sem cérebro. Cord apontou para a projeção central em forma de cone. — Olhem: sua cabeça! Ela está brotando!
— Brotando? — perguntou o chefe da estação, sem com preender. A cabeça de Vovô, como era próprio do tamanho do seu diâmetro, tinha quase seis metros e meio de altura e outro tanto de largura. Era blindada, como as costas de um sáurio, para defender-se dos sugadores de plantas, feito os que se encontravam em todas as balsas. Agora, dezenas de gavinhas longas, enroladas e sem folhas, saíam de toda a superfície do cone, como se fossem arames verdes. Algumas enrascadas no feitio de molas, outras estendiam-se, flácidas, até a plataforma, esparramando-se pela sua superfície. A parte superior do cone estava salpicada de botões de um vermelho raivoso, parecendo borbulhas, que tampouco se achavam lá antes. Vovô parecia um tanto doentio.
— Bem — disse Nirmond —, então é isso. Brotando! — Grayan deixou escapar um som de quem está se engasgando. Nirmond olhou para Cord, sem compreender. — É só isso que o está perturbando, Cord?
— Ora, sim! — respondeu Cord com excitação. Não tinha percebido o significado da palavra "só"; estava pronto para discutir e tremia. — Nenhuma delas jamais...
Então parou. Podia ver pelos seus rostos que eles não tinham compreendido. Ou, melhor, que tinham compreendido, mas, que simplesmente não iriam deixar que isso mudasse seus planos. As balsas eram classificadas como inofensivas, de acordo com o Regulamento. Até que se provasse o contrário, continuariam a ser consideradas inofensivas. Não se perdia tempo discutindo o Regulamento — até mesmo sendo um Regente Planetário. Sentia-se que não havia tempo a perder.
Ele tentou novamente: — Olhem... — começou. O que queria dizer-lhes era que o Vovô, acrescentado de um fator desconhecido, não era mais O Vovô. Era uma forma de vida imprevisível e enorme que devia ser completa e cuidadosamente investigada até se descobrir o que significava o fator desconhecido.
Mas de nada valeu. Eles sabiam tudo isso. Olhou para eles, impotente. — Eu...
Dane virou-se para Nirmond. — Talvez fosse melhor você verificar — disse, mas não acrescentou: — ... para tranqüilizar o garoto! — embora fosse isso o que queria dizer.
Cord sentiu que ficava horrivelmente vermelho. Pensavam que ele estava com medo — e na verdade estava — e sentiam pena dele — e não tinham direito de sentir. Mas não havia nada que pudesse fazer ou dizer agora, a não ser observar Nirmond andar com firmeza por cima da plataforma. Vovô estremeceu ligeiramente algumas vezes, mas as balsas sempre faziam isso quando alguém subia nelas. O chefe da Estação parou em frente de um dos brotos retorcidos, tocou-o e depois puxou. Levantou o braço e cutucou a excrescência, parecida com um botão de flor, que estava mais embaixo. — Que coisa mais estranha! — disse Nirmond por cima do ombro. Olhou novamente para Cord. — Bem, tudo parece bastante inofensivo, Cord. Vamos a bordo todo mundo?
Era como sonhar um sonho em que você grita e grita para as pessoas e não consegue se fazer ouvir! Cord subiu, com relutância, para a plataforma, atrás de Dane e Grayan. Sabia exatamente o que teria acontecido se tivesse hesitado, mesmo por um breve instante. Um deles teria dito, numa voz agradável, cuidando para não mostrar muito desprezo: — Você não é obrigado a vir se não quiser, Cord!
Grayan retirara a sua arma do coldre e estava pronta a fazer Vovô começar a se mexer rumo aos canais da Baía Yoger.
Cord tirou sua própria arma e disse roucamente: — Sou eu quem deve fazer isso!
— Muito bem, Cord. — Ela esboçou um sorriso, como se ele fosse alguém que ela tivesse visto pela primeira vez naquele instante, e deixou-o passar.
Todos eram tão irritantemente polidos! Já estava, pensou Cord, praticamente no caminho de volta para Vanádia.
Por um momento, Cord quase desejou que alguma coisa terrível e catastrófica acontecesse logo, para dar uma lição ao pessoal da Equipe. Mas nada houve. Como sempre, Vovô sacudiu-se vaga e experimentalmente, quando sentiu o calor em uma de suas bordas, o que era um procedimento normal. Embaixo d'água, fora do alcance da vista, encontravam-se as partes funcionais da balsa; grossas e curtas estruturas de folhas, com feitio de ramos, formadas para agir como tal, junto à profusão de viscosos e compridos apêndices causticantes, que mantinham os vegetarianos da Baía Yoger a distância, e uma floresta de raízes capilares por onde Vovô sugava os alimentos do lodo e das águas semiparadas da Baía e com as quais ele também se ancorava.
As folhas-remos começaram a agitar-se, a plataforma estremeceu, as raízes capilares foram arrancadas do lodo: Vovô estava se movimentando com seu modo circunspecto habitual.
Cord desligou o calor, colocou de novo a arma no coldre e ficou de pé. Uma vez em movimento, as balsas continuavam a viajar, sem pressa, por bastante tempo. Para fazê-las parar dava-se-lhes um toque de calor na beirada da frente; e podiam ser apontadas para qualquer direção, utilizando a arma ligeiramente do lado oposto da plataforma.
Era bastante simples. Cord não olhava para os outros. Ainda queimava por dentro. Observou as aglomerações de juncos ao passar e depois, na parte onde eram mais ralos, podia ver de vez em quando a extensão nevoenta, amarela e verde da Baía salgada à sua frente. Por trás da névoa, para o oeste, estavam os Estreitos Yoger, águas traiçoeiras e perigosas no fluxo e refluxo das marés; e, além dos Estreitos, o mar aberto, o Oceano Zlanti, que era inteiramente um outro mundo, um mundo do qual ainda não conheciam muita coisa.
Subitamente, sentiu-se doente com a lembrança, que já era uma certeza, de que agora nunca mais veria o Oceano Zlanti! Vanádia era bastante agradável; mas a parte selvagem e o seu frescor há muito já a haviam abandonado. Não era Sutang.
Grayan, que estava ao lado de Dane, chamou-o: — Qual é o melhor caminho daqui até as fazendas, Cord?
— Pelo grande canal à direita — respondeu. Acrescentou, com má vontade: — Estamos rumando para ele!
Grayan veio até ele. — A Regente não quer ver tudo isso — disse, abaixando a voz. — Os aglomerados de algas e plâncton primeiro. E depois tudo o que pudermos mostrar-lhe dos grãos mutantes em três horas. Rume para aqueles que apresentam melhores resultados e assim manterá Nirmond feliz!
Piscou o olho, como se ambos compartilhassem uma conspiração secreta. Cord olhou para ela com ar de dúvida. Não se podia dizer, pela atitude de Grayan, que alguma coisa estava errada. Talvez...
Cord teve um súbito clarão de esperança. Era difícil não gostar do pessoal da Equipe, mesmo quando estavam sendo cabeças-duras com respeito ao Regulamento. Talvez fosse isso que lhes dava sua vitalidade e determinação, mesmo que os tornasse inflexíveis consigo mesmos e com todos os outros. De qualquer forma, o dia não tinha acabado ainda. Talvez pudesse ainda redimir-se aos olhos da Regente. Alguma coisa poderia acontecer ...
Cord teve uma súbita, alegre e improvável visão de algum monstro da Baía arremessando-se para cima da balsa, com mandíbulas escancaradas e dele próprio estourando o que passava por miolos do monstro antes que alguém — Nirmond, em especial
— tivesse consciência da ameaça. Os monstros da Baía evitavam Vovô, naturalmente, mas talvez houvesse um meio de tentar um deles.
Até esse momento, percebeu Cord, deixara suas emoções tomarem conta dele. Estava na hora de começar a pensar!
Primeiro Vovô. Então ele tinha brotado — trepadeiras verdes e botões vermelhos: propósito desconhecido, mas, por outro lado, sem aparente mudança no seu padrão de comportamento. Era a balsa maior deste lado da Baía, embora todas estivessem crescendo constantemente durante os dois anos desde que Cord vira uma pela primeira vez. As estações em Sutang mudavam lentamente; seu ano durava um pouco mais do que cinco anos terrestres. Os primeiros membros da Equipe a desembarcar ali não tinham ainda visto um ano inteiro de Sutang passar.
Então o Vovô estava mostrando alterações devido à mudança de estação! As outras balsas, ainda não tão desenvolvidas, estariam para reagir do mesmo modo mais tarde. Animais-plantas — poderiam estar florescendo, preparando-se para propagar a espécie.
— Grayan — gritou ele. — Como é que as balsas se propagam? Como nascem, quero dizer.
Grayan mostrou-se satisfeita e as esperanças de Cord aumentaram mais um pouco. De qualquer forma, Grayan estava do seu lado!
— Ninguém sabe, ainda — respondeu ela. — Estávamos falando sobre isso neste momento. Mais ou menos a metade da fauna dos pântanos costeiros do continente parece atravessar um estágio preliminar de larva no mar. — Ela acenou com a cabeça em direção aos botões vermelhos do cone da balsa. — Parece que Vovô está para produzir flores e deixar que o vento ou a maré levem as sementes pelos Estreitos.
Isso fazia sentido. Mas também jogava por terra a esperança ainda mal esboçada de que a mudança apresentada por Vovô resultasse, de algum modo, num acontecimento drástico, que justificasse sua relutância em subir a bordo. Cord estudou com atenção, mais uma vez, a cabeça blindada — resistindo em abandonar por completo a esperança. Havia uma série de fendas verticais, pretas e pegajosas, entre as placas blindadas, que não estavam em evidência duas semanas antes. Era como se Vovô estivesse começando a se desmanchar nas juntas. O que podia indicar que as balsas, grandes como eram, não sobreviviam um ciclo de estações completo e sim que floresciam mais ou menos na presente época do ano de Sutang e depois morriam. Entretanto, era seguro apostar que Vovô não ia se desmanchar em decadência senil, antes que completasse a viagem naquele dia.
Cord desistiu de pensar no Vovô. Outra coisa ocupou sua mente: talvez ele pudesse conseguir que um monstro amável da Baía entrasse em ação e ele pudesse mostrar à Regente que não era nenhum maricas!
Pois os monstros estavam lá.
Ajoelhando-se a bordo da plataforma e olhando para dentro da água clara, cor de vinho, do canal profundo por onde passavam, Cord podia ver uma bela coleção deles a qualquer momento.
Uns cinco ou seis tipos de bichos vorazes, por exemplo. Como grandes crustáceos achatados, a maioria era cor de chocolate, com manchas verdes e vermelhas nos dorsos córneos. Em algumas regiões eram tão numerosos que não se podia imaginar de onde tirariam tanta comida, embora comessem quase tudo até mesmo a lama onde se aninhavam. Entretanto, preferiam que seu alimento fosse vivo e em grandes nacos e é por essa razão que não se nadava na Baía. Ocasionalmente, atacavam um barco; mas, o modo excitado com que eles fugiam para as margens do canal, mostrava que nada queriam saber da balsa grande em movimento.
Espalhados no leito do canal, viam-se buracos de sessenta centímetros, que pareciam estar vagos no momento. Normalmente, Cord sabia que uma cabeça estaria ocupando cada buraco. As cabeças consistiam, principalmente, em um jogo de três mandíbulas, pacientemente conservadas abertas, como alçapões, prontas para apanhar o que chegasse no raio de alcance dos corpos com feitio de lagartas que sustentavam as cabeças. Mas a passagem de Vovô, com seus apêndices ondulantes, feito penachos transparentes dentro d'água, havia assustado os vermes, fazendo-os desaparecer.
Por outro lado, a maioria era de cardumes de coisas miúdas — e então uma visão fugaz de escarlate-maligno. do lado esquerdo da balsa, saída como um dardo do meio dos juncos. Apontando o nariz fino como uma agulha no rastro de Vovô.
Cord observou-a sem se mexer. Conhecia aquela criatura, embora fosse rara na Baía e ainda não classificada. Rápida e feroz — alerta o bastante para apanhar os insetos do pântano em pleno vôo, quando esvoaçavam por cima da superfície da água. E Cord atormentara um deles com um caniço de pescar, fazendo-o pular para cima da balsa atracada, onde se debatera furiosamente até que Cord lhe deu um tiro.
Não precisava de vara de pescar. Um lenço seria igualmente eficiente, isto é, se estivesse disposto a arriscar um braço...
— Que criaturas fantásticas! — Era a voz de Dane, bem atrás dele.
— Cabeças-amarelas — disse Nirmond. — Eles têm uma classificação de alta utilidade. Mantêm equilibrada a população de insetos.
Cord levantou-se displicentemente. Não era ocasião de fazer truques! Os juncos à sua direita estavam cheios de cabeças-amarelas — uma colônia. Vagamente relacionados com os sapos, tinham o tamanho de um homem ou mais. De todas as criaturas que haviam sido descobertas na Baía, essas eram das que Cord menos gostava. Os corpos, parecendo sacos balofos, agarravam-se com quatro membros muito finos às partes superiores dos juncos de mais de seis metros, que cobriam as margens do canal. Raramente se mexiam, mas seus olhos salientes pareciam captar tudo o que acontecia ao seu redor. De vez em quando um bicho penugento chegava perto demais; e o cabeça-amarela então abria sua enorme boca vertical, forrada de fileiras de dentes, estendia a parte anterior da face, como se fosse um fole, atacava rápido como um raio e o inseto desaparecia. Podiam ser úteis, mas Cord detestava-os.
— Daqui a dez anos deveremos saber qual é o ciclo da vida costeira — disse Nirmond. — Quando estabelecemos a Estação da Baía Yoger não havia por aqui nenhum cabeça-amarela. Vieram no ano seguinte. Ainda com traços de forma larvar oceânica; mas a metamorfose estava quase completa. Tinham uns trinta centímetros de comprimento...
Dane observou que o mesmo padrão se repetia infinitamente em toda parte. A Regente examinava a colônia de cabeças-amarelas com um binóculo; guardou-o e olhou para Cord, sorrindo.
— Quanto tempo ainda até chegar às fazendas?
— Uns vinte minutos.
— A chave de tudo — disse Nirmond — parece ser a Bacia Zlanti. Deve ser uma sopa de cultura de vida na primavera.
— É — concordou Dane, que estivera ali em Sutang na primavera, há quatro anos terrestres. — Está começando a parecer que a Bacia por si só justificaria a colonização. A pergunta ainda é
— ela fez um gesto em direção dos cabeças-amarelas: — como é que criaturas assim chegam lá?
Andaram até o outro lado da balsa, discutindo correntes oceânicas. Cord poderia tê-los seguido, mas ouviu-se atrás deles um baque na água, do lado esquerdo, não muito longe. Ficou onde estava, observando.
Momentos depois, Cord viu o enorme cabeça-amarela. Deslizara do seu poleiro de junco, fazendo aquele barulho na água. Quase submerso, seguia a balsa, com seus enormes olhos verde-pálidos. Para Cord, era como se estivesse olhando diretamente para ele. Naquele momento, percebeu, pela primeira vez, por que não gostava dos cabeças-amarelas. Havia alguma coisa muito parecida com inteligência no seu olhar, uma avaliação incompreensível. Em criaturas como essas, a inteligência parecia um despropósito. Para que precisariam dela?
Um arrepio percorreu-lhe o corpo quando viu o cabeça-amarela submergir completamente na água e percebeu que o bicho tinha a intenção de vir atrás da balsa. Mas o arrepio era de excitação. Nunca vira antes um cabeça-amarela descer dos juncos. O amável monstro que procurava poderia estar se apresentando de uma forma inesperada.
Meio minuto depois viu-o novamente, mais ao longe, nadando desajeitadamente. Ao menos não tinha a intenção imediata de fazer uma abordagem. Cord viu-o aproximar-se dos apêndices flutuantes. Manobrou pelo meio deles, com movimentos natatórios curiosamente humanos, desaparecendo por baixo da plataforma.
Cord ficou de pé, imaginando o que significaria aquilo. O cabeça-amarela dava a impressão de conhecer os apêndices; vira um ar de intencionalidade em cada movimento da aproximação. Teve vontade de contar aos outros sobre aquilo, mas ali estava o seu instante de glória se o bicho, subitamente, subisse babando, pela borda da plataforma e ele o acertasse, matando-o bem debaixo dos seus narizes.
De qualquer forma, era hora de virar a balsa em direção às fazendas. Se nada acontecesse antes, então...
Ficou à espreita. Quase cinco minutos se passaram e nenhum sinal do cabeça-amarela. Ainda observando, um pouco inquieto, deu em Vovô um jato, bem calculado, de calor.
Pouco depois repetiu o jato. Então respirou fundo e esqueceu completamente o cabeça-amarela.
— Nirmond! — chamou, alarmado.
Os três estavam parados perto do centro da plataforma, ao lado do enorme cone blindado, olhando para a frente, em direção das fazendas. Olharam para trás.
— O que é que há, Cord?
Cord não pôde dizer nada, por alguns momentos. Subitamente, estava, outra vez, muito assustado. Alguma coisa tinha acontecido!
— A balsa não quer virar! — disse, finalmente.
— Dê-lhe uma boa queimada, desta vez! — respondeu Nirmond.
Cord olhou para ele. Nirmond, parado uns poucos passos em frente de Dane e Grayan, como se quisesse protegê-las, começou a parecer um pouco tenso — e não sem razão. Cord já acionara
a arma em três lugares diferentes da plataforma; mas, Vovô parecia ter desenvolvido uma súbita anestesia contra o calor. Continuavam a mover-se, firmemente, em direção ao centro da Baía.
Cord prendeu a respiração, aumentou ao máximo o calor da arma e deu uma boa dose em Vovô. Uma rodela de quinze centímetros de diâmetro imediatamente fez uma bolha que ficou marrom, e depois preta...
Vovô estacou. Sem mais nem menos.
— Isso mesmo! Continue quei... — Nirmond não completou a ordem.
Um tremor gigante. Cord cambaleou em direção à água. Então a beirada inteira subiu, enrolando-se atrás dele e voltou a desenrolar-se, dando um estalo nas águas da Baía que soou como um tiro de canhão. Cord voou para a frente, batendo com o rosto na plataforma e achatando-se contra ela, que ondulava por baixo dele. Mais dois enormes estalos e sacudidas. Depois, silêncio. Olhou em volta, procurando os outros.
Estava a mais de três metros e meio do cone central. Algumas vinte ou trinta das misteriosas gavinhas do cone haviam brotado e se esticavam, rigidamente, em sua direção, como se fossem magros dedos verdes. Não o podiam alcançar — a ponta mais próxima estava a uns vinte e cinco centímetros da ponta dos seus sapatos.
Mas Vovô pegara os outros — todos os três. Estavam amontoados na base do cone, num emaranhado de cordas vegetais verdes e não se mexiam.
Cord encolheu as pernas, cautelosamente, preparando-se para outra reação-terremoto. Mas nada aconteceu. Então descobriu que Vovô estava em movimento, no mesmo rumo anterior. A arma térmica desaparecera. Com muito cuidado tirou a arma vanadiana.
— Cord? Não pegou você? — Era a Regente.
— Não — respondeu ele, mantendo a voz baixa. Percebeu, subitamente, que havia dado os outros como mortos. Agora sentia-se doente e tremia.
— O que é que você está fazendo?
Cord olhou para a cabeça blindada de Vovô, com uma espécie de ânsia. Os cones eram ocos; o laboratório da Estação deduzira que a sua função principal era armazenar bastante ar embaixo das balsas para fazê-las flutuar. Mas naquela parte central encontrava-se o órgão que controlava todas as reações de Vovô. Respondeu baixinho: — Tenho uma arma e doze potentes balas explosivas. Duas delas estourarão o cone.
— Nada disso, Cord! — disse-lhe a voz torturada pela dor. — Se a coisa afundar, morreremos de qualquer maneira. Você tem cargas anestésicas para essa arma?
Cord fitou as costas de Dane. — Sim — respondeu.
— Dê um tiro em Nirmond e outro na garota, antes de mais nada. Diretamente na espinha, se puder. Mas não chegue mais perto...
De algum modo, Cord percebeu que não podia discutir com aquela voz. Cautelosamente, ficou de pé. A arma fez duas vezes um som, como se cuspisse alguma coisa.
— Muito bem — disse roucamente. — O que faço agora? Dane permaneceu em silêncio por uns momentos. — Sinto muito, Cord. Não posso lhe dizer isso. Vou dizer-lhe o que puder...
Novamente, ficou em silêncio por alguns segundos. — Esta coisa não tentou matar-nos, Cord. Podia tê-lo feito facilmente. É incrivelmente forte. Vi-a quebrar as pernas de Nirmond. Mas logo que paramos de nos mexer segurou-nos apenas. Ambos estavam já inconscientes... Você tem isso como referência. Estava tentando jogar você para dentro do alcance das suas gavinhas ou tentáculos, seja lá o que forem, não é mesmo?
— Acho que sim — respondeu Cord, abalado. Era isso o que acontecera, naturalmente; a qualquer momento Vovô poderia tentar de novo.
— Agora está nos alimentando com alguma espécie de anestésico próprio através das gavinhas. Pequenos espinhos. Uma espécie de dormência... — A voz de Dane sumiu por uns momentos. Depois disse com voz clara: — Olhe, Cord: parece que nós somos comida que ele está armazenando! Entendeu isso?
— Sim — respondeu.
— Está na época das balsas espigarem. Existem análogos. Comida viva para suas sementes, provavelmente: não para a balsa. Não se podia contar com uma coisa dessas. Cord?
— Sim. Estou aqui.
— Quero — disse Dane — ficar acordada o tempo que puder. Mas, na realidade, há mais uma coisa: esta balsa vai para algum lugar. Para algum local especialmente favorável. E isso poderá ser bem próximo à margem. Você poderá conseguir então; de outra forma depende de você. Mas mantenha a cabeça fria e espere uma boa oportunidade. Nada de heroísmos, entendeu?
— Certamente, compreendo — respondeu Cord. Então percebeu que estava falando de uma maneira tranqüilizadora, como se a Regente Planetária fosse alguém como Grayan.
— Nirmond é que está em pior situação — continuou Dane.
— A garota ficou inconsciente, imediatamente. Se não fosse por meu braço... Mas, se pudermos conseguir ajuda em umas cinco horas, tudo ficará resolvido. Deixe-me saber se alguma coisa acontecer, Cord.
— Assim farei — disse Cord suavemente. Então fez mira com sua arma bem num ponto entre os ombros de Dane e a carga anestésica voou, fazendo aquele som baixinho de cuspir alguma coisa, mais uma vez. O corpo rígido de Dane relaxou lentamente e foi tudo.
Cord vira que não havia nenhuma razão em deixá-la ficar acordada; acontece que não rumavam para lugar nenhum próximo da margem.
Os juncos e os canais já haviam ficado para trás e Vovô não mudara um milímetro o seu rumo. Dirigia-se para a Baía aberta — e já tinham companhia!
Por enquanto, Cord podia contar sete grandes balsas no raio de três quilômetros; e nas três, que estavam mais perto, podia ver uma brotação de novas gavinhas verdes. Todas nadavam reto na mesma direção; e o mesmo ponto para o qual elas rumavam parecia ser o centro agitado e estrondoso dos Estreitos Yoger, já agora a uns cinco quilômetros de distância!
Além dos Estreitos, o frio Mar Zlanti — as espessas neblinas e o mar aberto! Podia ser a época de germinação das balsas, mas parecia que iriam distribuir suas sementes na Baía...
Para um ser humano, Cord era um excelente nadador. Tinha uma arma e uma faca e, a despeito do que Dane lhe dissera, ele poderia ter uma chance entre os matadores da Baía. Mas seria uma chance muito pequena, na melhor das hipóteses. E não era, pensou, como se ainda não restassem outras possibilidades. Ele não iria perder a cabeça.
A não ser por acidente, é claro, ninguém viria à sua procura em tempo de poder salvá-los. Se alguém o fizesse seria nas proximidades das Fazendas da Baía. Havia um bom número de balsas ancoradas lá; calculariam que eles tinham utilizado uma delas. Uma vez ou outra, alguma coisa inesperada acontecia e alguém, simplesmente, sumia — quando se chegasse a uma conclusão do que acontecera agora, seria tarde demais.
Tampouco era provável que alguém se preocupasse nas próximas horas, com o fato de as balsas estarem migrando dos pântanos, através dos Estreitos Yoger. Existia uma pequena estação meteorológica, um pouco para dentro da costa, na parte norte dos Estreitos, que ocasionalmente utilizava um helicóptero. Era tão improvável, pensou Cord sombriamente, que o usassem no lugar certo, agora, quanto um transporte a jato voar baixo o suficiente para localizá-los.
O fato de que tudo dependia dele, como dissera a Regente, era-lhe mais patente agora! Cord nunca se sentira tão só.
Simplesmente porque iria tentar mais cedo ou mais tarde, levou a cabo, então, uma experiência que sabia não iria funcionar. Abriu o compartimento onde estavam as cápsulas anestésicas e contou cinqüenta cartuchos — um tanto apressado, pois não queria pensar para que ele as poderia querer eventualmente. Ficaram agora umas trezentas cargas no compartimento; e nos minutos seguintes, Cord enterrou um terço delas na cabeça de Vovô.
Depois disso parou. Uma baleia poderia ter dado sinais de sonolência, depois de uma carga menor. Vovô continuava a remar, imperturbável. Talvez tivesse ficado dormente em alguns lugares, mas, suas células não estavam equipadas para a distribuição do efeito soporífero desse tipo de droga.
Não houve nada que Cord pudesse imaginar fazer antes de chegar aos Estreitos. De qualquer forma, calculava que isso aconteceria em menos de uma hora, e se passassem através dos Estreitos ele se arriscaria a nadar. Não acreditava que Dane tivesse desaprovado, em tais circunstâncias. Se a balsa simplesmente os levasse para fora, naquela vastidão nevoenta do Mar Zlanti, então não haveria praticamente nenhuma probabilidade de sobrevivência.
Nesse meio tempo, Vovô estava definitivamente ganhando velocidade. Outras modificações estavam acontecendo — pequenas, mas ainda — para Cord — bem atemorizantes. Os botões vermelhos, semelhantes a espinhas, que salpicavam a parte superior do cone, estavam abrindo-se gradualmente. Do centro da maioria deles, projetava-se, agora, alguma coisa como uma larva fina, molhada e vermelha: uma larva, que se retorcia debilmente, estendendo-se uns cinco centímetros ou mais, descansava e se retorcia novamente, esticava-se mais um pouco, como se procurasse alguma coisa no ar. As fendas verticais, negras, na blindagem, pareciam mais profundas e largas do que há alguns minutos atrás, e um líquido espesso, escuro, pingava de muitas delas.
Em outras circunstâncias, Cord sabia que teria ficado fascinado pelas mudanças de Vovô. Mas, agora, aquilo chamava sua atenção desconfiada, somente porque não sabia o que significava.
Então, uma coisa apavorante aconteceu de súbito, uma coisa realmente apavorante. Grayan começou a lançar gemidos altos, horríveis e a se contorcer. Depois, Cord percebeu que não passara um segundo até que uma outra cápsula de anestésico cessou seus movimentos e gemidos; mas, antes as gavinhas haviam apertado seu abraço, não flexivelmente, mas enterrando-se como as garras ossudas de alguma monstruosa ave de rapina. Se Dane não o tivesse prevenido...
Pálido e transpirando, Cord abaixou lentamente a arma quando viu os tentáculos se afrouxarem novamente. Grayan parecia não ter sofrido algum dano a mais; e ela, certamente, teria sido a primeira a demonstrar-lhe que sua fúria assassina era tão inútil como se fosse dirigida contra uma máquina. Mas, por alguns momentos, continuou a se deleitar furiosamente com o pensamento de que em qualquer ocasião que quisesse, poderia fazer da balsa uma massa de vegetação despedaçada que se afundaria para sempre.
Em vez disso, com mais sensatez, deu a Dane e a Nirmond outra dose, para evitar que o mesmo acontecesse com eles. O conteúdo daquelas cápsulas, sabia, podia manter um ser humano entorpecido por quatro horas, no mínimo. Cinco cápsulas...
Cord, rapidamente, desviou a mente da direção que estava tomando, mas não conseguia fazê-lo completamente. A idéia continuava voltando, até que teve de encará-la:
Cinco cápsulas deixariam os três completamente inconscientes, não importa o que lhes acontecesse, até que morressem por outras causas ou recebessem um agente neutralizante.
Chocado, disse a si mesmo que não podia fazê-lo. Era a mesma coisa que matá-los.
Mas, então, com muita firmeza, viu-se levantando mais uma vez a arma, para totalizar a dose de cinco cápsulas dos três membros da Equipe. E, se foi a primeira vez, nos últimos quatro anos, que Cord sentiu vontade de chorar, também lhe pareceu que começara a compreender o que significava usar a cabeça — e outras coisas mais.
Cerca de trinta minutos mais tarde avistou uma balsa, tão grande quanto a deles, deslizar para dentro das águas espumantes dos Estreitos, a algumas centenas de metros à frente, desaparecendo de súbito, levada por correntes redemoinhantes. Jogava para todos os lados e rodopiava, empurrada para a frente por alguns metros e jogada novamente para um lado. Mas, logo recuperou o equilíbrio. Não como alguma espécie de vegetal, cegamente animado, pensou Cord, mas, como uma criatura, que lutava com determinação, inteligentemente, numa direção prefixada.
Pelo menos, pareciam praticamente inafundáveis...
Com a faca na mão, deitou-se, espremendo-se contra a plataforma ao ver os Estreitos rugirem à sua frente. Quando a plataforma começou a ondular e jogar por baixo dele, afundou a faca até o cabo e segurou-se nele. Subitamente, a água espumou por cima dele e Vovô estremeceu como uma máquina trabalhando. No meio de tudo, Cord teve a impressão horripilante de que a balsa poderia soltar seus prisioneiros humanos, inconscientes, durante a luta com os Estreitos. Mas subestimou Vovó nisso. Vovô também se agüentou.
De repente, tudo terminou. Agora navegavam sobre suave ondulação. Havia três outras balsas, não longe dele. Os Estreitos tinham-nas juntado, mas elas não demonstravam interesse na companhia uma da outra. Enquanto isso, Cord, abalado, levantou-se e começou a despir-se. As balsas principiaram a se afastar uma da outra. A plataforma de uma delas estava meio submersa; devia ter perdido muito do ar que a mantinha flutuante, como um pequeno barco e, agora, afundava.
Deste ponto, eram uns três quilômetros, a nado, até a costa norte dos Estreitos e outro quilômetro e meio, terra adentro, até a Estação Principal dos Estreitos. Não sabia nada sobre a correnteza; mas, a distância não parecia ser muito grande e ele não tinha coragem de deixar a faca e a arma para trás. As criaturas da baía adoravam o calor e a lama, não se aventuravam para além dos Estreitos. Mas, o Mar Zlanti criava seus próprios matadores, embora nunca tivessem sido observados de perto.
As coisas começavam a parecer mais animadoras.
Vozes agudas, não muito fortes, vinham lá de cima, como as vozes de gatos curiosos, enquanto Cord fazia uma trouxa das roupas e dos sapatos. Olhou para cima. Havia quatro deles, voando em círculos: enormes insetos dos pântanos, cada um carregando um parasita invisível. Provavelmente, bichos que viviam de carniça, inofensivos — mas. a envergadura de suas asas, de mais de três metros, impressionava. Inquieto. Cord lembrou-se do viajante carnívoro e venenoso, que deixara desacordado, perto da Estação.
Um deles mergulhou, preguiçosamente e veio deslizando em sua direção. Levantou vôo e voltou, para pairar por cima do cone da balsa.
O carona, que dirigia o voador inconsciente, não estava, em absoluto, interessado nele! Vovô estava tentando atraí-lo!
Cord olhava fascinado. A parte superior do cone estava viva, agora, com uma massa de extrusões escarlates, contorcendo-se como vermes, que haviam começado a florescer antes da balsa ter deixado a Baía. Aparentemente, pareciam apetitosas para o carona do bicho.
O inseto baixou com um esvoaçar de asas e tocou o cone. Como a mola de um alçapão, quando se fecha, as gavinhas verdes voaram para cima, enlaçando-o, esmagando as asas frágeis, quase desaparecendo dentro do corpo macio...
Cerca de um segundo depois. Vovô pegou outro petisco, este do próprio mar. Cord teve a rápida visão de alguma coisa semelhante a uma pequena foca de borracha, que se atirava para fora da água, na beira da balsa, e fora jogada imediatamente por ela contra o cone, onde as gavinhas a prenderam, ao lado do corpo do bicho voador.
Não foi a enorme facilidade com a qual se causava a morte inesperada o que deixou Cord ali parado, completamente chocado. Foi a destruição de suas esperanças de nadar dali até a margem. A uns cinqüenta metros de distância, a criatura da qual a coisa parecida com borracha estava fugindo surgiu rapidamente à superfície, à medida que se afastava da balsa; e só precisava de uma olhada. O corpo branco-marfim e as mandíbulas escancaradas eram muito semelhantes às dos tubarões da Terra, dando uma idéia da natureza do perseguidor. A diferença importante era que, onde quer que os caçadores brancos do Mar Zlanti fossem, eles iam aos milhares.
Atordoado com o incrível fator de má sorte, segurando ainda a trouxa de roupas, Cord fitava a margem. Sabendo o que procurar, podia perceber agora, com facilidade, as agitações reveladoras da superfície — lampejos longos, cor de marfim, que faiscavam por entre as ondas e desapareciam novamente. Cardumes de outras coisas pequenas arremessavam-se para fora da água, em nuvens cintilantes de desespero e caíam de volta na água.
Cord teria sido abocanhado, como uma mosca que se afogasse, antes de cobrir um vigésimo da distância!
Porém mais um longo minuto se passou, antes que a compreensão da finalidade de sua derrota tivesse penetrado em seu cérebro.
Vovô começava a comer!
Cada uma das fendas escuras, que se abriam dos lados do cone era uma boca. Por enquanto, só uma delas estava em condições de operar e a balsa não conseguia abri-la muito, ainda. Entretanto, o primeiro bocado fora introduzido dentro dela — o viajante parasita que as gavinhas haviam arrancado das costas penugentas do bicho voador. Passaram-se vários minutos até Vovô conseguir que o petisco desaparecesse, embora fosse tão pequeno. Mas era um começo.
Cord sentia que sua sanidade mental já não era a mesma. Ficou ali sentado, agarrando sua trouxa de roupa, apenas consciente do fato que tremia sem parar, sob a fria espuma que o tocava de vez em quando, enquanto observava atentamente as atividades de Vovô. Decidiu que passariam ainda algumas horas até que uma das bocas negras ficasse o suficientemente flexível, para dispor de um ser humano. Nessas circunstâncias, podia não fazer muita diferença para os outros seres humanos que estavam ali, mas o momento em que Vovô fizesse um movimento para apanhar o primeiro deles, seria também o momento em que Cord, finalmente, reduziria a balsa a pedaços. Os caçadores brancos eram comedores mais limpos, pelo menos; e isso era o quanto ele podia controlar o que estava para acontecer.
Nesse meio tempo, existia a fraca possibilidade de que o helicóptero da Estação Meteorológica os encontrasse...
Também nesse meio tempo, numa fascinação aterrorizada e já cansado, Cord discutia consigo mesmo acerca do mistério que teria produzido uma mudança tão alucinante com as balsas. Podia adivinhar, agora, para onde se dirigiam: havia, espalhadas, montes delas, estendendo-se até os Estreitos — mais ou menos paralelas ao seu próprio curso — e a direção de todas elas era o local fervilhante de plâncton da Bacia Zlanti, a uns quinhentos quilômetros para o norte. No tempo certo, até as aglomerações de nenúfares móveis, como eram as balsas, podiam fazer a viagem em benefício de suas crias. Mas, nada na sua estrutura explicava a súbita mudança que as transformava em carnívoros alertas e hábeis.
Observou como a pequena coisa — feito uma foca de borracha — foi içada, a seguir, até uma boca. As gavinhas quebraram-lhe o pescoço. A fenda abocanhou-a até os ombros e, então, foi trabalhando pacientemente naquilo que era um bocado grande demais. Ao mesmo tempo, ouviam-se mais gritos de gatos no céu; e, minutos depois, mais dois insetos do mar foram capturados, quase simultaneamente, e acrescentados à despensa. Vovô deixou cair a espécie de foca morta e alimentou-se de outro parasita de inseto. O segundo parasita deixou, de um pulo, o seu cortador, enterrou os dentes venenosos numa das gavinhas verdes que o agarrou novamente e imediatamente quebrou sua cabeça, batendo-a contra a plataforma.
Cord sentiu um ressurgimento de ódio irracional contra Vovô. Matar um inseto era quase igual a cortar um ramo de árvore; quase não possuíam uma consciência de vida. Mas o parasita suscitara sua simpatia, por causa de sua ação, aparentemente inteligente — R era de fato mais próximo à escala humana, nesse sentido, do que a monstruosa forma da vida que, mecanicamente, mas com muito êxito, aprisionara tanto ele como os seres humanos. Então, seus pensamentos devanearam novamente; começou a cogitar vagamente sobre a curiosa simbiose em que dois sistemas nervosos de duas criaturas tão diferentes quanto os insetos e seus parasitas podiam estar tão estreitamente ligados, a ponto de funcionarem como um só organismo.
Subitamente, uma expressão de extrema surpresa e espanto apareceu no rosto de Cord.
Ora — agora sabia!
De um salto, Cord ficou de pé, tremendo de excitação, o plano completo agora em sua mente. Uma dezena de tentáculos ondulantes se estendeu imediatamente na direção de seu súbito movimento, procurando por ele — tensos, esticando-se. Não puderam alcançá-lo, mas a reação selvagem e alerta das gavinhas congelou Cord onde estava, por uns momentos. A plataforma estremecia sob seus pés, como se estivesse irritada com sua inacessibilidade; mas, aqui não podia revirar uma borda para jogá-lo ao alcance das gavinhas, como o fazia tão bem nas beiradas.
Assim mesmo, era uma advertência! Cord rodeou o cone, cautelosamente, até chegar à posição que desejava, na parte dianteira, a meia distância entre o cone e a borda da balsa. Esperou. Esperou longos minutos, completamente imóvel, até que o seu coração se acalmasse e os estremecimentos raivosos e irregulares da superfície da coisa-como-balsa morressem e a última gavinha parasse o seu cego tatear no ar. Poderia ajudar muito se, por um ou dois segundos, depois que ele começasse a se mexer, Vovô não tivesse conhecimento de sua exata localização!
Olhou para trás, mais uma vez, para verificar o trajeto que já haviam percorrido, afastando-se da Estação Central dos Estreitos. Não podia, decidiu, estar mais que a uma hora de distância. Era suficientemente perto, conforme os cálculos mais pessimistas — se tudo o mais funcionasse bem! Não tentou pensar nos detalhes que "tudo o mais" incluiria, porque havia fatores que simplesmente não podiam ser calculados de antemão. Além disso, teve uma sensação inquietante de que, se pensasse demais sobre eles, poderia tornar-se incapaz de levar a cabo o seu plano.
Finalmente, movimentando-se com cautela, Cord tomou a faca na mão esquerda, deixando a arma no coldre. Levantou a trouxa por cima da cabeça, equilibrando-a na mão direita. Com um movimento longo e suave, jogou-a para o outro lado do cone, quase até a beirada oposta da plataforma.
A trouxa caiu com um baque surdo. Quase imediatamente, toda a borda da balsa dobrou-se para dentro, jogando o estranho objeto para os tentáculos esticados.
Simultaneamente, Cord correu para a frente. Por alguns instantes, sua tentativa de desviar a atenção de Vovô pareceu completamente bem-sucedida — então jogou-se de joelhos, quando a plataforma veio contra ele.
Estava a uns dois metros da borda. Quando esta se abateu em cima da plataforma, Cord atirou-se para frente.
Instantes depois, mergulhava na água clara e fria, em frente da balsa, e depois, retorcendo-se, voltou à superfície.
A balsa estava passando por cima dele. Nuvens de pequenas criaturas marinhas espalhavam-se através da selva escura de raízes sugadoras. Cord deu uma guinada, afastando-se da fita larga, verde e ondulante, que queimava. Sentiu uma pontada quente do lado, significando que fora tocado, levemente, por outra fita. Foi batendo, cegamente, através do emaranhado negro e viscoso de raízes capilares, que cobria o fundo da balsa. Então, uma luz verde, mortiça, passou por cima dele e Cord se elevou na bolha central, embaixo do cone.
Meia-luz, ar quente e abafado. Água batia em seu redor, puxando-o para longe, novamente — nada onde se segurar aqui! Então, acima dele, à sua direita, amoldada contra a curva interior do cone, como se tivesse crescido ali desde o começo, a figura, do tamanho de um homem, com aspecto de sapo — do cabeça-amarela.
O parasita da balsa...
Cord levantou o braço e agarrou o companheiro simbiótico e guia, puxando-o por uma flácida perna traseira, alçando-se metade para fora da água, atacando duas vezes com a faca, com a maior rapidez, antes que os olhos verde-pálidos acabassem de se abrir.
Calculara que o cabeça-amarela precisaria de uns dois ou três segundos para se desprender do seu hospedeiro, como faziam os parasitas dos grandes insetos, geralmente, antes que tentasse se defender. Este, simplesmente, virou a cabeça; a boca mergulhou para baixo e a mandíbula fechou-se no braço esquerdo de Cord. acima do cotovelo. O braço direito afundou a faca num dos olhos parados e o cabeça-amarela puxou a cabeça para trás, arrancando-lhe a faca das mãos.
Deixando-se escorregar, Cord agarrou com ambas as mãos a perna viscosa e puxou com toda a força. Por mais alguns momentos o cabeça-amarela ficou agarrado ao hóspede. Então, incontáveis extensões neurais, que o ligavam agora à balsa, soltaram-se numa sucessão de sons de sucção e de rasgar de tecidos; Cord e o cabeça-amarela caíram juntos na água.
Novamente o emaranhado de raízes — e, novamente, mais queimaduras elétricas nas costas e nas pernas! Sufocando, Cord soltou o cabeça-amarela. Abaixo dele, por uns momentos, um corpo rodopiava, mergulhando na água com movimentos estranhamente humanos. Então uma vaga compacta de água jogou-o para cima e para o lado, no momento em que uma coisa grande e branca atacou o corpo do cabeça-amarela que girava para o fundo e foi embora.
Cord alcançou a superfície uns três metros atrás da balsa. E, isso seria o fim, se Vovô já não estivesse diminuindo a marcha.
Depois de duas tentativas, conseguiu subir à plataforma e ficou ali por alguns minutos, engasgado e tossindo. Não havia nenhuma indicação, agora, de que sua presença era incômoda. Algumas pontas de gavinhas estremeciam espasmodicamente, como se tentassem recordar as antigas funções, quando ele se aproximou, mancando, dos seus companheiros para ver se ainda respiravam; mas Cord nada percebeu.
Respiravam ainda: sabia o bastante para não perder tempo em tentar ele próprio ajudá-los. Apanhou a arma térmica do coldre de Grayan. Vovô parará completamente.
Cord não tivera tempo de recuperar, por completo, sua sanidade mental ou teria se preocupado em saber se Vovô, violentamente separado do seu companheiro controlador, era ainda capaz de se mexer por si mesmo. Em vez disso, determinou a direção aproximada da Estação Principal do Estreito, escolheu um ponto na plataforma e deu um leve toque de calor.
Nada aconteceu imediatamente. Cord suspirou, pacientemente, e aumentou um pouco o calor.
Vovô estremeceu suavemente. Cord ficou de pé.
Lentamente, hesitando a princípio, depois, com firme determinação — embora novamente sem inteligência —, começou a remar de volta à Estação Principal dos Estreitos.
NÃO É A ÚLTIMA PALAVRA...!
De acordo com a minha parte no Tratado Clarke-Asimov, assinado verbalmente, há alguns anos atrás, num táxi que corria pela Park Avenue, eu aqui declaro que Isaac Asimov, Esquire, é: (a) o melhor escritor científico e (b) o segundo melhor escritor de ficção científica do mundo.
Em ambas as categorias ele é um dos mais prolíficos, sendo praticamente o Simenon de literatura científica. A última vez que contei, sua produção era de aproximadamente uns sessenta livros — e alguns deles volumes bem grossos. Seu monumental Intelligent Man's Guide to Science (Guia Científico do Homem Inteligente) desperta a admiração de um diletante como eu, e a variedade de assuntos coberta por ele é igualmente impressionante. Matemática, lingüística, bioquímica (durante alguns anos foi Professor Assistente de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston), astronomia, química, fisiologia, história — Ike escreveu sobre todas elas. É também a única pessoa que conheço que escreveu um conto enquanto se apresentava num show de TV — e, naturalmente, foi publicado.
Como escritor de ficção, Asimov é famoso por seu livro Three Laws of Robotics (Três Leis de Robótica) e estudos toynbeeanos sobre a ascensão e queda das civilizações galácticas. Mas, já escreveu histórias de crimes e não me surpreenderei se, algum dia, escrever um Western só para se divertir. (Talvez um Western de robôs.)
Este pequeno e arrepiante conto sobre o maior planeta do sistema solar é talvez ainda mais atual do que quando apareceu em 1941. A idéia de que pode haver vida, de alguma forma, em Júpiter, apesar do seu enorme tamanho e atmosfera hostil, ganhou terreno considerável nos últimos anos. Sabe-se agora que mesmo formas de vida terrestre, podem florescer no ambiente venenoso e desprovido de oxigênio de Júpiter; também temos quase certeza de que as temperaturas, a poucos quilômetros da camada visível de nuvens, poderiam ser bastante moderadas — talvez suficientemente altas, para que exista água no estado líquido. Como Asimov declarou em uma ocasião: "Se houver mares em Júpiter, com sua superfície maior do que cem Terras — imagine que pescaria!..."
Desde que este conto apareceu há um quarto de século atrás, descobrimos que Júpiter emite poderosas explosões de ondas de rádio, aparentemente associadas a pontos definidos, escondidos na superfície. São puro barulho, não demonstrando nenhum sinal de modulação inteligente e ninguém realmente imagina que sejam de origem artificial. Entretanto...
O que mais gosto neste conto é que ele lembra que na ciência como na tecnologia não existe tal coisa como "a palavra final." É uma lição que, depois de muitos choques, o mundo está começando lentamente a aprender.
NÃO É A ÚLTIMA PALAVRA!...
Nicholas Orloff ajustou o monóculo no olho esquerdo, com toda a incorruptível britanicidade de um russo educado em Oxford e disse acusadoramente: — Mas, meu caro Sr. Secretário! Meio bilhão de dólares!
Leo Birnam deu de ombros, com ar de cansaço, deixando o corpo magro afundar-se mais na cadeira. — A verba tem de ser aprovada, Comissário. O governo Provincial, aqui de Ganimedes, está ficando desesperado. Até agora tenho conseguido segurá-los, mas, como secretário de assuntos científicos, meus poderes são reduzidos.
— Eu sei, mas... — Orloff abriu as mãos, como querendo mostrar sua impotência.
— Suponho que seja assim — concordou Birnam. — O governo do Império acha mais fácil olhar para outro lado. Tem feito isso, constantemente, até agora. Há mais de um ano que tento fazê-los compreender a natureza do perigo que paira sobre todo o Sistema, mas parece que isso não pode ser feito. Por isso estou apelando para o senhor, Senhor Comissário. O senhor é novo no posto e pode encarar este assunto jupiteriano com olhos isentos de preconceitos.
Orloff tossiu e olhou para a ponta de suas botas. Em três meses, desde que sucedera a Gridley como comissário colonial, fizera entrar em discussão tudo o que se relacionava com "esses malditos jupiterianos". Isso fora de acordo com a política do gabinete, já estabelecida, que rotulara o caso jupiteriano como "amolação", muito antes de ele ter tomado posse.
Mas agora que Ganimedes estava ficando importuna, fora enviado a Jovópolis, com instruções de pôr os "malditos provincianos" no seu lugar. Era uma situação muito desagradável.
Birnam estava falando: — O governo Provincial chegou ao ponto em que, de fato, precisa tanto de dinheiro, que se não o conseguir vai levar tudo a público.
A fleuma de Orloff desapareceu completamente. Apanhou o monóculo quando este se desprendeu do olho. — Meu caro senhor! — exclamou.
— Sei o que isso significaria. Tenho me pronunciado contra isso, mas eles têm razão. Uma vez que o caso jupiteriano seja divulgado, uma vez que o público tomar conhecimento, o governo do Império não se agüentará lá em cima nem uma semana. E quando os Tecnocratas tomarem o poder, eles nos darão o que pedirmos. A opinião pública se encarregará disso!
— Mas, também criarão pânico e histeria...
— Certamente! E é por isso que hesitamos. Mas o senhor poderá chamar isto de um ultimato. Nós queremos sigilo, precisamos de sigilo, mas precisamos de dinheiro, ainda mais.
— Compreendo. — Orloff estava pensando com rapidez e as conclusões que tirou não foram agradáveis. — Nesse caso — disse —, seria aconselhável investigar o assunto mais um pouco. Se tiver os documentos referentes às comunicações com Júpiter...
— Eu os tenho — retrucou Birnam secamente —, e também os tem o governo Imperial em Washington. Isso não adianta, Comissário. Isso já foi ruminado por funcionários da Terra nesse último ano e não nos levou a parte alguma. Quero que Venha comigo até a Estação Ether.
O ganimediano levantara-se da cadeira e, do alto dos seus dois metros, olhava com intensidade e fúria para Orloff. Este corou. — Está me dando ordens? — perguntou.
— De um certo modo, sim... Digo-lhe que não há tempo. Se tiver intenção de agir, deve fazê-lo rapidamente ou então não faça nada. — Birnam fez uma pausa e acrescentou: — Não se importa em caminhar, espero. Os veículos elétricos, em geral, estão proibidos de se aproximar da Estação Ether e poderei aproveitar a caminhada para explicar alguns dos fatos. Fica apenas a uns três quilômetros.
— Posso caminhar — foi a resposta seca.
A subida, até o nível do subsolo, foi feita em silêncio, só quebrado por Orloff quando entraram na ante-sala fracamente iluminada.
— Está bem frio aqui.
— Eu sei. É difícil manter a temperatura normal tão perto da superfície. Mas estará mais frio lá fora. Veja!
Com um pontapé Birnam abrira a porta de um armário e apontava para os trajes dependurados no teto. — Vista-os. Vai precisar deles.
Orloff examinou-os com ar de dúvida. — São suficientemente pesados?
Birnam respondeu, enquanto se metia na sua roupa: — São aquecidos eletricamente. Vai achá-los suficientemente quentes. Isso mesmo! Meta as pernas das calças dentro das botas e aperte os cordões, bem apertados.
Voltou-se e, então, com um resmungo, apanhou um par de cilindros de gás comprimido da sua prateleira, num canto do armário. Verificou o dial e depois abriu o registro. Ouviu-se o silvo fininho do gás que escapava e, com isso, Birnam deu um suspiro de alívio.
— Sabe como fazer um destes negócios funcionar? — perguntou, quando atarraxava, no orifício da jaqueta, um tubo flexível de malha de metal, em cuja outra extremidade havia um curioso objeto curvo de vidro transparente.
— O que é isso?
— Um bocal de oxigênio! O que existe de atmosfera em Ganimedes é composto de argônio e nitrogênio — quase meio a meio. Não é, particularmente, respirável. — Levantou o par de cilindros, colocou-os nas costas de Orloff e apertou as correias.
Orloff cambaleou. — É pesado — disse. — Não poderei andar três quilômetros com isto!
— Não será pesado lá fora — respondeu Birnam, com indiferença, apontando para cima e abaixando o bocal por cima da cabeça de Orloff. — Apenas lembre-se de inspirar pelo nariz, expirar pela boca e não terá dificuldades. E, por falar nisso, o senhor comeu nas últimas horas?
— Almocei antes de vir até o seu gabinete.
Birnam fungou, hesitando. — Bem... isto torna as coisas um pouco difíceis. — Tirou, de um dos bolsos, uma caixinha de metal e jogou-a para o comissário. — Ponha uma dessas pílulas na boca e fique chupando.
Orloff trabalhou, desajeitado, com os dedos enluvados, para abrir a caixa; finalmente conseguiu pegar uma pequena esfera e
metê-la na boca. Seguiu Birnam por uma rampa, suavemente inclinada. O fundo do beco — que era um corredor — deslizou silenciosamente quando o alcançaram e ouviu-se um sussurro, quando o ar fugiu para a atmosfera mais rala de Ganimedes.
Birnam pegou no cotovelo do comissário, quase arrastando-o para fora.
— Abri os tanques ao máximo! — gritou. — Respire fundo e continue chupando essa pílula.
A gravidade voltara ao normal ganimediano, quando cruzaram o limiar e Orloff, depois de um horrível momento de aparente levitação, sentiu o estômago dar uma cambalhota e explodir.
Engasgou e remexeu a pílula dentro da boca com a língua, numa desesperada tentativa de controlar-se. A mistura rica de oxigênio, que saía dos cilindros, queimou sua garganta e, finalmente, Ganimedes firmou-se. Seu estômago voltou, estremecendo, para o lugar. Tentou andar.
— Vá com calma — disse Birnam, com voz tranqüila. — Produz esse efeito as primeiras vezes que o senhor muda de campos gravitacionais com muita rapidez. Ande devagar e pegue o ritmo ou levará um tombo. Isso mesmo, o senhor está pegando o jeito agora.
O chão parecia elástico. Orloff podia sentir a pressão do braço do seu companheiro, que o empurrava para baixo a cada passo, para evitar que pulasse muito alto. Agora, as passadas eram mais longas — e mais baixas — à medida que ele pegava o ritmo. Birnam continuou falando, a voz um pouco abafada, atrás da aba de couro, meio solta, que lhe cobria a boca e o queixo.
— Cada um no seu mundo — disse sorrindo. — Visitei a Terra, com minha mulher, há alguns anos atrás e passamos maus bocados. Não conseguíamos aprender a andar na superfície do planeta, sem uma máscara. Engasgava; realmente, engasgava. A luz do sol era brilhante demais, o céu azul demais e a grama verde demais. E os prédios todos eram acima da superfície. Nunca vou esquecer quando tentaram levar-me para dormir num quarto, vinte andares no ar, com a janela escancarada e a lua brilhando para dentro do aposento. Voltei na primeira nave espacial que passou e espero nunca mais voltar. Como se sente agora?
— Ótimo! Esplêndido! — Agora, que o primeiro desconforto desaparecera, Orloff achou a baixa gravidade estimulante.
Olhou em volta. O terreno ondulante e acidentado, banhado de uma luz amarela, estava coberto de arbustos atarracados, com folhas largas que demonstravam uma disposição ordenada e cuidadoso cultivo.
Birnam respondeu a pergunta não formulada: — Há suficiente dióxido de carbono no ar para manter as plantas vivas e todas têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico. Isso é que faz da agricultura a maior indústria de Ganimedes. Essas plantas valem seu peso em ouro lá na Terra, como fertilizantes, e valem o duplo ou o triplo disso, como fontes de meia centena de alcalóides, que não podem ser conseguidos em nenhuma parte do Sistema. E, naturalmente, todos sabem que a folha-verde ganimediana bate de longe o tabaco da Terra.
Ouviu-se o zumbido de um foguete estratosférico, lá no alto, na atmosfera rala e Orloff olhou para cima.
Parou — estacou — e esqueceu de respirar!
Era sua primeira visão de Júpiter no céu.
Uma coisa é ver Júpiter, friamente, contra o fundo de ébano do espaço. A novecentos e sessenta mil quilômetros já era bem majestoso. Mas, em Ganimedes, apenas aflorando por cima das colinas, seus contornos suavizados e ligeiramente indistintos pela atmosfera rala, brilhando suavemente, num céu violeta, onde apenas algumas estrelas fugitivas ousavam competir com o gigante jupiteriano — não pode ser descrito por uma combinação concebível de palavras.
A princípio, Orloff absorveu aquele enorme disco convexo, em silêncio. Era gigantesco, trinta e duas vezes o aparente diâmetro do sol, visto da Terra. Suas listras se destacavam em desbotadas faixas de cor, contra o amarelo do fundo; em volta da Grande Mancha Vermelha, havia um borrão oval, alaranjado, próximo à borda oeste.
Finalmente, Orloff murmurou debilmente: — Que beleza!
Leo Birnam fitou também o planeta, mas nos seus olhos não havia admiração. Tinham, ao contrário, a fadiga mecânica do hábito de ver uma coisa com muita freqüência e, além disso, uma expressão de profundo nojo. A aba do queixo cobria-lhe o sorriso nervoso, mas a pressão que fazia no braço de Orloff deixava marcas, mesmo através da fazenda grossa do traje de superfície.
Disse pausadamente: — É a visão mais horrível de todo o Sistema.
Orloff voltou, com relutância, sua atenção para o companheiro.
— O quê? — perguntou, acrescentando, mal-humorado: — Ah, sim, esses misteriosos jupiterianos.
Com isso, o homem de Ganimedes deu-lhe as costas, com raiva e começou a andar mais depressa, dando passadas de quatro metros e meio. Orloff seguiu-o, desajeitado, mantendo o equilíbrio com dificuldade.
— Ei, espere! — disse, ofegante.
Mas Birnam não estava escutando. Falava friamente, com amargura. — Vocês da Terra não podem se dar ao luxo de ignorar Júpiter. Não sabem nada a seu respeito. É apenas um pontinho de luz no seu céu, uma titiquinha de mosca. Vocês não moram aqui em Ganimedes, sempre a observar esse maldito colosso que parece olhar-nos com maligna satisfação. Por mais de quinze horas — escondendo Deus sabe o quê na sua superfície. Escondendo alguma coisa que espera e espera e tenta sair de lá. Como uma bomba picante, esperando para explodir!
— Tolice! — conseguiu dizer Orloff. — Quer andar mais devagar? Não nosso acompanhá-lo!
Birnam diminuiu o passo. Com voz tensa disse: — Todos sabem que Júpiter é habitado, mas praticamente ninguém se detém para pensar o que isso significa. Digo-lhe que esses jupiterianos, seja lá o que forem, nasceram para a púrpura. Eles são os soberanos naturais do Sistema Solar!
— Histeria pura — resmungou Orloff. — O governo do Império não tem escutado outra coisa do seu Domínio por mais de um ano.
— E vocês não ligaram. Bem, escute! Júpiter, descontando a espessura da sua atmosfera colossal, tem um diâmetro de cento e vinte oito mil quilômetros. Isso quer dizer que possui uma superfície cem vezes maior do que a da Terra e mais de cinqüenta vezes maior do que o Império Terrestre. Sua população, seus recursos, seu potencial de guerra estão na mesma proporção.
— Apenas números...
— Sei o que quer dizer — continuou Birnam arrebatada-mente. — As guerras não são feitas com números, mas com ciência e organização. Os jupiterianos têm ambas. Durante o quarto de século em que nos comunicamos com eles, aprendemos bastante. Eles têm poder atômico e têm o rádio. E num mundo de amoníaco sob grande pressão — um mundo, em outras palavras, um mundo no qual nenhum dos metais pode existir, como metal, por tempo algum, devido à tendência de formar complexos de amoníaco — conseguiram construir uma civilização complicada. Isso significa que tiveram de trabalhar sem plásticos, vidros, silicatos e materiais de construção sintéticos de qualquer espécie. Isso significa uma química tão desenvolvida quanto a nossa, e posso apostar que foi desenvolvida ainda mais.
Orloff esperou, bastante tempo, antes de responder. Então, disse: — Mas quanta certeza têm vocês sobre a última mensagem dos jupiterianos? Nós, lá da Terra, estamos inclinados a duvidar que os habitantes de Júpiter possam ser tão teimosamente beligerantes quanto vocês os descrevem.
O ganimediano deu uma risada seca. — Eles cortaram toda comunicação depois da última mensagem, não foi? Isso lhes parece amistoso da parte deles? Posso assegurar-lhe que todos ficamos carecas, tentando entrar em contato com eles. — Birnam fez uma pausa.
— Olhe aqui. não diga mais nada! — exclamou o ganimediano para depois continuar falando: — Deixe-me explicar-lhe uma coisa. Durante vinte e cinco anos, aqui em Ganimedes, um pequeno grupo de homens trabalhou penosamente, tentando entender e encontrar algum significado nuns cliques variáveis, distorcidos pela gravidade e cheios de estática, nos seus aparelhos de rádio, pois esses cliques eram a única ligação com a inteligência viva em Júpiter. Foi muito trabalho para um mundo de cientistas, mas nunca tivemos mais do que duas dúzias deles de uma só vez, aqui na Estação. Fui um deles, desde o começo e, como filólogo, tive minha parte em ajudar a construir e interpretar o código que se desenvolveu entre nós e os jupiterianos: portanto, pode ver que estou falando com conhecimento de causa.
Foi um diabo de trabalho doloroso. Transcorreram cinco anos antes que passássemos além dos cliques elementares da aritmética: três e quatro somam sete; a raiz quadrada de vinte e cinco é igual a cinco; seis fatorial é setecentos e vinte. Depois disso, de vez em quando passavam-se meses até que pudéssemos verificar qualquer nova comunicação de apenas um ún;co fragmento de pensamento.
Mas — e este é o ponto — quando os jupiterianos romperam as relações nós os compreendemos completamente. Não havia margem de estarmos errados na interpretação mais do que Gani-medes de se desprender de Júpiter. Sua última mensagem foi uma ameaça e uma promessa de destruição. Oh, não há dúvida — não há dúvida!
Ambos continuaram andando e atravessaram um desfiladeiro, não muito fundo, onde a luz amarela de Júpiter dava lugar a uma escuridão úmida e pegajosa.
Orloff estava perturbado. Nunca ninguém lhe apresentara o caso desta forma antes. — Mas, a razão, homem. Que motivo lhes demos... ? — perguntou.
— Nenhum motivo! Foi simplesmente isto: os jupiterianos descobriram, através de nossas mensagens — como e quando não sei — que nós não somos jupiterianos.
— Bem, isso é claro.
— Não foi "é claro" para eles. Nas suas experiências nunca haviam encontrado inteligências que não fossem jupiterianas. Por que deveriam fazer uma exceção em favor daquelas do espaço exterior?
— Você disse que eram cientistas. — A voz de Orloff tomara uma frieza cautelosa. — Não teriam percebido que ambientes alienígenas criariam vida alienígena? — continuou. — Nós sabemos. Nunca pensamos que os jupiterianos fossem terráqueos, embora nunca tivéssemos encontrado outras inteligências que não fossem as da Terra.
Estavam de novo sob a luz encharcante de Júpiter e estendia-se à frente uma vasta região plana de gelo que cintilava, ambarino, uma depressão à direita.
Birnam respondeu: — Diria que são químicos e físicos — mas nunca disse que eram astrônomos. Júpiter, meu caro Comissário, tem uma atmosfera de quatrocentos e oitenta mil quilômetros ou mais de espessura e esses quilômetros de gás bloqueiam tudo, a não ser o sol e as quatro maiores luas de Júpiter. Os jupiterianos não sabem nada a respeito de ambientes alienígenas.
Orloff refletiu. — Então eles decidiram que nós éramos alienígenas. E que mais?
— Se não éramos jupiterianos, então, aos seus olhos, não éramos pessoas. Acontece que um ser não jupiteriano era, por definição, um "verme".
O protesto automático foi cortado bruscamente por Birnam. — Aos seus olhos, eu disse, éramos realmente vermes; e vermes nós somos. Além disso, éramos vermes com a estranha audácia de querer ombrear-nos com jupiterianos! Com seres humanos! Sua última mensagem foi esta, palavra por palavra: "Os jupiterianos são os senhores. Não há lugar para vermes. Vamos destruí-los, imediatamente." Duvido que houvesse qualquer animosidade naquela mensagem; simplesmente, uma fria declaração do fato. E eles não estavam brincando.
— Mas, por quê?
— Por que foi que o homem exterminou a mosca?
— Ora, vamos... O senhor não está, seriamente, apresentando uma analogia dessa natureza?
— E por que não? Visto que é uma certeza de que os jupiterianos nos consideram uma espécie de mosca: um tipo de mosca insuportável, que tem a veleidade de aspirar à inteligência.
Orloff fez uma última tentativa: — Mas verdadeiramente, Sr. Secretário, parece impossível que vida inteligente adote uma tal atitude.
— O senhor possui algum conhecimento de algum outro tipo de vida inteligente para julgar a psicologia jupiteriana? Sabe quão alienígenas, fisicamente, deverão ser os jupiterianos? Pense apenas no seu mundo, com duas vezes e meia a gravidade da Terra; com seus oceanos de amoníaco; oceanos nos quais você poderia jogar a Terra sem causar um "splash" respeitável; com sua atmosfera de quatro mil e oitocentos quilômetros de espessura, puxados para baixo pela colossal gravidade, dentro de espessuras e pressões das camadas da sua superfície, que fariam os fundos dos mares terrestres parecer com vácuos de mediana espessura. Vou lhe dizer, tentamos imaginar que espécie de vida poderia existir sob tais condições e desistimos. É inteiramente inimaginável. Espera, então, que sua mentalidade seja mais compreensível? Nunca! Aceite as coisas como são. Eles têm a intenção de destruir-nos. Isso é tudo o que sabemos e tudo o que precisamos saber.
Terminou de falar e, levantando a mão enluvada, apontou. — Ali, bem à frente está a Estação Ether.
Orloff virou a cabeça. — Subterrânea? — perguntou.
— Certamente! Tudo menos o Observatório. É aquela cúpula de aço e quartzo à direita: a pequena.
Haviam parado em frente de duas grandes pedras arredondadas que flanqueavam um aterro. De trás de cada uma, um soldado com máscara, vestido em laranja de Ganimedes, com sua arma pronta, avançou para os dois homens.
Birnam levantou o rosto, para que a luz jupiteriana caísse sobre ele. Os soldados fizeram continência e deram um passo atrás, para deixá-los passar. Uma palavra breve, dada asperamente no microfone de pulso de um deles e a abertura camuflada, entre as duas pedras, abriu-se e Orloff, seguido do secretário, entrou peia porta escancarada do compartimento de ar.
O terráqueo lançou um último olhar à figura dominante de Júpiter antes que a porta se fechasse e cortasse, completamente, a visão da superfície.
Já não parecia tão belo.
Orloff não se sentiu novamente tão normal até que se encontrou sentado na poltrona, excessivamente estofada, no gabinete particular do Dr. Edward Prosser. Com um suspiro de relaxamento completo colocou o monóculo sob a sobrancelha.
— Será que o Dr. Prosser se importaria que eu fumasse enquanto esperamos? — perguntou.
— Vá em frente — respondeu Birnam displicente. — Minha idéia seria arrancar Prosser do que quer que ele esteja mexendo agora, mas ele é um cara esquisito. Conseguiremos extrair mais dele se esperarmos até que esteja pronto para nós. — Retirou um charuto nodoso, esverdeado, da sua caixa e mordeu a ponta com gana.
Orloff sorriu por trás da fumaça do seu cigarro. — Não me importa esperar. Terei alguma coisa para dizer. O senhor vê, Sr. Secretário, o senhor assustou-me, mas, afinal de contas... vá lá que os jupiterianos pensem em nos fazer mal, uma vez que cheguem até nós... continua sendo um fato — e aqui ele espaçou as palavras, enfatizando-as — que eles não podem chegar até nós.
— Uma bomba sem pavio, não é?
— Exatamente! É a própria simplicidade e que nem vale a pena discutir. O senhor admitirá, suponho, que sob nenhuma circunstância os jupiterianos podem sair de Júpiter.
— Sob nenhumas circunstâncias? — havia um tom irônico na lenta resposta de Birnam. — Vamos analisar isso?
Olhou fixamente para a chama violeta do seu charuto. — £ um velho ditado, já batido, dizer que os jupiterianos não podem sair de Júpiter. Foi dada muita publicidade a esse fato pelos adeptos do sensacionalismo da Terra e de Ganimedes e muito sentimento foi esbanjado sobre as infelizes inteligências que estavam presas irremediavelmente à superfície do planeta e deviam fitar e indagar para sempre o Universo exterior sem nunca, nunca alcançá-lo. Mas, afinal de contas, o que é que mantém os jupiterianos presos ao seu planeta? — continuou Birnam. — Dois fatores! Só isso! O primeiro é o imenso campo gravitacional do planeta; duas vezes e meia maior do que o da Terra.
Orloff assentiu com a cabeça. — Bem ruim! — concordou.
— E o potencial gravitacional de Júpiter é ainda pior, pois, devido a seu maior diâmetro, a intensidade do seu campo gravitacional decresce com a distância, somente um décimo da rapidez do que acontece com o campo gravitacional da Terra. B um problema terrível... mas pode ser solucionado.
— O quê? — exclamou Orloff, ficando ereto na cadeira.
— Eles têm potencial atômico. A gravidade — mesmo a de Júpiter — não significa nada, uma vez que se ponha o núcleo atômico instável a trabalhar para a gente.
Orloff esmagou o seu cigarro no cinzeiro com um gesto nervoso. — Mas a atmosfera deles...
— Sim, e é isso o que os está detendo. Estão vivendo no fundo de um oceano de quatro mil e oitocentos quilômetros de atmosfera, onde o hidrogênio, de que é composta, está em colapso puramente pela pressão, atingindo algo assim como a densidade de hidrogênio sólido. Permanece um gás porque a temperatura de Júpiter está acima do ponto crítico de hidrogênio, mas tente apenas calcular a pressão que pode fazer do hidrogênio um gás uma vez e meia mais pesado do que a água. Ficará surpreso com a quantidade de zeros que terá que colocar.
Nenhuma espaçonave de metal ou de qualquer outra matéria pode suportar a pressão. Nenhuma nave espacial terráquea pode pousar em Júpiter sem ser esmagada como uma bolha de sabão. Esse problema ainda não foi resolvido, mas o será algum dia. Talvez amanhã, talvez só daqui a cem anos ou mil. Não sabemos, mas, quando o for, os jupiterianos estarão em cima de nós. E pode ser solucionado de modo específico.
— Eu não vejo...
— Campos de força! Nós os temos agora, o senhor sabe.
— Campos de força! — Orloff pareceu verdadeiramente atônito. Mastigou as palavras repetidas vezes para si durante alguns instantes. — São utilizados como escudos para naves, contra meteoros, nas zonas dos asteróides; mas não vejo a sua aplicação para o problema de Júpiter.
— O campo de força comum — explicou Birnam — é uma zona fraca e rarefeita de energia, que se estende por mais de cento e sessenta quilômetros para fora da nave. Defende-a dos meteoritos, mas é apenas éter vazio para um objeto tal como uma molécula de gás. Mas, o que aconteceria se tomássemos essa mesma zona de energia e a comprimíssemos até a espessura de um vigésimo de centímetro? As moléculas quicariam como isto — ping-g-g-g! E, se utilizássemos geradores mais fortes e comprimíssemos o campo a cinqüenta por cento de um centímetro, as moléculas quicariam quando forçadas pela inimaginável pressão da atmosfera de Júpiter — e então, se construíssemos uma nave dentro... — Ele deixou a frase pendente.
Orloff estava pálido. — Não está querendo me dizer que pode ser feito?
— Pode apostar o que quiser que os jupiterianos estão tentando fazê-lo. E nós estamos tentando fazê-lo aqui na Estação Ether.
O comissário colonial puxou a cadeira para mais perto de Birnam e agarrou o pulso do ganimediano. — Por que é que não podemos bombardear Júpiter com bombas atômicas? Fazer um serviço completo é o que quero dizer! Com sua gravidade e sua área de superfície não podemos errar.
Birnam sorriu palidamente. — Já pensamos nisso. Mas bombas atômicas apenas fariam buracos na sua atmosfera. E, mesmo que se pudesse penetrar, experimente dividir a superfície de Júpiter pela área de destruição de uma única bomba e calcule quantos anos deveríamos levar bombardeando Júpiter à razão de uma bomba por minuto até que pudéssemos começar a causar danos apreciáveis. Júpiter é grande! Nunca esqueça disso!
Seu charuto se apagara, mas Birnam não parou para acendê-lo. Continuou a falar numa voz baixa e tensa: — Não, não podemos atacar os jupiterianos enquanto estiverem em Júpiter. Temos que esperar que eles saiam — e uma vez que o fizerem eles nos superarão em números. Uma terrível e desanimadora superioridade — por isso precisamos ter a superioridade sobre eles na ciência.
— Mas — interrompeu Orloff. Sua voz evidenciava uma nota de horror e fascínio. — Mas como podemos saber de antemão o que eles terão?
— Não podemos. Temos de juntar todos os meios de que pudermos lançar mão e confiar na sorte. Mas há uma coisa que realmente sabemos, e isso são os campos de força. Eles não podem sair sem eles. E se os tiverem, nós também devemos tê-los e este é o problema que estamos tentando solucionar aqui. Os campos não nos assegurarão a vitória, mas sem eles nós certamente sofreremos uma derrota certa. E agora o senhor sabe por que precisamos de dinheiro — e mais do que isso. Queremos que a própria Terra comece a trabalhar. Precisa começar uma campanha de armamentos científicos e subordinar tudo o mais a isso. Está vendo?
Orloff ficou de pé. — Birnam, estou com vocês... cem por cento com vocês. Pode contar comigo lá em Washington.
Não havia como duvidar de sua sinceridade. Birnam agarrou a mão que o Comissário lhe estendia e apertou-a calorosamente — e, nesse momento, a porta foi aberta de um golpe e um homem — um pequeno duende — irrompeu na sala.
O recém-chegado falou em rápidos arrancos, dirigindo-se apenas a Birnam: — De onde veio? Estou tentando, há horas, entrar em contato com você. Sua secretária disse-me que você não estava. E cinco minutos depois você aparece em pessoa. Não compreendo. — Atarefou-se furiosamente com o que havia em cima de sua mesa.
Birnam sorriu. — Se puder dispor de um pouco de tempo, Doe — disse —, poderia dizer alô para o Comissário Colonial Orloff.
O Dr. Edward Prosser girou na ponta dos pés, como um dançarino de bale e olhou para o terráqueo de cima a baixo, duas vezes. — O novato, hem? Vamos conseguir dinheiro? Deveríamos. Temos trabalhado com migalhas até agora. E, assim mesmo, talvez não precisaremos de nenhum. Tudo depende. — Voltou logo a sua atenção para a mesa de trabalho.
Orloff pareceu um tanto desconcertado, mas Birnam piscou solenemente e ele contentou-se em olhar fixamente através do seu monóculo.
Prosser puxou com vivacidade um pequeno livro encapado de couro preto de dentro das profundezas de um escaninho, jogou-se sobre uma cadeira giratória e deu meia volta.
— Estou satisfeito que tenha vindo, Birnam — disse, folheando o livrinho. — Tenho algo para lhe mostrar. Ao Comissário Orloff também.
— Por que é que nos deixou esperando? — perguntou Birnam. — Onde estava?
— Ocupado! Ocupado como um porco! Não durmo há três noites. — Levantou os olhos e o seu pequeno rosto franzido ruborizou-se de orazer. — Tudo se ajustou perfeitamente de uma hora para outra, Como um quebra-cabeças. Nunca vi nada igual. Manteve-nos pulando, é o que lhe digo.
— Conseguiu os caninos de força densos que procurava? — perguntou Orloff, com súbita excitação.
Prosser pareceu aborrecido. — Não, isso não. Outra coisa. Venha. — Olhou com ferocidade para o relógio e, de um pulo, ficou de pé. — Temos meia hora. Vamos!
Uma pequena viatura, movida a eletricidade, esperava do lado de fora. Prosser falava excitadamente enquanto acelerava o veículo, que ronronava como um gato pelas rampas até as entranhas da Estação.
— Teoria! — exclamou. — Teoria! Tremendamente importante, isso. Ponha um técnico num problema. Ele fuçará um pouco, tentando resolvê-lo. Desperdiçará vidas inteiras. Não chegará a parte alguma. Apenas fuçará sem rumo. Um verdadeiro cientista trabalha com teoria. Deixa a matemática resolver seus problemas. — Prosser transbordava de auto-satisfacão.
A viatura parou, com precisão, diante de uma enorme porta dupla e Prosser jogou-se para fora, seguido dos outros dois que andavam com mais lentidão.
— Por aqui! Por aqui! — disse. Empurrou a porta e guiou-os, corredor abaixo, por um lanço de escadas estreito, até uma galeria que circundava um poço onde se via um salão de três níveis. Orloff reconheceu o elipsóide de aço brilhante e quartzo, de onde brotavam vários tubos, como sendo um gerador atômico.
Ajustou o monóculo e observou a atividade intensa lá embaixo. Um homem de fones no ouvidos, sentado num banco alto, diante do painel de controle cheio de mostradores, levantou o rosto e abanou para eles. Prosser respondeu com outro abano e sorriu,
Orloff disse: — Vocês criam seus campos de força aqui?
— Isso mesmo! Já viu algum?
— Não. — O comissário sorriu tristemente. — Nem mesmo sei o que um campo é, só sei que pode ser usado como um escudo contra meteoritos.
Prosser explicou: — É simples. Elementar. Toda matéria é composta de átomos. Os átomos são mantidos juntos por forças interatômicas. Tire os átomos. Deixe a força interatômica. Isso é um campo de força.
Orloff demonstrava não ter compreendido nada e Birnam deu um risinho no fundo da garganta e cocou a parte de trás do orelha.
— Essa explicação me lembra do nosso método ganimediano de suspender um ovo no ar a dois quilômetros de altura. É mais ou menos assim: Encontra-se uma montanha de dois quilômetros de altura e coloca-se o ovo bem no topo. Então, mantendo o ovo onde está, retira-se a montanha. É só isso.
O comissário colonial jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada e o irascível Dr. Prosser franziu os lábios, num gesto de desaprovação.
— Ora. ora. Nada de piadas, é o que lhe digo. Os campos de forca são extremamente importantes. Devemos estar prontos para enfrentar os jupiterianos quando eles vierem.
Um súbito som áspero e rascante chegou lá de baixo, fazendo o Dr. Prosser deixar a balaustrada.
— Fiquem atrás do biombo, aqui — balbuciou. — O campo de vinte milímetros está para aumentar. Radiação perigosa.
O brr-r-r abafou-se, quase até o silêncio, e os três voltaram ao passadiço. Não se notava nenhuma mudança aparente, mas Prosser segurou a balaustrada e disse: — Sintam!
Orloff esticou um dedo cauteloso, teve um sobressalto e bateu com a palma da mão. Era como fazer pressão numa esponja de borracha fofa ou em molas superelásticas.
Birnam também tentou. — Isso é o melhor que temos conseguido até agora, não é? — disse e explicou para Orloff: — Um biombo de vinte milímetros pode conter a atmosfera com uma pressão de vinte milímetros de mercúrio contra um vácuo, sem vazamento perceptível.
O comissário balançou a cabeça. — Compreendo! Então é necessário um biombo de setecentos e sessenta milímetros para conter a atmosfera da Terra.
— Sim! Isso seria uma unidade de biombo atmosférico. Bem, Prosser, é isto que o deixa tão excitado?
— Este biombo de vinte milímetros? Absolutamente. Posso subir até duzentos e cinqüenta milímetros, utilizando pentassulfeto de vanádio na desintegração de prasiodímio. Mas não é necessário. Os técnicos o fariam e explodiriam o lugar. Um cientista verifica a teoria e vai devagar. — Piscou os olhos e continuou: — Estamos aumentando o campo agora. Observem!
— Vamos para trás do biombo?
— Não é necessário agora. Radiação só perigosa no começo. O brr-r-r começou novamente, mas não tão alto como antes.
Prosser gritou para o homem do painel que respondeu abanando com a mão aberta.
Depois o homem do painel sacudiu com o punho fechado e Prosser gritou: — Passamos os cinqüenta milímetros! Sintam o campo!
Orloff estendeu a mão e cutucou com curiosidade. A esponja de borracha endurecera! Tentou beliscá-la com o polegar e o indicador, tão perfeita era a ilusão, mas quando o fez a "borracha" dissolveu-se em ar, sem oferecer resistência.
Prosser fez um tsk-tsk de impaciência: — Não oferece resistência em ângulo reto à força. Isso é mecânica elementar.
O homem dos controles gesticulava de novo. — Passou de setenta! — exclamou Prosser. — Estamos indo mais devagar agora. O ponto crítico é 83,42.
Pendurou-se da balaustrada e fez sinais com os pés e a perna esticada para os outros dois. — Fiquem longe! Perigoso!
Então gritou: — Cuidado! O gerador está dando pinotes!
O brr-r-r elevara-se ao máximo e o homem no painel dos controles trabalhava freneticamente com seus botões e chaves. De dentro do coração de quartzo do gerador atômico central, a fosforescência vermelha e sombria dos átomos se chocando ficara perigosamente brilhante.
Houve uma interrupção no brr-r-r, um rugido reverberante e uma explosão de ar que jogou Orloff violentamente contra a parede.
Prosser correu para ele. Havia um corte acima do seu olho.
—Machucado? Não? Bom, bom! Esperava algo assim. Devia ter avisado. Vamos descer. Onde está Birnam?
O ganimediano levantou seu comprido corpo do chão e sacudiu as roupas. — Estou aqui. O que foi que estourou?
— Nada estourou. Alguma coisa desmoronou. Vamos, para baixo! — Tocou de leve na testa com um lenço e conduziu os dois homens para o nível inferior.
O homem do painel retirou os fones, quando se aproximaram, e levantou-se do banco. Tinha um aspecto cansado e seu rosto, com manchas de sujeira, estava lustroso de suor.
— A maldita coisa começou a enguiçar a 82,8, chefe. Quase me pegou.
— Foi, não é? — resmungou Prosser. — Dentro dos limites do erro, não é? Como está o gerador? Ei, Stoddard!
O técnico que fora chamado respondeu do seu lugar em frente do gerador: — O tubo Cinco morreu. Levará dois dias para ser substituído.
Prosser virou-se, com ar satisfeito. — Funcionou — disse. — Tudo foi como esperado. Problema resolvido, cavalheiros. Aborrecimentos terminaram. Voltemos ao meu gabinete. Quero comer. Depois quero dormir.
Não tocou no assunto novamente até estar atrás de sua mesa de trabalho mais uma vez e então falou, entre grandes mordidas de um sanduíche de fígado com cebolas.
Dirigiu-se a Birnam: — Lembra-se do trabalho na tensão do espaço em junho passado? Foi um fracasso, mas continuei trabalhando. Finch conseguiu uma pista na semana passada e eu a desenvolvi. Tudo se ajustou perfeitamente. Tudo certinho. Nunca vi nada igual.
— Continue — disse Birnam calmamente. Conhecia Prosser o suficiente para demonstrar alguma impaciência.
— Viram o que aconteceu. Quando um campo passa os 83,42 milímetros, torna-se instável. O espaço não agüentará a tensão. Entra em colapso e o campo estoura. Buum!
Birnam ficou de boca aberta e os braços da cadeira de Orloff rangeram com a súbita pressão. Houve um curto silêncio e então Birnam disse vacilando: — O senhor quer dizer que campos de força mais fortes do que isso são impossíveis?
— São possíveis. Podem ser criados. Mas, quanto mais densos forem, mais instáveis serão. Se tivesse ligado o campo de duzentos e cinqüenta milímetros teria durado um décimo de segundo. Então, bumba! Teria explodido a Estação! E eu também! Um técnico o teria feito. O cientista é advertido pela teoria. Ele trabalha com cuidado, como eu fiz. Não houve nenhum dano.
Orloff enfiou o monóculo no bolso do colete e disse, trêmulo: — Mas, se um campo de força é a mesma coisa que forças interatômicas, por que é que o aço tem uma coesão interatômica tão forte sem que o seu espaço entre em colapso? Aí há uma falha.
Prosser olhou-o irritado. — Não há nenhuma falha. A força crítica depende do número de geradores. No aço, cada átomo é um gerador de campo de força. Isso significa cerca de trezentos bilhões de trilhões de geradores para cada vinte e oito gramas de matéria. Se é que poderíamos utilizar tantos... Entretanto, cem geradores seria o limite prático. Isso só elevaria o ponto crítico para noventa e sete ou por aí.
Ficou de pé e continuou com súbito fervor: — Não, o problema acabou. Justou lhes dizendo. E absolutamente impossível criar um campo de força capaz de conter a atmosfera da Terra por mais de um centésimo de segundo. A atmosfera jupiteriana está fora de cogitação. Os dados frios o atestam; fundados na experiência. O espaço não suportará!
Deixem os jupiterianos tentar quanto quiserem. Não podem sair! Isso é conclusivo! Isso é a última palavra! A última palavra!
Orloff disse: — Sr. Secretário, posso mandar um espaçograma de algum lugar daqui da Estação? Quero dizer à Terra que estou voltando pela próxima nave e que o problema de Júpiter está liquidado; inteira e definitivamente liquidado.
Birnam não comentou nada, mas o alívio estampado em seu rosto, quando apertava as mãos do Comissário Colonial, transfigurava sua feiúra descarnada de um modo inacreditável.
E o Dr. Prosser repetia, com movimentos curtos da cabeça, como um passarinho: — Isso é a última palavra!
Hal Tuttle levantou os olhos quando o Capitão Everett, da espaçonave Transparente, a mais nova barca das Linhas Cometa do Espaço, entrou na sua sala particular de observações no nariz da nave.
— Um espaçograma acaba de chegar às minhas mãos, dos escritórios domésticos em Tucson — disse o capitão. — Temos que apanhar o Comissário Colonial Orloff em Jovópolis, Gani-medes, e levá-lo de volta à Terra.
— Boa. Não avistamos nenhuma nave?
— Não, não! Estamos bem longe das rotas regulares do espaço. A primeira coisa que o Sistema saberá de nós será a aterrissagem da Transparente em Ganimedes. Será a maior coisa no que se refere às viagens espaciais desde que se fez a primeira viagem à Lua. — Sua voz abrandou-se subitamente. — O que há de errado, Hal? Este é o seu triunfo, afinal de contas.
Hal Tuttle levantou os olhos e olhou para a escuridão do espaço. — Acho que sim. Dez anos de trabalho, Sam. Perdi um braço e um olho naquela primeira explosão, mas não me arrependo. Acontece é que a reação me pegou. O problema está resolvido; o trabalho de minha vida acabou...
— E também cada nave de casco de aço do Sistema. Tuttle sorriu. — Sim. É difícil de acreditar, não é? — Fez um gesto que abrangia todo o espaço. — Vê as estrelas? Parte do tempo não há nada entre elas e nós. Isso nos dá uma sensação esquisita. — Sua voz tornou-se sombria: — Nove anos trabalhei para nada. Não sou um teórico e, na realidade, nunca soube para onde rumava; simplesmente, tentei tudo. Tentei um pouco demais e o espaço não perdoou. Paguei com um braço e um olho e comecei tudo de novo.
O Capitão Everett fechou o punho e bateu contra o casco — o casco através do qual as estrelas brilhavam sem obstáculos. Ouviu-se um som surdo abafado de carne batendo contra uma superfície resistente — mas a parede continuava invisível.
Tuttle sacudiu a cabeça. — É bem sólida agora — embora se apague e se acenda oitocentas mil vezes por segundo. Tirei a idéia da luz estroboscópica. Você conhece as lâmpadas — elas se acendem e se apagam com tanta rapidez que nos dão a impressão de iluminação ininterrupta.
E é assim que acontece com o casco da nave. O período em que está ligada não é suficiente para fazer o espaço entrar em colapso. Não fica desligada o bastante para permitir um vazamento apreciável da atmosfera. E o efeito total é uma força maior do que a do aço.
Fez uma pausa e lentamente acrescentou: — E não há meios de dizer até que ponto podemos chegar. Acelere-se o efeito intermitente. Faça-se o campo ligar e desligar milhões de vezes por segundo — bilhões de vezes. Conseguirá campos suficientemente fortes para conter uma explosão atômica. O trabalho de minha vida!
O Capitão Everett bateu no ombro do outro. — Sai dessa, homem. Pense na aterrissagem em Ganimedes. Que diabo! Será uma boa publicidade. Pense na cara de Orloff, por exemplo, quando ele souber que será o primeiro passageiro da história a viajar numa espaçonave com um casco de campo de força. Como pensa que ele vai se sentir?
Hal Tuttle deu de ombros e respondeu: — Imagino que ele vai ficar muito contente!
A MALETA PRETA
Quando Cyril Kornbluth faleceu em 1958, com a idade de trinta e quatro anos, já estivera contando histórias por mais da metade de sua trágica e curta vida — grande número delas sob, pelo menos, uma dúzia de pseudônimos. Entretanto, a despeito de sua vasta produção, alguns dos seus trabalhos foram dos melhores que o campo da ficção científica já conheceu. Junto com Frederik Pohl, escreveu The Space Merchants (Os Mercadores do Espaço), a mais famosa antiutopia que já se escreveu desde Brave New World (Admirável Mundo Novo). Sua conferência na Universidade de Chicago: "The Failure of the Science-Fiction Novel as Social Criticism" (O Fracasso do Romance de Ficção-Científica como Crítica Social)¹ é uma análise brilhante dessas histórias; com seu próprio exemplo, ele fez muito para desmentir o título de sua tese.
1 Reimpressa na revista The Science Fiction Novel (Chicago: Advent Publishers, 1964).
Kornbluth, como todos os escritores-pensadores, tinha, freqüentemente, uma visão pessimista do futuro — prova isso com contos tais como The Marching Morons (A Marcha dos Imbecis) e The Only Thing We Learn (A Única Coisa Que Aprendemos). A história que se segue não o torna simpático à profissão médica ou àqueles convencidos do inevitável aperfeiçoamento da humanidade. Mas é um vislumbre, horrivelmente plausível, de uma sociedade futura e de uma ciência futura; o leitor não a esquecerá tão cedo.
A MALETA PRETA
O velho Dr. Full sentiu o inverno nos ossos, enquanto rengueava pelo beco. Escolhera o beco e a porta dos fundos em lugar da calçada e a porta da frente por causa do saco de papel pardo que levava embaixo do braço. Sabia perfeitamente que as mulheres de cara achatada e cabelo ralo da sua rua, e seus maridos malcheirosos e desdentados não se importavam que ele trouxesse uma garrafa de vinho barato para o seu quarto. Eles mesmos viviam dependentes disso, mudando para uísque quando o pagamento era engrossado por horas-extras. Mas o Dr. Full, diferente dos outros, tinha vergonha.
Aconteceu um desastre complicado quando ele ia pelo beco entulhado de coisas velhas. Um dos cães da vizinhança — um irascível bicho preto, que ele conhecia e detestava, com seus dentes arreganhados e rosnando ameaçadoramente — atirou-se contra suas pernas, vindo de um buraco na cerca de madeira que beirava um lado do caminho. O Dr. Full recuou, depois jogou a perna no que teria sido um satisfatório pontapé nas costelas magras do animal. Mas o inverno nos seus ossos segurou a perna. Seu pé bateu contra um tijolo mal-enterrado e ele, abruptamente, caiu sentado, praguejando. Quando sentiu o cheiro do vinho percebeu que o saco de papel pardo escorregara de debaixo do seu braço e a garrafa se estilhaçara — as pragas morreram nos seus lábios. O cão preto, rosnando, tenso, rondava a um metro de distância, aproximando-se silenciosamente, mas ele não prestou atenção, devido ao grande desastre.
Sentado na sujeira do beco, com dedos duros, o Dr. Full abriu o saco de papel. Descera o crepúsculo do outono; não podia ver claramente o que sobrara. Retirou a parte superior da garrafa de meio galão, que tinha uma alça, alguns cacos e depois o fundo de vidro. O Dr. Full estava ocupado demais para exultar quando notou que ainda restava um bom meio litro. Tinha um problema, as emoções podiam ser adiadas até um momento oportuno.
O cão chegou perto, avançou, seu rosnar aumentando de volume. O Dr. Full colocou a parte de baixo da garrafa no chão e jogou os fragmentos triangulares de vidro, da parte de cima da garrafa, no cachorro. Um dos cacos atingiu o cachorro que se esquivou e fugiu, ganindo, pelo buraco da cerca. O Dr. Full, então, chegou aos lábios a beirada da garrafa, que parecia uma navalha, e bebeu como se emborcasse uma taça gigante. Duas vezes teve de abaixá-la para descansar os braços, mas em um minuto engoliu o meio litro de vinho.
Pensou em levantar-se e caminhar pelo beco até o seu quarto, mas uma sensação de bem-estar inundou-o, afogando o impulso. Era, no fim das contas, indescritivelmente agradável ficar ali sentado e sentir a lama do beco endurecida pela geada tornar-se ou parecer macia, e sentir o inverno evaporar dos seus ossos sob o calor que se espalhava desde o estômago, atravessando-lhe os membros.
Uma menina de três anos, vestindo um casaco de inverno recortado, saiu pelo mesmo buraco de onde o cão pulara para fazer-lhe a cilada. Muito séria, veio com passo incerto até onde estava o Dr. Full e ficou a observá-lo, o dedo sujo na boca. A felicidade do Dr. Full estava, providencialmente, completa — dispunha de público.
— Ah, minha querida — disse roucamente. Depois continuou: — Uma acusação ira-chi-o-nal: "Se for isso que vocês chamam de evidência", deveria ter-lhes dito: "é melhor que cuidem de sua profissão." Deveria ter-lhes dito: "Eu estava aqui antes da sua Sociedade Médica do Condado. E o Comissário de Licenças nunca provou nada contra mim. Então, cavalheiros, não é verdade? Faço um apelo aos companheiros, membros duma grande profissão ..."
A garotinha, entediada, afastou-se, apanhando um dos triângulos de vidro para brincar. O Dr. Full esqueceu-se dela, imediatamente, e continuou falando sozinho: — Mas, que Deus me ajude, não puderam provar nada. Será que o homem não tem direitos? — Ficou ruminando a pergunta de cuja resposta tinha tanta certeza, mas sobre a qual o Comitê de Ética da Sociedade Médica do Condado também tivera certeza. O inverno começou a invadir seus ossos novamente e ele não possuía mais dinheiro para conseguir vinho.
O Dr. Full fingia consigo mesmo haver uma garrafa de uísque em algum lugar de seu quarto, assustadoramente desarrumado. Era um truque velho e cruel, que ele fazia consigo mesmo, quando precisava da energia eletrizante para levantar-se e ir para casa. Poderia congelar ali no beco. No seu quarto seria mordido por insetos e tossiria com o cheiro de mofo da pia, mas não congelaria e não seria privado das centenas de garrafas de vinho que ainda poderia tomar, as milhares de horas de contentamento e aconchego que ainda poderia sentir. Pensou na garrafa de uísque — estaria atrás da pilha desordenada de jornais médicos? Não; ele olhara lá na última vez. Estaria debaixo da pia, empurrada bem para o fundo, atrás do cano enferrujado? A brincadeira cruel começou a fazer efeito, mais uma vez. Sim, disse para os seus botões com crescente excitação, sim, talvez estivesse lá! Tua memória não é tão boa hoje em dia, disse para si mesmo, com uma espécie de triste afabilidade. Sabes perfeitamente que podes ter comprado uma garrafa de uísque e depois tê-la empurrado par; trás do cano da pia exatamente para uma ocasião como esta.
A garrafa cor de âmbar, o estalo seco do selo quando ele o cortasse, o esforço que faria com prazer, quando girasse a tampa e depois o gosto forte e refrescante na sua garganta, o calor no seu estômago, o escuro e feliz esquecimento da embriaguez — tudo tornou-se real para ele. Você poderia ter feito isso, você sabe! Você poderia! — disse para si mesmo. Uma abençoada convicção, crescendo na sua mente — Poderia ter acontecido, sabe! Poderia! — levantou-se cambaleante e ficou apoiado no joelho direito. Ao fazer isso, ouviu um gemido atrás dele e girou o pescoço, com curiosidade. Era a garotinha que dera um corte feio na mão com o brinquedo — o caco de vidro. O Dr. Full podia ver o sangue vermelho-vivo escorrer por cima do casaco e fazer uma poça aos seus pés.
Sentiu-se quase tentado a adiar a garrafa de âmbar por causa dela, mas não foi muito além disso. Sabia que estava lá, empurrada para o fundo, embaixo da pia, bem atrás do cano enferrujado onde ele a escondera. Tomaria um gole e depois, com magnanimidade, recolocaria a garrafa no seu lugar e voltaria para ajudar a criança. Dr. Full apoiou o outro joelho, depois levantou-se, ficou de pé e saiu rapidamente cambaleando pelo beco entulhado, em direção ao seu quarto, onde procuraria pela garrafa que não estava lá, com calmo otimismo, a princípio, depois com ansiedade e depois com violência frenética. Jogaria os livros e a louça por todo canto antes de terminar a busca da garrafa âmbar de uísque e, finalmente, golpearia a parede de tijolos com os nós dos dedos inchados até que antigas cicatrizes se abrissem e seu espesso sangue velho escorresse por suas mãos. E por último, sentar-se-ia em algum lugar no assoalho, choramingando, e cairia no abismo de pesadelos purgativos que era o seu sono.
Depois de vinte gerações de indecisão e de dizer "atravessaremos a ponte quando chegarmos a ela", o gênero Homo reproduzira-se até chegar a um impasse. Técnicos de biometria obstinados haviam denunciado, com lógica irrefutável, que os subnormais mentais se multiplicavam em maior número do que os supernormais e que o processo ocorria numa curva exponencial. Cada fato que pôde ser coligido no argumento a favor provou que os técnicos de biometria estavam certos, o que levou à inevitável conclusão de que o gênero Homo iria encontrar-se em breve numa enrascada absurda. Se pensarem que isso teve algum efeito nas práticas de procriação então não conhecem o gênero Homo.
Naturalmente, havia uma espécie de efeito encoberto, produzido por essa outra função exponencial, o acúmulo de artifícios tecnológicos. Um imbecil, treinado para bater numa máquina de somar, parece ser um computador mais hábil do que um matemático medieval, treinado para contar nos dedos. Um imbecil, treinado para operar o equivalente de um linotipo do século vinte e um, parece ser um tipógrafo melhor do que um da Renascença, limitado a alguns tipos de imprensa móveis. Isso aplica-se também à prática médica.
Era um complicado assunto de muitos fatores. Os supernormais "melhoravam o produto" num ritmo mais intenso do que os subnormais o degradavam, mas em menor quantidade porque o treinamento dos seus filhos era praticado numa base "sob medida". O "mistério" da educação superior — na vigésima geração — continha alguns estranhos avatares: "escolas", onde nenhum membro do corpo estudantil podia ler palavras de três sílabas; "universidades", onde tais títulos como "Bacharel em Datilografia". "Mestre de Estenografia" e "Doutor em Filosofia (Arquivo de Cartões)" eram outorgados com a pompa tradicional. O punhado de supernormais usava tais estratagemas para que a vasta maioria tivesse um simulacro de ordem social.
Algum dia os supernormais atravessariam a ponte, sem compaixão; na vigésima geração estavam parados, irresolutos em suas abordagens, sem saber o que lhes acontecera. E os fantasmas de vinte gerações de técnicos de biometria riam maldosamente.
E um certo Doutor em Medicina desta vigésima geração que nos interessa. Seu nome era Hemingway — John Hemingway, Bacharel em Ciências e Doutor em Medicina. Sua especialidade era clínica geral e não concordava que se corresse a um especialista por qualquer mal insignificante. Freqüentemente, pronunciava-se a respeito com estas palavras: "Bem, ahh, o que quero dizer é que vocês têm um bom clínico geral. Entendem o que quero dizer? Bem, ah, agora... um bom velho clínico geral não diz que sabe tudo sobre os pulmões e glândulas e coisas assim, me entendem? Mas, vocês têm um clínico geral... vocês têm, ahh... vocês têm um, vocês têm um... um homem que faz tudo. É isso o que vocês têm quando têm um clínico geral — vocês têm um homem que faz tudo".
Mas, baseados nisto, não pensem que o Dr. Hemingway era um mau médico. Podia extrair amígdalas e apêndices, assistir qualquer parto e retirar um bebê vivo, sem machucá-lo, do ventre de sua mãe, diagnosticar corretamente centenas de doenças, receitar e administrar a medicação ou tratamento correto para cada uma delas. Havia, de fato, somente uma coisa que não podia fazer na medicina, e isso era violar os antigos cânones da ética médica. E o Dr. Hemingway sabia o bastante para não tentar.
O Dr. Hemingway e alguns amigos conversavam uma noite, quando o fato, que precipita esta história, ocorreu. Tivera um dia duro na clínica e desejava que o seu amigo Walter Gillis, Bacharel em Ciências, Master em Ciências, Doutor em Filosofia se calasse para que ele pudesse contar a todos o que acontecera. Mas Gillis continuava a falar e a falar no seu modo afetado: — Vocês têm que dar crédito ao velho Mike; ele não tem o que chamamos de método científico, mas vocês têm que dar crédito a ele. Ora esse coitado estava brincando com vidro e eu chego e pergunto a ele, brincando, naturalmente: "O que é que me diz da máquina de viagem no tempo, Mike?"
O Dr. Gillis não se dava conta, mas, "Mike" tinha um Q.I. seis vezes acima do dele e era — para ser franco — o seu guardião. "Mike" era severo com os pseudofísicos do pseudolaboratório, fingindo ser um lavador de garrafas. Era um desperdício social — mas, como foi mencionado antes, os supernormais ainda estavam parados no caminho da ponte. Sua indecisão levava a muitas dessas absurdas situações. E acontece que "Mike", freneticamente entediado com sua tarefa, era o suficientemente maldoso para... mas deixemos Dr. Gillis contar:
— Então ele me dá estes números de válvulas aqui e me diz: "Circuitos de série. Agora pare de me amolar. Construa você mesmo sua própria máquina do tempo, sente-se em frente dela e gire a chave. É só o que eu peço, Dr. Gillis — é só o que eu peço..."
— Puxa — disse uma linda hóspede loura e frágil —, você se lembra muito bem, não é, Doe? — e deu-lhe um sorriso de derreter.
— Que nada — respondeu Gillis, modestamente —, eu sempre me lembro bem. É o que você poderia chamar de uma facilidade inerente. E, além disso, contei o caso logo para minha secretária, e então ela escreveu tudo. Não leio tão bem, mas certamente me lembro bem, de fato. E, agora, onde é que eu estava?
Todos pensaram com muito esforço e houve várias sugestões:
— Alguma coisa sobre garrafas, Doe?
— Você tava começando uma briga. Você disse: "tempo que alguém viaje".
— Éee... você chamou alguém de amolação. A quem é que você chamou de chato?
— Não chato — chave!
A nobre testa do Dr. Gillis franziu-se com o esforço de pensar e finalmente declarou: — Chave está certo. Falava sobre viagens no tempo. É o que chamamos de viajar através do tempo. Então tomei o número das válvulas que ele me tinha dado e coloquei-os no construtor de ciclos; botei para a "séries" e aí está — minha máquina de viajar no tempo. Ela faz coisas viajarem através do tempo bem direitinho — disse, mostrando a caixa.
— O que há dentro da caixa? — perguntou a bela loura. Dr. Hemingway respondeu-lhe: — Viagem no tempo. Viaja coisas através do tempo.
— Olhe — disse Gillis, o físico. Tomou a maleta preta do Dr. Hemingway e colocou-a sobre a caixa. Ligou a chave e a maleta desapareceu.
— Puxa — disse o Dr. Hemingway —, isso foi... oh... formidável. Agora traga-a de volta.
— O quê?
— Traga de volta minha maleta preta.
— Bem — disse o Dr. Gillis —, elas não voltam. Tentei fazer o contrário, mas não voltam. Acho que aquele bobalhão do Mike me passou uma rasteira.
Houve condenação geral de "Mike", mas o Dr. Hemingway não tomou parte nela. Incomodava-o uma vaga sensação de que havia alguma coisa que deveria fazer. Ponderava: "Sou um médico e um médico tem que ter uma maleta preta. Eu não tenho uma maleta preta — então eu não sou mais um médico?" — Decidiu que isto era um absurdo. Ele sabia que era um médico. Assim, devia ser culpa da maleta. Não era nada bom, e ele teria que arranjar outra com aquele bobão do Al lá na clínica. Al era bom para achar coisas, mas era um bobão — não gostava nunca de falar de modo sociável com a gente.
Então, no dia seguinte, o Dr. Hemingway lembrou-se de apanhar outra maleta com seu almoxarife — outra maleta preta com a qual ele podia realizar tonsilectomias, apendicectomias e os partos mais difíceis e com a qual ele podia diagnosticar e curar a sua espécie até o dia em que os supernormais se obrigassem a si mesmos a atravessar a ponte. Al foi bastante desagradável a respeito da maleta preta desaparecida, mas o Dr. Hemingway não se lembrava, exatamente, o que acontecera, por isso nenhum investigador foi posto em ação, então...
O velho Dr. Full acordou dos horrores da noite para os horrores do dia. Suas pestanas pegajosas separaram-se convulsiva-mente. Estava sentado num dos cantos do quarto e alguma coisa fazia um fraco tamborilar. Estava rígido e sentia muito frio. Quando os seus olhos focalizaram a parte inferior do seu corpo, deu uma gargalhada. O ruído era causado por seu calcanhar esquerdo, agitado por tremores, contra o chão nu. Ia ter D.T. novamente, pensou sem emoção. Enxugou a boca com os nós dos dedos ensangüentados e o tremor aumentou; o tamborilar tornou-se mais forte e mais lento. Estava numa boa esta manhã, pensou com ironia.
A gente não sofria os horrores até que não ficasse tão tenso quanto as cordas de um violino, quase até o ponto de se partirem. Teve uma trégua, se é que uma trégua com o velho corpo ardendo, dor de cabeça interminável, bem atrás dos olhos, e o endurecimento lancinante das juntas, fosse alguma coisa para se agradecer.
Havia qualquer coisa a respeito de uma criança, pensou, vagamente. Ele ia tratar de uma criança. Seus olhos pousaram numa maleta preta — uma maleta de médico — no centro do quarto e esqueceu a criança. — Posso jurar — disse Dr. Full, — que a botei no prego há dois anos atrás! — Levantou-se penosamente e apanhou a maleta. Viu logo que pertencia a um estranho, que chegara ali ele não sabia como. Tocou delicadamente no fecho que se abriu completamente de um estalo. Fileiras e fileiras de instrumentos e remédios, presos por alças nas quatro paredes internas. Parecia muito maior aberta do que fechada. Não podia imaginar como era possível dobrar-se novamente naquele tamanho compacto, mas decidiu que era algum truque dos fabricantes de instrumentos. Desde o seu tempo... isso tornava-a mais valiosa no penhor, pensou com satisfação.
Só para relembrar os velhos tempos, deixou seus olhos e dedos acariciar os instrumentos antes de fechar a maleta e dirigir-se para a loja do Tio. A maioria deles era difícil de reconhecer — isto é, de maneira exata. Podia ver que as coisas com lâminas eram para cortar, os fórceps, para segurar e puxar, os retratores, para segurar firmemente, as agulhas e o categute, para suturar, as seringas hipodérmicas... um pensamento fugaz atravessou seu pensamento: poderia vender nas ruas as seringas, em separado, para viciados em tóxicos.
Vamos, pensou, tentando fechar a maleta. Não fechou até que, acidentalmente, tocou no fecho e então dobrou-se, ficando novamente uma maleta preta. Teria continuado, pensou, quase conseguindo esquecer que o que o interessava, em primeiro lugar, era o seu valor no penhor.
Com um objetivo definido, não lhe foi muito difícil ficar de pé. Decidiu descer as escadas, sair pela porta da frente, andar pela calçada. Mas primeiro...
Abriu novamente a maleta em cima da mesa da cozinha e estudou os frascos de remédios. — Qualquer coisa para dar um forte soco no sistema nervoso autônomo — resmungou para si mesmo. Os frascos eram numerados e havia um cartão de plástico que parecia ter a lista deles. Na margem esquerda do cartão havia uma lista dos sistemas — vascular, muscular, nervoso. Com um dedo traçou o último item para a direita. Havia colunas para "estimulantes", "depressores", etc. Sob "sistema nervoso" e "deprimente" encontrou o número 17 e, trêmulo, localizou o pequeno vidro que levava esse número. Estava cheio de bonitas pílulas azuis. Tomou uma.
Foi como se tivesse sido atingido por um raio.
Fazia tanto tempo que Dr. Full não sentia uma sensação de bem-estar a não ser aquela fugaz que o álcool lhe dava, que se esquecera como era. Sentiu-se em pânico por longos minutos com a sensação que se espalhava lentamente pelo seu corpo até formigar-lhe na ponta dos dedos. Empertigou-se — as dores haviam desaparecido e o tremor de sua perna se aquietado.
Isso era maravilhoso, pensou. Agora poderia correr até a loja de penhores, botar a maleta preta no prego e comprar alguma bebida. Começou a descer as escadas. Nem mesmo a rua, brilhante com o sol da manhã, o fez recuar. A maleta preta na sua mão esquerda, tinha um peso satisfatório, real. Caminhava ereto, notou, e não com aquele encolhido furtivo que adquirira nos últimos anos. Um pouquinho de respeito próprio, pensou com seus botões, é disso o que eu preciso. Só porque um homem esteja caído não quer dizer que...
— Dotô, por favor venha ligeiro! — gritou alguém, puxando-lhe o braço. — A menininha, ela tá queimando! — Era uma das inumeráveis mulheres de cara chata e cabelos ralos, do cortiço, vestindo um penteador sujo.
— Ora, acontece que me aposentei... — começou a dizer com voz rouca, mas, não conseguiu desvencilhar-se dela.
— Por aqui, dotô! — disse a mulher, puxando-o até uma porta. — O senhô venha dar uma olhada na menininha. Tenho dois dólas, o senhô venha ver ela! — Isso dava uma nova feição às coisas. Deixou-se conduzir pela porta, para um apartamento desarrumado e com cheiro de repolho. Agora sabia quem era a mulher, ou melhor, sabia quem deveria ser — uma recém-chegada, que se mudara para lá na outra noite. Estas pessoas mudavam-se à noite em caravanas de automóveis velhos, emprestados por amigos e parentes, com mobília amarrada em cima, praguejando e bebendo até altas horas. Explicava por que ela o detivera: não sabia ainda que ele era o velho Dr. Full. Um réprobo bêbado em quem ninguém confiava. A maleta preta fora sua garantia, superando seu rosto sem barbear e o terno sujo e manchado.
Olhava para a menina de três anos que, supunha, fora colocada no centro matemático da cama de casal, recém-mudada. Pensou reconhecê-la quando viu a atadura empastada na sua mão direita. Dois dólares, pensou. Uma mancha vermelha, feia, espalhava-se pelo bracinho esquelético. Apalpou com um dedo a parte interna do cotovelo e sentiu pequenos grãos como bolas de gude e ligamentos separando-se sob a pele. A criança começou a choramingar; ao lado dele, a mulher suspirou e começou a chorar também.
— Para fora — disse fazendo um gesto com a mão. Ela saiu andando pesadamente, ainda chorando.
Dois dólares, pensou. Faria algumas pantomimas, receberia o dinheiro e depois a mandaria para algum ambulatório. Estreptococos, acho, apanhado naquele beco mal-cheiroso. E de se admirar que algumas dessas crianças cheguem a ficar adultas. Colocou a maleta preta em cima da cama e, distraído, procurou as chaves no bolso; então lembrou-se e tocou o fecho. A maleta abriu-se imediatamente; ele escolheu entre os instrumentos uma tesoura de ataduras, com a parte inferior arredondada. Colocou essa parte sob a atadura, cuidou de evitar a pressão sobre a infecção, que machucaria a criança, e começou a cortar. Era surpreendente a facilidade e a rapidez com que a tesoura brilhante cortava através da atadura empastada, em volta da ferida. Parecia que seus dedos apenas tocavam na tesoura. Parecia até que era a tesoura que conduzia os seus dedos, enquanto fazia um corte limpo na gaze.
Eles, certamente, progrediram muito desde o meu tempo, pensou — mais rápido do que o bisturi micrótomo. Recolocou a tesoura na sua alça, no mostruário extraordinariamente grande em que se transformava a maleta quando aberta, e debruçou-se para olhar a ferida. Deu um assobio ao ver o feio talho e a violenta infecção que se instalara no corpo magro da criança doentia. Agora, o que se pode fazer com uma coisa destas? Remexeu nervoso no conteúdo da maleta preta. Se ele lancetasse a ferida e deixasse escorrer algum pus, a velha pensaria que ele fizera alguma coisa por ela e, então, ele receberia os dois dólares. Mas, no ambulatório iriam querer saber quem o fizera e se ficassem aborrecidos o bastante poderiam mandar um tira para buscá-lo. Talvez houvesse alguma coisa no estojo...
Correu o dedo pelo lado esquerdo do cartão até chegar a "linfático", depois leu sob a coluna "infecção". Não soava certo; verificou novamente, mas ainda era a mesma resposta. No quadradinho, onde a linha e a coluna apontavam, estavam os símbolos: "IV-g-3cc". Não conseguia achar qualquer frasco marcado com números romanos e então percebeu que era assim que estavam marcadas as seringas. Retirou da sua alça a que levava gravado um IV, verificando que estava pronta, com agulha e tudo e parecia cheia. Que modo de carregar estas coisas! Então — três cc do que quer que fosse deveria fazer alguma coisa contra PS infecções que se alojavam no sistema linfático — e Deus sabe que esta era uma delas. Entretanto, o que significaria a letra minúscula "g"? Estudou a seringa de vidro e viu letras gravadas no que parecia ser um disco, que girava, na parte superior do cilindro. As letras iam de "a" até "i" e havia uma linha correspondente, gravada no cilindro, do lado oposto das calibrações.
O Dr. Full, dando de ombros, girou o disco até que o "R" coincidisse com a linha do cilindro e levantou a seringa até ns olhos. Quando empurrou o embolo não viu um fio muito fino de fluído esguichar da ponta da agulha. Uma espécie de neblina escura envolveu a ponta. Um novo exame mostrou que a agulha não era furada. Tinha a mesma ponta chanfrada mas no corte não aparecia o orifício oval. Intrigado, empurrou novamente o embolo. Novamente alguma coisa apareceu na ponta da agulha e desapareceu.
— Bem, vamos resolver isto — disse o doutor. Enfiou a agulha no próprio braço. A princípio, pensou que errara — que a ponta da agulha escorregara por cima da pele em vez de perfurá-la e deslizar por baixo dela. Mas viu o pequeno ponto de sangue e percebeu que, de algum modo, não sentira a picada. O que quer que fosse que estava no cilindro, pensou, não lhe poderia fazer mal se fosse o que estava indicado no cartão — e que podia sair de uma agulha sem orifício. Aplicou em si mesmo três cc e retirou a agulha. Ali estava o pontinho inchado — indolor, mas típico.
Dr. Full decidiu que eram seus olhos e deu três cc de "g" do conteúdo da seringa IV à criança febril. Ela não interrompeu o choro quando a agulha se enterrou e o local estufou. Mas, instantes depois, deu um suspiro e silenciou.
Bem, disse para os seus botões, gelado de horror, desta vez você arranjou uma boa! Matou a criança com essa coisa.
Então a menina sentou-se na cama e disse: — Onde está minha mãe?
Sem poder acreditar no que via, o doutor pegou no braço da menina e apalpou o cotovelo. A infecção glandular era nula, a temperatura parecia normal. Os tecidos congestionados de sangue, em redor da ferida, empalideciam a olhos vistos. O pulso da criança estava mais forte e mais lento — como deveria estar. No súbito silêncio do quarto podia escutar a mãe da menina, soluçando na cozinha, do lado de fora. Então ouviu também a voz insinuante de uma moça.
— Ela vai ficar boa, Doc?
Voltou-se e viu uma loura suja, magra, desleixada, de uns dezoito anos, recostada ao aro da porta, que o observava com desprezo divertido. Ela continuou: — Já ouvi falar em você, Doutor Full. Por isso não tente explorar a velha. Você não poderia curar um gato doente!
— É mesmo? — resmungou ele. Esta mocinha ia ter uma lição que muito merecia. — Talvez gostaria de olhar para minha cliente?
— Onde está minha mãezinha? — insistia a garotinha. O queixo da loura caiu. Foi até a cama e perguntou cautelosamente:
— Você tá bem agora, Teresa? Você tá curada?
— Onde tá minha mãezinha? — perguntou Teresa. E, depois, acusadora, fez um gesto em direção ao médico. — O senhor me cutucou! — reclamou e começou a rir sem motivo.
— Bem... — disse a loura. — Acho que tenho que concordar com você, Doe. Estas mulheres de boca grande, por aqui, disseram que você não sabia seu... O que quero dizer é que você não sabe curar as pessoas. Disseram que você não é um doutor de verdade.
— Eu estou aposentado — respondeu. — Mas acontece que estou substituindo um colega, como um favor, sua boa mãe chamou-me e... — disse, dando um sorriso depreciativo. Tocou no fecho da maleta preta e esta novamente se fechou.
— Você a roubou — disse a loura, secamente.
Ele se afobou.
— Ninguém te confiaria uma coisa dessas. Deve custar um bocado. Tu roubou esse estojo. Vinha te fazer parar quando entrei e vi você tratando de Teresa, mas me pareceu que tu não tava machucando ela. E, quando tu me deu esse papo de substituição de um colega eu soube logo que tu tinha roubado ela. Você me dá uma parte ou então vou aos tiras. Uma coisa destas deve valer uns vinte ou trinta dólares.
A mãe voltou e entrou timidamente, os olhos vermelhos. Mas soltou um grito de alegria quando viu a criança sentada e balbuciando para si mesma, abraçou-a loucamente, caiu de joelhos para dizer uma curta oração. Deu um pulo, beijou a mão do médico e, então, arrastou-o até a cozinha, falando todo o tempo na sua própria língua, enquanto a loura os fitava com frio desdém. Dr. Full permitiu ser puxado até a cozinha, secamente recusou uma xícara de café e um prato de bolinhos de erva-doce e pão-de-São-João.
— Tente ele com um pouco de vinho, mãe — disse a loura, com sarcasmo.
— Si! Si! — exclamou a mulher, encantada. — Gostaria de um poço de vino, dotô? — perguntou e logo empunhava uma garrafa, contendo um líquido arroxeado. A loura deu um riso de desprezo quando a mão do médico se estendeu para apanhá-la. Ele recolheu a mão, imediatamente, enquanto crescia na sua cabeça a velha imagem de como cheiraria, e depois qual o seu sabor e depois o calor invadindo seu estômago e seus ombros. Fez uma espécie de cálculo, no que já tinha muita prática; a mulher, encantada, não perceberia nada enquanto ele tomava dois copos e, enquanto tomava mais dois copos, poderia deliciá-la com os detalhes de como Teresa quase estivera nas garras do Anjo Exterminador e, então — bem, depois nada mais importaria. Ele estaria bêbado.
Mas, pela primeira vez em muitos anos, houve uma contra-imagem: a mistura de raiva que sentia contra a loura — para quem ele era tão transparente — e de orgulho pela cura efetuada. Para grande surpresa sua, encolheu a mão e disse, saboreando as palavras: — Não, muito obrigada. Não gosto de beber tão cedo de manhã. — Disfarçadamente, olhou para o rosto da loura e sentiu-se satisfeito ao ver a surpresa estampada nele. Então, a mãe entregou-lhe as duas notas de um dólar dizendo: — Não é muito dinheiro, dotô — mas vem outra vez ver Teresa?
— Terei muito prazer em continuar com o caso — disse. E, agora, com licença... preciso ir andando. — Apanhou a maleta preta, com firmeza, e levantou-se; queria muito afastar-se do vinho e da garota mais velha.
— Espere, Doc — disse ela —, estou indo na mesma direção. — Seguiu-o até a rua. Ele não lhe deu atenção até que sentiu a sua mão na maleta. Dr. Full parou e tentou argumentar com ela:
— Olhe, minha cara, talvez você tenha razão. Talvez eu a tenha roubado. Para ser franco, não me lembro como a consegui. Mas, você é jovem e pode ganhar seu próprio dinheiro...
— Meio a meio — disse ela —, ou vou aos tiras. E se escutar outra palavra tua será sessenta por cento contra quarenta. E você sabe quem vai ficar com a parte menor, não é Doe
Derrotado, Dr. Full andou até a loja de penhores, a mão atrevida da loura ainda junto com a dele na alça da maleta, seus saltos tamborilando em compasso com as passadas mais imponentes do doutor.
Ambos tiveram um choque na loja de penhores.
— Não é standard — disse o Tio, sem impressionar-se com o fecho tão engenhoso. — Nunca vi uma dessas. Deve ser alguma fabricação japonesa barata, talvez? Experimente mais lá embaixo. Eu nunca poderia vender isto.
Desceram a rua e tiveram a oferta de um dólar. O dono fez a mesma queixa: — Olha, cara, não sou um colecionador — só compro coisa que tenha um bom valor de revenda. Pra quem eu poderia vender isto? Para algum chinês que não conhece instrumentos médicos? Todos eles parecem muito esquisitos. Tem certeza que não foi tu memo que fez eles?
Não aceitaram a oferta de um dólar.
A garota estava desconcertada e com raiva; o doutor também estava perplexo, mas triunfante. Tinha dois dólares e a garota tinha uma metade de algo que ninguém queria. Então, subitamente, admirou-se: a maleta fora boa para curar a criança, não fora?
— Bem — perguntou ele —, você não quer desistir? Como vê, este estojo é praticamente inútil...
Ela pensava intensamente. — Não perca as estribeiras, Doe. Não compreendo, mas alguma coisa está acontecendo, eu sei... será que esses caras reconheceriam uma coisa boa se vissem ela?
— Reconheceriam. Eles vivem disso. De onde quer que esta maleta veio...
Ela agarrou-se nisso, com a faculdade diabólica que parecia possuir, de arrancar respostas sem fazer perguntas. — Era isso o que eu pensava. Tu também não sabe, não é? Bem, talvez eu possa descobrir para você. Entra aqui. Não vou perder isso da vista. Tem dinheiro nisso — de algum jeito, eu não sei como, mas tem dinheiro nisso. — O doutor entrou na lanchonete atrás dela e foram até um canto vazio. Ela ignorou os olhares e as risadinhas dos outros clientes, quando abriu a maleta preta — quase ocupava toda a mesa da lanchonete — e começou a remexer no seu conteúdo. Apanhou um retrator, olhou-o com atenção, deixou-o cair, apanhou a parte inferior de um fórceps obstétrico, examinou-o atentamente com seus olhos moços, alertas — e viu o que os velhos olhos do médico não haviam visto antes.
Só o que o velho Dr. Full soube é que ela examinava o fórceps e subitamente ficou branca. Com muito cuidado recolocou o instrumento de volta na sua alça de nano e depois o retrator e o espéculo. — Bem — perguntou ele, — o que foi que você viu?
— Fabricado nos EUA — respondeu com voz rouca. — Patente concedida em julho de 2450.
Dr. Full queria dizer-lhe que ela lera errado a inscrição, que devia ser uma piada, que...
Mas ele sabia que a garota lera corretamente. Aquelas tesouras de cortar ataduras: elas haviam conduzido seus dedos, não os seus a ela. A agulha da seringa, sem orifício. A linda pílula azul que o atingira como um raio.
— Sabe o que vou fazer? — perguntou a loura, com súbita animação. — Vou para a escola de boas maneiras. Vai gostar disso, não é doutor? Pois vamos nos ver um bocado.
O velho Dr. Full não respondeu. Suas mãos brincavam distraidamente com o cartão de plástico do estojo que tinha impresso linhas e colunas que o haviam guiado já duas vezes. O cartão era ligeiramente convexo. Podia empurrar a convexidade para trás e para a frente. Percebeu, meio tonto, que com cada empurrão um texto novo aparecia nos dois lados do cartão. Plic. "O bisturi com um ponto azul no cabo é para tumores, somente. Faça o diagnóstico com seu Instrumento Sete, o Testador de Inchações. Coloque o Testador de Inchações...". Plic. "Uma dose excessiva das pílulas cor de rosa do Vidro 3 pode ser curada com uma pílula branca do Vidro..." Plic. "Segurar a agulha de suturar pela ponta sem orifício. Toque, com ela, uma ponta da ferida que quiser suturar e deixe-a agir. Depois que ela fizer um nó, toque...". Plic. "Coloque a metade de cima do fórceps obstétrico perto da abertura. Solte-o. Depois que entrar e se amoldar ao feitio do...". Plic.
O Chefe do copy leu: "FLANNERY 2 — MEDICINA" na parte superior esquerda de uma pilha de laudas. Automaticamente, escreveu: "reduzir para .75" e com um empurrão fez as folhas deslizarem até o outro lado da mesa, em feitio de ferradura, para seu copy-desk, Piper, que estivera trabalhando na série da exposição de charlatães de Edna Flannery. Ela era uma boa garota, pensou, mas, como todos os moços, escrevia demais. Daí a observação "reduzir".
Piper devolveu-lhe uma história da prefeitura, segurou as laudas de Flannery com uma mão e com a outra começou a bater com o lápis no papel, no mesmo ritmo do carrinho de um teletipo. Na verdade, não estava lendo a cópia pela primeira vez. Olhava, apenas, para as letras e palavras para verificar se, como letras e palavras, elas se conformavam ao estilo do Herald. O som contínuo do lápis, batendo no papel, parava a intervalos, quando riscava um traço preto, que terminava num 'd" estilizado, por cima da palavra "seio", a escrevia "peito" em seu lugar, ou quando substituía a letra maiúscula "L" de "Leste" por uma minúscula ou fechava uma palavra separada — quando a máquina de escrever de Edna pulara um espaço — com duas linhas curvas iguais a parênteses — dois exatos semicírculos. O lápis preto, grosso, fez um aro em redor do "30" que, como todos os jovens, ela colocava no fim de suas histórias. Voltou à primeira página, para uma segunda leitura. Desta vez o lápis riscava linhas com os "d" estilizados no fim, em adjetivos e frases inteiras, escrevia grandes "L" para marcar parágrafos ou juntava alguns dos parágrafos de Flannery com grandes linhas curvas.
No fim do artigo "FLANNERY ADD 2-MEDICINA" o lápis foi diminuindo sua atividade até parar. O redator, sensível ao ritmo da sua amada copy-desk, levantou a cabeça imediatamente. Viu Piper lendo atentamente a história, completamente desconcertada. Sem desperdiçar palavras, mandou o artigo de volta para o seu chefe, por cima da ferradura de eucatex, pegou a história policial que este lhe mandou de volta, tornou a acalmar-se e o seu lápis começou a bater. O redator leu até a quarta linha, apressadamente, e gritou para Howard: — Me substitui — e saiu da redação entulhada, andando pesadamente em direção ao cubículo onde o redator-chefe presidia à sua própria confusão.
O chefe dos copys esperou a sua vez, enquanto o secretário da redação, o secretário da oficina e o chefe da fotografia falavam com o redator-chefe. Quando chegou a sua vez, o chefe do copy deixou cair a cópia de Flannery sobre sua mesa e disse: — Ela diz que este não é charlatão.
O RC leu:
"FLANNERY 1-MEDICINA, por Edna Flannery, Repórter da Equipe do Herald.
"A história sórdida dos médicos charlatães que o Herald tem desmascarado nesta série de artigos, sofre uma mudança de ritmo hoje, o que foi para a repórter uma surpresa bem-vinda. Sua procura dos fatos, no caso do assunto de hoje, começou do mesmo modo que as suas exposições de uma dezena de médicos duvidosos e curandeiros religiosos falsos. Mas, para variar, pode relatar que o Dr. Bayard Full é, a despeito das suas práticas não ortodoxas, que suscitaram a desconfiança das associações médicas hipersensíveis — e com razão — um médico de fato, vivendo de acordo com os mais altos ideais da sua profissão.
"O nome do Dr. Full foi dado à repórter do Herald pelo comitê de ética da associação médica do condado, que informou ter sido ele expulso da associação aos 18 de julho de 1941 por ter, supostamente, "sangrado" vários pacientes que sofriam de males insignificantes. De acordo com as declarações, os depoimentos sob juramento, no arquivo do comitê, o Dr. Full dissera-lhes que sofriam de câncer e que ele possuía um tratamento que lhes prolongaria a vida. Após sua expulsão da associação, Dr. Full desapareceu — até que abriu o seu "sanatório" no centro, numa casa de tijolos que por muitos anos servira como pensão.
"A repórter do Herald foi até o sanatório, situado na Rua 89 Este, esperando que lhe fosse diagnosticada uma série de doenças imaginárias e uma cura certa por uma boa quantia de dinheiro. Esperava encontrar instalações desleixadas, instrumentos sujos e parafernália complicada que o médico charlatão utiliza para enganar e que já vira dezenas de vezes.
"Ela estava enganada.
"A clínica do Dr. Full era limpíssima, desde o hall mobiliado com bom gosto até suas salas de tratamento muito brancas. A atraente recepcionista loura que recebeu a repórter falava suave e corretamente, apenas pedindo o nome da repórter, seu endereço e os sintomas gerais de sua doença. Estes foram dados como uma "persistente dor nas costas". A recepcionista pediu à repórter do Herald para sentar-se e pouco depois levou-a até a sala de tratamento do segundo andar e apresentou-a ao Dr. Full.
"O suposto passado do Dr. Full, como descrito pelo porta-voz da sociedade médica, é difícil de conciliar com seu aspecto atual. É um homem de olhos límpidos, cabelos brancos, de uns sessenta anos e, a julgar pela sua aparência — altura acima da média e em perfeitas condições físicas. Sua voz é firme e amistosa, sem sombra do tom lamuriento e insinuante do médico charlatão que a repórter veio a conhecer tão bem.
"A recepcionista não deixou a sala quando o doutor começou seu exame após algumas perguntas sobre a natureza e a localização da dor. Enquanto a repórter ficava deitada de braços na mesa de exames, o doutor fez pressão com um instrumento nas suas costas. Minutos depois, fez esta surpreendente declaração: — Minha jovem, não há razão nenhuma para que sinta qualquer dor onde diz sentir. Compreendo que hoje em dia dizem que problemas emocionais causem dores como essa. É melhor que vá a um psiquiatra se a dor continuar. Não há uma causa física para ela.
"Sua franqueza fez a repórter perder o fôlego. Teria ele descoberto quem ela era, uma espiã dentro do seu território? Tentou novamente: — Ora, Doutor, talvez possa dar-me um check-up completo. Sinto-me cansada quase todo o tempo, além das dores. Talvez precise de um tônico. — Esta é uma isca a que nenhum charlatão resiste — um convite para que encontrem toda espécie de males misteriosos no paciente, cada um "exigindo" tratamento muito caro. Como foi explicado no primeiro artigo desta série, naturalmente, a repórter submeteu-se a um check-up completo antes de embarcar na sua caçada aos curandeiros, sendo considerada em forma física cem por cento perfeita, com exceção de uma pequena área "cicatrizada" na base do seu pulmão esquerdo, o resultado de um foco de tuberculose contraído na infância e uma tendência para o "hipertireoidismo" — a atividade excessiva da glândula tireóide que torna difícil o aumento de peso e às vezes torna a pessoa ofegante.
"O Dr. Full consentiu em fazer um exame e retirou um certo número de instrumentos limpíssimos das alças de um painel literalmente coberto de instrumentos — a maioria deles desconhecida pela repórter. O primeiro instrumento que ele utilizou foi um tubo com um mostrador curvo na sua superfície e dois fios que terminavam em dois discos achatados. Colocou um dos discos no dorso da mão direita da repórter e o outro no dorso da mão esquerda. "Lendo o mostrador", ele dava alguns números que a recepcionista atenta escrevia num formulário pautado. O mesmo procedimento foi repetido diversas vezes, cobrindo toda a anatomia da repórter, convencendo-a completamente de que o doutor era um perfeito charlatão. A repórter nunca vira antes um procedimento de diagnóstico igual durante as semanas em que trabalhou para preparar esta série de artigos.
"O médico tomou, então, a folha pautada da recepcionista, confabulou com ela em voz baixa e disse: — Tem uma tireóide levemente superativa, senhorita. E há alguma coisa errada com o seu pulmão esquerdo — não é sério, mas gostaria de examinar isso mais de perto.
"Escolheu um instrumento do painel, que a repórter conhecia como "especulo" — um aparelho que parece uma espécie de tesoura e separa orifícios do corpo, tais como o ouvido, as narinas etc., para permitir ao médico olhar lá dentro durante o exame. O instrumento era, entretanto, grande demais para ser um especulo de ouvido ou narinas, mas, pequeno demais para qualquer outra coisa. Quando a repórter do Herald ia fazer mais algumas perguntas, a recepcionista disse-lhe: — É costume nosso vendar os olhos de nossos pacientes durante os exames de pulmão; importa-se? — A repórter, espantada, permitiu que lhe amarrassem uma venda impecavelmente limpa sobre os olhos e esperou, nervosa, pelo que viria depois.
"Ainda não pode dizer o que exatamente aconteceu enquanto estava com os olhos vendados — mas, o raio-X confirma suas suspeitas. Sentiu uma sensação fria nas costelas, do lado esquerdo — um frio que pareceu penetrar seu corpo. Depois sentiu algo, como um estalo, e a sensação de frio desapareceu. Ouviu o Dr.
Full dizer, com tranqüilidade: — A senhorita tem ali uma antiga cicatriz de um foco tuberculoso. Não causa nenhum dano, mas uma pessoa ativa como a senhorita precisa de muito oxigênio. Deite-se quieta e eu resolverei o caso.
"Sentiu novamente a sensação de frio, que, desta vez, demorou mais tempo. — Outra porção de alvéolos e mais um pouco de dois vascular — a repórter do Herald ouviu o Dr. Full dizer e logo a pronta resposta da recepcionista. Então, a estranha sensação desapareceu e a venda dos olhos foi retirada. A repórter não viu nenhuma cicatriz sobre suas costelas, embora o médico lhe dissesse: — Isto resolveu tudo. Removemos a fibrose — e era uma boa degeneração fibrosa; murava a infecção e é por isso que a senhorita ainda está viva para contar a história. Depois plantamos uma porção de alvéolo — são aquelas coisinhas que apanham o oxigênio que a senhorita respira e o introduz no sangue. Não. Não vou mexer com seu suprimento de tiroxina. A senhorita já se acostumou com o tipo de pessoa que é e, se súbito se encontrasse calma, é quase certo que ficaria abalada. Quanto à dor nas costas: obtenha com a sociedade médica do condado, o nome de um bom psicólogo ou psiquiatra. E tome cuidado com os charlatães; o mato está cheio deles.
"A autoconfiança do médico deixou a repórter espantada. Perguntou qual era o preço e ele respondeu que pagasse cinqüenta dólares à recepcionista. Como de costume, a repórter demorou para pagar até que recebesse um recibo assinado pelo próprio médico, relatando minuciosamente os serviços pelos quais estava sendo pago. Diferente dos outros, o doutor escreveu de boa vontade: "Pela remoção de tecido fibroso do pulmão esquerdo e a reposição dos alvéolos", e assinou.
"A primeira coisa que a repórter fez quando deixou o consultório, foi rumar para o especialista do aparelho respiratório que a examinara quando ela se preparava para a pesquisa. Uma comparação com os raios-X tirados no dia da "operação" e aqueles tirados anteriormente, confirmaria o que a repórter do Herald esperava fazer: desmascarar o Dr. Full como o príncipe dos charlatães e curandeiros.
"O especialista arranjou uma hora, no seu dia apertado, para a repórter, em cujos artigos demonstrara um vivo interesse, desde os estágios de planificação até o presente. Riu às gargalhadas, no seu sossegado consultório da Park Avenue, quando ela descreveu o procedimento esquisito ao qual fora submetida. Mas, não riu quando tirou um raio-X do peito da repórter, revelou-o, secou-o e o comparou com as chapas tiradas antes. O especialista tomou mais seis raios-X, naquela tarde, mas finalmente admitiu que todos contavam a mesma história. A repórter do Herald ouviu do especialista que a cicatriz, resultante de uma tuberculose, que estivera ali há dezoito dias atrás, desaparecera e fora substituída por tecido pulmonar saudável. Disse que isso era um acontecimento sem paralelo na história da medicina. Não concorda com a firme convicção da repórter de que Dr. Full seja responsável pela mudança.
"A repórter do Herald não tem dúvidas a respeito. Chegou à conclusão que o Dr. Bayard Full — não interessa qual tenha sido o seu passado — é um clínico, não-ortodoxo, mas extremamente bem-sucedido na prática da medicina, em cujas mãos a repórter se entregaria confiante em qualquer emergência.
"Este não é o caso da 'Rev.ª Annie Dismworth — uma harpia feminina que, sob o manto da "fé", explora os ignorantes e os sofredores que vão ao seu sórdido "salão de curas" para pedir ajuda e ficam para engrossar a conta bancária da Rev.a Annie, que totaliza atualmente US$ 53.238,64. O artigo de amanhã mostrará, com fotocópias, os balanços e declarações juramentadas que..."
O redator-chefe virou a última lauda do "FLANNERY 1-MEDICINA". Batia distraidamente o lápis nos dentes, num esforço para pensar com clareza. Finalmente, disse para o chefe do copy: — Mate esta história. Use o gancho numa janela. — Arrancou o último parágrafo —, o "gancho" sobre a "Rev.a Annie — entregou-o ao chefe do copy que voltou, com passos pesados, para a sua ferradura de eucatex.
O secretário de redação estava de volta, pulando de impaciência, enquanto tentava encontrar o olhar do redator-chefe. O interfone tocou, acendendo uma luz vermelha indicando que o editor e o editor-chefe queriam falar com ele. O redator-chefe pensou, por uns momentos, numa série especial sobre esse Dr. Full, mas decidiu que ninguém acreditaria e que, provavelmente, era uma fraude. Enfiou a história no gancho "morto" e respondeu o interfone.
O Dr. Full quase chegara a se afeiçoar a Angie. À medida que sua prática aumentava, tratando das doenças da vizinhança, depois mudando-se para um apartamento de esquina de um prédio público no centro e, finalmente, para a clínica, Angie parecia crescer com ela. Oh, pensou, temos as nossas pequenas discussões...
A garota, por exemplo, estava muito interessada em dinheiro. Ela quisera se especializar em cirurgia cosmética — removendo rugas de velhas ricas e coisas assim. Não percebia, a princípio, que uma coisa como esta fora confiada a eles, que eles eram os depositários e não os donos da maleta preta e o seu fabuloso conteúdo.
Tentara, com muita cautela, analisá-la, mas, sem sucesso. Todos os instrumentos eram ligeiramente radioativos, mas não de fato. Fariam um contador Geiger-Mueller indicar radioatividade, mas não caírem as folhas de um eletroscópio. Não tinha pretensões de estar a par dos últimos avanços da ciência mas, do pouco que sabia, isso estava completamente errado. Sob uma lente de aumento poderosa viam-se linhas na superfície superacabada dos instrumentos: linhas incrivelmente finas, gravadas ao acaso, em grupos, sem fazer sentido algum. Suas propriedades magnéticas eram absurdas. As vezes os instrumentos eram fortemente atraídos por ímãs, às vezes menos e às vezes não.
Dr. Full fizera alguns raios-X, tremendo, com medo de danificar o delicado mecanismo que funcionava dentro deles. Tinha certeza que não eram maciços, que os cabos e talvez as lâminas eram apenas cascas cheias de pequenas engrenagens como a dos relógios — mas os raios-X não mostraram nada disso. Ah, sim — estavam sempre esterilizados e não enferrujavam. A poeira caía deles quando sacudidos: bem, isso era algo que ele compreendia. Ionizavam a poeira ou eles próprios eram ionizados ou coisa assim. De qualquer forma ele lera coisa parecida a respeito de discos de vitrola.
Ela não poderia saber nada sobre isso, pensou ele com orgulho. Ela cuidava dos livros bastante bem e, talvez, lhe desse uma cutucada útil de vez em quando, quando ele se inclinava a uma acomodação. A mudança do cortiço para dependências no centro da cidade fora idéia dela, e também a clínica. Muito bem, muito bem, isso aumentava sua esfera de utilidade. Deixe que a criança tenha seus casacos de vison, seu conversível, como chamavam hoje em dia às baratas. Ele próprio estava muito ocupado e velho demais. Tinha tanto que compensar...
Dr. Full pensou, feliz, no seu Plano Mestre. Ela não iria gostar muito daquilo, mas teria que aceitar a sua lógica. Esta coisa maravilhosa que lhes acontecera devia ser passada aos outros. Ela própria não era nenhuma médica; embora os instrumentos, praticamente, agissem sozinhos. Mas a prática da medicina exigia mais do que simples habilidade. Havia os antigos cânones da arte de curar. Então, compreendendo a lógica daquilo, Angie cederia; ela concordaria em entregar a maleta preta à humanidade.
Ele provavelmente a apresentaria ao Colégio de Cirurgiões, com o mínimo de estardalhaço possível — bem, talvez uma pequena cerimônia e gostaria de receber uma pequena lembrança da ocasião, uma taça ou um testemunho emoldurado. De certa forma, seria um alívio tirar a coisa de suas mãos; deixe que os gigantes da arte de curar decidam quem deverá receber os benefícios da maleta. Não, Angie compreenderia. Era uma menina de bom coração.
Era ótimo que ultimamente estivesse demonstrando tanto interesse na parte cirúrgica — perguntando sobre os instrumentos, lendo o cartão de instruções, horas a fio, até mesmo praticando com cobaias. Se alguma parte do seu amor pela humanidade fora comunicada a ela, pensava o velho Dr. Full com sentimentalismo. sua vida não teria sido em vão. Certamente, ela perceberia que um bem maior seria servido, depondo os instrumentos em mãos mais sábias do que as deles, jogando fora o manto do sigilo, necessário ao seu trabalho, em escala tão modesta.
Dr. Full estava na sala de tratamento, que fora a sala-de-estar da casa de tijolos; viu pela janela aberta o conversível amarelo parar em frente da porta de entrada principal. Apreciou sua aparência, quando ela subia os degraus; bem arrumada, sem exageros, pensou. Uma garota ajuizada como ela compreenderia. Havia alguém com ela — uma mulher gorda que subia penosamente os degraus, vestida com espalhafato e que tinha um ar petulante. Ora, o que poderia ela querer?
Angie entrou e dirigiu-se para a sala de tratamentos, seguida pela mulher gorda. — Doutor — disse, muito séria, a garota loura, —, posso lhe apresentar a Sra. Coleman? — A escola de boas maneiras não lhe ensinara tudo, mas a Sra. Coleman, evidentemente "nouveau riche", achava que o médico não perceberia a rata.
— A Srta. Aquella falou-me tanto no senhor, doutor, e do seu sistema surpreendente! — disse ela, efusivamente.
Antes que ele pudesse responder, Angie interpôs suavemente:
— Poderia nos dar licença por uns momentos, Sra. Coleman?
Pegou no braço do doutor e levou-o até o hall de recepção.
— Escute — disse rapidamente —, sei que isto vai contra os seus princípios, mas não podia deixar isto passar. Encontrei esta velha na aula de ginástica de Elizabeth Barton. Lá ninguém mais fala com ela a não ser eu. É viúva. Acho que o seu marido agia no mercado negro ou coisa assim e ela tem um monte de dinheiro. Contei-lhe como você tem um sistema de massagens que faz desaparecer rugas. Minha idéia é que você lhe vende os olhos, corte o seu pescoço com a faca da Série Cutânea, injete um pouco de Frimol nos seus músculos, retire colheradas de banha com uma cureta da Série Adiposa e borrife por cima um pouco de Lisopele. Quando retirar a venda dos seus olhos ela estará livre das rugas sem saber o que lhe aconteceu. Pagará quinhentos dólares. Agora, não diga "não", Doc. Só desta vez, vamos fazer as coisas do meu modo, vamos... Eu tenho parte neste negócio desde o começo, não é?
— Ora — disse o médico —, muito bem. — De qualquer modo, ia ter de lhe contar logo sobre o Plano Mestre. Desta vez iria fazer-lhe a vontade.
Na sala de tratamento, a Sra. Coleman estivera matutando sobre o assunto. Quando o doutor entrou ela falou-lhe com veemência: — Evidentemente o seu tratamento é permanente, não é?
— É sim, madame — respondeu, secamente. — Queira ter a bondade de deitar-se ali? Srta. Aquella, traga-me uma atadura de sete centímetros para cobrir os olhos da Sra. Coleman. — Deu as costas à mulher gorda para evitar qualquer conversação e fingiu que ajustava as luzes. Angie vendou-lhe os olhos enquanto o médico selecionava os instrumentos de que iria precisar. Deu para a moça um par de retratores dizendo: — Apenas vá deslizando os cantos das lâminas enquanto eu corto... — Ela lançou-lhe um olhar assustado e acenou para a mulher deitada. Então ele abaixou a voz: — Muito bem. Deslize os cantos, vá introduzindo e embalando os retratores de lado a lado ao longo da incisão. Eu lhe digo quando retirá-los.
O Dr. Full segurou a faca da Série Cutânea ao nível dos olhos enquanto a ajustava para uma profundidade de três centímetros. Suspirou quando se lembrou que a última vez que a faca fora utilizada foi na extirpação de um tumor "inoperável" da garganta.
— Muito bem — disse, curvando-se sobre a mulher. Tentou atravessar os tecidos. A lâmina mergulhou e passou por eles, como um dedo na água, sem deixar uma marca à sua passagem. Somente os retratores podiam manter separadas as bordas da incisão.
A Sra. Coleman mexeu-se e tagarelou: — Doutor, isso teve uma sensação tão esquisita! Tem certeza de que está fazendo a coisa certa?
— Absoluta certeza, madame — respondeu o médico, aborrecido. — A senhora poderia tentar não falar durante a massagem?
Fez um sinal para Angie, que estava pronta com os retratores. A lâmina afundou seus três centímetros, miraculosamente, cortando somente os tecidos córneos da epiderme e o tecido vivo da derme, misteriosamente empurrando para os lados todos os vasos sangüíneos mais importantes e os menos importantes também, evitando afetar qualquer sistema ou órgão com exceção daquele para o qual estava, digamos, "ligado". O médico não sabia a resposta, mas sentia-se cansado e amargo com esta prostituição. Angie deslizou os retratores, balançando-os, quando ele retirou r. faca, depois puxou-os para separar as bordas da incisão. Com ausência completa de sangue, expuseram uma seqüência de músculos doentios, cedendo numa curva morta de ligamentos cinza-azulados. O médico apanhou a seringa Número IX, calibrada em "g" e levou-a ao nível dos olhos. A névoa apareceu e desapareceu, não havia possibilidade de um entupimento com estes aparelhos, mas, por que facilitar? Injetou um cc. de "g" — identificado como "Firmol" no cartão de plástico — no músculo da mulher. Ele e Angie observavam enquanto ele, o músculo, se encolhia contra a faringe.
Apanhou a cureta da Série Adiposa, uma pequena, e retirou com ela o tecido amarelado, deixando-o cair na caixa incineradora. Fez um sinal para Angie e esta retirou, cuidadosamente, os retratores e a incisão fechou-se, deixando a pele lisa, sem nenhuma marca. A pele estava ainda flácida. O doutor estava com o atomizador — marcado para "Pele-firme" — pronto. Borrifou e a pele encolheu-se até formar uma linha firme do contorno da garganta.
Enquanto recolocava os instrumentos no lugar, Angie retirava a venda dos olhos da Sra. Coleman e anunciava alegremente:
— Terminamos! Há um espelho na recepção...
A Sra. Coleman não precisou de um segundo convite. Com incredulidade, passou os dedos na pele do queixo e correu para o hall. O médico fez uma careta quando ouviu o grito de alegria. Angie virou-se para ele com um sorriso forçado. — Vou pegar o dinheiro e mandá-la embora — disse. — Não vai ter que se incomodar mais com ela.
Ficou grato por isso.
Angie seguiu a Sra. Coleman até o hall de entrada, enquanto o médico ficava sonhando com o que faria da caixa de instrumentos. Uma cerimônia, certamente — ele merecia uma. Nem todo o mundo, pensou, entregaria uma fonte de dinheiro como essa pelo bem da humanidade. Mas a gente chega a uma idade em que o dinheiro significa menos e quando se pensa nessas coisas que a gente fez, que podem resultar em mal-entendidos se, apenas se. acontecesse algo assim, bem, esse negócio de julgamento... O doutor não era um homem religioso, mas, a gente certamente encontrava-se pensando muito nessas coisas quando seu fim se aproximava...
Angie estava de volta, com um pedacinho de papel nas mãos.
— Quinhentos dólares — disse com naturalidade. — E percebe, não, que poderíamos trabalhar centímetro por centímetro, um de cada vez — a quinhentos dólares por centímetro?
— Tinha a intenção de lhe falar a respeito — disse o doutor. Havia medo, bem vivo, nos olhos da loura, pensou ele — mas, por quê?
— Angie, você tem sido uma boa menina e uma menina compreensível, mas não podemos continuar assim para sempre, você sabe.
— Vamos falar sobre isso noutra oportunidade — disse ela secamente. — Estou cansada, agora.
— Não; sinto, realmente, que já fomos longe demais por nossa conta. Os instrumentos...
— Não o diga, Doc! — sibilou ela. — Não o diga, ou vai se arrepender! — No seu rosto estampava-se uma expressão que lembrava ao doutor a criatura loura e suja, de rosto descarnado e olhos fundos que ela fora. Sob o acabamento da escola de boas maneiras ardia o moleque saído da sarjeta, cuja primeira infância fora passada sobre um colchão azedo e sujo, que, como criança, seu único passatempo fora brincar no beco sujo, cuja adolescência fora passada nos empregos onde os menores eram explorados ou em reuniões noturnas, sem finalidade, sob os lampiões da rua.
Sacudiu a cabeça para afugentar os maus pensamentos. — Vai ser assim — começou com paciência. — Contei-lhe sobre a família que inventou o fórceps obstétrico e guardou seu segredo por muitas gerações; como podiam tê-lo dado ao mundo e não o fizeram, não foi?
— Sabiam o que estavam fazendo — respondeu o rato de esgoto, secamente.
— Bem, isso é uma questão de opinião — disse o médico, irritado. — Já tomei minha decisão. Vou entregar os instrumentos à Escola de Cirurgiões. Temos dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Pode até ficar com a casa. Estive pensando em me mudar para um clima mais ameno. — Sentia-se aborrecido com ela por ter provocado uma cena desagradável. Não estava preparado para o que veio depois.
Angie apanhou a maleta preta e precipitou-se em direção à porta, pânico nos olhos. Ele correu atrás dela, segurando-lhe o braço e torcendo-o com raiva súbita. Angie arranhou-lhe o rosto com a mão livre, balbuciando pragas. Inadvertidamente, um dedo — não se sabe de quem — tocou o fecho da maleta preta que se abriu grotescamente para expor o painel coberto de instrumentos brilhantes, grandes e pequenos. Uma meia dúzia deles soltaram-se de suas alças e caíram no chão.
— Ora, veja o que fez! — trovejou o médico, sem razão. A mão de Angie ainda segurava com força a alça da maleta, mas estava parada, tremendo, engasgada de ódio. O médico curvou-se penosamente para apanhar os instrumentos caídos. Menina teimosa!, pensou com amargura. Fazendo uma cena destas...
Sentiu uma dor atravessar-lhe as costas e caiu de bruços. A luz fugiu-lhe. — Menina teimosa! — tentou gritar roucamente. E então: — Eles saberão que pelo menos tentei...
Angie olhou para o corpo do médico, esticado no chão, com o cabo da faca da Série de Cauterização Número Seis, projetando-se de suas costas. "... cortará através de todos os tecidos. Utilize-se só para amputações, depois de espalhar por cima do membro o Re-Cres. Extrema cautela na vizinhança de órgãos vitais, vasos sangüíneos principais e troncos nervosos..."
— Não queria fazer isso — disse Angie, surdamente, gelada de terror. Agora o detetive viria — o implacável detetive que reconstruiria o crime apenas pelo pó da sala. Ela correria, se retorceria, mas o detetive a descobriria, seria julgada numa corte, perante um juiz e jurados; o advogado faria discursos, mas o júri condená-la-ia, de qualquer forma e as manchetes dos jornais gritariam: "MATADORA LOURA CULPADA!" e, talvez, ela fosse condenada à cadeira elétrica, caminhando por um corredor, onde um raio de sol atravessava o ar poeirento, com uma porta de ferro na outra extremidade. Seu casaco de vison, seu conversível, seus vestidos, o belo homem que ela ia encontrar e casar...
A nuvem de clichês cinematográficos desvaneceu-se e ela soube o que deveria fazer a seguir. Com bastante calma, ela procurou a caixa incineradora e retirou-a da alça do painel — um cubo de metal com um ponto de um lado, de textura diferente. "... para se desfazer de tecidos fibrosos ou outra matéria indesejável, apenas o disco..." Jogava-se qualquer coisa ali dentro e tocava-se no disco. Ouvia-se uma espécie de assobio silencioso, muito possante e desagradável, se a gente ficasse muito perto e uma espécie de flash sem luz. Quando se abria a caixa novamente, o conteúdo desaparecera e não havia quase nada de sangue... Terminou a terrível tarefa em três horas.
Naquela noite dormiu pesadamente, completamente exausta pelas exigências tremendas do esquartejamento e o horror que o acompanhava. Mas, na manhã seguinte, era como se o doutor nunca tivesse existido. Tomou o seu café, vestiu-se com mais cuidado do que o habitual — depois tirou o "mais cuidado do que o habitual". Nada fora do habitual, disse para si mesma. Não faça nada diferente do que teria feito habitualmente. Após um ou dois dias, poderá chamar os tiras. Diga que ele saiu, louco para tomar uma bebedeira e que você está preocupada. Mas não force as coisas, boneca — não force.
A Sra. Coleman estava marcada para as dez horas da manhã. Angie contara em ter que convencer o médico a fazer, pelo menos, mais uma seção de quinhentos dólares. Agora teria que fazer tudo sozinha... mas, teria que começar mais cedo ou mais tarde.
A mulher chegou cedo. Angie explicou, tranqüila: — O doutor pediu-me para tomar conta da massagem, hoje. Agora que ele começou com o processo de firmar os tecidos... disse que isso exigia apenas alguém treinado nos métodos... — Enquanto falava seus olhos voltaram-se para a maleta — aberta! Praguejou contra si mesma por essa única falha. A mulher seguiu o seu olhar e retrocedeu.
— Que são essas coisas!? — exclamou. — Você vai me cortar com eles? Eu achei que havia alguma coisa esquisita com...
— Por favor, Sra. Coleman — disse Angie. — Por favor, querida Sra. Coleman — a senhora não compreende nada sobre... sobre os instrumentos de massagens!
— Instrumentos de massagens, uma ova! — gritou a mulher. — O doutor me operou. Ora, poderia ter-me matado!
Angie, em silêncio, tomou uma das menores facas da Série Cutânea e atravessou o braço com ela. A lâmina corria como um dedo na água, não deixando nenhuma marca no seu rastro. Isso deveria convencer a velha vaca!
Não a convenceu, mas alarmou-a. — O que foi que você fez com ela? A lâmina esconde-se no cabo: é isso!
— Agora olhe com atenção, Sra. Coleman — disse Angie, pensando, desesperada, nos quinhentos dólares. — Observe com muita atenção e verá que... uh... o massageador subcutâneo simplesmente desliza para dentro dos tecidos sem causar nenhum dano, esticando e firmando os próprios músculos em vez de ter que cortar através de camadas de pele e de tecido adiposo. Este é o segredo do método do doutor. Então, pode uma massagem de superfície ter o mesmo efeito que conseguimos ontem à noite?
A Sra. Coleman começava a acalmar-se. — Realmente, funcionou — admitiu ela, acariciando a nova linha do pescoço. — Mas, o seu braço é uma coisa e o meu pescoço é outra! Deixe-me ver você fazer isso no seu pescoço!
Angie sorriu...
Al voltou para a clínica depois de um excelente almoço, que quase o reconciliara com o fato de ter que passar mais de três meses em serviço. E então, pensou, em um ano abençoado no bendito supernormal Pólo Sul, trabalhando na sua especialidade — que acontecia ser a telecinesia para as idades de três a seis. Nesse meio tempo, naturalmente, o mundo tinha que continuar e, naturalmente, ele tinha que arcar com a responsabilidade da sua parte na condução do seu governo.
Antes de se acomodar à mesa de trabalho deu uma olhada de rotina no painel de maletas. O que viu fê-lo enrijecer com o choque da surpresa. Uma luz vermelha estava acesa ao lado de um dos números — a primeira vez que isso acontecia desde tempos imemoriais. Leu o número e murmurou: — Muito bem, 674101. Isto vai ensinar a você. — Colocou um número num classificador de cartões e, em segundos, a informação estava em suas mãos. Ah, sim — a maleta do Hemingway. O grande tolo não se lembrava onde ou como a perdera; nenhum deles jamais sabia. Havia centenas delas andando por aí.
A política de Al, em tais casos, era deixar a maleta ligada. As coisas praticamente funcionavam sozinhas, era quase impossível infligir algum dano com elas e, portanto, se qualquer um encontrasse uma maleta perdida não importava que fizesse uso dela. Se fosse desligada, ter-se-ia uma perda social — se fosse deixada ligada, podia fazer algum bem. Do jeito que ele via as coisas, e assim mesmo não muito bem, o material não se "gastava". Um temporalista tentara explicar-lhe, com pouco êxito, que os protótipos no transmissor haviam sido transduzidos através de uma série de eventos precisos de cardinalidade transfinita. Al perguntara, inocentemente, se isso significava que os protótipos haviam sido estendidos, por assim dizer, através de tempo infinito e o temporalista, pensando que Al estava brincando, retirou-se mal-humorado.
Gostaria de vê-lo fazer isto — pensou Al, taciturno, enquanto se transportava por meio da telecinesia para a caixa de comunicações, depois de uma olhada cautelosa para ver se não havia nenhum médico por perto. Falou para a caixa: — Chefia de Polícia — e depois para o Chefe de Polícia em pessoa: — Foi come-t;do um homicídio com o Estojo de Instrumentos Médicos 674101. Foi perdida há alguns meses por um membro do meu pessoal, o Dr. John Hemingway. Não pôde explicar com clareza o que acontecera.
O Chefe de Polícia grunhiu: — Vou chamá-lo para interrogatório. — Mas iria se surpreender com as respostas e descobriria que o homicídio estava bem fora de sua jurisdição.
Al ficou parado por alguns momentos em frente do painel, olhando para a luz vermelha, que fora acesa por uma força vital que se extinguia — como um ultimo ato — a advertência de que o Estojo 674101 estava em mãos homicidas. Com um suspiro, Al puxou a tomada e a luz se apagou.
— Éee... — zombou a mulher. — Você brincaria com o meu pescoço, mas não arriscaria o seu com essa coisa!
Angie sorriu com serena confiança, um sorriso que iria chocar funcionários do necrotério, já endurecidos. Ela ajustou a faca da Série Cutânea para três centímetros antes de passá-la pelo pescoço. Sorrindo, sabendo que a lâmina somente cortaria o tecido córneo e morto da epiderme e o tecido vivo da derme e empurraria para o lado todos os vasos sangüíneos mais importantes e o tecido muscular...
Sorrindo, Angie mergulhou a faca e o seu metal, microtômicamente afiado, cortando e atravessando os vasos sangüíneos maiores e menores e o tecido muscular da faringe... Angie degolou-se.
Nos poucos minutos que a polícia levou para chegai, chamada pelos gritos da Sra. Coleman, os instrumentos ficaram empastados e enferrujados, e os frascos que haviam contido cola vascular e aglomerações de alvéolos róseos e elásticos e células cinzas, de reserva, e espirais de nervos receptores, continham agora um limo preto e, quando foram abertos, saíram de dentro os gases fétidos da decomposição.
A CEGUEIRA
Esta história é um exemplo perfeito e fascinante da maneira como o escritor, que É também um cientista de primeira categoria, pode misturar prazer com trabalho. Não é segredo que "Philip Latham" é, na realidade, o Dr. Robert S. Richardson, há muitos anos membro da equipe dos Observatórios Palomar e Mount Wilson e que foi co-autor de manuais sobre astronomia e de simpósios sobre astronáutica. Foi um dos primeiros astrônomos profissionais a se interessar pelos vôos espaciais, demonstrando publicamente seu entusiasmo.
Além de alguns artigos para leigos, o Dr. Richardson já escreveu diversos contos apocalípticos, abordando o tema do Juízo Final; entretanto, o conto que se segue mostra-o com humor um tanto mais benigno.
"A Cegueira" contém tantos elementos de interesse que se torna difícil saber qual discutir primeiro. O conto inicia-se por um evento excitante que ocorrerá — repito, ocorrerá — em 1987, como aconteceu a cada setenta e sete anos, desde o começo da história. Com alguma sorte, a maioria de nós testemunhará o fato.
O Dr. Richardson não merece grande crédito por predizer a volta do cometa Halley, mas o relato sobre sua primeira observação tem o tom de absoluta autenticidade. De fato, pouco tempo depois de publicar esta história, ele próprio esteve envolvido numa situação similar — a descoberta do asteróide Ícaro por Baade em 26 de junho de 1949. É fantástico comparar os eventos que abrem este trabalho de ficção com o que, na verdade, aconteceu com o Dr. Richardson somente três anos mais tarde. Eis aqui algumas citações do seu artigo, "A Descoberta de Ícaro", na revista Scientific American de abra de 1965:
'Quando Baade voltou aos escritórios de Mount Wilson e Palomar, em Pasadena, perguntou a Seth B. Nicholson e a mim se gostaríamos de calcular uma órbita para o novo corpo celeste... Nicholson tornara-se um expert no rastreamento de membros do Sistema Solar e em determinar suas órbitas. Quando era estudante graduado, no Observatório Lick, em 1914, descobrira o nono satélite de Júpiter (J IX) e, mais tarde, em Mount Wilson, J X, J XI e J XII. Tornara-me familiarizado com trabalho de órbita quando o ajudava a seguir o rastro dos seus satélites que estavam sempre se extraviando."
Assim, também, a passagem de uns vinte anos tornou este pequeno conto ainda mais oportuno sob outros aspectos. O relato do Dr. Richardson do estado caótico da teoria nuclear dos anos sessenta está muito próximo da verdade. (No momento, ao que me consta, existem mais partículas "fundamentais" do que elementos.) E a importância capital das camadas de ozônio para a vida neste planeta tornou-se, recentemente, um assunto de grande preocupação, pois alguns cientistas acreditam que centenas de toneladas de combustível dos nossos foguetes gigantes em breve estarão sendo despejadas na atmosfera superior, destruindo esta sombrinha protetora.
Se esses cientistas estiveram certos, não teremos que esperar até 1987...
A CEGUEIRA
Deixar a chapa fotográfica no revelador durante os onze minutos necessários deve ter exigido todo o autocontrole de Blakeslee.
Se a chapa tivesse sido minha, acredito que teria "roubado" esse décimo primeiro minuto, especialmente com um revelador enérgico como o DQ-17. Mas Blakeslee sacudiu a bandeja, metodicamente, para trás e para a frente, para cima e para baixo, sem demonstrar mais impaciência do que se fosse uma fotografia de sua tia Mable. E, então, depois que a chapa já estava na bandeja do fixador, esperou mais onze minutos antes de retirá-la e enxaguá-la.
— Agora, Latham, se pudermos ter um pouco de luz, por favor.
Liguei a chave, revelando o interior imaculado da câmara escura do telescópio de 300 polegadas. Blakeslee sacudiu a chapa de oito por dez,, com delicadeza, para fazer cair algumas gotas de água que ainda permaneciam na sua superfície, depois colocou-a diante do retângulo branco e preto do visor. O que eu vi fez-me perder o fôlego. Um negativo perfeito! Tempo de exposição, tempo de revelação — tudo perfeito. Os rastros das estrelas eram tão nítidos como se fossem gravados por um artista. Mas, onde estava o objeto que procurávamos? Dele não consegui descobrir um traço sequer.
Blakeslee examinava a região próxima a Geminorum 20 com uma ocular de pouco aumento. Depois de alguns minutos de atenta observação, entregou-me a chapa e a lente sem uma palavra. A princípio, apenas podia discernir a multidão de riscas pretas e cinzas de traços de estrelas, aqui e ali defeituosas, devido à aglomeração irregular dos grãos de prata. Então eu o descobri! Um borrão indistinto. O mais insignificante traço de fraca nebulosidade com um minúsculo núcleo escondido no centro.
Uma onda de emoção aumentou dentro de mim, tal como nunca experimentara em toda minha vida. Uma súbita compreensão da transitoriedade da existência humana e da eternidade do tempo e do espaço.
Devolvi a chapa a Blakeslee, com mãos trêmulas. — Está de volta — disse eu com voz sumida.
Um sorriso fugaz aflorou-lhe aos lábios. — Sim, está de volta. O cometa de Halley — de volta depois de três quartos de século.
Blakeslee terminou uma segunda xícara de café, acendeu seu velho cachimbo de raiz e deixou-se cair numa poltrona, já bem gasta, que fica defronte das janelas da biblioteca que olham para o sul. A chapa da descoberta do cometa de Halley estava agora na secagem de onde seria em breve transferida para o aparelho medidor de placas, lá em cima. Nesse meio tempo, com o cometa seguro, podíamos dar-nos ao luxo de contemplar dois anos de trabalho, concluídos com triunfo. Olhando pelas janelas da biblioteca para as fracas luzes do Laboratório Horologico abaixo de nós, fiquei pensando em quantos outros dos membros da equipe de cientistas atarefados do Núcleo ousariam "roubar" um momento de calma satisfação.
Quando em 1951, o Congresso dos Estados Unidos passou uma lei "estabelecendo no Estado do Arizona uma instituição para a investigação, exploração e pesquisa geral da natureza da matéria e da energia, com ênfase especial na estrutura do átomo", o Núcleo nasceu. No começo, consistia em um prédio dedicado à física, um ciclotron e um laboratório de química — construídos às pressas — com uma equipe insuficiente e inadequadamente financiada, sob o comando de uma série de diretores vigorosos; gradualmente reuniu-se ali todo tipo de instrumentos que pudessem contribuir para o conhecimento do átomo. O conjunto central de laboratórios e oficinas ficou conhecido como o Núcleo, por causa do velho átomo de Bohr, e os prédios que o rodeavam: a Casca. O telescópio de 300 polegadas com seu espelho fundido de um único bloco de obsidiana da Islândia, era uma aquisição relativamente recente. Muitos dos cientistas haviam morado dentro do Núcleo durante sua residência. Ainda me sentia um estranho no meu alojamento de solteiro, na periferia da Concha, onde os habitantes são considerados quase como elétrons soltos ou valências.
Não acredito que a teoria atômica tenha esperança de alcançar novamente o estado de perfeição que atingiu nos primeiros anos febris da década de cinqüenta. A teoria de ondas de Schrodinger e a mecânica quântica de Heisenberg reinavam incontestes. Até onde se podia ver em direções 4 pi, nada se vislumbrava a não ser uma extensão cintilante de observações belamente explicadas.
Então, em 1957, Sondelius descobriu o planetron, a partícula nuclear que, num certo sentido, introduzia a segunda dimensão na física atômica. Nosso conceito anterior da bela estrutura da matéria fora essencialmente linear ou unidimensional, como uma linha reta. No centro estava o nêutron sem carga elétrica. À direita estavam o próton e o posítron, com unidade de carga positiva; à esquerda, o elétron com unidade de carga negativa. Podia-se pensar neles como contas enfiadas num arame. Combinando-os do modo certo, podia-se construir a tabela periódica inteira dos elementos.
O caso era que o planetron é teimoso e se recusa encaixar-se neste esquema certinho das coisas. Pois ele não é nem positivo nem negativo, mas tampouco é neutro. É uma partícula de massa 1111e. Sem dúvida é dotado de alguma espécie de carga — disso temos muita certeza. Mas, assim como não podemos compreender uma quarta dimensão no espaço, tampouco podemos compreender uma carga que se afasta da linha reta das quantidades mais e menos. O que é um planetron? Essa é a pergunta que a ciência vem tentando penosamente responder nos últimos trinta anos.
Seguindo o colapso da teoria de ondas, sobreveio um período de aproximadamente cinco anos em que os cientistas não tinham nenhum átomo para guiá-los. Gradualmente, surgiu a idéia do que se pode chamar de "átomo psicológico", uma massa intangível dotada de poderes virtualmente humanos de instinto e percepção. É tão impossível tentar descrever ou fazer um modelo deste átomo como fazer um desenho do caráter de um homem. Ainda assim, todos temos uma idéia bastante clara do que quer dizer caráter e, pela experiência, pode-se prever com segurança como um indivíduo reagiria a uma situação dada. Quase que da mesma maneira, a partir do conhecimento dos fatos observados, concernentes aos diferentes átomos, podemos prever, com bastante precisão, como eles irão reagir sob diversas temperaturas, pressões, excitação elétrica etc...
Estão surpresos em descobrir que cientistas, depois de terem sacudido o mundo com a bomba atômica em 1945, escolheram isolar-se dentro do santuário do Núcleo em vez de tomar parte ativa nos assuntos políticos? Caras, vocês não conhecem os cientistas. Voltaram correndo para seus antigos empregos, como coelhos introvertidos que são, conformados em mordiscar novamente as magras rações que uma população indiferente lhes concede de má vontade.
Mas, então, de acordo com Murdock, nosso cético e jovem astrofísico e cicerone dos visitantes noturnos do observatório, nesta vida os homens recebem exatamente o que merecem. Pensando bem, em geral, Murdock tem razão. O que me faz lembrar que lhe devo dois dólares desde que aquela enorme mancha solar, na semana passada, deixou de criar uma tempestade magnética — uma aposta que, na ocasião, parecia uma "galinha morta".
No que diz respeito à Data Juliana 2447045, ou seja 5 de setembro de 1987, em termos comuns, isto é o suficiente.
Sonhando com os múltiplos projetos que estavam em anda mento noite e dia, dentro do Núcleo, eu quase adormecera quando Blakeslee me arrancou das minhas divagações.
— Alguma vez já pensou nos corpos celestes como coisas vivas, Latham?
Ora, esta não é o tipo de pergunta que o diretor de um observatório possa atirar contra seus assistentes de manhã cedo. Por isso, tive que meditar por bastante tempo antes de aventurar uma resposta.
— Bem, sim, creio que no meu subconsciente. O Sol com sua família de planetas e Júpiter com seus treze satélites, naturalmente, nos lembram pais arbitrários e dominantes. A Lua é uma fria deusa branca. — Parei para pensar mais um! pouco e continuei: — Urano e Netuno são enormes bestas na semi-escuridão. Sírio é uma dama cintilante com uma taça de champanha. — Ri nervosamente para disfarçar meu embaraço de parecer tão poético. — Acho que é o máximo que posso dizer nessa linha.
Com surpresa, constatei que os profundos olhos de Blakeslee não demonstravam divertimento. Em vez disso seu rosto estava absolutamente sério.
— Tenho me perguntado, freqüentemente, como este mundo pareceria ao cometa de Halley se esse tênue conglomerado de gás e pedra fosse dotado de visão super-radiônica? O que tal criatura, forçada a passar por aqui cada setenta e sete anos, pensaria deste nosso pequeno planeta?
Como se quisesse responder à sua própria pergunta, caminhou até os livros de consulta que se achavam ao lado da lareira e, sem mesmo esticar seu corpo magro, retirou com facilidade um volume gasto do Guia da História do Mundo, de Sherwood, da prateleira mais alta.
— Hoje à tarde, anotei as datas da volta do cometa de Halley. Vamos tomar algumas ao acaso. Estou curioso em saber como o mundo teria parecido a ele quando passava por aqui.
Blakeslee virou as páginas próximas ao começo do livro. — Aqui está sua passagem em 66 A.D. e a primeira perseguição dos Cristãos começa por Nero. Não parece um começo auspicioso, não é?
Virou mais algumas páginas. — Vamos tentar 374 A.D. Os hunos invadiam a Europa central. Os visigodos, expulsos pelos hunos, estabelecem-se na Trácia com permissão de Valério. Foi muita consideração da parte dele. Gostaria de saber que motivo teria? Vamos até a outra volta. Aqui estamos em 452 A.D. "Átila devastava a Itália. Roma é salva pelo seu bispo, Leão o Grande."
Blakeslee falava mais para si mesmo do que para mim. — Agora vem a volta mais famosa de todas — 1066 A.D.: "Haroldo II, eleito rei; morto na Batalha de Hastings; 1146: Tebas e Corinto saqueadas pelos sicilianos; 1455: Início da Guerra das Rosas; 1608: Henrique IV planeja a queda dos Habsburgos; 1683: a França invade os Países Baixos Espanhóis, os turcos cercam Roma." Agora estamos chegando aos tempos modernos. O ritmo é mais apressado. O que temos aqui? "Invasão do Canadá em 1759. Morte de Wolfe. Quebec é tomada. Os russos e austríacos derrotam Frederico, o Grande. 1836: Massacre do Álamo e derrota dos mexicanos em San Jacinto."
Fez uma pausa, respirou fundo e continuou. — E, finalmente, o último retorno em 1910. O mundo deve ter parecido muito bom, para variar. Tudo parecia em paz. Apenas um indício aqui e ali do holocausto que estava por vir.
— Alguma coisa sobre 1987? — perguntei.
Blakeslee fechou o livro, com ar severo e recolocou-o na estante.
— Lembra-se do fim da Terceira Grande Guerra, em 1968? De como os representantes de cada país juravam solenemente que jamais seria permitida uma destruição igual? Em menos de doze horas eles presenciaram uma das nações mais poderosas ser destruída, aniquilada, completamente obliterada, como se nunca tivesse existido. Esses homens honoráveis nunca foram mais sérios do que quando empenharam sua sagrada palavra de manter a paz.
Blakeslee riu amargamente. — E hoje, é apenas uma questão de semanas ou dias para rebentar a 4.a Guerra Mundial.
Voltou-se subitamente para mim, como se eu tivesse contestado suas palavras. — Logo depois de uma guerra, uma nação é como um homem se recuperando de uma bebedeira. Como ele se sente mal! Como é que um homem pode sentir-se tão mal e viver? Nunca, nunca mais isso vai acontecer. E ele é sincero — nesse momento! Mas, espere até que ele se recupere e esteja novamente de pé. A velha sede volta, a velha inquietude, a velha ânsia de exibicionismo e poder, que não se deixa apaziguar nem admite ser posta de lado. Sabe o que eu faria se fosse o cometa de Halley? — disse com raiva. — Destruiria este mundo e a mim mesmo com um choque glorioso. Assim, nunca mais seria condenado a voltar, século após século e testemunhar tanto sofrimento e estupidez.
Esse estado de espírito abandonou-o tão subitamente quanto viera. Voltou a ser o mesmo Blakeslee mais uma vez — frio, distante, objetivo. Deu uma olhada no relógio.
— Nossa chapa já deve estar seca, agora. Estou ansioso para verificar o quanto o cometa está seguindo o nosso curso previsto. Seu quase encontro com Saturno poderia ter tido sérias conseqüências. Não teria levado muito para fazer uma grande diferença na excentricidade e na longitude do nodo — disse, olhando-me zombeteiro.
Compreendi, sem mais explicações: — Murdock disse que gostaria de ajudar com as medições. Tenho já a zona astro gráfica e as estrelas para comparação, selecionadas para uma semana. Com sorte, deveremos ter a posição amanhã de manhã.
— Excelente — disse Blakeslee. — Nesse caso, deixarei tudo nas suas mãos. Não hesite em me acordar quando tiver a resposta.
— Como quiser — respondi, levantando-me e espreguiçando-me.
Fiquei um pouco surpreso ao encontrar Murdock na sala de medições, sentado em frente dos computadores. Pela pilha de pontas de cigarro no cinzeiro, calculei que estivesse novamente a braços com o átomo de prasiodímio.
— Como é que está indo a análise espectral? — foi meu cumprimento.
— Não muito bem — resmungou, seu rosto moreno estava vermelho. — Tentar encontrar diferenças de combinação no prasiodímio VII é como tentar resolver uma palavra cruzada tridimensional com os olhos vendados.
— Bem, que tal aplicar seus talentos nesta chapa, por alguns instantes? — perguntei, tirando a preciosa fotografia do envelope.
Murdock olhou para ela sem entusiasmo. — Um desses trabalhos apressados, aposto.
— É apenas a chapa da descoberta do cometa de Halley, só isso.
Ele deu um assobio. — Não me conte o resto. Blakeslee está mordendo o freio, louco para saber se combina ou não com a efeméride. OK. Vamos começar.
Acendeu a luz atrás do enorme aparelho de medir Reuchlín, varreu com a mão alguns papéis para dentro da cesta e começou a ajustar a ocular. — Sinto-me completamente acordado, agora. Que tal se eu meço e você toma nota?
— Para mim está bem — concordei, entregando-lhe a chapa. Segurou-a contra a luz, examinando, com ar crítico, as imagens estelares. Havia muito pouca evidência de coma, graças à lente corretiva de força zero que utilizamos no foco de Newton do telescópio de 300 polegadas. Eu já traçara linhas a tinta em volta das estrelas que queria usar como comparação.
Murdock abriu o catálogo astrográfico na página que eu marcara. Felizmente, trabalhávamos numa zona apontada como segura pelo Observatório de Bordeaux, de modo que eu tinha grande confiança nos seus resultados.
— A primeira estrela a ser medida será a número 56 no clichê 1003 — começou ele. — Zona mais quinze graus e seis horas e vinte e oito minutos — continuou, curvando-se para ler a letra miúda ao pé da página. — Medido pelas Senhoritas E. Chatenay e G. Vedrome.
— Só quero a parte astronômica — respondi. — Pode deixar o sexo de fora.
Rindo, balançou a cabeça para os lados, testando o sistema ótico para a paralaxe. Após alguns pequenos ajustes, girou o dial horizontal da esquerda para direita.
— Primeiro vou lhe dar a colocação em X. — Trouxe as linhas cruzadas para cima até que elas dividiram a imagem da estrela em duas partes. — É dez ponto um dois sete quatro.
— Dez ponto um dois sete quatro — repeti, anotando o número no papel.
Murdock girou o dial ao contrário e chegou à direção novamente. — Dez ponto um dois seis oito.
— Ponto um dois seis oito.
Com a aproximação da aurora o Núcleo ficara silencioso. Mas, para nós, o longo dia apenas começara.
Blakeslee abriu sua porta com tanta rapidez que calculei que ele estivera acordado esperando por mim. Tomando as medições, ele abriu um caderno de folhas soltas com "C.H.", em letras grandes, estampado na capa. Virou as páginas até chegar à última folha onde a efeméride estava datilografada. Após alguns minutos de trabalho ele assentou a ascensão reta prevista e a declinação interpolada para nossa posição nessa noite. Olhamos para elas, espantados.
— Ora, são quase idênticas! — exclamei.
Blakeslee olhou carrancudo. — Esta é a posição exata e verdadeira do cometa de Halley em relação ao equador e ao equinócio de 1987. 0, não é? — perguntou, apontando para os meus cálculos.
— Isso mesmo — respondi.
— Hm-m-m! — suspirou, ainda carrancudo.
Novamente, percebi que me confrontava com uma das sutilezas da mente científica. Nada incomoda tanto os cientistas como verem suas previsões concordarem com suas observações de modo preciso. Lembro-me do primeiro trabalho que me foi designado, de fazer algumas medições de termoelementos da Lua. O astrônomo para quem eu trabalhava não me deu a mínima indicação dos resultados que eu deveria obter. Simplesmente, ensinou-me a usar o aparelho e deixou-me por minha conta. Quando lhe mostrei as deflexões que obtivera no galvanômetro ele ficou estarrecido. As deflexões davam temperaturas para o ponto do subsolo da Lua que concordavam exatamente com seus cálculos! Então pôs-se a trabalhar febrilmente para ver o que estava errado com elas! Agora Blakeslee parecia tão mal-humorado quanto um navegador que traçou seu vento de costas. Finalmente, após muitos cálculos, empurrou de volta a folha de papel em minha direção.
— Bem, é melhor que mande isto para Harvard. Precisa do código? O manual U.A.I. deve estar por aqui em algum lugar.
— Não. Posso fazê-lo de cor. É muito simples. Enquanto trabalhava na mensagem, na sala de medições,
Murdock entrou, trazendo as anotações sobre o prasiodímio.
— Bem, diga-me — falou: — o cometa de Halley está seguindo a trilha quente que vocês caras calcularam para ele ou é que ele tem idéias próprias?
— A concordância é quase perfeita — respondi, um tanto vaidoso.
— Como é que Blakeslee está suportando isso?
— Bastante mal. — Ambos sorrimos.
Primeiro escrevi o telegrama em linguagem comum:
COMETA HALLEY FOI OBSERVADO 4 DE SETEMBRO 1987, POR BLAKESLEE E LATHAM ÀS 10 HORAS 50.1 MINUTOS TEMPO UNIVERSAL NA ASCENSÃO À DIREITA (1987.0) 6 HORAS 28 MINUTOS 31.3 SEGUNDOS DECLINAÇÃO (1987.0) MAIS 17 GRAUS 11 MINUTOS 30 SEGUNDOS. MAGNITUDE 15. DIFUSO COM NÚCLEO CENTRAL.
Após examinar isto, palavra por palavra, com o máximo cuidado, comecei a condensar a mensagem em código oficial, adotado pela União Astronômica Internacional.
1987 setembro 5
O Núcleo, Arizona
COMETA HALLEY 04157 SETEMBRO 10501 06283 21711 81330 23982 BLAKESLEE LATHAM
Quando estava para mandar o telegrama, Murdock dignou-se a dar uma olhada nele.
— E por falar nisso, quanto se aproximará o cometa Halley nesta viagem?
— Apenas um pouquinho menos de dois milhões de quilômetros em 1.° de maio de 1988 — respondi. Isto é mais perto do que qualquer outro cometa já chegou antes. Quem detinha o recorde anteriormente era o cometa de Lexell nos idos de 1770 que chegou a uns dois milhões e quatrocentos mil quilômetros.
Se possível, Murdock pareceu ligeiramente menos entediado. — Então podemos esperar alguma agitação no dia da primavera, não é? Uma porção de formigas humanas correndo em pânico por toda parte. — Bocejou e acrescentou: — Acorde-me quando isto acontecer.
Eu mesmo estava morto de cansaço, por isso não perdi tempo em me meter na cama, em meu quarto do laboratório. Embora não tivesse dormido nas últimas vinte e quatro horas, minha cabeça continuava a funcionar febrilmente, de modo que rolei na cama durante meia hora. Por fim, levantei-me, tomei um comprimido de filonal e voltei para debaixo das cobertas. De longe, podia escutar o rádio de Murdock, do outro lado do corredor, que dava o boletim de notícias das sete horas — algo sobre o aumento de tensão de guerra no Turquestão e na Pérsia. Cinco minutos depois eu dormia profundamente.
Os dias que se seguiram, encontraram-me ocupado o tempo todo, fotografando o cometa de Halley depois da meia-noite, medindo e reduzindo as chapas à tarde. Tentei também manter em andamento, na primeira metade da noite, o programa normal dos espectrogramas de alta-dispersão das estrelas do tipo de emissão-B. Visto que o Congresso deixara de votar a verba para contratar um assistente noturno, fui eu quem saiu perdendo, como sempre. Havia ocasiões em que eu tinha de me forçar demais. O cometa voltou para seguir a rota calculada por Blakeslee com fantástica precisão, parecendo um foguete controlado de alta freqüência.
Aproximadamente em meados de fevereiro, Halley tornou-se visível a olho nu, se se soubesse exatamente para onde olhar. As pessoas começaram a telefonar, cada vez em maior número, querendo saber quando o cometa chegaria mais próximo da Terra, se havia algum perigo de colisão, se todos seríamos sufocados por gases venenosos etc., etc...? De fato, as pessoas ficaram tão agitadas, por causa do cometa que algumas vezes ele acabava tirando as notícias de guerra da primeira página do jornal. Murdock fez uma lista de respostas para as perguntas que as pessoas faziam com mais freqüência, de modo que, quando ele era chamado ao telefone podia desfiar longos números, sem um segundo de hesitação, adquirindo assim uma reputação, inteiramente imerecida, como um comentarista expert.
Esperando, de manhã cedo, que o cometa de Halley surgisse por cima dos escuros pinheiros a nordeste, observando sua estrutura tênue aparecer no revelador, seguindo-o sobre um fundo cintilante de estrelas, noite após noite, durante semanas, gradualmente uma estranha sensação começou a apossar-se de mim — sensação que eu nunca sentira antes com respeito a um objeto inanimado. Posso melhor descrevê-la como uma convicção de que o cometa de Halley e eu existíamos apenas um para o outro. Devemos lembrar-nos das condições de tensão, sob as quais todos andávamos trabalhando. Eu estava absorvido pelo cometa. Vivia com ele. Quando estava acordado, não havia um momento em que ele estivesse longe dos meus pensamentos.
Dirigindo-se velozmente em direção ao Sol, o cometa comportava-se como uma coisa viva, mudando irregularmente de forma e brilho, tão imprevisível como uma mulher. Ora diminuía a luminosidade, ora aumentava o brilho de novo, quando jatos brilhantes se projetavam no núcleo em graciosas volutas. Nas noites em que Murdock ou Blakeslee tinham o uso exclusivo do telescópio, eu ficava profundamente enciumado. Não foi Balzac que escreveu uma história sobre um sujeito que se apaixonou por um tigre?¹ Bem, não irei tão longe e dizer que me apaixonei pelo cometa de Halley, mas devo confessar que cheguei a considerá-lo — muito em segredo — com um profundo sentimento de posse e carinho.
1. Sim. "Uma Paixão no Deserto". N. do Editor.
Em abril, o cometa de Halley estava a cerca de duzentos e dez milhões de quilômetros da Terra, a uns cem milhões de quilômetros do Sol. Já teve o leitor um pesadelo em que uma enorme figura fantasmagórica se avoluma acima de você ameaçadoramente, prenunciando-lhe algum destino horrível, tão terrível que está além da capacidade de expressá-lo com palavras ou de ser alcançado pela mente? Era essa a sensação que o cometa Halley inspirava à medida que se elevava no céu matutino. As pessoas ficavam paradas, olhando para o alvorecer, acotovelando-se, aconchegando-se umas contra as outras, como se tivessem medo de olhar para o intruso de espaço exterior. No começo, observavam em silêncio aterrorizado, falando apenas em cochichos. Mas, à medida que o pálido espectro se agigantava cada vez mais, nos céus, uma espécie de inquietação apavorada percorria a multidão, marcada por murmúrios e gritos excitados. As mulheres, freqüentemente, desmaiavam, em parte devido às pessoas que se empurravam com violência, mas, mais amiúde, pelo pavor que a contemplação do próprio cometa causava. Muitos casos de transes, sonambulismo e paralisia foram registrados, ao que os psiquiatras atribuíam a uma origem puramente histérica.
Naturalmente que toda espécie de rumores e previsões sobre o cometa se espalharam e, quanto mais descabelados eram, mais propensas estavam as pessoas a acreditar neles. Apesar das repetidas garantias das mais altas autoridades, de que nenhum mal possível poderia ser associado à aproximação do cometa de Halley, mesmo assim desenvolveu-se na mente do público a firme convicção de que ele era um sinal da destruição final da humanidade — "a morte, o luto e a fome" — profetizado pelo Livro das Revelações. Nós, no Núcleo, não cessávamos de nos maravilhar de como a superstição podia apossar-se da raça humana. Aqui, nós nos lisonjeávamos, vivíamos numa idade científica e racional, onde objetos tais como cometas eram inteiramente compreendidos. Entretanto duvido se nas horas mais negras da Idade Média jamais se tenham presenciado cenas como as que vimos no Ano do Senhor de 1988.
Aos poucos, uma espécie de mania de destruição e orgia tomou conta das pessoas que, mesmo indivíduos considerados lúcidos e bem-educados, foram incapazes de resistir. As chamadas "orgias do cometa" aconteceram por todo o globo terrestre, onde centenas de pessoas foram mortas. O número de propriedades danificadas subia aos milhões. Em Lisboa uma multidão enlouquecida vagou solta durante três dias antes que as tropas pudessem restaurar alguma aparência de ordem.
Então, quando as pessoas estavam ficando mais tranqüilizadas e convencidas de que o cometa de Halley era, na realidade, apenas um "inofensivo saco de nada", aconteceu, como disse o Professor Challis, da Universidade de Illinois, a pior coisa que se poderia imaginar. O velho premier da China, Ts'ai Lun, certamente um dos homens mais influentes do mundo, fazia um discurso, no qual implorava às pessoas que criassem juízo e parassem de apontar o cometa de Halley no céu como um sinal sinistro. Quando ridicularizava a idéia de que o cometa podia causar algum mal, ele foi fulminado por uma trombose das coronárias e morreu na plataforma antes que qualquer auxílio chegasse até ele. Distúrbios começaram novamente a estourar com violência redobrada, e daí em diante nenhum apelo à razão teve condições de causar o menor efeito.
Os cientistas — especialmente os astrônomos — tornaram-se o alvo de muitos insultos. As pessoas nos associavam com o cometa e, de um modo obscuro, achavam que devíamos começar a trabalhar para fazer alguma coisa. Duas vezes nos sábados à noite, quando o telescópio fica à disposição do público, membros da equipe foram atacados por malucos; uma noite jogaram uma pedra pela abertura da cúpula, que por pouco não atingiu o grande espelho, mas acertou em Murdock, deixando-o desacordado por alguns minutos. Evidentemente, a situação estava ficando tão séria que as autoridades foram forçadas a levantar uma cerca de arame farpado em torno da Casca. Foram postados sentinelas em todos os portões e todo o mundo rigorosamente excluído, com exceção do corpo de cientistas.
Apesar dos tempos incertos, conseguimos manter o programa de observação em andamento quase normal, de acordo com os planos. Provavelmente, nunca mais os astrônomos teriam a oportunidade de estudar um grande cometa a tão curta distância e estávamos determinados a não deixar que a posteridade nos acusasse de incompetência.
Fora desse aspecto sensacional, o fato mais interessante sobre o cometa de Halley, quanto mais se aproximava do periélio, era o extraordinário desenvolvimento do seu espectro de carbono. Murdock e eu conseguimos uma série completa de espectros justapostos de 12.000 angströns desde a aurora infravermelha até o começo da absorção de ozônio de 2900 no ultravioleta. O início das faixas cianogênicas com comprimento de ondas de 3596, 3883 e 4216 eram sempre visíveis, enquanto que o sistema de faixa de carbono Swan aumentava o seu comprimento até dominar todo o espectro em azul, verde e amarelo. A região próxima da faixa (1.0) 4737 era particularmente interessante. Não tivemos nenhuma dificuldade em detectar a fraca faixa de isótopos a 4744.5 devido à molécula de carbono C13C12. Acresce que Murdock estava eufórico com o que ele acredita ser um novo sistema de faixas de CO para as quais já conseguiu fazer uma análise vibracional rudimentar.
Uma noite, perto do solstício de verão, eu caminhara até a grade que circunda a cúpula do telescópio de 300 polegadas, para contemplar o pôr do sol. Estivera opressivamente quente durante a última semana e agora levantava-se um vento quente e seco, deixando o ar elétrico com a tensão e levantando nuvens de poeira marrom e de folhas. Se tivéssemos estado no Haiti em vez do Arizona eu diria que uma sessão de vodu teria começado antes do fim da noite.
Fosse por causa do pó ou devido à minha imaginação exausta, toda a paisagem pareceu tingida de um tom vermelho-azulado, como se fosse vista através de uma lente mal-ajustada para uma aberração cromática. O mais curioso é que, quando olhei para o brilhante objeto distante, este pareceu vividamente colorido, mas quando o fixei diretamente o efeito desapareceu. Estava experimentando para ver se a luz poderia ser polarizada de alguma forma, quando Blakeslee juntou-se a mim. Fumava seu cachimbo de raiz, tão calmo e imperturbável como se todo o cenário tivesse sido criado especialmente para ele.
Durante uns quinze minutos, talvez, ficamos parados lá, observando o formato cambiante do sol à medida que se aproximava do horizonte. Luzes começavam a aparecer nas janelas, gente que voltava correndo para casa, enquanto outros já haviam voltado para a sua mesa de trabalho ou ao seu laboratório. Lá no Laboratório Horológico, todo o terceiro andar estava iluminado, onde, de acordo com os boatos locais, estavam trabalhando numa experiência de grande importância.
Quando o último vestígio do disco rubro do sol desapareceu por trás dos ventiladores do Edifício Ballantyne, não pude mais conter-me e perguntei a Blakeslee:
— Diga, não notou nada esquisito no aspecto da paisagem ultimamente?
— Uma espécie de efeito prismático?
— Pode-se descrevê-lo assim.
Ele balançou a cabeça. — Estou consciente disso há duas semanas.
Para mim isso era uma novidade. — Não notei nada até hoje à noite. É uma condição meteorológica estranha, suponho?
Muito calmo, bateu com o cachimbo na balaustrada de ferro para soltar as cinzas. — Vamos dar uma olhada na biblioteca.
Minha experiência diz que se pode achar qualquer coisa na biblioteca.
As paredes forradas de livros foram um alívio depois da poeira e do vento do terraço. Blakeslee andou até as estantes onde estão guardados os números do Jornal de Astrofísica e retirou um volume desbotado. Sem hesitar entregou-me o livro, aberto na página 373.
— Acho que encontrará a resposta para a sua pergunta aqui — disse.
Olhei para a capa. Era o Volume XXXIX do ano de 1914. O artigo que Blakeslee me indicara tinha o título: "Possíveis Efeitos do Cometa de Halley na Atmosfera da Terra", escrito por Edward Emerson Bernard, um nome que sabia pertencer a um dos mais cautelosos e astutos astrônomos do princípio do século.
... consistia em uma iridescência estranha e a aparência diferente das nuvens próximas do Sol e de uma faixa de luz prismática nas nuvens do sul. Isto, combinado com o efeito geral do céu e das nuvens — pois o céu inteiro tinha um aspecto estranho e fantástico — teria atraído a atenção em qualquer ocasião, mesmo que não se estivesse procurando alguma coisa fora do comum.
O fenômeno mais sugestivo, entretanto, apareceu no fim de junho e continuou, aproximadamente, por mais de um ano. Foi notado aqui, pela primeira vez, na noite de 7 de junho de 1910 e consistia em faixas e massas que se moviam lentamente, de nebulosidade autoluminosa que não se restringia a nenhuma parte do céu, especificamente. É certo que estas peculiaridades podem, de algum modo, ter tido a aurora como origem, mas não creio isto provável, pois não se assemelham, de modo algum, nem na posição nem na aparência, a qualquer fenômeno da aurora com o qual eu esteja familiarizado.
Li o artigo diversas vezes antes de pô-lo de lado. — Então é o cometa de Halley que e o responsável — falei.
— Não acredito que haja alguma dúvida a esse respeito — respondeu Blakeslee. — É provável que estejamos submersos naquela porção da cauda, perto da cabeça, se é que não estamos na própria coma. Durante o último mês mantive dois astrônomos assistentes efetuando observações a olho nu e fazendo exposições noturnas do céu com um espectrógrafo de prisma único.
Blakeslee trabalhava, às vezes, muito mais rápido do que se poderia suspeitar, vendo sua atitude indolente. — E por falar nisso — exclamei —, como é que o cometa de Halley está seguindo a rota que o senhor previu? Tenho andado ocupado demais, recentemente, para rastreá-lo.
Blakeslee retirou o cachimbo do bolso de cima de sua jaqueta puída, encheu-o de tabaco forte e tirou várias baforadas antes de responder.
— Não vejo nenhuma razão por que você não deva saber — disse finalmente. — Entretanto, aconselho-o a ficar calado por enquanto. Na verdade, o núcleo do cometa está agora com aproximadamente dois graus de declinação da minha posição calculada.
— Dois graus! — exclamei. — Ora, isso quer dizer quatro vezes o diâmetro de uma lua cheia! Santo Deus! O que foi que saiu errado?
Blakeslee estudou a cabeça incandescente do seu cachimbo com olho crítico. — Não faço a menor idéia — disse.
Era precisamente 02h12 hora de Tucson, quando ouvi um tumulto do lado de fora da cúpula, naquela noite, como se alguma coisa fora do comum tivesse acontecido. Lembro-me bem da hora porque começara uma exposição de uma hora da H.D. 218393 e estava assentando isto no livro de registros. Quando se vive constantemente num lugar a gente torna-se extraordinariamente sensível aos desvios do normal. Pouco depois Blakeslee entrou. Estava muito sério.
— Está acontecendo alguma coisa? — perguntei.
Ligou o aparelho de televisão que temos dentro de um armário em cima da grade de avião que cobre o espectrógrafo Cassegrain. — Estão dizendo que Pittsburgh e Seattle estão sendo destruídas — se é que já não estão.
Continuou a mexer nos botões do nosso velho aparelho Vane-Hanlon. — O que é que há com esta coisa, afinal?
— Nós tivemos a mesma dificuldade ontem à noite. Olhe — agora está surgindo a imagem.
Mas a imagem continuou a aparecer e desaparecer e a estática era tão ruim que após alguns minutos Blakeslee desistiu.
— Não sei como é que eles puderam atravessar nossas linhas com tanta facilidade — disse eu, perplexo. — O que é que aconteceu com nossas tão propaladas defesas de ondas hidromagnéticas? Pensei que elas formariam uma espécie de toldo sobre todo o país. Que detonaria qualquer coisa que se aproximasse dentro de um limite de mil e seiscentos quilômetros.
— É isso o que eles estão tentando descobrir agora — respondeu Blakeslee. — Aparentemente, isso funcionou perfeitamente com dois foguetes que explodiram no Atlântico Norte, próximo da Groenlândia. Mas outros seis parece que atravessaram, seguindo a rota traçada.
Voltei ao telescópio para dar uma olhada na H.D. 218393 que parecia inchada, pulando dentro da abertura. A visão era terrível.
— O que é que vamos fazer? — perguntei.
Blakeslee levantou-se pesadamente e dirigiu-se para a escada. — Continue — respondeu. — Continue normalmente como de costume. Não sabemos quando eles nos acertarão, mas, até que o façam, ninguém diga que descuidamos de nossa tarefa.
No alto da escada ele se deteve. — Além disso — que outra coisa podemos fazer?
Depois que Blakeslee saiu, a observação estava muito pior e eu tive que aumentar o tempo de exposição mais trinta minutos para compensar. Por incrível que pareça, eu não estava tão preocupado com o fato de que outra guerra explodira quanto com a fotografia. Esta era a minha primeira chance de experimentar meu espectrógrafo de rede de difração côncava, toda de espelho, que é particularmente rápido no ultravioleta da segunda ordem.
Todos havíamos esperado tanto tempo pela guerra que, quando finalmente chegou, já estávamos resignados, indiferentes e apáticos. O animal humano é estranho pois persiste nas suas atividades de rotina até o fim, mesmo que a terra esteja se esfarelando sob os seus pés.
Esperando que a chapa se revelasse lá na câmara escura, senti que meus olhos ardiam como se não tivesse dormido durante muitos dias e a pele por cima dos ossos das minhas faces estava seca e estirada. O timer cortou abruptamente meus pensamentos.
— Espero que isto seja muito bom — resmunguei para mim mesmo. — Não acredito que possa agüentar outra exposição.
A chapa era muito boa. Finalmente, havia bastante espectro nela. Mas, a princípio, tive dificuldade em reconhecê-lo. Então, lentamente, comecei a identificar bons e familiares pontos de referência: H beta com um centro de hidrogênio brilhante, H gama com uma borda nítida de vermelho, 4471 de hélio e linhas de silicone ionizado a 4128 e 4131. O detalhe desconcertante era a extensão de linhas e faixas longas e irregulares que penetravam no ultravioleta, terminando num enorme borrão preto na borda da chapa fotográfica.
Estudando o espectro com mais atenção, um formigamento começou a percorrer minha espinha, uma excitação violenta que me tirou da minha letargia como uma injeção de benzedrina. Se isto fosse o que eu pensava, era a maior coisa já acontecida na astrofísica desde que Jansen observou o hélio no sol sem que houvesse um eclipse. Entretanto, não adiantava ficar excitado até que tivesse primeiro uma confirmação.
Corri lá para cima. Encontrei Murdock na cúpula mexendo no aparelho de televisão.
— Você é um expert em espectroscopia — falei. — Desça até a câmara escura e diga-me o que tenho na chapa que acabo de tirar.
Murdock ficou tão admirado quanto eu quando examinou o espectro com sua ocular.
— É uma exposição de noventa minutos da H.D. 218393 — expliquei —, tirada com meu novo espectrógrafo ultravioleta. A estrela é um tipo estranho de variável, com linhas de emissão de hidrogênio. O que não compreendo é todo este espectro ao sul de 2900.
Murdock estudava linha por linha. — Qual é a sua dispersão? — perguntou.
— Quatorze angströns por milímetro.
Ele tirou do bolso uma escala milimétrica e fez a medição das diversas linhas. Logo fez alguns cálculos nas costas de um envelope, repetindo cada medição na chapa para checar os resultados.
— Bem, só existe uma única resposta que eu possa ver — disse finalmente, batendo com a escala na ponta dos dedos. — Aparentemente, a camada de ozônio, da atmosfera superior da Terra, cessou de funcionar. Parece que as faixas de oxigênio tampouco estão funcionando. De qualquer forma, a fina camada de moléculas, da qual dependemos para proteger-nos da luz ultravioleta do Sol entrou em greve.
"Como resultado, meu caro Latham, você conseguiu o primeiro espectrógrafo estelar daquela distinta cabeça da família do hidrogênio: Lyman alfa em 1216 — disse, indicando o borrão preto no canto da chapa. — Congratulações.
— Vamos contar a Blakeslee — disse eu. Encontramos Blakeslee, na biblioteca, onde estudava algumas tabelas num número antigo do Astronomische Gesellschaft.
Examinou a chapa com atenção e escutou em silêncio a interpretação de Murdock sobre o espectro.
— Isto pode explicar uma porção de coisas — disse lentamente. — Teremos a confirmação quando o sol nascer amanhã de manhã.
— Sim, desde que nós ainda estejamos aqui para vê-lo — acrescentou Murdock.
Só acordei pouco antes do meio-dia na manhã seguinte. O primeiro pensamento que me veio à mente foi aquele espectrograma da H.D. 218393. A chapa já deveria estar seca, a estas horas, de modo que eu poderia colocá-la no aparelho de medições e realmente descobrir o que eu tinha.
Quando cheguei à câmara escura, para meu desapontamento, o sinal de "ocupado" estava dependurado do lado de fora da porta.
— Abra — gritei, batendo na porta. — É Latham.
— Olá, Latham — respondeu Murdock, alegremente. — Como é que você está esta manhã?
— Estou muito bem. Quero apanhar a chapa.
— Qual chapa?
— Você sabe a que chapa estou me referindo. Ande logo — abra a porta!
Murdock parecia um louco. Não fizera a barba, seu cabelo estava em pé e havia um brilho de excitação nos seus olhos. Empurrou uma chapa, ainda pingando, em minhas mãos.
— O espectro solar baixou até 600 angströns! — gritou. Pelo aspecto do quarto via-se que já estava de pé há muitas
horas. Havia umas doze chapas no secador e mais uma dúzia delas no fixador.
— Seiscentos angströns! — exclamei — Homem, você está louco. Não sobra nenhuma luz solar a seiscentos angströns!
— E ainda continua firme! — disse ele entusiasmado. — Ora, não parece haver limite para o espectro ultravioleta do Sol. Até está aumentando em vez de diminuir.
Uma olhada na chapa foi o suficiente para confirmar sua declaração.
— Lá pelos idos de 1937 — disse Murdock, acendendo um cigarro —, os astrofísicos começaram a suspeitar que o Sol não irradiava como um black body a seis mil graus absolutos. Meia dúzia de diferentes linhas de evidência concordavam, ao indicar que o espectro ultravioleta solar não correspondia ao espectro de um black body, a uns vinte mil absoluto. Naturalmente, não podiam ter certeza. Então, quando as linhas da coroa foram identificadas como átomos de ferro e níquel ionizados uma dúzia de vezes, perceberam que deve haver equivalência da perda de energia a uma temperatura de cem mil, talvez um milhão de graus.
Estava tão excitado que andava pela câmara escura, retirando chapas do banho, examinando-as com uma ocular e colocando-as de volta.
— O caso é que ninguém podia calcular como é que se conseguia uma radiação de tão alta freqüência de uma anã amarela como o Sol. Saha sugeriu que um processo semelhante à fissão de urânio seria a resposta. Naquele tempo, pareceu algo forçado. Agora parece que fomos, como de costume, conservadores demais. Murdock esmagou o cigarro, fumado pela metade, e tirou outro.
— Chegaram relatórios sobre isto de mais algum lugar? — perguntei.
Ele sacudiu a cabeça. — As comunicações eletrônicas, em todo o globo, estão interrompidas. A ionosfera foi estourada e desapareceu. De agora em diante temos que depender do pombo correio e dos estafetas.
— Como vai a guerra?
Ele deu de ombros. — Não me pergunte. Ainda estamos aqui, não é?
Todo o resto da tarde passamos lidando com o foco Coudé do telescópio de 300 polegadas, tirando chapas o mais rápido que podíamos, de modo que, ao pôr do sol, tínhamos um registro completo do espectro solar, na escala descendente, até 100 Á com calibrações, o suficiente para manter uma equipe de assistentes ocupados em medir até o ano 2000. Quando a última chapa foi fotometrada e revelada, soltamos um suspiro de alívio e, pela primeira vez, começamos a pensar em comida. Murdock tinha uma lata de café e algumas bolachinhas de queijo no seu quarto e eu contribuí com duas barras de chocolate. Enquanto esperávamos que a água fervesse, tivemos nossa primeira oportunidade de rever os fatos.
— Murdock, afinal de contas, o que foi que aconteceu?
Ele apanhou uma folha de papel e um lápis. — Bem, é deste modo que estou "sacando" as coisas — respondeu. — Você poderá acrescentar os detalhes mais tarde, mas, essencialmente, a história deve ser alguma coisa assim. Não há dúvidas de que o equilíbrio molecular da atmosfera superior foi completamente perturbado. Bem, o processo fundamental da formação de ozônio é a fotólise da molécula de oxigênio.
Ele escreveu com uma letra grande e desigual a equação:
0:+hw = 0+0.
— Isto é, cada fóton absorvido por uma molécula de oxigênio produz dois átomos de oxigênio. A altitudes médias, onde ainda existem muitas outras moléculas à mão, acontecem colisões de três corpos do tipo:
0,0 + M = 0, + M,
onde M pode ser um parceiro de colisão, digamos outra molécula de nitrogênio, por exemplo.
O ozônio é uma molécula extremamente instável, de modo que temos o processo invertido em andamento continuamente, de ozônio voltando ao oxigênio novamente. Portanto, a concentração de ozônio em qualquer instante dependerá das proporções relativas, nas quais estas várias reações se processam.
Ele fez uma pausa, o suficientemente longa para examinar a concentração de pó de café na cafeteira antes de voltar, de novo, ao problema do ozônio.
— Mas agora o cometa de Halley chega e, então, o que é que acontece? Sabemos, pelas observações do seu espectro, que ele está carregado até as bordas de carbono. Carbono e oxigênio têm poderosa atração um pelo outro, de modo que, sempre que possível, eles imediatamente se unem com grande satisfação. O resultado é que o oxigênio da atmosfera superior, em vez de formar ozônio e outros compostos, ocupa-se em formar compostos estáveis de carbono. Isto abre a porta para sua longa luz ultravioleta pela primeira vez e que irrompe através de uma camada que anteriormente a teria parado como uma parede de pedra.
Murdock serviu o café nos copos graduados que utilizávamos para misturar o revelador.
— Espere um minuto — objetei. — Parece-me que há uma falha fatal na sua teoria. Se não me falha a memória, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono também absorvem o ultravioleta.
— Certo — concordou Murdock —, mas não com tanta eficácia quanto o ozônio e o oxigênio. De fato, sua objeção forneceu-me a prova conclusiva da minha teoria.
Ele escolheu uma chapa do secador e passou-a por cima da mesa para mim. — Dê uma olhada na exposição do lado esquerdo, ali. Observe essa região extremamente absorvida entre 1150 e 690 angströns. Sabe o que é isso? É uma faixa mais forte da molécula de dióxido de carbono. Veja como elas têm se locupletado com o ultravioleta da nossa luz solar.
Nos dias que se seguiram, ficamos sabendo o que é a vida na superfície de um planeta como Mercúrio ou como a Lua está exposta às extremidades das ondas curtas do espectro solar. Nunca antes tivera a mínima concepção de quanto é delicado o equilíbrio entre as forças contendoras que tornam a nossa existência possível. Durante milhares de anos, o homem tem andado orgulhosamente por aqui, indiferente à morte que sempre o ameaça lá do alto, sua única proteção, uma massa de moléculas instáveis e inconstantes. Isso é que é uma verdadeira Espada de Damocles! E, acredite, não foi nada para se rir quando ela caiu.
Dentro do Núcleo, os cientistas perceberam imediatamente a gravidade da situação e, tomando precauções adequadas, conseguiram continuar sem dificuldades. Não aconteceu o mesmo com os que estavam do lado de fora. Embora as pessoas fossem avisadas do perigo e informadas de como se proteger contra aquilo, ainda assim, como no caso do cometa de Halley — ou por perversidade ou por pura estupidez — recusam-se a tomar as providências necessárias. Isto se devia, em parte, ao fato de que, superficialmente, tudo parecia o mesmo que antes. A luz do sol apresentava-se um tanto azulada, mas o efeito não era nada de extraordinário. O caso é que não se pode ver nem cheirar nem sentir o gosto de um raio-X.
Como disse Murdock, as comunicações estavam completamente atrapalhadas, mas, depois do pôr do sol fragmentos de boletins de notícias filtravam-se, ocasionalmente, através do caos do lado de fora do Núcleo. As pessoas estavam ficando cegas, aos milhares. Mesmo com óculos, suficiente radiação difusa podia entrar nos olhos e causar sérios danos. Quase que da noite para o dia os homens, de seres eretos que enxergavam claramente, foram reduzidos a criaturas indefesas e tateantes. A pandemia de conjuntivite oftálmica veio a ser conhecida, simplesmente, como A Cegueira, um termo que a descrevia com muita propriedade, sob vários pontos de vista.
Os danos feitos aos olhos tinham, naturalmente, sido antecipados e, até certo ponto, descontados de antemão. Inteiramente imprevisto foi o assustador aumento de certos males que se desenvolveram numa proporção que ultrapassava qualquer tentativa de controle possível. Entre os mais sérios estava o assustador surto de câncer da pele — lúpus eritematoso discóide — entre os bebês e as pessoas idosas. Aparentemente, esta variedade de câncer está latente em todos nós, esperando somente um estímulo adequado para surgir com todo vigor. Os radiologistas chegaram à conclusão de que uma estreita faixa de radiação de 2670 a 3200 é a causa ativadora do câncer de pele. Ordinariamente, só os raios entre 2900 e 3200 podem passar, de modo que o câncer da pele se desenvolve, principalmente, naqueles que se expõem longamente à luz solar, tais como marinheiros e agricultores.
Como se o aumento incontrolável do câncer não fosse o bastante, gradualmente, através dos boletins de notícias, rigorosamente censurados, espalharam-se rumores aterrorizantes de outras doenças, tornadas muito mais ameaçadoras pelo que era deixado sem dizer, apenas sugerido; dos efeitos da luz ultravioleta no sistema nervoso central, devido à excessiva radiação e ao aquecimento do crânio, produzindo choque, convulsões e em casos extremos, loucura e suicídio.
Quanto à guerra, ela parou logo. Foguetes controlados eletronicamente saíam da rota, enlouquecidos, freqüentemente destruindo as próprias pessoas que os haviam lançado. Técnicos, que trabalhavam muito abaixo da terra, ficavam sentados em frente de complicados painéis, impotentes quando seu sentido da vista estava morto. Então a paz foi imposta a um mundo relutante, que só a aceitou quando foi atingido por uma praga pior do que a que ele próprio inventara.
Lentamente, o retorno à normalidade começou. A recuperação foi feita mais por lise do que por crise. Mas, cada dia, à medida que o cometa de Halley se afastava da Terra víamos nossas fotografias encolher no ultravioleta até chegar a 2900 como antes.
Foi numa noite de agosto, a mais ou menos uma semana depois da paz ter sido proclamada, que Blakeslee, Murdock e eu estávamos ocupados no nosso passatempo preferido — observar o pôr do sol, do terraço do telescópio de 300 polegadas. Quando a luz se desvanecia, pudemos ver o cometa de Halley no céu do oeste, na constelação do Sextante, onde se deslocava lentamente para o sul em direção a Hidra. Agora, a quatrocentos milhões de quilômetros da Terra, ele retinha pouco do seu antigo esplendor — um tênue fantasma dissolvendo-se no crepúsculo.
Pensei na longa jornada aos confins da galáxia que estava à sua frente, entrando numa região de perpétuo crepúsculo, entre as órbitas de Urano e Netuno, antes de voltar novamente em direção ao Sol. E que espécie de mundo encontraria ele na sua próxima volta? Isso eu nunca saberia.
— Acabou descobrindo o que fez com que o cometa de Halley se desviasse da sua rota calculada? — perguntei a Blakeslee.
Ele olhava o cometa longínquo talvez com os mesmos pensamentos que eu. — Não, nunca descobri — respondeu. — Verifiquei minha série de integração passo por passo desde a última passagem do periélio em 19 de abril de 1910 até aquela noite em agosto passado quando conseguimos as nossas primeiras fotografias, sem encontrar um único erro suficientemente sério para afetar apreciavelmente nossas posições. A coisa toda parece incompreensível pela lei de gravitação.
Ele fez uma pausa, enquanto enchia o cachimbo. — Entretanto, este comportamento anômalo do cometa de Halley não é sem precedentes. No retorno anterior, Cowell e Crommelin, em Greenwich, realizaram um trabalho magnífico dos movimentos do cometa de Halley do periélio de 1759 até 1910. Quando a Medalha de Ouro da Real Sociedade foi outorgada a Cowell, afirmou-se que ele tomara rigorosamente em conta distâncias de menos de metro e meio ao longo da rota do cometa. Entretanto, o cometa de Halley passou o periélio em 1910 três dias antes do tempo previsto. Essa discrepância de três dias nunca foi explicada.
Murdock mudou sua posição contra a balaustrada. — Existe uma explicação plausível que me ocorre agora. Parece fantástica, admito. Entretanto, não é incompatível com a teoria atômica corrente.
"Há evidência — continuou — de que a matéria inorgânica possui um certo grau de senciência, isto é, o átomo pode ter consciência e vontade e, portanto, num sentido limitado, o poder de controlar seu próprio destino. Tivemos o primeiro vislumbre deste poder há mais de meio século atrás, quando o famoso físico Pauli anunciou seu assim chamado princípio de exclusão. O princípio de exclusão diz que dentro do átomo um e o mesmo estado quântico podem ser ocupados somente por um elétron. É proibido a dois elétrons de um átomo ter os mesmos valores par todos os quatro membros do quantum, necessários para especificar um estado eletrônico em particular.
O difícil é tentar calcular como diabo podem os elétrons estar cientes das posições quânticas que deverão ser ocupadas, de modo que nunca transgredirão o princípio de exclusão de Pauli. Nunca foi adequadamente explicado pela antiga mecânica de ondas e, hoje, ainda é uma das propriedades do átomo mais misteriosas e fundamentais.
Se a ciência atômica pode ser invocada para explicar o mau comportamento do cometa eu não sei. Talvez o cometa de Halley goste de desviar-se do caminho de vez em quando como todos nós. Talvez fique cansado de ter que olhar para nós a cada setenta e cinco anos ou seja lá o que for.
— Talvez descubramos a resposta na outra vez que o cometa de Halley voltar, lá por 2065 — sugeri.
Murdock riu. — Bem, não se pode prever o que o cometa de Halley encontrará então. Já ouviu falar no grande segredo militar do qual todo o mundo está comentando aqui no Núcleo? Dillon, que trabalha no Laboratório Horológico resolveu o problema do tempo. Adiantou-se no tempo, na sexta-feira passada, à noite, após cinco anos de experiências.
— Quanto tempo? — perguntei.
— Uns três milésimos de segundo. Mas tive a informação diretamente de MacIntire, que é o assistente-chefe de Dillon e ele assegura que, com sua técnica, podem facilmente medir um milionésimo dessa quantidade. Assim, parece que é coisa real. O Exército tem formigueado por lá.
— Então o cometa de Halley poderá nos encontrar lutando uma Guerra do Tempo na sua próxima viagem?
— Pode ser — respondeu Murdock.
Blakeslee estivera olhando, mal-humorado, para o longínquo cometa de Halley, aparentemente indiferente às declarações de Murdock. — Não vai haver uma próxima viagem — disse calmamente.
Murdock e eu voltamo-nos, espantados. — Por quê? O que quer dizer? — perguntamos.
— O que quero dizer é que esta é a última visita que o cometa de Halley jamais fará à Terra — respondeu. — Durante o último mês, a excentricidade da sua órbita transformou-se de uma elipse alongada numa hipérbole. Dêem uma boa olhada agora, pois esta é a última vez que alguém verá o cometa de Halley.
Uma hipérbole! Uma curva que começa e termina no infinito. E o cometa de Halley dirigia-se para o infinito! Certamente, não podia ser! Tentei protestar mas minha garganta estava apertada, de modo que as palavras se recusaram a sair. Como se fosse de longe ouvi Murdock falar:
— É engraçado como as pessoas pensam que os cometas são maus sinais — disse pensativo. — Parece-me que o cometa de Halley tem sido um companheiro fiel e um excelente amigo durante todos esses anos. É certo que parou a 4.a Guerra Mundial de repente. Não fosse pela Cegueira, poderíamos não estar aqui esta noite.
— Sim — disse Blakeslee. — Não fosse pela Cegueira.
RESPIRE FUNDO
Sempre me pareceu que um autor vê-se envolvido num conflito de influências quando deve incluir um dos seus trabalhos numa antologia. Tentei minimizar esse conflito escolhendo um dos contos mais curtos que já escrevi. Ao mesmo tempo, foi onde me arrisquei mais.
Todos sabem que um homem exposto ao vácuo do espaço morrerá instantânea e horrivelmente; conhecemos descrições vividas do frágil corpo humano que se torna uma névoa, ao explodir sob a mudança de pressão. Pelo que conheço, a primeira pessoa a sugerir que isto é uma bobagem foi o jovem e brilhante escritor Stanley Weinbaum, cuja trágica morte, quando tinha trinta e três anos, privou a ficção científica de um dos seus talentos mais promissores. Num conto intitulado "The Red Peril" (O Perigo Vermelho) — publicado em Astounding Stories de novembro, 1935, apenas um mês antes da morte do autor — Weinbaum deu razões lógicas para pensar que um homem poderia viver e trabalhar num vácuo absoluto durante curtos períodos.
Meu interesse nesse assunto surgiu, indubitavelmente, das minhas atividades submarinas e da minha surpresa ao descobrir o período de tempo que um corpo humano pode sobreviver sem respirar. (Só comecei a mergulhar aos trinta e cinco anos e nunca forcei minha resistência submarina além de três e meio minutos. Um homem jovem, com boa saúde, pode ir além disso; mas, se quiser tentar, não o faça sozinho!) A falta de oxigênio não é, portanto, um sério problema por períodos de poucos minutos; o verdadeiro perigo está na falta de pressão.
O corpo humano, entretanto, É uma estrutura bastante resistente; pode suportar um aumento de pressão de pelo menos trinta atmosferas (o que corresponde a um mergulho de trezentos e quatro metros), então por que não poderá suportar uma diminuição de apenas uma atmosfera?
Essa é a teoria por trás de "Respire Fundo" que suscitou a ira de alguns médicos espaciais conservadores. Eles podem ter razão, mas em breve saberemos a resposta. Não muito tempo atrás, chimpanzés treinados foram despressurizados até atingir um vácuo total e eles continuaram a trabalhar nas suas tarefas durante uns quinze segundos, então, subitamente, perderam a consciência. Quando a pressão voltou ao normal eles recobraram a consciência completamente.
Um dia destes, algum ser humano corajoso tentará esta experiência — talvez sob condições controladas, talvez numa emergência desesperada. Mas seria bom saber se isso pode ser feito, antes que tenhamos de aprender do modo mais difícil.
Os voluntários podem fazer fila à direita.
RESPIRE FUNDO
Há muitos anos atrás, descobri que as pessoas que nunca haviam deixado a Terra têm algumas idéias firmadas sobre as condições no espaço. Todos "sabem", por exemplo, que um homem morre instantaneamente e de maneira horrível quando exposto ao vácuo que existe além da atmosfera. Na literatura popular, você encontrará numerosas descrições horripilantes de viajantes do espaço explodidos e não quero estragar o seu apetite, repetindo-as aqui. Muitos contos, na verdade, são basicamente verdadeiros. Já puxei para fora do compartimento de pressurização, homens que não fariam boa figura numa viagem espacial.
Entretanto, mesmo assim, para cada regra existem exceções — mesmo para esta. Eu deveria saber, pois aprendi do modo mais difícil.
Estávamos nos últimos estágios da construção do Satélite de Comunicações Dois; todas as unidades principais já haviam sido juntadas, as dependências onde se encontravam os alojamentos haviam sido pressurizadas e fora dada à estação um lento giro em redor do seu eixo — o que devolveu a sensação de peso, já esquecida. Digo "lento", mas, a borda da nossa roda de sessenta metros de diâmetro girava a quarenta quilômetros por hora. Não tínhamos, é claro, nenhuma sensação de movimento, mas a força centrífuga, causada por esta rotação, dava-nos a metade do peso que teríamos na Terra. Era o suficiente para não permitir que os objetos ficassem flutuando por toda parte, mas não o suficiente para fazer-nos sentir desconfortavelmente preguiçosos depois de passar semanas de imponderabilidade.
Quatro de nós dormiam numa pequena cabina cilíndrica, conhecida como alojamento Número 6, na noite em que tudo aconteceu. Esses alojamentos estavam bem na borda externa da estação; se você imaginar uma roda de bicicleta, com uma fieira de salsichas em lugar do pneu, terá uma boa idéia do esquema. O Alojamento Número 6 era uma dessas salsichas e nós nos encontrávamos dormindo tranqüilamente dentro dele.
Fui acordado por uma sacudidela súbita, não bastante violenta para causar alarma, mas o suficiente para fazer-me sentar na cama e ficar pensando no que teria acontecido. Qualquer coisa inusitada numa estação espacial exige imediata atenção; por isso apertei o botão do intercomunicador que fica ao lado de minha cama. — Alô, Central — chamei. — O que foi isso?
Nenhuma resposta; a linha estava morta.
Agora, completamente alarmado, pulei da cama — e tive um choque maior. Não havia gravidade. Fui projetado contra o teto, antes que pudesse segurar-me num suporte e parar a ascensão — ao preço de um pulso aberto.
Era impossível que a estação inteira tivesse, subitamente, parado de girar. Só existia uma resposta; a falta de comunicações e, como logo descobri, a interrupção do circuito de luz, forçaram-nos a encarar a apavorante verdade. Já não fazíamos mais parte da estação; nossa pequena cabina tinha, de algum modo, se desprendido e fora lançada no espaço como uma gota de água repelida de uma roda em movimento.
Não existiam janelas por onde pudéssemos olhar para fora mas não estávamos em completa escuridão, pois as luzes de emergência se haviam acendido. Todas as entradas de ar fecharam-se quando a pressão caiu. Por enquanto, podíamos viver na nossa atmosfera particular, embora não estivesse sendo renovada. Infelizmente, um assobio contínuo revelou-nos que o ar que ainda tínhamos escapava por um vazamento em algum lugar da cabina.
Não havia como dizer o que acontecera ao resto da estação. Tanto quanto sabíamos, o resto da estrutura poderia ter sido feito em pedaços e todos os nossos companheiros podiam estar mortos ou na mesma situação que nós — flutuando no espaço em latas de ar furadas. Nossa magra esperança era a possibilidade de sermos os únicos "náufragos", que a estação permanecesse intacta e tivesse enviado uma turma de socorro para nos procurar. Afinal de contas estávamos nos afastando apenas a cinqüenta quilômetros por hora e um dos módulos de resgate podia alcançar-nos em questão de minutos.
Na verdade, levou uma hora que, sem o testemunho do meu relógio, nunca teria imaginado ser tão pouco tempo. Agora, estávamos ofegantes devido à falta de ar e a agulha do mostrador do nosso tanque de oxigênio caíra para uma marca acima de zero.
As batidas na parede pareceram sinais vindos de um outro mundo. Batemos vigorosamente em resposta e logo uma voz abafada nos chamou através da parede. Alguém, do lado de fora, estava deitado em cima do metal do casco, com o capacete do trajo espacial encostado na parede e suas palavras, gritadas, chegavam a nós por condução direta. Não tão claro quanto um rádio — mas funcionava.
A agulha do calibrador desceu lentamente até zero enquanto realizávamos nosso conselho de guerra. Estaríamos mortos antes de poder ser rebocados até a estação; entretanto, o módulo de resgate estava apenas a uns poucos metros de distância, com seu compartimento de pressão já aberto. O nosso pequeno problema era atravessar esses poucos metros — sem trajos espaciais.
Fizemos os planos cuidadosamente, ensaiando nossos movimentos, sabendo perfeitamente que não poderíamos repetir o processo. Então, cada um de nós respirou fundo o último "trago" de oxigênio que encheria nossos pulmões. Quando todos estávamos prontos, bati na parede para dar o sinal aos nossos amigos que esperavam do lado de fora.
Ouviu-se uma série de pancadinhas curtas e secas quando as ferramentas elétricas começaram a trabalhar na parede fina do casco. Ficamos agarrados aos suportes, tão longe quanto possível do ponto de entrada, sabendo exatamente o que iria acontecer. Quando veio, foi tão súbito que a mente não pôde apreender a seqüência dos acontecimentos. A cabina pareceu explodir e um vento forte me puxou. Os últimos resquícios de ar fugiram dos meus pulmões através da minha boca já aberta. E então — completo silêncio e as estrelas brilhando do outro lado do buraco aberto que conduzia à vida.
Acredite-me, não parei para analisar minhas sensações. Acho — embora nunca terei certeza se não foi minha imaginação — que meus olhos ardiam e todo o meu corpo formigava. E senti frio, talvez porque já começasse a evaporação na minha pele.
A única coisa de que posso ter certeza é do silêncio fantástico. Nunca o silêncio é absoluto numa estação espacial, pois sempre se ouve o som das máquinas ou das bombas de ar. Mas este era o silêncio absoluto do vácuo total, onde não existe um mínimo de ar para conduzir o som.
Quase imediatamente nos arremessamos para fora, pela parede furada, e ficamos expostos à inclemente luz do sol. Fiquei logo cego — mas isto não importava porque os homens que esperavam, vestidos com trajos espaciais, agarraram-me logo que emergi e levaram-me, às pressas, para a câmara de pressurização. E lá, o som voltou lentamente, à medida que o ar a inundava e lembramo-nos que podíamos respirar novamente. Toda a operação de resgate levara, disseram-nos, apenas vinte segundos...
Bem, fomos os membros fundadores do Clube de Respiradores do Vácuo. Desde então, pelo menos uma dezena de homens têm feito a mesma coisa em emergências semelhantes. O tempo recorde no espaço é agora de dois minutos; depois disso o sangue começa a formar bolhas, ferve à temperatura do corpo e essas bolhas chegam logo ao coração.
No meu caso, apenas houve um efeito subseqüente. Por um quarto de minuto, talvez, fui exposto à verdadeira luz do sol, não os fracos raios que se filtram através da atmosfera da Terra. Respirar o espaço não me afetou — mas peguei a pior queimadura de sol que já tive em minha vida.
OS OLEIROS DE FIRSK
Existem alguns metais — o ouro é o exemplo mais significativo — aos quais os homens têm dado valor por suas qualidades estéticas; só ultimamente é que eles têm descoberto sua utilidade. Este conto é sobre um metal assim.
Ê também sobre a Beleza, um dos principais ingredientes da ciência, mas não muito comum na ficção científica. Se estiver procurando por ela, não encontrará melhor exemplo do que os escritos de Jack Vance, cujo domínio da língua é melhor evidenciado no esplêndido romance The Dragon Masters (Os Senhores do Dragão). Muitos dos seus trabalhos situam-se na margem da fantasia e ele é um dos poucos herdeiros do cetro do Professor J.R.R. Tolkien.
Jack Vance, que é californiano, começou a escrever ficção científica quando servia na marinha mercante, durante a Segunda Grande Guerra. "Os Oleiros de Firsk", embora seja uma das suas histórias mais antigas, já nos dá um vislumbre das coisas imaginosas que estavam por vir.
OS OLEIROS DE FIRSK
O vaso amarelo, que estava sobre a mesa de trabalho de Thomm, tinha uma altura de trinta centímetros, abrindo-se desde o pé, de dois centímetros, até trinta centímetros de diâmetro na parte superior. O perfil mostrava uma curva simples, pura e acentuada, dando uma sensação de acabamento completo: o corpo era fino sem fragilidade; a peça toda dava uma impressão de força bem estruturada, perfeita.
A habilidade artesanal do corpo rivalizava com a beleza da cor — um glorioso amarelo transparente, resplandecente como o arrebol de uma tarde quente de verão. Era a essência dos cravos-da-índia, um açafrão aguado, oscilante, um amarelo como de ouro transparente, um vidro amarelo que parecia produzir cortinas de luz dentro de si e jogá-las para fora, um amarelo-brilhante, mas suave, ácido como o limão, doce como geléia de marmelo, calmante como a luz do sol.
Keselsky estivera olhando para o vaso, furtivamente, durante sua entrevista com Thomm, chefe de pessoal do Departamento de Assuntos Planetários. Agora que a entrevista terminara, não pôde resistir à tentação de se curvar para examinar o vaso mais de perto.
— Esta é a mais bela peça que eu já vi — disse, com evidente sinceridade.
Thomm, um homem apenas entrado na meia-idade, com um bem aparado bigode grisalho, um olhar agudo mas tolerante, reclinou-se no espaldar da cadeira. — É uma lembrança. Pode dar-se-lhe o nome de "lembrança" por falta de outro melhor. Obtive-o há muitos anos atrás, quando tinha sua idade. — Olhou para o relógio que estava em cima de sua mesa de trabalho e exclamou:
— Hora do almoço!
Keselsky levantou a cabeça e fez o gesto de apanhar sua pasta.
— Desculpe-me, não tinha idéia...
Thomm levantou a mão. — Não tão depressa! — exclamou.
— Gostaria que almoçasse comigo.
Keselsky balbuciou algumas desculpas, mas Thomm insistiu.
— Sente-se, por favor. — Um cardápio apareceu na tela.
— Agora dê uma olhada.
Sem mais resistência, Keselsky escolheu e Thomm falou no microfone. A parede abriu-se e uma mesa apareceu com os seus almoços.
Mesmo enquanto almoçava, Keselsky acariciava o vaso com os olhos. Quando tomavam café, Thomm entregou-o por cima da mesa. Keselsky apanhou-o, passou os dedos por sua superfície, olhou para as profundezas da cor.
— Onde é que conseguiu esta peça tão maravilhosa? — perguntou, examinando o fundo e franzindo a testa ao tentar decifrar as marcas riscadas na argila.
— Não na Terra — respondeu Thomm. — Foi no planeta Firsk. — Recostou-se na cadeira. — Há uma história em relação ao vaso. — Fez uma pausa, como se esperasse uma resposta.
Keselsky jurou imediatamente que nada lhe daria mais prazer do que escutar Thomm falar sobre todas as coisas debaixo do sol.
Thomm esboçou um sorriso. Afinal de contas, este era o primeiro emprego de Keselsky.
— Como já disse antes, eu tinha sua idade — começou Thomm. — Talvez um ou dois anos mais, mas já então estava no Planeta Channel há dezenove meses. Quando chegou minha transferência para Firsk, é claro que fiquei muito contente, pois o Channel, como talvez saiba, é um planeta desolado, cheio de gelo e pulgas-de-geada, e os aborígines mais estúpidos do espaço...
Thomm estava encantado com Firsk. Era tudo o que o Planeta Channel não era: quente, fragrante, o lar dos Mi-Tuun, gente graciosa, de uma antiga, pitoresca e opulenta cultura. Firsk não era, de modo algum, um planeta grande, embora sua gravidade se aproximasse à da Terra. A superfície continental era pequena
— um único continente equatorial com o formato de um haltere.
O Bureau de Assuntos Planetários estava localizado em Penolpan, a poucos quilômetros do Mar do Sul, uma cidade de fábula e encantamento. O tilintar de música vinha de longe; o ar era suave com o perfume de incenso e mil flores. As casas baixas de junco, pergaminho e madeira escura eram construídas ao acaso — dois terços da estrutura escondidos sob as folhagens de árvores e trepadeiras. Canais de água verde cortavam a cidade, pontes de madeira, arrastando heras e flores de laranjeiras, curvavam-se por cima deles e barcos decorados com desenhos intrincados e multicores nadavam nas suas águas.
Os habitantes de Penolpan, os Mi-Tuun de pele ambarina, eram pessoas suaves, dedicadas aos prazeres da vida, sensuais sem excessos, relaxados e alegres, orientando suas vidas por rituais. Pescavam no Mar do Sul, cultivavam cereais e frutas, fabricavam artigos de madeira, resina e papel. O metal, escasso em Firsk, era freqüentemente substituído por ferramentas e utensílios de barro, feitos com tanta habilidade que a falta nunca era notada.
Thomm achou seu trabalho no Bureau de Penolpan extremamente agradável, estragado apenas pela personalidade do seu superior. Este era George Covill, um homem baixo e vermelho, com olhos azuis saltados, pesadas pálpebras enrugadas, cabelo escasso e amarelado. Tinha o hábito, quando estava aborrecido — o que era freqüente —, de inclinar a cabeça para o lado e fixar o olhar por cinco duros segundos. Então, se a ofensa fosse grande ele explodia com fúria; do contrário, afastava-se empertigado.
Em Penolpan, as atribuições de Covill eram de natureza mais técnica do que sociológica e, mesmo assim, conforme a política do Bureau de não perturbar as culturas bem-equilibradas, havia pouca coisa para ocupá-lo. Ele importava fios de sílica para substituir as fibras de raízes com as quais os Mi-Tuun teciam suas redes; uma refinaria para converter o óleo de peixe, que queimavam nas suas lâmpadas, num fluido mais leve e mais limpo. O papel envernizado das casas penolpianas tinha a tendência de absorver a umidade e rachar-se após alguns meses de uso. Covill levou para lá um verniz plástico que o protegia indefinidamente. Fora essas pequenas inovações, Covill fazia muito pouco. A política do Bureau era de melhorar muito gradualmente o padrão de vida dos nativos, que viviam dentro da estrutura de sua própria cultura, introduzindo os métodos, idéias e filosofia da Terra somente quando os próprios nativos sentiam sua falta.
Entretanto, Thomm começou logo a sentir que Covill não ligava para a filosofia do Bureau. Alguns dos seus atos pareciam grosseiros e arbitrários para o bem-doutrinado Thomm. Ele construíra um gabinete de estilo terráqueo no canal principal de Penolpan e o vidro e o concreto davam uma indesculpável nota destoante em contraste com os marrons e marfins suaves de Penolpan. Mantinha rigorosos horários de serviço e, em várias ocasiões, uma delegação de Mi-Tuun, com seus membros chegando vestidos em traje de cerimônia, havia sido mandada embora com desculpas gaguejadas por Thomm, quando na verdade Covill, detestando a frescura do seu terno de linho, tirava a camisa e estava sentado numa cadeira de vime, com um charuto e uma garrafa de cerveja, vendo shows pornográficos na tela de sua televisão.
Thomm foi designado para o Controle de Pestes, uma tarefa que Covill considerava muito baixa para sua própria dignidade. ;oi numa de suas rondas que Thomm ouviu falar nos Oleiros de Firsk.
Carregado de inseticida e cartuchos de veneno contra ratos pendurados no cinto, ele se embrenhara nos bairros mais pobres le Penolpan, onde as árvores terminavam e a planície seca se estendia até as montanhas Kukmank. Nesta localidade, relativamente monótona, ele chegou até um barracão aberto, um bazar de cerâmica. As prateleiras e as mesas ostentavam cerâmica de toda espécie, desde os alguidares de faiança para fazer picles de peixe até pequenos vasos finos como papel, luminosos como leite. Viam-se pratos grandes e pequenos, vasos de todo os tamanhos e feitios, jarros, terrinas, garrafões, canecos de cerveja.... Uma estante continha facas de barro — a argila vitrificada até soar como ferro, gume lascado com perfeição, mais afiado do que qualquer navalha, de uma enorme gota de barro esmaltado.
Thomm ficou espantado com as cores. Um raro e rico rubi, o verde da água corrente de um rio, um turqueza dez vezes mais profundo do que o céu. Viu vermelhos metálicos, marrons atravessados por luz alourada, róseos, violetas, cinzentos, tons ferruginosos pintalgados, azuis de cobre e cobalto, as raias e ondulações sem par de vidro rutilante. Alguns esmaltados desabrochavam em cristais como flocos de neve, outros continham, flutuando, lantejoulas de metal presas em seu interior.
Thomm ficou encantado com sua descoberta. Aqui estava a beleza da forma, do material, do artesanato. O corpo sadio, rijo com a força natural da terra que se dá à madeira e à argila, as fundições de vidro colorido, as leves e impacientes curvas dos vasos, a capacidade das tigelas, a largura dos pratos — tudo isso produziu um tremendo entusiasmo em Thomm. Entretanto... havia aspectos estranhos no bazar. Primeiro — ele examinou cuidadosamente todas as estantes — alguma coisa estava faltando. Na exposição multicor ele sentiu a falta do... amarelo. Não havia esmalte amarelo de espécie alguma. Creme, âmbar, cor de palha — mas nenhum amarelo verdadeiro.
Talvez os oleiros evitassem essa cor devido a alguma superstição, calculou Thomm, ou talvez porque fosse identificado com a realeza, como na antiga China lá da Terra, ou talvez porque a associassem com a morte ou a doença. Essas deduções levaram-no até o segundo mistério: Quem eram os oleiros? Não havia fornos em Penolpan para queimar cerâmica como esta.
Ele aproximou-se da vendedora, uma moça apenas saída da adolescência, que era dotada de uma beleza encantadora. Vestia o pareu dos Mi-Tuun, uma faixa estampada de flores em redor da cintura, e sandálias de palha. Sua pele brilhava como um dos esmaltes ambarinos às suas costas; era esguia, calada e amistosa.
— Tudo isto é muito belo — disse Thomm. — Por exemplo, qual é o preço desta peça? — e Thomm tocou num frasco alto, esmaltado de verde-pálido entremeado de fios de prata.
O preço, não obstante a beleza da peça, era muito mais alto do que ele esperava pagar. Observando sua surpresa a moça disse:
— São nossos antepassados e vendê-los tão baratos como madeira ou vidro seria irreverente.
Thomm levantou as sobrancelhas e decidiu ignorar o que acreditava ser uma personificação cerimonial.
— Onde é feita a cerâmica? — perguntou. — Em Penolpan? A moça hesitou e Thomm notou um súbito ar de reserva.
Ela voltou a cabeça e olhou para a cadeia de montanhas Kukmank. — Os fornos estão lá nas montanhas; para lá vão nossos ancestrais e, de volta, são trazidos os vasos. Fora disto não sei mais nada.
Thomm disse cautelosamente: — Você prefere não falar sobre isto?
Ela deu de ombros. — Realmente, não há razão por que deveria. A não ser que nós, os Mi-Tuun, tememos os Oleiros e só pensar neles me oprime.
— Mas, por quê?
Ela fez um trejeito. — Ninguém sabe o que se encontra além da primeira montanha. Às vezes enxergamos a incandescência dos fornos e então, em certas ocasiões, quando não há mortos para os Oleiros, eles levam os vivos.
Thomm pensou que, sendo assim, esse era um caso em que o Bureau deveria interferir, mesmo com uma força armada, se preciso.
— Quem são esses oleiros?
— Ali — disse ela, apontando. — Olhe, ali vai um Oleiro. Seguindo a direção do dedo, viu um homem cavalgando pela planície. Era mais alto e pesado do que os Mi-Tuun. Thomm não podia vê-lo distintamente, pois o homem estava enrolado num longo albornoz cinza, mas parecia ter uma tez pálida e cabelos castanho-avermelhados. Notou os cestos protuberantes de cada lado do animal de carga. — O que é que ele está levando agora?
— Peixe, papel, panos, óleo: mercadorias que trocou por sua cerâmica.
Thomm apanhou seu equipamento de extermínio de pragas.
— Acho que vou visitar os Oleiros um dia desses.
— Não... — disse a moça.
— E por que não?
— É muito perigoso. São ferozes, fechados...
Thomm sorriu. — Tomarei cuidado — disse.
De volta ao Bureau, encontrou Covill esticado numa espreguiçadeira de vime, meio adormecido. Quando viu Thomm acordou completamente e sentou-se.
— Onde diabos tem andado? Eu lhe disse para ter os cálculos da usina de força prontos ainda hoje.
— Deixei-os na sua mesa — respondeu Thomm, com delicadeza. — Se tivesse ido até lá não poderia deixar de vê-los.
Covill olhou-o com hostilidade, porém uma vez na vida as palavras lhe faltaram. Deixou-se cair na cadeira novamente, com um grunhido. Em geral, Thomm não dava atenção aos modos desagradáveis de Covill, identificando-os como um ressentimento contra o Escritório Central. Covill achava que suas habilidades mereciam um campo mais amplo, um cargo mais importante.
Thomm sentou-se, serviu-se um copo da cerveja de Covill.
— Sabe alguma coisa sobre as olarias nas montanhas?
Covill resmungou: — Uma tribo de bandidos, ou coisa parecida. — Atirou-se para a frente, para pegar a cerveja.
— Hoje dei uma olhada no bazar de cerâmica — disse Thomm. — Uma vendedora chamou os vasos de "antepassados". Isso pareceu-me estranho.
— Quanto mais você vagueia pelos planetas — afirmou Covill, — mais coisas estranhas você vê. Nada mais poderia surpreender-me — a não ser uma transferência para o Escritório Central. — Deu uma fungada, fez um gesto de amargura, tomou uns goles de cerveja. Refrescado, continuou numa voz menos truculenta: — Já escutei muitas coisas sobre esses Oleiros, nada definitivo, além disso nunca tive tempo de fazer-lhes uma visita. Suponho que seja uma cerimônia religiosa, rituais de morte. Eles levam embora o corpo dos mortos e enterram-nos por um preço ou mercadoria.
— A vendedora disse que, às vezes, quando não têm mortos, eles levam os vivos.
— Hem? O que é isso? — Os olhos azuis e duros de Covill ressaltavam brilhantes do seu rosto vermelho. Thomm repetiu o que dissera.
Covill cocou o queixo e logo ficou de pé. — Vamos voar até lá, só pra espiar e ver o que estes Oleiros estão fazendo. Estou querendo ir lá há muito tempo.
Thomm trouxe o helicóptero do hangar e pousou-o em frente do gabinete do chefe, que subiu nele com muita cautela. A súbita atividade de Covill impressionou Thomm, especialmente porque incluía uma viagem de helicóptero. Covill tinha uma intensa aversão a voar e, em geral, recusava-se a botar o pé em algo que voasse.
As pás da hélice cantaram, agitaram-se no ar, o helicóptero subiu. Penolpan tornou-se um tabuleiro de xadrez de tetos marrons e folhagem. A quarenta e oito quilômetros de distância, do outro lado da planície arenosa e seca, elevava-se a cadeia de montanhas Kukmank — montanhas estéreis, projeções de rocha cinzenta. À primeira vista, localizar uma colônia entre os montes parecia uma tarefa inútil.
Covill, examinando os ermos, resmungou algo sobre isso; Thomm, entretanto, apontou para uma coluna de fumaça. — Os Oleiros precisam de fornos. Fornos precisam de fogo...
Quando se aproximavam da fumaça, viram que esta não saia de chaminés de tijolos, mas de fissuras no topo de uma abóbada cônica.
— É um vulcão — disse Covill, irritado. — Vamos tentai lá na crista das montanhas; então, se não houver nada lá, voltamos.
Thomm estivera olhando atentamente para baixo. — Acho que já os encontramos bem aqui. Olhe com cuidado, poderá ver os prédios.
Ele abaixou o helicóptero e então pôde-se ver, nitidamente, as casas de pedra.
— Vamos descer? — perguntou Thomm em tom de dúvida. — Parece que são bastante perigosos.
— É lógico, desça — disse Covill secamente. — Nós somos os representantes oficiais do Sistema.
Esse fato poderia significar pouco para os montanheses, pensou Thomm. Mesmo assim, fez o helicóptero pousar numa área plana de pedra, no centro do povoado.
O helicóptero, se não assustou os Oleiros, ao menos tornou-os cautelosos. Durante vários minutos não se viu sinal de vida. As cabanas de pedra pareciam tão desoladas e vazias quanto túmulos.
Covill desceu e Thomm, assegurando-se que sua pistola gama estava bem ao alcance, seguiu-o. Covill ficou de pé ao lado do helicóptero, examinando o lugar. — É um bando de mendigos espertos — grunhiu. — Bem... é melhor ficarmos aqui até que alguém faça algum movimento.
Thomm concordou inteiramente com este plano; assim, esperaram à sombra do helicóptero. Via-se claramente que era a aldeia dos Oleiros. Havia cacos por toda parte — pedaços de louça brilhante, cintilando como jóias perdidas. Na encosta havia um monte de porcelana esmaltada quebrada, evidentemente para ser usada mais tarde e, mais além, um barracão com telhado de ardósia. Thomm procurou em vão por um forno. Uma fenda, do lado da montanha, chamou sua atenção — um caminho bastante trilhado ia até ela. Uma hipótese intrigante começou a se formar na mente de Thomm — mas agora três homens apareciam, altos e eretos, vestidos de albornozes cinzentos. Os capuzes estavam jogados para trás, fazendo-os parecerem monges da Terra medieval não fosse o fato de que, em vez da tonsura monacal, tinham um topete felpudo de cabelo vermelho no alto da cabeça.
O líder aproximou-se com passo firme e Thomm ficou rígido, preparado para o que desse e viesse. Mas não Covill: parecia estar à vontade, com ar de desprezo — um senhor entre servos.
A uns quatro metros o líder parou — um homem mais alto do que Thomm, com um nariz aquilino, olhos duros e inteligentes, como pedrinhas cinzentas. Esperou uns instantes, mas Covill apenas o observava. Finalmente, o Oleiro falou num tom cortês:
— O que traz os estrangeiros à aldeia dos Oleiros?
— Sou Covill, do Bureau de Assuntos Planetários em Penolpan, representante oficial do Sistema. Esta é apenas uma visita de rotina, para saber como é que as coisas estão indo com vocês.
— Não estamos nos queixando — respondeu o chefe.
— Tenho recebido relatórios de que vocês têm raptado Mi-Tuuns — disse Covill. — Existe alguma verdade nisso?
— Raptado? — ruminou o chefe. — O que é isso? Covill explicou. O chefe esfregou o queixo, fitando Covill com olhos negros como água.
— Há um acordo muito antigo — disse o chefe, finalmente. — Os Oleiros obtêm os corpos dos mortos: e, ocasionalmente, quando a procura é grande, nós antecipamos a natureza em um ano ou dois. Mas, que importa isso? A alma vive para sempre no vaso que ela embeleza.
Covill puxou seu cachimbo e Thomm prendeu a respiração. Encher o cachimbo era um prelúdio para aquele olhar frio de lado, que às vezes terminava numa explosão de fúria. Durante alguns momentos, entretanto, Covill controlou-se.
— E que é exatamente o que vocês fazem com os corpos? Surpreso, o líder levantou uma sobrancelha. — Não é óbvio?
Não? Mas também, o senhor não é um oleiro. Nossos esmaltes exigem chumbo, areia, argila, álcalis, espato e cal. Temos tudo menos a cal e isso extraímos dos ossos dos mortos.
Covill acendeu o cachimbo e tirou algumas baforadas. Thomm relaxou. Por agora, o perigo passara.
— Entendo — disse Covill. — Bem, não queremos interferir com nenhum dos rituais ou costumes nativos, desde que a paz não seja perturbada. Terá de compreender que não pode haver mais raptos. Os cadáveres — isso é entre vocês e quem quer que seja responsável pelo corpo, mas vidas são mais importantes do que potes. Se precisarem de cal, posso conseguir-lhes toneladas dele. Devem existir depósitos de cal em algum lugar neste planeta. Um destes dias mandarei Thomm investigar e vocês terão tanta cal que não saberão o que fazer com ela.
O chefe sacudiu a cabeça, um tanto divertido. — Cal natura' é um pobre substituto para a cal viva e fresca dos ossos. Eles têm certos sais que funcionam como fundentes e, também, naturalmente, o espírito da pessoa está nos ossos e isto passa para o esmalte, dando-lhe um fogo interno que não se pode obter de outro modo.
Covill tirou umas quantas baforadas, observando com seus duros olhos azuis o chefe dos Oleiros. — Não me importa o que vocês usam — disse, — desde que não haja mais raptos, nenhum assassinato. Se precisarem de cal, eu os ajudarei a encontrá-la; é para isto que estou aqui, para ajudar vocês e levantar o seu padrão de vida; mas também estou aqui para proteger os Mi-Tuun de serem invadidos. Posso fazer ambas coisas — uma tão bem quanto a outra.
Os cantos da boca do Oleiro-Chefe repuxaram-se para baixo. Thomm interveio com uma pergunta antes que ele cuspisse uma resposta furiosa. — Diga-me, onde estão seus fornos?
O chefe lançou-lhe um olhar frio. — Nossa queima é feita pelo Grande Fogo Mensal. Empilhamos nossos vasos em cavernas e, então, no vigésimo segundo dia, o fogo surge lá de baixo. Por um dia inteiro, o calor sobe rugindo, branco e incandescente e, duas semanas depois, as cavernas esfriam o suficiente para permitir-nos entrar e buscar nossa cerâmica.
— Isso parece interessante — disse Covill. — Gostaria de dar uma olhada no seu trabalho. Onde está sua louça, aí nesse barracão?
O chefe não mexeu um músculo. — Nenhum homem pode olhar dentro do barracão — disse lentamente —, a não ser que seja um Oleiro — e, mesmo assim, somente depois de ter demonstrado seu domínio da argila.
— E como faz para demonstrar isso? — perguntou Covill, bem-humorado.
— Com a idade de quatorze anos ele sai da sua casa com um martelo, um almofariz e meio quilo de cal de ossos. Ele tem que achar sua própria argila, seu chumbo, sua areia e seu espato. Deve encontrar ferro para o marrom, malaquita para o verde, oxido de cobalto para o azul e deve moer um esmalte no almofariz, modelar e decorar o ladrilho e colocá-lo na Boca da Grande Queima. Se a louça for bem-sucedida, o corpo são, o esmalte bom, então ser-lhe-á permitido entrar na grande olaria e conhecer os segredos do artesanato.
Covill retirou o cachimbo da boca e perguntou, zombeteiro:
— E se o ladrilho não for bom?
— Nós não precisamos de maus Oleiros — respondeu o chefe. — Sempre precisamos de cal óssea.
Thomm estivera olhando para os cacos de louça colorida.
— Por que não utilizam esmalte amarelo?
O Oleiro-Chefe abriu os braços. — Esmalte amarelo? É desconhecido, um segredo que nenhum Oleiro ainda penetrou. O ferro dá um bronzeado sujo, a prata um amarelo-acinzentado, o cromo um amarelo-esverdeado e o antimônio tosta-se no calor da Grande Queima. Um amarelo puro e vivo, a cor do sol, ah, isso é um sonho.
Covill não estava interessado. — Bem, precisamos voltar, visto que você não nos quer mostrar nada. Lembre-se, se houver qualquer ajuda técnica que vocês quiserem, eu posso consegui-la para vocês. Talvez possa descobrir como fazer o seu precioso amarelo...
— É impossível — disse o chefe. — Não temos por acaso, nós os Oleiros do Universo, procurado isso por milhares de anos?
— ... Mas não deve haver mais mortes. Se for necessário porei um fim à fabricação de cerâmica.
Os olhos do chefe brilharam. — Suas palavras não são amistosas!
— Se você não acredita que posso fazê-lo, engana-se — respondeu Covill. — Deixarei cair uma bomba pela goela do seu vulcão e farei desmoronar a montanha inteira. O Sistema protege cada homem em qualquer lugar e isso significa que protege os Mi-Tuun contra uma tribo de Oleiros que quer seus ossos.
Thomm puxou-o, nervosamente, pela manga. — Volte para o helicóptero — segredou. — Estão ficando perigosos. Logo estarão em cima de nós.
Covill deu as costas para o chefe ameaçador e, calmamente, subiu no helicóptero. Thomm seguiu-o, sempre desconfiado. Via nos olhos do chefe que ele estava à beira do ataque e Thomm não tinha nenhuma vontade de lutar.
Puxou o manche e as pás da hélice mastigaram o ar; o helicóptero elevou-se, deixando um grupo de Oleiros silenciosos, envoltos em albornozes cinzentos, lá embaixo.
Covill acomodou-se no assento com um ar de satisfação. — Só há um modo de lidar com gente como essa: é ficar por cima; esse é o único jeito de eles respeitarem a gente. Se a gente se mostra hesitante, um pouco que seja, eles o pressentem, tão certo como a morte, e então estamos fritos.
Thomm não disse nada. Os métodos de Covill poderiam produzir efeitos imediatos, mas a longo prazo pareciam míopes, intolerantes e insensíveis. No lugar de Covill ele teria salientado a habilidade do Bureau em conseguir substitutos para a cal de ossos e, possivelmente, auxiliar nas dificuldades técnicas — embora, na realidade, eles parecessem ser senhores de seu artesanato, completamente seguros de sua habilidade. O esmalte amarelo, evidentemente, ainda lhes faltava. Nessa noite ele inseriu um slide da biblioteca do Bureau no seu visor portátil. O assunto era a cerâmica e Thomm absorveu tudo quanto pôde a respeito do assunto.
O projeto preferido de Covill — uma pequena usina de força atômica para eletrificar Penolpan — manteve-o ocupado durante os dias que se seguiram, embora trabalhasse com relutância. Penolpan, com seus canais suavemente iluminados por lanternas amarelas, os jardins incandescentes à luz das velas e perfumados por fragrantes flores noturnas, era um cidade do país das fadas; eletricidade, motores, luzes fluorescentes, bombas de água... certamente diminuiriam o encanto — Covill, entretanto, insistia que o mundo se beneficiaria com uma gradual integração no tremendo complexo industrial do Sistema.
Duas vezes Thomm passou pelo bazar de cerâmica e duas vezes entrou, e em ambas ocasiões fê-lo para maravilhar-se com a louça cintilante e para conversar com a moça que cuidava da loja. Possuía beleza, graça e encanto fascinantes, insuflados em sua alma por uma vida inteira em Penolpan: ela interessava-se por tudo o que Thomm tinha para dizer acerca do universo exterior e ele, moço, sensível e solitário, aguardava as visitas com expectativa crescente.
Durante algum tempo Covill manteve-o tremendamente ocupado. Estavam na época de mandar os relatórios ao escritório central e Covill designou Thomm para essa tarefa, enquanto cochilava na sua cadeira de vime ou navegava pelos canais no seu barco espacial, vermelho e preto.
Finalmente, no fim de uma tarde, Thomm jogou para o lado seus papéis e andou rua abaixo, sob a sombra das enormes árvores kaotang. Atravessou o mercado central, onde os vendedores estavam ocupados com o comércio de fim de tarde, seguiu o caminho ao longo de um canal margeado de grama e, finalmente, chegou ao bazar de louças.
Procurou em vão pela moça. Um homem magro, vestindo uma jaqueta preta, aguardava em silêncio, para servi-lo. Por fim, Thomm virou-se para ele e perguntou: — Olhe está Su-then?
O homem hesitou; Thomm ficou impaciente.
— Bem, onde está ela? Doente? Deixou de trabalhar aqui?
— Ela foi embora.
— Para onde?
— Foi para seus ancestrais.
Thomm sentiu a pele congelar-se, repuxando-se. — O quê?
O empregado abaixou a cabeça.
— Ela está morta?
— Sim, ela está morta.
— Mas, como? Ela estava com saúde um ou dois dias atrás. O homem dos Mi-Tuun hesitou novamente. — Existem muitos modos de morrer, terráqueo.
Thomm ficou zangado. — Diga-me, agora: o que aconteceu com ela?
Bastante surpreendido com a veemência de Thomm o homem deixou escapar: — Os Oleiros chamaram-na para as montanhas; ela se foi, mas em breve viverá para sempre, seu espírito envolto em vidro glorioso...
— Deixe-me compreender bem isto — disse Thomm. — Os Oleiros levaram-na... viva?
— Sim! viva.
— Mais alguns?
— Três outros.
— Todos vivos?
— Todos vivos.
Thomm voltou correndo para o Bureau.
Covill, por acaso, encontrava-se no seu gabinete, examinando o trabalho de Thomm. Thomm falou de chofre: — Os Oleiros estiveram pilhando de novo: levaram quatro Mi-Tuun nestes dois últimos dias.
Covill esticou o queixo, praguejando com fluência. Thomm compreendeu que sua raiva não era tanto pelo ato em si, mas pelo fato de que os Oleiros haviam-no desafiado, desobedecido suas ordens. Covill, pessoalmente, fora insultado; agora veriam ação.
— Tire o helicóptero — disse Covill, secamente. — Traga-o aqui para a frente.
Quando Thomm pousou o helicóptero, Covil já o esperava com uma das três bombas atômicas do arsenal do Bureau — um longo cilindro preso a um pára-quedas. Covill prendeu-o ao helicóptero e deu um passo atrás. — Leve isto por cima do maldito vulcão — disse asperamente. Jogue-o na cratera. Isso vai ensinar aos diabos assassinos uma lição que não esquecerão. A próxima bomba será na sua aldeia.
Thomm, conhecendo a aversão que Covill ao vôo, não se surpreendeu com a tarefa. Sem mais palavras decolou; elevou-se acima de Penolpan e voou em direção das montanhas Kukmank
Sua raiva esfriou. Os Oleiros, presos na rotina de seus costumes, não percebiam o mal. As ordens de Covill pareceram imprudentes: teimosas, vingativas, precipitadas. Suponha que os Mi-Tuun estivessem ainda vivos? Não seria melhor negociar sua liberdade? Em vez de voar por cima do vulcão ele pousou o helicóptero na aldeia cinzenta e, certificando-se que sua pistola gama estava à mão, pulou na desolada praça de pedras.
Desta vez não teve de esperar mais do que um minuto. O chefe aproximou-se a largos passos, o albornoz batendo contra os seus membros fortes, um sorriso repugnante no rosto.
— Então... se não é o fidalgote insolente outra vez! Muito bem... estamos precisando de cal de ossos e os seus servirão admiravelmente. Prepare sua alma para a Grande Queima e sua vida futura será a eterna glória de um esmalte perfeito.
Thomm sentiu medo, mas também experimentou uma audácia desesperada. Tocou na sua arma. — Matarei uma porção d: Oleiros e você será o primeiro — disse, numa voz que pareceu estranha a seus próprios ouvidos. — Vim buscar os quatro Mi-Tuun que você tirou de Penolpan. Estas incursões têm que parar. Vocês parecem não compreender que nós podemos puni-los.
O chefe botou as mãos atrás das costas; aparentemente não estava impressionado. — Vocês podem voar como os pássaros, mas os pássaros não podem fazer mais do que sujar aqueles que estão embaixo.
Thomm puxou sua pistola gama, apontou para uma pedra grande e arredondada, a uns quatrocentos metros de distância. — Observe aquela pedra — disse, pulverizando-a com uma bala explosiva.
O chefe deu um passo atrás, levantando as sobrancelhas. — Na verdade, você exibe mais peçonha do que eu acreditava. Mas... — disse, mostrando o círculo de Oleiros vestidos de albornozes, que rodeava Thomm: — podemos matá-lo antes que cause muitos danos. Nós, Oleiros, não tememos a morte, que é um eterno meditar do vidro.
— Escutem — disse Thomm com franqueza. — Não vim aqui para ameaçar, mas para negociar. Meu superior, Covill, deu-me ordens para destruir sua montanha, explodir suas cavernas — e posso fazê-lo com a mesma facilidade com que estourei aquela pedra.
Um murmúrio elevou-se dos Oleiros.
— Se alguma coisa me acontecer, fiquem certos de que sofrerão. Mas, como eu disse, desci aqui contra as ordens do meu superior para negociar com vocês.
— Que espécie de barganha vai nos interessar? — falou o Oleiro-Chefe com desprezo. — Nada nos interessa a não ser o nosso artesanato. — Fez um sinal e, antes que Thomm pudesse fazer um movimento, dois corpulentos Oleiros agarraram-no e tiraram-lhe a pistola das mãos.
— Posso dar-lhes o segredo do esmalte amarelo verdadeiro
— gritou Thomm, desesperadamente. — O amarelo nobre, fluorescente, que suportará o fogo do seu forno!
— Palavras vazias — disse o chefe. Zombeteiro, perguntou:
— E o que é que você quer pelo segredo?
— A devolução dos quatro Mi-Tuun que você acaba de raptar de Penolpan e sua palavra de que nunca mais vão fazer incursões lá.
O chefe escutou atentamente, pensou alguns momentos. — Como então devemos formular nosso esmalte? — falou ele com ar paciente, como um homem explicando uma verdade a uma criança. — O cal de ossos é um dos nossos fundentes mais necessários.
— Como Covill disse, podemos dar-lhes quantidades ilimitadas de cal, com as propriedades que vocês pedem. Na Terra temos feito cerâmica por centenas de anos e sabemos muito a respeito dessas coisas.
O Oleiro-Chefe jogou a cabeça para trás. — Isso é evidentemente uma mentira. Olhe... — e deu um pontapé na pistola de Thomm. — A substância com que isto foi feito é apenas um metal opaco, sem brilho. Uma gente que conhece argila e vidro transparente nunca usaria material desta espécie.
— Talvez fosse aconselhável deixar-me demonstrar — sugeriu Thomm. — Se eu lhe mostrar o esmalte amarelo então negociará comigo?
O Oleiro-Chefe examinou Thomm durante quase um minuto. De má vontade, disse: — Que espécie de amarelo pode fazer?
Thomm respondeu com ironia: — Não sou Oleiro e não posso prever com exatidão; mas, a fórmula que tenho em mente pode produzir desde um tom de amarelo leve e luminoso até um laranja-vivo.
O chefe fez um sinal. — Soltem-no. Vamos fazê-lo engolir as palavras.
Thomm esticou os músculos meio entorpecidos. Curvou-se para apanhar a arma do chão, meteu-a no coldre sob o olhar irônico do Oleiro-Chefe.
— Nosso trato é este — disse Thomm: — eu lhes mostro como fazer o esmalte amarelo e lhes garanto um suprimento inesgotável de cal. Vocês entregar-me-ão os Mi-Tuun e darão a palavra de que nunca mais farão incursões em Penolpan para apanhar homens e mulheres vivos.
— As negociações estão condicionadas ao esmalte amarelo — disse o chefe dos Oleiros. — Nós mesmos podemos produzir um amarelo-sujo sempre que quisermos. Se o seu amarelo sair do fogo limpo e verdadeiro concordarei com suas condições. Se for ao contrário, nós Oleiros consideraremos você como um charlatão e o seu espírito será aprisionado para sempre no utensílio mais inferior.
Thomm foi até o helicóptero, retirou a bomba atômica do seu suporte e jogou fora o pára-quedas. Trazendo o cilindro sobre os ombros, disse: — Levem-me ao seu lugar de trabalho. Veremos o que posso fazer.
Sem uma palavra o Oleiro-Chefe conduziu-o encosta abaixe, até o barracão comprido, e atravessou o arco de pedra de um portal. À direita viam-se caixotes de argila, uma fileira de rodas, vinte ou trinta delas encostadas a uma parede e, no centro, uma prateleira apinhada de louça secando. À esquerda, havia tinas, mais estantes e mesas. De uma porta vinha o barulho de algo sendo moído; evidentemente era um moedor de alguma espécie. O Oleiro-Chefe conduziu Thomm pela esquerda, passando pelas mesas de esmaltar até o fundo do barracão. Ali havia prateleiras cheias de potes diversos, tinas e sacos; estes marcados com símbolos desconhecidos para Thomm. E, pela porta, ali perto, aparentemente sem uma guarda, Thomm inesperadamente encontrou os Mi-Tuun, sentados em bancos, passivos e desanimados. A garota Su-then levantou-se de um salto, hesitou na porta, paralisada pela severa figura do Oleiro-Chefe.
Thomm falou-lhe: — Você é uma mulher livre... com um pouco de sorte. — Então, voltando-se para o chefe dos Oleiros: — Que espécie de ácido vocês têm?
O Chefe indicou uma fileira de potes de pedra-sabão. — O ácido do sal, o ácido do vinagre, o ácido do espatoflúor, o ácido do salitre, o ácido do flúor.
Thomm balançou a cabeça e, deixando a bomba sobre a mesa, abriu uma portinhola do tubo, retirando uma das cápsulas de urânio. Em cinco copos de boca larga, de porcelana, ele raspou lascas de urânio com seu canivete e em cada copo deitou uma quantidade de ácido — um ácido diferente em cada um. Bolhas de gás fumegaram do metal.
O Oleiro-Chefe, de braços cruzados, observava. — O que é que está tentando fazer?
Thomm deu um passo atrás, estudando os recipientes fumegantes. — Traga-me carbonato de sódio e lixívia.
Finalmente, um pó amarelo assentou no fundo de um dos copos; apanhou este, triunfante, e lavou-o.
— Bem — disse para o Oleiro-Chefe —, traga-me esmalte incolor.
Em seis bandejas colocou um pouco de esmalte e uma quantidade diferente de sal amarelo. Cansado, os ombros caídos, deu um passo atrás e estendeu o braço: — Aí está o seu esmalte. Teste-o.
O Chefe deu uma ordem; um Oleiro veio com uma bandeja cheia de ladrilhos. O Chefe foi até a mesa, escreveu um número 10 primeiro copo, mergulhou um ladrilho no esmalte, marcou o ladrilho com o mesmo número. Fez o mesmo com cada ladrilho.
Afastou-se e um dos Oleiros meteu os ladrilhos dentro de um pequeno forno de tijolos, fechou a porta e atiçou o fogo na parte inferior.
— Agora — disse o Oleiro-Chefe —, você tem vinte horas tara perguntar-se se a queima lhe trará a vida ou a morte. Pode passar o tempo em companhia dos seus amigos. Não pode sair, estará bem guardado. — Virou-se abruptamente e saiu por entre s mesas.
Thomm foi até a sala onde se encontrava Su-then. Ela esperava-o na porta e caiu em seus braços com alegria, espontaneamente.
As horas passaram. As chamas rugiam em volta do forno e s ladrilhos estavam incandescentes — vermelho-vivo — amarelo-vivo — amarelo-esbranquiçado e, finalmente, o fogo extinguiu-se. Agora os ladrilhos estavam esfriando atrás da porta do forno; as ores já estavam firmadas e Thomm lutou com o impulso de arrancar os tijolos que fechavam a abertura do forno. A escuridão desceu; caiu num sono agitado, a cabeça de Su-then repousando no seu ombro.
Passos pesados o acordaram; foi até a porta. O Oleiro-Chefe estava removendo a porta de tijolos. Thomm aproximou-se; ficou olhando. Dentro estava escuro; somente o resplendor branco dos ladrilhos; podia se distinguir o lustre do vidro colorido em cima. O Oleiro-Chefe estendeu o braço para dentro do forno, puxou o primeiro ladrilho. Um borrão barrento, cor de mostarda, fazia na crosta encima do ladrilho. Thomm engoliu em seco. O Chefe sorriu para ele com ironia. Apanhou outro. Este era uma massa ; bolhas marrons. O Chefe sorriu novamente e apanhou mais um. Uma massa de lama.
O sorriso do Chefe era largo. — Fidalguinho, seus esmaltes são piores do que as tentativas mais desajeitadas das nossas crianças.
Retirou outro. Uma explosão de amarelo-brilhante — parecia le toda a sala se iluminava.
O Oleiro-Chefe soltou uma exclamação, os outros Oleiros curvaram-se para olhar e Thomm recostou-se à parede. — Amarelo ...
Quando Thomm, finalmente, voltou ao Bureau encontrou Covill furioso. — Onde diabo você se meteu? Mandei-o fazer um trabalho que levaria umas duas horas e você se ausenta por dois dias.
— Resgatei os quatro Mi-Tuun e fiz um contrato com os Oleiros. Não haverá mais pilhagens.
Covill abriu a boca: — Você o quê?
Thomm repetiu a informação.
— Você não seguiu minhas instruções?
— Não — respondeu Thomm. — Pensei ter uma idéia melhor e, do modo que tudo aconteceu, eu estava certo.
Os olhos de Covill eram dois fogos azuis, duros. — Thomm, você está acabado aqui, acabado com Assuntos Planetários. Se não se pode ter confiança que um homem cumpra as ordens do seu superior, ele não vale um centavo para o Bureau. Junte suas coisas e embarque no próximo vôo que sai daqui!
— Como quiser — respondeu Thomm, virando as costas.
— Você ainda está ligado ao Bureau até hoje à noite, às quatro horas — disse Covill, friamente. — Até então, terá de obedecer minhas ordens. Leve o helicóptero até o hangar e traga a bomba de volta para o arsenal.
— O senhor não tem mais bomba — disse Thomm. — Dei o urânio para os Oleiros. Esse foi um dos preços do contrato.
— O quê? — berrou Covill, os olhos esbugalhados. — O quê?
— O senhor me ouviu — falou Thomm. — E se pensar que poderia ter feito melhor uso dela, explodindo-lhes o meio de vida, está louco.
— Thomm, entre nesse helicóptero, saia e vá buscar esse urânio. Não volte sem ele. Ora, seu colossal e maldito imbecil, com esse urânio esses Oleiros podem estourar Penolpan completamente e fazê-la desaparecer da face do planeta.
— Se quiser o urânio — respondeu Thomm —, saia e vá buscá-lo você mesmo. Estou despedido, acabado.
Covill fitou-o com raiva, inchado como um sapo. As palavras saíam roucas de sua boca.
Thomm continuou: — Se eu fosse você, deixaria os cães dormindo em paz. Acho que seria um negócio perigoso tentar tirar-lhes o urânio.
Covill virou-se, afivelou duas pistolas gama na cintura e saiu ruidosamente pela porta. Thomm ouviu o ronco das pás do helicóptero.
— Lá vai um homem corajoso — disse Thomm para os seus botões. — E lá vai um tolo.
Três semanas mais tarde, Su-then, alvoroçada, anunciou visitantes e Thomm, levantando os olhos, ficou espantado de ver o Oleiro-Chefe com dois Oleiros atrás dele — severos, taciturnos, enrolados nos seus albornozes.
Thomm cumprimentou-os cortesmente. Ofereceu-lhes assentos; eles, porém, preferiram ficar de pé.
— Vim até a cidade — disse o Oleiro-Chefe — para perguntar se o contrato que fizemos ainda está de pé.
— Pelo que me diz respeito, sim — respondeu Thomm.
— Um louco foi até a aldeia dos Oleiros — continuou o Chefe. — Disse que você não tinha autoridade, que nosso acordo era bom, mas que não podia permitir que os Oleiros ficassem com o metal pesado que faz vidro como o pôr do sol.
— Então, o que foi que aconteceu?
— Houve violência. — A voz do Oleiro-Chefe não demonstrava emoção. — Ele matou seis bons oleiros. Mas isso não importa. Vim aqui saber se o nosso contrato ainda está de pé.
— Sim — respondeu Thomm. — Está segurado pela minha palavra e a do meu grande chefe lá da Terra. Falei com ele e disse-me que o contrato é válido.
O Oleiro-Chefe balançou a cabeça. — Nesse caso, trago-lhe um presente. — Fez um gesto e um dos seus homens colocou um vaso na mesa de Thomm, um vaso de um fulgor amarelo, maravilhoso.
— O louco é um homem de sorte, realmente — falou o Oleiro-Chefe, — pois seu espírito mora no vidro mais brilhante jamais saído da Grande Queima.
Thomm levantou as sobrancelhas. — Quer dizer que os ossos de Covill...
— A alma fogosa do louco deu esplendor a um esmalte já glorioso — respondeu o Oleiro-Chefe. — Ele vive para sempre no extasiante luzir...
AS EXPERIÊNCIAS DO DR. HASCOMBE
Julian Huxley, F.R.S. (Fellow of the Royal Society) alcançou fama tanto na ciência e na literatura como na administração. Levaria muitas páginas impressas com letra miúda para descrever todas as suas realizações, sendo uma das primeiras ser neto do grande T.H. Huxley — "o buldogue de Darwin". Os genes sempre triunfarão, como foi provado pelo exemplo do falecido irmão de Sir Julian, Aldous — cujo Brave New World (Admirável Mundo Novo) ainda continua sendo uma das mais memoráveis antiutopias.
Tenho a impressão de que se fizéssemos uma contagem ficaria provado que Sir Julian publicou mais trabalhos do que seu irmão; esta produção inclui poesia, ensaios, livros de textos e a popularização das ciências (algumas das quais com tão notáveis colaboradores como H.G. Wells e J.B.S. Haldane). É Secretário-Geral da UNESCO e, se a justaposição não for falta de tato, Secretário do Zoológico de Londres. Suas incontáveis distinções e honrarias incluem uma que me dá muito prazer em mencionar — o Prêmio Kalinga para a literatura científica.
"As Experiências do Dr. Hascombe" foi escrito há uns quarenta anos atrás, mas não envelheceu em nenhum detalhe essencial; de fato, os recentes estonteantes progressos na biologia molecular tornam-no muito oportuno. Enquanto preparava este livro, encontrei estas manchetes no Los Angeles Times (2 de novembro, 1964): "Cientista Diz Que o Homem Poderá Reproduzir-se Como as Plantas." Embora isto não pareça como a realização de uma necessidade longamente esperada, a habilidade de criar órgãos completos — e, talvez, indivíduos completos — a partir de pequenos pedaços de tecido, seria de imenso valor na pesquisa médica. Levaria, também, ao controle do futuro genético do homem e muito mais além disso.
Algumas destas possibilidades são esboçadas no conto de Sir Julian. Leia os parágrafos finais com atenção
— e lembre-se que eles foram escritos quase vinte anos antes de Hiroxima
AS EXPERIÊNCIAS DO DR. HASCOMBE
Há três dias que tentávamos atravessar o pântano. Finalmente, chegamos a terra firme, onde começava um aclive suave. Perto do cume, a vegetação tornava-se mais densa. Uma plataforma vegetal começou a surgir diante de nossas vistas à medida que nos aproximávamos; tinha a aparência de ter sido erguida ali pela mão do homem. Não tínhamos desejo de abrir caminho a facão, na barricada espinhenta; por isso viramos para a esquerda, em frente à parede verde. Depois de duzentos ou trezentos metros, chegamos a uma clareira que levava para dentro do mato, estreitando-se no que parecia uma trilha. Isto nos deixou um pouco desconfiados. Entretanto, pensei que devíamos forçar caminho o mais possível e por isso ordenei à caravana que entrasse no atalho, tomando eu mesmo o lugar atrás do guia.
Subitamente, o guia parou com uma exclamação gutural. Olhei e lá estava um dos grandes sapos africanos, pulando com uma certa majestade, por cima do caminho. Mas tinha uma segunda cabeça, crescendo-lhe dos ombros! Nunca tinha visto nada igual antes e quis apanhar essa monstruosidade, tão extraordinária, para as nossas coleções; mas, quando avancei, o bicho, em dois pulos, ganhou o abrigo das moitas espinhentas.
Continuamos avançando e, à medida que o fazíamos, fui me convencendo de que o caminho que seguíamos era artificial. Pouco depois, um murmúrio chegou aos nossos ouvidos, e reconhecemos logo ser uma voz humana. O grupo parou e eu me arrastei na direção do som, junto com meu guia. Espiando por entre o biombo de vegetação olhei para uma depressão e fiquei imensamente admirado com o que vi ali. A voz vinha de um enorme negro, com altura de quase dois metros e meio — o homem mais alto que já vira fora de um circo. Estava de cócoras; de tempos em tempos prosternava-se, inclinando a parte superior do corpo, recitando uma oração ou fórmula cabalística. O objeto de sua devoção era um pedacinho de vidro plano, preso a um suporte de ébano talhado. Ao seu lado havia uma enorme lança, junto a uma cesta com tampa pintada.
Passados um minuto ou dois, o gigante curvou-se em silêncio, apanhou o objeto de ébano e vidro e colocou-o na cesta. Depois, para o meu completo espanto, retirou um sapo de duas cabeças, como o que já vira antes, mas dentro de urna jaula de capim trançado, colocou-o no chão e continuou a fazer mais genuflexões e a proferir murmúrios rituais. Logo que terminou de fazer isso, recolocou o sapo dentro da cesta e, tranqüilamente, ficou a observar a paisagem.
Para além da clareira ou pequeno vale, via-se um terreno ondulante, salpicado de touceiras de vegetação. De certa distância vinha um som que nos chamou a atenção; manchas de cor moviam-se na capoeira: um grupo de quarenta ou cinqüenta homens aproximava-se, a maioria tão gigantesca quanto o primeiro que víramos. Todos marchavam em ordem, armados com lanças e usando tangas coloridas com uma espécie de bolsa de couro peludo pendurado na frente. Eram precedidos por um negro de ar inteligente, de altura normal, armado com uma maça e ladeado por duas figuras que pareciam mais extraordinárias do que os gigantes. Tinham altura bastante abaixo do normal, quase anões, com imensas cabeças, enormemente gordos e fortes de rosto e de corpo. Vestiam capas amarelo-vivo por cima dos ombros.
Quando apareceram, nosso gigante levantou-se e ficou parado, rígido, ao lado de sua cesta. O grupo aproximou-se e parou. Uma ordem, um gigante separou-se do grupo e veio em nossa direção, o nosso gigante apanhou a cesta, entregou-a ao negro recém-chegado e tomou um lugar no pequeno grupo. Evidentemente presenciávamos uma espécie de rendição da guarda e eu dava tratos à bola indagando-me o que tudo isto significaria — guardas, gigantes, anões, sapo — quando, espantado, ouvi uma exclamação às minhas costas.
Era um dos meus malditos carregadores, um sujeito cretino, que gostava sempre de mostrar sua independência. Cansado de esperar, creio, arrastara-se, cheio de si, para ver o que estava acontecendo e, subitamente, a vista dos gigantes foi demais para seus nervos. Fiz um sinal para que ficasse quieto, mas era tarde, muito tarde. A exclamação fora ouvida; o líder deu um rápido comando e os gigantes dividiram-se em dois grupos, cercando-nos.
A violência ou a resistência estavam fora de questão. Com o coração na boca, mas com toda a dignidade que pude reunir, fiquei em pé de um salto, abri as mãos para mostrar que estavam vazias, dizendo ao mesmo tempo para o guia que não atirasse. Uma dúzia de lanças formou uma barreira em redor de mim, mas, nenhuma foi utilizada. O líder subiu correndo a elevação e deu uma ordem. Dois gigantes aproximaram-se e enfiaram minhas mãos sob seus braços. O guia e o carregador foram empurrados para a frente com a ponta das lanças. Os outros carregadores descobriram que alguma coisa estava acontecendo e começaram a gritar e fugir, os nativos correndo atrás deles. Nós três fomos delicada mas firmemente conduzidos pela clareira.
Não entendia nada de sua língua e chamei meu guia para ver se ele compreendia alguma coisa. Aconteceu que era um dialeto do qual ele conhecia umas poucas palavras; não conseguiu entender muito a não ser que estávamos sendo levados a alguma autoridade superior.
Durante dois dias fomos conduzidos por um terreno agradável, parecendo um parque, salpicado de aldeias. De vez em quando, encontrávamos alguma nova monstruosidade, como um anão ou uma mulher incrivelmente gorda ou um animal de duas cabeças, tanto que pensei que topara com a fonte de abastecimento original de aberrações para os circos.
O terreno, finalmente, começou a descer para um vale agradável, atravessado por um rio; logo chegamos à capital. Mesmo para a África, esta era uma aldeia realmente grande, suas muralhas de barro de uma estranha e impressionante arquitetura, com contrafortes pesados, cobertos de lajes. Sobre ela, gigantes de pé montando guarda. Vendo nossa aproximação, começaram a gritar e uma multidão saiu pela porta mais próxima. Meu Deus, que multidão! Estava me acostumando a gigantes, mas aqui havia um verdadeiro show circense; mais semi-anões; outros parecidos porém mais horríveis — não se podia dizer se aquelas criaturas eram crianças precocemente amadurecidas ou adultos horrivelmente atrofiados; outros eram monstruosamente gordos, braços e pernas como pernis tostados de carneiros e rolos e volutas de gordura projetando-se dos seus traseiros esteatopígios; ainda outros, precocemente senis e murchos, mais alguns com aparência odiosa e imbecil. Naturalmente, havia muitos negros de aspecto normal, mas o número de anormais era o bastante para fazer a gente sentir-se bastante esquisito. Logo depois de enfiarmos, notei, subitamente, outra coisa que me pareceu inexplicável — um fio telefônico em perfeito estado, com isoladores, que se estendia de árvore para árvore. Um telefone — numa aldeia desconhecida da África! Desisti
Porém outra surpresa me estava reservada. Vi uma figura passar de um grande prédio para outro — a figura inconfundível de um homem branco. Em primeiro lugar, vestia calças brancas de algodão e um capacete; em segundo lugar tinha o rosto pálido.
Voltou-se, sua atenção atraída pelo barulho de nossa caravana, ficou a olhar-nos por alguns momentos, e então andou em nossa direção.
— Alô — gritei. — Fala inglês?
— Sim — respondeu —, mas fiquem quietos por enquanto.
— Começou a falar rapidamente com nossos captores que o tratavam com a maior deferência. Voltou para o nosso lado e disse rapidamente: — Vocês serão levados ao salão do conselho para serem examinados: mas vou me assegurar de que não lhes causem nenhum dano. Esta é uma terra proibida para os estranhos e devem estar preparados para serem retidos por algum tempo. Vocês serão enviados para mim, nos prédios do templo, logo que as formalidades estiverem terminadas, e então lhes explicarei tudo. Precisam de algumas explicações — acrescentou com uma risada.
— Por falar nisso, meu nome é Hascombe, antigo pesquisador do Hospital de Middlesex e, atualmente, conselheiro de Sua Majestade o Rei Mgobe. — Ele riu de novo e saiu andando. Era um tipo interessante, de uns cinqüenta anos talvez, corpo magro, rosto fino, uma pequena barba e olhos fundos cor de avelã. Quanto à expressão, parecia a um tempo cínico e interessado na vida.
A essa altura, estávamos na entrada do salão. Nossos gigantes encontravam-se enfileirados do lado de fora, nossos homens atrás deles e somente eu e o líder entramos. O exame foi puramente formal t extraordinário, principalmente pelo ritual e a solenidade que caracterizavam todos os atos de duas dezenas de homens de bela aparência, vestidos de longos mantos, que nos examinavam. Meus homens foram tocados para algum alojamento. Eu fui conduzido para uma pequena cabana, mobiliada — num estilo que era uma tentativa de estilo europeu — onde encontrei Hascombe.
Logo que ficamos a sós, comecei a bombardeá-lo com perguntas. — Agora pode contar-me. Onde estamos? O que significa este negócio de circo e esta coleção de monstruosidades? E como foi que veio parar aqui? — Ele interrompeu-me:
— É uma longa história, por isso deixe-me economizar tempo contando-a a meu modo.
Não vou repetir a história como ele a contou; mas tentarei dar uma versão coerente, o resultante de nossas conversas posteriores e de minhas próprias observações.
Hascombe fora um estudante de medicina com um brilhante futuro; após sua formatura, dedicou-se à pesquisa. Começara com protozoários parasitas, mas desistira para dar preferência à cultura de tecidos; daí passara para a pesquisa do câncer e depois para o estudo da fisiologia do desenvolvimento. Mais tarde fora organizada uma enorme Comissão para o estudo da doença do sono, e Hascombe, impaciente e ansioso por viajar, pedira a intervenção de pistolões, conseguindo ser indicado membro da equipe científica que foi mandada para a África. Ficou muito impressionado com a idéia de que os animais selvagens podiam ser um reservatório do Trypanosoma gambiense. Quando soube das grandes migrações de animais de caça, viu nisso um possível e importante meio de espalhar a doença e pediu permissão para embrenhar-se na selva e investigar o problema. Quando a Comissão terminou seu trabalho, foi-lhe permitido permanecer na África com um outro homem branco e um grupo de carregadores, para ver o que podia descobrir. Seu companheiro branco era um taciturno técnico de laboratório, um oficial de ciências não comissionado, chamado Aggers.
Não cabe aqui contar suas peripécias. É suficiente saber que perderam o caminho e caíram nas mãos desta mesma tribo. Isso fora há quinze anos atrás; fazia muito que Aggers morrera — como resultado de uma ferida causada por ocasião de sua captura, dois anos depois, quando tentava fugir.
Ao serem capturados foram também examinados no salão do conselho e Hascombe — que se interessara amadoristicamente pela antropologia como por todos os outros assuntos de pesquisa científica — ficou muito impressionado pelo que descreveu como uma atmosfera excessivamente religiosa. Tudo era feito como um cerimonial; o chefe mais parecia um sacerdote do que um rei e efetuava os diversos rituais a intervalos — os verdadeiros sacerdotes ocupados numa espécie de altar o tempo todo. Entre outras coisas, notou que um de seus ritos estava ligado ao sangue. Primeiro o chefe e depois seus conselheiros eram chamados a dar uma gota do fluido vital, saído de uma espetadela na ponta dos dedos e a mistura, colocada num pequeno recipiente, era lentamente evaporada sobre uma chama.
Alguns dos homens de Hascombe falavam um dialeto não muito diferente do utilizado pelos captores e um deles servia de intérprete. As coisas não pareciam muito favoráveis. O país era um "lugar sagrado", parece, e a tribo uma "raça sagrada". Outros africanos que atravessassem os limites, se não fossem mortos, eram escravizados, mas, em geral, as outras tribos deixavam as coisas como eram e não cruzavam as fronteiras. Já haviam ouvido falar de homens brancos, mas até aquele momento nunca tinham visto um, de modo que discutiam o que deviam fazer — matá-los, soltá-los ou escravizá-los? Soltá-los era contrário a todos os seus princípios: o lugar sagrado seria maculado se a notícia se espalhasse fora do país. Escravizá-los — sim; mas, para que serviam? E o Conselho parecia experimentar uma aversão instintiva em relação a essas criaturas de outra cor. Hascombe teve uma idéia. Voltou-se para o intérprete. — Diga isto: "Vocês veneram o sangue. Nós, homens brancos, também; mas fazemos mais — podemos tornar visível a natureza e a realidade escondidas do sangue e, se me for permitido, mostrar-lhes-ei esta grande mágica."— Chamou um de seus carregadores, que levava precioso microscópio, montou-o, retirou uma gota de sangue da ponta do seu dedo, com uma faca, e colocou-a numa lâmina, cobrindo-a com outra. Os chefões estavam obviamente interessados. Cochichavam entre si. Finalmente o chefe disse: — Mostre-nos.
Hascombe exibiu seu preparado com mais cuidado do que tivera no seu primeiro ano de escola médica, nos velhos dias. Explicou que o sangue era formado por pequenos seres de várias espécies; cada um tinha vida própria e que, poder espiá-los dava-lhes novos poderes sobre elas. De qualquer forma, a visão destes milhares de glóbulos, onde anteriormente não haviam visto nada fê-los pensar, fê-los perceber que o homem branco possuía poderes que o tornavam um servo desejável.
Não pediram para ver o seu próprio sangue de medo que a visão os colocasse sob o poder daquele que o visse. Mas fizeram tirar sangue de um escravo. Hascombe também pediu um pássaro e conseguiu despertar um certo interesse quando mostrou como os pequeninos seres do seu sangue eram diferentes dos pequeninos seres do sangue dos homens.
— Diga-lhes — disse para o intérprete — que eu tenho muitos outros poderes mágicos que mostrarei se me derem tempo.
Para encurtar a história, ele e seus homens foram poupados ... Disse que agora sabia o que um réu sentia quando o magistrado da lei dizia "sentença suspensa temporariamente"!
Um dos velhos políticos da tribo chamara-lhe a atenção — um homem alto, de meia-idade, aparência forte; e ficou agradavelmente surpreendido quando este mesmo homem apareceu no dia seguinte para vê-lo. Mais tarde, Hascombe apelidou-o de Bispo-Príncipe, devido à combinação de qualidades de estadista e de eclesiástico: seu verdadeiro nome era Bugala. Estava tão ansioso para saber mais a respeito dos misteriosos poderes e recursos de Hascombe como Hascombe estava para saber o que pudesse sobre a gente em cujas mãos caíra. Passaram a encontrar-se quase todas as noites e ficavam a conversar até altas horas.
As perguntas de Bugala, ao contrário do interesse de Hascombe, não eram feitas no puro interesse da ciência. Impressionado pelo microscópio e ainda mais pelo efeito que isso tivera nos seus colegas, estava ansioso por descobrir se, utilizando os poderes do homem branco, poderia conseguir mais poder. Finalmente, fizeram um acordo. Bugala certificar-se-ia que nenhum mal acontecesse a Hascombe. Mas Hascombe deveria pôr os seus poderes e recursos à disposição do Conselho; e Bugala teria todo o cuidado de arranjar as coisas de modo que ele próprio se beneficiasse. Pelo que Hascombe pôde compreender, Bugala tramava uma mudança radical na religião nacional, uma espécie de reforma, com base nos truques de magia de Hascombe — e que ele surgiria como Sacerdote Supremo deste novo sistema.
Hascombe tinha senso de humor e isso o divertiu. Parecia claro que nunca poderiam fugir — pelo menos no presente. Sendo assim, por que não aproveitar a oportunidade de fazer algumas pesquisas às custas do Estado — uma oportunidade que ele e outros como ele sempre estavam pedindo em sua terra? Seus pensamentos começaram a precipitar-se. Conheceria tudo o que pudesse sobre os rituais e superstições da tribo. Com o auxílio dos seus conhecimentos e habilidade científica, exaltaria os detalhes destes rituais, a expressão destas superstições, toda a parte física de sua religiosidade até um nível que a eles parecesse verdadeiramente miraculoso.
Não valeria a pena relatar todas as negociações, os falsos começos, os desentendimentos. No final conseguiu o que queria
— um prédio que podia ser utilizado como um laboratório; um suprimento ilimitado de escravos para as tarefas mais modestas e sacerdotes para as mais altas — o de assistentes de laboratório; e a promessa de que, quando os suprimentos científicos fossem esgotados, fariam o possível para conseguir outros da costa — uma promessa que haviam cumprido escrupulosamente, de modo que nunca sentiu falta daquilo que o dinheiro pudesse comprar.
A seguir dedicou-se diligentemente ao estudo da religião do país e descobriu que ela fora elaborada tendo como centro vários motivos básicos. Destes, o principal era a crença na tremenda importância do Rei-Sacerdote e sua divindade. A segunda era uma forma de culto aos ancestrais. O terceiro era um culto animal, em particular às espécies mais grotescas da fauna africana. A quarta era o sexo — con variazioni. Hascombe refletia sobre estes fatos. Cultura de tecidos; embriologia experimental, tratamento endócrino; partenogênese artificial. Ele riu e disse para os seus botões:
— Bem, pelo menos posso tentar e deve ser bem divertido.
Foi assim que tudo começou. Talvez uma forma melhor de dar uma idéia de como as coisas se desenvolveram será eu contar-lhes minhas próprias impressões, quando Hascombe levou-me para visitar os seus laboratórios. Um quarto inteiro da cidade era dedicado à religião — afigurou-se-me excessivo, mas Hascombe lembrou-me de que o Tibete gasta um quinto de sua renda em manteiga derretida para queimar diante dos altares. Dando a frente para a praça principal, estava o templo mais importante, uma construção impressionante, em barro. De cada lado, havia apartamentos, onde moravam os servos dos deuses e os administradores dos rituais sagrados. Atrás desses prédios encontravam-se os laboratórios de Hascombe — alguns construídos de barro, outros, cuja construção, mais tarde dirigida por Hascombe, era de madeira. Eram guardados dia e noite por gigantes e estavam dispostos em volta de um quadrado. Dentro de um dos quadriláteros havia uma piscina que servia de aquário; noutro, um aviário e grandes galinheiros; ainda noutro, gaiolas com diversos animais; num quarto, um pequeno jardim botânico. Atrás encontravam-se os estábulos com dezenas de reses e ovelhas e uma espécie de enfermaria experimental para seres humanos.
Levou-me até o prédio mais próximo. — Este — disse ele — é conhecido pelo povo como a Fábrica (é difícil dar o sentido exato da palavra, mas, literalmente, significa lugar-de-produção), a Fábrica da Realeza ou da Majestade e o Manancial da Imortalidade Ancestral. — Olhei em volta e vi inúmeras mulheres rechonchudas e lustrosas, vestidas de modo lindo porém estranho, com roupas brancas, justas, touquinhas também brancas e calçando luvas de borracha. Os microscópios estavam em grande evidência assim como muitos receptáculos fumegantes. O fundo do recinto ficava escondido atrás de um biombo de madeira no qual se via uma série de portas de vidro; estas portas davam para cubículos, cada um com uma tabuleta escrita naquela língua estranha, cada um contendo um número de objetos como aquele que o gigante retirara da cesta antes de nossa captura. O recinto estava rodeado de canos que pareciam distribuir o calor produzido pelo fogo num dos cantos.
— Fábrica de Majestade! — exclamei. — Manancial da Imortalidade! Que diabo você quer dizer?
— Se preferir um nome mais prosaico — respondeu Hascombe —, eu poderia chamar isto de Instituto de Cultura Religiosa de Tecidos. — Minha mente transportou-se a um dia em 1918, em Nova York, quando um amigo biólogo levou-me ao famoso Instituto Rockefeller; e, quando escutei as palavras "cultura de tecidos", vi de novo à minha frente o Dr. Alexis Carrel e inúmeras moças americanas vestidas de branco, fazendo culturas, esterilizando, olhando pelo microscópio, incubando e tudo o mais. O Instituto Hascombe não era, na verdade, tão bem equipado, mas tinha maior número de empregados, embora fossem de cor diferente.
Hascombe começou suas explicações: — Como, provavelmente, você sabe, o Golden Bough (O Ramo Dourado), de Frazer, divulgou entre nós a idéia de um Rei-Sacerdote sagrado e mostrou como isso era fundamental nas sociedades primitivas. O bem-estar da tribo está intimamente ligado ao bem-estar do Rei; assim eram tomadas precauções extraordinárias para protegê-lo de qualquer perigo. Neste reino, em outras épocas, quase não era permitido ao Rei tocar o chão, de medo que ele perdesse a divindade; o seu cabelo cortado, as aparas de unhas cortadas eram confiados a um dos oficiais mais importantes do estado, cuja missão era enterrá-los secretamente no caso de algum inimigo provocar uma doença ou a morte do Rei por utilizá-los em ritos de magia negra. Se alguém de sangue plebeu pisasse na sombra do Rei, pagava essa ofensa com a vida. Cada ano um escravo era feito rei-de-mentira; por uma semana, permitia-se-lhe gozar de todos os privilégios do Rei e depois era decapitado no fim de sua efêmera glória; deste modo, supunha-se que todas as doenças ou infelicidades que acometeriam o Rei fossem vicariamente anuladas.
No começo, montei minha aparelhagem e, com a ajuda de Aggers, consegui boas culturas, primeiro de tecidos de pintos e mais tarde com auxílio de extrato embrionário, tirado de diversos tecidos de mamíferos. Depois, dirigi-me a Bugala e contei-lhe que podia aumentar a segurança se não do Rei, como indivíduo, ao menos da vida que estava nele e que calculava que isto também seria satisfatório de um ponto de vista teológico. Mostrei-lhe que se quisesse ser escolhido como o guardião das vidas subsidiárias do Rei, ele ficaria numa posição muito mais importante do que o Camareiro Real ou do Enterrador das Unhas e poderia tornar esse posto o mais importante do reino.
Eventualmente, foi-me permitido (sob ameaças de morte se alguma coisa fora do comum acontecesse) retirar pequenas porções do tecido conectivo, subcutâneo, de Sua Majestade sob anestesia local. Na presença da nobreza reunida, coloquei fragmentos deste tecido num meio de cultura e mostrei-o a eles sob o microscópio. As culturas eram, então, colocadas numa incubadora, guardadas dia e noite — mudada de oito em oito horas — por uma meia dúzia de guerreiros. Depois de três dias, para minha grande alegria, todas as culturas haviam "pegado" e apresentavam abundante crescimento. Pude constatar que o Conselho estava impressionado; fiz, então, um discurso magnífico, salientando que este crescimento constituía um verdadeiro aumento na quantidade do princípio divino, inerente à realeza; e o que era mais, que eu podia aumentá-lo indefinidamente. Com isso dividi minhas culturas em oito partes e fiz uma subcultura de cada uma. Novamente, foram postas sob forte guarda e, novamente, examinadas três dias mais tarde. Nem todas elas haviam "pegado" desta vez, ouvi vários murmúrios e vi olhares indignados com a suposição de que eu matara um pouco o Rei; mas, mostrei que o Rei ainda era o Rei, que sua pequena ferida havia cicatrizado completamente e que qualquer cultura extra significava mais sacralidade e proteção para o Estado. Devo dizer que eles eram muito sensatos e tinham boa argúcia teológica, pois imediatamente compreenderam.
Mostrei a Bugala que eles agora podiam esquecer algumas antigas implicações da doutrina da realeza e ele convenceu os outros, sem muita dificuldade. A idéia nova mais importante que pude introduzir foi a produção em massa. Nossa meta era multiplicar indefinidamente os tecidos do Rei para assegurar-nos de que alguns dos seus poderes protetores pudessem residir em toda parte do país. Assim, concentrando-nos na quantidade, podíamos dar-nos ao luxo de abolir algumas das restrições do modo de vida do Rei. Isso, evidentemente, foi agradável ao Rei e também a Bugala que se viu detentor de um poder nunca antes sonhado. Poderia supor-se que uma inovação desse porte tivesse encontrado grande resistência, justamente por ser uma inovação; mas devo admitir que esta gente, na sua falta de preconceitos, era muito parecida com o homem de negócios comum.
Tendo estabelecido este princípio, tive muitas discussões com Bugala quanto aos melhores métodos de atrair a massa da população para o nosso esquema. Que oportunidade para a propaganda científica! Mas, infelizmente, a população não sabia ler. Entretanto, propaganda de guerra funcionava muito bem em países um tanto quanto analfabetos — então, por que não aqui?
Hascombe organizou uma série de conferências públicas na capital, nas quais mostrava seus tecidos reais à multidão que era chamada pelos arautos reais. Um grupo para impressionar, na mesa do conferencista, era constituído por personagens tirados da nobreza. O conferencista explicava como era importante que a comunidade possuísse um maior depósito de tecidos sagrados. Infelizmente, a preparação era trabalhosa e cara e fazia-se necessário que todos dessem sua ajuda. Fora arranjado de acordo, que cada um que trouxesse uma vaca, um búfalo ou o seu equivalente — três cabras, porcos ou ovelhas —, uma porção da anatomia real lhe seria concedida, belamente montada num suporte de ébano. A subcultura seria feita em certas horas ou dias e era obrigatório mandar de volta as culturas para renovação. Se, por qualquer negligência, o tecido morresse, não haveria nenhuma renovação. A subscrição concedia ao recebedor os direitos de subcultura durante um ano, o que, naturalmente, podia ser renovado. Desta forma, não só a totalidade do Rei seria muito aumentada, para beneficiar a todos, como também cada possuidor teria para si uma verdadeira parte de Sua Majestade e a alegria e o privilégio infinitos de ajudar com seus próprios esforços a multiplicação da divindade.
Também serviriam seu país, dedicando uma filha ao Estado. Estas jovens seriam mantidas — casa e comida — pelo Estado e lhes seria ensinada a técnica da sagrada cultura. As candidatas seriam escolhidas de acordo com sua saúde geral, mas naturalmente, além disso, era exigido que obtivessem distinção em um exame sobre os princípios da religião. Seriam nomeadas, para que fizessem um estágio de provas de seis meses. Depois disso, receberiam um status permanente e o título de Irmãs do Tecido Sagrado. Disto, com a idade, experiência e mérito, podiam esperar uma promoção ao grau de mães, avós, bisavós e grandes ancestrais do Tecido Sagrado. O mérito e os benefícios que eles receberiam da estreita intimidade com a fonte de todos os benefícios, estender-se-iam a todos os seus familiares.
O esquema funcionou maravilhosamente. Porcos, cabras, gado, búfalos e donzelas negras entravam aos borbotões. No ano seguinte, o esquema foi estendido a todo o país e um laboratório peripatético fazia semanalmente o circuito de toda a nação.
No fim do terceiro ano, quase não havia uma família que não possuísse, ao menos, uma cultura sagrada. Não ter uma seria o mesmo que estar sem calças — ou pelo menos sem chapéu — na Quinta Avenida. Assim foi que Bugala efetuou a transformação da religião nacional, estabelecendo-se como o personagem mais importante do seu país, incorporando a ciência aplicada e Hascombe, firmemente, na organização do Estado.
Encorajado pelo seu sucesso, Hascombe logo depois lançou-se também à conquista do ramo da religião dedicado ao culto aos ancestrais. Uma proclamação pública foi feita, demonstrando como era mais satisfatório adorar não só os ossos queimados dos antepassados, mas pedaços deles ainda vivos e crescendo. Todos os que estivessem desejosos de beneficiar-se com o empreendimento do Departamento de Estado de Bugala deveriam trazer seus parentes mais idosos até o laboratório, em certas horas especificadas, a fim de que fragmentos fossem extirpados, sem dor, para fazer uma cultura.
Isto também provou ser muito atraente para o cidadão comum. Ocasionalmente, é verdade, avós ou mães idosas chegavam protestando, indignadas. Entretanto, isto não tinha importância, visto que, de acordo com a lei, uma vez que os filhos chegavam aos vinte e cinco anos de idade, eram não somente designados para o culto aos seus ancestrais — vivos ou mortos — como também lhes era dado o controle absoluto sobre eles, para que todos os rituais pudessem ser devidamente efetuados, para maior segurança do bem-estar público. Além disso, os ancestrais logo descobriram que a operação em si era insignificante e, mais ainda: uma vez feita, a cultura alcançava os resultados mais desejáveis. Pois seus descendentes preferiam concentrar-se, imediatamente, na cultura que eles continuariam a adorar depois que os velhos tivessem ido embora e, assim, deixavam seus pais e avós com mais liberdade das restrições cansativas que em todos os tempos têm acossado todos os oficialmente sagrados.
Deste modo, por todos os lares do reino, em vez das antiquadas fileiras de potes avermelhados, contendo os restos incinerados de um ou mais ancestrais, a nova geração viu aumentar a coleção de lâminas de microscópio da família. Cada uma era retirada e examinada com reverência, na hora das orações. "O vovô não está crescendo bem esta semana" podia ouvir-se de um devoto negro; o pai da família rezaria sobre o fragmento de tecido e, se isso falhasse, seria levado de volta à Fábrica para rejuvenescimento. Por outro lado, que alegria quando o ritmo de atividade aumentava nas culturas! Um esforço por parte dos tecidos da bisavó evocaria seu velho sorriso enrugado; e, às vezes, parecia que, se uma geração em particular aumentasse simultaneamente, por uma pulsação de crescimento, era como se combinasse abençoar todos os descendentes devotados.
Para precaver-se contra a possibilidade das culturas morrerem e desaparecerem, Hascombe imaginou um armazém ou depósito central, onde duplicatas de cada família ou raça fossem guardadas. Foi este repositório dos tecidos nacionais no fundo do laboratório que chamou minha atenção. Nunca houvera uma coleção desta natureza, ele me assegurou: não um cemitério, mas um lugar de eterno crescimento.
O segundo prédio era dedicado a produtos endócrinos — uma espécie de Armour africano — chamado pelo povo de "Fábrica de Ministros para os Santuários".
— Aqui — disse ele —, não encontrará muita coisa nova. Você conhece a moda das "glândulas", que houve há alguns anos atrás, lá no nosso país. E os resultados na forma de preparados pluriglandulares, uma nova linha de remédios, e do que foi escrito a respeito e da literatura popular referente a isso que ameaçou superar os freudianos e explicar o ser humano como um composto glandular sem qualquer referência à sua mente.
"Tive que aplicar meus conhecimentos de um modo relativamente simples. A primeira coisa foi mostrar a Bugala como, por meio de repetidas injeções da pré-pituitária, eu podia fazer que um bebê comum crescesse, tornando-se um gigante. Isso agradou-lhe, e então ele introduziu a idéia do corpo-da-guarda sagrado, todos de estatura verdadeiramente gigantesca, fazendo sombra aos Granadeiros de Frederico.
"Além disso, estendi esses conhecimentos em várias outras direções. Tirei vantagem do fato de que sua religião reverencia formas humanas monstruosas e os imbecis. Isto é, naturalmente, um fenômeno comum em muitos países, onde se acredita que os mentecaptos são inspirados e os anões objeto de espanto supersticioso. Então, comecei a trabalhar para criar vários tipos novos. Empregando um extrato especial de córtex supra-renal, produzi crianças que teriam sido superiores ao pequeno Hércules e, realmente, assemelhavam-se a uma cruza dele com um cocheiro de cervejaria. Injetando um pouco do extrato em meninas adolescentes consegui adorná-las com os mais copiosos bigodes, conseguindo elas, logo depois, fácil emprego como profetisas.
"Mexendo com a pós-pituitária, deram-se casos extraordinários de obesidade. Isto, junto com a paixão dos homens pela gordura de suas mulheres, forneceu a Bugala a oportunidade de tirar vantagem, ganhando uma fortuna, creio, ao vender como concubinas, escravas tratadas dessa forma. Finalmente, por meio de outro tratamento pituitário consegui o segredo do verdadeiro nanismo, onde as proporções perfeitas são conservadas.
"Dessas produções, os anões são mantidos como acólitos no templo: um bando de mocinhas obesas forma uma espécie de Sociedade de Virgens Vestais, com deveres religiosos especiais que elas levam a cabo com efeitos peculiarmente propícios, visto serem elas a encarnação do ideal de beleza nacional. Os gigante:; formam o nosso Exército Regular.
"As Virgens Obesas proporcionaram-me um problema, que confesso ainda não ter podido resolver. Como todas as raças que têm grande estima pelos prazeres sexuais, esta gente tem, na mesma medida, uma reverência exagerada pela virgindade. Então, ocorreu-me que se pudesse aplicar a grande descoberta de Jacques Loeb, de partenogênese artificial, ao homem, ou para ser mais preciso, a estas mocinhas, poderia criar uma raça de vestais auto-reprodutoras, não obstante virgens, a quem, de forma concentrada, se lhes dedicasse toda a reverência da qual acabo de falar. Compreende, devo sempre lembrar-me que não posso propor uma linha do meu trabalho que não beneficie a religião nacional. Suponho que a pesquisa subvencionada pelo Estado teria as mesmas dificuldades num verdadeiro estado democrático. Bem, isto, como eu já falei, ainda não consegui. Já levei este caso um passo à frente de Bataillon, com sapos sem pai, e tenho induzido a partenogênese em ovos de répteis e pássaros; mas, até agora, tenho falhado com os mamíferos. Entretanto, ainda não desisti!"
Passamos então para o laboratório seguinte que estava repleto de incríveis monstruosidades animais. —- Este laboratório é o mais divertido — disse Hascombe. — Seu título oficial é "O Lar dos Fetiches Vivos". Aqui, novamente, tomei o traço dominante da população, e utilizei-o como um cabide para pendurar minhas pesquisas. Já lhe disse que eles sempre tiveram o gosto por animais grotescos e usavam como amuletos as coisas mais bizarras, na forma de pequenas estatuetas, feitas de barro ou marfim.
"Achei que deveria verificar se a arte não podia ser melhorada pela natureza e dediquei-me a relembrar minha embriologia experimental. Emprego apenas os métodos mais simples. Utilizo a plasticidade dos estágios mais primitivos, para produzir monstros ciclópicos e de duas cabeças. Naturalmente, isso foi feito por Spemann anos atrás, em lagartixas, e em peixes por Stockard; tenho simplesmente aplicado os métodos de produção em massa do Sr. Ford aos resultados deles. Mas minha especialidade são as cobras de três cabeças e os sapos com uma cabeça extra apontando para o céu. As primeiras são um pouco difíceis e há uma grande demanda, conseguindo um bom preço. Os sapos são mais fáceis: aplico, simplesmente, os métodos de Harrison aos girinos embrionários."
Hascombe passou, então, a mostrar-me o último prédio. Diferente dos outros, este não mostrava sinais de pesquisa em andamento e estava vazio. Era forrado com panos pretos e apenas iluminado do alto. No centro havia fileiras de bancos de ébano e em frente deles uma bola dourada, brilhante, em cima de um suporte.
— Aqui estou começando meu trabalho de telepatia reforçada — disse. — Algum dia, você deve vir para ver do que é que se trata, pois é realmente interessante.
Podem imaginar que eu estava bem estupefato com este catálogo de milagres. Todos os dias mantinha uma conversa com Hascombe e, gradualmente, essas conversas vieram a ser eventos reconhecidos na nossa rotina cotidiana. Uma vez por dia eu lhe perguntava se desistira da idéia de fugir. Ele demonstrava uma estranha hesitação ao responder. Eventualmente disse: — Para dizer a verdade, meu querido Jones, eu não tenho verdadeiramente pensado nisso, nestes últimos anos. Parecia tão impossível, no começo, que deliberadamente tirei isso da cabeça e voltei-me com mais e mais energia — posso até dizer com fúria — para o meu trabalho. E, agora, eu lhe juro, não tenho bem certeza, se quero ou não fugir.
— Não quer? — exclamei. — Certamente, não está falando a sério!
— Não tenho tanta certeza — respondeu. — O que eu mais quero é continuar com este meu trabalho. Ora, homem, você não percebe a oportunidade que eu tenho! E está crescendo tão depressa — posso ver toda espécie de oportunidades à minha frente... — Interrompeu-se e ficou em silêncio.
Entretanto, embora eu estivesse bastante interessado nas suas realizações, não tinha nenhuma vontade de sacrificar o meu futuro às suas ambições intelectuais pervertidas. Mas ele não queria deixar o seu trabalho.
As experiências que mais excitavam sua imaginação eram aquelas que estava realizando com telepatia em massa. Recebera seu treinamento médico numa época em que a psicologia anormal ainda não estava em moda na Inglaterra, mas, felizmente, fora posto em contato com um jovem doutor que era um estudioso do hipnotismo e através dele fora conhecer alguns dos grandes pioneiros como Bramwell e Wingfield. Como resultado, tornara-se ele próprio um hipnotizador passável, com um bom conhecimento da literatura a respeito.
Nos primeiros dias do seu cativeiro, ficara interessado nas danças sagradas, que tinham lugar todas as noites da lua-cheia e eram consideradas como propiciações dos poderes celestes. Todos os dançarinos pertenciam a uma seita especial. Após uma série de figuras excitantes, simbolizando as várias atividades da caça, da guerra e do amor, o líder conduz seu grupo a um banco de cerimônias. Começa então a dar-lhes passes. O que impressionava Hascombe era isto: que poucos segundos eram suficientes para que eles caíssem em sono profundo contra o encosto de ébano. Lembrava, disse-me, os casos mais surpreendentes de hipnose coletiva estudados por cientistas franceses. O líder ia de uma ponta a outra do banco, segredando frases curtas no ouvido de cada um. A seguir, de acordo com rituais imemoriais, ele se aproximava do Rei-Sacerdote e exclamava em voz alta: "Senhor da Majestade, ordenai o que desejais que vossos dançarinos façam." Então o Rei ordenava que fizessem alguma coisa, que fora mantida em segredo até aquele momento. A ordem era, freqüentemente, para que encontrassem um objeto colocado no santuário lunar ou para lutar com inimigos do Estado ou — e isto era o que o público mais gostava — ser algum animal ou pássaro. Qualquer que fosse a ordem, os homens hipnotizados a obedeciam, pois as palavras que o líder segredava eram uma ordem para obedecer à vontade do Rei. As mais estranhas cenas seriam presenciadas quando eles, esquecidos de tudo mais no seu caminho, corriam à procura de cabaças ou ovelhas, que lhes fora ordenado procurar ou então arremessavam-se de maneira simbólica contra inimigos invisíveis, ou se atiravam de quatro pés, rugindo como leões, galopando como zebras, ou dançavam como grandes garças. Cumprida a ordem, ficavam parados como troncos ou pedras até que seu líder, correndo de ponta a ponta, tocasse em cada um com um dedo e gritasse: "Acorde!" Eles acordavam e, exangues, mas, conscientes de que haviam sido os vasos de algum espírito desconhecido, dançavam de volta até sua cabana ou sede de clube.
Esta susceptibilidade à sugestão hipnótica chamou a atenção de Hascombe que obteve permissão para examinar os dançarinos mais detidamente. Logo constatou que o povo era, como raça, extremamente inclinado à dissociação e poderia cair, com a maior facilidade, em estado hipnótico profundo, em que o subconsciente, embora completamente desligado do eu acordado, conservava traços da personalidade, que não são mantidos nos eus hipnotizados dos europeus. Como a maioria que tem flertado com a hipnose, interessara-se Hascombe pela telepatia; e, agora, com um suprimento de sujeitos hipnóticos em suas mãos, começou uma verdadeira pesquisa do problema.
Escolhendo seus indivíduos, logo pôde demonstrar a existência da telepatia, dando sugestões a um homem hipnotizado, que as transferia, sem intermediário físico, a outro situado a distância. Mais tarde — e isto foi a culminação do seu trabalho — descobriu que, quando dava uma sugestão a vários sujeitos de uma só vez, o efeito telepático era muito mais forte do que se o tivesse dado a um de cada vez — as mentes hipnotizadas reforçavam-se mutuamente. — Estou atrás da superconsciência — disse Hascombe, —, e já tenho os seus rudimentos.
Devo confessar que fiquei quase tão excitado quanto Hascombe com as possibilidades que se nos abriam. Realmente, parecia que em princípio ele estava certo. Se todos os sujeitos estivessem praticamente no mesmo estado psicológico, efeitos de reforço extraordinários eram observados; gradualmente, entretanto, descobrimos que era possível "afinar" os sujeitos hipnóticos no mesmo diapasão — se é que posso empregar esta metáfora — e foi aí que a brincadeira começou.
Em primeiro lugar, descobrimos que com o aumento do reforço, podíamos conseguir que a telepatia fosse conduzida a maiores distâncias até que, finalmente, podíamos transmitir ordens da capital até os limites do país — a uma distância aproximada de cento e sessenta quilômetros. A seguir, descobrimos que não era necessário que uma pessoa estivesse hipnotizada para receber uma ordem telepática. Quase todos, especialmente aqueles que tinham um temperamento tranqüilo e uniforme, podiam ser influenciados. O mais extraordinário de tudo foi o que chamamos a princípio de "efeitos próximos", visto que a transmissão a distância não foi possível até muito mais tarde. Se após Hascombe ter sugerido uma ordem simples a um grupo bastante grande de indivíduos hipnotizados, ele ou eu andássemos pelo meio deles, experimentávamos uma sensação bem extraordinária, como se uma personalidade super-humana repetisse a ordem de um modo ameaçador e irresistível; por outro lado, uma parte de nós mesmos sentia — se é que posso expressá-lo assim — como se fôssemos uma parte da ordem ou de alguma coisa muito maior do que nós, que estávamos comandando. E isto, Hascombe afirmava, era o verdadeiro começo de uma superconsciência.
Bugala, naturalmente, devia ser levado em consideração. Hascombe, com a antiga roda de orações do Tibete em mente, sugeriu que eventualmente poderíamos induzir a hipnose na população inteira e, então, transmitir uma oração. Isto asseguraria que a oração cotidiana, por exemplo, fosse realmente rezada pela população inteira e, o que é mais, simultaneamente, o que sem dúvida contribuiria em muito para aumentar sua eficácia. È tornaria possível, em tempos de calamidade ou de guerra, manter toda a força da oração do país funcionando por longos períodos.
Bugala ficou profundamente interessado. Via-se a si mesmo plantar, por meio desta engrenagem mental, as idéias que desejasse nas caixas cranianas do seu povo. Via-se a si mesmo "desejando" uma ordem; e a população inteira saindo de um transe para executá-la. Sonhava sonhos que um proprietário de uma cadeia de jornais e mesmo um diretor de propaganda, em tempos de guerra, não ousariam sonhar. Naturalmente, desejava receber instruções pessoais dos métodos e, evidentemente, não podíamos recusar-lhe isso, embora deva dizer que, freqüentemente, sentia-me pouco à vontade quanto ao que ele poderia fazer se anulasse Hascombe e começasse a fazer experiências sozinho. Isto, combinado com um constante desejo de deixar aquele lugar, levou-me a iniciar a procura de um meio de fugir. Ocorreu-me então que este mesmo método do qual tivera pressentimentos tão sombrios poderia ser a chave que abriria nossa prisão.
Então, um dia, depois de trabalhar em Hascombe, fazendo-o sentir a perda que seria para a humanidade deixar que esta grande descoberta morresse com ele na África, comecei a tentar seriamente convencê-lo. — Meu caro Hascombe — disse —, você deve sair disto aqui. O que é que impede você de dizer a Bugala que suas experiências estão quase coroadas de sucesso, mas, que para certos testes você precisa de um número maior de sujeitos à sua disposição? Você pode então conseguir um grupo de duzentos homens e, depois que estejam adaptados, o reforço será tão grande que você terá à sua disposição uma força mental com poder suficiente para afetar a população inteira. Feito isto, naturalmente, um belo dia aumentamos a potência de nossa bateria mental ao nível mais alto; aí mandamos, através dela, uma influência hipnótica geral. Todo o país — homens, mulheres e crianças — cairiam na letargia. Daríamos, então, ao nosso pelotão experimental a sugestão que ele difundiria: "durmam por uma semana". A mensagem telepática seria transmitida a milhares até que toda a nação se tornasse uma única superconsciência, consciente unicamente de um só pensamento: "dormir".
O leitor talvez perguntará como é que nós mesmos esperávamos fugir das garras da superconsciência que criáramos. Bem, havíamos descoberto que o metal é relativamente impermeável aos efeitos telepáticos. Assim, preparamos uma espécie de púlpito de lata, por trás do qual nos postaríamos enquanto conduzíamos as experiências. Isto, combinado com capacetes de metal, reduzia enormemente os efeitos em nós mesmos. Não informamos Bugala sobre as propriedades do metal.
Hascombe estava calado. Finalmente falou: — Gosto da idéia — disse —, gosto de pensar que se alguma vez voltar para a Inglaterra e para o reconhecimento científico, minha própria descoberta me deu os meios de fugir.
Daí por diante trabalhamos assiduamente para aperfeiçoar nosso método e os nossos planos. Cinco meses mais tarde, tudo parecia propício. Tínhamos escondido provisões e bússolas. Tivera licença de conservar o meu rifle, sob promessa de nunca dispará-lo. Traváramos amizade com alguns dos homens que costumavam ir até a costa para negociar e obtivemos deles as informações que pudemos sobre o caminho que deveríamos seguir, sem despertar suas suspeitas.
Finalmente, a noite chegou. Juntamos nossos homens como se fôssemos conduzir uma sessão comum. Depois que a hipnose foi induzida começamos a adaptá-los. Nesse momento Bugala entrou sem ser anunciado. Isso era o que mais temíamos; mas não houve meios de impedi-lo. — O que faremos? — segredei em inglês para Hascombe. — Continuar e dane-se isto — foi sua resposta. — Podemos fazê-lo dormir com o resto deles.
Assim foi que o acolhemos, demos-lhe um assento o mais próximo possível das fileiras apinhadas de pacientes. Finalmente, os preparativos terminaram. Hascombe foi até o púlpito e disse:
— Atenção para as palavras que vão ser sugeridas. — Houve um leve enrijecimento dos corpos. — Dormir — continuou Hascombe. — Dormir é a ordem: a ordem que todos neste país durmam sem interrupção. — Bugala deu um pulo, soltando uma exclamação, mas a indução já começara.
Nós, com nossa proteção de metal, éramos imunes. Mas Bugala foi atingido em cheio pela força da corrente mental. Caiu para trás em sua cadeira, sem poder resistir. Durante alguns minutos sua extraordinária vontade resistiu à sugestão. Embora não pudesse mexer-se, os seus olhos furiosos estavam abertos. Em breve, entretanto, também ele sucumbiu e dormiu.
Não perdemos tempo em iniciar nossa jornada e percorrer bastante distância no país silencioso. As pessoas estavam sentadas por toda parte como estatuetas de cera. Mulheres dormiam ao lado de seus baldes de leite, a vaca já bem longe. Crianças barrigudas dormiam ao lado de seus brinquedos. As casas estavam cheias de pessoas dormindo em pé, em volta de uma refeição, lembrando a famosa "festa num salão", de Wordsworth.
Continuávamos a andar, sentindo-nos bastante esquisitos e, ao mesmo tempo, quase não acreditando no estado mórfico em que lançáramos a nação. Finalmente chegamos à fronteira onde, com extrema alegria, passamos por um gigantesco guarda da fronteira, imóvel. Poucos quilômetros adiante, tomamos uma boa refeição e demos uma cochilada. Nossas mochilas eram bastante pesadas e, por isso, resolvemos nos livrar de algum peso supérfluo, tal como comida, objetos e nossos capacetes, ou seja, os protetores da mente, visto que, a essa distância e com a hipnose já mais fraca, pensávamos não ter mais necessidade deles.
Perto do anoitecer do terceiro dia, Hascombe parou e olhou para trás.
— O que há? — perguntei. — Viu algum leão? — Sua resposta foi inesperada.
— Não. Estava apenas pensando se não deveria voltar...
— Voltar? — gritei. — Em nome de Deus Todo-Poderoso, para que é que quer fazer isso?
— Subitamente, veio-me a idéia de que deveria fazê-lo — respondeu —, há uns vinte minutos atrás. E, realmente, quando se pensa bem, não acredito que eu jamais vá até a costa e não acho que consigamos atravessar isto a salvo.
Fiquei completamente perturbado e fora de mim. Disse isto a ele. Então, subitamente, por alguns momentos, eu também senti que devia retornar. Era como nossa velha amiga da infância: a voz da consciência.
— Sim, certamente, devemos voltar — disse para mim mesmo com fervor. Imediatamente, porém, controlando-me, o meu pensamento foi dominado pela razão... — Por que deveríamos voltar? — Toda espécie de razões foram apresentadas, como se fossem mãos invisíveis se estendendo de partes escondidas do meu eu.
Percebi o que acontecera. Bugala acordara; apagara a sugestão que déramos à superconsciência e nela pusera outra. Podia vê-lo pensar em tudo, o diabo esperto — deve-se fazer justiça à sua inteligência — e escutá-lo, depois de dar os passes, sussurrar para a nação a prescrição da nova sugestão: — Vontade de voltar! Voltar! — Para a maioria dos habitantes a ordem não teria nenhum significado, pois já estariam em casa. Indubitavelmente, alguns rapazes nas montanhas ou crianças fugidas ou meninas que haviam ido secretamente encontrar-se com seus amantes estariam agora voltando para suas casas, rígidos, como num transe de sonambulismo. Só para eles tinha a ordem da superconsciência algum significado — e para nós.
Estou contando isto de uma forma longa e discursiva; na ocasião, eu simplesmente vi, num relâmpago, o que acontecera. Disse isto para Hascombe; demonstrei-lhe que devia ser assim, pois nada mais explicaria a súbita mudança. Pedi, implorei que usasse a razão, que mantivesse a decisão e continuasse o caminho. Como me arrependi de que, no desejo de descartar-nos de todo peso inútil, tivéssemos deixado para trás nossos capacetes à prova de telepatia!
Hascombe não queria ou não podia aceitar meu ponto de vista. Suponho que ele estivesse mais imbuído dos sentimentos e do espírito do país e, desse modo, fosse mais susceptível. Seja como for, mantinha-se irredutível. Tinha de voltar; sabia, via isso claramente; era seu dever sagrado; e uma porção de outras bobagens. Todo esse tempo, a sugestão estava me atacando também e, finalmente, senti que se não pusesse mais distância entre mim e aquela uníssona bateria de vontade, sucumbiria tanto quanto ele.
— Hascombe — disse-lhe —, eu vou continuar. Pelo amor de Deus, venha comigo. — Recoloquei a mochila nas costas e saí andando. Ele ficou abalado, percebi, e deu uns passos em minha direção. Mas, finalmente, voltou-se e, não obstante freqüentes pausas e gritos para que ele me seguisse, Hascombe tomou a direção de onde viera. Posso assegurar-lhes que foi com a alma triste que continuei meu caminho solitário. Não os aborrecerei com minhas aventuras. Suficiente é dizer que por fim cheguei a um posto de brancos, fraco de fadiga, escassez de alimentos e febre.
Silenciei minhas aventuras, apenas contando que minha expedição perdera-se na selva e que meus homens haviam fugido ou sido mortos por tribos da região. Finalmente cheguei à Inglaterra. Mas era um homem alquebrado e uma profunda tristeza invadiu minha mente ao pensar em Hascombe e da forma como fora apanhado em suas próprias redes. Nunca descobri o que lhe aconteceu e suponho que nunca saberei. Vocês perguntarão por que é que não organizei uma expedição de resgate ou por que, ao menos, eu não apresentei as descobertas de Hascombe perante a Real Sociedade ou o Instituto de Metafísica. Posso apenas repetir que eu era um homem alquebrado. Não esperava que me acreditassem; não tinha certeza de que poderia repetir os resultados mesmo com igual material humano e muito menos com homens de outra raça; tinha pavor do ridículo; finalmente, era atormentado por dúvidas a respeito — se o conhecimento da telepatia em massa seria uma maldição ou uma bênção para a humanidade.
Entretanto, sou agora um velho e, o que é mais, um homem envelhecido para a minha idade. Quero tirar esta história da minha consciência. Além disso, os velhos gostam de fazer sermões e deves perdoar-me, gentil leitor, o tom grave que preciso assumir. A pergunta que quero suscitar é esta: o Dr. Hascombe atingiu um poder nunca antes ultrapassado, numa diversidade de aplicações da ciência — mas, este poder todo a que fim serviu? É uma tolice continuar a afirmar, como o fazem nossa imprensa e a maioria das pessoas, que o aumento dos conhecimentos científicos e o poder devem, em si, ser bons. Recomendo ao grande público a moral óbvia da minha história e peço-lhe que pense bem no que se propõe a fazer com o poder que gradualmente está sendo acumulado para ele, fruto do esforço daqueles que trabalham porque gostam do poder ou porque querem descobrir a verdade sobre ir como as coisas funcionam.
Arthur C. Clark
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















