



Biblio VT




Nesse tempo, ou já muito antes, era considerado um tipo insociável. Fumava desalmadamente, macerando o cigarro de um canto para o outro da boca, num jeito nervoso nada fácil de imitar, roendo a todo o momento qualquer danação íntima que se traduzia nos modos como fazia crer às pessoas que a presença delas me era insuportável. Tudo me servia para exagerar a brusquidão, talvez porque toda a gente reparasse nela e a censurasse, e a minha rebeldia contra fosse lá o que fosse manifestava-se, provocante, tanto maís quanto os outros a receavam. Eu era a açulálos ao espetáculo, a colocar-me no centro desta arena improvisada que é a vida. Mas o gozo era meu. Nos outros não admitia, pois é o riso o que particularmente me ofende nos medíocres. Poderiam, enfim, julgar-me um esnobe ou um torturado - e nem eu, ao certo, o saberia também. De manhã, a olhar-me no espelho (e eu gostava de me avaliar ao espelho, sobretudo desde que o cabelo fugira lá para trás, deixando desimpedida uma fronte bosselada, onde as veias pareciam vermes assanhados e túrgidos), essa imagem, enjoada, apenas me devolvia um ceticismo agressivo. O mesmo enjoo irritado daqueles meus doentes quando, na fase já desiludida, nos apreciavam como funâmbulos sem talento que insistem numa ridícula e odiosa pantomina.
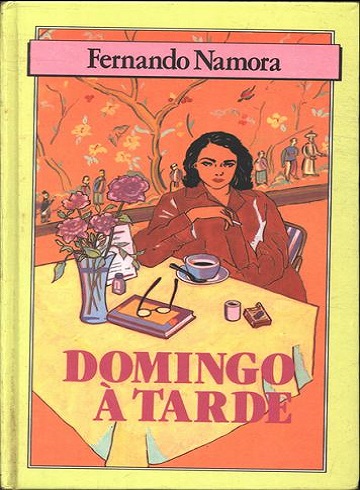
Penso ainda, muitas vezes, e apesar de tudo o que se passou, no significado dessas minhas ondas de fastio, arrogância e aspereza. Aspereza gratuita - que se poderia resumir, com mais rigor, nesta palavra que hoje, após os acontecimentos que me fizeram revelar muitas coisas dos outros e de mim próprio, deveria envergonhar-me: exibicionismo. Recusava, por exemplo, as batas de modelo único que distribuíam aos médicos do hospital e que se tiravam do cabide, a olho, consoante a estatura de cada um, como recusava submeter-me aos horários convencionais que disciplinavam os serviços das diferentes consultadas. Todo eu me sacudia num risinho secreto, mal aflorado no desdém que me afilava o queixo, se me constava que o chefe da clínica, um sujeito de contumélias tresandando a alfazema e frases adocicadas soltava guinchos de porquinho-da-India ao dizeremlhe que eu me negara espetaculosamente a observar uma dama da alta-roda que se julgara no direito de passar adiante da gente humilde das consultas - um rebanho paciente que se reunia como reses aturdidas à porta de um açougue. E eu ficava regalado de gozo sobretudo pela certeza de que o melado chefe da clínica seria incapaz de repetir os guinchos na minha presença, embora nessa noite ele fosse ter pesadelos com o terror de que a dama badalasse entre a sua tribo que, naquele serviço, se vexavam as pessoas respeitáveis.
Tais excentricidades, ou como lhes queiram chamar, porque eram temidas, tornavam-se uma comodíssima justificação para todos os caprichos que me davam na gana e permitiam-me ser tão independente, azedo e solitário, quanto as vagas de neurastenia o exigiam. A neurastenia e, por fim, a petulância. Agora, que me deu na cabeça contar-vos umas coisas de que não posso orgulhar-me, é bem preferível usar as palavras necessárias. Petulância, pois. De uma vez deixara bem ameigado um tipo qualquer que se arriscara a anavalhar-me a reputação pelas costas, e como toda a gente comentou, com farta imaginação, a sova de cavalo-marinho que lhe dera, a minha fama de selvagem capaz de todos os dislates solidificou-se, solidificando-me, ao mesmo tempo, o prestígio. Por que o fiz? Fi-lo, hoje estou certo disso, não por desagravo, mas por fatuidade.
Referi-me a ”prestígio”. . . (Tudo o que desejo é desnudar a magra verdade que se escondeu por detrás do meu amor-próprio.) Existem, creio, algumas vias para o prestígio: o silêncio ou o aranzel - aqui no hospital há exemplos para todos os paladares -, com as suas manobras específicas. A primeira é a dos monges, a mais ardilosa e talvez a mais eficaz. São eles os verdadeiros profissionais da vaidade. Ora, como sempre me nausearam os gestos embuçados, que nos ferram pelas costas, e como, por outro lado, não tenho garganta para impor, aos berros, a minha banha de cobra, provavelmente escolhi um terceira via: a extravagância rude das atitudes. A minha insociabilidade seria, pois, uma estratégia. De qualquer modo, fui conquistando regalias de exceção, que me permitiam escolher os doentes, enxotando do hospital as tais baronesas histéricas e desocupadas, vindas ali excitar-se com as intimidades da consulta, os nevróticos, os maricas e toda essa legião de exploradores dos serviços de assistência médica gratuita, cornpadres ou compadres dos nossos amigos, para quem o nosso trabalho era, ao fim e ao cabo, uma mercê que, por intermédio deles, da sua sacrificada generosidade, nos fosse concedida. Ficavam-me os pobres, submissos e aterrados, os que pressentiam o desfecho como um castigo misterioso, telúrico, de que não se podia fugir, e me procuravam quase sempre apenas para ouvir uma palavra de conforto que em toda a parte lhes era negada, uma mentira mais, e pareciam rogar desculpas do seu próprio sofrimento. Esperavam de mim, cúmplice da doença, da morte ou das ilusões, não as drogas, em que já nem acreditavam, mas uma espécie ambígua de solidariedade que os fizesse sentir apoiados até por quem estivesse ao lado do executor no minuto final; ou mesmo a solidariedade do carrasco e da vítima quando o mundo se fecha sobre ambos. Mentiras, era o que me pediam, sempre mentiras, logros mendigados de mão estendida.
Sendo eu o tal sujeito bruto, de palavras aceradas, parecia estranho que eles me escolhessem entre os demais coveiros, embora nunca os tivesse seduzido com a minha compaixão. Vinham, no entanto, vinham sempre, eles e as famílias, estabelecendo uma pertinaz e surda ronda a todos os meus passos. Eram cavalos viciados no chicote. Cavalos que mantinham de pé, por tenacidade e não por orgulho, a sua agonia. Talvez a minha dureza lhes soubesse a verdade. Talvez a preferissem às palavras veladas, aos afagos corrompidos, que deixam o travo duma fraude maior ainda.
Antes de prosseguir, quero dizer-vos que rol de doentes frequentava a minha consulta. Creio mesmo que deveria ter começado por aí, já que as circunstâncias me forçam ao papel de cronista dos acontecimentos que vão seguir-se. Quem deveria ter escrito esta narrativa era Clarisse, porquanto é dela, e só dela, que iremos falar (o que direi de mim é, afinal, pretensioso e abusivo) - e então estou certo de que o leitor sentiria logo um soco no peito, prenunciador de emocionantes expectativas, se ela o agredisse com um início assim: ”Chamo-me Clarisse e vou morrer. Mas, entretanto, conheci um tipo que era médico e resolvera os seus problemas de consciência escolhendo uma especialidade cujos clientes não tinham um migalho de esperança à sua frente”. Etc. Um começo bonito, embora suspeite que Clarisse nunca o teria preferido. Ela bem sabia que as minhas noites não eram mornas e, tal como alguns outros, julgava-me um atormentado.
Ora foi há uns anos, com efeito - não me apetece agora esforçar a memória e esclarecer exatamente há quantos -, que o acaso me encaminhou, em certa viragem da minha carreira hospitalar, para o serviço de doenças malignas. Pouco tempo depois de trabalhar ali, reparei que a tarefa não era desejada por ninguém e que todos os meus colegas se mostravam assustadoramente interessados em incitar qualquer novato que lhes aparecesse com ideias de assentar arraiais. Essa inquietante camaradagem, que a minha desconfiança aceitava com acautelada bonomia, foi-me empurrando para mais longe ainda, para os casos de doenças do sangue incuráveis, e quando farejei uma oportunidade de me escapar da armadilha, deixando os outros sob a surpresa de um ludíbrio em que as personagens invertiam as suas posições, senti que era demasiado tarde e que me seria já impossível safar-me não do cerco daqueles sabidos, mas da credulidade desprotegida dos tais cavalos açoitados que a morte condenara a prazo fixo e insistiam em viver à beira de uma sepultura talhada à medida do seu corpo. Toma-se o gosto a tudo - permitam-me a filosofice -, à dor, à crueldade, à devassidão, e eu, decerto, sentia-me já identificado com o meu mester de condutor de um rebanho noturno que caminhasse, de olhos vazios, como os morcegos, ao encontro do cutelo. Se algum deles ajoelhava pelo caminho, tinha de o vergastar: o meu dever, de recuo em recuo, bastava-se em fazê-los cumprir um suicídio premeditado e instintivo. Eram já mortos? Ainda eram vivos? Quem saberia dizê-lo? A verdade, reconheço-o agora, é que o horror do meu ofício se apossara da minha personalidade, desfigurando-a, como acontece àqueles magarefes das morgues, de ombros tortos e nervos empedernidos, que mergulham os dedos e as narinas nos cadáveres com a gulodice de um apreciador de pitéus.
Estas e outras cogitações, noites de insónia em que elas me desfibravam o cérebro, e a verruminosa sensação de impotência perante a crescente leva de enfermos que vinham até mim, ainda inconscientes, para eu lhes impingir mezinhas falazes, e voltavam às suas tarefas, hábitos e devaneios com a naturalidade de quem vai recuperar o direito a tudo isso essas cogitações foram-me turvando, envilecendo, fazendo de mim este cínico irascível que parece cuspir nas pessoas e confunde ternura com pieguice. Se assim não fosse, eu teria sido para Clarisse outro homem. O homem de que ela necessitava e a que, como ser humano solitário e desesperado, tinha direito.
Não exagero neste vesgo retrato de mim próprio, embora lhe tenha buscado, quantas vezes ansiosamente, certas atenuantes e justificações. Algumas pessoas, e sobretudo Clarisse, é que procuravam verme de outro rnodo. E também eu reconhecia, sem que isso me redimisse, que a minha enfatuada aridez era uma espécie de enxerto bastardo que, como as células vorazes dos tumores, digerira insidiosamente o que em mim havia de confiado e espontâneo. Um ou dois anos antes de ter conhecido Clarisse, ainda eu, por revoadas quixotescas e de um grotesto sem grandeza, abria as portas a qualquer vendedor de alquimias que me dernorteava com drogas enroupadas em teorias de lógica irrefutável, que eu, pressuroso, ia ensaiar nos meus doentes, avivando-lhes a fogueira breve e agônica da esperança, onde, por fim, nos queimávamos juntos, a sangue-frio, assistindo ao espetáculo da própria carne imolada. Eles morriam/- e eu corria a embriagar-me no torpor de novas teorias. Por fim, sempre que um doente jovem - e eram-no quase todos - de cores sadias, em que a exuberância e a fé, de tão impudicas, me pareciam obscenas, vinha à consulta com a certeza de que os frustes sintomas que lhe tinham aparecido nem mereciam o tempo gasto a escutá-los, apetecia-rne gritar-lhes a verdade, abater essa jactância, para assim resgatar a minha inutilidade, e então ia dali para o meu covil, um recanto isolado onde saboreava o veneno duma nova teoria, de mais um disfarce. E durante dias atordoava-me com especulações, desvanecido com o aplauso reverente dos colegas, até que a orgia terminasse nas cobaias mortas do laboratório.
Estou a escrever de madrugada e começo a sentir-me fatigado. No quarto ainda é noite, embora o halo receoso que atravessa o vidro fosco da porta tenha vindo a aproximar-se sorrateiramente do cone de luz clandestina que incide sobre a secretária. Há anos que projeto substituir por um retângulo de madeira aquele vidro desabitado que às vezes me traz a alvorada antes que eu a deseje. Mas vou adiando sempre. Talvez porque espere que, através dele, voltem a coar-se os vultos, o rumor agitado da casa, de quando eu era menino e tinha birras e doenças imaginárias só para negociar a minha anuência aos remédios com a promessa de me deixarem calçar umas botas brancas. Uma botas saloias, tal como as do Zé Fadista - o gaiato mais feliz do bairro, porque vestia e calçava tudo o que nos era interdito. De há muito que o halo não tem sombras nem rumores: apenas a madrugada sem corpo e sem voz, e enorme porque ninguém a preenche. Certas manhãs ficava acordado olhando o retângulo insidioso, recusando-me a admitir que o dia nascera, temendo a evidência da solidão. -O mundo morava longe, muito para lá da porta. Vinha-me dele um frémito longínquo. Agora, porém, o vidro fosco já não me aturde com essa espécie de despertar pavoroso e lívido. Agora sei que o amor nos faz aproximar as coisas, habitá-las, que pelo amor as reconhecemos e que, depois de lhe recebermos a revelação, nada mais é preciso para nos sentirmos vivos.
Como foi possível escrever eu isto? Tenho os membros espessos da insónia. É a fadiga que nos amolece.
Foi nessa época que entrou para o serviço uma rapariguinha insignificante chamada Lúcia. Tinha o lábio inferior grosso e lamuriento, que lhe dava um ar de pasmo perpétuo. Terminara o curso havia pouco e corava até à raiz dos cabelos, escondendo-se na cauda do grupo, quando, na sua presença, falávamos de coisas que ela não tivera ainda ensejo de aprender. Ao ouvir-me expor sedutoras mas frágeis patogenias, bem dissimuladas num fraseado imperativo, ficava de gestos extasiados, o beiço pesado, e eu divertia-me e também me irritava com essa devoção. Reparava ainda que ela tremia mais que os outros com as minhas explosões de mau humor e por isso exacerbava-as na sua frente, pois a mistura dessa rapariga ingénua, e pelos vistos pateta, nas nossas tarefas, sentia-a como um insulto à gravidade dos problemas que nos mortificavam.
Ela tinha sido, evidentemente, uma descoberta do chefe da clínica. O serviço era a todo o momento baldeado por uma estirpe folclórica de rapazinhos presumidos, seus afilhados nas relações mundanas, que vestiam a bata como os cadetes vestem a farda dos domingos: para conquistar datilógrafas. Ainda bem que eles não criavam musgo. Eram instáveis como meteoros, lá lhes parecendo que tinham asas para outros voos. Lúcia, porém, não era presumida. Nem isso chegava a ser - diria eu nessa altura. Dava mesmo a ideia de alguém que, de nariz entupido, a precisar de um bom espirro, tenta sustê-lo de todos os modos apenas para se tornar despercebido.
No entanto, com o decorrer dos dias, fui tendo surpresas. Lúcia fazia às vezes romper dos seus enleios uma sugestão imprevista e, mais do que isso, acertada e enérgica. Perseverante no seu trabalho, havia nela qualquer coisa de arrumado, de seguro, de disciplinadamente confiante. com os doentes era suave e atenta, mas também lhes sabia incutir um sentimento de responsabilidade que os dignificava. E nem o seu lábio seria tão lorpa como me parecera de início. Tinha, antes, a boca tímida e deslumbrada de uma criança.
À medida que era forçado a apreciá-la e a admitir como definitiva a sua colaboração - e a colaboração das mulheres vexava-me -, não podia deixar de feri-la deliberadamente com a minha rudeza e, ao mesmo tempo, de me render à serena revelação dos seus méritos. Por vezes, quando a noite nos encontrava ainda no hospital - as noites do hospital oprimiam, esvaziavam-nos até que viesse aquele silêncio de pedra, livoroso e gelado, dos prenúncios da madrugada -, Lúcia estendia uma frase ou os seus dedos ternos para a minha solidão, diluindo-me a crosta de bicho indócil, rompendo a muralha interposta nas nossas relações. Nessa hora de agonia, em que até as dores arrefeciam, tudo se passava como se os objetos, as vozes e as pessoas se afastassem de nós, sorvidas, transformadas em hálitos surdos, e então era necessário que a gente se agarrasse a qualquer coisa viva e próxima para que não fôssemos também aspirados pelo silêncio. Sim, era então que as tentativas de Lúcia me impressionavam, que lhe agradecia ter nela um ser humano, com saúde, nervos, vitalidade, ligado às minhas angústias -• mas não lhe dava a entender que me sentia, nesses momentos, tão débil e receptivo como ela.
Lúcia dera-se conta de que eu gostava de café - via-me subir com frequência ao bar do hospital -, e um dia deve ter ido de propósito comprar uma destas máquinas bojudas que o preparam voluptuosamente, para nosso uso durante as vigílias na enfermaria ou no laboratório, pois nunca mais a levou dali. Havia entre nós uma intimidade cúmplice, que ela tecera sem alardes, deixando-me sob o espanto de a verificar quando fosse tarde para a repelir. Quando, enfim, eu próprio a sentisse necessária.
Essa cumplicidade tinha a sua história. Eu passava muitas horas no hospital, para lá de todos os horários. Até certo ponto, já que não tinha família na cidade, era ali o que Lúcia chamava o meu ”santuário”. E embora me apetecesse vadiar um pouco lá por fora, depois daquelas manhãs saturadas de um bulício gemebundo, as mais das vezes achava-me na rua como um amanuense a quem, ao fim de uma vida de repartição, obrigam a cumprir, por insistência da lei, a regalia da reforma. Por isso não tardava em vir rondar os muros do hospital, conquanto, fora das horas das consultas, ele me parecesse um casarão depois de saqueado. E foi assim que, esgotados os pretextos de preencher o tempo na enfermaria e avivada a minha solitude pelos corredores desertos, me fui chegando ao laboratório - que era ainda, nessa época, feudo de certos tipos, a inviolada aristocracia do hospital. Aliás, soube logo que não perdia os meus passos. O laboratório era a outra face ignorada e fascinante da minha profissão; abriu-me os olhos de clínico, fazendo-os talvez mais humildes e astutos, e, de qualquer forma, tornou o meu trabalho menos rotineiro. Outra das minhas singularidades - pensariam os colegas.
Mas não Lúcia; essa, pelo menos, pensava de maneira diferente. Foi, de todos os meus colaboradores - mais interessados em se escaparem para empregozinhos fúteis e rendosos -, o único que, com os tais seus modos de gato que nos salta para os ombros sem lhe darmos pelas garras, me seguiu o exemplo. Por ardor profissional? Por cupidez? Porque também ela tinha umas horas de fastio que não sabia como gastar? O certo era termos chegado a isto: aos cafés, a umas vagas experiências feitas em comum, a um convívio que não precisava de palavras para se justificar. Ela pertencia, digamos, ao ambiente. Por vezes, com efeito, esquecia-me da sua presença. Mas se voltava os olhos, despertados por qualquer interferência, não sentia surpresa em ver ali essa rapariga sentada, um tanto sonolenta, numa expectativa muda e sem objetivo. Uma rapariga desocupada, abúlica, quase um objeto, limitando-se a estar ali. Essa passividade de cão de guarda era enervante. De outras ocasiões, porém, se o meu olhar não a encontrava, havia em mim um sobressalto, quase insegurança; como quando nos esquecemos de fechar uma porta e reparamos, já tarde, que nos devíamos ter sentido desprotegidos enquanto a porta esteve franqueada.
No entanto, a minha insistência em permanecer no hospital horas a fio, utilizando mesmo, uma vez por outra, um quarto dos médicos internos, devia parecer-lhe anormal. E então, ao desprender o casaco do armário, os seus gestos tornavam-se barulhentos e desastrados, decerto para que eu notasse bem que ela ia retirar-se. Que havia coisas lá fora à espera de nós.
- Ainda fica? - dizia ela, ao mesmo tempo que me despejava o cadinho de pontas de cigarro, que arrumava distraidamente os cadernos, a frasearia, embora já os tivesse arrumado antes, dando tempo a que eu me decidisse.
Respondia-lhe sem voltar a cara:
- Fico um pouco mais.
Instantes depois, ouvia o trinco da porta da rua fechar-se com uma violência significativa.
Certo dia em que tínhamos jantado juntos no refeitório do hospital, falou-me capciosamente de um filme muito reclamado que se estreava na cidade. (Sem darmos por isso, acontecia referirmo-nos à cidade como um lugar distante, Meca de devassos. Era uma sensação estranha mas muito aguda sempre que o nosso trabalho nos absorvia, e então o simples ato de caminharmos cem metros até à avenida parecia-nos uma aventura.) Como eu fingisse não lhe perceber a intenção, encheu-se de coragem para dizer:
- E se fôssemos lá? . . . - Aonde?
- Por favor, não se faça desentendido! - O beiço tremia-lhe lastimosamente. Eu fitava-a com ironia, provocando-a, até que ela, abespinhada, acrescentou: - Talvez o filme nos ensine a ser gente. Gente de verdade. com os mesmos interesses e fraquezas dos outros.
Fez uma pausa, à espera, decerto, que eu retorquisse, enquanto pequenas manchas de rubor começavam a tingir-lhe as faces. Eu tive a sensação de que alguém me estava a beliscar o nariz. A boca secou-seme. E, depois, Lúcia, numa voz cautelosa, de pessoa que caminhasse em bicos dos pés sobre estilhaços de vidro, lamuriou:
- Aqui enfiada, já nem sei que hei de pensar
Seguiu-me enquanto fui abrir a janela do ”santuário”. As cortinas abandonaram para dentro e para fora, assustadas da balbúrdia exterior. A lufada de ar fresco rarefez o odor espesso a tabaco. Outro dia prestes a findar. Havia uma atmosfera imóvel e fatigada. O tráfego intenso ia diminuindo. Outro dia. Igual ao da véspera, a todas as vésperas desses anos incolores.
- Muito bem, Lúcia. Eis uma explosão honesta. É tempo de confessar que está farta.
Não sei se houve na sua expressão um breve pânico. Pareceu-me, no entanto, reconhecê-lo na voz.
- Desculpe, não repare no que lhe disse! Sou apenas humana e não evito mostrá-lo. Nisso estamos muito longe um do outro. Não mereço que desfigure as minhas palavras.
- É tudo? - insisti eu, com ferocidade.
- Não. Já que assim o deseja, não é tudo. Quero que saiba também que tenho confiança e acho-me bem em senti-la. Confiança em mim e em todas as pessoas; em si, por exemplo, claro. Não considero o meu trabalho inútil, tal como lhe acontece.
Senti, de novo, que me beliscavam o nariz. O bulício confuso lá de fora diluíra-se nitidamente. O céu perdera o que lhe restava de júbilo e brilho. Um reclamo de néon aparecera sobre um telhado, dando, a espaços, um fulgor cenográfico à atmosfera desmaiada.
- Quem lho disse?
- Você. Todos os dias. Não pense que consegue ocultá-lo.
- É uma censura?
- Teria eu esse direito?
Havia sido, para Lúcia, um diálogo heróico. E esse heroísmo excedera-a. Lavei a cara e as mãos com água fria, acendi outro cigarro, observando-a recatadamente. Após aquele rubor de adolescente surpreendida numa audácia, a face de Lúcia tinha um tom embaciado, exausto, tristonho.
- Confesso-me perplexo - disse-lhe, piscando os olhos. - Julguei que a profissão significava para si pouco mais do que um modo excitante de passar o tempo (Lúcia afastou com lentidão o microscópio, no qual, até aí, fingira apreciar um esfregaço, e encarou-me de rosto meio lívido, meio túrgido, até que a vermelhidão o percorreu por inteiro), como para outros é um modo, pior ou melhor suportado, de ganhar dinheiro. Em qualquer dos casos, um ofício que lhe não desse insónias.
Já que começara, tivera de ir até ao fim. Mas de modo nenhum me orgulhava de lhe ver aquela ruga escura e magoada entre os olhos.
- E para si, que é? Pode dizer-mo?
Ela própria me evitou o embaraço da resposta, se é que eu tinha alguma coisa para lhe responder. Levou uma das mãos à boca e mordeu o dedo mínimo. Depois disse, no mesmo tom de apelo que usara antes:
- Deixe os outros acreditar em alguma coisa. Não lhes roube o que de melhor lhes pertence.
Lúcia, enfim, soubera conter a ofensa ou a irritação. Sorriu, mesmo, deixando-me a ruminar numa tardia réplica que, a ser-me de novo exigida, teria comprometido a minha suficiência. Não havia dúvida: ela tinha os miolos no seu lugar e o seu sorriso era agradável e também contagioso.
Fomos ao cinema. Nos dias seguintes, vingueime da pieguice não a olhando uma única vez.
E é tempo de falar de Clarisse.
Certa manhã, ia eu pelo corredor do hospital, quando vi uma enfermeira retirar um cartão do quadro onde se inscreviam os doentes internados e substituí-lo por outro,
- Morreu alguém?
- Aquela rapariga da província. A que estava grávida.
- Ah! - disse eu, absorto, como se tentasse identificá-la na memória já sem espaço para esses comparsas da banalidade. No entanto, enquanto moía o cigarro, ia passando em revista o problema de consciência que esse caso representara para mim. Ela tinha, ou tivera, uma doença maligna incurável, era uma das minhas mortas-vivas, e engravidara. Só pensava no filho que ia nascer, e ninguém teria coragem de a prevenir de que, depois do parto, pouco mais tempo viveria. O marido era um pobre camponês, que alugava os braços a qualquer senhor medieval lá dos sítios, e reagia sempre com grunhidos às nossas insinuações de que iria acontecer o pior. Andava por ali, uma sombra muda e obstinada, um esbirro que procurasse, em vão, um pretexto para acusar.
Essa espionagem era de todos os dias. E também já lhe conhecia o significado insólito.
Tenho aprendido muito com o povo. Nele, as coisas que dão à vida inesgotável grandeza não foram ainda violadas nem empobrecidas. O instinto do povo guarda-lhes o mistério e a seiva. Ainda hoje, na consulta, ao insistir com um aldeão para que me descrevesse o seu mal, ele, por fim, disse-me:
- É a natureza comida.
A natureza - o sexo. Dêem-me tratados onde se atinja esta sabedoria e esta serena humildade.
Pois acontece - era aonde desejava chegar que as famílias desses doentes broncos, tal como os bichos, e por uma telúrica e milenária experiência, pressentem o perigo ou o alívio. Nenhum elemento objetivo os previne, os esclarece, nem o entenderiam, mas no instante em que a vida começa a sobrepor-se à morte, um alvéolo que se distende pela primeira vez depois de estrangulado, recuperam as tarefas diárias, desinteressam-se, fogem-nos, sem que a gente possa saber por quê. Somos os últimos a verificar que a ameaça passou. O mesmo sucede quando o fim está próximo e nos escapa. O doente reanima-se, olhamos as pessoas à volta com um bom humor grotesco, e essas pessoas estão hirtas, severas, acusadoras. Sabem já o que se vai passar. A sua dor começou.
A notícia da morte da camponesa oferecia-me uma trégua aos nervos. Assim mesmo. A morte era muitas vezes uma solução cómoda, definitiva; fechava uma porta aos meus sobressaltos no turnos. Não sei, porém, o que a enfermeira deduziu da minha expressão taciturna, pois acrescentou imediatamente:
- Mas não se rale, senhor doutor, a cama já está ocupada. . .
E, com obscena malícia, indicou-me o novo cartão, a que dava um meticuloso retoque, a fim de não destoar da metódica minúcia com que fixara os outros no retângulo de cortiça.
- Quem a admitiu?
- A sua assistente. - E após uma curta e densa pausa: - Quer vê-la agora?
Lá lhe parecia, creio, que eu, sôfrego abutre, estaria ávido de conhecer a nova presa. Alguma coisa, em mim, estava errada para que os outros me interprestassem tão sombriamente.
A enferma era uma jovem de cabelos bravios, que pareciam ter crescido sem que ninguém os estorvasse. E nem só os cabelos eram bravios: ela olhavanos sem qualquer espécie de precaução e no fundo das pupilas havia uma zombaria a roçar pelo descaro.
Lembrava-me de a ter visto já não sabia onde. Talvez num café. Isso, num café: os seus cabelos vinham associar-se a um blusão carmesim (suponho que dessa cor - a atitude enxovalhada e altiva é que se me fixara com mais precisão), a um cigarro preso enfaticamente entre dois dedos esguios e enrugados. E tão segura de si como hoje.
Era evidente que ela não fazia ideia do seu caso. Sentira umas vagas dores abdominais, consultara um médico que, ao encontrar-lhe um baço suspeito, aconselhara, entre muita rotinice disparatada, um exame de sangue. Assim se desmascarou a devastação que a consumia em segredo. O médico, por fim, conseguira, não sei como e sob que argumento, convencê-la a internar-se no hospital.
Aprendi toda essa história violentando-lhe os monossílabos. Esteve a fitar-me algum tempo em silêncio e tive a impressão, aliás repetida com a maioria dos doentes, de que ela experimentava uma secreta e jubilosa surpresa em verificar o pouco que, afinal, tinha para me dizer. Um dos meus assistentes ia preenchendo a ficha e tomando notas sobre o interrogatório. Ela, desconfiada, franzia as sobrancelhas, dando muito mais importância a esse misterioso relatório, que não poderia vigiar, do que aos trejeitos que eu repetia com a boca, fazendo rodar o cigarro, quase mastigado, com a ponta da língua, enquanto lhe explorava demoradamente certas regiões do corpo.
- Dói-lhe aqui?
- Nunca me doeu coisa alguma. Esquecera já aquelas referências às dores abdominais.
Mas, por fim, também essa devassa a enervou. Daí, talvez, como um larápio que se desmente, ter procurado desviar-me a atenção antes que eu lhe descobrisse a prova do delito:
- Trouxe comigo algumas análises.
Não mostrei tê-la ouvido e repeti por certo com um ar de quem pensava noutra coisa:
- Que sente? E desde quando?
- Já o disse há pouco.
Pus-me de pé, a expressão ausente, e disse para o colega:
- Recolha essas análises. Junte-as ao processo.
A doente reagiu. Percebi-lho logo no rosto tenso. Se lhe era lícito desvalorizar as suas queixas, parecia-lhe, porém, que eu não tinha igual direito. Mesmo estes enfermos que não aceitam a gravidade do seu estado, que se rebelam contra o vexame da doença, admitem ainda menos que não demos a devida atenção ao seu caso, que para eles e para nós deve ser único, esquisito, e merecedor de absorver todo o nosso zelo.
Provavelmente, ela ainda esperava que eu fosse reatar o questionário, vencer-lhe as resistências, mas logo que terminei a visita à enfermaria, ali uma breve e enfastiada pergunta, mais além uma inspecção com a meticulosidade severa de inquisidor, deixou que eu transpusesse a porta, chamou a enfermeira e perguntou-lhe se poderia escolher outro médico. Era evidente que embirrara comigo.
Uma e outra não contavam, porém, que eu retrocedesse. Foi de longe que, num tom de quem havia esquecido um pormenor desvalioso, indaguei:
- O seu nome?
Nem sei como me acudiu essa curiosidade nem por que a não exprimi ao assistente que, ali à beira, me teria elucidado.
- Clarisse.
Clarisse. Um nome por coincidência misturado com certas leituras ignóbeis da minha adolescência. Mas esse outro nome eu estaria agora a escrevê-lo com emoção.
No dia seguinte, ao chegar junto do seu leito, desfechou-me:
- Estarei aqui muito tempo? Quando me deixarão voltar à minha vida?
Ela era de força. Desconfiei que fazia da sua irreverência um espetáculo. Daí, com o ar de quem não estava para graças, suspendi o gesto de a ajudar a despir o casaco, pois ia dispor-me a nova observação. Recobri-a, mesmo, com a roupa da cama, até que ela mo impediu, e retorqui secamente:
- Hoje mesmo.
A resposta, de tão inesperada, desarmava-lhe o desejo de briga. De faces rubras, justificou-se:
- Queria eu dizer se a minha doença é prolongada.
O assistente fungou, o que era nele um modo de sorrir.
- É uma pergunta ou uma afirmação?
Aquela era a boa altura de a domar até ao último estertor da gatinha caprichosa - e não a desperdicei. Via-a a esgadanhar-se lá por dentro, antes de ceder, anuindo numa voz constrangida:
- Uma pergunta.
Desde o começo do diálogo que a enfermeira se afastava e retrocedia sem finalidade, com o seu ar displicente de quem já tinha visto muitas farsas do mesmo género e nos faltasse imaginação para lhe prender o interesse, indo até à janela espreitar o jardim os autocarros que amodorravam na paragem fronteira ou os doentes que faziam horas junto do lago de peixes vermelhos.
- Não a posso esclarecer. . . por enquanto disse eu. - Mas o hospital não é uma prisão: não tem guardas à entrada nem à saída.
Clarisse baixou os olhos, humilhada.
Talvez eu me tivesse excedido, embora fosse meu hábito produzir desde logo esse choque psicológico em todos os doentes que me pareciam volúveis, capazes de trair o nosso esforço - deixando-nos de um dia para o outro, ao mais ligeiro despertar da saturação. Os doentes são como as crianças: precisam que os ensinem a obedecer. O carinho, a afabilidade, ou o que lhes parecer, devem vir depois.
Mas Clarisse não se resignara a que a última palavra do nosso medir de forças fosse minha. Quando eu confrontava, por alto, na mesa da enfermaria, os últimos resultados que tinham chegado do laboratório, interpelou-me:
- O senhor como se chama? (Aos meus ouvidos aquilo soou: ”O seu nome?”)
Todos os olhares, atónitos, se dividiram entre mim e a doente.
- Jorge - respondi.
O assistente, com um súbito e indignado pigarro a coar-lhe a voz, apressou-se a retificar:
- Doutor Jorge. Deve chamar-lhe ”senhor doutor Jorge”.
Mais tarde, sempre por intermédio da enfermeira, soube que a rapariga decidira ficar no hospital. Não me parecera que se sujeitara por submissão. Pelo contrário: adiara, antes, para melhor momento, o ensejo de me fazer sentir que não era assim tão fácil dispor dos outros. Eu errara os cálculos; nela, a gatinha, só previra uma reação desabrida e imediata. E porque não me rendia a imprevistos, voltei junto dela a insistir:
- A doença pode arrastar-se. E não creio que isto seja ambiente para si. Aliás, durante estes primeiros tempos, nada a impede de continuar a sua vida lá fora. Basta que, uma vez por outra, nos procure na consulta.
Se Lúcia nos tivesse ouvido, sempre dada a interpretar romântica e generosamente as minhas reações, diria, por certo, que eu concedia à doente a última oportunidade de respirar a vida, tal como se solta um pássaro domesticado antes de o levarmos à frigideira. Aquele ”durante os primeiros tempos” fora, porém, um deslize. Felizmente, ela nem se lembrou de desdobrar as palavras, como outras o fariam, sempre alertadas pelo pressentimento de um perigo oculto; estava sobretudo interessada neste duelo, para ela excitante, entre nós ambos. Daí, retorquiu, sacudindo os cabelos, num gesto rufia:
- Não importa. Sinto-me aqui muito bem. Era aquela a sua maneira de, contrariando-me, exibir uma personalidade.
Deixou-me afastar uns passos, e disse numa voz que me pareceu insegura:
- O senhor não gosta muito de mim, pois não?
A companheira do leito contíguo rosnou:
- Não ouviu dizer que deve tratá-lo por ”senhor doutor Jorge?”
Clarisse, efetivamente, não se tornara muito popular.
Sempre que eu observava as outras doentes da enfermaria, os olhos dela, claros e matreiros, seguiam-me como se aprecia um espécime inesperado que entra numa jaula: mediam-me cada passada, cada frase - e essa espionagem, que eu sentia mesmo sem a confirmar, obrigava-me a atitudes postiças.
Certamente Clarisse espreitava uma fenda na armadura que me servia de defesa, certamente todos nós, eu, os enfermos, o hospital, esse mundo excêntrico para onde se vira atirada e do qual recusava partilhar, começava a servir-lhe como fabulosa e intrigante aventura. E assim o ia vivendo em cada novo dia, insistindo em permanecer de fora, e assim o queria viver. Esta última razão para continuar entre nós, um explorador que descobre gentes e ritos bárbaros e lhes veste a pele para os coscuvilhar melhor, seria agora a mais válida e a mais apaixonante. De qualquer modo, a doença, para ela, não existia.
Suspeitei algumas vezes que ela reconhecia, com irritada decepção, que talvez a minha dureza fosse um disfarce, que por debaixo desta crosta enfatuada sangrava a minha tímida adesão aos dramas que me rodeavam. A sua vigilância ia mudando de timbre.
Por tudo isso, deixara que o caso de Clarisse fosse pormenorizado por Lúcia ou outro assistente. Raramente intervinha quando os encontrava à beira da rapariga. Pensava eu que, assim, lhe seria menos abrupta a revelação de que nada a distinguia das outras. Porém, de uma vez em que me demorei mais tempo numa cama vizinha, não pude deixar de inquirir de um modo brusco, mas ainda incolor:
- E você, como se sente?
E para que a minha iniciativa fosse mais insensata, ajuntei, começando a percutir-lhe o ventre escavado:
- Vamos lá ver como isso corre.
Então ela, estonteada, pareceu despertar de um sono. Tinha sido uma pergunta de rotina, tão banalizada como um disco que se ouviu cem vezes, mas nela teve o efeito de uma agressão. Uma denúncia.
Era uma doente. E como doente se lhe dirigiam. E aquele era, afinal, também o seu mundo.
- Tenho-me sentido bem.
Empurrou-me as mãos numa recusa espavorida. Apertou-mas depois, por um instante, como se tentasse sugestioná-las.
A atitude de Clarisse, seria fácil prevê-lo, transformou-se, e num ápice: vigiava-nos ainda, com a mesma argúcia, sim, mas havia já desencanto e certa docilidade nessa sondagem. Para nova surpresa, em breves dias tornou-se uma diligente colaboradora das auxiliares do serviço e interessava-se, sem afetação, pelos problemas íntimos das suas companheiras de enfermaria. Não falava de si - mas era em si que pensava, dia a dia a caminho da obsessão, ao farejar os remédios sem rótulo, ao aproveitar-se de todo o descuido para nos subtrair o segredo daqueles gráficos que, numa pastazinha secreta, reduziam a esquemas brutalmente objetivos a sorte de cada um.
Toda essa viragem me perturbava. Preferia vêla do outro lado, um bom galo de briga inconsciente de que lhe podem deitar a mão ao pescoço.
Clarisse nunca recebeu visitas até ao dia em que um rapaz encapsulado num camisolão verde-azeitona, cabelo de ouriço, quase sem testa, lhe veio trazer o mundo lá de fora em duas frases nas quais o calão tinha lugar proeminente. Ele entrou a fungar e a fungar continuou, um tanto assustado, um tanto cético, olhando para todos os lados da enfermaria à espreita de uma oportunidade de fuga. Sempre que Clarisse se lhe dirigia, o rapaz parecia estrebuchar: uma ave apanhada pela ponta da asa. Quando ele saiu, e senti-lhe lá fora os passos ligeiros de quem receia ser forçado a voltar atrás, creio não ter conseguido refrear uma expressãozinha de mofa.
- É estudante de pintura.
Ela disse aquilo como se me devesse uma desculpa.
- Vê-se logo.
- O senhor vê logo todas as coisas!
- A visita do seu amigo foi, digamos, pouco convencional. Está certo num artista.
Clarisse plantou nos meus os seus olhos cinzentos, mas estava longe deles. Longe deles e das palavras. Absorta.
- Penso que ele não voltará. Apeteceu-me retorquir: ”E isso é importante?”, mas seria inútil ou cruel. Não, apenas cruel, pois ela prosseguiu com uma brusca e provocadora animação:
- E o senhor viu logo também que ele não voltaria, não é verdade? . . .
Clarisse continuava a não me fazer perguntas sobre o seu caso, e, se reparava algumas vezes no fato de eu insistir em lhe passar à frente sem uma referência ao seu estado ou sem a observar, o melindre nela apercebido, se o não escondia, dir-se-ia significar apenas que se sentia enxovalhada com a minha indiferença. A doença, apesar da sua reação de semanas atrás, parecia não estar em jogo. Mas estava, bem o sabíamos, embora no dia em que a preveni intempestivamente: ”Amanhã vamos fazer-lhe uma transfusão”, me tivesse fixado com espanto.
- Para quê?
Talvez a surpresa, afinal, fosse tragicamente sincera e ela, até aí, não se reconhecesse ainda, em toda a sua evidência, como um dos protagonistas da nossa sinistra aventura. Melhor dizendo: talvez Clarisse não tivesse confessado ainda, a si própria, que já não havia logro possível. Ela apercebia-se, através da atmosfera em redor, que o seu caso deveria ser grave. Mas conseguira manter arredada essa certeza (pois uma certeza, tratando-se dela e não das companheiras de enfermaria, continuava a ser incrível e paradoxal). Tinha suportado até aí a objetividade do fato sem deixar, porém, que ele lhe bicasse o coração. Os dramas alheios são fáceis de compreender. Mas não os nossos. De espectadora, ei-la, pois, de chofre, no centro do palco.
- Para quê? - ouvi-a repetir.
- É necessário.
- Mas eu não me sinto fraca.
- Desculpe, é necessário.
Não insistiu. No entanto, horas depois, quando entrei no laboratório, fui encontrá-la num banquinho baixo, quase aninhada, a fazer perguntas assustadoramente ingénuas à minha assistente. Escapou-se logo, mais furiosa do que enleada com a minha intromissão.
Remexi em frascos e seringas, sem alvo definido, à espera que Lúcia tomasse a iniciativa de um comentário. Mas Lúcia parecia disposta a tirar partido desse enervante silêncio, mordendo o lábio papudo para não se trair. A curiosidade, porém, era nela, como em todas uma das inexoráveis contribuições femininas às regras da fisiologia. E, por fim, de gestos tão disparatados como os meus, não a sufocou.
- Que procura?
- Onde está o Guedes? - repliquei, para que de qualquer pretexto anódino, como esse, com mais naturalidade se desprendesse uma referência à rapariga.
- Era então o Guedes que procurava? ... Afiara a voz, dando-lhe uma ressonância de lâmina a vibrar. - Saiu daqui, há pedaço, com uns papéis na mão. Deve ter ido averiguar se há escândalo em perspectiva.
O Guedes era o coscuvilheiro do hospital. Coscuvilheiro e outras coisas mais. Aqueles óculos de lentes grossas, por detrás das quais parecia agitar-se um novelo de cobras, vasculhavam todos os lixos. E de todos tirava proveito. Um safado.
Tentei mais uma lorpa insinuação:
- Pelos vistos, hoje entra e sai muita gente daqui.
- Sim, o laboratório está muito afreguesado. Ela deixava-me aproximar da ratoeira, certa de
que eu, mesmo sem o seu empurrão, lá chegaria.
- Em excesso.
- Assim parece. . .
Meias frases de parte a parte, velhacas, calculadas, cínicas. Por isso, desnudando o meu amor-próprio e deixando-o a tiritar de vergonha, avancei:
- Ouça, Lúcia, ela suspeita já do seu estado? Os lábios de Lúcia ficaram entreabertos num
meio sorriso quase indecente. Depois acenou com a cabeça como se eu tivesse acabado de dizer aquilo que ela desejava que eu dissesse.
- Não. Não inteiramente. Começa, porém, a reparar em certas coisas. É sensível e arguta.
- , . .E obstinada.
- Também você?. . . Desdenham demasiado um do outro. Não gosto disso. . .
E agora, que eu tinha enfiado pela ratoeira, Lúcia não era a mesma. O seu beiço lembrava um gomo carnudo e ensanguentado. Estivera a mordê-lo. Encheu-me logo a chávena de café, escondendo nesse ritual uma súbita perturbação. E o diabo era que eu próprio não me sentia à vontade. Agucei os sentidos para o bulício da rua. Em certas ocasiões, fazia-me bem ser solicitado por essas coisas exteriores: a zoada impertinente de uma motocicleta, o saracoteio dos elétricos, por exemplo. Ergui a chávena à altura da janela e disse:
- O trânsito está cada vez pior. Esburaca-nos os miolos. Os hospitais deviam ficar isolados deste inferno.
- Há por aí uns sinais que previnem: ”Silêncio!”
- Mas, pelos vistos, ninguém lhes dá grande atenção.
Oferecia-lhe, assim, também a ela, um escape.
- Ainda bem que assim acontece. De outro modo, se o mundo passasse por nós em bicos de pés, os hospitais mais parecidos seriam com os cárceres.
Era um jogo infantil, grotesco. Tinha de ter um fim. Peguei o assunto de caras:
- Que quis dizer com isso de ”também você?”
- Que me sinto uma parva. Divirta-se com sabê-lo.
Olhei-a, não muito certo de a ter ouvido. Dessa vez, porém, Lúcia enfrentou-me com serenidade; talvez mesmo com insolência, como se se tivesse despido na minha frente e agora, que o fizera, já fosse tarde para defender a nudez. Eu é que me via sem coragem para lhe dizer, por exemplo, que não me sentia muito disposto a esses equívocos de donzelas aluadas. Adotei a solução mais cómoda: atirar com a bata para cima da mesa, com brusquidão, uma brusquidão ostensiva, e escapar-me para a rua.
No corredor, esbarrei com o Guedes. O seu sorriso tinha um melaço pegajoso. O meu gesto instintivo era logo o de levar o lenço ao rosto, a cada polegada de carne desprotegida, e limpá-la do contágio. Ou, então, de desapertar o cinto e vomitar antes mesmo de ser acometido de náusea. Os sorrisos, os modos e as palavras do Guedes eram cubos de açúcar a derreter-se no meu estômago, até que o conjunto, mucosa e açúcar, formassem uma geléia tão detestável e eficaz como um vomitório.
- Trago aqui uns artiguinhos que lhe interessam, meu caro Jorge. Quando vou à biblioteca, penso sempre em si.
Ele não era pederasta, mas, com certas atitudes, passaria bem por isso. Se me dissesse uma palavra mais, naquele momento, a geléia ia fora.
- Você é um homem prestável. Mas agora não tenho tempo; deixe-os em qualquer parte. Amanhã falaremos - e sacudiu-lhe os dedos que, lestos e insistentes, lagartas açuladas, nos apertavam o braço.
A rua. A rua é uma boa coisa. Sobretudo vadiar por aí, sem destino. Isso acontecia-me muitas vezes. Nem sempre com prazer, pois era frequentemente o aguilhão da angústia a impelir-me para a vadiagem, pela qual procurava o que não sabia encontrar ou procurava nem sabia quê, enquanto o cérebro trepidava, em cada minuto mais acelerado - um êmbolo coagido por uma fornalha insaciável.
Naquela tarde, nem isso. Pensava na atitude de Lúcia, na ambiguidade explosiva (e por que ambiguidade?, e por que explosiva?) das suas relações com Clarisse, por mais que lhes quisesse antepor, como um escudo, outras lembranças ou outras imagens mais vulgares: a do Guedes, por exemplo. O Guedes com aquele começo de papada, que estremecia durante as suas risadas sem voz, embora o corpo permanecesse seco e tenso, apto a enfiar-se, sem demora, por uma inesperada oportunidade. A gente não sabia ao certo para onde esse voraz dinamismo se orientava, de tal modo o víamos farejar em todas as direções, mas um dia, sem dúvida, ele acabaria por descobrir uma brecha - e então meteria os ombros ao último obstáculo, fossem quais fossem as resistências, derrubando-o com estrondo. O Guedes de têmporas já grisalhas, de um grisalho precoce e talvez postiço para sugerir respeitabilidade; o Guedes que, dizia-se, frequentara muito de perto estas ruas e estes bares, a recolher atmosferas para um drama canalha (havia lá postigo que o Guedes não espreitasse - até o de autor dramático!); o Guedes. . . Ao diabo o nojento do Guedes, um videirinho! Era Lúcia e a rapariga da enfermaria que iam comigo naquela rua de empedrado seboso, da morrinha breve caída pela manhã. Sempre gostei de vagabundear por estes sítios. Tenho, quem sabe, uma costela de rufia. Ou então faz-me bem um pouco de suj idade cenográfica, que se pegue aos sentidos, para depois facilmente sacudir a roupa e ter a ilusão de me sentir, por dentro, um tanto mais limpo do que dantes. Contudo, este bairro foi em tempos uma espécie de feudo da aristocracia que nasceu em linha reta das especiarias da índia. Ainda aqui se vêem, dessoradas, residências de paredes com a espessura de fortalezas, pórticos senhoris e azulejos que são relíquias. Quase todas elas são agora hospedarias com quartos de tetos muito altos, que se alugam à hora e são vigiados pela polícia. Em vez de capitães de caravelas, saem de lá estes burgueses congestionados que enterram o chapéu até às orelhas, chupam nervosamente o cigarro acabado de acender nas escadas de penumbra e só recuperam a legalidade dos gestos quando se sentem do outro lado da rua. E que dizer dos ociosos que vejo arrimados às portas? Todos me cheiram a alcoviteiros.
Ao prender-me a estas minúcias estou tal qual como nessa tarde em que assestava os olhos e os pensamentos arredios em coisas imediatas e fugazes que me desviassem dos meus problemas. Mas que problemas, afinal? Eu nada tinha que ver com as reações dos meus comparsas.
Pois entrei num dos tais bares. Ao odor grosso que, lá de dentro, extravasava para as narinas impressionáveis dos transeuntes, ferroou-me uma brusca sensação de fome. O balcão até quase ao fundo da casa, por detrás do qual, bojudas e viciosas, se enfileiravam as pipas de vinho; um recanto com algumas mesas. A força do negócio devia ser ali, ao balcão, onde me empoleirava num à-vontade fingido. Clientes de copos de tinto e sardinhas fritas. Ei-las, nos pratos onde a gordura se impregnara, tornando-os sebosos e opacos, ao lado de outros com fatias doces.
- Um prego e...
- ... tinto ou branco?
- Um café.
Dois merceeiros (eram merceeiros, ia jurá-lo) olharam-me com reserva e, após breve inspeção, voltaram-me as costas. O criado acabara de servir-lhes duas fartas doses de clarete escolhido, meticulosamente, entre as várias garrafas dispostas na prateleira dedicada aos clientes preferidos.
- Sai um prego!
Preparado à vista do freguês, por uma cozinheira de bíceps que lhe estoiravam as mangas arregaçadas. Para domar aquela carne dura e velha, de origem incerta, era bem preciso. Mas tanto a cozinheira, como o criado, como os apreciadores do clarete, tinham nervos sólidos, preocupações elementares. Que eram para eles coisas como a doença e a morte? Abstrações. Ou nem isso.
Numa das mesas sentara-se, por fim, uma rapariga magrota. Mas bonita. O criado escutara-lhe os desejos com o ouvido quase apoiado ao seu narizito lustroso e transmitiu-os num pregão:
- Duas bifanas!
E a rapariga magrosa logo esmiuçou:
- Bem passadinhas. E ovos. Em omeleta. Fofa e amarelinha.
A ternura delicada que ela punha naqueles diminutivos! Os merceeiros haviam-se encostado ao balcão e pareciam escolher, entre eles, quem deveria enfiar conversa com a rapariga das bifanas.
- A esta hora. . . que apetite! - disse o que tinha umas farripas encaracoladas ao cimo da calva mal disfarçada.
- Quem é para o comer, também é para o resto. .. - comentou o outro, baboso, conquanto numa voz receosa e quase inaudível.
- A esta hora?! E depois? Que importam as horas? Cada um dá corda ao relógio conforme lhe dá na gana.
Corda, tinha-a ela; os metediços é que, pelos vistos, consultando-se com um olhar embaraçado, não eram homens para grandes atrevimentos.
Sorvi o primeiro gole de café. Não era pior nem melhor do que o do bar do hospital. E de novo, e de súbito, a memória me levou ao meu verdadeiro mundo. De nada servia escapar-me. Nem aquele obeso Churchill de faces assopradas, empunhando um par de bandeiras, a portuguesa e a britânica, no cacifo da parede, decerto esquecido ali, no bar, por algum marinheiro bêbado e de alma leve, me poderia iludir. Os êmbolos, cá dentro, obedeciam ao ritmo danado das bielas.
A reação de Lúcia apavorava-me. Nunca mais lhe perdoaria o seu encontro com a minha vulnerabilidade. A ela devia o meu estado psíquico cinzento e melindroso, a fuga para esta inconsequente vadiagem, em que, afinal, embora sacudido por títeres singulares, dois merceeiros, uma rapariga de língua solta e vulto ossificado, um Churchill fadista, me afundava em mim, solitário e emparvecido. Eis o resultado de misturar mulheres em problemas sérios. Eu bem sabia que um dia me arrependeria de não a ter instigado a ir para casa pespontar as roupas da família. Clarisse, Lúcia, todas estavam sujeitas àquelas marés sentimentais. Por agora, era deixar que a onda passasse. Devia recusar-me a esse apelo à desordem, à adulação sorrateira do acidental. Mas uma nova pergunta começava a insinuar-se-me... O caso de Clarisse talvez não fosse vulgar. O caso humano, bem entendido. E se ela. ..
- Eu tinha dito bem passadas. . . Estragoumas, é o que é.
Bravo. A rapariga lutava por aquilo que lhe era agradável. Não desperdiçara tanta ternura, tanta expectativa, para que lhe roubassem um pedacinho que fosse do prazer previsto. Assim é que era.
- Quer torresmos, não?
- Isso é da minha conta. Ao menos salve-me os ovos!
E, de súbito, a rapariga pôs-se a mastigar com lentidão desinteressada, o olhar ausente, acabando por afastar o prato. O humor daquela fauna é caprichoso. E depois, ainda, ajustou o rosto, mais baço do que até aí, à mão pequenina e disse, dirigindo-se ao homem do balcão:
- Ó sr. Chico! Estou triste.
- Triste!... - escarneceu o merceeiro mais atiradiço.
Ela ignorou-lhe a zombaria, repetindo:
- Ó sr. Chico! - e fazia beicinho. - Não posso dizer uma coisa?
- À vontade, filha. . . - transigiu o homem, num sorriso frouxo mas que lhe desvendou uma falha na dentadura.
A rapariga levantou-se da mesa e veio para junto de mim. Mais próximo do Chico. Ao subir para o banco abriu despreocupadamente a roda das saias.
- ... Mas antes de dizer uma coisa devia ir a casa vestir o meu vestido de veludo. Fica-me bem, não fica? Faz-me mais alegre.
- Tu és sempre pêssega, mesmo com a telha.
Mas o gesto que acompanhara as palavras negava-as. O dono do bar sacudiu as mangas da camisa, talvez a despegá-las dos braços suados. Não sei por quê, pareceu-me que esse gesto era a sacudir não as mangas, mas a rapariga. Como se sacode uma coisa.
- Afinal ainda queres os ovos?
- Os ovos?. . .
Onde isso ia, os ovos! Mas o Chico não podia perceber. Nem eu, talvez. No entanto, aquela frase ”estou triste”, depois dos ares estouvados da rapariga, revolteara o que quer que fosse dentro de mim. Viera legitimar, sabe-se lá como, a atmosfera emocional que me trouxera ali. Tanto as minhas reações como as de Lúcia e Clarisse. Um novo enleio. Atirei com o dinheiro para dentro do prato, onde, da sanduíche (que eu trucidara, ferozmente, aos pedacinhos), restava uma nódoa túrgida e ainda quente. Nem quero dizer o que ela, de repente, me sugeriu.
Cá fora, de um dos casarões clandestinos, saía uma mulher com o aspecto de manequim comprado na Feira da Ladra, e logo depois um tipo pequenino, de óculos negros e cabeça de pássaro acossado que espreita as redondezas antes de se lançar num voo destemido.
”Estou triste, sr. Chico.” De uma vida constrangida podiam rebentar todos os gritos. Aquele era o da rapariga magrota. O grito da melancolia violentada em máscara de risos, E qual o grito da gente como nós - eu, Lúcia ou Clarisse? Mas - insistia, eu olhando agora as árvores nuas da praça onde desembocara, braços escuros que pareciam músculos à espera que um fluxo de sangue verde os fizesse crescer
- que havia de coerente na tal insinuação de Lúcia? E, ou fosse da tarde, da praça translúcida e afogueada no crepúsculo voluptuoso, ou fosse das árvores, a pergunta repetiu-se-me mais vezes do que seria de desejar.
Na manhã seguinte, sentia-me um colegial cornprometido ao iniciar a visita à enfermaria. Não a teria feito se fosse possível adiá-la. Quanto a Lúcia, ela mesma me evitou embaraços: era de novo a colaboradora expedita, correta e formal. E em breve, supunha eu, tínhamos esquecido o incidente.
A engrenagem de todos os dias (”Oh, às vezes sufoco!”, gania de tempos a tempos a gorducha monitora da clínica. ”Sair daqui por uns meses, nem que fosse para o sertão! E o que me enfurece é saber que as outras pessoas julgam que esta vida é emocionante!”), laboratório, consulta, doentes, acabou por nos atordoar no ritmo absorvente. Não havia muito tempo para pensar em nós, embora as coisas pessoais, ao serem soterradas, se reservassem o direito de, um dia, explodir. Era isso talvez que eu receava, sem o confessor, desde que a vida profissional, naquele serviço odioso, me fechara a porta a outros interesses que, por pungente contraste, eu classificara de abusivos. Porém, uma vez por outra, surpreendia-me à beira de uma fuga. Tinha sido qualquer coisa desse género que acontecera a Lúcia. Que já acontecera a uma porção de gente.
Viesse a rotina, pois. E sem pausas. Se eu fizesse uma paragem naquela sucessão monótona, mas sempre demolidora, de dias iguais, talvez não pudesse sofrear uma deserção. E era ainda essa rotina que acabaria por me defender de emoções desgastadoras, pois nem os dramas resistem à monotonia. Essa gente que vinha procurar-me, cada vez mais impaciente, mais esfomeada de vida e logros, à medida que cornpreendia o tão pouco que lhe restava, já não se individualizava perante o caos que era, por fim, a minha esgotada capacidade de partilhar os seus tormentos. Via-os como um confuso e denso rebanho: o rebanho à espera da matança.
O tal rebanho - um estranho rebanho. Eles eram simultaneamente, cruéis, solidários, egoístas. Por muito que a inteligência, os hábitos ou os credos lhes amortecessem os instintos, nenhum deles deixava de farejar gulosamente a agonia dos outros. Debicavam a podridão como aves lúgubres, cheiravam-na a distância. Abriam rasgões na carne dessorada para a cobrir com prantos de carpideiras. ”Tão pálida hoje, Jacinta; e vi-a cambalear no elevador. . . Dormiu mal esta noite? Credo!, deixe-se de ideias negras! Verá que é uma crise passageira. Tenha esperança.” Esperança - uma palavra garrida, que nessas bocas se vestia de crepes. Ou então: ”Quantos glóbulos, na última análise? Dizem que temos de passar por duas ou três remissões. O analista não se teria enganado? Eu bem vejo o que eles fazem no laboratório. Divertem-se à grande, metem-se com as empregadas, sabese lá se podemos confiar nas análises.”
Eu reparava que Clarisse era agora um dos alvos preferidos dessa intriga melíflua e subterrânea. E ela também o sabia. No modo como observava as companheiras, acirradas, estou certo, por um instinto de desagravo social (pois não era Clarisse, entre elas, uma burguesinha amimada a quem a doença e o desespero iam amachucando a soberba de classe?), via-se que procurava todo o indício que pudesse dizer-lhe quanto as outras a achavam já diferente, quanto lhe notavam o emagrecimento ou a palidez. Mas era sobre mim que incidia mais vezes a sua alertada acuidade: em todos os estremecimentos da minha face entediada de médico ela descobria, ou julgava descobrir, os agoiros da sua ruína.
Era inútil, aliás, prolongar o ludíbrio. Ainda que baralhássemos na mesma enfermaria doentes com moléstias e prognósticos diferentes, e zelássemos por que nenhum deles pudesse averiguar a natureza da sua doença, a verdade escorria não se sabia donde, um fio de água sub-reptício que, de súbito, encharcava o ambiente. Qualquer deles, ao fim de algum tempo, percebia que, sendo apontado pelos outros como meu doente, essa identificação equivalia a um ferrete. O rebanho marcado. Reagiam, então, de muitos modos: violência, pânico, misticismo, náusea, raramente com heroísmo e nunca com resignação. Muitos saíam do hospital ou desapareciam da consulta e durante semanas, meses, misturavam-se freneticamente no convívio dos outros, os de lá de fora, os que continuavam a viver, para lhes enfiar pelos olhos dentro que estavam vivos também. Era preciso que os outros não os distinguissem pelo horror ou pela compaixão, não os distinguissem fosse pelo que fosse, que não os diferenciassem de ninguém. Era preciso que a estima dos familiares, dos amigos ou de simples cornpanheiros de acaso não tivesse uma condescendência lamuriosa a justificá-la, para que essa vida fosse autêntica, verídica, e não o efémero delírio de um moribundo. E era tão urgente o amor dos outros! Por isso os cortejavam, subornando-os, atiçando-lhes capciosamente o interesse, a presença, o diálogo ou um arremedo desse amor. A simulação, por último, bastava, como a ternura das meretrizes. Lembro-me, por exemplo, daquela velhota ricaça que eu internara numa clínica. No último Natal oferecera centenas de presentes. Escrevia montes de cartas, todos os dias, mesmo a desconhecidos. O importante era que viessem agradecer-lhe, vê-la, que, durante alguns minutos, ao pensarem nela, a fizessem viva. Tinha um casal de criados já idosos; obrigava-os a ficarem horas, de pé, ao fundo da cama - dois macacos decrépitos, testemunhas da sua existência.
Quando esses doentes voltavam - e voltavam sempre -, tinham lido livros, consultado outros médicos e discutiam já as notícias sobre novas e milagrosas drogas para o seu caso, com que as gazetas lhes sacudiam a febre de persistir. Investigavam-se a si próprios, procurando os ardis sob que a morte se escondia, e, lá no íntimo, esperavam ser os primeiros a conseguir dominá-la. Os ardis não eram apenas da doença. Eles também os teciam. Apercebiam-se da vizinhança da morte, sentiam-lhe a voracidade e o cheiro, mas, inexorável, só nos outros. A pérfida ameaça, presença obcecante na vida de todos eles, como um punhal enquistado, e que, na sua injusta e medonha objetividade, se assimilava através da experiência em redor, não lhes dizia, porém, individualmente respeito. No último instante, cada um, de per si, conseguiria libertar-se. Velada ou abertamente, falavam-me então dos tais fabulosos tratamentos - até mós exigirem, e era-me mais cómodo falsear-lhes as análises do que, como dantes, evitar que lhes caíssem sob os olhos.
Saía extenuado dessas consultas, em que as explosões de choro, que nem os homens poupava, se alternavam com a euforia e o riso. Eles forçavam-me tanto a ser cúmplice da sua ansiedade, ou viam-me tão responsável por ela, que acabavam em ter por mim uma devoção aterrorizada ou, quem sabe, o ódio que segura o cão maltratado ao dono que tem numa das mãos o chicote e com a outra lhe estende um osso.
Havia ainda outra fauna. Hipocondríacos, exibicionistas, gente dessa. Gente difícil. Tinham ouvido falar de doenças irremediáveis, de um macabro romantismo, e queriam, à viva força, ser os heróis de um drama. Aparecera-me, entre outros, uma poetisa de flor ao peito, tipo de beleza do cinema mudo, toda olhos, toda boquinha em coração, toda rosto de boneca enfarinhada, que, a fiar-me na sósia que lhe fazia companhia, apalpava de minuto a minuto todos os gânglios acessíveis, na caça de um vestígio funesto. (Lera, com uma cupidez nevrótica, essas coisas num alfarrábio.) Trazia já o diagnóstico, da sua lavra, e insinuava que a tragédia do seu caso era um formoso desfecho para uma vida dedicada à poesia. A outra dama, sua gémea na flor, nos sonetos e na beleza fora de moda, parece que lhe ia sofrendo as vagas de histerismo, tentando amansar-lhe os destemperos com uma ternura silenciosa e compungida. Ambas eram das mais celebradas entre as atrações dos saraus literários, onde eu um dia, forasteiro desprevenido, as vira despachar uma dose memorável de salsichas após a declamação de um poema de derreter a medula das pedras. Sempre me enervaram esses chorões, que falsificam a vida em palavras. Não são pessoas em corpo inteiro - falta-lhes o que deixam nos livros. Há nelas - pelo que, em certas oportunidades, me tem sido dado observar - não sei que íntima impotência ou corrupção. Tal como hoje reconheço em mim.
Mais tarde, constou-me que a poetisa, posto o rumor da sua gloriosa adversidade a circular, vestira, convictamente, o papel de desditosa, propondo ao marido que se fosse adaptando à sua iminente situação de viúvo, quartos separados e, logo depois, vidas à parte. Passava os dias num café, a beber, a consumir-se por dentro e-a escrever poemas. De tanto imaginar e sentir a doença, definhou. Não admitia - e muito menos à solícita amiga, também ela já definhada - que alguém lhe desmentisse os receios, as certezas, o infortúnio que ardia nos seus versos e lhe iria dourar a memória. A todos os nossos argumentos opunha um sorriso sutil, pois a sua doença era tão real que a sentia borbulhar no sangue. Bebia, horas a fio, sempre na mesma mesa, donde a outra, numa vigilância sem pausas, a ajudava a transportar, de falas entarameladas de ébria, para o hotel do seu voluntário exílio. Cada novo dia lhe parecia o último da sua mortificada espera.
Até que a história teve um remate anedótico. Uns rivais do cenáculo haviam semeado uma perfidiazinha: a companheira da poetisa, que lhe cobiçava simultaneamente a glória e o marido, é que a convencera da ameaça de doença fatal e lhe adulterara as reações, para assim lhe usurpar, com mais discrição, o leito conjugal. Perfeito. Os rivais, desse modo, matavam dois coelhos de um tiro. E sem que a espingarda ficasse a fumegar. A coisa tinha um sombrio pitoresco, lembrava intrigas de rameiras, mas, de tão pulha, enojou-me. Nem ao Guedes ocorreria uma insídia tão requintada.
A sósia, desorientada, procurou-me para que eu fosse o juiz da história, que se espalhara com a eficácia de todas as peçonhas, mas custou-me reconhecêla; já não era aquela frouxa caricatura da poetisa de flor ao peito. Havia nela uma agressividade à espreita de se manifestar. Fiquei desconfiado de que, daí em diante, os seus versos já não seriam tão adocicados como dantes. E assim se engendram, ó céus, os descaminhos da poesia!
Foi então que morreu uma das condenadas da enfermaria.
Lembro-me de uma série de minúcias supérfluas acontecidas nessa manhã e que, tal como, decerto, irá repetir-se noutras circunstâncias desta história, se fixaram com uma nitidez cuja significação me escapa, enquanto os fatos verdadeiramente importantes me exigem às vezes o esforço de os ir escavar numas luras nebulosas. A memória, porém, lá tem as suas razões ou os seus caprichos.
Eu chegara, com um atraso desusado, ao hospital. Na véspera, a atmosfera estivera saturada, de um azul indeciso e opressivo, que parecia neblina sem o ser, e que, ao apanhar-nos os brônquios, aí ficava atufada, sufocando. A testa latejara-me mesmo pela noite dentro, enquanto os sentidos, em vigília, esperavam uma tempestade, fosse o que fosse de brutal e súbito mas aliviador. Nada disso, contudo, sucedera. Apenas uma ventania lamentosa e vagabunda. E levantara-me mais cedo do que era meu hábito, o cérebro pesado, uma bruma entre mim e a atmosfera ainda violenta, mas de uma violência já gasta e definitivamente abortada.
Sentei-me numa esplanada, os olhos turvos, antes de me decidir a começar a minha faina. O vento noturno cessara. Em vez de novos prenúncios ou do rescaldo da tormenta, havia agora, no ar leve, a secura do deserto. Encarei as pessoas com animosidade. Parecia-me incrível que nem àquela hora se pudesse encontrar um poiso tranquilo num café. Já vos disse quanto a promiscuidade humana avulsa me era penosa. Um grupo de rapazes sentara-se ali ao lado. Falavam como gralhas. Alegres, frívolos - gralhas renovadas após um susto. (O susto tinha sido a trovoada desfeita pelo vento.) Depois uma rapariga rondou pelo passeio em frente, olhando de soslaio os carros afuselados e lentos que passavam. Mas não se tratava de urna pega, nada disso. Desconfiei que ela tinha uma perna mais curta do que a outra, embora soubesse fazer-nos crer que não era assim. E depois, ainda, chegou outro rapaz encavalitado numa moto estrepitosa, disse não sei quê à rapariga (conheciamse já, provavelmente, tão familiares se mostravam) e ela anuiu logo ao convite. Um dos companheiros do galã, quando a moto largou, toiro ferido, em explosões fragorosas, teve um soberbo achado:
- A Lucinda baixou de cilindrada.
As pessoas riram e eu não ri. Por momentos, todos os clientes estenderam as mãos para esse pretexto de riso e de convívio. Menos eu. Que se passava comigo? Que espécie de aridez? E pus-me a pensar que o hospital era a minha única ou última oportunidade de diálogo humano. Que seria de mim sem essa oportunidade, embora lhe resistisse, ou julgasse resistir, embora sentisse que me era imposta, como a um bicho por detrás das grades da sua jaula? Naquele instante, porém, tornou-se-me urgentemente necessária. E dirigi-me ao hospital.
Pelo caminho, reparei numas pernas, talvez porque, mesmo sem premeditação, já tivesse reparado nas da rapariga da moto. Apenas nas pernas. Tão bem feitas que se bastavam: não apetecia subir o olhar. Abrandei a marcha (também sem premeditação). Ela, a dona das pernas, decerto pelo hábito, devia ter pressentido que era observada e, conquanto discretamente, avaliou-me por sua vez. Era uma empregada do hospital. Fiquei furioso, tal um peixe gabarola apanhado num anzol, e carreguei no acelerador. Arrumei o carro, subi as escadas, dispensando o ascensor bloqueado por uma caterva de resignados pretendentes. Na porta da sala de tratamentos estava colado um papel: um convite impessoal para a festa das enfermeiras.
Soube então que a doente tinha morrido. Sentime, de repente, sem forças para qualquer atividade. Andei de um lado para o outro. Na sala de espera, um rosto vagamente conhecido; pertencia, sem dúvida, à família da morta. A mulher recostou-se, fitando-me com os olhos vazios e esbranquiçados. Mas reparei-lhe sobretudo na boca: dava-me a ideia de que esquecera o modo como é feito um sorriso. A linha dura que a desenhava parecia decisiva, uma lasca de pedra.
Claro, aquela morte tinha sido esperada. Podíamos às vezes prever o desfecho com uma margem de erro terrivelmente insignificante. Na última fase, já a doença punha as máscaras de lado. De um dia para o outro, a fogueira ateava-se, o incêndio era um clarão e, logo depois, cinzas. Cinzas que ainda demoravam a arrefecer até que tudo terminasse.
E sempre que morria alguém, era nos outros, os vivos, que eu pensava. Eles haviam assistido a todas as gradações da devastação. Mas só com a agonia a enfermaria se alvoroçou verdadeiramente. E após o alvoroço, o estremecimento surdo, o pânico, as insinuações ínvias sobre qual seria a próxima vítima, veio outra coisa mais temível: a tranquilidade. Já falei do silêncio da madrugada. Aquele era outro: nele os pensamentos tinham cor e voz, uma presença túrgida e ensurdecedora. Tenso, lascivo, sufocante; precisava de ser incisado de alto a baixo antes que rebentasse dentro de nós ou explodisse em berros, em loucura. Nesse silêncio, que nada tinha que ver com o vácuo da noite, com o charco da noite, o latejar subterrâneo das veias era o rugido pesado e cavo de um rio de encontro aos penhascos. Dentro dele, o sofrimento levedava, transformando-se em demência.
Se Clarisse (que absurdo nome!) não tivesse já compreendido que pertencia, como as companheiras, ao meu cemitério de vivos, o rescaldo desse acontecimento tê-la-ia, decerto, mergulhado numa atmosfera em que os sentidos se saturavam de evidências. Devia ter meditado uns dias numa decisão; bisonha, enrolada em si própria, saiu desse mutismo para me procurar na sala de tratamentos, certa de que, àquela hora, não havia grande probabilidade de alguém nos estorvar. Encostada à porta, aguardava que eu desse pela sua presença ou que as palavras se lhe soltassem tão seguras quanto as planeara.
- Admira-se de me ver aqui?
De cabeça inclinada sobre uma baralhada de papéis, análises e relatórios, o fumo do cigarro enovelara-se-me nos olhos. Tinha-os úmidos e ardentes. Esfreguei-os, quando levantei a cabeça, e ficaram mais congestionados ainda. Foi por entre essa bruma que me queimava como um hálito de fogo, que me esforcei por sondá-la. Já então ela dividira ao meio a distância até à minha mesa de trabalho. Esperava que eu lhe respondesse. Decerto fazia parte dos seus planos (a forma como decorreria o diálogo teria sido minuciosamente prevista) que a minha resposta, branda ou azeda, lhe justificasse uma frase decisiva. Creio que percebi tudo isso. Ou, então, mantive-me em silêncio apenas por comodidade.
Esse mutismo deixou-a por momentos irresoluta, após o que decidiu dispensar o contraponto das minhas palavras.
- Não tem o direito de me iludir. Nem a mim nem a ninguém.
Esmaguei o cigarro com irritação. Os blhos ainda lacrimejavam.
- Sabe que está a dizer?
- Sei muito bem. Posso repeti-lo. Cuidado, se eu lhe fosse na peugada, caminharia
sobre alçapões.
- Quem lhe permitiu sair da enfermaria?
- Faço o que me apetece.
- Lá fora, talvez. Aqui, repare bem, está num hospital. - Enquanto, por reflexo, sacudia outro cigarro antes de o levar à boca e deixava que os sentidos se distraíssem com aquele automóvel que passava na rua com um ruído engasgado de besouro, acrescentei duramente: - Já devia ter percebido que há regulamentos.
- Pois é, regulamentos. . . Conheço a espécie de tipos como o senhor. (As minhas narinas fremiam, o cigarro esquivara-se para o outro canto da boca, os sentidos, espevitados, regressavam da rua e do besouro.) Não suportam que lhes ponham um problema diante do nariz. Urram, resmungam, mas não falam. Têm medo. Responda, se pode, ao que lhe dissse.
Desafiava-me. Clarisse tinha os lábios finos, contraídos, mas o jeito da cabeça era só provocação. Queria apanhar-me num destempero. Queria uma verdade ou, muito provavelmente, uma nova mentira. Mais hábil do que as anteriores. Uma coisa a que se agarrasse, agora que todas as outras se submergiam com metade dela própria.
- Já terminou? - disse eu, levantando-me finalmente da cadeira.
Ainda não acertara com uma atitude e ia-a adiando. Tentava sentir-me humilhado, colérico, para burlar a minha própria amargura. De mãos nos bolsos, queixo recuado, aguardava que a coragem de Clarisse se esbatesse como a raiva das ondas quando não encontram obstáculo. Pusemo-nos a olhar atentamente um para o outro.
- Diga-me, por favor, o que posso esperar desta casa.
O tom era já muito lasso. Na sua firmeza atravessara-se um prenúncio de terror. Não, não era a verdade que ela me exigia.
- Quer dizer desta casa. . . ou de mim? Pareceu-me que havia, em tudo o que disse, uma inflexão muito pessoal. . .
- Vá para o diabo com as suas lerias.
E bruscamente, exausta de atirar a sua ansiedade de encontro às minhas esquivas, de encontro ao meu hábito de simulações, apertou-me os braços com uma fúria que a si mesma se reconhece inútil e abraçou-me, por fim, destroçada. Um destroço cuspido na praia e que se segura às areias. Não consegui refrear o impulso de lhe encostar os lábios aos olhos desvairados.
Como teria feito a qualquer pessoa desamparada.
No entanto, aí estava uma reles lembrança a enxovalhar a pura solidariedade do meu gesto: naquela manhã em que me dera para seguir as pernas da funcionária do hospital, encontrara-a depois num grupo de mais duas, no piso das consultas, aguardando uma ligação telefónica. Ouvi-a dizer sem grandes preocupações de recato:
- Estão a vê-lo? Aqui finge que nem somos mulheres. Mas lá fora, credo, até mastiga as beatas, em vez de as fumar, quando os olhos topam alguma coisa de jeito. . .
Escrevo estas recordações com um mal-estar que não tenho capacidade para definir. É que, da maneira como as narro, elas surgem-me tão adulteradas e ridículas que seria bem melhor, nem que fosse por pudor, guardá-las para mim. E talvez sejam mesmo ridículas e não haja modo de lhes dar coerência e dignidade. A vida é assim. É por isso que as histórias que se contam nos bons livros são suportáveis: torcem a vida, inventam-na, até lhe darem verossimiIhança e uns restos de grandeza. Tenho pensado algumas vezes que, enquanto o ímpeto criador dos homens se desviar para esta solução tão individualista, a arte, o mundo continuará vesgo e as pessoas esmagarão a cabeça nas paredes.
Mas já agora que comecei e me é urgente pôr cá fora uns entulhos para melhor os clarificar e esquecer, terei de ir por diante. Não volto a pedir-vos desculpa de ser tão desastrado nestas evocações.
Que, ao menos, na floresta das palavras, eu saiba escolher apenas as necessárias.
Embora trouxesse os nervos inteiramente descomandados, o que sempre me fazia mais taciturno e rude, nos dias que se seguiram procurei ser, para Clarisse, de uma terna, embora cautelosa, afabilidade. Ela afilava a atenção sobre o que eu dizia ou não dizia às outras doentes, avaliando, por certo, até onde as minhas frases eram calculadas. Esforçava-se por conhecer as regras do jogo. Eu bem lhe percebia as manhas e o desespero. E mentalmente punha em confronto a Clarisse de agora com certa moça de café, petulante, de cigarro a acobrear-lhe os dedos nodosos, um nada masculinos, apreciando as pessoas que entravam e saíam como se se tratasse de caricaturas. A sua ironia, ao tempo acerada e distante, cedera lugar a uma expectativa ensimesmada: tinha razões para acusar-nos. E nem os seus cabelos, que ela dantes sacudia no jeito de potro insubmisso, eram já selvagens: apenas sujos e quebradiços.
Não podia evitar que ela fizesse perguntas, por muito que eu passasse de fugida pelas vizinhanças do seu leito. Agora, que perdera a altiva segurança em si própria, perseguia-me com uma devassa perseverante, diria ainda cruel, sobre os exames amiúde repetidos, e todas as manhãs descobria novo pretexto para me chamar a atenção para uma nódoa anormal na sua face ou para os nódulos que começavam a bosselarIhe a pele murcha e enrugada. Entrava na fase da luta aberta.
Às vezes eu pensava de véspera uma frase de histrião que lhe desarmasse a tensa desconfiança. Tal como, com frutuoso talento, via proceder os meus colegas. Dizia-lhe então, por exemplo, antes que ela me deitasse o laço:
- Hoje, sim, Clarisse, vê-se logo que teve uma noite repousante. É do que precisa. E, como pode verificar, a curva do seu peso começa a ser famosa. Só receio que lhe contrarie a estética. . .
Ela fazia um sorriso mole e, de fato, por instantes ficava perturbada, embora a cínica exortação das minhas palavras lembrasse certo locutor a reclamar flocos de aveia para o pequeno almoço. Não, nada daquilo era decente na minha boca. Tanto como um palavrão saído de um manual de civilidade. Aliás, os diálogos com os doentes, em regra, exigiam-me pouco mais do que resmungos e acenos breves de cabeça, a despachar, conquanto, noutras ocasiões, a inspiração me consentisse uma frase curta mas oportuna. As lerias farsantes, que atuavam como narcóticos, eram com os meus assistentes. O papel assentava-lhes à perfeição.
Frases curtas, sibilinas. Cada um de nós tinha a sua estratégia. A minha era essa: fazer de mago; ora, os magos deixam de ter o público na mão quando lhe desvendam o porquê dos truques. E com Clarisse bem o reconhecia - eu ia perdendo essa ambígua e tão eficaz sobriedade.
Tanto assim era que, passado o tal sorriso mole, a sua face acordava do enleio efémero e recusava-me o papelucho da curva do peso, fazendo por ignorá-lo:
- Não preciso de verificar coisa nenhuma. Ficaria tão esclarecida como dantes. - Afastava-me o braço, a pasta com o dossier, e tudo nela, olhos e boca, endureciam. - Tem a certeza, senhor doutor, de que nada mais tem para me dizer?
Aquele ”senhor doutor” era já um sarcasmo.
Nunca preludiava coisa boa, obrigando-me a recolher a uma prudente defensiva.
- Concretamente, que deseja que lhe diga?
- Quanto tempo vai isto durar. É tudo o que pretendo saber.
- Não seja piegas.
- Chame-me o que quiser. Mas esse palavreado não me adianta. Fale direito. Quanto tempo viverei ainda? É assim que devo fazer a pergunta? Já a entende, feita deste modo?
Um tom de ironia, sim, mas uma ironia soluçada.
- Todos nós a fazemos, em cercos momentos. Os que têm medo das trovoadas fazem-na de cada vez que ouvem o trovão. É uma pergunta apetitosa, mas desnecessária. Estupidamente inútil, não lhe parece?
- Inútil?... - soletrou Clarisse. - Inútil para o senhor, que tem saúde e essa horrível segurança que nos humilha.
De novo aquela sensação de queimadura na nuca, que logo se fazia uma lava a escorrer por todo o corpo. Mas fiz o possível por que a minha voz não se alterasse.
- Disse inútil como poderia ter dito outra coisa.
- Levianamente. . .
- Não foi levianamente. Sabe bem que não.
- Talvez na minha réplica aflorasse um tom de amarga sinceridade, pois percebi-lhe a expressão suavizar-se. - Repare, Clarisse: nenhum de nós (nem eu, com a tal segurança que a ofende. . .) põe na morte a sua assinatura. A morte é-nos tão fortuita e ilógica (ilógica para cada um que se interroga) como muitos acontecimentos da nossa vida. Não fazemos toda a nossa história, nem a prevemos: as mais das vezes sofremo-la. E, pensando bem, é melhor que assim aconteça.
Tal como nesse momento, ainda agora me espanto com a minha vã, prolixa e desbordante exaltação. Antes que Clarisse revelasse uma justificadíssima surpresa (afinal, o que lhe pressentia era, quem sabe, uma ávida alegria convulsiva), inquiria de mim se aquela prolixidade fora tecida pela cena insensata de dias antes, por uma intimidade que traiçoeiramente me havia sido imposta. Mas, sem remendo possível, tive de dar um remate à minha tirada:
- . . .Voltando à sua pergunta: ninguém me garante que hoje mesmo, agora mesmo, este teto, que já tem bolor e fendas, me caia em cima. Não seja pateta, Clarisse! Você, eu, todos, viveremos o que temos para viver.
- Não troce de mim dessa maneira, peco-lhe!
- Quer ser uma exceção às leis da biologia? Ela não me deixava como alternativa senão este
cinismo de folhetim.
Clarisse voltou o rosto para o outro lado. A boca descaíra-lhe. Era a boca de uma face angulosa, desfeada, onde pespontavam pequenas cicatrizes, como se em tempos a tivesse depilado. Nada me fazia esperar que ela tivesse ainda um novo e desvairado protesto. Um patético grito de carne.
- Morte, morte!, foi a única palavra que lhe ouvi dizer! Já ninguém sabe, aqui, falar de outra coisa?
Aquele histerismo, já o sabíamos, iria propagarse com a virulência de uma cultura de micróbios. Mas, para lá da angústia contagiosa, que teriam pensado da cena as outras doentes ? Que secretas e turvas justificações lhe dariam? E uma tal ideia, de súbito, molestava-me muito mais do que tudo o resto. Nem sequer esbocei o gesto de ajudar a enfermeira quando esta a segurou pelos ombros, aninhando-os no seu braço forte, que parecia esculpido num ginásio.
Subi à cantina do pessoal. Três andares sem elevador. O hospital era um velho edifício em T, e nesta cauda, onde se punham de quarentena as seções administrativas e outras consideradas menores, partia-se do princípio de que a comodidade era supérflua. Dessa vez, contudo, fez-me bem o esforço físico de trepar os quarenta e um degraus. Exatamente quarenta e um. ”Trago apetite para dezassete”, costumava chalacear uma das colegas que prestava serviço nos agentes físicos, cara de cavalo satisfeito com a ração. Feia, bom Deus!, mas com que honesta convicção!, pêlos de bode no queixo afilado como um pepino, e de um bom humor invulnerável. ”Dê-me só um terço da dose, não mereço mais. Trepei apenas do segundo andar.” O seu grande êxito, porém, dera-se de outra ocasião, quando, ao chegar ali ofegante, alguém se antecipara na ordem à empregada: ”Hoje, a senhora doutora parece que necessita de uma dose de quarenta e um. . . ” ”Retifico!”, protestara ela, de palavras a saírem-lhe arquejadas. ”A dose é para quarenta: despachei-me dos dois últimos de uma assentada. Quando quero, sou uma atleta!”
Era. Corpo enxuto, passada de caserna. Ao tentar surripiar-lhe o segredo daquela boa e sólida disposição, ficava hesitante entre duas perspectivas: ter uma cara de cavalo, tão definitiva que não valesse a pena mascará-la, ou ser estúpido. Ora a Maria Armanda não era estúpida. Onde iria eu conseguir, então, esse exato focinho de equídeo?
Claro: a Maria Armanda, àquela hora, era inevitável. O copo de leite, os dois bolinhos de bacalhau. com salsa. E, prestável como era, via-a logo repetir certo sinal à criada, que, também rigorosamente àquela hora, costumava fazer ruidosa demonstração dos seus brios profissionais, furoando-nos os ouvidos com o aspirador. Soalho impecável - à custa, porém, das sangrias nervosas de temperamentos suscetíveis como o meu. Eu não refilava, mas alguém teria de escolher entre mim e o aspirador. A Maria Armanda escolhia, e aquele sinal, de uma eloquência secreta, lá entre elas, dispensava quaisquer argumentos para que a empregada adiasse o atordoador cumprimento do seu dever.
- Ouça, doutor (a Maria Armanda, como outros colegas mais novatos ou astuciosamente mais humildes, tratava-me por um irritante ”doutor”): por que não vem a sua assistente comer um bolinho conosco?
- Lúcia?
- Pois, a Lúcia.
- Pergunte-lho você.
- Ah, decerto que hei de perguntar. A Maria Armanda não se abespinhara. Coçava os pêlos do queixo, com ar divertido. - Qualquer dia vou lá a baixo levar-lhe uns bolinhos. Criar-lhe o vício. . . Temos de fazer engrossar este grupo das onze horas. Sinto-me mal de ser quase a única mulher entre tantos homens.
Estive para lhe responder: ”Não há perigo!”, mas disse, antes:
- É uma boa ideia. Experimente.
A Maria Armanda a falar de bolinhos e de todas as frioleiras do seu gosto, e Clarisse e as outras, na enfermaria, que eu deixara como uma lagoa de sapos depois de lhe rebentar um cartucho no lodo, à procura dos estilhaços de cada uma das minhas palavras, até as reconstituírem sadicamente, numa terrível razão de revolta gratuita e de amargura. A devoraremse como archotes vivos. Eu abandonara-as no momento mais duro, fugira, ao vê-las de tripas esventradas. Fugia sempre. Mas tudo isso era a vida. A vida tal como era, a grande porca: bolinhos e esperanças dilaceradas. Eu estava do lado dos bolinhos.
A ”cara de cavalo”, porém, era razoável ao intrigar-se com a relutância de Lúcia em pertencer à nossa turma do desjejum das onze. Eu era o lobo e vinha. Nem sei por quê, mas vinha. O bar era uma pausa. E Lúcia, com todos os seus modos adocicados de boa vizinhança, não punha ali o pé. Soberba? Não queria ela ostentar que passava muito bem sem o café e as lerias, já que lhe interessava muito mais ser o único colega a toma-lo, familiarmente, lá no ”santuário”, apenas comigo - que era hierarquicamente o seu chefe? Ou seria por um conceito de austeridade? Sim, austeridade. Só então, à distância e ao desnível em que me encontrava, reconhecia em todo o comportamento de Lúcia certo ascetismo. Lúcia levava a sério o seu rebanho. Respeitava-o. Não queria bolinhos.
Outro parceiro seguro era o Romualdo. Maciço, pesado e mãos de padre. E gestos de padre. Aquelas mãos erguiam-se, numa prece, ou refugiavam-se, amedrontadas, nas mangas da bata, sempre que as conversas escorregavam para uma heresia. Não que o Romualdo tivesse convenções teológicas, mas tinha outras: sobre quase todas as trivialidades da vida, que ele espremia com pertinácia até as fazer suar uma gota de conteúdo. Não há carcaça, mesmo sorvida por milénios de soalheiro, que não guarde um pingo de umidade. Era essa a tarefa especulativa do Romualdo. Ele podia demonstrar-nos, por exemplo (vem-me agora esta à lembrança), que as penas que enfeitam os chapéus das senhoras são a expressão de um resíduo anatómico, perdido em qualquer acidente biológico.
Lá estava ele, o Romualdo de maneiras plácidas e um começo de corpulência, feita de beatitude e adiposidades, que decerto iria progredir com os anos; lá estava ele, o pobre, a jogar às escondidas com o pastel de nata, sem saber se deveria ou poderia resistir-lhe.
- Vá, homem, meta-lhe o dente - atiçava a Maria Armanda. - Você só aumentou um quilo a semana passada.
O Romualdo, heróico, não lhe retorquiu. Voltara-se para mim:
- Hoje está bem disposto?
E esfregando nervosamente as mãos, com receio de uma resposta desencorajadora, embora a previsse, como certa, na minha cara, ia dispondo as pedras do seu xadrez:
- Você já reparou, Jorge, no modo como um doente inicia o relato das suas queixas? Não é por acaso que ele situa a doença num local, num acontecimento, numa dor ou numa alegria. Medite você neste exemplo. . .
E vinha o exemplo. Acabado de colher na apanha dessa manhã. A ingénua solenidade daquele nariz grosso, da lenta ptose das pálpebras! Eu não o ouvia. Via-o, observava-o.
- . . .E assim é. (Já me arrependia de não o ter escutado. Agora ser-me-ia difícil recompor o fio da meada.) Todos os nossos hábitos, o simples gesto de roer uma unha - mas fiquemo-nos pelos hábitos, para não falar de coisas mais importantes -, têm uma marca. A nossa marca. (”Nenhum de nós põe na morte a sua assinatura”, quem dissera aquilo, eu ou Clarisse? com que remoto azedume?) A nossa marca. Não vamos mais longe: mesmo que eu não soubesse qual é o seu carro, identificá-lo-ia pela maneira como você o arruma. De esguelha. Sempre de esguelha, ainda que lhe sobre espaço que chegue para um camião. Ora, a doença tem também, em cada um de nós, um terreno, uma expressão. O doente sabe isso.
A Maria Armanda punha-se séria. Uma enfermeira que pedira um chocolate quase em segredo desceu do banco, suavemente, comprometida. Sentia-se ali a mais. É verdade: se alguma coisa, entretanto, tivesse acontecido lá embaixo, depois da minha saída, decerto que a enfermeira me teria telefonado. Olhei o telefone, a esperar dele uma confirmação. Olhei-o como se ele fosse retinir imediatamente.
Eis a ponta do cigarro a queimar-me os dedos. Nunca havia um cinzeiro naquele balcão! Voltei-me bruscamente para o Romualdo:
- E a morte? Também se lhe pode reconhecer a nossa marca?
A Maria Armanda tinha ido a correr buscar um pires onde eu esmagasse a beata. Empurrou-mo atabalhoadamente, aflita, não fosse perder a réplica. Romualdo teve um sorriso breve e laborioso. Parecia recuperar energias abaladas, como os pugilistas ao sentarem-se junto às cordas, no intervalo entre dois assaltos.
- vou contar-lhe uma pequena história. A si também, é claro, Maria Armanda, embora nunca a tivesse contado a ninguém. - Escorropichou a chávena de café prudentemente doseado com umas gotas de leite. - Um dia tocaram à campainha de minha casa, a campainha da porta da rua. Eu vivia num sexto andar. Passou-se muito tempo antes que alguém aparecesse e eu desconfiei que um tipo qualquer se fizera engraçado a tocar à porta só para nos criar expectativa. Há gente dessa. As pessoas divertem-se com as coisas mais incríveis. . .
- Eu fiz-lhe uma pergunta, Romualdo - cortei, amedrontado com aquela pausada verborreia.
- Bem o sei. Estou a responder-lhe - e o Romualdo cruzou as mãos num gesto beato. - Ninguém aparecia, ia eu a dizer, e, por isso, tomei a iniciativa de espreitar o elevador e as escadas. Não tinha sido brincadeira, não: Alguém vinha a subir. A subir esforçadamente. Era meu pai. Trazia um cesto pesado que ia mudando de mão. Fui ao seu encontro, olhei-o e soube logo que ia morrer. E parecia pedirme já desculpa da sua morte, do incómodo da sua morte. Meu pai fora sempre uma sombra que se fizera sombra para não perturbar os demais. Só ele poderia morrer assim. ”Por que não se aproveitou do elevador, pai?” Ele sorriu com humildade, a pedirme desculpa de não saber lidar com elevadores. ”Mas cansou-se tanto!” Ele sorria ainda. Pedia-me desculpa de se ter cansado. Entrou, sentou-se numa cadeira. Tinha a face exausta, cor de cidra, e o colarinho, de tão largo, parecia o de um clown. Todas as vezes que me lembro disto dá-me a sensação de que ele não chegou a levantar-se mais dali. Que morreu ali, depois de todos nós, a família e eu principalmente, que era médico, termos deixado que a doença o apagasse sem ninguém se dar ao incómodo de a estorvar. Só meu pai poderia morrer desse modo.
Soubemos que Romualdo acabara porque esticou o braço até ao prato com bolos. Escolheu mais um, não ao acaso, mas medindo bem se ele valia a preferência. A Maria Armanda, de pescoço distendido, dir-se-ia que engolira um osso. E eu. . . eu procurava safar-me do eco perturbante da confissão do colega. Safar-me desse sentimentalismo mistificador. Que resposta, afinal, me dera o Romualdo? Nenhuma. Ainda esperara que ele nos fosse dizer como lhe parecia que nós, médicos, encaramos a morte - a dos estranhos e a dos familiares. A morte de um pai, por exemplo. Nada disso. Vazara a sua ferida oculta
- . . .e ei-lo a comer bolinhos; tal como a Maria Armanda, tal como todos. Esta sua atitude apenas me legitimara o que pensara antes: a vida tinha de ser isso mesmo, a mistura indecente de coisas opostas, coabitando sabiamente, sem pejo. Sem pejo, sem pejo - para que não enlouquecêssemos todos.
- Mas deixemos isso, Jorge. Esta noite estive a matutar noutro assunto. Vai ouvir - e limpava os cantos da boca ao guardanapo de papel.
O Romualdo, só porque lhe palpitara que eu estava num dos meus bons dias, iria filar-me por uma hora das puxadas. Via-se logo pelo embalo da farsa. E, perante essa convicção, de pouco me adiantava sair dali: ele acompanhar-me-ia às escadas, à consulta, a qualquer parte, encarando as pessoas que se metessem de permeio como hereges desprezíveis. Só me podia valer a entrada em cena de uma nova e importante personagem. Lembrei-me, então, do Guedes. E, naquele momento, ele tornou-se o patife mais desejado de todo o hospital. No intervalo entre duas fraldiqueirices, o Guedes também costumava saborear a sua xícara de café. Tive uma ideia:
- Um momento, Romualdo. Agora me lembro de que o Guedes andava à sua procura. Tem uma urgência danada em falar consigo.
O Romualdo entrelaçou as mãos. Deixou-as meditar por uns segundos. O rosto parecia o de um confessor que tivesse ouvido, há instantes, um desabafo inoportuno mas suficientemente grave para, nele, concentrar a atenção.
- Ah, já sei. - E puxando-me de lado: Você ouviu dizer que ele tem feito o diabo para ser escolhido entre os peritos na questão das ”alcachofras”? Penso que ele cheirou ali uma mina. Se os tipos apanham o subsídio, o Guedes aceitará deles, como direi?, uma lembrança de Natal. . .
Eu devo ter feito uma careta, e tão persuasiva ou tão enojada, que o Romualdo, seraficamente, logo ajuntou;
- A silva nasce com o espinho com que há de picar.
Era uma história escura. Uns ”tipos”, como dizia o Romualdo, trabalhavam, havia anos, num novo método empírico de destruição das células malignas. Tinham descoberto nas montanhas de Andorra uma planta selvagem, de virtude, que, pelo modo como era reproduzida nas embalagens, dava certos ares de alcachofra. Daí, chamarmos-lhe, por sugestão das fitas de quinze episódios, ”alcachofra H-5”. Os tais fabricantes do extrato vegetal viviam como eremitas, dizia-se, a sua descoberta era mercê divina. Procuravam-nos bandos de jornalistas que mascavam pastilhas elásticas e precisavam de leitores. Conseguiam-nos, claro, nem que para tanto fosse necessário inventar um cataclismo. A cabana dos monges era ainda, naturalmente, assediada por doentes de esperança desgastada; acorriam de toda a parte do adro da romaria. O trágico pitoresco da história, porém, nem estava no misticismo da cabana nem nas alcachofras: aparecera de surpresa em Lisboa um biologista a crismar-se mentor dos iluminados de Andorra: a ciência, as investigações, o génio, eram dele. Os outros apenas faziam a safra no local. E o biologista propuserase merecedor de subsídios de uma fundação de largos cabedais. Aí entrava o Guedes em cena. Alguém deveria estremar o joio do trigo - se é que não se tratava de mais uma negociata -, e o Guedes logo se metera na bicha dos prováveis inquisidores. O Guedes aparecia em todo o lado e saltando por cima de toda a gente: nas conferências, nos simpósios, nas redações da revistas médicas, nas empresas de indústria farmacêutica. Sempre com muitos livros e papéis debaixo do braço. Sorria, dizia que sim a qualquer opinião, intrigava, rastejava e, por detrás dos seus óculos severos, os olhos enigmáticos, escorregadios, moviam-se como peixes num aquário turvo. Ele transformara a doença numa banca de quinquilharias. O Guedes, já de si, era um guizo. Ou melhor: uma réstia de guizos.
O caso de Andorra tinha, evidentemente, precursores. Lembrava-me que um ano antes nos chegara a notícia de que um sábio, na Austrália, havia, enfim, topado a mezinha milagrosa para os nossos doentes. O chefe sugerira-me uma tomada de contacto. ”Nunca se sabe”, dissera ele, como diria um benziIhão. Obedeci. Veio de lá um impresso cabalístico, de vigarista ou de mitômano, que misturava um cornposto químico com umas rezas para a salvação do mundo. Um composto, no entanto, que custava os olhos da cara. Foi pena que não obrigassem o chefe a pagá-lo do seu bolso.
E de outra vez, em Moçambique. . . Não vale a pena contar. Nada está mais perto do riso que o drama. E quando eu fazia chalaça com coisas dessas sentia, cá por dentro, um punho fechado de revolta e vergonha.
Naquele momento, porém, o que interessava era que o Romualdo descesse a averiguações, poupando-me. Mal sabia eu que a farsa das alcachofras acabaria por me enrodilhar. E por culpa de Clarisse. Culpa? Tenho medo das palavras como de uma serpente enrolada. Nunca se sabe o tamanho que têm, antes de as forçarmos a desenroscarem-se.
Quando, dois dias depois, voltei à enfermaria (e essa ausência, para os outros caprichosa, fazia-me entrar ali com um pueril sentimento de culpa), Clarisse fixou-me, do seu canto, demoradamente. Ao primeiro ensejo, disse:
- Tenho aqui um alto no pescoço para lhe mostrar.
Aquilo era para as outras ouvirem. Quando lhe chegasse à beira, já poderia falar-me sem grandes precauções: entre a sua cama e a das companheiras mais próximas havia umas vagas. Até certo ponto, propositadas. Fora eu o autor da manobra. Isso permitia-lhe sentir-se menos devassada e, como naquela ocasião, dizer coisas que só a ela interessavam.
- Acha que sou bonita?
Pintara-se. Suponho que pela primeira vez. Os cabelos, prendera-os sobre o nuca, desajeitadamente.
- É evidente que sim.
- Agrada-lhe que eu seja bonita?
- A beleza agrada a toda a gente. .„ - A si também?
- Decerto.
A queimadura na nuca. No entanto, fazia por sorrir, imbecilmente. Incrível que eu suportasse aquelas tolices - por muito que as circunstâncias fossem singulares. Mas eu devia ter desistido, de há muito, de procurar coerência, para não dizer virilidade, nas minhas reações dos últimos tempos. Clarisse tinha uma expressão apaziguada. Levara as mãos aos cabelos. Tentava domesticar ainda um ou outro mais rebelde.
Lúcia acompanhara-me na visita (ou melhor: seguira-me) e havia recuado irritante e discretamente ao ouvir o começo da conversa; levou mesmo a sua indesejável cumplicidade ao ponto de distrair, não sem astúcia, as outras doentes. Por fim, com o seu disciplinado tacto, veio abertamente em meu auxílio:
- O diretor pede-lhe que desça ao gabinete.
Percebi-lhe muito bem as intenções, talvez todas as tivessem percebido (e por isso me correu uma onda de fogo pela cara), e a sua intervenção mais me fez sentir responsável pela anormalidade do diálogo. Não era por acaso que essas coisas aconteciam. Onde estava o meu erro?
- Ele pode esperar, não lhe parece?
Ao fim da tarde, encontrei Clarisse no corredor. De novo troçava das proibições do regulamento, era uma pretensiosa. Tinha de metê-la na ordem.
- Vejo que não se dá bem com os ares da enfermaria.
- É provável. Nem na enfermaria nem em qualquer outro lugar desta casa. - Fez uma breve pausa. - Mas não é por isso que estou aqui.
- Pode saber-se o motivo? ...
- Estava à sua espera.
- Mais perguntas?
Não, daquela vez não havia perguntas. Soube-o antes que mo confirmasse. O rosto de Clarisse assumiu uma expressão grave, voltou a cabeça o suficiente para que não parecesse olhar para mim, embora continuasse a ter-me sob a sua aguda observação, e declarou num toro neutro:
- Não precisa de se enfadar mais com as minhas perguntas. Quero dizer-lhe que me vou embora.
As minhas narinas despejaram duas grossas fumaradas. Ia nelas boa parte do meu nervosismo, não tanto, porém, como seria necessário.
- Está no seu direito. Mas - e soprei o resto do fumo, esticando o beiço inferior - não lho aconselho.
- Guarde os conselhos para quem se deixe intrujar.
Alguém vinha ao fundo do corredor, e pus-me de costas para evitar o cumprimento.
- Está a exceder-se, Clarisse.
- Não lhe perdoo o tempo que me fez perder. Dizia tudo aquilo com alarmante tranquilidade.
O perturbado era eu.
- Foi então para isso que veio aqui? Estou a desconhecê-la. Julguei-a mais equilibrada e razoável.
- Conhecer-me?! - Parecia uma mola a saltar de uma caixa de surpresas. - Conhecer-me. . . Já se deu a esse trabalho?
Um novo intrometido desembocou por uma porta lateral. Todo ele se abriu logo num sorriso, o pateta! Quanto aquela gente, meu Deus, se pelava por uma saudação! Ia obrigar-me a repetir o mesmo jogo de escondidas.
- Domine-se, Clarisse - retorqui, enquanto os meus dedos torciam os tubos de borracha do auscultador, negligentemente descaído sobre o peito da bata. Mas a negligência era só aparente. Por isso ma imitavam. - Só você poderá ter mão nos seus nervos. É muito importante que o consiga.
- Importante? Importante para mim ou para o senhor? Ser uma vítima dócil, para sua comodidade? - E antes que eu tentasse, com um gesto, impedir-lhe mais disparates, exasperou-se: - Quero apenas sair deste inferno, e ninguém me estorvará. Ninguém poderá estorvar-me, não foi mesmo o senhor que o disse? Ainda lhe ficam muitas para que se regale com o espetáculo.
Já me haviam agredido com aquelas palavras, ou semelhantes, mas sempre de outro modo. Estas laceravam-me feridas ainda ensanguentadas.
- Terminou?
- Sim, terminei.
Creio que ela esperava de mim fosse o que fosse. A aflita expressão dos olhos contradizia o sarcasmo da sua boca. No entanto, afastei-me, vagarosamente, hesitante, defraudando-lhe a ansiedade. Não sei bem, aliás, o que me fazia hesitar ou qual a hesitação.
Quando entrei no gabinete, uma fadiga pesada e definitiva inchava-me os braços. De um modo entediado, apoiei-os na secretária. Nunca sentira, até aí, tão funda e maciça inutilidade. Clarisse tinha razão. Qual era o meu papel junto dela e dos outros? com que argumento válido, leal e justo os encarcerávamos? Pois não era tão pouca a vida, a vida deles, e tão imensa, urgente e legítima a fome de a viver? Ia decidir, de vez, mudar de serviço. Nenhum espertalhão me seguraria mais ali.
Não foi logo que dei pela presença de Lúcia. Quando me voltei, já ela despira a bata e, maquinalmente, em gestos brandos, aquecia a inevitável geringonça do café. Odiei o café. Odiei-lhe os gestos.
- Ainda se demora no hospital? - perguntou. Palavras de veludo. Vermes de pêlo acetinado.
- ... Se não demorasse, esperava por si. Dava-me uma boleia...
- Já veremos isso.
Lúcia deitou-me um quadrado de açúcar na chávena. Roçou-me o braço pelo ombro.
- Prefere este ou o lá de cima?
- Este, quê? Que quer dizer com essa pergunta? - repliquei num exaspero a despropósito.
- Céus, que assanhado! Falo de café, evidentemente. Apenas de café. . . Estou interessada em acertar com os seus gostos. Ao menos, pelo que respeita ao paladar.
Nunca se sabia quando Lúcia tinha ironia nas palavras, de tal modo aquela serenidade parecia límpida e desarmada.
- Tomo os venenos sem lhes averiguar o sabor.
- Um cumprimento perfeito. Faz progressos. Em tempos, se não estou em erro, disseram-me, ou melhor: preveniram-me que as suas amabilidades eram de javali.
Aquilo sabia-me a lisonja e fez-me sorrir. Lisonja? Pela primeira vez duvidei. Efetivamente, até aí, eu olhara os outros como se a vida fosse uma selva, habitada, porém, mais por símios e raposas ladinas do que por leões. Os leões têm nobreza. O animal feroz mata para se alimentar. A ferocidade do homem tinha mais requinte: escolhia as vítimas com regalada antecipação, preparava-as de longa data para o momento do sacrifício. E os que nem chegavam a ser feras? Esses eram a fauna cuja carne insípida os dentes rejeitam e que, seguros da sua mediocridade, garantiam ser possível passar-se indene entre duas fileiras de crocodilos. Mas Lúcia sabia que a vida não era uma selva. Acreditava tanto nos homens, penso eu, quanto os místicos no absoluto. E, mais ainda, ela iria jurar a pés juntos que eu acreditava também. Lá lhe parecia que o meu ofício era o único responsável por esta quebradiça armadura de incredulidade.
- De fato, tem feito progressos - repetia ela, certamente com reservada intenção.
- Os progressos são seus.
- Então ponhamos as coisas no devido pé: fazemo-los ambos. Se a minha timidez deu um pouco de si, a sua suficiência também começa a abrir algumas brechas.
A chávena que eu tinha nas mãos esteve prestes a escolhê-la como alvo. Gostaria de ter acertado muito particularmente naquele beiço negróide. Porém, em vez de lhe replicar asperamente, inquiri, com mal contido alvoroço:
- ... Ouviu o que ela disse na enfermaria?
- Refere-se a Clarisse?. . . Ouvi qualquer coisa.
- Você ouve sempre muitas coisas.
- ... Quando as pessoas não se mostram muito preocupadas em que as ouçam. Creio que foi esse o caso da sua doente.
Aquele ”sua doente” era uma navalhada.
- E que lhe parece, agora que a sua celebrada timidez se transformou em bisbilhotice?
- Onde isso vai! Nunca julguei que os nossos progressos fossem tão nítidos, meu caro. Pelo que lhe toca, a sua amabilidade começa a tornar-se enleadora, de tão insistente. Quanto à minha timidez. . .
- Ainda não me respondeu.
- Bem, como queira. . . O que ouvi à sua doente. ..
- ... À nossa doente.
- ... nada acrescenta ao que já sabemos, se se refere ao aspecto profissional do assunto. . . Foi uma reação como qualquer outra, desde que se trate de uma mulher. Uma reação bem feminina. Embora você não seja muito sutil nas coisas que nos dizem respeito, admiro-me que tenha ainda surpresas com estas doentes. - As suas pupilas hesitaram ao esquadrinharem-me a sombria expressão, e logo acrescentou: - Desculpe, se isto lhe parece uma ofensa. Mas juro-lhe que não é.
- Acha então que sou impenetrável aos meandros da psicologia feminina? . . .
Lúcia não aceitou o tom galhofeiro da minha pergunta. Pôs-se muito séria, quase magoada.
- Sinceramente: acho que sim.
As posições entre mim e Lúcia, era um fato, tinham-se invertido. Enquanto sorvia os últimos goles do café, lembrei-me de um velho sapateiro, bonacheirão, pau para toda a colher, que um dia resolvera estudar ao espelho uma braveza de todo o tamanho, já que dentro de si existia apenas uma complacência preguiçosa e abúlica, que os outros pisavam como lhes dava na gana. A minha rispidez era, afinal, a do sapateiro bonzarrão. Mas já não iludia ninguém e muito menos Lúcia.
- Vamos então. Este café já não é o mesmo. Amarga.
- Ah, pelos vistos sempre saboreia os venenos! . . . Não culpe o pobre café! Você é que tem a boca azeda, meu caro. Sabe que fico muito satisfeita de me dar uma boleia?
Olhei, pela janela embaciada, as casotas pobres que se aninhavam do outro lado da cerca do hospital. Assim tão encolhidas umas com as outras, rasteiras e medrosas, pareciam-me velhinhas friorentas a disputar um raio de sol. Cidade de contrastes. Naquele descampado, que as escavadoras tinham esquecido, viam-se ainda, às vezes - e eu bem gostava de apreciá-los -, rebanhos de carneiros, assustados do burburinho à volta. Roíam a erva seca, já inseguros, o instinto a acautelá-los do açougue próximo. Cidade a esconder uma irremediável cepa provinciana.
Finalmente, deixei desprender a notícia:
- Clarisse disse-me há pouco que saía do hospital.
Lúcia fechava no armário a minha bata e nem se voltou.
Na manhã seguinte, a cama de Clarisse, na enfermaria, tinha mudado de dono. Ela cumpriria o que me havia anunciado. Toda a enfermaria, de súbito, me pareceu deserta e a minha missão, ali, sem objetivo.
Loucuras pela cidade. Era muito vista nos dancings e nos salões de jogo. Não era a primeira a quem isso acontecia. A maioria confundia prazer com desvarios. As pessoas tinham dentro de si, secretamente, uma atração pela imundície. Se dessem dois dias de tréguas a um condenado, como iria ele aproveitá-los? Retificando egoísmos, perfídias, cobardias, completando o capítulo inacabado de qualquer coisa perdurável? Não: mergulhando no lodo, atulhando as narinas com o fedor das podridões. Todos os mortosvivos da minha clínica, assim que os freios se soltavam, corriam para um único e ardente objetivo: o de experimentarem o que, até aí, as convenções lhes tinham vedado, calcando a pés juntos, como possessos, milenárias inibições. Talvez porque o desespero se atordoasse mais depressa com o vício? Era preciso que os sarros lhes refluíssem às bocas, que a náusea de si próprios os cobrisse de uma epiderme surda, definitiva e impenetrável, amortecendo-lhes a terrível lucidez de chegar ao fim. Deter o tempo. Anestesiar o cérebro e os sentidos.
De uma vez um homem tranquilo (identifico-o ainda hoje na minha memória pelos abafos e galochas de burguês temeroso das gripes) pedira-me que lhe demarcasse, com a precisão possível, os seus últimos oito dias de existência. E na sua voz domesticada em anos de obediência ao chefe da repartição, ao orçamento, às fórmulas (”Repare que lhe peço apenas oito dias, senhor doutor”), dizia-me que queria morrer sentindo a plenitude de quem participou das sensações saboreadas nos sonhos que ficam secretos. Um estômago esfomeado que só antevê uma brutal e suicida indigestão. (Recordo ainda as suas mãos. Eram elas que verdadeiramente falavam, mais explícitas que a voz domesticada. Mãos de uma doçura branca, que, junto do rosto, se torciam numa dança nervosa e desbordante.)
Uma pergunta emudecera, por momentos, na minha garganta.
- Por que oito dias? Posso sabê-lo?
As mãos do homem, envergonhadas, suspenderam a sua linguagem.
- O dinheiro não me chega para mais. Furtara-me de qualquer maneira a uma resposta - embora a pretensão do doente de modo nenhum me tivesse parecido aloucada. As coisas extraordinárias podem tornar-se vulgares; depende dos ouvidos que as escutam. Ora, já disse que o nosso mundo (o meu e o deles) nada tinha que ver com o da outra gente. Oito dias. Furtara-me por mim, com o corpo ensopado num lívido suor de terror, e não por ele, legítimo dono da sua coragem. Mal sabia o amanuense que, antes dessa última semana, tudo estaria terminado. Que dele restaria uma carcaça sorvida, como a dos insetos mortos depois de esvaziados pelo sol do verão.
- Se assim é, doutor, vou eu marcá-los, e prometo não me enganar.
O homem foi leal à sua promessa. Passou oito dias num bairro donde, em certas horas, fogem os burgueses, salvo quando na companhia de turistas ou de amigos excêntricos mas respeitáveis. Já lá fui - sem comitiva nem turistas à ilharga: as lâmpadas das casas de má nota, na espessura roxa da noite, parecem os olhos pérfidos de um gato. Foi ali que, no último desses dias, gasto o dinheiro com escrupulosa pontualidade, o homem se suicidou.
As notícias que me chegavam de Clarisse perturbavam-me, mas de um modo confuso. Era uma reação ainda mal clarificada. Inquietante, porém. Qualquer coisa que me tocava intimamente e com o gosto a traição. Um gosto verruminoso. Nunca, aliás, pudera admitir a ideia de que um doente me abandonasse, embora esse ressentimento se fosse atenuando, ou se perdesse, no correr dos dias. Mas no caso de Clarisse o ressentimento avivava-se de cada vez que procurava imaginá-la liberta da minha vigilância. Não me acudia perguntar, porém, aonde essa vigilância a poderia conduzir. Se o fizesse, achar-me-ia a sós com o meu orgulho.
Danctngs, era a pista. E numa das noites. . . Passei a cerca do hospital, o porteiro avançou dois passos da guarita, reconheceu-me (ou ao carro) e tirou o boné. ”Siga”, parecia ele condescender. ”Anda para aqui a desoras como uma fêmea aluada.” Se o disse, ou pensou, tinha as suas razões. O corpo central do edifício empina-se sobre os ombros dos pavilhões laterais para que mais alto fique o relógio que ele abriga. Reparei que o ponteiro progredira uns minutos além da meia-noite, naquele seu jeito velhaco: o ponteiro finge que não anda, mas de tanto em tanto tempo dá um salto repentino, a gozar a nossa expectativa. E por cima do relógio há umas lâmpadas violentas. Parecem iluminar um estádio deserto. Não é bem assim: iluminam as árvores e a erva conscienciosamente aparada, dão-lhe um tom verde, falso, de cenário. Árvores quietas, que a noite agiganta, espectros verdes - árvores são já presenças. E talvez, afinal, iluminem também os invisíveis espectadores, pois é neste silêncio repleto que eu ouço não aplausos nem incitamentos, mas gritos. E, se eu os ouço, alguém terá de gritar. Alguém está a gritar.
O automóvel foi seguindo precavidamente entre os renques de faias imóveis, e, na verdade, eu sentia que não estava só. Havia hálitos e rumores que, decerto, não provinham apenas da meia dúzia de janelas turvamente iluminadas em cada andar, onde dormitavam os que julgam estar atentos ao sobressalto dos hóspedes cativos.
Pois foi com disparates assim na cabeça que, como habitualmente, me dirigi a uma portinha humilde, destas que servem aos aluados que entram num hospital depois da meia-noite. Toquei rio botãozinho escuro, atrevido como um mamilo que se desnuda (era o halo das lâmpadas que o desnudava, tornando-o impuro, escarlate), e o botão produziu aquele som remoto de campainha a ressoar, perdida, numa casa vazia. Não sei ao certo o que se passou comigo: antes que alguém viesse atender, retrocedi. À saída, o porteiro repetiu o ritual: os passos, o boné, a saudação; só a mais o espanto, mal contido, de me ver de regresso instantes depois. Mas um porteiro que se preza não deve ter surpresas com as pessoas de seu cortiço. Cabe-lhe conhecê-las como ninguém.
Sim, foi nessa noite que não me contive e decidi descobrir Clarisse. (Tentei dar-vos, com isto que fica para trás, uma sugestão do quanto não me encontrava muito bem da cabeça.)
Dancings. Mas a pista não era assim tão esclarecedora como, de começo, eu podia supor. Pus-me a catalogar palpites: qual desses antros teria preferido uma rapariga no estado de espírito de Clarisse? Provavelmente, ou um desses covis soezes onde nenhuma mulher decente consentiria em enfiar o nariz (lembrem-se da escolha feita pelo meu burguês de galochas), ou um daqueles lugares falsificados, nem carne nem peixe, que oferecem a oportunidade excitante de coabitarem lado a lado, numas tréguas frustes, a aristocrata e a meretriz. Os tais lugares onde se admite uma aventura para esquecer no dia seguinte, cujo sarro é um farrapo de sonho, e que serve para vazar apetites inconfessados. Por outro lado, mesmo que eu fizesse um prognóstico exato das reações de Clarisse, nem por isso me pouparia a tentativas falhadas, pois, de dancings, só lhes conhecia os reclamos de um vermelho vicioso, que nos acenam naquelas noites ermas.
Comecei por um deles, ao acaso, o mais próximo da avenida solene onde terminava o mundo das pessoas que têm horas certas para entrar em casa. Passei várias vezes pela porta, numa timidez de campônio, fingindo estar muito interessado numa montra de samarras ali estranhamente encastoada (ah, havia uma loja de adeleiro na cave), antes de me decidir a uma espécie de mergulho. Quando voltei à superfície, os olhos estavam encandeados. Não de luz, mas de uma lívida penumbra. Quis desde logo convencerme de que Clarisse não estava entre aqueles rostos informes, magicamente idênticos, que se moviam como seres fabulosos, num cenário não menos fantástico. No segundo em que entrei, nem por isso a minha investigação foi mais minuciosa. Era ali um instruso, mesmo que, de queixo aproado para a frente, fizesse crer que acontecia precisamente o contrário: transpunha o átrio, misteriosamente embuçado num grosso cortinado, vestindo a pele de um adolescente a quem vão pedir o cartão de identidade e, lá dentro, sentia a nuca queimada pelos olhares de toda a gente.
- O cavalheiro deseja mesa?
As palavras acompanhavam-se de um sorriso de raposa sabida. Quer dizer que, dessa vez, me demorara o bastante para que procurassem reter-me.
Assenti com a cabeça, mãos caídas, negligentemente, nos bolsos.
- Tem ali uma mesa junto à pista.
- As atrações não demoram?
Pergunta de entendido. (Nem sombra de Clarisse, mas como escapar-me, sem mais nem menos, depois de ter enfiado o pescoço no baraço?)
- As variedades começam à uma em ponto. Daqui a nada. Que deseja tomar?
- Martíni.
- Perfeitamente. com ou sem gelo?
Gelo, uma palavra concreta. Uma corda que se desprende de um instrumento afinado e nos arranha os sentidos - pois a luz, as vozes, os gestos, dir-se-ia flutuarem numa névoa de lúgubre irrealidade. O criado sorria. Um sorriso que era uma fenda de escárnio. Tudo isso, porém, me fazia acentuar o jeito pimpão. Em mim, timidez é arrogância.
A minha busca poderia ter ficado por ali. Um ponto final peremptório na ideia caprichosa de trazer Clarisse ao redil. Se era uma questão de luas - como acontecia a Lúcia, como acontecia a Clarisse -, bastar-me-ia, por exemplo, chamar o criado e dizer-lhe, um dedo apontado ao seu arzinho de raposa: ”Você é tão amável que me dá vontade de lhe escovar a fachada”. E um de nós ficaria, sem dúvida, a precisar de concerto. Nada melhor do que isso para ir direito a casa e adormecer de nervos afrouxados. Mas a minha romagem pelos dancings já era também amorpróprio. Se eu viera para fazer de anjo da guarda de Clarisse, havia de consegui-lo.
Encontrei-a, por fim, não muito longe dali. Vi-a logo que passei a entrada em arco, ao fundo de um corredor que parecia um túnel escarlate. Ela dançava com um destes imbecis que olham as mulheres com a indulgência de quem lhes basta um aceno para as pôr de rojos. Clarisse tinha a cabeça encostada ao peito almofadado do rufia e o seu corpo arrastava-se entre os dançarinos, reduzido a uma súplica. A emoção enrolou-se-me nas goelas. Uma emoção grotesca, mas não valia a pena tentar discipliná-la ou esclarecê-la: como aquelas dores físicas que, de tão verdadeiras, se exaltam ao procurarmos anestesiá-las. Só me apetecia ir defender Clarisse, à bruta, das mãos hediondas daquele tipo, do engodo da atmosfera entorpecente, ir buscá-la para a acariciar como a uma criança tonta que teve um gesto inútil de rebeldia.
Sentei-me num dos bancos altos do balcão, no único livre, entre duas mulheres. E logo os cílios nasais me ficaram saturados de um perfume pruriginoso. Apetecia-me espirrar. Elas conversavam animadamente uma com a outra. Mexericos. E não percebi porque tinham deixado aquele banco vazio de permeio, tanto mais que nenhuma delas se mostrava interessada na minha presença. Continuavam a trocar frases curtas e rápidas, como bolas de pingue-pongue lançadas por cima de uma rede. Eu era a rede.
- Martíni. Sim, com gelo.
Sempre martíni, sempre com gelo. Aliás, não saberia pedir outra coisa. A não ser uísque. Mas não gosto de uísque. E agora, que encontrara Clarisse, que iria fazer? Aí a tens, por que esperar? Acendi novo cigarro para que as ideias se arrumassem. As ideias e, sobretudo, os nervos. Estava aparentemente sereno, de testa levantada, desdenhosa, mas sei que essa serenidade encobria um mar absurdamente agitado. Observava Clarisse: o seu olhar, com breves relâmpagos de sofrimento, transbordava do rosto delgado, onde o suor refletia por instantes a luz enfermiça que ardia em volta. E quanto mais durava a observação mais sentia que esta Clarisse era uma desconhecida. Não me dizia respeito. O meu jogo ia terminar após esvaziado o copo de martíni. Agora, que o sabia, voltava a reencontrar-me em corpo inteiro.
Uma das mulheres, a do perfume que me fazia coçar o nariz (e não lhe chamo rapariga porque a pele do pescoço, mesmo sob o disfarce do colar de várias voltas, lembrava a de uma galinha depenada), disse, apontando furtivamente uma mesa:
- vou eu ou vais tu?
A outra, então, avaliou-me. A sua resposta dependia, claramente, dessa inspeção de profissional experimentada. E decidiu, por fim, numa voz arrastada de lassidão:
- Vamos ambas.
Concedeu-me, não obstante, um sorriso ao descer do banco. Uma espécie de apólice de seguro, acautelando a hipótese de um fracasso junto do gorducho que, da sua mesa, as cortejava de expressão babosa. Que tinha de obsceno aquele homem? Ah, as orelhas: dois brincos de carne a penderem-lhe, indecorosos, dos lados da cabeça.
Agora, sim, já me podia sentir espectador entre aquela fauna. Nem um só músculo se me contraía. Agora estava liberto. A maioria das vezes não conseguia avistar Clarisse, encoberta pelos outros pares; ou antes: via-a através de clareiras fugazes. Mal deslocava os pés. Pareceu-me embriagada. Voltei-me para o balcão. Um dos lugares a meu lado teve, depressa, quem o ocupasse. Uma loira que usava óculos escuros. Não sei que pretendia ela esconder, pois os seus olhos pareceram-me doces e joviais. A loira abriu imediatamente a carteira, tirando de lá uma carta que já devia ter sido lida muitas vezes. No entanto, releu-a de novo. Primeiro só com os olhos, depois murmurando-a ritmadamente, como quem recita uma poesia; e depois, ainda, levantando a voz, em certas passagens que lhe afagavam os ouvidos. Mirou-me de esguelha e, gradualmente, foi aproximando um cotovelo. Por último, dava-me talvez a entender que também eu poderia usufruir a leitura.
- / mis s y ou. . . Não acredito que mis s seja ter saudades. Misses são aquelas que ganham concursos. Mas não as de cá, que são todas uma possidônias.
Neste ponto, foi nítido que esperava a minha opinião. Tão flagrante que tive de lhe responder:
- Não sou forte em inglês. Nem em misses. Ela arrastou o banco, sem mais demoras, até o seu braço roçagar o meu.
- Ah, mas é forte noutras coisas!
E esquadrinhou-me aprovadoramente, dos pés à cabeça. Curvou depois o dedo mínimo da mão esquerda, de um modo gaiato, que tinha a sua sedução, e o criado serviu-lhe qualquer mistela. A partir daí, creio que as coisas se poderiam passar como se fôssemos velhos amigos de escola. Divertido. Eu começava a achar divertido.
- Esta carta foi escrita por um marinheiro americano. Sargento, ou mais do que isso, claro. Escreveu-ma, a mim, sabe? Você é simpático. Olha, como ele ficou logo vaidoso! Ele trata-me por darling, não é engraçado? Oh, nunca recebi uma carta assim. Darling é querida. Ele foi um companheirão quando por aqui passou. Tinha uns ombros como o senhor.
O prurido - já não era perfume - reavivou-se. E sentia um prenúncio de falta de ar. A rapariga era uma grafonola. E nisso vi que a mão de Clarisse pousava, pássaro tímido, na nuca do imbecil. Apenas um gesto de acaso, ou uma carícia. Não pude acertar na hipótese mais provável, pois, de novo, ela desapareceu do meu ângulo de visão. Lá estava eu a enfurecer-me parvamente.
- Desconfio que não ouviu nada do que eu lhe disse. . . É ou não é verdade?
Claro que não era verdade. Mas enquanto lhe afiançava, sacudindo veementemente a cabeça, que sim senhor, não perdera uma palavra, ia meditando nesta resistência absurda de Clarisse, e de outros doentes como ela, ao esgotamento e ao pânico de um viver dilacerante. Absurda fora, porém, a minha intenção de a recuperar. Para quê? Aquela mão sobre a nuca era uma carícia. Estava no seu direito.
- Queres ver? Já te mostrei?
Já não era a mim, ouvinte distraído, que a rapariga se dirigia, mas a uma das companheiras que momentos antes me ladeavam e que voltara para o seu banco depois de deixar o campo livre à preferida pelo sujeito das orelhas de elefante.
- De que se trata?
- A carta. Não ta mostrei ainda? Olha, ele diz aqui: 7 miss vou, my fleshy doll. É uma frase bonita. Doll é boneca, sou eu. Que giro, não é?
- Ora, papéis. . .
A carta tremeu nas mãos da rapariga; as suas doces pupilas vacilaram, desnorteadas, buscando em mim um apoio ou uma ironia. Mas foi uma hesitação breve. com um entusiasmo que não podia dar-se por vencido, empolado e agudíssimo, quase gritou:
- Ele chama-me querida em toda a carta. Darling, darling! E aqui este fleshy é carne, mas não é carne de se comer. My fleshy doll, minha boneca de carne. . . Sou sempre eu. Não é giro?
A boca da outra desenhou um horrível desdém.
- Tretas. Se calhar, o teu apaixonado escreve essa mesma carta a todas as mulheres com quem dormiu nas viagens.
No meio da face branca, enfarinhada, da rapariga que era uma boneca de carne, não de comer mas de acariciar, abriram-se duas cavernas vermelhas. Todo o seu rosto surgiu, bruscamente, esculpido em lava e iluminado por um brilho de maldade icompreensível.
- És uma cabra, Teresa.
E nisto lançou a carta ao chão e saltou do banco para a espezinhar, uma e outra vez, numa cólera desesperada, como se o papel baço e amachucado fosse uma coisa viva que ela quisesse destruir até ao último estertor.
A cena alertou a maioria das pessoas à roda. Fomos cercados, num ápice, por uma alta e vergonhosa muralha de silêncio. E foi então que Clarisse deu por mim. (E era estranho que eu tivesse associado logo todo o acontecimento ao caso de Clarisse, até mesmo à sua carícia resvalando pela nuca do seu par.) Clarisse deu por mim, lá por detrás de uma bruma que afastara com as mãos. Empurrou o companheiro, sacudiu vagamente os cabelos, a desfazer-se de mais outro obstáculo entre nós, e o seu rosto amarrotado teve uma expressão de súbito alívio.
Quando se aproximou do meu lugar, repetindo o gesto de arredar a cortina dos cabelos, deu-me a nítida ideia de que tudo o mais desaparecera a seus olhos. Eu e ela éramos as únicas pessoas presentes no dancing. Ou mais do que isso: o dancing nunca existira.
- Leve-me daqui. Tenho sono - e apoiou-seme no braço.
O dancing não existia, não. Nada de permeio, nem o tempo, nem as raparigas t a carta do sargento que talvez fosse mais do que sargento, nem os lugares - nada acontecera desde o último dia em que nos víramos no hospital. Era isso que diríamos um ao outro se fosse necessário dizê-lo, isolados como ilhas no redemoinho donde iríamos escapar.
Esquecêramos, porém, que havia comparsas. E, assim, o conquistador de mulheres fáceis foi-se chegando, a gingar com os ombros e as nádegas, a pretender, decerto, assustar-me. Não esperei por qualquer provocação mais definida para lhe atirar dois murros. Eu andava a precisar de uma violência desse género. Mal tive tempo de dar por mim à porta da rua, conduzindo, sem grandes provas de apreço, por uns meliantes espadaúdos, de uma estatura que nunca mais acabava, assalariados da casa. Provavelmente marujos. Persegue-me de há muito a mania de que todos os empregados destas pocilgas são antigos marujos ou, com mais propriedade, a escória da gente do mar. (Todas as profissões têm a sua escória. Não é o Guedes uma delas?) Coisas antigas que se grudam à memória e pelas quais estabelecemos leis e figurinos. De uma vez, aos quinze anos, entrei num bar e quem me serviu a cerveja (uma bebida de homem!) foi um marujo de braços tatuados. ”Este tipo foi marujo, cheira-me”, dizia-me o cabeça do grupo. Se ele o dizia (tinha dezoito anos), devia ser verdade. Aliás, o bar chamava-se ”O Náutico”. Pois o marujo roubou-me na conta, descaradamente, mas, subjugado pelos seus braços e pela tatuagem, não refilei. Essa tarde, por vários motivos, foi muito importante na minha iniciação de adolescente. Todos os acontecimentos que nela se deram - havia feito exame e, como prémio, deixaram-me andar à solta com uns companheiros sabidões - gravaram-se-me profundamente. com ou sem tatuagens, quem ainda hoje me serve nos bares é aquele pirata que me fez gastar duas cervejas por uma.
Posto à força à porta da rua. Como um bêbado ou um patifório. A minha dignidade andava muito por baixo, mas não seria agora a altura de lhe fazer subir a cotação. Todo o protesto resultaria inútil e ainda mais humilhante. Clarisse, aliás, segurava-me pelos braços, interpondo-se entre os cães de fila e a minha fanfarronice em entrar de novo na pocilga. Ela não estava nervosa nem chocada. Pelo contrário. Os seus olhos riam. Ria todo o seu rosto.
- Não o sabia tão folião. . . - Mas, de repente, a sua voz mudou como mudaram os olhos e tudo o mais. - Veio aqui para me procurar? Diga-me só isso, peco-lhe!
- Que a fez pensar tal coisa? - respondi-lhe, levando as mãos à anca dorida.
- Veio, confesse!
Limitei-me a abanar pensativamente a cabeça. com a mesma brusquidão, enquanto os olhos fundos chamejavam como tochas, ela arredou-me:
- Veio procurar a doente ou a mulher?
Num momento, esqueci o dancing, a intervenção dos molossos, a anca dorida. Fixei-a, hirto. Ela não podia saber quanto a sua pergunta me perturbava e também não compreenderia o absurdo de qualquer das respostas que me impunha.
- Passei aqui por acaso.
- E entrou também por acaso, não é isso que vai dizer-me? Mente! É um reles mentiroso.
Senti-me atordoado. ”Um reles mentiroso.” ”És uma cabra, Teresa!” Fui-me afastando devagar, sem saber ao certo se ela me acompanhava. Quando olhei para trás, vi-a ainda à entrada do dancing. As dobras transparentes do vestido ondulavam como asas de seda à aragem que viera estremecer a noite pasmada. Pareceu-me irreal.
Como irreais, de uma irrealidade louca e dolorosa, foram as horas que se seguiram.
Só me fui deitar ao alvorecer. E quando, já cerca do meio-dia, cheguei ao hospital, pesando-me nos olhos todo o denso rescaldo da insónia e das emoções, Cíarisse estava sentada num dos bancos da sala de espera. Agora era mais evidente: tinha emagrecido muito. A luz do dia era cruel a denunciar-lhe a erosão que a consumira. Os olhos, maiores, ardentes, duas crateras incendiadas numa paisagem crestada. Pouco lhe restava da elasticidade nervosa do corpo. Talvez a doença, subitamente, a partir dos acontecimentos da véspera - e tantas vezes isso acontecia -, lhe tivesse domado a voluntariosa e também ingénua obstinação. Aí a tinha, pois. Uma ruína, uma simples coisa de que poderíamos dispor. Essa sugestão de abandono, de cinzenta resignação, foi-me ainda sublinhada pelo quadro do qual ela era um insignificante pormenor: o velho camponês que se sentara à sua beira, um trapo imundo a cobrir-lhe a úlcera do queixo, a muIherzinha, do outro lado, pele edemaciada com a tonalidade do marfim, que tinha as meias desleixadamente enroladas e descaídas abaixo do joelho, marcando o sítio em que as veias intumesciam em rodiIhos escuros. Doença, miséria e pessoas num todo sórdido.
Emendei a tempo a indicação que ia dar à enfermeira para que fizesse entrar Clarice. Já não foi por uma questão de disciplina que me contive, mas pelo receio de que, depois dela, me fosse impossível observar com serenidade os outros doentes. Iludia-me, porém, ao supor que a expectativa de falar com Clarisse me permitiria essa serenidade.
Antes de mais, um café. Necessitava de varrer dos miolos este saburro coalhado. As coisas à minha volta eram ainda penumbra. Mas seria perder tempo ir lá a cima toma-lo.
- Mande-me vir um café.
- Para aqui? - estranhou a enfermeira, atónita. - Não sei se. . .
Engoliu o resto da frase, pois atalhei-a abruptamente:
- Entretanto, chame os primeiros doentes. E faça o favor de descer um pouco as gelosias. A luz, hoje, fere-me os olhos.
Ela rodou significativamente sobre os calcanhares, segredando as ordens à criada. De raspão, reparei que, além das ordens, lhe fazia um sinal conspirador que poderia traduzir: ”Cautela: ele, hoje, está com a veneta”.
Fichas, análises, papéis - cada um deles reduzindo a uma seca e fria sugestão o drama de uma vida; um universo fechado na palma da mão. E eu, o mago dessa fraude, era apenas um homem com a cabeça obscurecida por uma noite de desconchavos pessoais. E cético, ainda por cima. Ora, nada me poderia enjoar tanto nessa manhã como a sensação de um falso poderio. O mundo tremendo da minha prestidigitação, justamente por sê-lo, abria gretas de impostura.
Como seres míticos, sem autenticidade, os ia, pois, ouvindo. Esta, por exemplo:
- ... Quando o meu marido se serve de mim (e a mulher, ao tomar alento para trazer ali pormenores inconfessáveis, dirigia-se à enfermeira, à procura de um cúmplice da sua coragem), sai sangue, senhora... Não sei como a hei de chamar. Não sei se vossemecê é enfermeira ou o que é. Têm todas um fato branco.. .
- Acha então que as enfermeiras é que vêem os doentes? ... - protestou com bonomia a minha colaboradora. Mas, nela, bonomia era vinagre. - É ao senhor doutor que deve dizer essas coisas.
- Desculpe, minha senhora, mas não sabia como a havia de tratar.
E o seu interminável pescoço de lagarta enroscava-se dentro do tronco aldeão. Foi esse pescoço, terminando diretatnente em dois olhos globosos, também de lagarta, que me fez um apelo físico a estar ali presente. Até aí, mal ouvira o diálogo e não percebera o riso benigno da enfermeira.
- Não é para esta consulta.
- Bem sei, senhor doutor, já mo disseram logo à entrada, assim uma senhora também vestida com um avental, mas eu ainda não me queixei do resto.
- Venha o resto.
Não, nem a ironia me poderia distrair da ideia de que, no fim da consulta, seria Clarisse a entrar por aquela porta. E a boca ainda me sabia a trapos velhos.
Agora vinha um nariz que era o bico de um corvo, na raiz do qual, muito juntos, dois olhos espavoridos procuravam um refúgio.
- . . .Nunca aqui vim. É a primeira vez.
- Não faz mal, a gente ensina-a -• interveio a enfermeira.
- Disso é que eu gosto. Muito obrigada, e Deus lhe dê saúde.
E as mãos, tranquilizadas, descansaram-lhe no regaço. Como se, enfim, se sentisse preparada para uma longa inquirição.
- Que sente?
- Fraqueza no sangue. Diz aqui nos papéis que me deram na minha terra.
- Esses papéis são atestados, santinha.
Os olhos da mulher, de novo desorientados, percorreram rapidamente os vários esconderijos da sua prisão. Mas ao sair pela porta dir-se-ia um evadido que já não sabe fazer uso da sua liberdade. As mãos franziam-lhe as pregas da saia.
- Já ali tem o seu café. Ali dentro. Discretamente, na saleta contígua do aparelho
de radioscopia, para que ninguém fosse testemunha de que eu tinha apetites desses, fora de todas as normas, no próprio local do trabalho. Prestável e azeda rapariga. Eficiente como um relógio suíço.
- Tomar o café aqui parece-lhe uma blasfémia, não?
- Blasfémia não será, senhor doutor, mas obriga uma pobre criada a subir e a descer quatro andares para, no fim, lho trazer quase frio.
- Descanse, para a outra vez hei de pensar nesse argumento.
Depois, um operário. Uma cicatriz atravessavalhe a testa em diagonal. Espáduas sardentas. Tosse? Pontadas? ”E a quem vou eu entregar a receita?” Que lhe havia eu de responder?
- Isso já não é comigo.
Para ele, sim, era. Era comigo e com todos os que tinham sempre na carteira o dinheiro para qualquer imprevisto.
- Vá saindo, homem de Deus, que o senhor doutor tem pressa.
E assim resolvíamos o problema: com a eficiência de um relógio suíço.
Depois, uma rapariga, muito grave no seu vestido que tinha sido moda há vinte anos. O fecho do vestido encravara-se a meio das costas. Ela, a tomar para si a responsabilidade do acidente, oferecia à minha piedade o seu rosto que se tingira da cor das lagostas.
- Quem mais?
A enfermeira não precisou de mo dizer. Era a vez da Maria Antônia, que vinha ali com a assiduidade prazenteira de quem visita parentes chegados. Eila já a meia-porta, ela, o sorriso bonito e o seu familiar e doce ”Dá-me licença, patrão?”
- Isso vai catita, Maria Antônia.
- Grande fiteiro. . . Como sabe?
- Olhando para si. Acho que basta.
- Olhando os meus cabelos brancos, não?
- Cinzentos. Apetitosos.
- Hoje não, senhor doutor, hoje vamos conversar muito a sério. . . - e ela dobrava nervosamente os cantos do dossier que lhe dizia respeito, preparando-se, decerto, para nos armar uma cilada. vou fazer uma viagem.
Aquilo não me cheirava. São terrivelmente perspicazes, estes doentes. Demasiado o sabia. Receava-lhes sempre - melhor dizendo: receio-lhes sempre - esta voz macia.
- Muito bem, invejo-a. Também eu ando há anos a pensar numa coisa dessas. Por enquanto, porém, contento-me em colecionar programas de viagens.
- vou partir para África. O meu marido arranjou lá um emprego. - E de súbito, como quem faz saltar das axilas um revólver sonegado e no-lo aponta na f ração de um segundo, disparou: - Digame depressa senhor doutor, se posso ir. Se devo ir. Não pense numa desculpa, responda-me depressa!
- E a viagem. . . seria para breve? Que ideia essa, África! Ponho-me logo a transpirar. - O tom das minhas relações com a Maria Antônia era uma exceção: ninguém resistiria à sua álacre espontaneidade. - Não é preciso ir tão longe para se beber uma xícara de bom café; mesmo daquele que cheira a dois quarteirões de distância. . . Pergunte aqui à Senhora Enfermeira se ela não é da mesma opinião. . . Então não tinha pena de nos perder de vista?
- Oh, lá está o senhor a desconversar! Sempre as mesmas negaças.
- Pronto, se quer as coisas ditas como quem deita uma moeda numa geringonça e apara com a outra mão os amendoins, aí tem: faça uma nova análise e depois lhe darei uma resposta. Um sim ou um não.
A jovialidade de Maria Antónia ficara esgarçada naquele sorriso suspenso. Não esperava por aquilo. Ficou pálida e emudecida. Despedimo-nos, nessa manhã, como dois parentes amuados, sabendo desde logo, porém, que o amuo não poderia durar.
- Quem mais? - repeti, saturado.
- Aquela rapariga que esteve internada. O senhor doutor foi deixando a sua ficha para o fim. . . Espero que ela não esteja muito zangada de a termos obrigado a esta demora.
- Espero que não. Olhe, Margarida, faça-a entrar e depois, se quiser, pode retirar-se.
- Não precisa de mim?
- Só mais tarde, talvez.
Não procurei sondar o que a enfermeira pensaria das minhas precauções e nem tentava, sequer, escondê-las. Eram, de fato, precauções. Ninguém poderia prever como Clarisse se comportaria. Além disso, pelo que me dizia respeito, seria preferível não me apoiar na presença de terceiros.
Clarisse, porém, entrou sem pressas, sem enfado nem ressentimento, sentando-se com uma inquietante passividade de gestos. Fiz um aceno à enfermeira e levantei-me da cadeira para fechar as duas portas do gabinete.
Cruzadas as mãos, ela esperou. Entregava-se. Um foragido que regressa voluntariamente para cumprir a sentença. E foi essa docilidade que mais me doeu.
- Como tem passado?
Não, não lhe faria qualquer referência à noite anterior. E iria jurar que ela usaria do mesmo recato.
- Cansada, muito cansada.
- Precisa de repouso.
A minha voz tinha um timbre rouco, gutural. Tossi forte para a aclarar, enquanto Clarisse confirmava as minhas palavras com um lerdo movimento de cabeça. Os seus olhos continuavam firmes, mas brandos e meditabundos. Insistiu:
- Cansada.
Levantei-lhe carinhosamente o queixo. Agora os seus olhos tinham lágrimas, cobrindo-se de uma névoa de pesar.
- vou auscultá-la.
- Para quê?, não se incomode. Não venho para isso.
- Então que veio aqui fazer? - disse eu, rispidamente, prevendo que ela se me escaparia ao fraseado profissional.
- Preciso de si.
Aquilo foi um punhado de areia sobre a minha violência. A voz fez-se-me mais rouca.
- É justamente por esse motivo que desejo auscultá-la.
- Preciso de si de outra maneira. Ainda não compreendeu? - As rugas, de uma desbotada resignação, crisparam-se. Havia nelas um furor concentrado. - Nem ao menos ontem compreendeu?
Tão quebrados me ficaram os músculos! Tudo aquilo despertava ou fazia crescer, entre nós, uma íntima e irreparável amargura. De novo as minhas mãos, receosas, lhe procuraram o rosto.
- Não seja piegas, Clarisse.
- Não sou piegas. Nunca fui tal coisa.
- Que espera então de mim?
Creio que a minha boca, trémula, lembraria a de um peixe a sufocar-se depois de uma onda o largar em terra.
- Um pouco de amor, se for possível. Não, peco-lhe, não faça essa cara de quem se lembrou que tem um abcesso num dente! Amor ou o que lhe queria chamar. - Vagueou os olhos pela sala, à procura de um abrigo precário. Pareceu-me um olhar branco, cheio de sonho e de delírio. - Ternura. Mesmo que tenha só um poucochinho de verdadeira. Como nunca ninguém gostou de mim, facilmente serei convencida... Eu inventarei o resto.
Deu-me a sensação de que alguém me rasgara por detrás, com uma lâmina bem afiada, deixando-me as costas nuas. Tinha sido um erro pôr a enfermeira com dono.
- Não fale dessa maneira. É penoso para ambos.
- Penoso talvez para si. Mas se não puder ser de outro modo, basta-me que me deixe amá-lo. Nem que seja por compaixão. Não me sentirei tão desamparada.
A minha nudez tornara-se mais fria, mais grotesca.
- Está perturbada, Clarisse.
- Talvez o esteja e nem admira, não é verdade? - Pôs-se a rodar com o tinteiro da secretária, soltando, imprevistamente, um risinho aguçado. Mas isso não tem qualquer importância. Que pensa do que se tem passado comigo durante estas semanas? Sei muito bem que não me resta muito tempo e achei melhor devorar-me do que ser devorada. Encarou-me com um sorriso astucioso e estendeu a mão para o maço de tabaco. - Logo que teve o cuidado de fechar as portas, julgando certamente que eu me punha aí aos guinchos, poderei fumar um dos seus cigarros?
- Fume os que quiser.
- Oh, que generoso! Dantes, não costumava ser tão condescendente. . . Ou é da regra tornar-se menos severo nas vésperas da. . .
Ela, valha-nos Deus!, ainda arranhava como uma gata. Preferia que assim fosse. Eu tinha-a atalhado com um punho sobre a mesa.
- Você, afinal, é que não mudou em coisa alguma.
- Sim, deve ter razão - prosseguiu numa voz subitamente desmantelada. - Nada do que fiz ou desejei fazer nestas semanas adiantou, posso agora confessar-lhe. Às vezes, no meio daquela gente, apetecia-me gritar por socorro; mas eu sabia que ninguém me ajudaria. É o que venho pedir-lhe: calor humano. Era bom imaginar que poderia permanecer através do. . . da amizade de alguém. Pelo menos, não morrer sozinha, num deserto. É tão difícil dizer estas coisas!
- E ouvi-las.
Clarisse não deu, ou não quis dar, pelo meu comentário. Empurrou-me os cigarros e eu acendi um mecanicamente.
- Depois venha o que vier. Já não me rala. Os seus olhos piscavam sob o efeito da fadiga e
via-se que se esforçava por repelir o negrume dos pensamentos.
- Por que tem as janelas tão fechadas?
- Apetece-me que estejam assim. - E, refreando-me, suavizei a cadência das palavras: Ouça, Clarisse: em tempos pareceu-me que tinha um amigo.
- Não tenho coisa nenhuma. Posso levantar um pouco as persianas. . . mesmo contra os seus ”apetites”?. . .
- Pode.
- É o que eu digo. . . Chegou o momento de nada recusar. Até certo ponto, é uma vitória. . .
Sentia-me asfixiado. Toda a situação era uma ratoeira de emoções. E aquilo só poderia dizer-me respeito na medida em que havia sido aprisionado, ao roçar, desprevenido, nessa teia de desesperos solitários. Era forçoso escapar-me, defender-me. No entanto, que significava esta outra sensação, misturada com aquela de quem recupera uma coisa perdida e intensamente desejada?
- Quer ficar já hoje no hospital?
- Não, nunca mais me apanhará aqui. Leveme para qualquer lado, onde seja apenas uma mulher. Sabe o que isso significa? Não quero ouvi-lo falar mais naquilo que vocês gulosamente chamam o meu ”caso”. O hospital está cheio de ”casos”. - Clarisse martelava acremente as palavras. - Devem bastar-lhe.
- Onde viveu durante este tempo?
- Um dia lhe mostrarei. Na minha casa.
- Volta para lá.
- Ah, para lá não! É tão sórdido. Não me obrigue, peco-lhe.
- Claro que não a posso obrigar.
- Mas eu gostaria que pudesse.
Desta vez, eu tinha o cigarro entre os dedos. Ia-o deixando queimar-se até o fim, ardendo-me na pele, e nele se consumiria, também, a minha indecisão. Um pouco mais, e iria sentir o saboroso ardor da carne martirizada.
Cada vez me sinto menos capaz de prosseguir esta narrativa. Não sei defender-me deste jeito adocicado e postiço. E espanta-me que tal aconteça, pois das raras ocasiões em que tive de historiar casos clínicos - ”aquilo que vocês chamam gulosamente o meu ’caso’ ” - era tão árida a minha descrição, de um rigorismo traçado à régua, deixando os leitores ainda mais gelados que as palavras utilizadas, que me via forçado, embora rilhado por dentro, a sujeitar-me à censura suntuosa do meu chefe de clínica, de quem já falamos e que de qualquer trivialidade pilhada a um colega menos expedito fazia um vistão, repartindo-a em várias comunicações chamadas científicas, perante as quais o leitor seduzido perguntava onde estaria a droga ou a surpresa que lhe hipnotizara o senso crítico. Eu apresentava-lhe as minhas observações condensadas em duas páginas ossudas, e ele só dizia:
- Meu caro... - Perfilava-se nas suas magníficas calças e no seu casaco sem uma ruga, de um cinzento aristocrático, e grulhava: - Meu caro: aqui está a pólvora; falta-lhe agora a mecha para que se ouça o tiro. Não vou deixá-lo expor-se a um fracasso.
Não, não deixava: a mecha esticava-se por mais umas dúzias de páginas de recheio duvidoso mas inegavelmente enleador. E só assim a minha pólvora vingava. O preço era o de o meu nome minguar, progressivamente, debaixo do dele, no momento em que o trabalho passasse a letra de forma. Isso, aliás, com ou sem mecha, aconteceria de qualquer modo: era uma norma do serviço.
Essa colaboração do chefe, como tudo o mais, tinha preferência por certos cenários. Suponhamos que ele entrava no hospital, sempre muito rápido, muito ”sem tempo para coisa nenhuma”, após uma das suas múltiplas e meteóricas viajatas ao estrangeiro. Era uma das boas alturas para ele, esfregando com um dedo frenético o crânio reluzente, nos falar dos trabalhos.
-- Mostrem, mostrem os elementos selecionados durante a minha ausência.
E saltava à nossa volta, enfunando as asas de pavão. Eu era o único a ficar de lado. Debalde, porém:
- E você, Jorge? ... O seu silêncio é suspeito!... - O dedo em riste, denunciante, encurralava-me nas grades do meu mutismo. - Sei bem que pretende fechar este colóquio com chave de oiro.
Não o podia evitar. E ele, então, invertia logo os termos: ao arrancar-me o relatório das mãos, era como se tivesse boas razões para se sentir agastado com algum gesto de ruidosa impaciência da minha parte. Punha-se com uma voz lodosa:
- Espere aí, meu caro (raios o partissem mais o ”meu caro”!), tenho ainda o cérebro confuso das quinze horas de avião. Como sabe, acabo de regressar há instantes de um congresso na Síria. Já foi à Síria? Pois devia ir. Ah, o exotismo fascina-me.
Eu concordava com todos os exotismos, nuns monossílabos acerbos que ele se dispensava de ouvir, do alto da sua glória de caixeiro viajante da ciência, até que a minha prosa fosse enroupada pelo seu dom de transformar em opulência a minha magreza de expressão.
(Fui excessivamente minucioso neste parêntesis, mas, ao falar do meu chefe, corre-me a pena sem eu dar por isso.)
Não sei contar, eis o que eu e vós deveremos concluir. E mais reconheço a minha inabilidade de escriba ao chegar a este epílogo da história de Clarisse. O estilo nem é o meu, áspero e breve, nem o das grandiloqúências românticas do chefe da clínica. Ao querer, talvez, imitá-las, ou descobrir-lhes o seu ópio, embora pondo de lado os desperdícios, fica-me nas mãos este melaço inexpressivo e pastoso que, tal o cuspo adocicado do Guedes, me agonia.
Seja como for, porém, disponho-me a chegar ao fim.
Após a visita de Clarisse ao hospital, aconteceu um mundo de coisas. Como saberei joeirar as mais significativas, embora todas elas, ainda que evitássemos falar em doenças ou em morte, estivessem saturadas dessa obsessão? Talvez não seja inteiramente sincero ao dizer isto, pois, as mais das vezes, eu procurava muito mais interpretar-me, iludir as minhas acusações, do que ajudar Clarisse a libertar-se do pavor do dia seguinte. ”Nada tenho dentro de mim a não ser o medo.” Ela bem o percebia, bem percebia o meu egoísmo. ”Os homens são tão ciosos da sua invulnerabilidade! Tão estupidamente egoístas! Até a desventura lhes parece um dever quando se trata de não beliscar preconceitos que lhes assegurem a sua prosápia de machos. Rijos, mesmo que seja preciso sofrer. Que lhes faça bom proveito!”, escarnecia ela com um furor dilacerante.
Mas poderia ter sido outra a minha atitude? Não, decerto, garantia eu, embora nenhuma garantia me bastasse. A minha conivência nos desatinos e excessos de Clarisse traduzia apenas a solidariedade que se deve a um ser humano desesperado. E, sobretudo, solitário no seu desespero. Era este o disco entorpecente que fazia girar dentro do meu amor-próprio. E seria amor o que ela sentia? Seria amor aquele olhar reanimado, a alegria versátil, usurpadora, que lhe rejuvenescia os traços? Não, para ela eu era um pretexto, uma oportunidade. A sua última oportunidade. E em mim, que se passava? (Perguntas, sempre perguntas.) A ternura que eu lhe dava em troca - se é que eu sabia dar-lhe voz - não me exigia esforço nem mentira, a ternura não precisa de amor para ser justificada. Era isso? Apenas isso? Ainda hoje, a tão grande distância, o não sei ao certo.
(Acaba de me escorrer para o papel esta frase volúvel: ”Grande distância”. No entanto, a noção de tempo é bem caprichosa. Se eu quiser ser preciso, direi: foi há três anos; quase rigorosamente há três anos. Mas logo adianto: será possível? Na minha cabeça, alguns dos acontecimentos decorreram apenas ontem. Ou agora mesmo. É esquisito que o tempo se detenha assim! Outros, porém, esquivam-se de tal modo ao meu esforço de os captar com fidelidade, estão já tão longe, dizem-me tão pouco respeito, que me acho, às vezes, a refazê-los por inteiro. E nas remoídas horas em que medito sobre estas páginas que vou escrevendo chego a ter dúvidas sobre quais desses acontecimentos merecerão, afinal, sobreviver.)
Eu trocara, sem entusiasmo, a velha casa onde, havia anos, vivia só, por um apartamento que tínhamos alugado numa das zonas mais recolhidas da cidade. Mas os nossos dias eram lá fora: dávamos muitos passeios, por aqui, por ali, sem programa nem horário. Dias alucinantes, dentro de um frenesi que os aturdisse. Se parássemos, se consentíssemos uma pausa de reflexão, onde acharíamos coragem para prosseguir? Às vezes, sentávamo-nos à beira de uma estrada, à hora em que o sol amansava, afrouxados pelo cansaço, deixando que a austera tranquilidade das árvores e da terra nos possuísse, e, já tarde, temendo encararmo-nos depois desse silêncio que nos acirrava mútuas recriminações, íamos pedir guarida ao primeiro teto que se nos deparasse. Para Clarisse, era a aventura, o acaso euforizante; para mim, uma embaraçosa surtida nas vidas alheias. Sentia-me vendido. Contudo, era perturbante verificar que em qualquer parte acabava por se encontrar um ser humano disposto a abrir-nos confiadamente a porta, recebendonos com o alvoroço de quem, desde o dilúvio, nos esperasse.
As coisas aconteciam, a maioria das vezes, deste modo: Clarisse fazia-me parar o carro sempre que uma várzea, digamos uma certa várzea, um certo moinho, um bosque, um rapazito que corresse além atrás de umas cabras, lhe mordessem a febril curiosidade. Dava-me a ideia de que o menor zumbido, um longínquo aroma, lhe faziam vibrar os sentidos. Mas se, para mim, citadino, o encontro com tal mundo quase ignorado desencadeava sensações até aí disponíveis, nela dava-se uma insondável e premeditada imolação: fundia-se para que o que nela havia de efémero pudesse logo renascer e perdurar em todas as coisas vivas: um inseto, um chamado distante logo absorvido no pasmo dos campos, o voo repentino de um pássaro arisco. De cada uma dessas vezes se acendia, no fundo das suas íris esverdeadas, um clarão inquietante. E eu, farto já de bucolismos, sabia que me esperava mais uma boa caminhada, a que ela resistia - com que secretas forças! - muito melhor do que eu.
- E agora, que nos faltará ainda descobrir? Um alambique? Uma centopeia com duas patas? . . .
- Oh, não rias! Por favor, não rias! - censurava Clarisse, como se eu tivesse acabado de dizer uma heresia.
- Fazes-me sentir saudades da cidade. !
- Na cidade sinto-me perdida. Mas não quero sacrificar-te.
Eu fazia um gesto vago e ela, já alheia à minha saturação, punha-se a escolher, entre os casais isolados, aquele onde deveríamos pernoitar.
- Não exageres, Clarisse. Não estamos no sertão! A seis quilómetros há uma vila, restaurantes, cafés; e a trinta, um bom hotel.
- Hospitalidade alugada. Desejo tudo menos isso.
- Mas já pensaste quanto irás perturbar esta gente, se é que estão dispostos a aturar-nos?
- É o que julgas. . . Vamos dizer-lhes que tivemos uma avaria.
E se em alguns casos as minhas dúvidas sobre a cordialidade com que seríamos recebidos se confirmava, noutras o triunfo da sua certeza no imprevisto bicho-homem deixava-me, confesso, abalado. O saldo pertencia-lhe. Mas fosse qual fosse o matiz dessas experiências, perduravam-lhe sempre num travo exaltante. Mesmo em ocasiões menos de recordar, como a que vou descrever-vos seguidamente: em lugar da honesta morada campesina, surgira-nos uma espécie de albergue. Uma sala de teto baixo e negro da fumarada que trepava pelos barrotes que o escoravam. A sala servia para tudo: cozinha, taberna, já se vê, e, ao que parecia, também dormitório de malteses. Lá estavam, aos cantos, as enxergas de palha e as mantas de linhagem.
- Tem cómodos para a gente?
O dono da casa, um homenzão seco e esguio, rosto talhado em basalto, não interrompeu o que estava a fazer, enquanto outro, sentado num tripé, limpava a boca envinhada à manga da camisa e cacarejava ao completar o gesto. A porta da rua rangeu atrás de nós e por ela entrou nova personagem: um funileiro. Ia saudar os presentes, mas, ao encarar-nos, os dedos ficaram a meio caminho do boné. Deu-me a impressão de que, em vez dele, entrara por ali um enxame enervado. O enxame zunia à nossa volta, aproximando-nos, de instante para instante, um ferrão assassino.
- Tem cómodos? - repetiu Clarisse. E admirei-a pelo heroísmo.
Conquanto Clarisse tivesse adaptado a linguagem às circunstâncias, o homem puxou as alças do fato de ganga e submeteu-nos a felina inspeção, após a qual disse:
- O que há, está à vista.
E voltou-nos as costas. Clarisse teve de aceitar o fracasso. Mal transpúnhamos a saída, outra ferroada:
- Os fiscais, agora, até se fazem acompanhar das amásias.
Quando descíamos a vereda que nos levaria ao cobiçado automóvel - e dessa vez estava certo de Clarisse concordar com as vantagens de um bom hotel! -, ouvimos um tiro de espingarda. Era ainda o homem. Ele deu mais um tiro e outro, para o ar, ao ver que tínhamos parado, hesitantes e perplexos.
- Não foi divertido? - propôs a incrível Clarisse, ao rodarmos, numa pressa de fuga, estrada fora.
- Muito!... - trocei. Ela abespinhou-se.
- Nunca te ensinaram a rir?
Dessa pergunta já eu não me atrevi a zombar.
O saldo, porém, como disse, pertencia a Clarisse. E o mais intrigante, para mim, é que ela não parecia de modo algum surpresa com a hospitalidade às vezes sôfrega, que usava de todos os meios ingénuos para se manifestar, enquanto eu permanecia de lado, reticente e carrancudo. Havia muitos equívocos na minha experiência e no meu ceticismo de lobo enjaulado. Coisas a rever. Ela bem me atiçava nessa mistura desprevenida com os estranhos, dispondo de uma naturalidade que chegava a afigurar-se-me intrusa e deslocada, como se o seu convívio com eles já viesse de longe e fosse eu o visitante inesperado que era necessário obsequiar.
- Oh, que maravilhoso pão caseiro! Desse, pois. Serve-te, Jorge, verás como é delicioso. Quando eu ia a férias, à minha terra, os vizinhos já sabiam que era este o manjar que eu mais apreciava. Mandavamme pãezinhos de centeio, aos domingos, como se se tratasse de uma guloseima. Mas, se não gostares, estes amigos trazem-te pão de trigo.
As pessoas rendiam-se a uma tal turbulenta e ardente familiaridade e abarrotavam-nos a mesa com tudo o que havia em casa e pudesse provocar-lhe uma exclamação de prazer.
E, de súbito, eu era possuído pela sensação de que conhecia, havia muito, aquela gente. Afilava os olhos para os ver melhor. Pois: já se me tinha deparado o velho patriarca cuja boca arfava sob a barba, já conhecia este petiz de pupilas lisas e puras como um céu de agosto; e as mãos encardidas que me estendiam a terrina com o guisado pertenciam à grelha de certas recordações. Eu não era um intruso nem eles seres alheios à minha vida. Coisas, enfim, a rever. E essa revelação era uma dívida para com Clarisse.
- Gosta então do nosso centeio. . .
Era a ela, no entanto, que sempre se dirigiam. Eu nada sabia transmitir-lhes do que se passava dentro de mim.
- Tinha de gostar. É o pão da minha infância.
- Donde é então a senhora? - inquiriam, interessados.
Ela olhava-os com doloroso e brusco espanto, ao tropeçar na realidade de ser afinal, para eles, uma desconhecida. Saía da mesa, alheada, indo cercar com as mãos trémulas uma linguazinha da lareira que tentava escapar-se por debaixo dos toros. No seu rosto anguloso havia um tom de cobre embaciado pelo uso. Nunca repetíamos os mesmos lugares: por isso, tanto gastávamos uma tarde nas ruínas de um convento (”nas pedras desabitadas ainda ressoam palavras; não as ouves? Há quem pense que cada vida deixa nas coisas um eco que dura anos, séculos. Talvez seja por isso que, nestes ermos, julgo sempre que, de um momento para o outro, vai surgir uma pessoa saída do fundo dos tempos. Sinto-me arrepiada! As pessoas nunca morrem verdadeiramente, não te parece também, Jorge?”) como numa bodega. (”Verás que nos irão oferecer um copo de vinho. Ficarão satisfeitos se aceitarmos. E nós aceitaremos, claro.”) Eram as vidas autênticas que ela procurava. Chegamos a enredar-nos em humilhantes complicações com a polícia, por Clarisse enfiar o nariz em histórias e ambientes duvidosos.
- É tão bom viver, querido! E pensar que eu poderia ter deixado de conhecer tantas coisas maravilhosas!
- Mas há muitas maneiras de as conhecer recalcitrava eu, imaginando vinganças pueris para o dia em que me caísse no hospital um dos tais chamados agentes da ordem, - Tu tens um dedo especial para escolheres as piores.
- Pois se me falta um bom guia!. . . - e, com perfeito descaro, era muito bem capaz de ter, em público, uma destas mimalhices que fazem ruborizar um cristão.
De uma vez descobriu uma portada que se abria para um insólito formigueiro humano: um pátio, um mundo, ali encastoado na carne anónima da cidade. Reparei quanto ela estremeceu de gula. De gula, desejo frisar, e não de horror. Os casebres feitos, na generalidade, de miseráveis desperdícios, as crianças mendigas!, os velhos refugiados na concha da sua idade, espicaçavam-na de um modo quase felino. Depravado. Naquele interesse havia depravação. Os garotos, após uma ronda cautelosa, decidiram cercarnos de perto. Quando parávamos, eles paravam também e riam sem motivo uns para os outros. Os mais expeditos iam à frente, a guiar-nos, se hesitávamos numa direção. Não me agradava essa escolta, que fazia convergir sobre nós os rostos baços do mulherio, embora Clarisse instasse:
- Repara nos garotos. São tão loiros, tão bonitos!
De nada valeria dizer-lhe: ”E tão esfomeados, tão imundos!” E a verdade é que eles decifravam-lhe o sorriso. O intrometido era eu. Um dos mais gaiatos, prontamente, estendeu-lhe a mão e a rapariga de cabelo muito negro, ligeiramente estrábica, que momentos antes nos virara as costas, recomendou:
- Fique um de vocês de guarda ao carro deste senhor. Não deixem que lhe façam riscos.
Clarisse perguntou-lhe:
- Mora também aqui?
- Aqui não, minha senhora! Moro além, no largo.
E, avançando dois passos, instigou-nos a visitar o seu ”largo”. Compreendi então o que significava essa veemência em localizar o seu tugúrio mais longe: no ”largo”, os cortiços tinham, por exemplo, uma trepadeira, um canteiro de flores, uma chaminé e às vezes uma identificação burguesa: ”Vila do João Tiago”, Vila qualquer coisa. Nalgumas portas uma fenda com uma barra de cor e a palavra ”Cartas”.
- Poderei entrar numa destas casas?
A rapariga dos cabelos negros arranhava a testa.
- Eu até pensei que fossem da Visitação. - E esses entram?
- Tratam os doentes, dão coisas. Claro que entram.
- Ai, aqui há doentes? -.-: : ;ijtjK Lá se acendia a labareda! Mas ninguém lhe respondeu à ingénua, e mórbida, exclamação. A luz, de uma brancura ácida, mordia-me os olhos. Pus-me desassossegado.
- Entramos, Jorge.
Clarisse dirigiu-se a uma velhota embuçada de negro que, atravancando a porta, se defendia, em vão, de um rafeiro que teimava em mordiscar-lhe as pernas. A velhota enterrou imediatamente o pescoço nos ombros, como uma tartaruga que se esconde, mas isso só serviu para espevitar os brios da rapariga.
- O raio da velha julga que lhe comem algum bocado! - e dirigindo-se a Clarisse: - A senhora queria ver um doente, queria? Mandaram-na cá da Visitação? Então venham daí, que está ali perto um desgraçadinho.
E eis que todo o nosso grupo rompeu tempestuosamente pelo interior do pardieiro. Pessoas e galinhas, pessoas e pombos e trapos e móveis inventados de tábuas que tinham conhecido vário préstimo, numa mistura de fedor e alarido. E o doente. Deu-me a ideia de um Menino Jesus de carne e osso. A pantomina estava demasiado bem desempenhada para não ser autêntica.
Clarisse oferecia excitadamente os meus préstimos à gente da pocilga:
- Trouxe-lhes um médico. E dos entendidos! Vá, vocês, miúdos, toca a sair lá para fora.
Enquanto eu cumpria, meio atarantado, o meu papel, sob a coação de um silêncio tépido e reverencioso, Clarisse dava voltas ao casinhoto. Envolvia-me, de quando em quando, de um olhar aprovador e ia conversando e sugerindo à volta, sempre com o à-vontade de quem vinha ali há anos e acabasse de regressar de uma viagem fastidiosa. Dir-se-ia pertencer-lhe aquela oferta de uma perna de galinha que alguém trouxera ao doente. E o maço de cigarros. E também o rádio portátil que eu, atónito, descobrira numa das enxergas e que poderia ter sido pilhado nas redondezas apenas para regalo do enfermo. Vi-me assediado por uma fraternidade oca que, se tivesse uma expressão física e lhe tocasse, soaria provavelmente a moeda falsa. Ou, então, a sua falta de sentido ou de autenticidade partia de dentro de mim. O Romualdo, que era muito no estilo da medicina lacrimejada e clinicava, por sacerdócio, em lugares como aquele, um dia enchera-se de fobia e disse-me: ”Vá lá você, Jorge. Eu não aguento mais”. E enredara-se seguidamente numa decifração ensarilhada do mistério de, após milénios de civilização, o homem não ter resolvido este problema imediato: o de, sob o mesmo céu ben2Ído por Deus, haver hotéis majestosos, onde o burguês nem sabe que mais uso fazer do conforto, ao lado de quem não possui um farrapo para se cobrir. ”Eu nada quero saber de política, Jorge, mas há coisas que me fazem sentir responsável e abjeto.” ”Comovente, meu bom Romualdo; pois o melhor modo de nutrir essa abjeção é proceder como as velhas caritativas que lhe seguem a pista: esmolas e guitarra.” Mas isso não poderia eu dizer a Clarisse. E assim, saturado do cheiro animal, de mijo e de outras coisas mais, ia a escapulir-me quando ela me segredou, enquanto nos seus olhos vacilava um doce clarão:
- Podes fazer alguma coisa pelo doente? É grave? - Mas, logo revoltada com o meu constrangimento, esporeou-me: - Isto não representa nada para ti?
- Claro que sim - anuí, pensando ainda nos enleios do Romualdo.
- Então dize-lhe que tudo correrá bem. Tronqíiiliza-os, fala! Vocês nem chegam a saber o calor de uma frase que estimule um sorriso! Têm a cabeça atulhada de boticas.
Lá fora, o bairro estava sobressaltado. Quando saímos, embrenhando-nos num verdadeiro arraial, não houve tugúrio que não clamasse pela nossa visita. O meu automóvel era um inseto gigante que um bando de formigas tivesse imobilizado para o transportar depois à boca do formigueiro. Até no tejadilho havia ganapos. À despedida, já a rapariga de cabelo negro tinha um companheiro a seu lado, com ar de dono: era um cigano. Seria difícil contar-lhe, numa olhadela rápida, os anéis que lhe cobriam os dedos, numa burlesca ostentação de abundância. Clarisse ergueu um braço. E da malta soltou-se um destes brados que me estilhaçou os tímpanos. Apeteciame beliscar o corpo para ficar certo se estaria, na verdade, íntegro e desperto.
Em Clarisse, pois, nada restava do bicho assanhado que esgatanhava os que pretendiam anafá-lo e, tampouco, da rapariga petulante a observar as pessoas como funâmbulos de um circo. Dissolvia-se nelas, numa osmose elementar, possuía e era possuída, recebia-lhes o influxo da vida. Quando acabaria todo esse pesadelo? Devo ter coragem de confessar que, muitas vezes, desejei que o fim viesse depressa.
Clarisse voltou ao bairro dias seguidos carregada de presentes. Mas não seria preciso nada disso para que a recebessem com júbilo ruidoso. Um velho, a quem ela crismara de ”Pai Natal”, queria ensinarlhe ciências ocultas. Pegara-lhe na mão, cingindo-nos no mesmo olhar de malícia e tolerância:
- A menina tem um destino carregado. Cada uma destas rugazinhas é um acontecimento dos que a gente não pode esquecer. Que destino! Venha sempre que quiser, menina. com uma mão destas, não paga nada.
- E quanto tempo viverei ainda?
- Santo Deus, uma criança a preocupar-se com isso!
- Mas eu gostava tanto de saber!
Reparei no velho, na argúcia desencantada da sua boca. Ele captara a ansiedade que Clarisse pusera no rogo. As sobrancelhas dele, alertadas, moveram-se como aranhas a mudar de poiso.
- Oh, menina! Quando morre alguém, murcha uma estrela; e, antes disso, já’a vemos empalidecer.
- Então acabará por não haver estrelas. . .
- Nascem outras. Em todo o caso, a gente sabe sempre quando uma estrela vai desaparecer. Correm pelo céu, deitando rastilhos de lume. E todas as outras, à roda, escurecem.
- E a minha estrela?
Ele refletiu. Apesar da hora matinal, a toca era penumbra; pelas frinchas, no entanto, enfiavam-se alguns raios de sol, que, travessos, perseguiam os gestos do ancião, as suas têmporas latejantes, a barba encaracolada, incendiando-lhe, de fugida, os olhos matreiros. Ele afagou ainda os joelhos antes de responder com arrastada suavidade:
- É pequenina. A sua estrela é pequenina. A gente pode pegar-lhe assim, com as duas mãos.
Quando abri a porta da rua, para sairmos, fi-lo com uma lentidão de culpado.
- Escuta, Clarisse: é tempo de pôr cobro a tudo isto. Estas histórias de feiticeiros e estrelas vão acabar.
Ela, alheada do burburinho da rua, taciturna, emendou:
- Ele não me quis dizer. Não me quis dizer a verdade. Bem o percebi. - E, de súbito, fez-me parar: - Fala-me sem rodeios, Jorge: acreditas nessas coisas? Nem um bocadinho? Ah, bem sei que os homens nunca confessam as suas fraquezas.
- E não queres que eu te chame piegas. . .
- Sou. De fato, sou. Sou ainda mais do que piegas: uma chalada. Agora é que eu sei que não presto.
Eu tinha uma sede danada. Umedecia, em vão, os lábios secos. Procurei nas redondezas uma cervejaria onde pudesse beber duas canecas seguidas. Ela apreciou, com um enlevo bem-humorado, o requinte que eu punha no ritual de passar a língua pela espuma de cerveja que me orlava a boca.
- Em certas ocasiões, és um bom companheiro...
Acenei gravemente com a cabeça.
- Quando me disponho a acompanhar-te ao teu jardim de excentricidades. . . não é isso?
- Reconheço que tens sido paciente. - Eis a nuvem escura sobre a alegria da sua expressão. Reparaste como o homem evitou uma resposta?
- O das estrelas que deitam rastilhos? . . .
- Não troces, Jorge. Todos evitam dizer-me a verdade. Tu, ele, todos. - Fez seguir essas palavras de um longo momento de expectativa. - E eu, afinal, só queria saber se. . . Achas que viverei o bastante para. . . para que possas sentir alguma coisa por mim?
Clarisse ainda não me tinha feito essa pergunta. Pelo menos daquele jeito: sem me deixar um buraco por onde escapasse. Peguei-lhe na mão e apertei-a, carinhosamente. Era tudo o que eu poderia fazer.
Num dos passeios, Clarisse fez-me parar bruscamente o carro junto dos muros de uma quintarola dos arredores. Aliás, as velhas mansões, mesmo que o tempo e o êxodo para a cidade as tivessem assolado, fascinavam-na. E a mim também. Flores lilases vinham do outro lado do muro até à rua, libertandose das heras enroscadas. Via-a tão embevecida com as flores, numa excitação desconforme, que receei um choque emocional de que não podia perceber o motivo. Nela, dia a dia, havia zonas obscuras, pegos, onde não me chegavam as mãos. E isso acabara por me confundir e saturar. Clarisse, por fim, teve um dos seus sorrisos em que havia zombaria e astúcia.
- Gosto de flores, ainda não to disse. E gosto doidamente de flores lilases.
Eu, porém, já dera por isso. E também pela sua atração por sítios ermos, cerros e pinheiros. Tal como naquele dia, após o episódio das flores, íamos, com frequência, ao alto da colina que contornava os flancos da cidade, onde os matos e os pinheiros ainda rasteiros tinham demorado colóquio com o vento. O vento ia espalhar os murmúrios por toda a encosta e quando regressava junto de nós, lá ao cimo, vinha carregado de segredos. E também de uma nostalgia informe.
Ao entardecer, quando a paisagem se recolhia para o sono da noite próxima, essa nostalgia por outros montes que não tivessem a cidade a persegui-los era maior ainda. Acabrunhava.
- É uma hora ignóbil, esta. Mas perdoo-lhe a infelicidade que me traz pelo que me sugere - dizia ela, falando baixo. Uma fala rouca, emergindo dos fundos de uma espécie de terror.
- Que te sugere?
- A infância.
Clarisse havia-se deitado sobre a relva, o rosto meio oculto nas folhas dos arbustos que balançavam com indolência, misturada no cheiro da terra. Eu imitara-a. Ficou por cima de nós um céu espavorido, donde desertavam umas feias nuvens, ao pressentimento da borrasca. Uma delas, menos expedita, ia passando devagar. Depois alongou-se exageradamente e, na sua teimosia de se exibir ou ficar para trás, agonizou sem dignidade, devorada por outra que lhe vinha no encalço. A infância. A infância - devia ter ela repetido para si, digerindo as palavras e as evocações que lhe traziam. A infância tinha um tempo vasto à sua frente. Nem a imaginação nem os desejos lhe encontravam os limites. E, afinal, tão curtos que eles eram no seu caso! E, para mim, que era a infância? Eu fechara os olhos, para que o recuo fosse mais longe, e depois, talvez oprimido pelo silêncio dos campos despovoados, abrira-os de novo. Por cima, já não havia nuvens. Um céu lavado e oco - um abismo, o fundo de uma cratera para onde escorregavam os meus olhos entontecidos. Senti, abruptamente, a vertigem da sua sedução. O abismo esperava a minha queda, no espaço ou no tempo, agora que a mecânica densa dos meus dias, executados como um relógio pontual, abrira uma brecha. Ele estava certo de que eu não me recusaria. Voltei a cerrar os olhos esvaído, deitei-me de ventre sobre a terra. Tive a sensação momentânea de que deixara de existir. O que existia era a presença aguçada das coisas. Não, não existiam apenas os arbustos, as flores lilases com a grenha desmanchada sobre os olhos, os pinheiros, a linha tortuosa e áspera da serra distante, aquela brisa envolvente, que ressoava a longas viagens. Existia Clarisse
- ei-la de novo a falar-me - e eu que regressava de longe para ouvi-la.
- Não te parece, Jorge, que o tempo não conta, mas sim como foi preenchido? Uma hora, às vezes, chega. Nela pode caber uma vida inteira. - Rodou também sobre si, acertando com a minha posição.
- Precisava de ter isto sempre presente. Mas tu não me estás a ouvir?
De súbito, encarou-me com animosidade, enquanto um gume se me enfiava no crânio. Tais flutuações de humor (mas não naquela altura, Clarisse, em que me sentia visitado por uma verdade, sobre ti e sobre mim, que acabou, até hoje, por me ficar interdita!), essa violenta urgência numa disputa que não precisava de motivo, eram frequentes. Necessitava que a todo o passo os seus nervos fossem espertados, que a monotonia não pudesse domesticar-lhe as emoções.
- Às vezes tenho a impressão de que falo, ou que me escutas, de muito longe. E quando me calo, é como se nenhum de nós fosse real. - E emudeceu, a sopesar a verdade do que dizia. - Ao menos tu, serás real?
Que podía eu dizer-lhe, sem a crosta dos hábitos a defender-me? Segui-lhe no rosto a minha própria perturbação.
- Deves ter razão em duvidar. Para te falar franco, chego a julgar que me inventaste - e apertei os dentes, atravessado por uma dor instantânea.
- Mas não invento a tua frieza.
Bem vi que outros pensamentos galopavam de encontro às suas têmporas. Não lhes daria voz, porém. Pelo menos, a todos. Clarisse preferia não esticar, além de certos limites, as cordas do meu enfado. Picava-me, apenas. Ia aceitando, gradualmente, em- bora com espanto, fúria e terror, o pouco que eu lhe poderia oferecer.
- Nunca quiseste saber nada de mim. Vá, que sabes tu do meu passado?
Escorei-me nos antebraços. Procurei um cigarro nos bolsos. Media, à régua, as palavras que iria dizer.
- Que te sentavas num café com esse arzinho provocante. . . E se falássemos de outras coisas? A propósito, Clarisse: usavas um gracioso colete de bombazina. Veste-o um dia destes. Ficava-te muito bem.
Ela fixava-me, dorida, a desvendar um estranho.
- Escuta, Jorge, agora escuta-me. Quero sentir que estás, realmente, aqui. Tu poderás compreender que eu deseje tanto que saibas tudo de mim? Só assim poderei pertencer-te, como eu quero. - Ela fazia pontaria ao meu mutismo, para o estilhaçar. Mas logo uma ira crispada lhe borbulhava nas narinas frementes. - Dá-me às vezes a impressão de que és um saco de areia. Dou um murro, a mão amolga o saco, mas não se ouve pancada. E o saco, claro, fica na mesma. Será inútil repetir o murro.
- Faltava que alguém me definisse desse modo... Geralmente, o murro ouve-se, e bem, pois sou eu próprio a desejar ouvi-lo. Para que não fique sem resposta. . .
Dessa feita, acertara. Toda ela, enfim, desanuviou:
-- Venha então a resposta.
- Dá primeiro o murro.
Ela desenhou-me a boca e os olhos com os dedos, antes de, subitamente, com fereza, me beijar.
- Ah, és impossível. Obrigas as pessoas a renderem-se antes de o pugilato começar... Sê franco, uma vez, ao menos, sê franco: que sou eu na tua vida?
- Uma garota de nariz arrebitado. Caprichosa, volúvel, nem sempre fácil de aturar.
- Volúvel? - repetiu Clarisse, numa inflexão interrogativa mas sonâmbula, como se recitasse uma frase vazia de sentido.
- . . .E sobretudo uma garota que me puxa demasiadamente pela língua. Já devias saber que a loquacidade não está nos meus hábitos.
Fiel ao meu jogo, tive um sorriso que pretendeu ser jovial, mas que resultou duro e sombrio. Nem assim, porém, lhe evitei as receadas inquirições.
-- Quando se gosta de alguém não se fazem perguntas?
- Mesmo as desnecessárias?
Os dedos dela, úmidos, voltaram a aventurarse pelo meu rosto. Quando estava nervosa, bastava prender-lhe as mãos nas minhas para o saber. A sua pele tornava-se pegajosa. Era um contacto indesejável.
- Supões então que o meu passado é assim tão. . . sem interesse. . . ou tão secreto?
Oh, aqueles dedos! E ela bem percebia o meu desagrado.
- Se te apetece falar dele, não precisas de rodeios. De dar murros. . . Mas supunha-te absorvida pelo presente.
Clarisse abriu a boca para dizer alguma coisa, mas pareceu reconsiderar e, durante uns minutos, deixou-a asperamente cerrada. A sua expressão era a de quem estivesse a saborear um gracejo amargo. Depois, encolheu os ombros e disse:
- Era então por isso. . .
- Por isso, o quê, Clarisse? - retorqui, já com irritação.
- Por saberes que a minha vida já não pode ser desperdiçada com recordações...
- Estás a ser desagradável.
Ela sacudiu a cabeça nervosamente. ’f
- Estou farta de estar aqui. Desculpa, vamos embora. Fazes o possível, bem o sei. É já muito que consintas em aturar-me.
- Eu não ando a aturar-te.
- Pois é, só digo tolices. Vamos embora. A culpa deve ser deste vento, desta abominável paisagem.
- Mas tu gostas.
- Gosto. Gosta-se de muitas coisas que, por fim, nos empastam os sentidos. Por favor, leva-me depressa.
Adiantei-me uns passos a caminho do automóvel. O casario, ao longe, arrepiava-se à luz violácea do crepúsculo. Na larga estrada asfaltada passavam carros desarvorados, num uivo de doidos ou aflitos. Quando chegamos, junto do meu, Clarisse perguntou, de olhos escorraçados, uma expressão de pânico:
- Não ficaste ressentido, não?
Aproveitei um desvio que me encurtaria o regresso. Piso escavado, com os ossos de fora. A marcha fazia-se aos sacões. Nem eu nem Clarisse falávamos, mas cada um de nós ia, decerto, com os nervos saturados do diálogo irritadiço dessa tarde, das frases que haviam ficado por dizer, reagrupando agora esses fragmentos talvez para os suavizar ou azedai mais ainda. Clarisse depois fechou os olhos, num modo entediado ou de cansaço, evitando ao mesmo tempo que os estremeções da marcha nos fizessem roçar os corpos. No entanto, daí a pouco, reparei que as mãos dela tinham deixado de tremer, que um braço sereno, humilde, se aproximava, como por acaso, das minhas espáduas. Mas eu devia precaver-me: havia no rosto de Clarisse uma espécie de deleite por estar certa de que eu não conseguiria prever qual o seu comportamento no minuto seguinte. Esse abuso de emoções, mesmo que só prenunciado, era, uma vez mais, exasperante. Daí, pus-me em guarda, sobretudo quando ela abriu de novo os olhos e me sondou de esguelha, com zombaria. Eu sabia bem que ela ia falar, que media a surpresa das palavras, e eu, nessa tarde, já não lhe suportaria o jogo de flagelações.
Peguei num cigarro. Clarisse abrigou-me a chama do isqueiro com a mão que ficara solta e depois, de cabeças quase juntas, beijou-me a boca. De repente, à traição, como uma punhalada. O carro guinou com a travagem inoportuna, ia-se descomandando, de tal sorte que ficamos a dois palmos de um valado.
Tudo se passara em instantes. Ela teve um riso nervoso, um tanto feroz, que em vão fazia por reprimir ao enfrentar o meu gesto esboçado de censura.
- Serias capaz de negar que tiveste medo, Jorge? . . . Pois eu não.
Retomei a marcha sem lhe responder. Logo adiante, depois de uma rampa, entrávamos numa azinhaga bordejada de quintarolas, onde o arado talhara sulcos de um castanho sanguíneo, coágulos ainda quentes, que deixavam a terra como um ventre dissecado. Deles fumegava um halo de plenitude, misturando-se ao cio das árvores a florir. Bem percebia que aquele momento de perigo, de acidente frustrado, e ainda a atmosfera em redor, excitara Clarisse, e foi também essa excitação que me fez esporear a velocidade do carro, embora não me sobrasse muito espaço de manobra dos dois lados do caminho.
De súbito, senti o seu pé sobre o meu. Como a apoiar-me. Como num desafio. Esse pé aumentou a pressão, gradualmente, calculadamente, a haste do pedal foi desaparecendo, enquanto o meu corpo, e sobretudo os dedos retesados no volante, lhe recebiam o alarme e as vibrações. Só a muito custo eu dominava o deslizar do carro para as margens. Aceitara, porém, o repto. Ele servia-nos de linguagem. Clarisse abria as narinas, inchava-as numa volúpia fina sempre que o automóvel se aventurava sobre os obstáculos que nem havia tempo para ladear. O silêncio, entre nós, avançava e recuava em ondas rumorosas, nele a ouvia picar-me: ”Vá, mais depressa, se tens coragem!”
Seria aquilo coragem? Mas eu concedia que assim fosse. Sentia em mim tanto de irritação como nela de improvisado propósito de me avaliar a resistência ao desatino. No entanto, ao abeirarmo-nos de um traiçoeiro ressalto da estrada, nas faces de Clarisse já não havia sangue. Apenas o brilho do susto saboreado. E também uma outra reação, ainda a gerar-se, mas que, aos poucos, ia avultando; o rosto tornara-se-lhe grave, quase refletido. Contudo, nem quando ela se abriu: ”E se isto acabasse desta maneira?”, apreendi o sentido da brusca viragem na sua atitude. Por isso, devolvi-lhe estupidamente a provocação de há pouco:
- De quem é agora o medo? . . .
- Medo? - escarneceu. - Vá, continua.
E a sua mão procurou o volante, pesou sobre a minha, a confirmar o risco.
A ladeira abrupta sorvia-nos. Eu conduzia por instinto, o cérebro enevoado. ”E se isto acabasse desta maneira. . . desta maneira. . . ” Ah, agora o repto era outro. Não me dizia respeito. Isto. Um modo fascinante, sem premeditação, de escapar a um cerco, de ser ela a mestra do seu fim. Como não compreendera eu imediatamente? Tinha-me vindo uma serenidade tardia e procurei então libertar-me daquele pé suicida, afastá-la, sacudi-la, mas a minha atenção, e as fibras tensas ajustadas à vertigem do automóvel, estavam absorvidas na vigilância de um acontecimento iminente. Apercebi-me de que teriam de decorrer alguns momentos antes de alcançar o travão. E nisto, após outra curva, quando a azinhaga, uns metros além, ia partir-se em duas, fui varado pela certeza de que já seria tarde para qualquer tentativa de perícia. Ó suor arrefecia-me a testa. Tudo iria, efetivamente, acabar. Clarisse sentiu o mesmo, mas, absurdamente, o seu pé soltou-se, fugindo do pedal, negando-se, de chofre, à ameaça e à cumplicidade no pavor; os seus dedos formaram um escudo à frente do rosto. Encolhendo-se de encontro a mini, gritou:
- Cuidado, Jorge!
Passamos o cruzamento nem sei como, o carro num balanceio de navio ao sopro de um tufão, até eu lhe moderar o desatino. Já lhe conseguira impor uma velocidade sofreada e ainda Clarisse não tomara consciência de que o perigo ficara para trás. Quando tomou contacto, mas por intuição, com a marcha tranquila, com o sossego das árvores que já não eram devoradas, susteve a respiração, como quem evita embaciar um espelho que se tem junto à boca, como se alguma coisa, o céu turvo, a cidade de colinas altas, já tão próxima, o heroísmo ou a covardia, tivessem desabado sobre ela; e olhou-me então com o espanto e o alívio cético de um sobrevivente, finda a catástrofe.
Balbuciou qualquer coisa que não percebi, passando a língua pela secura dos lábios. Uma veia pulsava-lhe, ainda em sobressalto, na fronte desmaiada. Eu persistia no meu azedume. Preferia manter-me na posição de quem acusa.
- Estás a olhar para mim mas não me vês. Clarisse debatia-se um pouco mais antes de se submeter com a humildade que precedia as pausas de desalento. - Acertei?
- Procuro descobrir se há uma outra por detrás de ti. Uma outra Clarisse, a verdadeira.
- Mas por que não há de ser esta a verdadeira?
- É o que pergunto em certos momentos. Ela cerrava de novo os olhos, macerados pela
quietude grave que nos envolvia. A sua respiração era breve. Ainda não se refizera do abalo. Por que não a ajudaria a desanuviar-se? Que gosto esse, tão frequente, por vê-la rabiar como uma lagartixa de cauda cortada? Fui possuído pela sensação de que, na maioria das vezes, eu era para Clarisse um inimigo atento ao mínimo deslize que lhe pudesse trair os defeitos. Tinha de me defender contra isso, tanto como das armadilhas do seu humor instável. Passei-lhe os dedos pelos cabelos. Ela reteve-mos, aceitando a carícia com docilidade.
- As coisas que nos vêm à cabeça, Jorge! Mas agora só queria saber se, há pedaço, o medo que tive foi por mim, se por ti.
E encostou-me os lábios ao dorso da mão, forçando-os a emudecerem.
No entanto, Clarisse tinha de falar do passado. Arrumá-lo (tal como eu tentava arrumar o meu presente, unir o <que fazia ao que sentia, sem porém, o conseguir), esclarecê-lo para se libertar melhor. Ou então era-lhe necessário, por orgulho, talvez, justificar certos aspectos contraditórios que se farejavam na sua vida.
Nesse mesmo dia, porque sentíssemos ambos a urgência em refazer ou arredar definitivamente as horas de mútuo agravo, antes que sedimentassem, fomos jantar a um restaurante da outra margem do rio. Escolhemos a mesa do terraço, de luzes refletidas na água funda e espessa. Os navios, imóveis e enigmáticos, pareciam monstros que tivessem esperado pela noite para vir à superfície. Só os barcos que ligavam as duas margens, de olhos fosforescentes, nos libertavam desta sensação de que a cidade, desprevenida, se deixara sitiar pelo rio.
- Foste esta manhã ao hospital?
- Decerto.
- Muitos doentes?
- Alguns.
Clarisse não insistiu. De olhos fitos na vastidão sonolenta das águas, seguindo-lhes, com ar absorto, o estremecimento subterrâneo, que às vezes refluía como uma maíicha de óleo, ela estava, no entanto, de pensamentos ^ léguas dali. Bem lhe percebi a ausência. Estalei com os dedos a chamar o criado.
- Para começar, dois martínis. - E dirigindo-se a Clarisse: - Hoje, este jantar vai ser com todas as regras. Aprovas?
Ela acenou que sim. O lampião rente ao muro do terraço dava-lhe uma tonalidade crua. A sua beleza surgia assim estranhamente artificial ou mortificada. Mas pelo meu lado, assaltara-me um desejo imbecil e urgente de boa disposição.
- Queres então que te fale da minha consulta de hoje... Aí vai: observei um bom homem das Beiras, com o rosto bochechudo da cor do salpicão, e reformado da Câmara. A sua doença era essa, julgo: uma reforma que o obrigava a trazer fundilhos nas calças. Depois, uma algarvia. Padecia de tudo, muito particularmente de uma língua infatigável. Etc. Estás satisfeita? Claro que, de todas as vezes, eu repetia o estribilho: ”Não é para esta consulta”. Levo os dias a repetir as mesmas coisas. Estas e outras, como um papagaio.
A mão de Clarisse segurou-me um dos braços. Impedia-me, assim, de dizer mais baboseiras. Eu bem sabia por que ela me falava do hospital, dos doentes. Já outras vezes o fizera, obliquamente, esperando que eu lhe contasse cenas e casos que lhe mordessem os nervos, enquanto se fechava a toda a insinuação para que reatasse os tratamentos. Mas eu estava atento.
- Essa tarde, Jorge, creio que não me fiz entender. Devia ter dito logo que o meu desejo era que conhecesses melhor a Clarisse. Não, não me refiro àquela tolice do automóvel! Isso está esquecido. E espero que também o esteja da tua parte.
Disse as palavras de roldão, a desfazer-se delas de qualquer maneira, e ficou a sacudir o pescoço, como um frango engasgado.
Esvaziei o copo, esperando que ela dissesse o resto. Havia um resto, de certeza. Ela tinha uma maneira imprevista de travar e ficar em guarda, dando tempo a que se revelasse aquela parte de mim a que as suas palavras não conseguiam acesso.
- Acaba o teu mar tini, Clarisse. Posso agora confessar-te que na noite em que te encontrei no cabaret bebi mais martínis do que em todos os anos da minha vida. Fiquei a gostar.
Ela, porém, ignorou o meu parêntesis.
- Ia a f alar-te da conversa desta tarde. Talvez seja eu que necessite de despejar velhas coisas. Sentir-me-ei, depois, mais tranquila. Estás, de fato, a ouvir-me? São lindos os barcos, Jorge. Tão misteriosos!
Donde lhe vinha aquele reflexo esverdeado das pupilas? Do rio? Da noite? Um reflexo verde mas opaco. A opacidade dos velhos espelhos que retêm as imagens de que ninguém se lembra. E a voz subitamente ausente? Nunca a sentirão tão longe de mim. Tão desapegada. As suas palavras não me eram dirigidas. Era uma sensação desconfortável. Achei-me a estimulá-la ao diálogo, numa tentativa ciumenta de a recuperar.
- Disseste ”mais tranquila”?
- Não era bem isso: mais leal com o presente. As perguntas que te fiz esta tarde eram importantes. Mais do que supões. Sabes que é viver toda a vida em companhia de gente para quem significamos muito pouco? E isso nem ao menos nos ajuda a encontrarmo-nos. Nem isso. Sei-o agora.
Havia, como de outras ocasiões, certa irrealidade no que ela dizia. Mas talvez essa irrealidade estivesse antes na entoação. Não o sei. O certo é que, ao ouvi-la depois falar no passado, não senti que fosse eu o interlocutor: como se Clarisse tivesse gravado essas palavras noutras circunstâncias, para outros ouvintes, e agora as reproduzisse para inventariar as reações de alguém que se deseja conhecer. Fitava-me com estranheza e arguta minúcia. A voz monocórdica nada tinha que ver com esses olhos que já não eram foscos, antes sobressaltados, de uma agilidade de lebres esquivando-se à matilha.
Foi assim que fiquei a saber que Clarisse nascera numa cidadezinha da província. O pai tinha um modesto comércio. Um dia, não suportando mais o ambiente, ela saíra dali para cursar uma escola comercial. Depois vieram os instáveis e miseráveis empregos de escritório, as ciladas, os amigos e, às vezes, os dias sem dinheiro para uma refeição. Apaixonarase por um homem casado (”Para que precisamos nós tanto de gostar das pessoas!”) e, seguidamente, quase sem transição, por um artista. Este, por fim, vendera-a. Ela deixara-se negociar com a passividade de um ébrio que aceita todos os copos que lhe põem nas mãos. Não fora bem assim - corrigira. O amante era um tipo da grande finança e ela aceitara-o por desprezo ao artista. Quando reparou no logro (o artista não sentira qualquer afronta), decidira fazer uma coisa terrível: por exemplo, lançar-lhes ao rosto um ácido corrosivo. Que todos lhes pudessem reconhecer a monstruosidade. Vira isso num filme. Num dia de maior solidão e amargura comprara o bilhete de cornboio para a cidadezinha natal, mas ao chegar à estação verificou que nada daquilo lhe dizia respeito: era ali uma estrangeira. O que lhe restava de seu era a independência, o aceno de uma vida despremeditada. Tomou o primeiro combio de regresso. Mais tarde recebera a inesperada herança de um parente.
- Como vês, não me devo queixar: passou por mim muita coisa, menos bolor. . . Aconteceu-me um pouco de tudo. Até a morte marcada por um despertador que, uma vez que lhe foi dada corda, ninguém o fará parar. Este vinho é bom, Jorge, tu afinal percebes destas coisas. Não, não me devo queixar. Mas a verdade é que me queixo, não é o que dirás? Riu, de súbito, numa alegria despropositada. - Tenho a impressão de que vamos precisar de outra garrafa. . .
Chamei de novo o criado. Ao voltar-me, encontrei um par muito jovem que se sentara numa das mesas. Não dera pela sua chegada. Eles tinham as cabeças juntas, a boca imóvel, quase severa, os olhos assestados no festim de luzes do ferry-boat. Se alguém ali desse um berro, nem estremeceriam. Depois ela rodeou o companheiro com um braço, não para o acarinhar, mas sim para que os dedos lhe buscassem, no bolso, naquele exato bolso, um cigarro. Naquele exato bolso. Ela estava certíssima de não se enganar. Nenhum pormenor me poderia ter sugerido tão profunda identificação entre dois seres. Senti-me parvamente emocionado. Talvez por isso, um ressalto da narrativa de Clarisse, contada num humorismo sombrio, ficara-me retido e ei-lo a ferroar-me os ouvidos: a história da herança. Parecia incongruente, ao confrontá-lo com a situação atual de Clarisse. Naquela noite, depois do cigarro que, no exato bolso, aguardava as mãos da rapariga, não lhe perdoaria uma mentira. Daí, embora fosse outra coisa bem diferente que ela esperava de mim, insinuei:
- Falaste numa herança. . .
- Não foi grande coisa. Não levou muito tempo a gastar o dinheiro em viagens e vestidos.
- Em vestidos?!
- Por que esse espanto? - Ela riu-se docemente, com afeto. - Tu és daqueles que nunca cornpreenderão verdadeiramente uma mulher. Tive sempre a impressão de que medias qualquer mulher por ti, quer dizer: pelas virtudes e defeitos de um homem.
Era quase certo que ela tinha carradas de razão, já Lúcia mo dissera antes - e pela primeira vez via-me empurrado a meditar nesse aspecto da minha personalidade, que, porventura, explicaria algumas das reações que me eram habituais. Ainda nessa manhã, na tal consulta que Clarisse se esforçara por me j fazer relatar. . . Ainda nessa manhã. A algarvia tinha, como era de norma, a sua idade marcada na papeleta. Mas eu não reparara nisso e, ao tentar desensarilhar-me do embrulho das suas queixas (”sinto umas coisas na cabeça, a subir e a descer, sinto uma vontade nem sei de quê, de partir cadeiras, por exemplo, ora veja o senhor doutor para que me dá”), eu disparara a pergunta, uma certa pergunta, da qual às vezes se partia para uma investigação mais certeira:
- Que idade tem?
- Trinta e sete.
- Ninguém o diria.
E este ”ninguém o diria”, mesmo de olhos baixos e secamente, bastara para abrir uma fenda de paz, de arrumação e de confiança, na doente. A partir daí, tudo se simplificara. E ela saíra do gabinete com alguma coisa mais do que antes de chegar à minha presença.
E não só a algarvia. A tal velha também, a seu modo, e por outros caminhos.
- A senhora ainda tem hemorragias?
- Ah, o senhor sabe! (Eu lera no dossier, mas ela estava longe de supor que uma doença de há anos atrás tinha ali a sua marca, catalogada como um crime.) Então foi o senhor que já nesse tempo me tratou, ora basta que sim! E como ainda se lembrava!
Tão simples, tão eficaz e simultaneamente tão difícil. Difícil para mim.
E não só a velha. O que eu poderia trazer à lembrança, se quisesse ir mais longe, antes de Clarisse me ter vindo baldear esta floresta de hábitos, de confusa vegetação, que é a vida quotidiana, onde os acontecimentos imediatos se petrificam, embrutecendo-nos.
E não só a velha. Naquela noite do cabaret uma rapariga dissera a outra ”és uma cabra, Teresa” só porque ela lhe esfrangalhara uma pobre ilusão. Uma ilusão que, no entanto, tinha a consciência de o ser
- mas era necessária. Que eram as pessoas? Ilhas. Ilhas isoladas e um braço estendido, a fazer de ponte, por onde se esparava que passasse alguém.
Assim era: eu não sabia compreender uma mulher. Em Clarisse, por exemplo, teimava em ver apenas a doente - as suas reações deviam ter sido descritas, classificadas, algures, num tratado de medicina. Tal como um enfermo, achacado de pelagra, que corre doido pelos campos. Se corre doido pelos campos, tem pelagra. É a pelagra que corre. Se aqueles breves raios de loucura passavam por Clarisse, se o mórbido desvario a conduzia a atitudes extremas, é porque as patologias as previam, as regulamentavam. E se assim não fosse?
Clarisse, ao reparar no meu silêncio taciturno, fez um sorriso de astúcia.
- Nunca julguei que uma simples beliscadura te afetasse tanto. . .
- Que beliscadura?
- Ora, falei-te de mulheres. E tu julgas ser um puritano. Pois vou agora dizer-te por que espatifei o dinheiro daquele modo. Estava farta de ser eu, miserável como um casaco velho. Percebes? Este vinho é mesmo born. E a linda cor que tem, transparente, tão leve. Repara aqui! Tu sabes lá o que representa vestir durante anos um casaco velho! E então pensei que os vestidos e outras coisas para que nunca me sentira atraída me dariam uma nova personalidade.
Ardiam-me os rins. Já não queria estar bem disposto. Nem ouvi-la. O momento passara. Aliás, ela falava excitadamente e cansava-se. Daí a nada a sua voz tornar-se-ia anelante e segredada. Mas seria inútil impedi-la. Apenas disse:
- Também já tive casacos velhos.
- Ah, ainda bem. Vais então compreender. Deita-me um pouco mais de vinho, Jorge. Assim, basta. Eu queria ser diferente, começar tudo de um novo ponto de partida. Como se me tivessem oferecido outra vida. Seria maravilhoso, não te parece? Mas o vazio ampliou-se. E não havia razão para isso, pelo menos na aparência, não achas? A verdade é que eu fugia das coisas que valem a pena, das que nos enchem cá por dentro, mesmo que seja preciso sofrer por elas. Ou então negava-me a verificar que não tinha coragem para as merecer.
A sua voz, como previra, tornara-se lenta e monótona. Tal como o céu espumoso que nos cobria. Ela ia arrancar as palavras ao fundo da memória para as trazer, já sem vibração, aos meus ouvidos distraídos. Essa toada acabara por me entorpecer. Só desejava que ela terminasse aquilo depressa: os meus nervos estavam saturados. Foi com irritada fadiga que lhe ouvi dizer ainda que, quando adoecera, já não havia dinheiro, mas que se resignara, sem desgosto, a uma enfermaria.
- Achas que devo censurar-me? - E, sem aguardar resposta, acrescentou: - Agora, de resto, seria tarde.
Chegando aí, calou-se. Esperava decerto que, fazendo prolongar o eco das últimas palavras, me estimularia, finalmente, a uma referência àquilo que tanto eu como ela (mas eu, sobretudo) procurávamos fingir que não se atravessava entre nós. Era a sua segunda ofensiva naquela noite. (Uma bela noite de nudez saciada, que apetecia silêncio, modorra e não palavras.) Ela raramente tinha ânimo para fazer um ataque frontal; no entanto, de todas as vezes que estávamos juntos, a sua ansiedade interrogativa pediame aqueles nadas que reanimam uma vida. Em particular uma vida que não tem de que habitar o futuro.
- Enfim, Clarisse, fiquei a saber muita coisa de ti, como desejavas, e também que não percebo muito de mulheres. Ora, para começar a minha aprendizagem, acho que deverei mandar-te flores. É uma ideia que me acompanha, como se fosse um pecado, desde esta tarde.
- Isso não, Jorge!
Ficara muito séria, aflita, olhando em volta uma presença obscura.
- E eu a pensar que era assim que procediam os entendidos. . .
- Só mais tarde, Jorge. ;
- Só mais tarde o quê?
- As flores.
As flores. Que fosse para o diabo mais os enigmas. Levei o último copo à boca e esvaziei-o. Já lhe ia ganhando o jeito.
. . . Pedía-me aqueles nadas que reanimam uma vida. Enfim: a torpe ilusão de que poderia haver um erro ou uma possibilidade. Mas nem só Clarisse necessitava dessa ilusão, embora fosse eu, que também dela necessitava, a última pessoa que a doença pudesse burlar. Não era apenas a magreza, o embaciado amarelento da face, os olhos que começavam a parecer desmedidos, isolados numa paisagem desabitada: as próprias feições se tinham alterado. A gente percebia-lhe, com uma ácida e progressiva nitidez, a corrupção. No entanto, à medida que essa decadência se acentuava, menos eu a queria admitir. Pela primeira vez, por assim dizer, nesta revolta das vísceras, eu fazia a violenta descoberta da morte através de uma pessoa ainda viva. Durante as minhas vigílias de cigarros traspassava-me o eco de longínquas vozes.
Desejei muitas vezes ter alguém (e só então reparava, com azeda amargura, quanto tinha sido até aí desastrado nas relações humanas, quando conduzira as pessoas a respeitarem-me por entre uma gélida terra-de-ninguém, a temerem-me e nunca a terem estima por mim), um amigo que interpretasse as incongruências do meu procedimento, humanizando-as a meus olhos, ajustando-as, se fosse possível, à espécie de pessoa que eu julgava ser. Eu, por mim, de modo algum as poderia ajustar.
Que se passava, pois, comigo? Haveria em mim um lento acumular de emoções constrangidas, na sangria dos dias, que me tinham enchido as mãos de um calor de sangue desperdiçado - emoções que, de súbito, haviam encontrado uma fissura por onde rebentar? A pergunta seria talvez mais coerente se eu lhe desse uma expressão exata; que era Clarisse para mim? Eu temia, porém, essa precisão. Tenho evitado, mesmo, reler o que fica para trás pois receio que nestas páginas já a verdade, por si só, embora a desencaminhe por atalhos, haja furado a armadura das palavras. E, no entanto, bem sei que a pior raça de embusteiro é o que se escolhe como vítima.
O passado de Clarisse, verídico ou romanceado, em nada me impressionara, claro; já sabia que a sua irreverência, as suas arrogâncias, o jogo de escondidas com a vida, eram apenas fragilidade. Clarisse era uma pobre rapariga desorientada, débil, feita para se apoiar em alguém. Toda a sua história significava a busca desse apoio. Mas não queria ser ludibriada; tal como eu, não queria confessar que a solidão nos deixa as mãos estendidas e apavoradas dentro de um quarto escuro; daí, as suas fugas, o seu arzinho de bicho que se prepara para arranhar enquanto não está certo se deve confiar nos dedos que se estendem para o afago. E eu, que surgira na sua vida como a última personagem que os seus dedos desiludidos poderiam tocar, sentir-me-ia atraído só porque esse afago era tão dramaticamente desejado?
E em tudo isso eu meditava, roendo-me, estirado na cama à espera do sono, os olhos a arder numa espertina que deformava o tempo e as imagens que o povoavam. E nem a presença física de Clarisse, ali à beira, me era nítida. Nem os sapatos e as roupas espalhadas pelo quarto, ou a pilha de revistas que ficara no chão, junto à cama, memórias ainda quentes da véspera ou do dia seguinte. Mais nítida era a ideia de um destino, e não de um corpo. E, de quando em quando, num súbito grito do cérebro e dos músculos, eu tateava-lhe a face, os cabelos, os braços, para que esse destino e esse corpo e os nadas que testemunhavam a nossa existência em comum fossem uma unidade, para ficar certo disso e ainda de que ela estava realmente a meu lado - e viva. Tateava-lhe o ofegar lento, vegetativo, da carne - e os meus dedos intimavam-na a viver. ”Vive, Clarisse, por mim e por ti, dá-me a certeza de que existes!”
Tenho de falar mais dessas noites, mesmo que o não queira. As noites, por vezes, quando são flácidas, dilatam as formas. Os volumes perdem os contornos. São modelados pelo pesadelo. Concentramos, por exemplo, as ideias num pedaço do nosso corpo, um dedo, um joelho, e sentimo-los distorcidos, excrescentes. Apetece-nos decepá-los. Lá fora, acontece o mesmo: as coisas dormentes agitam-se para uma dança sonâmbula, as mortas fumegam das cinzas, e tão densa é a espessura da atmosfera que o nosso desabrigo goteja como de uma esponja espremida. Então, sem coragem para nos erguermos e fazer qualquer coisa exata e aliviadora, sentindo o teto a prensar-nos o crânio, nada mais nos resta do que esperar, de coração transido, pelo alvorecer. Só quando ele chegar, os espectros, a quem a luz cega, regressarão às sepulturas.
Numa dessas horas de insónia (por quanto ainda se prolongaria a expectativa?), Clarisse despertou e viu-me apoiado na almofada, fumando, pensativo. Olhou-me com assombro, e logo depois com indignação, como se me tivesse surpreendido numa infidelidade ou a usufruir um prazer que, a ela, fosse interdito. Cobriu-me o rosto com os seus cabelos, enterrando-me as unhas nas espáduas, a impedir que eu lhe recusasse a conivência no meu mundo, beijou-me uma, outra vez, em sucessivas vagas de fúria amorosa.
- Estás acordado há muito?
A voz dela, na obscuridade, partia de um lugar indefinido e era depois apanhada por mãos gigantes, que a desfiguravam e enrouqueciam, obrigando-a a ressoar por mais tempo.
- Foi apenas há instantes. Apeteceu-me fumar.
- Que horas são?
- Não faço ideia. É noite, acabou-se. Que importância tem isso?
- Tem - e acendeu o candeeiro. - Não quero dormir. Nunca mais me deixes dormir!
Era um apelo de uma sinceridade patética, rancorosa, que me atemorizou. Aquilo excedia-me. Ela levantara a cabeça, olhos no vácuo, as mãos estendidas sobre a cobertura do leito, numa posição de quem se prepara para entrar em transe. E repetia obsessivamente:
- Promete-me! Jura que mo fazes!
Não conseguia serená-la. Apetecia-me, aliás, tentá-lo pela violência, mas faltava-me coragem para isso.
- Jura!
- Prometo - concedi eu, imbecilmente, como quem aceita uma degradação.
Ela foi então percorrida por uma alegria maravilhosa e enternecida, a que logo se seguiram soluços refreados como quem os tritura, enquanto me dizia que as horas do sono lhe eram roubadas, roubadas à vida, que a despertasse sempre que a fadiga lhe fosse subjugar a resistência. Insisti em apagar a luz. Não podia ver Clarisse. Nem por isso as suas mãos, insaciáveis, deixaram de me correr o corpo. Impeliu-me a possuí-la noite adiante, de cada vez atiçando-me o desejo com luxúria e pânico. Dir-se-ia que, para ela, para nós, a vida iria acabar no minuto seguinte.
- Não precisas de outra mulher, Jorge. Sou eu a tua mulher, a tua amante, o que desejares que eu seja para ti. Juras que não pensarás noutra mulher?
E, na posse, a sua ânsia encarniçada era a de que toda a nossa fusão fosse para além dos corpos.
- Tu juraste, querido. Quanto te estou grata! Por fim, na escuridão, as lágrimas correram-lhe pelas faces: gotas de alegria, intensas, vivas, que me deixavam nos lábios o suor de pétalas orvalhadas. Já apaziguada, já humilde, trocando a minha humilhação por um pouco do seu desânimo, disse:
- Afinal, não quero que jures. Eu não presto para nada.
Quando Clarisse voltou a adormecer, já a manhã espreitava por uma abertura das cortinas e estava exausta como uma criança que tivesse chorado horas seguidas. O seu subconsciente, porém, não se rendera, continuando alerta. Ela voltava-se na cama a todo o momento, o rosto mortificado, os dedos a cravarem-se na carne das pernas e dos braços para se despertar a si própria.
Após essa noite, e durante uma semana, o seu frenesi não teve medida. E a verdade é que conseguia manter-se de pé quase sem dormir. Por vezes a cabeça tombava-lhe para cima dos meus ombros, toda a sua carne vergada à doença e à fadiga, incapaz de suportar um segundo mais de vigília, e só muito depois as pálpebras se fechavam sobre a imobilidade esgazeada dos olhos.
Como tem mudado o tom desta narrativa! Perco as rédeas dos meus nervos. A unidade do que somos - é tão fácil perdê-la! Dá-me a ideia de que me pegaram pela mão, arrastando-me para uma feira alucinante de surpresas. Quem entra na roda, subindo, descendo e cabriolando sem o querer, só poderá parar, recuperar-se, quando a roda parar também. E a desconexão dos fatos? Sinto-a, mesmo sem a ir averiguar no que aí fica escrito. As vozes da coerência ensurdecem nestas malhas de neblina, ficam só audíveis os gritos.
Mas tudo deve ser da noite. À hora em que vos escrevo, as lâmpadas adormecem nas esquinas, penduradas, como enforcados, da névoa ribeirinha. Ainda pensei em percorrer as ruas - fugindo de mim. Hoje, porém, seria inútil. Prefiro, daí, continuar amanhã. Amanhã é dia.
Os meus hábitos, como já depreenderam, tinham sofrido vergonhosa alteração. Em certos dias nem chegava a aparecer na consulta ou na enfermaria, só para conseguir umas horas isoladas de quietude e acerto comigo próprio. Mas ainda que assim não fosse, faltava-me serenidade para um trabalho escrupuloso. A desarrumação da minha vida surgiame, então, numa ácida evidência, enquanto os meus colegas, uns tipos flácidos moldando-se a todas as arestas, seguiam em frente sem um gesto desalinhado. Talvez os invejasse já.
Lúcia substituía-me gradualmente. Era nela que os doentes e as enfermeiras e os tais colegas flácidos (mas cumpridores, gaita, e era isso que interessava) iam reconhecendo a chefia que eu não soubera ou já não podia reter nas mãos. Nem por isso as tarefas deixavam de ser executadas com a eficiência anterior, uma eficiência discreta, ordenada, metódica, perante a qual, noutras circunstâncias, teria sentido mais do que ciúme: desorientação. Desorienta sempre verificar que, por mais que julguemos o contrário, há quem nos possa fazer esquecer. No entanto, nos raros dias em que eu recobrava, episodicamente, o ritmo de outras épocas, Lúcia logo se recolhia para o seu lugar submisso e apagado de colaboradora. E fazia-o com uma naturalidade, um tacto, que chegavam a enervarme. Seria difícil a um estranho aperceber-se de que convivíamos numa atmosfera de recriminações surdas, escamoteadas, cujo desfecho íamos adiando sempre, tacitamente, para mais tarde.
Lúcia, todavia, não podia ser indiferente ao que se passava. Provavelmente sentia-se mais vexada que traída, mas na sua atitude captava-se, sobretudo, uma reprovação em que ela, como mulher, não parecia em causa. Censurava-me o desatino, sim, mas na medida em que se refletia no meu desleixo profissional. (Andavam já por ali, ao cheiro da minha queda, uns cachorros famélicos de dentes adestrados e eu imagino que salivas empeçonhadas escorriam para os ouvidos do diretor de serviço, que, aliás, ia distanciando cada vez mais os seus cumprimentos cenográficos.) Eu sabia, contudo, ou suspeitava, que esse desleixo era, para ela, um trofeu: uma razão válida e impessoal de acusação. Preferia mil vezes que ela me tivesse lançado à cara tudo o que tinha para dizer. Por isso, decidi quebrar-lhe a reserva (aquela sua tão ladina reserva!), ferindo-a:
- Mas você ainda não ensaiou estas ampolas que nos enviaram da Alemanha?
(De tempos a tempos, creio tê-lo dito já, de vários lados nos chegavam novas drogas de diferente cariz: as honradas e as desonestas - que eu, ao farejá-las, logo lhes dava o destino justo -, umas e outras, porém, igualmente incapazes de nos acenarem com a certeira via da cura dos nossos doentes. Não obstante, tínhamos de joeirar as boas das más sementes - e experimentar. Experimentar sempre, com um prévio e desgastador sentimento de fracasso. Um dia avistaríamos o triunfo: até lá, cumpria a todos, aos doentes e a nós, pagar-lhe o seu duro preço.)
Lúcia respondeu com um seco:
- Ainda não tive oportunidade. Eu então fui mais longe:
- Incúria ou esquecimento?
Na palidez do rosto de Lúcia, logo afogueado, o meu insulto gravara-se como os dedos de um verdugo.
- Temo-nos ambos esquecido de muita coisa.
- É uma insinuação?
E veio a réplica, nítida como um murro:
- É uma acusação.
Atingira o alvo. Agora era esperar que Lúcia dissesse as coisas de frente. Era tudo o que eu desejava: que fosse alguém a encurralar-me donde não pudesse escapar. Lúcia, porém, não soube ser firme. Até hoje ainda não conheci nenhuma que soubesse sê-lo. Ao vê-la esconder aquele seu lábio chorão por detrás dos dedos e fugir de uma briga salutar, pensei uma vez mais que os povos bíblicos, ao legarem-nos bons preceitos de higiene, foram sábios em muita coisa mas esqueceram-se de suturar, em devido tempo, o saco lacrimal das mulheres.
Olhei pela janela o sol arrefecido. Chovera momentos antes: o bafo da terra úmida fumegava à superfície da erva tenra. Lá estavam os perfis espessos e graves das colinas por onde, ainda na manhã anterior, andara com Clarisse. No alto, avaliando a altura do céu, as torres da televisão. Ainda ontem. O espaço esvaziava-se, à medida que os meus olhos o percorriam e identificavam, por ele alastrava o meu cansaço. Já agora - dizia eu para comigo, sob a ressonância do murro de Lúcia - quero ver em que isto dá. Achava-me, afinal, a repetir uma frase antiga, que não era minha, mas sim de um doente à beira de um íntimo naufrágio: ”Já agora, senhor doutor, quero ver em que isto dá”. Pensava ele que lhe era possível gozar o seu espetáculo.
E então cortou-me os ouvidos aquele silvo lancinante: o de certa locomotiva a gritar pela via fora. Cortou-me os ouvidos, cravou-se-me na medula dos ossos. No seu rasto ficava uma sensação última de infelicidade. O que aquilo sempre me tinha exasperado! Mas nunca como nessa altura.
Uma certa locomotiva. Dizia-se que a guiava um ferroviário cuja mulher morrera ali no hospital, esquecida, morta pela nossa indiferença ou ignorância. E, pois, sempre que passava em tão odiada vizinhança, atravessava-nos a carne com o seu grito de dor e maldição. Dessa vez, homem ferido de boa memória, ninguém o sentiu como eu.
Um acontecimento desse mesmo dia ajudou-nos, porém, a afastar os nossos problemas pessoais e permitiu que Lúcia e eu voltássemos a encontrar-nos, já com o domínio recuperado, num campo neutro. Tratava-se do Carlos Alberto - um dos doentes mais populares que frequentavam o serviço: jovem, de uma espontaneidade alegre e impetuosa, sempre presta vel, tinha exuberantes planos para o futuro e, ao falar-nos deles com um entusiasmo que era uma labareda de crença em si próprio e nos outros, parecia desejar dividi-los também por quem o ouvisse. Nas vésperas de exame, trazia os livros para a sala de espera e a consulta prolongava-se a discutirmos as dúvidas que eu lhe poderia retificar. Ele era estudante de ciências biológicas. De uma vez o seu nervosismo foi tão contagioso que Lúcia esperou-o propositadamente à saída da faculdade para conhecer, sem demora, o resultado do exame que ele mais receava. O Carlos Alberto era um caso perdido. Excessivo em tudo, na credulidade, na juventude, na alegria, essa fornalha em que vivia não o deixava sondar a verdade. Mas se um dia a suspeitasse, nem quero imaginar o que poderia acontecer.
A verdade conhecia-a a noiva. Tive sempre este gosto mesquinho de comparar as pessoas aos bichos, e, para ela, encontrara um parentesco zoológico que diziam ser a minha obra-prima: a noiva do Carlos Alberto era um pinguim. Seria preciso tê-la conhecido para achar piada à minha definição, pois os seus ombros sugeriam duas dobradiças flectidas sobre o esterno e deles partiam os braços desmesuradamente longos e escuros, que, ao cruzarem-se à frente, síncronos com o andar articulado, semelhavam as asas grotescas de um pinguim. Pois a Henriqueta, era o seu nome, sabia rigorosamente o que havia a esperar da doença do noivo e nem por isso arredou pé. Mais se lhe dedicou. com estóica simplicidade. No entanto, seria impossível a alguém, fosse quem fosse, referir-se ao seu estoicismo, pois não havia fresta por onde ele se manifestasse.
Lúcia veio falar-me deles, embora no modo desastrado como introduziu a conversa me tivesse deixado na dúvida se o caso do Carlos Alberto lhe servia, sobretudo, para varrer o rescaldo do incidente de horas antes.
- Se estiver bem disposto... - disse, deitando-me um olhar oblíquo de precaução ... desejava falar-lhe do Carlos Alberto.
- Se estiver bem disposto?!. . . Podia muito bem ter dispensado o prefácio.
Não pude, contudo, deixar de sorrir. E esse sorriso foi o bastante para que a pobre Lúcia se sentisse ameigada como uma cadela sem dono.
- Eles querem casar-se.
Abri a torneira e chapinhei a testa e os olhos com água fria, submetendo depois ao espelho uma face de cada vez, numa inspeção desconfiada de quem aprecia um sujeito contra o qual nos preveniram criando, em suma, aquela pausa irritante e artificial, já bem conhecida de Lúcia e de todos, que a definiam neste pregão: ”Cuidado: lá está o Jorge com as lavações!” Mas quis-me parecer que Lúcia assistia ao ritual com evidente agrado.
- Quem lhe falou no assunto?
- Ela. Está pronta a concordar. Queria apenas saber de nós se o casamento poderia prejudicálo... apressar-lhe a evolução.
Reparava na velha atitude de Lúcia: apoiada ao armário dos medicamentos de urgência, os braços cruzados, expectante, a fronte ligeiramente flectida. Tal como dantes. E fui bruscamente acometido pela sensação de que ambos, nesse dia, reatávamos uma história interrompida. As minhas narinas, abertas, aspiravam, deliciadas, a atmosfera que nos cercava, tal um fumador que regressa à marca de cigarros preferida.
- Ela que decida.
- Já decidiu.
- É uma rapariga às direitas.
- É o que penso também - anuiu Lúcia de olhos úmidos, conquanto me parecesse desamparada por nada mais poder acrescentar.
- Diga-me, Lúcia, que faria você no lugar dela?
Lúcia descruzou as mãos. Passou-as pelos cabelos (cabelos finos, dóceis - não eram os de Clarisse, excitados como a crina de um potro bravio) e respondeu:
- Quando alguém sofre sozinho, nem sempre pode com o peso do seu sofrimento. Se eu fosse tão corajosa como a Henriqueta, faria o mesmo.
Afundei as mãos nos bolsos, macerei a ponta do cigarro.
- E não é?
- Penso que sou demasiado egoísta para o conseguir.
Depois Lúcia pôs-se a cirandar à minha volta, um inseto em redor de uma chama, e por fim, sem me encarar, tornou:
- Experimentarei as ampolas. - E dado que eu nada replicasse, disse ainda: - Não quererá alargar os ensaios a outros doentes?
- Por agora. . . - e, de súbito, percebi. Foi das raras vezes em que o meu rosto se fez túrgido.
A consciência dos meus descaminhos e das censuras que, veladas, me mordiam a reputação (até o Romualdo, comprometido, se punha a esgadanhar a cara picotada de pequenas borbulhas, sempre que me topava de improviso - dir-se-ia que o transviado era ele -; e o Guedes deixara-me uma carta no gabinete, rogando cautelosamente: ”Preciso de me avistar consigo; apenas dois dedos de conversa”) acirrava-me mais ainda a levar por diante a minha leviandade. E quando me analisava fazia-o com insolência
- contra mim e contra todos -, mas também, noutras ocasiões, com uma espécie de degradação sem testemunhas. Os meus pensamentos procuravam então abrir caminho esforçadamente, palmo a palmo, como a desentupir uma estrada depois de uma tempestade de neve.
A posição de Clarisse em tudo isso ia-se diluindo, pois, nesse desafio entre mim e o ambiente. E quem sabe se uma tal provocação significava uma fuga camuflada ao drama de Clarisse e ao meu problema. Outras vezes, porém, sobretudo quando a atmosfera do hospital, as tarefas, as pessoas, me chamavam aos hábitos antigos e neles reencontrava um jeito de viver (o meu exato modo de viver e de reagir), era contra ela que me insurgia. Clarisse necessitava de um cúmplice, de quem lhe iluminasse uma brasa de sonhos até nela, juntos, se consumirem, e percebera em mim uma presa acessível. A doença aguçara-lhe o instinto, não lhe fora difícil observar que eu, até aí enfiado num reduto de frustrações, dentro do qual inventara orgulhos e uma falsa invulnerabilidade, ficaria à mercê do primeiro estremeção. As minhas emoções, represadas, rebentariam fragorosamente logo que lhes abrissem uma brecha. Em certos momentos, já dantes, havia em mim o prenúncio de acontecimentos inconfessadamente desejados.
Lembrava-me agora de uma senhora que falecera no hospital tempos atrás. Contara-me ela, como resposta aos meus esforços de a reter no seu leito de moribunda, que em criança a fechavam num casarão, isolando-a das pessoas, do vento, do sol; uma breve corrente de ar, pressentida lá dentro, no bater de portas, alvoroçava imediatamente a gente da casa, e o simples receio de que daí resultaria uma ameaça para a sua saúde justificava a visita urgente do médico de família. Só lhe permitiam descer ao jardim, emparedado por altos muros de presídio, nos raros dias em que a amenidade do tempo parecia a todos indiscutível e, mesmo assim, sob o resguardo de chapéus e camisolões. Ela então, certo dia, olhando a chuva fustigar as vidraças da varanda, e as pessoas normais, livres, que lá embaixo, na rua, podiam experimentar a fúria do tempo, a violência e a doçura de todas as coisas da vida, escancarara as portas da varanda, deixando que a chuva a molhasse, a repassasse, a violasse. Os lábios e as narinas fremiam-lhe de volúpia.
Também eu me enclausurara. A vida era-me transmitida através dos outros, raivas e alegrias, chegando até mim já digerida ou inventada. Clarisse, afinal, havia sido o incitamento para que eu abrisse as portas da varanda. Agora só daria por mim, pela insensatez ou pela bravura, quando sentisse os ossos ensopados. Na minha necessidade sufocada de diálogo, quanto, por revoadas, me apeteceu trepar os quarenta e um degraus que me separavam do bar, da cara de cavalo da Maria Armada e das lucubrações do Romualdo e dizer a este bom sargaceiro: ”Tome lá este tema. Sirva-se dele para uma digestão profunda”.
Talvez Clarisse suspeitasse, às vezes, que me era urgente reaver as coisas de que tinha sido arredado. Que era essa a forma mais segura de me reter. Falava-me, então, da vida do hospital, de um modo neutro, sem perversidade. Telefonava-me de qualquer parte - ”não posso hoje sair contigo, encontrei umas amigas” - e andava lá fora, à toa, deixando-me livre, até que o medo de se achar sozinha consigo mesma e com a sua condenação a fazia correr, angustiada, para casa. Nos dias de euforia - e eu previa-os pelo requinte, tão ingénuo, de usar um chapéu, nela grotesco, de dama da alta roda -, chegava tarde aos nossos encontros no apartamento. Entrava açodada, as palavras atropelando-se sem dizer uma frase inteira, os braços derreados de embrulhos onde havia ninharias familiares que lhe davam apoio e a enterneciam, pastas dentífricas ou uma nova loção para a barba, a revista que eu desejara na véspera, uma jarra de formas atrevidas. Essa solicitude espaventosa, que me baralhava as ideias, parecia ter sido improvisada à entrada da porta. Dava-me a sensação de uma amante infiel, a lançar poeira sobre as dúvidas de quem a espera. Toda essa maré alta de nervos tinha, porém, o seu reverso: os dias em que nunca a sentia bem presente, aninhada no interior da sua concha. Nessas alturas, Clarisse não participava das coisas nem dos seres; a sua meiguice tinha uma secreta gravidade, a dos cegos a fixar, com os dedos, um rosto querido, e pedia-me conselhos como uma criança obediente. Durante horas sentava-se na borda da cama, ou à beira do rádio, as cortinas isolando o quarto na penumbra, a música afogada num tom de segredo. O seu olhar, então, quando lhe sacudia o mutismo, pousava, suave e indiferente, sobra a minha contida saturação.
- Que tal passaste a noite?
- Bem.
Fechava-se, um muro em volta, obrigando-me a ficar de fora.
Finalmente, Clarisse levou-me à casa onde habitara, que, aliás, ainda conservava. Era num sítio da cidade emaranhado de encruzilhadas. Atento à condução, aos sinais, ao braço articulado do sinaleiro (que, ao gesticular, parecia um boneco de arame), não parei logo que ela me preveniu:
- É aqui.
Tivemos, pois, de retroceder, e isso dispôs-me mal para aceitar esse primeiro encontro com um casarão de rosto desdentado que logo associei às ruelas por onde, em tempos, eu desgastava as horas de fastio. Ali perto, entretanto, devia ter-se dado um engasgo no trânsito, os automóveis recalcitravam num furor impaciente.
- É aqui - repetiu Clarisse. - Eis a minha casa.
Casa era um modo de dizer: um quarto esconso repartido em dois tugúrios, separados por um arco donde pendia uma chita tão usada que talvez se rompesse, como teia de aranha, se lhe soprássemos com alma. Outro nicho, a que a escada de acesso ao primeiro andar, servindo-lhe de teto, dava uma configuração corcoveada, subia por um degrau ao compartimento onde entramos. Não cheguei a perceber-lhe o préstimo, pois Clarisse não me levou lá. Era razoável supor que fosse ainda mais sórdido do que o resto.
Logo que passei o rebato do velho prédio, de janelas protegidas por barras de ferro, compreendi a resistência de Clarisse em mostrar-me esse cenário dos seus dias de falsa boémia: não seria apenas por ter vivido ali com o pintor de testa de ouriço (e ela, provavelmente, não desejaria pôr-me tão perto de evocações que a nós ambos embaraçariam), mas sobretudo por aquela rnansarda significar uma reles denúncia das agruras cque passara. Era suja como um galinheiro. No sítio em que a caliça resistira aos anos, e as paredes do corredor estavam quase de alto a baixo descarnadas, havia de tudo: desenhos, borrões de tinta, frases ingénua-s ao lado de um lauto mostruário de obscenidades. Em vão Clarisse, enquanto me atarantava com um alude de palavras e gestos enervados, me pusera de encontro à parede mais ilustrada, evitando assim cjxie eu a olhasse minuciosamente; não só a da outra ”banda era quase tão escabrosa, como o odor oleoso <le tudo aquilo, umidade, bafios, detritos, sugeria mmito mais do que eu poderia certificar com os olhos - Imaginei que gente habitaria o imundo prédio. Por uma necessidade de contraste, não pude deixar de me lembrar que lá fora estava um belo dia de outono, seco e limpo, cheio de pegadas do verão.
Eu, porém, tirada mostrado tal empenho em vir ali (empenho que i& crescendo por tudo o que lhe dizia respeito ao passado, numa tentativa enciumada de o reconstituir com exatidão, de o possuir, arredando-lhe as personagens que sentia abusivas), que Clarisse, por mais que lhe custasse, acabara por ceder.
Na sala havia ainda três quadros do pintor. Um surrealismo de pesadelo. A meu ver, medíocres, embora eu não pudesse estar seguro dos meus gostos artísticos, pelo simples motivo de que nunca lhes dera muita atenção. Por todo o lado, ou uma peça de vestuário que parecia ter sido posta sobre a cadeira ainda na véspera, jornais, cartões com esboços, ou um móvel trôpego com várias serventias. Mas foi mais aquele casaco dependurado de uma ripa que sobressaía da parece como um osso partido pelo meio, que me deu a sugestão pungente de miséria desleixada. Nesse momento, nem lástima pude sentir. Ou a Clarisse que o vestira, que o largara ali por incúria, nada tinha que ver com a Clarisse de hoje, ou então só agora os meus sentidos, enojados, acordavam para a repelir.
(Este pormenor sádico que ponho na descrição do pobre teto de Clarisse, reflexo da minúcia com que, na altura, o vasculhei, deve ter um motivo. A memória, ou a atenção, tem razões tão obscuras! Após um passeio ao campo com Clarisse, por exemplo, eu achava-me a rememorar miudezas como as rugas das árvores, a joaninha vestida de colete encarnado, o meu sopro vândalo derruindo a boca de um formigueiro - mas por que se me desvanecia o sorriso doce de Clarisse nessa mesma tarde? Ora, ao catalogar os indícios do passado de Clarisse, creio que me impelia o intento de os apagar pela sua excessiva evidência ou de me convencer, romanticamente, de que esse ambiente estava, afinal, certo: outro que fosse seria um escárnio. Uma vida escassa não precisa de largueza. Nem de raízes. Um lar que valha esse nome justifica-se quando pertencemos a um mundo que germina: filhos, amor, objetos que se herdam e em que moldamos a nossa presença, um pequeno universo que fervilha e se estende para além de nós, depois de nós, e nos dilata. Na época em que a minha família vivia em comum, um dia meu sobrinho Arnaldo chamou-me de lado para me confiar um segredo importante.
- Ó tio, queria dizer-lhe uma coisa. -- Diz lá então. . .
- Eu gosto muito do tio.
Meu bom Arnaldo: para essa confissão, dita naquele tom maduro que te conhecíamos, um lar era preciso, mesmo que tivéssemos de ir para um canto evitando os ouvidos de tanta gente que se enfiava nas nossas confidências.
Não sei se Clarisse perscrutou as minhas reações; pelo menos, no seu rosto aflito correu uma sombra acre de suspeita e lançou-me um apelo:
- Não olhes mais para essas coisas!
Depois afastou-se, apanhando do chão os jornais velhos, já desbotados. Pô-los em cima de uma cadeira, dobrando-os com um rigor absurdo. Volveu um olhar meigo e desanimado em redor do quarto, como se fosse nútil obrigar-se a outra arrumação ou não esperasse voltar a vê-lo tão cedo ou mesmo nunca.
- Pronto, aí tens. Isto é um baldio. - Teve um riso oco com a agudeza terrível de uma guinada.
- Bem te preveni que a Clarisse viveu dias em que apetece deixar as ervas crescerem à nossa volta, como nos baldios. Percebes o que quero dizer?
E encostada a mim, oferecendo o corpo como escudo, teve, de súbito, um gesto tão feminino, tão humilde, que, por muito que eu o evitasse, me enterneceu: ela descalçara os sapatos, atirara-os para longe e dissera, apertando-me sempre:
- Assim está mais certo. Fico mais pequenina junto de ti. Do meu verdadeiro tamanho.
Do seu verdadeiro tamanho: uma pobre coisa exposta às ressacas do meu temperamento.
Nunca mais falamos dessa visita. Agora de longe, enquanto escrevo para segurar as horas esquivas do que fulgurou para se consumir mais depressa, creio bem que ela resultou benéfica para ambos. No meu empenho em me mostrar compreensivo e afetuoso havia agora uma determinação concreta: apagar-lhe da memória as nódoas que tinham ficado para trás.
Refrear a marcha, as águas, mudando de cor, partiamse embravecidas de encontro ao casco ferrugento. Era, para mim, um aviso. Os baldões da viagem, mesmo de curtos dias, e a violenta mudança de clima, poderiam esgotar as últimas resistências de Clarisse. Para não a desiludir totalmente, e até porque também eu desejava sentir-me, uma semana que fosse - as minhas primeiras férias desde há muitos anos -, longe de tudo, de uma vida semiclandestina, calei-a com um projeto intermédio: uma semana na praia que ela preferisse. Aliás, o meu dinheiro não chegava para um projeto mais ambicioso. Aí estava um aspecto irritadiço das nossas relações de que Clarisse ainda não se dera conta: o dinheiro não tinha, ou perdera para ela, todo o significado. Quando íamos para o comboio - até o automóvel, cúmplice dos meus dias delirantes, eu ia deixar de lado -, um rancho de garotos veio junto de nós, à boca da estação, propor a sua ajuda. Pois Clarisse, que devia ter sondado o meu gosto de recusa, distribuiu-lhes logo as malas e os embrulhos. (É um exemplo que assinalo por vir a propósito.) No momento de os compensar com uns escuros, reparei que não tinha moedas e, pouco confiado na honradez da pandilha, fui eu mesmo trocar uma nota. Ao regressar, Clarisse estava já festivamente identificada com a garotada. Riam e pulavam como pardais. E ao aperceber-se das minhas dúvidas na avaliação dos serviços daquela malta, resolveu depressa tais hesitações tirando-me o dinheiro das mãos e espalhando-o como chuva do céu: ”Vá, ide gastá-lo em coisas boas. Hoje é dia grande”.
E os seus compinchas, entonteados com o maná, não arredaram da estação até desaparecermos na gare. Clarisse acenava-lhes como se se despedisse de irmãos.
Tivemos a desconsoladora surpresa de o combóio ir pejado de excursionistas, embora eles desembarcassem numa vila próxima. Vimo-nos assim esbulhados por dezenas de famílias burguesas, atarantadas e ruidosas, araras felizes por mudarem de pouso, que precisavam de dividir a sua excitação com alguém. Julgavam mostrar-se amáveis só por nos saquearem a intimidade. Clarisse levou-me para a carruagem do extremo, afastando-se daquele arraial. O seu olhar vivo de criança a quem se satisfez uma perrice envelhecia agora numa quase severidade. Eu sentar a-me a seu lado, vago e sério, gasto o alvoroço da mudança de ambiente, sentindo-o já como uma deserção. Olhava, absorto, a expressão chorosa de um velho que se deslocara para a extremidade do banco, a garotita a quem ele entregara uma revista ilustrada para iludir as horas, repercutia-me nas vísceras o arfar da locomotiva, a fuga espavorida das terras que iam sendo atravessadas. Desfalecera a balbúrdia no comboio. Os alegres excursionistas, a caminho da feira de verbenas, fogaças e corridas de toiros, tinham emudecido - um rebanho atordoado pela iminência de uma catástrofe.
A garotita demorava-se numa das aguarelas da revista. E disse alto, aliviando-nos de um íntimo vazio:
- Por acaso é bonito. - E daí a pouco, numa lógica cerrada: - Escuta, avô, onde está o mais feio?
Dos olhos do velho escorreu uma tristeza aguada.
- Nesse livro, Gininha, não há bonecos feios.
Clarisse sorriu, pousando a mão num dos joelhos da menina, associando-se, para que lhe coubesse uma fatia de ternura que a escolhera como alvo. Todos sorrimos. Um sorriso que era uma espécie de mútua reconciliação. Quando o comboio se demorou numa das estações, vazando as gralhas, a garota teve um desabafo (que era o nosso desabafo):
- Estou toda encolhida aqui. Ó meu Deus, vamos embora!
E, por fim, chegamos.
A luz doirada banhava de poesia toda a face costeira da povoação. O mar tinha um odor quase fétido de tão intenso, provavelmente das algas apodrecidas ao rés da praia, e a sua presença absorvente vinha receber-nos umas centenas de metros antes de descermos às ruas que marginavam as falésias. No alto, um moinho e pinheiros; do outro, a praia. Era, pois, uma perspectiva variada.
A dona da pensão chamava-se Eufrásia. (Mesmo que não lhe tivesse fixado o nome pelos acontecimentos que demarcaram essa gorada estada na beira-mar, decerto dificilmente o esqueceria. Eufrásia não é nome que mereça a água do batismo.) Ela devia ter aspirado logo um cheiro de ilegalidade no modo como nos apresentamos, pois mostrou-se discreta e alheada e mandou-nos espontaneamente café ao quarto que escolhêramos no andar de cima, com o recado: ”Se os senhores quiserem, podem tomar as refeições nos aposentos”. ”Aposentos”, no seu tacto profissional, tinham ”alcova” como sinónimo mais direto. Esse recato complacente destroçou-me uns restos de naturalidade que me esforçara por conseguir. Não importava: uns dias passariam depressa, não haveria tempo para que a dona Eufrásia procedesse a um inventário das nossas vidas. No entanto, quase poderia supor-se que havia entre a hospitalidade alcoviteira da pensão e Clarisse um tácito entendimento. Clarisse tinha a sua fisgada. Não me agradou o modo como se apropriou do quarto e sobretudo o ar com que desde logo pareceu tomar posse dos dias de que dispúnhamos. Eu estava a troçar da frase insidiosa da criada e Clarisse teve uma destas infantilidades domésticas que sempre me fazem sentir enleado por sargaços:
- Gosto de te ver rir.
- Por quê?
- Sei lá bem. Gosto, acabou-se. Talvez por fazeres essa covinha na face.
Ao cingir-me nos braços magros, à espera, decerto, que eu me mostrasse tão lamecha como ela, atiçou-me:
- Não me perguntas de que gosto mais? e, prevendo que eu me recusaria a colaborar na cena, acrescentou: - Nem eu sei bem, deixa ver. Do nariz não gosto, parece que te roeram a ponta. Nem da testa. Mas de agora em diante devo habituar-me a eles. . . Não sentes nada de muito especial em nos encontrarmos aqui? Prometo fazer tudo para que não esqueças mais estes dias.
Apercebi-me sem dificuldade de que o que ela dizia ficava apenas à superfície da intenção.
- Está bem, Clarisse, mas preferia que os aproveitasses para repousar.
- Oh, este homem! Contigo, a gente nunca sabe de que lado vai chover. Pois vou prevenir-te: não farei repouso. Não farei coisa nenhuma. Ou antes: farei o possível para que estes dias tenham um significado.
Não lhe perguntei que significado: seria ajudála na manobra.
Depois mostrou-se impaciente por que nos fôssemos isolar no miradouro talhado nas fragas que ela já conhecia de anos antes. Chegados lá, cerrou-se em meditação profunda.
- Só neste cantinho sinto que o mar dá por nós.
- E é assim tão proveitoso o vosso colóquio.
A inflexão zombeteira da minha réplica não a impressionou.
- Para mim, é. Fico bem certa que existo. Sacudi um novo cigarro, preparei-me para um
assalto de frases de duplo sentido. Clarisse, no entanto, emudeceu, de olhar grave e absorto. O seu comportamento, em certas ocasiões - as que eu, afinal, mais temia -, semelhava uma voz sozinha no silêncio. Nele fulgurava e ardia. Mas sempre imprevista: ou, como naquele momento, se aferrolhava num mutismo de quem fecha nas mãos um tesoiro cobiçado, ou repartia-se, perdulária e apaixonadamente, por todas as emoções alheias e nelas se gastava. Nessa tarde, o tesoiro era o mar e a nossa solidão.
Ali estivemos até ao crepúsculo, à hora em que, sobretudo naquele isolamento, as vivências têm o ar de estarem exaustas e necessitarem de recolher. Teríamos, não obstante, permanecido nas ribas até o jantar se não surgisse um grupo de estrangeiros, rosadinhos como figuras de presépio, ombros vergados por uma tralha de ambulantes. Vinha-lhes na pegada um fotógrafo açodado que os laçava de longe:
- ”Monsiês”, vamos agora a um busto!
Eles riam e consultavam-se com uma alegria pueril de ganapos.
- Atenção, cavalheiros! Mas atenção, ”monsiês”! Agora o busto.
Regressamos pelo carreiro apertado entre as rochas marinhas. Clarisse detinha-se aqui e ali, perguntando o nome de coisas simples, um musgo, uma concha, um marisco, olhando à volta como se quisesse aspirar longamente a liberdade ou já dela se despedisse. Essa insegurança dramática no dia seguinte era-lhe mais aguda nas horas serenas. Levantara-se uma brisa fresca de maresias, obriguei-a apressarmos o regresso. Nenhum de nós poderia então prever que a pensão da dona Eufrásia só nos abrigaria por mais uma noite.
Tenho perfeita consciência de que enfio nesta história pormenores supérfluos para quem me lê se isso chegar a acontecer -, emaranhando-os nas situações que verdadeiramente a fariam progredir; mas se eu os guardei com tal particularidade, se se me estampam nos nervos como planos indissolúveis da odisseia de Clarisse e se, por último, me apetece demorar-me neles - quem sabe se para adiar um desfecho -, é porque, no fim de contas, obedeço instintivamente a um ritmo ambicionado e sempre esquivo: a harmonia do tempo, que é feita do modo como os acontecimentos se entrelaçam e valorizam. A vida tem uma composição, de avanços, pausas, recuos, cujos processos se nos escapam.
Lá fora, a noite é um pulmão ofegante. A boca escalda-me. Acendo outro cigarro. Prossigo.
Embora a nossa hospedeira nos tivesse ralhado quando, na manhã seguinte, descemos à sala de mesa para o pequeno-almoço - ”Deviam levantar-se mais tarde. A senhora tem um ar tão abatido! Vê-se bem que a viagem de ontem foi comprida” -, Clarisse dispôs-se a irmos, a pé, até à chamada ”praia da lota”. Ainda lancei um olhar cobiçoso para as colinas arborizadas, no cimo das quais rangiam as velas dos moinhos, mas Clarisse calou-me os instintos serranos com a promessa:
- Domingo à tarde. Domingo será a vez do teu moinho. . .
Também para mim o espetáculo da lota era novo. As peixeiras e os curiosos desenhavam um quadrado à roda das caixas de pescado. Lá no centro, o leiloeiro e os fiscais. Aquilo obedecia a um dialeto e a uma liturgia em que os gestos tinham mais valor que as palavras. Bruscamente, um imperceptível mexer de queixos, e a mercadoria era arrematada. O leiloeiro, então, afastava-a com desdém. Seguia-se outra. Quarenta. . . trinta e nove. . . trinta e oito, metade das sílabas surripiadas, e lá vinha a mímica indecifrável e o fecho misterioso do negócio. Clarisse, como sempre, participava da cena avidamente, olhos coruscantes. De quando em quando perseguia os meus, apoiando-se-me no braço - e sorria. Achei-a mais pálida. A dona Eufrásia tinha razão. Talvez fosse eu, paradoxalmente, a única pessoa a não reparar no esforço excessivo a que ela se impunha.
Um negociante havia arrematado, à traição, o que restava dos lotes de sardinha. A peixeira que me ladeava ainda rogou: ”Ceda-me ao menos um cabaz, tiozinho!”, depois de ter conferenciado com outra. ”Por quanto?” ”A quinze.” Alguns samaritanos intercederam junto do arrematador: ”Olhe a mulher a chamá-lo! Pede que lhe ceda um cabaz”. ”Quem?”, rosnava o negociante. ”Aquela? Não conheço aquela mulher.” E o argumento bastou-lhe. Clarisse enervou-se, comentando alto:
- É odioso!
Até a peixeira, no modo como reagiu, a considerou metediça. Clarisse amparou-se a mim. Tinha os lábios desbotados, as mãos suadas. Fui impelindo-a, brandamente, para a barreira. Novo assalto de turistas. Um francês arruivado oferecia um cigarro a um pescador, naquela tolerância risonha de citadino a distribuir amendoins a uma gaiola de macacos, e depois outro a um garoto desengonçado, que recusou:
- Não senhor, não quero.
A recusa não estava nos planos beneméritos do turista e por isso insistiu, estendendo o maço:
- Tenez! Oh, petit crapule!
O ganapo rendeu-se. O francês arruivado, traçando com a unha os limites escassos do seu desejo, pediu-lhe então que lhe conseguisse ”une três petite sardine”. (Uma pequena sardinha para o seu alforje de excentricidades.) O garoto trespassou o pedido ao pescador e este, expedito, correu sem demora a um dos barcos, prevendo, flagrantemente, uma choruda recompensa. O intermédio divertia Clarisse, que se sentara num rochedo para assistir ao resto. Estava absurdamente feliz. O francês, também deliciado com o pitoresco cinematográfico daqueles figurantes, repetia:
- Petit crapule!
A uns passos de distância, já o pescador lhe expunha, triunfante, uma mancheia de sardinhas.
- No n! - protestava. - Seulement une petite sardine. - Mas aceitou-as todas. E a sua moeda de troca foi uma gentilíssima reverência parisiense.
- Merci à tout lê monde!
O pescador ficou à espera, a boca um pouco aberta, a mão abaulada a coçar o nariz borrifado de sardas. Conformara-se sem aranzel. Uma resignação de antologia.
O mar colérico das primeiras horas da manhã tinha apaziguado, embora na atmosfera houvesse ainda uma poalha de cinza, grossa e sufocada. Contrariei, daí, o plano de almoçarmos na esplanada. Em vez do horizonte marítimo que ela nos oferecia, tínhamos agora a janela que se rasgava para o quintal da pensão. Nele, um bando de galinhas distraía-se a esgravatar o lixo.
Qualquer coisa, no pescoço de Clarisse, me chamara a atenção, uns salpicos vermelhos, mas quando ia certificar-me melhor de uma súbita suspeita rompeu pela sala a amiga de Clarisse, que depressa nos confirmaria o cético adágio de que o mundo é pequeno. Um par perfeito. Ela, de largas e férteis ancas, e o minúsculo companheiro que a seguia de faces rubicundas feitas naturalmente para serem nutridas com cerveja.
- Tu por aqui, Clarisse! - e no leve cumprimento de cabeça, interrogativo e receoso, que me dirigiu, travou outra exclamação possivelmente mais redundante.
Mas era visível que estalava de prazer. Tanto era que só depois de nos abençoar com a sua surpresa afastou o beijo de Clarisse - eu nem tivera tempo para avaliar se o prazer era mútuo - e gritou-lhe:
- Mas, querida, tu estás irreconhecível! Que cara é essa?
Deitei-lhe um olhar fero e aterrado. Clarisse, por seu turno, moveu os frágeis ombros escavados
- também na raiz dos ombros, céus!, havia os pontinhos sanguíneos - e esclareceu com gelada indiferença:
- Tenho andado doente. Vocês estão aqui hospedados?
Estavam, sim, havia uns dias. Que coincidência! Um encontro fantástico. Poderíamos comer à mesma mesa. E esmiuçou um programa de convívio no qual só faltava dormirmos juntos. Seria inútil, pelo menos naquele almoço, furtarmo-nos a essa voraz amizade. Concluídas as apresentações - pela nossa parte um pouco reticentes, eu, por exemplo, era um vago ”doutor” -, a amiga, Adelaide, voltou à carga:
- Lembras-te do nosso emprego no Lourenço & Carvalho? Como o tempo passa! Tu não estás bem, Clarisse. Tenho a certeza de que não estás bem. - E misturando-me numa velada mas complacente censura: - Às vezes os homens não reparam nessas coisas... É preciso que alguém cuide de ti minha querida.
Eu devia ter um ar emparvecido, o estômago asfixiado a recusar os aperitivos da dona Eufrásia, embora Clarisse, aparentemente, não se mostrasse chocada.
- Mas, filha, não é agora altura de se falar em mazelas - sentenciou, com oportunidade, o minúsculo companheiro, pelos vistos negociante de prédios de rendimento. Ele arredara, com repugnância, o ”vinho da casa”, e, depois de se desembaraçar dos seus óculos de míope, procedeu a uma consulta escrupulosa da lista: - Se o senhor doutor não tem outra sugestão a fazer, vamos a um verdasco da reserva. Para começar, bem entendido. Adelaide, deixa-te de doenças!
Aceitei, com alívio, a perspectiva de um monólogo sobre os meandros do seu negócio. Pois que contasse essa tal trapaça do empreiteiro. Não havia dúvida: aquele pontilhado no pescoço de Clarisse era o primeiro anúncio das hemorragias. Desde quando? Seria possível que me tivesse escapado tal aviso? Talvez só desde a véspera. A comida sabia-me a giesta.
- Imagine o meu doutor que, um destes dias, a Adelaide sabe. . .
A Adelaide observava-nos e Clarisse estava inquieta. Mas por mim. E, na verdade, eu sentia-me como um catraio a roubar fruta num quintal alheio. O hospital, de uma distância desmedida, ofereciame, numa evidência crua, o único lugar certo para a minha incapacidade de suportar verdascos e corretores de propriedades. Era lá que eu me queria sentir naquele momento, eu e Clarisse - era lá o nosso ambiente.
- Pois há quanto tempo!. . . - atacava agora a amiga de Clarisse, abafando a história do empreiteiro. - Não sabia nada que tinhas casado. A nuca arrepiou-se-me toda. - Já estarias doente quando. . . É que, para ser franca, nem pareces a mesma.
- Tenho uma leucemia.
Os óculos do homenzinho estremeceram de susto. Pesou sobre nós uma pausa de chumbo. Só uma palavra cega a poderia varar. Até que ele, deglutindo o espanto, arriscou:
- Mas dizem que isso. . .
A mulher, que se fixara no gesto de limpar a boca, adiantou-se-lhe:
- Estás a brincar, Clarisse.
- Tenho uma leucemia. Dize-lhes que é verdade, Jorge.
E cravou-me um olhar imóvel, perfurante como um estilete aguçado. O homem minúsculo, a sua mulher de ancas fecundas, esta Clarisse serena e demoníaca - todos se centraram em mim, réu de uma culpa sem perdão. Tinha de prestar contas da fruta roubada.
- A conversa é entre vocês ambas.
- Ah, logo vi que era chalaça! - deduziu o negociante, refeito da ameaça de interromper o guisado.
Uma breve estria amarela, fugida das nuvens, deslizou no chão encerado e, tenteando o arrojo, alastrou-se depois com decisão, íamos ter bom tempo.
- Não é chalaça - emendou Clarisse, numa espécie de ira deliciada. - E que importa que eu tenha uma leucemia? Já é muito acordar de manhã e sentir-me viva. Conquista-se a vida todas as manhãs. É um gozo que nos está vedado. Dize-lhes que é um gozo, Jorge.
- Ó minha querida, mas tu. . . - apaziguava a Adelaide, encarando-nos a medo.
- Pois, no meu caso, Adelaide, não se desperdiça coisa nenhuma. Tenho as minhas compensações . . .
O corretor de prédios, defraudado no seu bom almoço, tinha os olhos postos em Clarisse, os lábios entreabertos, uma expressão baça de sofrimento. Afagou o que restava da garrafa e bebeu-o sem gosto. Retenho, daqueles momentos, outros pormenores absurdos: a laranja no cesto da fruta, que parecia arder ao lume vermelho do sol, os sapatos da criada, que tinham sido castanhos e eram agora acinzentados da aguada preta que os dissimulara: a galinha do quintal, que, enfim, havia caçado um verme; a brancura lisa do muro em frente. E, sobre tudo isto, a calma perversa de Clarisse, que era uma tensão a explodir.
Via-se que Adelaide se esforçava por assimilar a confidência sarcástica e venenosa e arriscou com doçura:
- Estou confusa, querida. Não pode ser. Há de haver qualquer coisa que. . .
- Dize-lhes tu, Jorge, se há qualquer coisa. De novo aqueles muitos olhos me bloquearam e
ia jurar que, embora a frase fosse agressiva, nela vibrava, além do desafio, uma censura e uma estúpida ilusão. Nesse momento, uma torrente de cólera afogueou-lhe o rosto e a voz, que se transformara num berro doido:
- Dize-lhes que até tu desististe de fazer essa qualquer coisa por mim! Dize-lhes tudo, eles querem ouvir-te. E eu também!
- Clarisse!
- Vá, por que esperas? Não vês como a minha amiga me olha? Parece que duvida que eu ainda esteja viva como ela. Olha-me bem, Adelaide, não precisas de disfarçar.
Eu ia forçá-la a sentar-se, a calar-se, torcendolhe os pulsos se necessário fosse, quando Clarisse levou, à pressa, o lenço ao rosto. Do nariz tinha espirrado um esguicho de sangue.
- Oh, meu Deus! - lamuriou a amiga, também ela, esparvoada, a sentir-se responsável fosse do que fosse. - Apanhaste sol, querida.
Para o inferno com tanta ”querida”! Levanteime sem uma palavra, chamei Clarisse a mim, que, destroçada, soluçava com mansidão, amparei-a, deixando os nossos companheiros sob o dilema de levarem ou não o almoço até ao fim.
Mais tarde, Clarisse teve aquela guinada num dos flancos. (Já antes eu deveria ter reparado que ela se queixava de esporádicas dores articulares.) O febrão súbito fazia-a delirar. Fechei a porta à solicitude apatetada de Adelaide, que choramingava umas negras lágrimas de rimei, e do seu apreciador de vinho verde, e, desorientado, socorri-me do colega da vilória. Encharcamo-la em hemostáticos. Por fim, ao entardecer, Clarisse serenou. Havia nela uma paz de submissão. Fui até à varanda do quarto fumar um cigarro. A sombra tardia suavizava o crepúsculo. O moinho (”domingo à tarde será a vez do teu moinho. . .” Que domingo, Clarisse?), os pinheiros, as colinas onde as giestas iam florir; o mar, não, era uma ideia odiosa. Aproximava-se uma noite cálida, de veludo, as ondas eram já um queixume. O mugido de uma sereia, ao longe, vindo de outro mundo. Ouvi então segredar lá dentro:
- Jorge. . .
Lancei o cigarro para longe. Os largos olhos noturnos de Clarisse irradiavam um fulgor de estrelas, i Ajeitei-lhe a cabeça na almofada.
- Não me deixes morrer. l Aquilo era uma garra a furar-me os ouvidos, que a febre aturdira. Sufocava-me uma raiva encarniçada cada contra mim. ”Dize-lhes que até tu desiste. . .” Um grito do fundo da carne. Mas tão certeiro! Eu havia esquecido que o rosto de Clarisse se encarquilhava em cada dia, que a sua voz tinha agora um cansaço ofegante, que o corpo se lhe ia mirrando (”para ser franca, nem pareces a mesma”), toda ela a extinguir-se à lenta voracidade de uma chama. Tinha esquecido. Ou antes: por mais que julgasse o contrário, havia feito tudo para esquecer. Mas eis que o acidente - quem sabe se precipitado por aquele nefando almoço e do qual eu bem conhecia o significado - me punha, sem embustes, diante da sua agonia. O fim estaria para breve e a viagem fora, da minha parte, uma grosseira temeridade.
A minha reação era tão intensa e caótica que poderia supor-se que só naquele momento a verdade me fora revelada. Achei-me algemado dentro daquele quarto avulso, repugnante como uma alcova de aluguer, que me separava de todas as armas que poderiam ainda estorvar o desfecho, adiando-o. Fechado num cárcere. Agora, porém, as coisas surgiam-me honestamente esclarecidas: eu não era apenas o médico compadecido, era um homem com uma luta malograda mas definida, sabedor das razões por que lutava.
Regressamos à cidade numa ambulância. Dessa vez, já não foi difícil convencer Clarisse a voltar para o hospital.
Procurei Lúcia sem demora, deixando à enfermeira o encargo de tratar das formalidades da nova admissão de Clarisse.
- O ”repouso” está livre? Chamávamos ”repouso” a um quarto, contíguo à enfermaria, onde se isolavam os moribundos; mas também nos servia para favorecer algum doente das nossas relações, que assim furtávamos à promiscuidade dos demais.
- Há semanas que não temos uma vaga.
- Invente qualquer coisa. Mesmo que seja na enfermaria.
Ela ficou com o queixo quase encostado ao peito, como se tivesse sido agredida.
- Não vai ser tão simples como o senhor doutor imagina.
Rosnou ainda um caudal de protestos e lá se foi, de nariz abespinhado, a touca a balouçar de irritação. O penacho de um pássaro.
Ao chegar junto de Lúcia, não perdi tempo com rodeios.
- Ensaiou as ampolas?
Os meus gestos deviam ser tão descomandados que ela me avaliou com inquietação.
- Ao menos, diga bom-dia. - A sua voz parecia ter sido crivada por areia seca. - Creio que não nos vemos há uma boa temporada. . .
- Desculpe, mas trazia esta pergunta pronta a ser disparada.
- Não precisa de o dizer. Chegou-me aos ouvidos com um tiro. Bem, ensaiei as ampolas. Que deseja saber mais?
- O resultado.
Lúcia teve um sorriso cálido de benevolência.
- Esperava que fosse diferente das outras tentativas? As conclusões a que cheguei podem escrever-se no rebordo de uma unha.
Fiquei de mãos cruzadas, a boca entreaberta, a faltar-me o fôlego. O que havia de diferente em Lúcia? Que havia de diferente no hospital? Ou em mim? Talvez para dividir com ela a responsabilidade do meu crédulo alvoroço, disse:
- É que tenho pensado naquela sua sugestão de. . . ensaios ”noutras pessoas”. Lembra-se? Só dias depois a percebi. Não se referia a Clarisse?
Apreendi-lhe nos olhos, por um instante, uma faúlha de crua austeridade.
- Talvez.
- Clarisse está lá em cima.
O beiço de Lúcia frisou-se. Sem constrangimento, mas afetadamente, ouvi-a dizer:
- Agora já nos podemos entender. Disponha de mim.
A tarde acabara de repente. O ar que entrava pela janela ainda não tinha a leveza da noite, mas sim o tédio espesso de um fim de dia. Enquanto Lúcia apressava o internamento de Clarisse, pus-me, de crânio embrutecido, a escutar o som bulhento do tráfego. Sentia uma súbita fome. E um vazio em todas as vísceras. Fui ao restaurante da frente comer qualquer coisa e conduzi o carro para as vielas da beirario. Não queria voltar para junto de Clarisse.
O vento soprava lá embaixo. Mas era terrivelmente seco.
A desordem da minha vida não se alterou; apenas mudara de expressão e de local. Passava a maior parte do tempo, com o horário mais imprevisto, no laboratório da clínica. Até aí, efetivamente, fora sempre com uma sarcástica descrença que deixava escorrer pelo meu crivo as fantasiosas notícias sobre novas terapêuticas ou sobre teorias que vinham baralhar os dados do problema, até que outra, no dia seguinte, os viesse baralhar mais ainda. A doença era tragédia e também cobiça, fraude, comércio. Agora todas essas fantochadas me pareciam merecedoras de reflexão. Diabo, uma experiência nada custava. Então a maioria das descobertas decisivas não tinham sido ateadas por uma vulgaridade? Uma ocasião aparecera-me aquele colega que, havia muito, conhecia como um profissional severo e honesto. Tinha um cancro. E sabia-o. Como pudera estranhar que ele, a meia voz, fungando muito, me falasse numas tisanas que a cozinheira lhe recomendara? Tão frágeis são as pessoas quando a tragédia as fende de alto a baixo! Tão fácil iludi-las justamente quando mais as supomos defendidas da ilusão!
Clarisse nem sempre se sujeitava a essas impetuosas mudanças de tratamentos e começara a suspeitar de que a sua vitalidade de certos dias era postiça. Por vezes, percebia-lhe um estremecimento de repulsa ao aproximar-me com a seringa.
- Que tal te sentes hoje?
- Melhor. Desde a injeção de anteontem, muito melhor. Será apenas da injeção?
Eu negava, imitando aquele sorriso redondo do seráfico Romualdo. Ela insistia:
- Mentes, é claro, e eu já nem sei bem se alguma coisa em mim me pertence. Sinto-me uma falsidade. Destruída por dentro.
Eu teria reagido do mesmo modo. Por isso, deixava-a em paz, até que ela própria, humildosa, me vinha sugerir, melifluamente, nova tentativa. Mas eu nunca abrandava na minha vigilância: tendo Clarisse perto, a minha presença bastaria para que os abutres, intimidados, não descessem das árvores. Bem os pressentia, lá em cima, agitando as asas impacientes.
Clarisse tinha agora momentos de uma inquietante evasão. Não era torpor: de olhos vagos, murmurando para si mesma, alheava-se da nossa presença e, abruptamente, dizia coisas como esta:
- É imperdoável ter esquecido a Maria Luísa.
- A quem te referes?
- Uma amiga do tempo de escola. Gostaria de saber onde ela pára. Éramos duas cabritas!
E corria nela uma paz distante, os lábios dialogavam sem palavras.
Toda essa gente insuspeitada que ela, a espaços, ia buscar aos esconderijos da memória e se esforçava por lhe dar, perante mim, uma sugestão física, me parecia cúmplice dos tais abutres. Adelaides, corretores de prédios de rendimento. Pintores de cabelos de ouriço. Personagens odiosas de um velório. com muitos deles, Clarisse deixara reconciliações adiadas, projetos traídos, e agora tudo isso irrompia para uma urgente retificação.
- Queria vê-los. Falar com todos os meus amigos. Parece-te que ainda se lembrarão de mim?
E chegava a rogar-me que lhes procurasse o paradeiro. Escreveu a alguns, para endereços antigos, e, como a via sofrer de tal modo com a desiludida expectativa de lhes receber uma resposta, proibia-a rudemente de persistir na tolice. Continuou, porém, a fazê-lo secretamente, por intermédio de uma criada venal.
Pelo mesmo motivo, víamo-la agora enervada à hora das visitas. Só eu, talvez, percebia por quê. As pessoas entravam na enfermaria em passinhos fofos, antes de descobrirem o doente que as trazia ali, e Clarisse inspecionava-as com rigor e acinte, à procura de um traço remoto que as identificasse com alguém familiar. Depois cobria o rosto para as não ver mais. Para se isolar e odiá-las. Abriu-se-me, por fim:
- Ele nunca mais veio aqui.
Nem sei que me fez acertar imediatamente: ele era o tal pintor de testa rudimentar.
- E depois, que tem isso?
- Seria natural que viesse.
- Não sou da mesma opinião - contrariei, azedo. - E lembro-me bem que já pensaste como eu.
- Que pretendes com todas essas lembranças. .. Queres dizer que eu não sou nada para ele? Que nunca gostou de mim a valer? - Lá estavam as veias das têmporas a assanhar-se. Já não podia sustê-la. - Pois hei de perguntar-lhe. Preciso sabê-lo.
- Para quê?
O rosto de Clarisse, um momento indeciso, logo se desenrugou numa surpresa ávida e triunfante.
- Está bem, não te falarei mais do Raul. . .
- Uma das suas mãos avançou ao longo da coberta, mas sem coragem para ir até onde desejava. - Puseste-me agora numa dúvida. E eu preciso de uma certeza. Assim que saia daqui, procurarei o Raul e obrigá-lo-ei a dizer-me a verdade. Não gostas então que eu me refira ao Raul?. . . Foi bom que mo dissesses.
Talvez ela julgasse que a melíflua insistência em falar do ”testa de ouriço” me bulia com o amor-próprio. Mas devia ser mais do que isso: à noitinha, fez uma tentativa de escapar do hospital. Ia, decerto, procurar o tal Raul. Só agora eu lhe sabia o nome.
A droga que Lúcia tivera em ensaios - e que eu experimentava também em Clarisse - servia-nos para quando a depressão e o desgaste exigiam uma forte chicotada. Os efeitos eram espetaculares. E também macabros. Eles, os pobres desesperados, tinham uma euforia de fantoches. Não havia drama nem doença; mas, corrido o pano, terminada a pantomina, caíam no palco como bonecos de trapos. Seria legítimo burlá-los com essa farsa? Um deles, renovado e esfuziante, saudava-me no corredor:
- Então como tem passado, dr. Jorge?
Para esses sonâmbulos, era eu o enfermo.
As dúvidas inchavam sobre mim com o peso de uma noite de vigília. Deveria continuar a sujeitar Clarisse à mesma brutal ficção?
No hospital, as minhas vagas de misantropia, alternadas de confusa agitação, continuavam a ser seguidas com reserva. Nem censura nem tolerância, mas bem sabia que perante os aspectos melindrosos do caso de Clarisse havia uma instintiva e difusa reprovação. Não se atreviam, porém, a um comentário; afastavam-se, isolando-me - e esse isolamento, que me era imposto, em vez de ser eu, como dantes, a forçá-lo, deixava-me contuso. E Lúcia? Por ela ou por mim, sempre que podia, evitava-me. E conseguia, na verdade, que o nosso enervado convívio tivesse outros de permeio. Certa vez em que procurei, baldadamente, durante o dia, um ingrediente de que precisava para repetir uma experiência, à noite Lúcia apareceu a trazer-mo e ajudou-me até às primeiras horas da manhã. Era uma noite fria e tinham desligado o aquecimento. Lúcia pusera sobre os ombros um casaco já muito usado que me transmitiu tal sugestão de abandono que cheguei a suspeitar que fosse intencional: uma animalzinho doméstico que tivesse ido lá fora espojar o pêlo na lama, para que a sua aparência lastimosa reconquistasse as atenções do dono. Num momento em que as nossas mãos se tocaram no manejo dos tubos de ensaio, encarei-a de narinas afogueadas.
- Diga-me lá, com todas as letras: que lhe parece tudo isto, Lúcia? Inconsciência, desvario?
- Discordo, meu caro.
A firmeza tranquila com que me respondera nada tinha do animal doméstico de pêlo enlameado.
- Então dê-le um nome, por favor. Faça você um diagnóstico, se é capaz. - Ela ia acenando, reprovadoramente, com a cabeça. Mas a sua mímica tinha uma solenidade excessiva. - Diga tudo sem rodeios. De caras. Tenho-me portado como um criançola, não é verdade?
- Não roube a certos sentimentos a grandeza que lhes pertence.
- Uma bonita frase! vou saboreá-la como um rebuçado. O pior é que não me chegará para adoçar a boca.
Mais expressivo era o sorriso de Lúcia. Não havia reticências nesse sorriso. Por agora, sentia-o espontâneo, saudável, deixando para trás uma carga de larvadas tempestades. Pus-me a refletir no seu significado: traduzia, quis-me parecer, a capacidade de certas pessoas para reduzir os acontecimentos a pretextos de reconciliação. No entanto, essa desarmada simplicidade de Lúcia tinha mais força que todas as minhas truculências.
Noutro dia, certamente por me ver mais acabrunhado, Lúcia, dirigindo-se a um estagiário, deixou escorregar, como por acaso, este comentário:
- Afinal o Guedes sempre foi nomeado cabecilha na peritagem do tal caso. O caso dos homens de Andorra.
Falava com uma postiça seriedade - ela, que me copiara o desprezo por todos os traficantes de alquimias - e reparei que não empregara o termo depreciativo de ”alcachofras”. Afinei os ouvidos. O estagiário, prudentemente, não foi além de um esgar lodoso de velhacaria. Aguardava, creio, a minha reação. Momentos depois, contudo, julgando que afinal se lhe deparava uma boa ocasião de me anafar a vaidade, adiantou:
- Falou-se de que seria o senhor o escolhido. Por isso o Guedes andou a rondar por aí. O que ele queria, sei eu. Entretanto, como o senhor se ausentou.
Lúcia assistia, aflita, a tão inepta interferência e, quando pôde, cortou-a:
- O que interessa são os resultados. E há quem diga que são de ponderar.
Olhei-a com precaução, enquanto o estagiário retorquia:
- Nisso, o Guedes é o homem indicado para dar um jeitinho. . .
- Já reparou que é de um colega que está a falar?
Ele, atónito com a censura de Lúcia, sem perceber já de que lado corriam os ventos, pôs-se da cor dos lagostins, e engasgou-se na resposta. Sumiu-se, por fim, estrategicamente.
- Você foi dura para o nosso aprendiz de feiticeiro.
- Irritou-me. E muito mais por eu desconfiar que ele, se estivesse no lugar do Guedes. . .
Refresquei as têmporas com água fria. Passei os dedos ensaboados pelas rugas do pescoço. Aquilo era um hábito, um reflexo adquirido, bem o sabia: um jeito como palitar os dentes depois de almoço. Mas precedia-me quase sempre uma decisão.
- Agora entre nós, Lúcia. . . que pretendia você com a conversa? Acredita que haja na história uma réstia de decência? Valerá a pena?
- Não temos muito por onde escolher, bem sabe. Não perde nada em ouvir o Guedes. Quanto mais não seja, para lhe refrear as guias. No fim de contas, com ele em cena, é todo o prestígio do serviço que está em causa.
Lúcia, ao fim e ao cabo, tinha manha às carradas.
Foi assim que me vi a procurar o Guedes, sem me arriscar a refletir sobre o assunto, conquanto me tivesse apetecido, pelo menos, um prévio desvio pelo Romualdo, que, de certo, tivera tempo de sobra para, numa paciente unção eclesiástica, desfibrar, sob todos os ângulos, as investigações em curso. Isso, porém, seria sujeitar-me a uma prova de nervos. Aliás, repetia para mim, o que estava em causa era a sorte de Clarisse e não os meus brios. Lúcia dera-me o exemplo.
Já sabem que espécie de fuinha é o Guedes. Vivo, manhoso, com aqueles olhos encurralados nos óculos com dois dedos de espessura, a gente nunca o prende nas mãos. Escorrega-nos como uma truta. Ainda semanas antes, contava-se, aproveitara uma boleia turística no carro de um colega e, prevenido de que este turrara com o chefe da clínica, logo tecera tão imbricado enredo que só poderia concluir-se que a viagem fora, pelo que lhe dizia respeito, um rapto. O Guedes, claro, repudiava, do coração, todas as amizades que não fossem abençoadas pelo chefe. E era com este traste que eu iria humilhar-me!
Ele estava tão sôfrego de me apanhar na rede que desatou aos pulinhos.
- Venha comigo visitar o homem. Estou certo de que gostará dele. Sabe química e biologia como gente grande.
O homem era o tal biologista que dirigia a maquinação.
- E abstraindo desses encantos, diga-me lá, Guedes: que pensa você da droga?
Transpúnhamos o portão, a pergunta desalinhou-lhe o passo, mas logo o retificou, acertando-o pelo meu.
- Bem vê, estamos ainda longe de uma casuística decisiva. As experiências prosseguem. O que lhe garanto é que há seriedade incontestável da parte dos homens. É boa gente.
- O inferno está cheio de seriedades incontestáveis. Quem sabe, talvez você, com a sua, tenha já lá um lugar. - Redimia-me da minha fraqueza anavalhando-o. Estava a ser covarde. Tudo isso, porém, no Guedes, provocava apenas um esgar de malícia.
- Que é a droga?
Dessa vez, o tipo mostrou-se um nada abalado.
- Ele não nos esclarece muito. Vive apavorado com a ideia de lhe apanharem a fórmula. Tem pesadelos com espias. . .
- Mas estou certo de que você não se satisfaz com pesadelos. Ninguém poderá escrever honestamente sobre a droga sem saber do que se trata. Você não o fará.
- Pois. . . sem dúvida. . . Ando a tentar convencê-lo.
A minha insistência provocara-lhe um prurido dos diabos. O seu rosto moreno tornara-se da cor das algas depois de a maré as deixar à torreira do sol. Coçava-se, saltitava, ajeitando a todo o momento as hastes dos óculos.
- Você não se deixe comprar, Guedes!
O insulto, para aquele verme, era uma banalidade. Engoliu-o como quem toma uma purga açucarada.
- De modo nenhum! Você bem sabe. . .
- Apenas sei que estou disposto a experimentar a vossa panaceia. Mas não porque tenha sentido uma súbita simpatia por si.
O diálogo excitara-me. Dera-me o gozo antigo de agatanhar sujeitos desta espécie até os deixar tão arranhados como um malfeitor que tem de atravessar uma sebe de arame farpado. De súbito, porém, lembrei-me da intenção que me trouxera ali e fechei os olhos para não recuar.
O Guedes pensou o mesmo, quer dizer, segurou a ocasião pelos cabelos antes que eu multiplicasse as minhas reservas e acabasse por me negar; enfioume à pressa no seu automóvel. Um quarto de hora depois estávamos num bairro excêntrico, a bater ao refúgio do sábio. Um prédio forrado a azulejo, um relvado à volta, no qual três acácias misturavam o seu forte odor à imobilidade tépida do ar. Saí do carro, atirei com a porta, afastando-me, até que o Guedes se me juntou, arquejando atrás de mim. Ainda que as coisas não se tivessem passado com essa rapidez, eu ter-me-ia sentido, do mesmo modo, o ridículo herói de um sequestro. Houve tempo, contudo, para me demorar num pormenor: o Guedes, ou era um perfeito imbecil, ou, no seu empenho em me trazer ali (arriscando-se a um dos meus destemperos), mostrava uma confiança perturbante nos efeitos da droga. De qualquer modo, pelo que me dizia respeito, eu salvara as aparências com a minha rude incredulidade. O Guedes não poderia dizer que me arrastara como a um papalvo.
Envergonho-me de que, depois de tudo o que aconteceu, essa ideia ainda hoje me reabilite. Ainda me dê prazer. E que, ao trazer aqui estes lances subsidiários da minha história (da história de Clarisse, retifiço), nem me refira à ansiedade com que cheguei à presença do mentor, depois de uma mulher de meiaidade, rosto de pioneira das fitas do Far West, ter enfiado o nariz vermelhaço no postigo da porta para nos examinar sem tolerância. Ansiedade que redobrou ao aceitar-lhe os frasquinhos da mezinha. Naquele momento, acreditava nele, precisava de acreditar fosse em quem fosse.
vou recordar: a sala era quadrada e tinha a atmosfera de uma capela funerária. Havia grades metálicas nas janelas laterais. Estava ali tão escuro que, de começo, apenas me guiou a claridade da rua, anemiada pelos vidros foscos. Depois ele entrou e inventariou-me dos pés à cabeça.
- Sente-se, senhor doutor.
Aquilo era comigo. Ele limpava os lábios, entre uma palavra e outra, com ternas pancadinhas do lenço. Pus-me a observar os objetos que se encontravam em cima da mesa: um Buda gordo e cínico, ao lado de uma escultura indígena; caixas de produtos farmacêuticos.
- Sei que a sua adesão à nossa causa deve ser assinalada com uma pedra branca.
Os cabelos começaram a eriçar-se-me.
- Perdão, meu caro senhor: há aqui um malentendido.
Ele ignorou-me o protesto. Tossiu, procurou de novo o lenço e assoou-se. Tão suavemente como limpara a boca.
- O dr. Guedes sabe que eu não gosto de ver gente a bisbilhotar-me os trabalhos. Não gosto de curiosos.
O Guedes aquiesceu. Parecia calmo. Mas devia estar tão excitado como um olho sádico a espreitar uma virgem. O biologista meteu uma cigarrilha na boca, acendeu-a e atirou o fumo para o ar com expressão satisfeita. Seguira-lhe a manobra de riscar o fósforo e rodar a cigarrilha à chama breve, chupando-a depois metodicamente, até ficar certo de que estava bem acesa. Que iria dizer-lhe? Não, aguardaria que fosse ele a comprometer-se. Ou o Guedes. Mas este era uma esponja: se o espremesse, encheria uma banheira. Engolia sem devolver. A partir daí, a represa estoirou: o homem abriu o caudal das suas difusas revelações, mostrou-nos o laboratório. Ele tinha um rosto arguto, devo dizê-lo. E nos seus modos visionários, no clarão longínquo e estranhamente sedoso da sua expressão, havia fosse o que fosse que nos fazia admirá-lo. Do resto, o cenário, o silêncio conventual do casarão, as frases apologéticas, a torrente sem nexo de teorias com que nos cegava ou pretendia cegar, as misteriosas salas de misteriosas frasearias, onde às vezes reluziam olhos desinquietos de cobaias, a esquisita amabilidade do dono da casa, que me fazia gelar os braços, nem é bom falar-vos. Tive pena do Guedes. Parecia agora aterrado de se ver entre dois adversários - sempre à espreita de uma estocada, vinda de um ou de ourto lado, que ele não pudesse aparar com oportunidade. Era visível quanto o sabichão o dominava.
À saída, não resisti a vingar-me do pobre Guedes, vingar-me, afinal, de ser tão vulnerável como ele, embora por outras razões - e farpeei-o impiedosamente mais uma vez:
- Não vá deixar-se comprar.
Chego ao fim. com a sensação de ter atravessado um corredor onde o ar fosse irrespirável. Abro os músculos do peito, dilato-me, preparo-me para alcançar uma atmosfera desafogada. Mas, ao abrir os brônquios, doem-me as feridas. Talvez eu já não seja o mesmo e tenha sido necessária esta experiência, e também as cicatrizes que a avivam, para que, ao atingir a claridade, o meu reencontro com os mortos e os vivos seja mais límpido e mais fecundo. Ainda é cedo para o saber.
Foi inútil, já o esperávamos, ter-me sujeitado à compaixão de Lúcia, às cobiças do Guedes, ao riso do visionário (quando ele, por certo, se sentira ufano em me julgar também rendido à sua teia!), pois Clarisse recusou obstinadamente mais tratamentos. Ela era agora uma haste seca e enrugada. Um rosto não apenas simiesco mas odiento, fixando horas seguidas, com rancor, um alvo imaginário. Não a sentíamos presente. Quis voltar para um hotel: a promiscuidade do hospital significava um contacto acerado sobre uma chaga nua. Não tinha o direito de a contrariar.
À saída, na cerca, demorou-se a apreciar os arbustos que haviam florido.
- Deviam tirar isto daqui. São um escárnio. Mas não lhes resisto.
A frase revolveu-me certas horas de um passado que já me parecia longínquo. Mandei-lhe, ao hotel, o primeiro ramo de flores que, até aí, oferecera a uma mulher. Mais estranho ainda é que tivesse achado agradável fazê-lo. Quando depois a visitei, Clarisse tinha as flores a seu lado, no sofá, como se as defendesse de um roubo.
- Obrigada pela lembrança. É tolice, mas foi, para mim muito importante. Quando vejo um funeral, no que reparo é se vão flores sobre o caixão e se os transeuntes tiram o chapéu à passagem do cortejo. As pessoas não morrem quando são lembradas. Creio que li isto em qualquer parte.
- Num melodrama, pela certa. Aliás, ao ouvir-te, pareceu-me que assistia a um ensaio num teatro ambulante.
Ela sorriu com fadiga e doçura. Não podia avaliar que, por dentro, a raiva me dilacerava. Tudo o que ela dissera me fluía à boca com o sabor de malogros e traições. Nos últimos tempos, eu reagia por tudo e por nada. Tinha os nervos eriçados, sensíveis como um dente cariado. Ainda nessa manhã, antes da saída de Clarisse. . .
... A rapariga correra para mim quando passei a porta do corredor. Esperava a minha vinda espiando o local onde o porteiro lhe dissera que eu arrumava o automóvel. Era um velho ardil, conhecido de todos nós. Ei-la espremendo as mãos, estorvando-me o caminho, um pedinte que nos salta ao virar de uma esquina.
- Lembra-se de mim? Sou a filha da. . . Não me lembrava, claro.
- Eu sei, eu sei - disse, a apressar o intróito. Estava impaciente por chegar junto de Clarisse e despachar a consulta o mais breve possível.
- Diga-me o que se passa com a minha mãe! Diga-me tudo, senhor doutor.
O peito subia e descia, num arfar de harmónio, ao mesmo tempo que dele se escapava um som de goela estrangulada.
- O nome - interrompi, seco e com as ideias noutro lado. Ela correu atrás de mim. O pedinte que não desiste da esmola. - Venha daí comigo.
Não seria preciso dizê-lo. Chamei a enfermeira e pedi-lhe a ficha do doente. E, embora estivesse dividido por vários apelos, foi justamente naquele instante que identifiquei a mãe da rapariga. Quando ela dera entrada no hospital bem me parecera uma cara conhecida. Uma reminiscência muito distante. Agora, de súbito, sabia: ela tinha sido professora da minha irmã. A enfermeira demorava-se a descobrir a ficha. Oh, aquele arquivo! Fui batendo com os dedos na secretária. Olhei para o telefone de uso interno e marquei o número da enfermaria. Ao menos Clarisse ficaria a saber que eu chegara já ao hospital. Ainda na véspera lhe surgira nova hemorragia. E aquelas dores perfurantes. Se eu pudesse forçá-la a um novo ensaio!. . . Escrevera-me um colega do Porto, convertido pelo Guedes, a relatar alguns casos esperançosos. Mas casos esperançosos, às fornadas, que terminavam bem sabíamos como, já nós tivéramos com outros engodos. No entanto. . . Quem sabe se Lúcia saberia convencê-la!. . . Lúcia era uma rapariga às direitas. Sei lá se era! Tudo ambiguidades. Ninguém atendia da enfermaria. A rapariga sentara-se na minha frente. Tinha a boca tapada com o lenço. Usava óculos. Não gosto de pessoas que usam óculos.
- Estou a roubar-lhe tempo, senhor doutor. Volto amanhã.
Ela percebera o meu enfado irritadiço.
- Não pense nisso. O que não compreendo é que ninguém atenda o telefone.
De novo os dedos a percutirem na secretária, o tempo a escoar-se. Se não fosse o diabo da rapariga ter-se lembrado de me procurar, e logo naquele dia, já eu teria feito a visita à enfermaria. Enfim: lá veio a ficha. Tratava-se de um cancro. Ia ser uma conversa de surdos. A rapariga amarrotava o lenço nas mãos, enquanto eu relia a história da doente. Uma conversa difícil e, por isso, demorada.
- Sabia o motivo por que internaram a sua mãe, não é verdade?
- Ainda ninguém me disse nada.
- Bem, ela tem um cancro.
A pressa que eu tinha, santo Deus, e a rapariga com aquele pasmo! Por que não me libertava ela da sua presença, do seu choro, das suas mãos enervadas?
- ... Mas trata-se de uma localização benigna.
Era um remendo tardio. A rapariga preparavase para sair sem dar tempo a reconciliar-me comigo.
- Desculpe tanto incómodo que lhe dei, senhor doutor.
Somos feitos de porcaria. Eu, pelo menos.
Sentara-me ao lado de Clarisse. Avaliava-lhe as forças. Não podia vê-la naquele maldito quarto de hotel, docilmente à espera da morte, que viria como uma astuta rameira a filar um colegial desarmado. Que continuasse, de preferência, a consumir-se numa chama viva. Que ardesse de pé.
- Precisamos de ir os dois a qualquer sítio disse-lhe. - Hoje há um concerto.
- Vamos, se te apetece. Mas sinto-me arrasada.
Não insisti. Não havia nada para dizer. Arrasate, Clarisse. Acaba depressa. Seria possível que eu o desejasse? Ficamos à procura de qualquer palavra inútil, enquanto eu ia e vinha da janela, a desbastar um turvo nervosismo, cada um na expectativa de se libertar da presença do outro. Na melancolia pesada que havia de permeio poderia eclodir uma tempestade. Daí a pouco, foi ela a referir-se de novo ao concerto. Pediu-me que esperasse lá fora. Estive não sei quanto tempo junto do elevador. O homem que o servia, com a face opaca e retalhada, lembrou-me uma velha relíquia. Sem carne, sem veias. Apenas a pele seca colada aos ossos. Quando Clarisse apareceu no elevador, esforçando-se por não cambalear, trazia o vestido que lhe vira no dancing. O seu corpo flutuava dentro do crepe vaporoso. Tal como naquela noite remota mas instantânea. E também como nessa noite, parecia-me irreal. Os seus gestos tacteavam as paredes e o pavimento. O meu cavalo de circo ia morrer. Exibia-o num último espetáculo.
Pelo caminho, voltou a falar-me das flores. De um modo incoerente. Não, não era de todo incoerente: a mim é que, de ouvidos arranhados pela teatralidade desagradável que ela pusera nas palavras, custou perceber-lhe, desde logo, o objetivo. Ela queria dizer-me, num simbolismo de mau gosto, que nem as circunstâncias defendiam, que não desejava que lhe vendassem os olhos no momento da execução.
- Guarda todas as flores para esse dia. Quando as receber, ficarei prevenida. Posso confiar na tua promessa?
Eu sentia a garganta afogada por uma emoção ridícula. Cerrar os ouvidos, esquecer. Recomeçar do esquecimento. Mas não se pode descer uma cortina sobre nenhum ato da nossa vida.
- Que promessa? Ainda não disse uma palavra. Aliás, o que me pedes não tem pés nem cabeça. Já o esqueci.
Ela tinha um sorriso dúbio. Talvez pretendesse, simplesmente, mortificar-me. Ou apanhar-me, uma vez mais, numa ratoeira.
- Sei que mo farás. Preciso de morrer sem medo. Mas para isso tenho de ser prevenida. Confio.
- Não esperou pela minha reação e prosseguiu logo depois de me sondar durante uma pausa: - Nunca fomos pessoas convencionais. Não é também o que pensas de ti?
- Já não tenho certezas.
- Elas voltarão.
Encarei-a de novo, sem perceber. Clarisse, porém, furtou-se, indicando-me uma bugiganga numa montra.
Acabamos por não ir ao concerto. Os olhos de Clarisse, no caminho, descobriram uma vivenda exilada no cimo da colina, entre dois prédios monstruosos, e já não quis prosseguir. Um dos seus caprichosos fascínios. Ou evasões. Para retomar uma consciência carnal da sua presença, precisava, de tempos a tempos, de lhe apertar o braço.
A cidade devoradora ainda não chegara ali. Havia mesmo um caminho escavado das chuvas, entre hortejos e figueiras, antes de começarem as terras escuras de pousio. O perfil brumoso e enigmático da vivenda estampara-se de encontro a um céu roxo. De instante para instante, o céu enegrecia e o perfil da casa deixava de ter contornos para ser apenas uma turva e insondável profundidade. Mas persistira alguma coisa: a luz lívida da janela do último andar um náufrago que, depois de submerso, deixa o punho de fora. Clarisse assistiu a toda aquela agonia, até que a luz desapareceu também. Assoprada. Esmagada entre duas mãos.
- Vamo-nos deitar, Jorge.
Bem percebi que ela retesava os músculos para não obedecer a uma dor corrosiva.
Durante a noite, esteve febril, com espasmos de tosse. Quando terminava de tossir, mantinha-se arfante por muito tempo e os seus olhos escondiam-se na fundura dos ossos, ainda acesos e vigilantes. Essa vitória sobre o sono ateava-lhe a euforia. De manhã, os estimulantes que, quase à força, lhe injetei, de pouco serviram. Apenas os olhos, nem sei como, permaneciam incendiados. Disse-lhe, pelo hábito de mentir:
- Tens hoje melhor aspecto. Amanha, talvez possamos dar outra volta.
- Assim o espero. Vai à tua vida. Isto agora corre bem.
Inclinou a cabeça na almofada, como se fosse dormir e desejasse ficar só. Saí do quarto discretamente, sentindo-me um malfeitor que se escapa em bicos de pés antes que alguém venha surpreendê-lo. ”Isto agora corre bem.” Não gostara da frase. Repercutia-se-me nos ouvidos até lhe encontrar uma patética ironia.
Mais tarde, coagido nem sei por que remorsos, vim rondar o hotel. Andei por ali até conseguir coragem para subir ao seu quarto. Ela estava deitada entre flores lilases, imóvel, desta vez de olhos fechados, julguei que dormindo. Abriu-os para me dizer:
- Ofereci-as a mim própria. - Falava em surdina, arrastadamente, como quem resiste aos efeitos de um hipnótico. - Foi a primeira vez em que não confiei em ti.
Não disse mais nada. Nada mais dissemos um ao outro.
Creio que conversei com o gerente do hotel sobre as formalidades a cumprir. Gente a assinar papéis. Os corvos pretos. Daí a horas ou no dia seguinte, o funeral. com flores e pessoas que se quedariam no passeio, descobrindo a cabeça. Não me lembro ao certo do que se passou. O elevador levou-me ao résdo-chão e o rosto de palha do empregado estava tão vazio quanto o meu cérebro.
Só recuperei um pouco de lucidez quando, ao chegar à rua, alguém veio ao meu encontro. Era Lúcia. A inevitável Lúcia. Não a teria reconhecido imediatamente mesmo noutras circunstâncias, dissimulada como vinha na sua gabardina de golas que lhe tapavam as orelhas, sob o nevoeiro pegajoso da noite. Tinham-me procurado por toda a parte, para me prevenirem de que entrara de urgência uma doente na enfermaria. Era necessário fazer-lhe transfusões sem demora e devia ser eu a orientar o caso. Não acreditei.
- Desculpe, não podia deixar de vir buscá-lo. Lúcia, de súbito, reparou na apatia da minha expressão e compreendeu. com a mão segura no meu braço, acompanhou-me ao hospital. Porém, gradualmente, eu ia sendo possuído por uma estranha e revelada tranquilidade.
A enfermeira abria um dossier para a nova doente. Eu seguia-lhe, entontecido, os gestos rotineiros.
- Podemos começar? - disse-me Lúcia, numa voz que partia lá de longe, embora firme e apaixonada. Erguia-me a bata à altura dos braços.
- Podemos.
- Não quer um café primeiro?
Levei as mãos à testa, arredando sombras. - Mais tarde.
Fernando Namora
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















