



Biblio VT




NAQUELA altura o meu pai fazia fanga e eu tinha começado a ajudá-lo no trabalho, embora pouco ou nada fizesse de proveito. Mas sempre me ia habituando, porque no campo, mal a gente deita fora as fraldas (isto é um modo de dizer, pois julgo que nunca as usei, a supor pelo que vejo nos cachopitos), começamos logo na lida, até depois dos braços e as pernas não poderem com uma gata pelo rabo.
Confesso que de princípio aquilo era bem da minha vontade, porque assim tomava uns ares de homem, coisa que de muito novo me agradou, mas que mais tarde achei de mau gosto. Minha mãe fez-me um almoço de pão de milho e azeitonas, meteu-me tudo num cesto que enfiei no braço e, enquanto o meu pai aparelhava a burrita, dei uma corrida a casa da avó Caixinha para me mostrar. Fez-me uma grande festa, riu-se e chorou, pôs-me ao colo e deu-me umas passas de uvas, oferta que ela sabia ser do meu agrado. A avó Caixinha dizia sempre que me enxergava, que eu era a cara do meu avô Sebastião, morto, ainda eu era de peito, por um toiro dos Terrés que o agarrara, num dia em que ele voltava da azenhaga. Por causa dessa parecença resultavam discussões amenas, mas que no fundo eram azedas, com a minha avó Calçada, que afirmava ser eu um espelho da cara do meu bisavô. Então, andava como um boneco de mão em mão, olhado atentamente por todos, tendo cada qual uma opinião para reforçar ou desmentir a cegarrega das velhotas.
- A testa é do avô Sebastião, lá isso...
- Mas os olhos e o jeito da boca são do meu pai que Deus tem.
- Não diga isso, comadre. Ora olhe bem o cachopo e veja se não é escrito e escarrado o meu homem. É todo inteirinho.
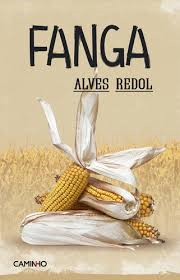
Eu por mim gostava mais das parecenças com o avô Sebastião, porque sempre fora morto por um toiro, ao passo que o outro morrera na cama, tolhido de reumático e com uma pneumonia. Isto no Ribatejo, e principalmente na Borda-d’Água, o ter feito frente a um toiro é de muito mais estimação que ter fidalgo ou doutor na família. É fama que fica e não esquece mais, se há algum poeta que dê para o cantar. E até isso se deu com o meu avô Sebastião, a quem o Barra fez uma versalhada que as raparigas cantavam nas eiras e no campo. Orgulhosa do seu homem, foi a avó Caixinha que ma ensinou, numa noite em que a acompanhei à fonte.
Negro e de pontas bem finas fugira o boi da manada, deixando os outros no pasto e vindo esperar prà estrada.
Depois falava no nome todo do meu avô e dizia que
... homem assim tão valente nunca houve na Golegã.
era por isto mesmo que eu gostava mais de ser escrito e escarrado o avô Sebastião Caixinha.
Nesse dia, em que me fui mostrar para ir até à fanga. recordei tudo isso quando olhei para um retrato que meu avô tirara em militar, de boné redondo na cabeça, bigode pequeno retorcido, perna cruzada e cotovelo apoiado numa floreira, tendo por detrás uma paisagem com um grande navio a deitar fumo e um mar muito manso. Ainda até hoje, já lá vão muitos anos, nunca vi o mar, embora dele tenha ouvido contar muitas histórias. E, não sei porquê, parece-me que o conheço todo. só por causa daquela fotografia. A minha avó revia-se muito nela, talvez por lhe lembrar os seus tempos de moça. em que turvava cabeças a rapazes de bom arranjo. Fora o meu avô que a levara, embora só de seu tivesse os braços. E isso contra a vontade dos pais, que julgavam ser capazes de lhe talhar o destino.
Não sei que é isto - sempre que quero contar alguma coisa, começo a desviar a conversa e vou por aí fora enleado em recordações. Mas já agora sempre digo que o facto da minha avó ter pendido para ali era um dos grandes motivos da predilecção que eu tinha por ela. Desde pequeno que admiro os que são capazes de contrariar os outros quando têm razão. E a minha avó tinha razão pela certa, porque não seria capaz de encontrar homem mais são e valente do que o Sebastião Caixinha, morto por um toiro na estrada da Azinhaga.
Depois de me dar as passas, minha avó espreitou-me o cesto e foi arranjar um frasco com vinho, porque, segundo me disse, almoço sem vinho é como dia sem sol.
Se contente fui, mais contente voltei. Que nem uma lebre galguei o caminho até casa, desejoso de mostrar ao meu pai a oferta que me tinham feito.
A burra já estava à porta, toda esperta de orelhas, porque era animal sempre decidido às saídas, embora se pegasse quando via outro da sua igualha a zurrar. A albarda com a manta já lhe estava em cima e, inquieta, ia batendo as ferraduras nos seixos da rua, a espantar as moscas que andavam aos bandos à sua volta. Encostado à porta de casa, com a cabeça enfiada pelo postigo, o meu pai falava para dentro, talvez a recomendar que quando a minha irmã Ana voltasse do trabalho, nos fosse procurar ao caminho. Ele bebia os ares por ela e nessa altura fazia-me bastos ciúmes. É que, contra o que é costume com os rapazes, sempre gostei mais do meu pai.
Gritei-lhe de longe, alçando o cesto, e ele voltou-se a rir.
- Já tenho que te descontar um quartel. O Sol já vai alto e a gente ainda aqui por tua culpa.
- Fui à avó Caixinha. Deu-me isto...
E mostrei-lhe o frasco cheio, mais de água que de vinho, embora por aqui os cachopos, de muito pequenos, comecem a beber a sua pinga.
Gracejou comigo, dizendo que se despejasse aquilo tudo, não havia depois quem me trouxesse para casa e não estava para sofrer algum desgosto. Ofereceu-se para me montar, o que recusei, pensando que fora da vila aproveitaria, porque até haver casas queria que me vissem capaz de calcorrear uma jornada pelas minhas pernas. Veio a minha mãe à porta dizer-me adeus e toda a gente da rua se meteu comigo, menos a rapaziada do meu love, que ficou amuada por não poder tomar os mesmos ares. Tive pena de os ver assim e senti ganas de pedir que os deixassem acompanhar-nos. Mas pensei que indo trabalhar não me ficava bem dar mostras de querer camaradas para brincadeira. Fui com aquela mágoa por algum tempo. Dei em me pôr mazombo, até que meu pai meteu conversa para me distrair, logo depois de entrar numa venda a beber um copo.
Fora da vila pedi-lhe então para me montar na Galharda e eu é que nunca mais deixei de lhe fazer perguntas.
- Pai, por onde vai esta estrada?!... -’ Pai, como se chama aquela flor?
- Barbascos.
- E aquela?...
- Pampilhos.
- E aquela?...
- É a labaça.
Era um corrupio de perguntas que me ocorriam e me punham tonto. Tudo queria saber e reparava com pena que muitas mais coisas ficavam por perguntar. Meu pai, para se ver livre de mim, alargou o passo e desandou à frente, pondo o cajado sobre os ombros e apoiando nele as mãos; ficou de cotovelos para fora, como se fosse um pássaro grande que abrisse as asas para voar. Ouvi-lhe o assobio, sinal de que ia preocupado, embora não percebesse os motivos. Mais tarde, e ainda bem novo, é que o compreendi. Na Requeixada fazia-se fanga a sete, o que quer dizer que o dono da terra recebe sete partes na colheita, ao passo que o trabalhador só tem uma parte.
Mas naquela altura estávamos em Abril e via tudo tão viçoso e bonito que ignorava as ralações do meu pai. Nem talvez mesmo as percebesse, se alguém me falasse nelas.
Instiguei a Galharda a andar mais ligeira para o acompanhar, porque assim não podia falar com ele, e era aborrecido ir ali ao passo da jumenta, sem ter com quem acamaradar. A burra não entendia os meus arres, nem os meus puxões na arreata, e bem baloucei as pernas para lhe chegar à barriga. Mas não fui capaz, por muito que me pendesse, com risco de baldear da albarda e abrir algum lenho nos joelhos.
- Pai!... Ó pai!...
Fazia que não me escutava e cada vez o via distanciar-se mais de mim, borla do barrete a saltitar-lhe nas costas, com o corpo todo gingado, como se fosse um espantalho de horta movido por arames. Um compadre cruzou caminho com ele e meteu conversa. Só assim fui capaz de o apanhar. Era o Zé Felício, que estava na leitaria da Cardiga e mais tarde abalou para Lisboa como jardineiro. Falaram os dois de mim, e o meu pai, para me meter medo, disse-lhe que se não andasse bem ao jeito me desancava com o cacete. Corei com aquela promessa e senti saudades dos meus companheiros da Baralha. Depois lá continuámos até à fanga.
Ali esqueci-me de tudo, porque, em meu entender, aquilo era nosso e fiquei orgulhoso com essa ilusão. A terra estava preparada para se lhe deitar a semente e o meu pai deu-me um punhado de feijões, que deixou ficar no chão, explicando-me como os devia enterrar. Abalou, dizendo que já voltava. Que não tivesse medo e fizesse tudo como ele indicara.
Pus na tarefa a minha melhor opinião e confesso que me senti crescer no meio daquele silêncio tão grande. Tracei um carreiro, depois outro, porque nos intervalos do milho aproveitava-se sempre para sementeira de feijões, uma vez que o trabalho pouco acrescenta e na colheita sempre alguma coisa se ganha em vagens para o prato e palha para os coelhos.
Achei que afinal aquilo era fácil e bem podia já tomar conta de trabalhos que dessem jorna. A minha maior ambição era ganhar dinheiro, pois desde o último S. Martinho, em que vira uns meninos comprarem brincadeiras numa barraca, entendi que com o primeiro salário havia de mercar coisas iguais, ou até mais bonitas, porque em meu entender eles não tinham lá muito gosto. Comprar bolas de borracha e cordas para saltar, quando havia cavalos e rodas com campainha, parecia-me tolice.
Lá fui enterrando os feijões, o melhor que pude, e daí a pouco já estava farto do trabalho, parecendo-me que o punhado ia crescendo, como se os que deitava à terra dessem logo colheita na minha mão. Daí a pouco ouvi assobios do lado de um canavial e parei a escutar melhor, o que me soube bem, porque sentia uma fadiga teimosa a tomar-me conta dos rins.
Gritei de cá e logo me responderam, não tardando muito que não aparecesse uma cabeça a espreitar-me e um braço a acenar uma atiradeira.
- Eh pá!...
Voltei-me para o outro lado para ver a quem se dirigia a palavra; como não visse mais ninguém, entendi logo que era comigo. Fiquei contente por estar acompanhado e deu-me vontade de deitar os feijões ao ar e correr para o companheiro, ou levá-los na algibeira das calças e jogar com eles à cova. Mas lembrei-me do meu pai que não devia tardar, e reprimi a vontade de abalar para junto do outro.
Pensei para mim que podia dar uma fugida e voltar logo, porque talvez o meu pai se demorasse e não soubesse da minha falta. Interroguei-me umas poucas de vezes e fiquei sem saber qual a resolução a tomar. De repente, do cimo de uma árvore, saiu um pássaro em voo rápido, o outro estendeu as borrachas da atiradeira e logo uma pedra zuniu, passando por cima de mim. Entusiasmei-me, pois, melhor do que ele, vira a boa pontaria feita; se não fossem os feijões teria batido palmas de contentamento.
- Por um bocadinho, pá!...
Não nos conhecíamos, mas o facto de estarmos sós pareceu-me de grande intimidade. De lá, ele desafiava-me numa tentação e eu hesitava cada vez mais. Deitei-me à tarefa com maior afã para dar conta de tudo aquilo e ficar livre. O pior era se o meu pai chegava e me distribuía outro trabalho. Presa a uma árvore, a Calhorda zurrou, espirrando com ruído.
- Anda, pá!...
E a mão chamava-me sem cessar para junto do canavial, onde devia haver uma sombra mais de apetecer que o sol rijo que me batia de chapa na cara. Depois o outro pôs-se a tocar uma flauta de cana e perdi a cabeça. Voltei-me para o trabalho, desvairado de todo. Esqueci-me do apuro dos carreiros e meti feijões à toa. Como não achasse o fim, comecei a enterrar aos dois de cada vez.
A música que o outro tocava era agora mais bonita. Nunca tivera uma flauta daquelas, pois os meus companheiros da Baralha eram do meu tamanho e não sabiam fazê-las, nem ainda usavam canivete para poderem experimentar. Senti que estava a perder a oportunidade de conseguir uma. Quando voltasse, poderia tocar como aquele e nessa tarde eu seria o centro das nossas brincadeiras. À minha volta todos ficariam sentados a ouvir-me e até mesmo as mulheres viriam para a porta escutar as músicas da minha flauta. Naquela altura tinha a certeza de que ninguém tocaria melhor do que eu.
Mas os feijões não acabavam. Enchia a mão no monte que o meu pai deixara e cada vez me pareciam mais. Ali perto só estava a burra. No canavial esperava-me o outro, que tinha atiradeira e flauta de cana. Tudo o mais era campo terra e árvores.
Pus-me a reconsiderar no trabalho; achei que o meu pai me enganara e talvez até estivesse a contar a alguém a partida que me fizera. Era certo que nada percebia de sementeiras, mas entendi uma coisa que me pareceu muito simples: se a terra acrescentava feijões postos em carreira, melhor seria ainda se os ajuntasse.
Hesitei na descoberta.
Respeito ao meu pai tinha eu às carradas. Se não fora isso, já teria resolvido o assunto de Maneira bem fácil.
Lembrei-me novamente de que o meu pai se devia estar a rir de mim. Isso foi coisa que nunca me agradou.
A descoberta que fizera avantajava-se dentro de mim. Até talvez o meu pai ficasse contente, porque seria a coisa mais linda dos campos da Golegã. Os feijões, enterrados.juntos, cresceriam com mais força. Naquele momento já via uma árvore grossa, que nem oliveira do Espargal, toda carregadinha de vagens brancas. Viria o povo à fanga do meu pai para ver aquilo. Explicaria como semeara e, pelo S. Martinho, teria dinheiro para fazer as minhas mercas, porque o meu pai não deixaria, por certo, de me dar uma lembrança em dinheiro.
Não pensei mais.
Despejei da mão para o monte os feijões que ainda tinha e, com os dedos, pus-me a agatanhar a terra. O outro chamou-me mais uma vez. Gritei-lhe que esperasse; e, de joelhos no chão, pus-me a cavar a cova, num entusiasmo que me fez cantar.
... homem assim tão valente nunca houve na Golegã.
Então todos diriam com mais razão que eu era, por uma pena, a cara do meu avô Caixinha. A cara e tudo o mais. Porque também seria capaz de fazer frente a um toiro dos Terrés.
Ia passando a terra- remexida por entre as pernas e alarguei mais a cova - quanto mais larga a fizesse, maior seria a árvore. Naquele momento, ela era já maior e mais grossa que as oliveiras do Espargal; tomava jeitos de se pôr tão alta como os freixos das Praias.
Passei todos os feijões do monte para a cova e parei o trabalho, a rever-me na descoberta. Fiquei assim por alguns momentos, para de seguida me pôr a tapá-la com tal vontade que do canto de uma unha saiu um laivo de sangue. Não parei por isso.
... homem assim tão valente nunca houve na Golegã.
Quem gostaria de me ver era o meu avô Sebastião.
Acamei a terra o melhor que pude, bati-a com o calcanhar, e abalei. Depois lembrei-me do cesto do almoço e voltei atrás. Meti um naco de pão e um punhado de azeitonas na algibeira e corri para o canavial a chamar pelo outro.
Dei-lhe uma parte do pão e das azeitonas; ele entregou-me a flauta. Sentei-me ao seu lado e levei-a à boca. Pus-me a tocar e só então verifiquei que não conseguia tocar o que queria. Era uma questão de tempo, concluí. Comecei a apurar-me e os sons fizeram-se, pouco a pouco, mais bonitos. Do cimo de uma árvore um pássaro cantou como se apoucasse a minha música. Larguei a flauta e de um salto empunhei a atiradeira, metendo-lhe uma pedra na sola. O pássaro calou-se.
Fiquei muito atento à espera de novo sinal. Depois na árvore houve uma remexida tal que deixei cair a pedra da atiradeira. Nessa altura, um bando levantou voo. Quando estiquei as borrachas, o outro pôs-se a rir e a apontar para mim numa troca
Senti que corara todo. Sorri para me desculpar e fui sentar-me ao seu lado.
Ele voltou à bucha e às azeitonas, parecendo querer devorar os dedos. Só então reparei melhor no meu companheiro. Tinha a camisa e as calças aos farrapos, os cabelos e os olhos muito negros, a pele morena. Demos com os olhos um no outro e rimo-nos.
-Tu és da Baralha?...
- Qual Baralha?!...
Expliquei-lhe. Disse-me que não, que nem sabia mesmo de onde era. Nunca perguntara isso aos pais, mas havia de indagar. Sorriu-se novamente. Tinha os dentes muito brancos, fechava os olhos quando se ria. Mal acabou de comer, pôs-se a procurar qualquer coisa nas algibeiras e tirou uma ponta de cigarro que meteu na boca. Depois acendeu-a e recostou a cabeça no combro.
Contou-me que fora à feira de Março a Torres Novas e agora esperava a feira de Maio da Golegã.
- Estavas a trabalhar?!...
A sua voz era cantada e nunca ouvira falar assim. Acenei-lhe com a cabeça.
- Eu cá nunca trabalhei. Acho que fazes mal... Fiquei calado e depois perguntei-lhe porquê. Chamou-me palerma. Sorri-lhe.
- A gente anda de feira em feira. Vende aqui um burro, acolá compra uma mula. Quando não há gado, vendem-se fatos. Não temos poiso certo. Conheço as terras todas do Alentejo e daqui. Feiras boas são as do Alentejo.
E chupava no cigarro, deitando fumo pela boca e pelo nariz.
- Nunca viste deitar fumo pelos olhos?!...
- Não.
- Põe a mão aqui no peito. Olha bem pra mim.
Deu uma fumaça e depois pegou-me na mão e tirou-a do peito.
-’ Não quero. Deste-me pão.
Fiquei sem perceber e explicou-me que me podia ter queimado com o cigarro.
- É uma partida que se faz aos que não sabem. Cheguei-me mais para ele.
- Se a gente tivesse sempre que comer, não havia vida melhor. Mas mesmo assim, não a trocava pela tua. Na gente ninguém manda.
Na cabeça ia-me uma confusão de recordações. Lembrei-me do S. Martinho em que vira mulheres de saias com muita roda e de cores garridas; fitas no cabelo e filhos escarranchados nos quadris. A minha mãe afastava-se delas, benzendo-se.
- Tu és...
- Sou.
Fiquei calado por muito tempo. Ele pegou na flauta e começou a tocar, como se eu não estivesse ali. Depois pô-la ao lado da atiradeira e voltou-se novamente para mim.
- Vocês têm medo da gente?!... Não lhe respondi.
- A gente não faz mal a ninguém.
Do outro lado do combro o meu pai pôs-se a chamar-me. Assustei-me, sem saber o que devia fazer. Fiquei inquieto, a tremer e com vontade de chorar.
- É o teu pai?!...
- É.
- Não lhe digas que estiveste comigo. É capaz de te bater. Diz que te vieste abaixar.
Estendeu-me a flauta.
- Toma.
E como tivesse ficado indeciso, disse-me que era para mim. Levantei-me, oculto no canavial, a espreitar o meu pai. Ele continuava a chamar-me.
- Manel!... Respondi-lhe de cá.
- O que estás a fazer?!...
- Estou-me a abaixar.
sorrimo-nos os dois. Estendeu-me a mão e apertou a minha com força.
- Chamas-te Manel?!...
- Pois!
- Eu sou Buraco.
Os seus dentes muito brancos ressaltavam da pele morena.
- Adeus!... Esconde a flauta na camisa.
- Adeus!
Saltei o combro e deixei de o ver. O meu pai, de enxada ao ombro, dava volta à fanga. Quando me viu, parou, e pôs-se a ajeitar o barrete na cabeça. O seu olhar esmagava-me. O meu pai era um homem alto e seco, de braços compridos que quase lhe passavam os joelhos. Julguei-o mais alto naquele instante. Sentia-me atraído para o companheiro que ficara no canavial, porque me lembrava agora de novo da sementeira dos feijões. Contrafeito, aproximei-me em passos curtos, como a retardar mais o nosso encontro.
- Já estavas farto de estar sozinho, Manel?! -’ Não, senhor.
Respondi-lhe tão a medo que reparou no meu embaraço.
- Deitaste os feijões todos como te disse?!... Diz-me lá por onde os puseste.
Indiquei-lhe os carreiros que traçara. Acenou a cabeça e vi-lhe uma expressão de contentamento no rosto duro. Pôs-me a mão no ombro e deu-me mais explicações. Eu é que não me sentia bem. Pesava-me no peito a dúvida de ter feito mal. Por duas vezes estive para lhe contar o que fizera; por duas vezes calei a minha angústia.
- Quando eu for velho e se o Sr. Soromenho quiser, ficarás aqui. A terra é boa, mas ele leva tudo. Um dia saberás o que isto é. Mas tem de ser assim. Já o teu avô e o teu bisavô tinham a mesma vida e por aqui não se dá outro jeito.
Aquelas confissões punham-me à vontade. Quando passámos junto da cova, parei. O meu pai reparou no chão calcado e meteu-lhe o bico do sapato. Por todo o corpo me correu um abalo que parecia querer abater-me. Tremia e engolia em seco, fazia caretas e mexia-me lodo. Não pude mais.
- Pai, eu digo...
Vi-o ficar triste, pôr-se branco e acenar a cabeça. Depois agarrou-me por um braço, tirou a correia das calças e deu-me com ela umas poucas de vezes. Chorei. Mas chorei mais pelo mal que tinha feito do que pela dor que as pancadas me fizeram. Por cima do combro eu via a cabeça do meu companheiro a espreitar-me.
«Na gente ninguém manda» - lembravam-me as suas palavras.
Meu pai agarrou nos feijões e pôs-se a metê-los na terra, enquanto eu soluçava, sentado no chão, ao pé da Galharda. Todos iriam saber da minha partida. A minha avó Caixinha talvez nunca mais me desse passas. Sentia que fora o meu companheiro que tivera culpa, mas também me sentia incapaz de o condenar. As mulheres da minha rua eram capazes de me fazer sogada quando soubessem. E os outros cachopos, ciumentos de me verem ir para o trabalho, rir-se-iam de mim também.
Vieram-me mais lágrimas. Meu pai pegou novamente na enxada e foi guardá-la num regueiro, escondendo-a de olhares estranhos. Encaminhou-se para mim, desprendeu a burra e tomou pelo carreiro que dava para a estrada. Não me olhou nem disse palavra. Segui atrás, leve de pernas, obrigando-me de vez em quando a correr para o acompanhar. No meio de toda aquela mágoa, só me acarinhava a flauta que eu tinha dentro da camisa e o saber que minha mãe se enganara, quando no Arneiro se benzera ao ver as ciganas com os filhos. Esta segunda certeza, sem eu saber explicar porquê, era-me mais consoladora do que a outra, apesar de ser a realização de um sonho antigo.
Fizemos todo o caminho calados; meu pai à frente com a burra pela arreata, eu atrás agarrado à albarda, porque de outro modo não seria capaz de lhes acompanhar o passo. A Galharda sabia que tomava jornada para o palheiro e ia mais leve do que nunca.
As pernas fraquejavam-me, os pés já tropeçavam em todas as pedras da estrada. Mas como o meu pai não me oferecia ajuda para saltar para a albarda, também não lhe queria pedir, pois, no fundo, sentia-me com razão de ter tentado aquela experiência na sementeira. Levava a camisa repassada, a cara a pingar e os cabelos molhados. Noutra altura teria chorado, ou pelo menos carpido, só para ter a certeza de que era eu quem ia ali.
Assim, em silêncio, parecia-me não viver, quando, pelo caminho além, havia coisas sem conta para perguntar.
Tinha sede de me consumir e no cesto levava o frasco que a avó me dera, e ainda lhe não tocara. Mas se largasse a albarda, ficaria para trás e sabia que já não tinha pernas para apanhar o meu pai. Naquele momento preferia tudo a pedir-lhe paz. Em minha casa diziam muitas vezes que eu era muito teimoso e que nisso saía à minha avó Caixinha. Eu acho que isto não é teimosia, porque não torcer, quando se tem razão, é saber o que se quer.
Entrámos na vila e, contra o costume, o meu pai não foi a nenhuma venda. Vi nisso uma Maneira de me hostilizar, mas, se me achava sem culpa, também entendia que ele fazia bem em não dar parte de fraco. No fundo éramos amigos e nem por isso tinha qualquer ressentimento contra ele. A mágoa que me acompanhava era provocada por ele, mas eu não a sentia como tal.
Quando chegámos, atravessou a casa de fora e a cozinha com a Galharda e foi desarreá-la para o quintal. Fiquei à porta por momentos, para de seguida me resolver a entrar também.
Minha mãe percebeu imediatamente que houvera qualquer coisa entre nós. De junto da lareira, e vigiando o jantar, perguntou-me com a cabeça o que se passara. Respondi-lhe com os ombros e enterrei a minha entre as mãos. Depois foi à cantareira e aproveitou para me dizer palavras que não entendi. Meu pai chamou-a e ela foi atendê-lo, pois a sua curiosidade estava ansiosa de revelações. Entre os seus muitos defeitos, este era um dos que mais avultava. Quando havia alguma coisa que não lhe contavam, a sua cara transtornava-se - punha-se pálida, vincavam-se-lhe duas rugas entre os olhos e a boca parecia desaparecer. Andava de um lado para o outro, olhos postos em todos, como que a tentar descobrir. Se tardavam em dizer-lhe, punha-se de mau modo e durante alguns dias ninguém mais lhe via um sorriso. Falava entre dentes, atirava com as coisas, e eu e a minha irmã é que pagávamos a sua irritação. Por uma gargalhada mais alta, por um gesto qualquer, desatava numa bramação sem fim, dizendo sempre que se estava a mais lá em casa, ainda tinha braços para trabalhar e não precisava de favores de ninguém.
Mas naquele dia meu pai abriu-se depressa. Ouvi-lhe as queixas, ditas em voz alta para me atingir.
- Um malandro que ando aqui a criar. Quem o visse sair de casa julgaria que me ia ajudar bastante. Pois lá, mal me afastei para procurar o Zé Bexiga, enterrou os feijões todos numa cova e abalou para o canavial.
Depois fez-se silêncio. Compreendi que minha mãe em voz baixa me tentava desculpar.
- Mais pequeno do que ele já eu me afazia a trabalhos mais pesados. E o nosso Luís nunca me fez uma partida igual. Esse, se fosse vivo, é que seria um homem. Este dá em vadio ou coisa pior.
Chorei, contendo os soluços, levantei-me de mansinho e fui ao cesto buscar um punhado de azeitonas, porque a fome era bem maior que o desgosto e já sentia o estômago a comprimir-se de falta. E, não sei porquê, tinha um pressentimento...
- Na casa deste homem quem não trabalha não come. Hoje nem uma sede de água se lhe dá.
- Manel!...
- Pai!...
Minha mãe veio à porta chamar-me, sorrindo-se. Quando cheguei junto dela, passou-me a mão pelo ombro, como a ajudar-me e a proteger-me.
- Vem cá.
Avancei para o meu pai de cabeça baixa, boné na mão e em passos curtos. Quando cheguei ao alcance do seu braço, pegou-me por uma orelha e levou-me até ao curral.
- Ficas aqui o resto do dia e toda a noite. E nada de choradeiras, porque senão venho fazer contas contigo.
Encostei-me à divisão da palha, enquanto alguns coelhos se passavam para o quintal, por entre as minhas pernas, e a ovelha me vinha cheirar, soltando um balido triste. Meu pai correu o fecho da porta e ouvi-o apaparicar um dos coelhos, certamente o Rabino, que partira uma perna e a quem a minha irmã Ana fizera uma operação, amarrando-lha com talas de cana e cordel.
Durante muito tempo não me mexi, abatido com aquele castigo que pela primeira vez me destinavam. Mas logo me dispus a aguentar, tanto mais que de casa chegavam risos; se julgavam que tiritava de medo, só tinha de mostrar o contrário, pois nunca gostei que me vencessem. Sentei-me numa pedra e chamei a ovelha para junto de mim. Fui-lhe tirando do pêlo os bocados de mato que’ se lhe tinham agarrado, e assim o tempo ia passando sem dar por ele. Depois deu-me para a fazer espernear, agarrando-lhe nas pernas. A ovelha desunhou-se em balidos e tive de abafar as gargalhadas que a sua aflição me despertara.
Como dali nada mais tirava para me entreter, deitei-me sobre a palha do outro lado e fui comendo o resto das azeitonas. com um graveto esfrangalhei as teias-de aranha penduradas do tecto baixo e cantarolei.
Naquela pasmaceira adormeci. Quando acordei, doía-me o corpo e lembrei-me do cheiro do jantar. A noite ia caindo e ouvi na rua a voz da minha irmã e das outras raparigas que voltavam do trabalho.
Confesso que estranhei a demora da pena. O meu pai ralhou e logo calculei que repreendia a Ana por ela me querer visitar. Isso entristeceu-me. Chegavam até mim os ruídos dos pratos e, embora o cheiro não atravessasse o quintal, eu sentia-o mais apetitoso que nunca. Chamei, mas não me responderam.
Então, quando a noite chegou de todo, lembrei-me das histórias de bruxas e lobisomens que minha avó Calçada contava aos serões, e senti medo. Achei-me pequeno para vencer o castigo. Vi olhos que nem lampeões à minha espreita, e todos os ruídos me faziam estremecer. Estou certo de que me entravam nos ouvidos os passos dados a grande distância de mim. Todo o corpo se pusera atento à escuridão da noite. Meti a cabeça no meio da palha e não fiquei mais à vontade. A ovelha mexia-se e tomava-lhe receio, como se fosse algum bicho mau, dos tais que escoicinhavam uma rua toda e assombravam para sempre quem os via.
Sem querer comecei a chorar. Primeiro muito baixinho, depois a carpir, finalmente, aos gritos.
Só então minha mãe me foi buscar, e isso deu-me outro desgosto. Porque, apesar de tudo, eu entendia que a paz só do meu pai devia vir. Apeteceu-me não sair do curral; mas a escuridão era mais forte do que a minha vontade.
De tudo o que me apeteceu fazer, levei uma coisa avante - não cear. Meti-me no quarto, despi-me e tentei dormir. Minha mãe, contrafeita comigo, sentenciou da cozinha:
- Quem não ceia, toda a noite esperneia. Torto que nem o avô Sebastião.
LÁ por casa a vida corria mal, a julgar pelos ralhos e pelos choros, não cessando o meu pai de se lamentar às ceias, quando todos estávamos juntos. O trabalho não abundava e a colheita que a fanga havia de dar era só uma achega para o Inverno, porque o Sr. Soromenho levava tudo pelo ganho da terra, e o meu pai poucas esperanças tinha na seara daquele ano. Se sempre era mau, ainda se esperava pior. Mas a tarefa das eiras chegava e todos se deitaram a aproveitar a quinzena. Minha mãe foi para o Espargal, meu pai para o Milhafre e a minha irmã para o seu Joaquim Honorato, que tinha por ela uma grande simpatia, dando-lhe sempre o melhor trabalho e nunca a esquecendo, se alguma coisa havia para mexer nos seus amanhos. Minha mãe dizia muita vez que, se as coisas iam mal, pior seria se aquele «bom homem» não olhasse pela Ana. Também, quando morresse, a minha mãe destinava-lhe um lugar no Céu.
Só eu não tinha que fazer, entretendo-me a folgar nas horas em que não me metia de abalada a levar o comer às duas, porque o meu pai não precisava, bastando-lhe um bocado de pão e umas azeitonas. Numa noite
o Tóino Malvado veio falar com o meu pai para lhe alugar a burra para as Praias, porque a besta da casa do patrão tinha qualquer maleita e a nora não podia parar. Meu pai disse que sim senhor, combinou o preço e perguntou-me se eu era capaz de levar a Galharda e tomar conta dela. Não coube em mim de contentamento, pois, de todo o campo da Golegã, as Praias tinham a minha predilecção, uma vez que lá não faltava passarada nem companheiros de folgança.
Naquela madrugada tive de saltar da cama à mesma hora dos outros. Bebi um púcaro de café com broa de milho, tomei conta do meu saco de comer e abalei em direcção à estrada da Chamusca. No pontão cortei à direita pelo primeiro caminho, e lá fui à procura do Tóino Malvado, que me havia de esperar ao pé da alverca onde as mulheres vão lavar a roupa.
A madrugada estava fria e eu só levava em cima do corpo a camisa e as calças. Ia descalço, porque só em homem a gente experimenta botas ou sapatos. E se não fosse a vergonha de sermos tomados por pedintes, nem nessa altura se aguentavam. Uma vez uma senhora perguntou-me se era bom andar descalço. Não lhe respondi, mas deu-me vontade de pegar numa pedra e abrir-lhe a cabeça. Se ela soubesse o que isso é, não seria capaz de me falar assim.
Encontrei o Tóino Malvado no sítio combinado e lá fomos os dois pelo carreiro fora. As árvores altas que de dia sabem bem quando o sol está de assar, àquela hora metiam respeito. Pareciam mais esgalgadas e tinham forma de gente, ali à espreita que eu passasse para me darem algum susto.
Ajudei a engatar a Galharda, pus-lhe a venda nos olhos e incitei-a para começar a tarefa. Ali ao pé havia uma figueira, onde mais tarde podia descansar se me
Apetecesse.
Medi uma saca que estava à porta da casinhota e
Logo nela achei um bom colchão. É que tinha sono de me perder e só pensava em Dormir. Seu Tóino convidou-me para beber um púcaro de café e eu aceitei mais pelo pão que pelo café. Pus o meu saco em cima de uma arca e dei conta da oferta.
- Parece que estás assarapantado, rapaz?
- Na, senhor...
Mas estava mesmo. Ao toque-toque dos alcatruzes, a burra ia andando, enquanto a água corria para o tanque, donde sairia depois pelos regueiros para a horta. Seu Tóino Malvado abalara até ao Pombalinho a levar uma égua e, ali sozinho, farto daquele silêncio, deitei-me à revessa da figueira, sem que não deixasse de pôr uma folha debaixo da cabeça, pois não me esquecera de que só assim me poderia livrar da má sombra daquela árvore. Antes de adormecer fui dando conta dos figos que me estavam à mão, e nunca mais me lembrei de que o seu Tóino me recomendara olho bem esperto para o rapazio. A cabeça pesava-me e o corpo esvaía-se num torpor tão brando que o cansaço e a fome se calaram de todo dentro de mim.
Depois, lá mais adiante e no meio do meu sono, senti mexer na árvore e passos cautelosos à minha volta. Pareceu-me que sonhava; fiquei-me a ganhar compreensão; quando abri os olhos, vi um rapaz, mais tamanhão do que eu, a correr pelo carreiro fora, levando o boné carregado numa das mãos.
De um salto pus-me de pé e corri-o à pedra. Persegui-o, desvairado de todo, não pelos figos, mas pela surriada que de longe me fazia. Esqueci-me de que estava só e que, se me esperasse, chegava bem para me dar uma carga. Mas, pela vida adiante, eu seria sempre assim. Nunca fui capaz de viver para conveniências de qualquer espécie, mesmo que com isso a perca fosse maior do que o ganho.
Mais ligeiro do que eu era ele. A distância aumentava sempre, mas não desistia de o perseguir, vaiando-o com todas as asneiras que na rua tinha aprendido. Quando numa volta do carril ele desapareceu, voltei-me e já não vi a fazenda que o Tóino Malvado guardava. Ouvi mais perto de mim gritos de outros rapazes banhando-se na alverca, e, sem saber como, não voltei para o pé da Galharda. Tudo me passou, como se o trabalho estivesse ali daquele lado. A algazarra guiava-me os passos e o corpo parecia ganhar a pouco e pouco formas novas.
Fui apanhando amoras de silvedos que defendiam vinhas, até que deitei a correr para perto dos rapazes, à espera que me chamassem para acamaradar. Uns estavam deitados à sombra de dois salgueiros, rindo e comendo figos, enquanto outros atravessavam a alverca a nado, deliciados com a frescura da água, pois o dia estava de derreter pedras. Num que se despia reconheci o rapaz que me apoucara. Mas eu agora era outro e não fui ali para tirar despiques. Compreendi até as suas razões, pois guardas de frutas ou de searas foi gente que nunca teve o meu agrado. As histórias dos espancamentos e das queixas na administração enchiam muitos serões da minha infância. Como todo o povo da Golegã, nunca simpatizei com tal espécie de gente.
- Eh Manel Caixinha!...
Chamavam-me. Senti um baque dentro de mim, não porque tivesse medo de alguma desfeita, porque isso sabia não suceder. Lembrei-me da Galharda, da minha mãe no Espargal, do meu pai no Milhafre e da minha irmã no Joaquim Honorato.
Vem Cá!
Um deles fez de lá um gesto feio - feio diziam as mulheres, eu por mim...
- Não posso...
Estive para voltar atrás; porém, entendi que também não era bonita acção voltar costas a rapazes mais espigados do que eu. A companhia deles de há muito que tinha o meu agrado, e se nunca viera até ali era mais por respeito pelas recomendações do meu pai que por outra coisa. Pensei que podia ir, entreter-me um bocado e depois voltar para junto da Galharda. O Tóino Malvado não estaria tão cedo de volta do Pombalinho. Confiava em mim e, como gostava da pinga, metia-se na taberna, donde não sairia tão cedo.
com aqueles argumentos decidi-me de vez. Sentei-me perto dos outros e sorri para o que furtara os figos. Ele correspondeu, rindo-se com gargalhadas que eu gostaria de dar.
- Vinhas com uma febre... Era como se aquilo fosse teu.
- Estavas a dormir que era um regalo. com figos tão bons ali perto, estive mesmo para te acordar.
Depois um outro disse-me para tirar a farpela, porque em pêlo sempre se aguenta melhor o sol. Contei-lhe que tinha de voltar e não podia demorar-me muito. Da água saíram mais dois e um deles reconheceu-me.
- Tu não és da Baralha?!...
- Sou, pois.
- Já te vi uma vez.
- Sou neto do Sebastião Caixinha, daquele que o toiro matou.
- Ha!...
Senti que crescera no conceito dos outros. Estive disposto a contar os versos que o Barra fizera, mas eles estavam interessados a falar de cachopas e isso também
me agradava. Chamavam tudo pelos seus nomes, contavam aventuras e amiganços deste e daquele.
- Gajo danado por mulheres é o Joaquim Honorato. Se todos fossem como ele, a Golegã já era maior que Lisboa.
Os outros riram. Aquele nome deu-me um baque no peito e lembrei-me da Ana.
- Também ainda não teve quem o ensejasse...
- O dinheiro paga tudo, pá... Meio Campo pertence-lhe... Quem se atrevesse a pegar-lhe, arranjava umas calças...
Fiquei triste como a noite. Tinha de abalar, mas sentia que, se ficasse só, as horas passariam piores. A minha mãe dizia tão bem do seu Joaquim e agora aqueles companheiros falavam dele de um modo tão diferente... Compreendi então porque o meu pai preferia vê-la a trabalhar noutro sítio. Ele também devia saber a fama do outro e tinha medo de alguma partida. Contudo, os afazeres escasseavam cada vez mais e o seu Honorato nunca se esquecia da minha irmã.
Um A um um os rapazes foram mergulhando, fazendo corridas, chapinhando-se com água. Acabei por ficar só, debaixo dos salgueiros, tomado por aquela tristeza. Os outros desafiavam-me, dizendo-me que a água estava muito boa e que se não soubesse nadar, eles me ensinariam. Acabei por me convencer. Despi-me também e fui tacteando com os pés.
- Podes vir. Eu ajudo-te.
O rapaz que roubara os figos agarrou-me na mão e levou-me com ele. Pôs-se à minha frente e ensinou-me a mergulhar, abaixando-me nas pernas. A primeira vez fiquei muito atrapalhado, bebi uma golada de água e senti falta de respiração. Ele riu-se da minha cara e disse para fazer mais vezes até me habituar.
Ali, de facto, o calor não se sentia. Uma mulher que passou pôs-se a ralhar com a gente, dizendo que matulões daqueles já deviam estar nas eiras. Esquecia-se que rapazes eram mais do que as mães e as eiras bem poucas. O único trabalho mais a jeito era roubar alguma coisa pelas fazendas e pelas hortas, fazendo frente aos guardas. Isso não temiam muitos deles, embora eu ainda não tivesse experimentado. Meu pai recomendava constantemente que não me queria metido em coisas dessas, porque, se me prendessem, nunca mais me veria em casa. Poucos homens havia como o meu pai - o compadre Maltês disse-lhe um dia, à minha frente, que homens como ele já se não usavam.
com os mergulhos, as brincadeiras e as conversas dos outros, acabei por me esquecer de que saíra de casa com tarefa marcada. Os meus novos companheiros começaram a ensinar-me a nadar, fazendo-me bater com as mãos na água e amparando-me pela barriga. Aquilo pareceu-me bem fácil. Quando os outros mais uma vez se puseram a atravessar a alverca, tentei imitá-los também e o certo é que me consegui manter à tona de água. Dava aos braços com muita força, mas avançava pouco. A meio do caminho estava incapaz de me mexer, embora soubesse que se parasse iria para o fundo. Gritar pelos outros era vergonha e não desisti de esbracejar. com o esforço acabei por abrir a boca, beber uma golada de água e atrapalhar-me. Sem saber como, mergulhei uma vez. Quando vim acima, bati as mãos, gritei pelos companheiros e desapareci de novo, esgazeando os olhos, como se assim pudesse salvar-me.
Julguei que já não voltaria mais a ver a luz do Sol, embora continuasse a empinar-me e a mover os braços e as pernas. Foi o rapaz dos figos que me agarrou, quando de novo apareci à tona de água. Segurei-me a ele com quanta gana ainda tinha e ele falava-me, sacudia-me e chamava pelos outros. Eu é que nada entendia, a não ser que já tinha alguma coisa a que me agarrar e que via de novo as árvores da alverca e o Sol.
Só dei por mim fora de água, deitado debaixo dos salgueiros, tendo à minha volta toda a rapaziada. Vomitava de vez em quando e sentia vontade de chorar muito. Mas como os outros me despertassem melhor com pancadas nas costas e bofetadas, acabei por sorrir.
- Se não lhe dou um soco nas partes, íamos os dois.
Agradeci-lhe com o olhar e levantei a cabeça, sacudindo-a bem, pois parecia-me que dentro dela se metera uma zunida sem fim. Depois recompus-me, a pouco e pouco, e vesti a camisa, porque sentia um grande frio a tolher-me todo, embora o dia não estivesse acabado e os outros dissessem que tinham calor.
O mal-estar não me passou completamente; fiquei sentado a ver os outros subirem às árvores, apedrejar pássaros e nadar. Um deles assobiava que era um regalo. De tudo o que os via fazer, isso é que me dava maior pena, pois por mais que soprasse, nunca tinha conseguido deitar um som pelos beiços. Como estava só, tentei muitas vezes, até que soltei um silvo, ainda frouxo, que me encheu de contentamento. Experimentei de novo; outro assobio mais forte deu-me a certeza de que podia continuar.
Naquele dia passavam por mim tantas coisas novas e tanto aprendi, que não me lembrava da Galharda nem da casa. Histórias de mulheres, banho na alverca e assobio. Estava a viver uma vida nova naquelas horas. Sentia-me mais homem e teria muito para ensinar aos cachopitos da Baralha, que, por certo, me fariam seu chefe de brincadeiras. O Malhado não sabia mais do que eu e havia de destroná-lo. Numa bulha que tivéramos, nenhum levara a melhor, mas todos continuaram a respeitá-lo mais, embora, quando ele não estivesse, fosse eu quem mandasse. Desde aquele momento tudo iria mudar, desse lá por onde desse.
Quando ele falasse em brincarmos com carros de mão ou em fazermos covas de terra, eu poderia propor um banho na alverca. E ali, naquele mesmo sítio, contaria quanto aprendera. No meio de nós nunca se falara de mulheres, mas eu já saberia iniciá-los nesses segredos. A alverca era o maior deslumbramento dos rapazes do meu tempo e entrar-se nela era a passagem para uma nova fase da vida. O Malhado tinha de se haver comigo depois daquele dia.
Esquecia-me, então, de que as novidades correm depressa e há gente cuja língua é um badalo tão bom como o sino da igreja de S. João. Quando estava a ouvir um dos meus novos companheiros - o Chico Torto, que morreu mais tarde de sezões agarradas no Paul - contar o caso da Anita do Pontão com um guarda das Praias, vi todos abalarem de roupas debaixo do braço pela estrada fora. Mal dei conta disso e me voltei, tinha o meu pai ao pé de mim. Nem fui capaz de fugir. Fiquei de pedra, corado até à ponta dos cabelos, querendo desculpar-me, mas sem ser capaz de arranjar uma só palavra para me justificar. Ele acenava-me a cabeça e vinha sem casaco, esbaforido. Depois agarrou-me num braço e levantou-me num repelão tão forte que pareceu ter-me arrancado o ombro. Escondi a cara com as mãos para me salvar da tareia, esquecendo que o resto do corpo ficava à sua disposição. Mas não me bateu. Ralhou-me durante muito tempo. Disse-me coisas duras, tão duras que eu fiquei com pena dele não tirar o cinto para me dar uma tosa real. Tomou-me conta da roupa e mandou-me embora sem calças. Hesitei, porque não me sentia capaz de atravessar a Baralha naquele preparo. Falei-lhe da Galharda para ver se o demovia.
- Eu vou lá, já que não soubeste tomar conta dela. Vai!...
Pus-me a caminhar em passos curtos, a calcular por onde devia meter, fugindo aos apupos e aos risos de toda a gente. Atirou-me uma pedra, gritando-me que fosse direito a casa, pois se o não fizesse, teria de falar com ele. Desatei a correr e a chorar, puxando a ponta da camisa que mal me tapava o bojo da barriga.
Logo na horta da D. Isaura se meteram comigo, chamando-me matulão sem vergonha. Corri mais; quando me achei na estrada do Pontão, fiquei sem saber o caminho a tomar. Meter-me pelos campos e esperar a noite, era desrespeitar o meu pai e sofrer as consequências. Abalar para casa, era ouvir a troça de todos. Tive de me decidir, pois de um lado e de outro vinham carroças e gente a pé, que não deixaria de se rir com o meu preparo.
Chorei mais. As lágrimas tapavam-me os olhos e já não via nada. Lembrei-me de tirar a camisa e atá-la à cinta, mas logo reparei que isso ainda mais chamava as atenções sobre mim. Deitei a correr. Passava junto de pessoas, de muros e de casas. Não fui capaz, em todo o caminho, de olhar de frente quem quer que fosse. Só ouvia os apupos e as gargalhadas a perseguirem-me, enquanto puxava a ponta da camisa para tapar as vergonhas.
- É o Manel Caixinha!... Ena!...
- Ena!...
- O pai deu-lhe uma surra!...
Corria quanto era capaz e parecia-me que ficava sempre no mesmo sítio.
- Mostra cá isso, Manel!...
As mulheres distinguiam-se na sogada como ninguém.
Vinha mais gente às portas e todos riam, atiravam graçolas e falavam de mim. Os rapazes da minha rua, quando me viram naquele preparo, também se riram. O Malhado gritou mais que nenhum, mas não as perdeu. Porque no outro dia peguei-me com ele por causa de uma cana e dei-lhe uma surra valente. Era maior do que eu, mas pagou-mas todas.
Foi isso uma das coisas que ganhei naquele dia. Perdi o medo aos mais crescidos e nunca deixei de fazer frente a qualquer outro. Ganhei fama entre os garotos da Baralha e também passei a ser disputado pelas cachopitas, pois introduzi na rua uma nova brincadeira.
- Vamos brincar aos maridos, Manel!...
- Vamos!...
E eu era sempre o marido de qualquer, ficando os outros rapazes para meus filhos.
O meu pai perdera as últimas esperanças na fanga.
Para os trabalhos grandes, os patrões mandaram vir barrões e barroas, e isso fazia-se sentir nas casas da Golegã. Um grupo de homens assaltara o quartel de um rancho, e houvera pancadaria em cheio. Tinham sido presos uns poucos, e à volta da cadeia estava sempre um círculo de mulheres a pedir e a chorar. Meu pai não fora com os outros, mas andava abatido. Então quando as barbas lhe cresciam, ficava velho, vincavam-se-lhe as rugas e parecia mais magro. Exasperava-se por tudo. Na sua ausência minha mãe dizia mal dele e lamentava a hora em que o tomara por marido. Nesses momentos eu gostava menos da minha mãe. Comparando-a a outras mulheres, e à minha avó Caixinha, ela não merecia esse nome. Não tinha um carinho para a gente, tratava-nos aos repelões e era tudo gritado quando o meu pai não estava. Até o seu olhar era atravessado, se tinha de nos fixar. Rogava pragas por tudo, benzia-se muito e ninguém gostava dela na minha rua. Às vezes queria dizer-lhe alguma coisa para que se modificasse. Custava-me vê-la assim, mas não sabia como lhe deveria explicar e
Sabia que não me ouviria, se fosse capaz nem estava certo de o fazer.
Considerava todos como gente sem vergonha. Raro era o dia em que não tinha uma zanga com esta ou com aquela, pelas coisas mais insignificantes deste mundo. Depois de se desfazer em gritos e arremessos, tomava um ar de vítima e punha-se à porta, a suspirar, como se não fosse a culpada do incidente.
- Que mal fiz eu a esta gente?... Ofereço uma vela a S. João...
Por tudo e por nada minha mãe oferecia velas a S. João. Para abrandar a ira, chamava-me e obrigava-me a pôr a cabeça no seu colo para me catar. Os seus dedos faziam-me nervos, as suas lamentações irritavam-me. Mas tinha de me submeter, porque começava por suportar as suas lambadas e ainda ficava sujeito às queixas feitas ao meu pai. Ele também não devia ter por ela grande afecto. Ouvi-lhe dizer um dia que se não fosse eu e a minha irmã Ana, já tinha abalado de casa. Ela, que nunca ficava calada, respondeu-lhe que fosse, porque ainda tinha braços para sustentar uma casa. A minha avó Caixinha confidenciou um dia à comadre Teodora, sem calcular que eu a ouvira, que a minha mãe era como o tinhoso que estava no fundo do poço e ainda continuava na sua.
Quando o meu pai lhe dizia que era preciso trabalhar, ela amuava e respondia-lhe que já bastava o amanho da casa. Lamentava-se, chorava pelos cantos, e nos dias em que tinha de sair ninguém lhe podia dar fala. Era preciso o meu pai arranjar-lhe patrão, porque ela não mexia uma palha para o conseguir.
- Casei eu para isto... Se não fossem vocês!
E eu e a minha irmã compreendíamos que só viéramos ao mundo para atravancar a vida dos dois. Um dia disse a minha irmã que quando fosse grande, nunca havia de casar. Ela riu-se muito e contou às companheiras. Se me encontravam, ora uma, ora outra, perguntavam-me logo se eu as queria para mulheres. Riam-se daquela minha afirmação, sem saberem que era um desabafo justo por tudo quanto se passava em casa. Até na minha rua, eu que me lembrara da brincadeira dos maridos, já não gostava que me convidassem para isso, embora sentisse cada vez mais atracção pelas cachopitas.
Desabafei um dia com a avó Caixinha. Ela gostou de me ouvir, mas repreendeu-me. Eu compreendia-a e beijei-lhe muito as mãos. E ela disse: «Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.»
Era assim mesmo. Lembro-me de uma noite - que noite foi essa!... - em que o meu pai... É melhor começar pelo princípio.
- Raios partam a vida.
Meu pai deitou aquela maldição, puxou o barrete para a testa e sentou-se. Minha mãe pôs-lhe à frente uma salada de tomate e um bocado de pão. com o bico do canivete, ele foi comendo e falando.
- Na praça de hoje os abegões estavam feitos e ofereceram uma miséria. De todos os homens só eu e mais dois aceitámos amo. Os outros não quiseram.
- É uma corja de langões...
Meu pai deu um murro na mesa e o candeeiro apagou-se. A Ana puxou-me para junto dela e agarrou-se a mim.
- Qual corja! Eles é que tinham razão. Mas eu lembrei-me disto tudo...
A minha mãe, a resmungar, acendia o candeeiro.
- Fala alto, mulher.
- Falo, sim, que não tenho medo. E o que é que a gente comia?!
- E o que é que a gente come?!...
O meu pai apontou o prato, pegou nele e atirou a salada para o quintal. A Ana e eu tremíamos, muito chegados um ao outro.
- Andei engasgalhado no trabalho. Engasgalhado, pois!
Tirou o lenço do colete e limpou a cara, passeando na cozinha dum lado para o outro.
- Querias que eu te desse jantar de fidalgo com o que trazes para casa?!...
- Eh mulher!...
Vi o meu pai crescer, abrir as mãos e levantá-las em direcção à minha mãe. Depois dar uma reviravolta e sair pela porta fora.
- Se ainda me querias bater... Ai que vida!...
Minha irmã pediu-lhe para que ela se calasse e a resposta foi atirar-lhe com uma trempe. Ralhou que nunca mais acabava. Fomo-nos deitar na nossa cama e ouvimo-la continuar na bramação.
- Sozinha nesta casa. Nem um filho por mim, nem o marido, nem uma vizinha...
Sentimo-la sair e voltar de novo. A minha irmã disse-me que ela fora buscar vinho. Apertou-se-me o coração, pois eu não gostava de gente que bebesse, exceptuando o Barra, talvez porque fizera os versos ao meu avô Sebastião. Desde que uma noite vira um bêbedo bater num cão, e um outro apedrejar um rapaz do meu tamanho, nunca mais pude dar-me bem com eles, enquanto fui criança. Depois... O vinho no campo faz parte da nossa vida.
Minha mãe meteu-se no quarto que tinha uma janela para a rua, porque aquele, onde eu dormia com a minha irmã Ana, servia também de abegoaria, e ouvimo-la continuar nos seus desabafos. Adormeci, por fim, para mais tarde acordar com um grande alarido feito por minha mãe. Meu pai entrara a cair de embriagado, à porta tropeçara num banco e estatelara-se no meio do chão. Furioso, rompera em desmandos de toda a espécie, dando pontapés nas malas e numa mesa que baldeou com um candeeiro oferecido pelo seu padrinho de casamento.
Em vez de aquietá-lo, minha mãe bramou com ele e descompuseram-se de palavrões, até que meu pai a espancou. No quarto sentia-se o eco dos murros e dos pontapés, parecia que as paredes abalavam. Uni-me mais a minha irmã e tive medo de que o bater do meu coração se ouvisse lá fora no quarto deles. Queria-o comprimir, mas cada vez batia mais.
Os gritos e os soluços de minha mãe deviam ter acordado a rua, com certeza. Porque na casa ao lado ouvi falar, embora não compreendesse o que diziam. Depois o meu pai veio pelo corredor fora, abriu a porta do meu quarto e puxou a manta. Minha irmã começou a chorar também, porque confessou depois que julgara que ele nos vinha bater. Disso estava eu sossegado, pois achava-o incapaz de tal coisa. Senti-lhe o bafo do” vinho e a aspereza da barba. Beijou-me e a cara ficou-me toda molhada. Meu pai chorava. Beijou também a minha irmã e saiu direito ao quintal, indo deitar-se na palha do curral da ovelha.
As lágrimas que ele deixara no meu rosto secaram por si, porque não fui capaz de limpá-las. Sabiam-me bem. Aquela noite nunca mais me esqueceu, embora daí por diante fossem frequentes as gritarias e os espancamentos.
- Perderam o respeito um ao outro - dizia a minha avó Caixinha.
E eu sabia-me culpado, porque me sentia a mais na vida de ambos. Se não fosse eu e a Ana, eles tinham-se separado e eram ainda capazes de encontrar boa companhia. Assim duas pedras duras, nunca mais se entendiam.
Uma noite falei nisso com a minha irmã.
- Anita!...
- Ha?!...
- Casar é mau, não é?!...
Ela riu-se durante muito tempo, abafando as gargalhadas na dobra da manta de cordão.
- Queres casar?!...
E apertou-me muito o braço, fungando ainda.
- Eu?!... É por causa do pai e da mãe. Estancou-se-lhe o riso e a sua voz denunciou-me toda a emoção que sentira com a pergunta.
- Eu sei lá!...
- Sempre zangas...
Calámo-nos. Eu pensava e percebia que ela estava fazendo o mesmo. Fui eu quem primeiro voltou a falar.
- Ainda não sei bem se a culpa é do pai...
- É dos dois e se calhar não é de nenhum...
- A avó Caixinha disse-me no outro dia que na casa em que não há pão...
- Todos ralham...
- Também já sabias?!...
- Já!
- É capaz de ser disso. Mas é triste...
- E é quase tudo assim. Olha o primo Jacinto... a Maria Redola... o João do Manco...
- O Tóino das Praias também...
- É quase tudo.
- É por isso que eu perguntava... Inquietava-me uma dúvida que não pude deixar de lhe pôr.
- Tu queres casar, Anita?!... Voltou a rir-se, embora menos desabrida. -’Se aparecer algum diabo...
Depois, como a desculpar-se da sua indecisão, prosseguiu em voz mais baixa.
- A gente sozinha não pode viver. Ele com homem é uma matação...
- Ah!...
- Divide-se a desgraça ao meio e custa menos...
E, num repente, aquecendo a voz como para afastar aquele pensamento.
- Mas eu estou nova ainda, não penso nisso. Ainda não há rapaz que me apoquente...
Não me convencia com aquela, lá isso não! Por onde andava, não passaria sem palavrinhas de algum companheiro de trabalho. Depois lembrei-me do Joaquim Honorato e da conversa dos meus camaradas da alverca.
- O seu Jaquim...
- Já te disseram mal?!...
- Já! Que se todos fossem como ele, a Golegã era maior do que Lisboa.
- Ena!
Tinha muito que lhe falar ainda, mas envergonhei-me da conversa e voltei-me para o outro lado. Pus-me a fingir que ressonava, para pensar melhor naquilo. Ela disse qualquer coisa por duas vezes e nem resposta lhe dei.
Quando adormeci, já o galo tinha cantado no quintal.
ACABADAS as eiras, acabaram-se os pássaros. Não era só a brincadeira que me faltava, mas também o comer. Assados nas brasas eram de lamber os beiços, mesmo sem manteiga, como gostava deles um primo do Casimiro que era de Lisboa. Provei-a uma vez em casa dele, quando me deixaram sozinho, e não me contive sem meter o dedo na tigela. Não gostei muito; não sei se foi por tê-la comido muito à pressa, se por não estar habituado. Talvez nos pássaros... Mas os pássaros assados, sem mais nada, eram bem bons. Se os tivesse naquele momento, bom jeito me fariam.
Naquele almoço só bebi uma púcara de café com um pó de açúcar e comi um bocado de pão. Fiquei com vontade. Estive para ir à minha avó Caixinha, mas o meu tio Manel também não devia ganhar mais do que se ganhava em minha casa, e, naturalmente, o comer era o mesmo, tanto mais que a minha avó não se lhe queria tornar pesada.
Tremiam-me os braços e as pernas, turvava-se-me a vista. Sentei-me à porta de casa, encostado à ombreira, raspando os pés nus um no outro.
Nos campos não havia sinal de fruta, tanto mais que as vindimas já tinham passado e não podia ir às Praias furtar alguns cachos com outros rapazes. O meu pai tinha acabado de recolher o milho da fanga, mas esse ia para o celeiro do dono da terra e não tinha processo de apanhar uma maçaroca que fosse.
Quando pensava nisso, chegou-se a mim a Margarida do Bezerra, para perguntar se eu queria ir para a brincadeira. Lembro-me de que a olhei com um ar muito estranho, como se ela falasse uma linguagem desconhecida. A Margarida do Bezerra fazia sempre de minha companheira quando brincávamos aos maridos. Mas nesse momento não era isso que me apetecia. Trazerem-me jantarinhos feitos de ervas e dentro de folhas, como se fossem pratos, era o aguçar dos meus desejos mais íntimos.
Respondi-lhe num modo sacudido. Ela baixou os olhos e pôs-se muito triste. Depois voltou a insistir.
- Anda, Manel!
- Vai-te embora!...
- Nunca mais brinco, deixa...
Foi abatida, pela rua fora, sem perceber os motivos da minha recusa. Aquilo fazia-me confirmar a opinião que tinha de todos os casais. Não havia possibilidade de harmonia; era sempre assim - até a brincar.
De dentro da minha casa já não vinham ruídos. Minha mãe deitara-se, com certeza, uma vez que o meu pai e a Anita tinham ido para a ceifa do arroz no Paul, e ela não se dava com o trabalho. Ficar ali sozinho não me apetecia. Ir à azeitona era mais por entretém, pois os maiores galgavam tudo e apanhavam a melhor parte. E eu o que queria era comer. Nem uvas, nem milho... Só o resto de algum tomatal.
Alegrei-me com a ideia. Estava farto de comer tomates, mas naquele momento era um pitéu novo a prometer-me aconchego ao estômago. Tirei o boné da cabeça, amarrotei-o nas mãos e joguei-o ao ar. Depois fui pela rua, aos pulos, como se caminhasse ao encontro da salvação, espinoteando que nem um garrano.
Não me foi difícil arranjar camarada, pois o mal tocava a muitas portas e cada um tratava de se governar. O Zé do Milho-Rei lembrou-se de que para as bandas do cemitério ainda havia um resto de tomatais de armação, e para lá deitámos os dois, mãos nas algibeiras e a assobiar, para entreter caminho. Não deixámos mais ninguém arranchar, porque onde muitos mexem a sopa sai estragada.
A colheita não foi grande coisa, mas deu ainda uma camisada a cada um; fomos depois comê-la para o Espargal, não viesse o dono pela estrada e nos arranjasse alguma corrida com pedradas nos calcanhares. Se nos conhecesse, ainda era pior, porque em casa tínhamos também de dar contas. Os tomates estavam maduros de mais e ficavam adocicados com um travo que nos arrepiava. Mas mesmo assim ainda tratámos de um bom punhado, deitando depois o resto fora.
Então, sentimo-nos capazes de brincar. Fomos à procura dos outros companheiros e um deles propôs que deitássemos até Marvila para desafiar um grupo de ’rapazes dali. Baralha e Marvila nunca se coseram bem; nesse momento em que o mundo andava em guerra, as disputas de pedradas entre os dois bairros eram constantes. Os homens, por sua vez, defrontavam-se nas praças e no trabalho, hostilizando-se por tudo e por nada. Quem ganhava com isso eram os patrões, sortindo os trabalhadores de um e outro lado. Depois puxavam uns pelos outros, danados para se vencerem.
Naquele dia eu fui pela primeira vez fazer frente aos de Marvila. Ia contente, pois sentia-me mais homem por esse facto.
Cá de longe começámos todos na cantilena do costume
Marvila, trás da rua não se pode lá morar...
E íamos enchendo as algibeiras e a camisa com pedras, arremessando uma de vez em quando para treinar a pontaria.
... De dia tudo são velhos, de noite cães a ladrar.
Fazia-se logo de seguida uma grande surriada, para de novo se voltar aos versos. Como éramos poucos, não nos adiantámos muito, pois em caso de necessidade era preciso chegar depressa ao centro da vila. Ladraram-nos cães e ralharam-nos homens, quando viram a gente naquele desatino. Nada nos detinha. E como não chegassem adversários para defrontar, despejámos as algibeiras e as camisas, atirando pedras às árvores, aos muros e aos telhados.
A minha pontaria fez sucesso. Depois do Mata-Piolhos, nenhum outro acertava melhor nos troncos das oliveiras ou no alto das chaminés. Fiquei para sempre no grupo, embora fosse o mais Manelro de todos os rapazes.
Dali abalámos até ao barracão do Duque e depois para a alverca. Esqueci-me da casa. Minha mãe não andaria à minha procura por eu faltar, e achei-me à vontade, sem outras preocupações que não fossem as de gozar a liberdade daquele momento. Outros mais grados do que eu tiveram de abalar e nisso reconheci uma superioridade minha.
Anoiteceu. A noite agora não me metia medo, porque nem sequer me lembrava das histórias de bruxas e de lobisomens que tanta vez me tinham arrepiado aos serões. Andava melhor, mais desembaraçado. Parecia-me que o mundo era meu - e o mundo dos rapazes do meu tempo era a Golegã, tendo como centro a alverca.
Fui acompanhar o Zé do Milho-Rei, que levou uma tareia da irmã. O Cara de Malvado, que entre o grupo gozava de respeito, apanhou uma carga de correadas do pai, que o pôs enrolado ao canto dum muro. Abalaram mais outros, todos olhando o céu, para encontrar nas estrelas as horas de recolher.
Quando o sino da igreja bateu onze badaladas, fiquei sozinho. Não me apetecia por coisa nenhuma procurar o rumo de casa. com a Anita e o meu pai ausentes era como se a não tivesse. Lembrei-me do cigano, meu amigo, que me dera a flauta de cana e me reconciliara com aquela gente morena, de voz cantada e olhos negros. Esse andava longe, por certo, sempre de terra em terra, vendo gente nova, ruas novas, vadiando por onde queria, como eu naquele momento. Todos os companheiros estavam recolhidos, alguns deles bem convidados, e não me apetecia voltar ainda para a Baralha. Nas janelas poucas luzes havia, as portas estavam cerradas, e entre a mancha amarela e triste dos candeeiros de petróleo ficavam as trevas.
Sentei-me na praça, nas escadas da igreja, encostando-me ao portão de ferro. Assobiei para me entreter, vi passar vultos, ouvi ladrar cães para os lados do Campo. Depois de decorar tudo aquilo, voltei-me para o portal e lembrei-me de Deus.
Deus estava lá dentro, sossegado, sem saber que em casa só me tinham dado um púcaro de café com pão. Se ele viesse ali ter comigo, havia de lhe dizer muita coisa que tinha para contar. Vira-o só uma vez na cruz e tivera pena dele. E ele talvez tivesse pena de mim se soubesse da minha vida. Estava certo de que nos havíamos de compreender, embora entre os dois houvesse grande diferença de idade.
Depois lembrei-me de que a minha avó Caixinha dizia que ele castigava os maus e tive um certo receio. Não era porque me julgasse culpado, mas vieram-me à ideia os guardas das fazendas. Eram também uns desgraçados como os outros homens de servir, e, afinal, passavam os dias e as noites a preservar o amanho alheio. Também na Golegã ninguém gostava deles. Guarda era a última coisa que um homem podia ser.
O certo é que com aquele conjunto de pensamentos pus-me inquieto e levantei-me, olhando bem à minha volta. Pareceu-me ouvir passos para lá do portal, arrepiei-me todo e desatei a correr pela praça fora, como se atrás de mim viesse alguma maldição. Não encontrava gente e cada vez corria mais, embora as pernas se me vergassem, não sei se de cansaço, se de medo. Só parei quando vi uma porta aberta e ouvi um falatório de homens.
Fui-me chegando, meio desconfiado, deitando ainda um olhar para trás, e aquietei-me quando vi a rua deserta com as luzes dos candeeiros, aqui e acolá, a guiarem-me os olhos no meio da escuridão. Meti a cabeça para espreitar e, por entre o fumo dos cigarros, mal divisei as caras dos homens, uns de pé encostados ao balcão, outros sentados nos bancos compridos e de cotovelos na mesa. Todos tinham copos à frente, vazios uns, cheios outros; falavam em voz alta com gestos desmedidos.
- S’a gente não pegar no trabalho, outros se chegarão.
- Vêm os barrões...
- Ora os barrões!... Mas também há tarefas que não vale a pena mandá-los vir e s’a gente quisesse...
- E a bucha?!...
- Ora!... Eu cá por mim acho que o sacrifício era bem dado.
Meteram-se muitos na conversa e só percebi palavras soltas, todos cada vez mais acesos na discussão. O dono da taberna abriu a boca e espreguiçou-se, fazendo muito barulho, para espreitar depois o relógio que tirara da algibeira do colete.
- São horas, gente!...
Ninguém lhe deu ouvidos. Dois homens mandaram encher os copos, mas ele voltou à sua.
-’Amanhã tenho de estar a pé às sete, rapazes!...
Achei então que também eram horas de me ir chegando, mas reconheci o Barra no meio dos outros e deixei-me ficar para o ver sair. O Barra era dos poucos trabalhadores da Golegã que sabia ler e tinha fama de discutir com doutores coisas complicadas.
O defeito da pinga é que dava cabo dele. Mas sócomeçara a relaxar-se quando se sentiu incapaz de modificar a vida dos homens. Antes disso, o Barra estava sempre na primeira fila dos poucos que sabiam querer; atrás de si foi engrossando esse número, unidos em jornadas ainda hoje presentes na recordação e na saudade de todos os homens do campo da Golegã.
Josefino Barra falava como ninguém. Usava as nossas palavras e nunca se deixou embalar pelas promessas que lhe faziam pessoalmente.
- Eu não sou nada, dizia ele. Os outros e mais eu é que somos alguma coisa.
Contava-se isto em todas as casas, como se se falasse de um deus nascido no meio de nós. Por isso mesmo, Deus tinha um lugar na igreja da praça e Josefino Barra um lugar no coração da gente. Era a esperança dos trabalhadores e dos que faziam fanga.
Quando fora para militar, tomara-se de amor por uma mulher da vida e quisera-a por companheira, depois de voltar. Beatriz era o seu nome. Escrevia-lhe cartas sem fim, mandava-lhe versos.
Quero deixar-te e não posso, podes amar-me e não queres. Há muito amor como o nosso, como tu poucas mulheres.
Ele instava sempre que viesse para junto de si, pois havia de redimi-la da afronta de ser mulher de todos. Um dia ela escreveu-lhe dizendo que não pensasse nisso, porque ele era um homem honrado e ela uma mulher de qualquer. E a sua resposta ainda hoje é escutada por quantos se lembram dele.
Vem, Beatriz. Nós somos da mesma condição. Os homens que te desejam, procuram-te e pagam. Os patrões que me querem, alugam-me também. Tu por momentos, eu por alguns dias. Somos a mesma coisa.
Por isso na Golegã, quando se fala de mulheres da vida, ninguém as toma por gente má. Josefino Barra falou verdade, como sempre.
Naquela noite em que o vi na taberna, não era isso que me seduzia, pois só mais tarde compreendi o sentido das suas palavras. Mas era o encanto do seu prestígio que chegava aos rapazes do meu tamanho.
Ele foi o último a sair. Despediram-se os camaradas, o taberneiro fechou a porta, ele ficou no meio da rua, de casaco ao ombro e chapéu descaído para a nuca.
Escondi-me na sombra, deslumbrado de ser seu companheiro àquelas horas da noite. A sua pederneira faiscou na escuridão, tirou duas fumaças do cigarro e pôs-se a caminhar.
De porta em porta, amaciando os pés nus para que não me ouvisse, segui-o pela rua adiante. De vez em quando ele parava e punha-se a falar sozinho. O seu corpo oscilava, como a querer tombar. Depois retomava a marcha, levantando o ombro quando o casaco começava a cair.
Defronte de uma casa grande o Barra parou e começou às gargalhadas. Percebi que falava, mas não fui capaz de o entender. Então cheguei-me mais e pude ouvi-lo bem.
Sou bêbedo?!... Melhor... Se sou um desgraçado A culpa não é minha, É da humanidade.
As palavras saíam-lhe aos repelões, para depois cair em silêncio. Deu um bordo e logo se endireitou. Aquele bêbedo não me metia medo.
Lançaram-me ao baldão, Correu-me a sociedade... Eu supliquei. Pedi. Eu tinha fome e frio. Mandaram-me correr, como a um cão vadio.
Abriu-se uma janela e uma cabeça assomou. A noite ia arrefecendo e a minha camisa não chegava para me tapar.
- Tu tens um cobertor e uma cama quente?!...
Depois de lançar aquela interrogação, ficou calado como a preparar a resposta. Depois atirou-a numa voz mais forte que ressoou na rua.
- Pois eu tenho um portal e um copo de aguardente!
Deu uns passos adiante, quase até ao limite do passeio, e de cabeça erguida, continuou:
- Tens lençóis de cetim, colchas de renda aberta?!...
E como se o outro o não ouvisse, repetiu de novo a pergunta, para de seguida responder.
- Eu durmo pelo chão
E o céu é a minha coberta.
Coberta toda azul
Que Deus teceu de um fio,
Mas tão rota de estrelas
Que deixa entrar o frio.
O Barra continuou; porém, não pude entender mais nada, porque um carro apareceu ao fundo da rua e o barulho das rodas no empedrado tapou-lhe as palavras. Se fosse homem, tinha galgado à frente dos bois, obrigando o carreiro a fazer alto.
O sino bateu uma badalada e aterrorizei-me. Pensei que tinha de ir só, por aquelas ruas fora, até à Baralha, sem mais companhia que as sombras da noite e o ladrar dos cães. O Barra sentara-se num portal e encostara a cabeça como para dormir. Deu-me vontade de o chamar e dizer-lhe que abalasse para casa. A janela fechou-se e o carro desapareceu ao passo molengão dos bois.
Ficámos sozinhos.
De um lado e outro, raros sinais de candeeiros nas trevas da noite. O céu apagado. Não havia estrelas, mas o frio passava na mesma. Resolvi-me, então, a tomar rumo. Olhei para o portal onde o Barra se sentara, como a dar-lhe as boas-noites, e, de mãos nas algibeiras, pus-me a caminhar. Lembro-me de que mais adiante cambaleei também e quis dizer os versos. Só fui capaz de dizer aquela parte do «eu tinha fome e frio». O resto passou-me. Acabei por aligeirar a volta e não insistir, porque um gato passou a correr por cima de um muro e pregou-me um susto de seiscentos diabos.
Assobiei para logo me calar, não fosse despertar a atenção de alguém que me quisesse fazer mal. Galgava-me o bater do coração no peito, via sombras a moverem-se de todos os lados na minha direcção. Vieram-me à ideia todas as histórias de bruxas e lobisomens ouvidas aos serões: o João Rijo, que era um santo homem e se fazia um burro branco, com uma estrela na testa, e que penava assim todas as noites, à espera de alguém que lhe quebrasse o fadário; a Palmira do Virado, que deitava mau-olhado a todas as crianças, se as visse ao peito das mães; o Zé Malafaia, que já morrera e aparecia à noite, à sua porta, a chamar pela mãe, lembrando uma vela prometida a S. João. E tantos, tantos outros!
Todos iam ali comigo, espreitando-me por cima dos telhados e nas curvas das ruas. Quis correr, mas receei que isso fosse pior, pois estava certo de que assim me agarrariam mais facilmente. Ia cauteloso para não me pressentirem, fugindo à luz e aos recantos mais sombrios.
Galopava-me o coração no peito, como a querer lompê-lo e sair, inquieto do meu destino.
Quando cheguei à esquina da minha casa, não me contive sem dar uma corrida e agarrar-me à argola da porta, esquecendo-me, por momentos, de que a chave estava de fora e era só dar-lhe uma volta.
Depois, já dentro de casa, enfureci-me comigo, porque assim nunca mais seria capaz de me fazer um homem.
A partir DAQUELE dia meti-me em brios e resolvi ir trabalhar, talvez para mostrar a minha mãe que em casa não se ganha a vida. Isso é bom para os que trazem gente de sua conta, a fazer fanga ou a salário.
Pelos olivais ia um burburinho danado, embora já tivesse passado o 29 de Setembro. Até esse dia, a azeitona é de quem a apanha. Só se colhe a azeitona que cai da árvore e damos-lhe o nome de azeitona de carocinho. Vende-se alguma e põe-se a curtir, o que dá bom jeito para conduto das refeições. Depois começam os homens a guardar os olivais e o fruto caído é apanhado a meias, isto durante uma ou duas semanas. Passa logo para o terço e depois ainda para o quarto e até para o quinto. É a gente a moer-se um dia inteiro, e no fim, deixar uma abada, levando pouco mais do que um punhado. Só em Novembro é que se faz a apanha por varejo, mas isso é tarefa para mulheres. Elas põem-se em cima das árvores, empunhando uma vara, e vão sacudindo a azeitona para baixo, onde cai em cima dos panais postos à volta das oliveiras. Algum ramo fora de mão é sacudido por um homem que com um varejão faz esse trabalho. Outros patrões querem a azeitona derripada; então, as mulheres sobem para escadas, das quais agarram os ramos, correndo as mãos para o fruto cair. No fim é que sacodem com a vara os que não vieram abaixo.
No dia em que acima falo, a apanha fazia-se a terço. Era gente e mais gente pelos olivais fora, debaixo do olhar dos guardas que vigiavam a recolha. De rapazes e mulheres não havia conta. Andávamos todos de cabeça baixa, quase tocando o chão, como se se tratasse dum rebanho de animais a comer na resteva. De vez em quando um dito fazia-nos rir, uma mulher ou outra cantava, mas logo de seguida ninguém levantava os olhos para se entregar à mesma canseira.
Os que andavam habituados àquilo queixavam-se de que era trabalho pior para os rins do que a ceifa. Eu não podia fazer comparação, mas sabia que tinha o corpo todo num trambolho: doíam-me muito as costas e sentia pontadas fundas nos ombros e nos quadris. O que tinha comido pouco ou nada fora; e assim a moinha tomava conta de mim com maior facilidade, correndo-me suores frios pela cara e varando-me de tremores, como se fosse o tio João Molezas, depois de um ataque que tivera pelo S. Martinho.
Mas como os outros não paravam, eu não cedia também. Na minha cesta pouco mais havia do que o fundo tapado e já andava ali havia um grande pedaço, adiantando-me, ora a um, ora a outro, para ver se conseguia melhor colheita. Os meus dedos, porém, mal habituados ainda àquela busca, demoravam um ror de tempo para apanharem um bago e deitá-lo à cesta.
Por umas poucas de vezes estive para sair do olival, entregar ao guarda tudo quanto recolhera, pois não valia a pena fazer divisões, deitar-me por qualquer lado, a ver se adormecia, porque corpo descansado aguenta muita fome. Mas ia ficando sempre, na esperança de ganhar, de seguida, um grande punhado, e mais outro, até justificar a canseira que me abatia e eu desejava vencer.
Das mulheres caminhando à minha frente, curvadas, via pedaços de pernas. Via-as, mas não as sentia. Naquele momento eram qualquer coisa, como uma pedra ou uma erva. Olhava-as e não me recordavam que para além das curvas havia mais para ver. Fosse noutro momento, e ficaria pasmado a adivinhar, a sentir crescer-me no corpo uma vaga de calor, que me dava vontade de rir, depois talvez vontade de chorar, e um desejo enorme de me rebolar no chão, morder as ervas e ficar ao sol, de barriga para o ar, ouvindo histórias de mulheres - histórias sem fim, de cachopas que à noite se fossem deitar comigo e me dessem carinhos, como eu os dera às raparigas da minha rua quando brincávamos aos casados.
Naquele momento nada disso me falava aos sentidos.
A vertigem da posição toldava-me a vista e as pernas das mulheres, os bagos das azeitonas, as árvores deitando sombra e os guardas lançando ralhos passavam na minha cabeça, misturados e confundidos, num corrupio de formas.
Não se dava uma ajuda a quem quer que fosse. O que desejávamos era passar os outros, tirar-lhes a melhor colheita e empurrá-los do nosso caminho. Só falavam os mais animosos ou os que*tinham melhor apanha. Os outros farejavam por entre as ervas, feriam os dedos nos torrões e nas pedras, e seguiam sempre, levando na boca maldições.
Ó oliveira, da serra O vento leva a flor...
Uma voz deitava a cantiga e outras pegavam-lhe. Mas logo se calavam, e só se ouvia a restolhada dos pés e das mãos, o arfar dos peitos estafados e os gemidos frouxos de alguém tolhido dos rins.
Por causa de uma cesta que duas mulheres chamavam a si, armou-se grossa discussão, e só isso fez, por instantes, abrandar a tarefa. Formaram-se partidos, trocaram-se dichotes e ofensas. Alguns rapazes aproveitaram o conflito para tirarem à socapa punhados de azeitonas. Mas se os outros davam por isso, havia correrias e gritos, gargalhadas e assobios. Os guardas chegaram-se a querer impor respeito, ameaçando com o administrador e a proibição de se fazer mais apanha. Poucos lhes deram ouvidos.
Uma mulher pegou na cesta e logo a outra lha quis tirar das mãos. Descompostas ambas, chamavam-se os piores nomes e sacudiam-se para todos os lados, procurando vencer-se. Nenhuma, porém, abandonava a presa. Então, à sua volta, fez-se uma grande roda e os incitamentos não paravam.
- Anda, Margarida!
- Vá, Rita!.?.
- Não te deixes ficar, mulher.
- A cesta é tua, cachopa.
Quando se ia no melhor da luta, ouviu-se ao longe o chocalhar de uma manada. Todos se voltaram para o lado daquele aviso e até as duas mulheres se esqueceram da cesta. Depois uma voz gritou que eram toiros, outra deu confirmação e tudo acabou num instante.
- Eles aí vêm!...
A roda desfez-se, cada qual procurando o resguardo melhor. Deixaram-se cestas entornadas, produto de trabalho de algumas horas, passaram questões e despeites, desapareceram rebanho e guardas. Todos ficámos como gente. Na aflição de se defenderem, muitos caíam, enrolados uns nos outros, gritavam-se nomes, pegavam-se em mãos sem cuidar de quem eram.
Eu por mim não larguei a minha cesta e, com a ajuda de qualquer, fiquei no tronco de uma oliveira, a espreitar por entre a ramaria. Só ouvia o chocalhar, cada vez mais perto, mas não era capaz de descobrir o barrete de um campino ou a ponta de uma vara. Alguns rapazes mais espigados ficaram cá em baixo à espera da manada. Chamavam por eles, os que achavam desaforo ficar no meio do olival; porém, nada os convenceu a arranjarem abrigo. Antes se mostraram mais, pulando e rindo, deitando assobios e fazendo algazarra.
- Cala-te com isso, filho da mãe, gritavam-lhes as mulheres, receosas do seu desafio, não fossem os toiros encrencar para aquele lado.
- Venha cá pra baixo, deixe-se disso. E riam mais.
Quando pela estrada, numa nuvem de pó, passaram maiorais e gado, é que não tiveram fim as suas gargalhadas e as graçolas.
- Isto é que o olival ficou estrumado. Se fosse ao seu Soares, mandava pagar um copo a cada um.
Pulando de cima das oliveiras, mais cuidadosas agora em não levantar muito a saia, as mulheres respondiam-lhes, a sorrir, tendo na cara branca o melhor sinal do susto apanhado. Depois cada qual procurou ganhar o tempo perdido e toda a gente se deitou à tarefa com mais gana.
Os guardas não deixavam de vigiar, sempre de atalaia, não fosse alguém esconder a recolha para fugir à parte do dono.
A história dos toiros vinha de vez em quando à baila para alegrar, e os ditos passavam, de boca em boca, correndo o olival. Já havia que contar ao serão, para esquecer as coisas más da vida. E tem de ser assim.
Como a tarde começasse a chegar-se e já estivesse farto de andar de cabeça pendurada, achando tão pouco na cesta, desejei que alguém saísse para lhe seguir o caminho. Logo que isso sucedeu, fui dar a minha parte e abalei para casa.
Ia derreado de todo, como se tivesse apanhado uma grande tosa de mangual. Sentia os joelhos a dobrarem-se, os rins a formigarem e tonturas de cabeça. Amargava-me a boca e levava fome de comer o jantar de sete. Nunca fui para casa tão convencido de merecer uma pratada de conduto. Bem me chamaram alguns rapazes, para ver um carro novo feito pelo pai do António da Marachá, mas nada me fez ceder. Isso ficaria para depois, porque naquele momento só me apetecia descansar, sentado à porta do quintal, a contender com os coelhos e as galinhas, enquanto a minha mãe preparasse a ceia. A coragem não era muita, mas as pernas iam leves em direcção à Baralha.
Entrei pela porta dentro a assobiar. Quando a cabeça de minha mãe apareceu ao fundo do corredor, levantei a cesta, para lhe mostrar que voltava do trabalho e, como tal, vinha para comer a paga do meu esforço, Expliquei-lhe que havia muita gente na apanha e nada mais pudera trazer, não falando na minha falta de hábito e na recusa dos dedos em se porem mais ligeiros.
- E andaste tu um dia inteiro para isto! Vens suado da brincadeira e depois foste à pressa apanhar este nico.
Pus-me a resmungar, pois sentia ferido o meu orgulho e não aceitava a injustiça que me fazia. Como paga deu-me dois tabefes e logo me disse que fosse comer para onde andara, porque lá em casa não se dava guarida a langões, nem no quintal nascia dinheiro para me sustentar.
Se tudo desabasse sobre mim, não me seria mais doloroso. Cresceu-me vontade de escavacar o que via à minha frente, pisar os restos com pés ’de ferro, para que tudo ficasse esmigalhado, em pó até, se possível fosse. Como me senti incapaz de o fazer, mordi na camisa e na carne do braço, até deixar as marcas dos meus dentes a ensanguentar o riscado.
Se pudesse abalar para o Paul, meteria imediatamente pernas ao caminho. Assim não queria viver. Aquela injustiça feria-me até ao fundo da alma; amargurava-me tanto como se estivesse sofrendo a dor da minha própria morte. Mas não chorei, porque não quis. Chorar era apoucar-me, e naquele momento podiam desancar-me a cacete que não deitaria uma lágrima.
Vieram as galinhas e os coelhos pôr-se à minha volta, esperando pelos mimos de sempre. O Esperto, que era um coelho todo branco, de nariz muito rosado, chegou-se mais e saltou-me para as pernas. Esqueci, então, a amizade que lhe tinha, e dei-lhe um murro na cabeça. Espantado do acolhimento, saltou quintal fora, pondo-se de longe a olhar-me, orelhas muito levantadas e sentado nas patas traseiras.
Depois, arrependido do meu gesto, procurei agarrá-lo. Mas não consegui deitar-lhe a mão, porque se esgueirava ligeiro por entre as latas de flores, fugia-me para o monte de esterco, metia-se no curral pelas fendas da madeira. Nem um talo de couve o convenceu.
- Esperto!.., Esperto!...
Achei-me, então, tão injusto como minha mãe. E essa certeza amargurou-me ainda mais do que o mal que tinha recebido. Atravessei o quintal, cabisbaixo, interrogando-me sobre o que deveria fazer. Se procurasse a minha avó Caixinha e lhe contasse tudo, não me deixaria sem ceia. Mas naquele dia tinha trabalhado tanto quanto pudera que entendi não dever recorrer a esse meio. Da cozinha chegava-me o cheiro da sopa. Sopa pobre, pouco mais de água, mas que era um pitéu para a minha fome.
Quando passei, vi dois pratos sobre a mesa. Minha mãe também se arrependera. Esperei que me dissesse alguma coisa e não lhe ouvi palavra. Então, saí para a rua e não lhe respondi quando me veio chamar.
Andei sem destino. Corri a Baralha de ponta a ponta, voltei de novo pelas mesmas ruas. Nas tabernas já os homens beberricavam, rindo-se de tudo - rindo-se talvez de si mesmos. Nada me prendia. Só aquela amargura alastrava cada vez mais dentro de mim.
Por uma porta entreaberta, vi duas maçarocas penduradas na parede e enlaçadas por um cordão. O primeiro impulso que senti alarmou-me. Quis sair dali, mas não fui capaz. Namorava-as de longe e seduziam-me mais. Interroguei o silêncio da rua. Não passava gente, não ouvia passos. Meti a ^cabeça pela porta e gritei para dentro, tendo no peito o arfar de um grande cansaço.
- Tiazinha!... Tiazinha!...
Como ninguém me respondesse, enfiei pela casa dentro, alcancei as maçarocas, de um pulo, e achei-me com elas na mão. A cabeça rodava-me sem trambelho, o corpo tremia-me. Tive vontade de gritar que alguém as roubara. Deitei a correr pela rua fora, sem sentir os seixos onde tropeçava, sem cuidar do boné que me caíra.
Mal atingi a primeira travessa, parei à escuta; como nada ouvisse, aquietei-me mais. Passei a mão pelas maçarocas num afago. Uma era de milho gatinho, a outra de casta grande. Só me faltava lume para as assar e isso era um problema, pois teria de dar explicações. Contudo, como já me aquietara, entendi que não me devia preocupar demasiado. Em último caso dividia-as com qualquer companheiro que também não tivesse ceia, e tudo se resolveria.
Pus de parte a ideia de ir à minha avó Caixinha; comecei a magicar em alguém que me valesse. Gente conhecida não me faltava. O pior é que nem todos serviam, porque era natural que alguém as reconhecesse e me pregasse algum susto. Naquele tempo não podia ouvir falar na cadeia. O meu respeito era tanto que quando passava ao largo da igreja nem olhava para o muro gradeado.
Recordei-me dos ciganos. Porém, a feira de S. Martinho vinha longe e ainda não havia sinais de acampamentos. Se fosse mais próximo, o meu amigo Buraco era capaz de vir também e tudo estaria resolvido. Revi todo o nosso encontro. Parecia-me que o tinha ali ao pé de mim e que a sua presença me incitava.
Alguma coisa se havia de fazer. Meti as duas maçarocas no bolso e, de mãos nas algibeiras, não fosse alguém tirar-mas, fui andando. Ia assim tão sossegado que comecei a assobiar. Já nada havia que me desse temor.
De cabeça erguida, passei por ruas e travessas, enquanto a noite se chegava. Sentia-me homem, porque naquele dia, e por duas vezes, fora capaz de merecer a ceia.
QUANDO a ceifa no Paul acabou, voltaram os dois. Vinham magros, amarelos, pareciam diferentes. A Anita, então, era uma velha mirrada, muito trémula, de cara triste, mesmo quando sorria Nem boca tinha, porque os lábios se apagaram, como se ganhassem a mesma cor do rosto. Tossia às vezes. Era como uma sombra que andasse pela casa a divagar. Lembrou-me muitas vezes as avejãs das histórias que se contavam, dessa gente morta em pecado grande e que vinha à noite recordar a sua existência passada.
Gostei dela naqueles dias mais do que nunca. Punha-se à janela da casa de fora a coser os seus trapitos e a olhar-me constantemente, porque, desde que ela voltara assim, eu só brincava ao pé da porta.
Tinha uns olhos impressionantes. Muito grandes e negros, brilhantes e expressivos. Lia-se neles tudo quanto passara na ceifa. Cansaços, tormentos e doença. Nunca vi um olhar daqueles tão macio e ao mesmo tempo tão penetrante.
- Manel!...
Eu parava logo a brincadeira e vinha para junto dela, saber o que queria de mim. Desejava a’divinhar-lhe as vontades e os pensamentos, porque me parecia que até isso a cansava.
À volta da azeitona, as amigas vinham visitá-la, para a entreter. Contavam-lhe passagens do trabalho, namoricos desta e daquela, partidas feitas pela Isabel, que era um diabo vivo, sempre de carinha na água, rindo por tudo e por nada. Como fazia muito barulho com as suas gargalhadas, as outras chamavam-lhe uma carrada de cascalho. Era de facto assim. Depois abalavam todas, para voltarem no outro dia à mesma hora.
Minha mãe andava também num rancho e a Anita é que tratava do comer com a minha ajuda, pois não a queria a trabalhar muito. Ia fazer-lhe os recados, num virote, acarretava água da fonte, migava as batatas na tigela de lume. Dava-me por bem pago se podia comer algum naco de pão.
Como homem, o meu pai, embora viesse doente, arribou mais depressa. Também não lhe podia dar outro jeito, porque o dinheiro forrado na ceifa mal dava para duas semanas de boa vida. Boa vida é descanso. Mas no campo nem o descanso é bom. O fiado tem de se pagar, além de que nas lojas não há boa cara nem bom peso para quem não trouxer as contas em ordem.
O Sr. Soromenho ficara de liquidar a parte da fanga, e o meu pai, embora não lhe pedisse, porque para ele isso era vergonha, fazia-se encontrado, esperando-o à saída de casa ou da farmácia, onde ia dar dois dedos de conversa. Segundo o meu pai contava, o outro lamentava-se que o ano fora ruim de uma vez e não lhe dava para pagar a renda ao senhorio. Bem vistas as coisas, o meu pai e outros tinham de trabalhar para o Sr. Soromenho passear na Golegã e ainda para outro senhor gastar em Lisboa. No fim, as culpas vinham sobre ele, porque não cuidara da fanga como devia ser, deixando a sacha e a amontoa para muito tarde e fazendo a desponta em más condições.
- Isto de fazer fanga, Zé Caixinha, tem os seus compromissos. Pegavas em todos os trabalhos que te apareciam e não te lembravas do teu dever. Agora eu que me amole com o senhorio. Esse é que não perdoa.
O meu pai contava estas coisas cheio de indignação; mas eu estou certo de que junto do Sr. Soromenho não era capaz de protestar. Quando se enervava, era como se a voz se lhe tapasse. Punha-se branco, dava às mãos e à cabeça, e, se falava, era a gaguejar. Quem o ouvia, dizia sempre que ele estava comprometido e não sabia qual a resposta a dar. Ele reconhecia isso, queria à viva força pôr-se calmo, mas não era capaz. Então caía num profundo abatimento e ninguém mais lhe arrancava uma palavra. Nos seus gestos abandonados, eu já conhecia quando trazia ralação maior.
Daquele modo, a vida em casa era cada vez mais pesada. Andávamos todos cansados, como se cada um trouxesse às costas um grande peso. Falava-se o menos possível e, afinal, dizia-se muito. Perguntávamos uns aos outros, em silêncio, quem é que tinha culpa de tudo aquilo. Como minha irmã não melhorasse e o seu braço fizesse falta, minha mãe naquela noite resolveu-se a rezar-lhe o quebranto, pois, em seu entender, era esse o mal da Anita. Meu pai, muito crente das virtudes da reza, também achou que era bom experimentar. Eu por mim também gostava de ver, pois já uma vez se tinha benzido a Galharda quando andara a cair de todo.
Depois da ceia, minha mãe e a Anita sentaram-se no chão para começar a cura, enquanto o meu pai continuava à mesa, de cabeça entre as mãos, a ruminar nas palavras do Sr. Soromenho. Perto das duas, minha mãe pôs a um lado uma tigela com água e a outro uma lata de pomada com azeite, onde colocou uma torcida que depois acendeu. Deslumbrado, seguia os gestos de minha mãe com a maior atenção.
- Deus te deu e Deus te gerou. Deus te livre de quem mal olhou. Cristo nasceu e Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Em nome de Deus Padre, Deus filho e Deus Espírito Santuário.
Enquanto isto dizia, minha mãe molhou o dedo mindinho no azeite e foi deitando cinco pinguinhos na água. Mais lívida ainda do que de costume, minha irmã fechava os olhos e inclinava a cabeça, enrolada no lenço garrido que minha avó lhe dera pelo S. Martinho do outro ano.
- Olha, Zé.
E apontava a tigela com água. Meu pai veio espreitar e depois voltou para a mesa, suspirando fundo.
- O azeite espalhou-se e sumiu-se... É mal de inveja. Mais valia que se abrisse, porque era quebranto.
Então, a minha mãe levantou-se e começou a defumar a casa toda e a cabeça da minha irmã, com uma mistura de alecrim, cominhos e pez loiro, trapos e cabeças de fósforos. O cheiro empestava tudo.
- Todo o mal que tens no corpo, alguma pessoa to causou. Três to hão-de tirar. São as três pessoas da Santíssima Trindade.
E em voz mais pausada e grave, minha mãe dizia: «Em nome do Deus Padre, do Deus filho e do Deus Espírito Santuário.»
Como um fantasma por entre a fumarada, ela ia de um lado ao outro da casa, repetindo três vezes as mesmas palavras, enquanto eu tossicava e as lágrimas me corriam pela cara abaixo, sem querer. A sua voz arrepiava-me e só a mão de minha irmã, entre as minhas, me dava um pouco de sossego.
- Assim como Nossa Senhora defumou o seu amado filho para bem cheirar, defumo eu a minha menina para todo o mal se lhe tirar.
Tentei levantar-me para sair, mas minha mãe percebeu o meu gesto e obrigou-me a ficar no mesmo sítio. A Anita esclareceu-me que a reza aproveitava a todos e que eu não podia abandonar a casa, sem risco de se perder o efeito do que a minha mãe dizia e fazia.
- Assim como Nossa Senhora defumou o seu amado menino entre as pedras de Belém, defumo eu a minha menina para que lhe saia todo o mal e entre todo o bem.
Aquelas palavras ressoavam em toda a casa, aquietando as dúvidas de meu pai e de minha irmã, mas enchendo-me de terror, fazendo-me ver, por entre o fumo, formas estranhas, bocas abertas e manchas de sangue. Suspirava para que chegasse o fim. Mas minha mãe continuava ainda.
- Deus é que te gerou e Deus é que te criou. Deus te tire todo o mal que em teu corpo entrou. A Virgem Mãe Santíssima te tire todo o mal invejado e praguejado.
Depois dirigiu-se a minha irmã e, fazendo sobre ela o sinal da cruz, acabou a oração.
- Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santuário. Veio sentar-se no chão, junto dos dois, e entre dentes começou a rezar o padre-nosso. Minha irmã fez o mesmo. Encostado à mesa, meu pai continuava indiferente a tudo, como se fosse um pedaço de qualquer coisa sem vida. Eu é que não podia com aquilo. Mexia-me, bocejava, sentia ganas de ir abrir a porta para que o ar da noite entrasse e nos víssemos livres daquele ambiente empestado.
- Mãe!...
Uma bofetada estalou; embora não me fizesse doer, arranjei uma boa Maneira de me distrair: pus-me a chorar alto, como se tivesse apanhado a maior tareia da minha vida. Então, furiosa, minha mãe levantou-se, sacudiu-me para a rua e fechou a porta. - Raios partam o rapaz!
A praga não me meteu medo. Sentado na soleira, regalei-me com um vento que corria do nordeste e me refrescava todo, apagando em mim a sensação de mal-estar que sentira dentro de casa.
Daí a pouco meu pai saiu e pedi-lhe para me levar, correndo ao seu lado e procurando agarrar-lhe a mão. - Não, Manel, não venhas. Vai-te deitar que já é tarde.
Fiquei no meio da rua, como se me deixassem desamparado, vendo o meu pai seguir até desaparecer na primeira esquina. Não sei porquê, entendi que ele precisava da minha companhia e já não era o meu desejo de passear que me punha triste.
Adormeci tarde naquela noite. Quando de madrugada ele voltou embriagado, ralhando talvez consigo mesmo, fui a primeira pessoa a acordar em casa. Levantei-me sorrateiro e fui espreitá-lo. Quando me viu, tentei disfarçar e pareceu-me que ficou confuso por eu dar com ele naquele estado.
A aproximação da feira de Novembro sente-se em todas as casas da Golegã, desde a mais farta à mais miserável. Recebido o produto das fangas, por aqueles que as conseguem, sempre se conta com isso para uma merca ou outra, porque o Arneiro naqueles dias é um bulício de vendedores de todos os géneros, desde a besta ao brinquedo, desde a fiada de pinhões à samarra e ao calçado. Eu por mim julgava que toda a gente estreava qualquer coisa nova nesses dias, pois, em minha «casa, estava habituado a tal costume, desde que me conhecia. Os dias que faltavam viviam-se em alvoroço, porque rara era a pessoa que trabalhava, um quartel que fosse, nos dias mais festivos de toda a quinzena. Aprazavam-se petisqueiras nas tabernas, prometiam os rapazes as feiras às cachopas, sonhavam os homens do meu tamanho com os palhaços, os fantoches, a roda de cavalinhos, e tantas outras maravilhas que nos arrastavam para o largo em festa, faltasse o almoço ou o jantar. Mas naquele ano é que eu tive em conta como a vida se passava em muitas casas.
Meu pai já recebera a sua parte na fanga e tivera que levar o dinheiro à farmácia e à mercearia, deixando ainda o padeiro à espera de melhor ensejo. Fizera uns dias num olival com a minha mãe, mas isso pouco dera para o muito que havia para pagar. Apesar de tudo eu via a feira chegar e continuava com a esperança de que, de um momento para o outro, me falariam numas calças ou camisa nova. Mas os dias passavam e eu andava triste, como as tardes daquele Outono. Nada havia que me consolasse. Não sabia ainda que lá por casa as coisas iam de mal a pior e que, como eu, ninguém estrearia fosse o que fosse, nem a Anita, mocinha com dois palmos de cara, já requestada por muito franganote. Nem um lenço só, daqueles de ramagens e barra larga.
Um dia não me contive que lhe não dissesse. com ela é que eu desabafava as minhas mágoas, que antes contava à minha avó Caixinha. Minha avó andava muito rabugenta e era preciso um seirão de paciência para lhe aturar as manias e as birras. Também lá por casa a vida não ia melhor; quando o pão escasseia não há mal que não chegue, nem tortura que não apoquente.
- Anita!...
Voltou-se para mim, olhando-me muito séria. Era por isso que eu gostava dela. Ninguém me escutava com maior atenção.
- A gente não estreia nada pelo S. Martinho?... Fez um sinal para me calar, foi espreitar ao corredor
e depois falou-me em segredo de tudo o que eu não sabia.
-- Não fales nisso, Manel. O nosso pai anda mesmo raladinho. Mata-se a trabalhar e cada vez vamos a pior.
Fiquei arreliado comigo mesmo de lançar aquele protesto e vi que a minha irmã também estava triste.
- E tu, Anita?!...
- Ora eu... Eu não me ralo... Não deixo por isso... de ir à feira.
Aquelas palavras saíam-lhe arrancadas do peito, eu bem o compreendia. Os olhos estavam mais brilhantes, mas tinham um brilho magoado, assim a modos de quem vai para chorar. Afaguei-lhe as mãos, já que nada lhe sabia dizer.
- Mostra-te contente, Manel. O pai até parece que anda envergonhado de não dar qualquer coisa à gente. Eu por mim...
Ainda não havia muitos dias que a Maria da Luz viera aconselhar-se com ela, por causa da blusa cor-de-rosa que havia de levar duas carreiras de lacinhos até à cinta. Só ela nada tinha para estrear; e cara mais desenxovalhada do que a dela não havia em toda a Baralha. Dois olhos muito castanhos, dentes muito certinhos e brancos, um nariz pequeno e arrebitado, que lhe ficava muito bem, uma cintura Maneira, um andar muito leve... Eu talvez a visse assim por ser minha irmã, mas parece-me que não me engano. Não me engano, não. Estou a vê-la. A vê-la... E quando me lembro, cerram-se-me os dentes, as mãos apertam-se e sentem-se capazes de fazer as piores coisas desta vida.
Naquele dia, depois de a ouvir falar e de comer qualquer coisa por almoço, fui ao Arneiro. Já se andavam a armar barracas. Abriam-se buracos a um lado, punham-se panos a outro, e a roda dos cavalinhos já estava no seu sítio, toda desmanchada ainda, mas prometendo grandes cavalarias a quem tivesse dinheiro para as fazer. Fui de terrado em terrado. E vi um homem de alavanca em punho a trabalhar sozinho. Pus-me à frente dele, a mostrar-me, pois fiquei com a esperança de que precisaria de mim. Meu pai não saberia, porque todos os barraqueiros têm má fama e tinha de me haver com ele se soubesse do meu emprego. O homem continuava sem dar por mim, embora já me tivesse olhado por duas vezes. Cheguei-me mais e tossi. Raspei o pé descalço numa tábua e meti conversa.
- Se vossemecê precisar de alguma ajuda...
O homem levantou a cabeça, sorriu-se e acabou por dar uma gargalhada. Corei do acolhimento, mas não desisti.
- Tirava-lhe essa terra, pegava na madeira... Como a cara dele não fosse de despedir fregueses,
deitei-me ao trabalho com entusiasmo. Ele já não era novo e parece que me agradeceu, quando me agachei junto do buraco e comecei a tirar terra com as mãos. Daí por um bocado já éramos companheiros. Embora eu não lhe soubesse responder, o homem abriu-se comigo e falou muito. Disse-me donde era, os filhos que tinha, a vida que levava.
- É a primeira vez que venho aqui, dizia-me ele. Isto não é mau. Sempre são quinze dias e uns dias tapam os outros.
Eu não falava, só ouvia. Daí por um pedaço estava cansado. Queria fazer tudo, porque entendi que devia agradar-lhe. Depois perguntou coisas da minha vida.
- És daqui?... Tens pai e mãe?!... O que fazes?!... Respondi-lhe como pude e acabei também por lhe
fazer uma pergunta:
- Vossemecê conhece o Buraco?!...
Disse-me que não. Dei pormenores, porque no meu entender o Buraco deveria ser conhecido por todos os feirantes.
- É um rapaz do meu tamanho... cigano...
- São tantos os ciganos e quase todos iguais... Voltei-me para o trabalho com mais afã, apesar de
estafado. À tardinha, a barraca estava armada. Quando viu o fim à tarefa, o homem bateu-me nas costas e disse que eu fora uma grande ajuda. Senti-me contente e tive pena que o meu pai me não visse.
- E agora a jorna, rapaz?... Trabalhaste sem te mandar...
Cocei a cabeça e encolhi os ombros, fazendo que não me importava. Mas começava a desanimar. O homem foi mexendo nuns caixotes e nas suas mãos iam passando aventais, lenços, blusas... E lembrei-me da minha irmã.
- Se fosses rapariga ou se já tivesses namorada...
- Mas quero na mesma.
Fiquei embaraçado quando me disse que escolhesse um avental. Todos me pareciam bonitos e airosinhos. Um de flores, outros com bordados... Verdes, azuis, cor-de-rosa...
A Anita também havia de ter uma prenda cor-de-rosa como a Maria da Luz.
- Então, rapaz? -Mas é sério?!...
- Pois!... Pode ser que dês boa sorte.
Agarrei um cor-de-rosa, sem cuidar dos enfeites. Eu mesmo nem via nada. Apertei as mãos ao homem e deitei a correr pelo Arneiro fora. Num foguete pus-me em casa.
- Anita!... Anita!
com o avental escondido dentro da camisa, corri os dois quartos e a cozinha. Respondeu-me do quintal.
- O que é, Manel?!...
Quando me encontrei à sua frente, levei a mão ao peito, respirei fundo e atirei-lhe um sorriso.
- Fecha os olhos, Anita!
Passei-lhe o avental à volta da saia e dei um laço - o melhor que fui capaz. Depois coloquei-me à sua frente e mandei-lhe abrir os olhos. E ela apertou-me tanto nos seus braços que, quando me soltou, chorávamos os dois.
O pior foi quando o meu pai veio e não acreditou que o homem me tinha dado o avental.
- Eu trabalhei, pai, eu trabalhei. E o homem mandou-me escolher um.
Mas o meu pai não se fiou nas minhas palavras e obrigou-me a ir com ele ao Arneiro, à procura do homem da barraca.
AS ruas iam cheias de gente durante todo dia. - Talvez não fosse pelo que havia para ver, mas para justificar o desejo vivido tanto tempo de que a feira chegasse. Não sei porquê, havia gente satisfeita, que ria, que falava muito e bebia quanto a bolsa deixava. A bandeira de S. Martinho era sempre bem disputada por todos os homens da Golegã. Ganhava-a o que maior bebedeira apanhasse e maior escandaleira desse. E isso era acontecimento falado por muito tempo, contado das Maneiras mais diversas, acrescentando-lhe cada um pormenores de sua conta.
A bandeira estava, pois, em disputa. As tabernas não deixavam de estar cheias, passeando cada homem o casaco novo, o chapéu estreado ou a camisa comprada. Começavam já as birras a propósito de qualquer coisa, trocavam-se palavras azedas e gestos malandros. As cachopas andavam num badanal de um lado para o outro, mais à procura de conversa que de outra coisa. O S. Martinho fez sempre muitos casamentos, e as moças não deixavam passar a oportunidade sem pôr na mesa todo o jogo que tinham. Os rapazes naqueles dias preferiam mais chegar-se às barracas de tiro, onde se mostravam mulheres pintadas. Isso era uma ocasião para satisfazer muito apetite escondido, porque aquelas não só não passavam indiferentes, como até os chamavam com nomes que mulher alguma da vila era capaz de dizer.
Eu abalei de casa sozinho, pois o meu pai não se ofereceu para me levar ao Arneiro e a minha irmã saíra com outras raparigas do seu love, embora ainda não lhe tivesse passado de todo o mal apanhado no Paul. Minha mãe entendia que a reza lhe fizera muito bem e que o pior da inveja saíra com o defumado e a benzedura.
Não faltavam tabuleiros de bolos, cestos de passas, sacos de nozes e amêndoas, fiadas de pinhões. O ruído das conversas e dos gritos parecia o ramalhar das árvores da alverca quando o vento sopra. com ele se cruzavam os estalidos dos chicotes, o bater das patas das bestas, o som das campainhas e dos chocalhos. Lembro-me de que foi a primeira vez que não deitei a correr para o Arneiro. Sempre que ouvia aquele barulho, perdia as estribeiras e punha-me fora de mim. Naquele dia continuei no mesmo passo, pois não levava cinco réis no bolso para comprar qualquer coisa. Não estreara um boné ou umas peúgas, nem cortara o cabelo, sequer. A Anita é que mo aparara com a tesoura de casa, para evitar, pelo menos, que a ponta das orelhas ficasse tapada.
Ia para lá, porque nesses dias na Golegã só se conhece aquele caminho. Todas’ as ruas, becos e travessas vão parar ao largo. Parece que há qualquer coisa a puxar pela gente, arrastando-nos sem convicção. Depois de se chegar, o barulho e o movimento distraem. Há sempre alguma coisa em que reparar e as horas galgam.
Na rua do passeio comprimiam-se duas filas de gente, a acotovelar-se por um lugar à frente. É aí nessa rua que os lavradores e picadores passeiam os seus melhores cavalos, obrigando-os a encosto de esporas, a ladear, a levantar as mãos, a fazer requebros. Passam cavalos, fortes como pegadores de toiros, de crinas e rabos tratados, espirrando ruidosamente para que reparem neles. Outros mais finos, nervosos e insubmissos, que galopam e dão upas. Parelhas atreladas a carros reluzentes de amarelos e prateados, tilintando campainhas e batendo as patas. Há cavalos de várias cores e para todos os gostos. Cavalos fidalgos que os lavradores passeiam, fazendo lembrar os bons resultados das fangas.
Vão até ao fim da rua e voltam. Andam ali horas e horas, a mostrar-se.
E o povo aperta-se e discute, apaixonando-se por um cavalo branco, por um pigarço ou por um castanho. Deslumbrados, como meninos que vão conhecer a vida, os homens passam ali horas também. Vão beber às tabernas e voltam.
com aquela idade, tentei meter-me numa das filas. Furei, dei um empurrão ou outro, levei uns tantos, até que cheguei à frente. Depois descansei, contente do lugar conquistado, e pus-me a ver o passeio dos cavalos.
Como tinha chovido de manhã, a rua estava enlameada, apesar de terem mandado deitar areia para que os cavalos não caíssem. com os requebros e os galopes, as patas resvalavam e atiravam chapadas de lama para a cara da gente. E a gente ria-se, os cavalos passavam, e os senhores, muito direitos em cima das selas, cumprimentavam com leves acenos alguém que se descobria.
Em todo o Arneiro era o espectáculo mais concorrido. Ninguém pagava, como no circo ou nos fantoches. Rua abaixo e acima, horas e horas, o desfile não cessava. Alguns lavradores que tinham vários cavalos exibiam-nos à vez, verdasca numa mão, rédeas na outra, cada qual desejoso de melhor convencer a gente da sua abastança.
Faziam os cavalos apurar-se mais, afagando-lhes as crinas soltas ou em tranças, batendo-lhes com as mãos enluvadas na tábua do pescoço. Os bichos pareciam compreendê-los, envaidecendo-se de nos ver naquela pasmaceira.
Embora não compreendesse ainda essa verdade, acabei por me aborrecer e abandonei o meu lugar, logo tomado por uns tantos que se empurravam e me iam esmagando com a fúria de alcançá-lo. Lá abaixo havia música e, pelo apuro, devia ser do circo, pois os cavalinhos eram tocados a gaita de foles e não havia que me enganar. Lembrei-me que, naturalmente, estavam os palhaços no palanque e, se fosse tarde, era capaz de perder o único número a que poderia assistir. Deitei a correr, esgueirando-me por entre os grupos que estavam no terreiro da feira do gado, e um homem atirou-me com um cajado às pernas, ficando-se a rir muito do susto que apanhei e do pulo que tive de dar para não cair. É claro que não ficou sem resposta, porque de longe lhe disse o nome mais feio que aprendera com os rapazes da alverca. Mas o homem ainda se riu mais, certamente porque o vinho lhe dera para o alegrar.
Era de facto como eu pensara. A companhia do circo estava no palanque, dançando ao som da música que cinco homens tocavam. Duas mulheres de pernas à vela chamavam a atenção dos rapazes mais espigados, presos ali pelos desejos que elas despertavam. Elas sorriam-se e convidavam-nos para entrar, debruçando-se no encosto do palanque, para logo de seguida continuarem na roda, gingando-se todas. Mas não eram elas que me traziam ali. Lá estavam os dois faz-tudos, com as suas palhacices, ao pé do homem das forças, que mostrava os músculos dos braços e das costas. O do fato bonito, com um grande coração no peito, trazia a cara toda branca e a boca vermelha, e tirava o carapuço de vez em quando para se lhe ver a popa do cabelo negro. Do outro é que eu gostava. Daquele que tinha uma grande boca branca, traços na cara, um chapéu pequenino no alto da cabeleira vermelha, um colarinho para dez pescoços, colete e casaco até aos pés. Mal se lhe viam as calças, apertadas em baixo, para melhor se realçarem as botas disformes.
O homem da campainha gritava sempre com voz rouca: -’O melhor espectáculo da feira! É entrar!... E o faz-tudo vinha para junto dele, emendando-o:
- Não é espectáculo, é espetáculo!...
Cá em baixo o povo ria e o palhaço vinha bater na cara do faz-tudo, como que a repreendê-lo de se meter com o dono do circo. Os homens encaminhavam-se para a bilheteira, porque, pela amostra, deveria haver farta bazanada nos intervalos da menina do arame e do homem que quase era capaz de aguentar nos dentes a Golegã em peso.
- É entrar, meus senhores, é entrar!... A maior maravilha da feira!... Aproveitem a ocasião para ver a melhor companhia de circo do mundo!...
Embasbacado, sem compreender o sentido de parte das palavras que o homem dizia, continuava a seguir todos os gestos e expressões do faz-tudo de boca grande.
Depois a música acabou e as duas mulheres, os palhaços e o homem das forças debruçaram-se cá para baixo, apontando a bilheteira e descrevendo tudo a que se assistia, pagando o bilhete.
- O homem que engole espadas e ferro em brasa! Uma criança que dá dez saltos mortais todos seguidos!
E apontavam uma rapariga do meu tamanho, muito magrita e de grandes olheiras, que mostrava também as pernas. com a insistência do reclamo iam entrando mais pessoas, vencida, finalmente, a sua desconfiança. Aproximei-me da porta, muito sorrateiro, sorrindo-me para um dos homens que vedava a passagem. Ele fingiu que não dava por mim, mas tinha o olhar bem posto nos meus movimentos, pois, quando me tentei meter num grupo que entrava, deitou-me a mão à camisa e sacudiu-me.
- Fora daqui!...
Fiquei ao largo a ver o movimento, cheio de ódio pelo homem que me correra. Se fosse capaz de lhe fazer frente, tê-lo-ia desafiado. Roguei-lhe pragas, entre dentes, de mistura com os piores nomes que sabia. Apeteceu-me agarrar numa pedra e atirar-lha, para que não supusesse ter ganho a partida. Mas lá dentro já a música tocava; isso dava-me o sinal de que o espectáculo ia começar.
- Não é espectáculo. É espetáculo!...
Via o faz-tudo da boca grande a dizer graças comoaquela e eu não o podia ouvir. Era ele que entrava com certeza, pois as gargalhadas não podiam ser de outra coisa.
Tinha vontade de chorar, já que não podia rasgar os panos do circo para me meter lá dentro. O homem da entrada sorria-se e eu pensei que era de mim. Ao pé dele, de espingarda na bandoleira, um guarda vigiava.
Depois achei melhor sair dali e entreter o meu despeito por qualquer lado. O melhor ainda seria voltar para casa. Mas com o Arneiro cheio quem era capaz de ir para a Baralha deserta, embora não tivesse dinheiro para comprar um bolo que fosse?
Afastei-me do corrupio dos cavalinhos e da sanfonice da gaita de foles; passei pelos fantoches, quase sem olhar para a barraca. As meninas do tiro ainda não chamavam por mim, entretidas com fregueses que as não largavam de manhã à noite. Eu mesmo não sentia ainda atracção por elas. As brincadeiras com as cachopas do meu tamanho não passavam de intenções; não havia nisso mais do que o desejo de me sentir homem, sem ainda o ser.
Andava vendido pela feira. Arrependia-me de ter vindo e não era capaz de tomar uma resolução para sair do Arneiro, como as pessoas que estão fartas de viver e nada tentam para vencer a vida. É que no próprio desespero há sempre uma esperança; uma esperança que não se sabe como apareceu, nem como se pode realizar. O certo é que não saía dali, embora me apetecesse fugir para longe»
A rua das barracas de alfaiates e sapateiros ia cheia de gente. Quem viesse de fora e não conhecesse a Golegã, diria que era terra farta. Ainda entrei nela, mas logo que achei a primeira saída passei-me para a feira do gado. Na rua do passeio, os senhores continuavam no mesmo vaivém, e as duas filas de povo eram ainda maiores, porque em cada momento desembocava gente nas várias entradas do largo.
Acabei por me entreter com os vendedores de gado, mostrando os animais, conversando, discutindo, combinando entre si Maneiras de conseguir convencer algum comprador mais rebelde.
Juntas de bois, parelhas de mulas, carneiros, cavalos e burros, numa mistura de negócios apalavrados. Puxavam-se carteiras, contavam-se notas, resmoíam-se preços.
- Isto é uma estampa, senhor - dizia um cigano para um camponês de suíças, barrete preto e casaco ao ombro.
- Veja isto!...
E batia com a ponta do chicote nos joelhos dum burro Manelrinho, muito claro de pêlo. O homem abanava a cabeça, receoso de negócios com ciganos, e aconselhava-se com a mulher, ainda mais desconfiada do que ele.
- É muito pequeno - afirmava para se desculpar.
- Mas assim mesmo é que faz bom negócio, homem de Deus. É um animal novo...
Abriu a boca ao burro para mostrar os dentes, enquanto outro cigano se chegava também para ajudar a venda.
- Faz boa compra, senhor. Isto é animal de uma pinta... Pode montá-lo, se quiser...
Como o homem se recusasse, o cigano saltou para as ancas do burrito e bateu-lhe com o cabo do chicote. O animal arrancou com a carga, sem fazer birra, e o outro cigano meteu conversa.
- Também tenho para vender, mas vejo que o senhor não fica mal servido. Se não fizer negócio, fale comigo que a gente não se dá mal, com certeza.
Entretanto, o vendedor voltava e pôs-se a discutir com o que viera depois. Parecia que se queriam comer, chegando a cara muito um ao outro, e praguejando.
- Arrenego-te a morte, homem.
- Malvado sejas com a tua inveja.
Vaiavam-se mais com os seus olhos negros, como alumiados de um ódio de morte. Perto deles o homenzinho olhava o animal por todos os lados e trocava palavras com a companheira.
- Oferece-lhe menos.
- Então, senhor, já resolveu?!...
Voltando-se para um rapaz mais espigado do que eu, e que agarrava a corda do burro, deu-lhe a ordem.
- Corre lá o animal!
Fizeram duas corridas, mas o comprador teimava em que o burro era pequeno.
- com a albarda em cima fica composto, senhor. Puxa bem à nora.
E batia com o chicote nos joelhos do asno, mostrava-lhe os dentes, afagava-lhe o pescoço e as ancas.
Mais adiante, outros homens discutiam por um cavalo castanho, manco de uma perna. O comprador desconfiava, mas o cigano afiançava-lhe que aquilo era mal passageiro e que se comprometia a voltar-lhe as notas, se não ficasse contente com a compra.
Em barracas, ali perto, vendiam-se albardas e selins, safões e cabeçadas. De filhos escarranchados nos quadris, mulheres ofereciam-se para ler sinas, outras mostravam cortes de fatos. Corridas de um lado, acolhidas do outro, metiam-^e no meio dos grupos, andando o Arneiro de uma ponta à outra.
Um chuvisco miúdo não afastou ninguém. Eu é que me lembrei da hora da ceia e resolvi-me a voltar para casa. Antes disso passei pela barraca dos fantoches e pela dos cavalinhos, e encontrei junto das mulheres dos tiros os mesmos rapazes. Na feira de S. Martinho tudo se compra. Dada de verdade só a lama que os cavalos dos senhores atiram para a cara e para o fato do povo que os vê desfilar.
LEMBRO-ME agora que nesse S. Martinho dei um desgosto a minha irmã. Numa noite da feira, ela ofereceu-me um boi de barro que tinha um assobio em baixo. Pagava-me assim o avental que lhe dera e não me cansei de atroar a casa com os silvos do apito, revendo o bicho de vez em quando, pois nunca tivera nas mãos uma feira daquelas.
O sucesso feito pelo brinquedo entre os meus companheiros envaideceu-me muito, consolando-me ainda mais a certeza de que a Anita se lembrara de mim no seu passeio pelo Arneiro. Bois daquela cor nunca eu vira, nem com uns chavelhos tão grandes, olhando para o tamanho do corpo. Tive até um aborrecimento com o Jacinto, porque ele pôs a dúvida à frente dos outros e logo todos acharam que ele tinha razão. O seu reparo, afinal, era o mesmo que eu pusera, mas o que interessava ali era o assobio e nada mais.
- O boi é cor de laranja, pá! Já viste algum assim?!
A interrogação amachucou-me, deixando-me meio varado, enquanto procurava uma saída qualquer para lhe responder. Não era por mim, mas pela Anita que aquilo me aborrecia. Não queria que fizessem pouco do brinquedo dado por ela, ainda que tivesse de me entender a murro e a pontapé.
- É verdade, pá!...
Os olhos dos outros fulminavam-me, à espera que eu lhes satisfizesse a curiosidade, e eu julgava ter perdido a fala, porque nem era capaz de dizer um sim ou um não.
- E uns cornos brancos com pontas pretas...
Senti que estava a perder o meu prestígio junto dos rapazes da Baralha e decidi-me pela mentira, embora «stivesse certo que todos percebiam na minha cara a ratice da afirmação.
- Já vi, pois. Num dia que fui ao mercado de Torres Novas. São bonitos...
Continuei ainda para dar convicção ao que afirmara, mas parecia-me que o meu rosto se empregueava, como se fosse um bocado ’de trapo que alguém apertasse nos dedos.
-’Eram mesmo iguaizinhos, pá!
Acho que os outros acabaram por acreditar, porque nunca mais se falou entre nós da cor do boi de barro. Todos os meus companheiros sopraram no assobio e tiveram o brinquedo na mão, pois eu não era garganeiro Fiquei com um certo ressentimento do Jacinto durante umas horas, até que tudo esqueceu.
Dois dias depois ouvi uma conversa da minha mãe com a Anita e vim a saber que fora o Joaquim Honorato quem lhe dera o dinheiro, pretextando uma gratificação pelo bom trabalho que lhe prestara durante o ano. Então vieram-me à ideia as palavras dos meus companheiros da alverca e a conversa que com ela tivera quando estávamos deitados. Amuei com isso, apertando-se-me o coração, mirrado que nem um bago de azeitona, mas dorido como se um grande espinho me tivessem espetado no peito.
Nunca tivera uma feira daquelas e amargurava-me ter de guardá-la. Senti vontade de parti-la, pretextando um desastre, acabando assim com aquilo duma vez. Não me satisfazia a resolução, pois eu queria que a minha irmã soubesse que não desejava receber coisas da mão daquele homem. Fiz mil projectos, até que me resolvi a entregar-lhe o boi.
- Toma, Anita, não quero.
Custou-me a falar, tanto mais que naquele momento me parecia mais bonito do que nunca. Mas levei a minha avante. Ela ficou muito espantada, engrolando palavras sem trambelho, que me mostraram bem o seu embaraço. A minha mãe é que não gostou da acção e bateu-me, metendo-me no quarto e não me deixando sair, apesar de me ter dito que naquela noite me levava ao Arneiro para comprar uma fiada de pinhões. Fiquei fechado em casa, mas fiquei na minha.
- é mesmo de forma torta o malvado do rapaz! Meu pai voltou tarde, muito embriagado, e perguntou-me porque não tinha ido à feira. Contei-lhe que me doía a cabeça.
A Anita não me falou quatro dias. No quinto chamou-me pelo nome e fez-me uma festa de tal modo que eu percebi ter conquistado ainda mais a sua estima.
No Inverno há um entretenimento na Golegã - ver a cheia nas praias e medir pelo Dique dos Vinte se a água sobe ou desce. Não há trabalho e os homens vêm para o pontão falar da ruína daqueles dias, enquanto os rapazes chafurdam por todos os cantos onde há lama e água.
O Tejo começa a engrossar, galga para os areais das margens, vai crescendo e invade tudo. No plaino que vai da Baralha ao rio, não fica um palmo de terra de sementeira fora de água. Só a estrada lembra aos homens que ali foi caminho de gente. As hortas e os vinhedos desaparecem, tudo fica como um grande rio, no meio do qual se levantam as faias e os eucaliptos, os salgueiros e os choupos. A rama dos canaviais afunda-se e acaba-se o pasto para os animais e a lenha para os homens. A alverca só se conhece pelas árvores que a circundam, e nenhuma mulher se atreve a ir lavar roupa para aqueles lados. A Chamusca e a Golegã parece que ficam suspensas no Tejo, tanto o rio lhes babuja as casas.
É quase todos os anos assim. Mas naquele ano foi a cheia maior de todas, pelo menos para a minha casa.
De cima chegavam as notícias de sempre. com as chuvas de Espanha, o Tejo vinha mesmo com cara de quem ia ferrar partida. Muito barrento, ruidoso, correndo mais depressa do que nunca, já começara a devastar campos na Barquinha e em Constança. Dos sítios mais próximos das margens começou a tirar-se tudo o que se podia salvar. Abandonaram-se casas, mudaram-se palhas, passou-se gado para lugares mais altos. Os homens que vivem do seu braço já se não lamentavam, porque o costume repetido os habitua. A cheia faz parte da nossa vida. É uma desgraça igual a muitas outras, como a falta de trabalho ou pouca comida na malga.
Uma enxurrada maior tomou os campos da Borda-d’Água, e à GoLgã iam chegando, pela estrada do pontão, com a água mesmo a rasar, os que tinham ficado fora até à última. Vinham encharcados e abatidos, feitos farrapos de gente. Não se falava noutra coisa por toda a parte. As notícias dos jornais passavam de boca em boca, e não se via um sorriso na cara de quem quer que fosse.
A chuva não deixara de cair e todos tinham a convicção de que, mais dia menos dia, as ruas da Baralha ficariam inundadas. Isso é que era o mais doloroso. Cheios de esperanças, deixavam-se estar, confiando ainda em qualquer coisa que não chegava nunca.
E a água ia subindo, hoje uns dedos, amanhã uns palmos. Então, nas ruas mais próximas dos campos, a cheia começou a entrar, e os guardas da hidráulica avisaram que a situação iria a pior, pois em Espanha as chuvas continuavam também. Teve cada um que se conformar com a sorte. Para casa de família, com água já pelos artelhos, começaram as mudanças feitas com choros e gritaria. Todos se ajudavam no que podiam, pois a desgraça não escolhia porta, nem avisava do momento. No meio de tudo aquilo, só os rapazes ainda brincavam, deitando madeiros à corrente, metendo-se arregaçados à água encharcando-se uns aos outros quando calhava.
Raro era o ano em que assim não sucedia, mas a gente da Baralha nunca procurava mudar de casa, embora nestas épocas tivessem de carregar com os colchões e asroupas, a criação e algum tareco mais estimado para ponto de salvação. S. João Baptista era o protector da Baralha, mas a cheia nem o santo poupava, porque a água também lhe afrontava a porta. Na cheia não há quem tenha mão, como noutras desgraças que tocam a vida da gente. Aquela, para a minha casa, foi a maior cheia de todas. Andava eu com outros rapazes brincando na água, pondo a flutuar o que aparecia, querendo imitar os barcos que víamos em bonecos e eu conhecia bem pelo retrato do meu avô Sebastião. Ainda nenhum se tinha zangado e tudo corria pelo melhor.
- Lá vai um, pá!...
Os que estavam do outro lado procuravam agarrar os pedaços de paus e ramos caídos das árvores com o temporal e arremessavam-nos outra vez para o mesmo sítio. Nalgum mais ajeitado punha-se carga, e para esse iam todas as nossas atenções, desejosos de que percorresse o caminho sem se voltar. Fazia-se grande barulho, davam-se palmas, agitava-se a água e punha-se-lhe mais carrego até se afundar.
Aos meus gritos soou a palavra morreu, mas não lhe dei grande atenção, tão entretido estava com os barcos.
- Diz que morreu um homem ao pé da alverca - informou um dos meus companheiros.
- S’a gente fosse por cima...
- E a cheia?!...
Eu por mim gostava de deitar lá, porque nunca vira um homem morto, e parecia-me naquele momento que devia ser um bom espectáculo.
- S’a gente fosse por cima...
Logo uns tantos deixaram a brincadeira e se dispuseram a seguir-me, atraídos também pela novidade. Depois poderíamos contar as coisas a nosso modo, pois o vício de acrescentar é mal que toca a qualquer porta.
Iamos contentes.
Assobiávamos até uma música do nosso agrado, caminhando todos de braços metidos uns nos outros, a fazer corda.
- Já viram um homem morto?!...-perguntei eu, não sei porquê.
- Eu já vi - respondeu o Lapadas. - Aquele que apareceu à borda do Tejo o ano passado. São tão feios... Quando falo nisto, até me arrepio.
Então houve uma voz que chamou por mim. Voltei-me contrafeito, porque, naturalmente, era algum recado de casa e já não podia fazer a jornada que eu próprio pensara.
- Vem cá, Manel.
Se não visse a mulher chorar, não me tinha aproximado. Ela pôs-me a mão no ombro e, quando olhou bem para mim, os olhos arrasaram-se-lhe ainda mais de lágrimas.
- Vai pra casa, Manel.
Suspirava, enquanto me ia afagando os cabelos.
- Coitadinho! Vai, anda, homem.
Deu-me o peito uma pancada, como se lhe tivessem ensejado com uma pedra em cheio. Quis perguntar-lhe qualquer coisa, mas tudo se me baralhou na cabeça. Os ^companheiros chamavam-me, mas já os não queria ouvir.
-’Vai, Manel!...
Tinha vontade de lhe obedecer, mas sentia medo de ir para casa. Fiquei ainda indeciso alguns momentos, até que uma força maior me deitou a correr como um doido.
Pelo caminho havia vozes que me acompanhavam e eu cada vez corria mais.
- Sabe-se lá como foi aquilo...
- Algum desastre... --Ou deu cabo dele...
Quando ia a chegar à minha rua, vi um magote de gente e parei. Logo depois ouvi gritos e pareceu-me que esses gritos chamavam por mim, que pediam para que eu chegasse depressa. Do grupo houve pessoas que se voltaram mal me viram. Eu levava no peito um grande nó a querer soltar-se, porque, no meu entender, grande desgraça sucedera naquele dia.
Já não havia dúvidas. Rebentaram-me as lágrimas e os soluços. A minha porta estava tapada de gente e compreendi tudo.
com os cotovelos e a cabeça furei caminho e corri para o quarto de meu pai, donde os gritos eram maiores e mais dolorosos. O meu tio não me quis deixar entrar, agarrando-me bem pelos braços.
- Deixe-me, tio, deixe-me...
À minha volta as pessoas choraram mais, tendo todas um afago e uma palavra para mim. Mas não era isso o que eu queria.
- Eu sei, tio, o meu pai morreu. Deixe-me, tio...
E como ele teimasse, enrolei-me no chão, mordi-me todo, e gritei quanto podia.
Durante muito tempo não vi aquele homem com bons olhos.
Foi muita gente ao enterro do meu pai e o Sr. Soromenho também. Para quem o quis ouvir, ele disse do meu pai o melhor possível e puxou de dinheiro e deu a minha irmã.
- Era a um homem honrado, eu que o diga. Fraco de cabeça... Se ele me tem dito que tinha a vida atrapalhada... Era homem de poucas palavras...
Não sei porquê, apetecia-me mandar calar aquele homem e pô-lo fora da porta. As suas palavras magoavam-me. Mas parece que por isso mesmo ele se chegou para mim e fez-me uma festa na cara.
- Tem juízo, Manel. Quando fores homem, dou-te uma fanga.
Aquela oferta era assim como a convidar-me a ter um fim igual ao do meu pai. Ele percebeu nos meus olhos que o odiava. E vi-o contrafeito, como se de repente lhe tivesse chegado um rebate de consciência. A minha mãe ralhou-me por isso.
- Deixe-o lá. Está triste, é natural.
E voltando-se para a minha mãe e para a Anita, disse de Maneira que todos o ouvissem:
- Se precisarem de mim... A porta está sempre aberta para a família do Caixinha.
Quando saiu, abriram-se alas para ele passar e todos lhe baixaram a cabeça com respeito. Depois ficaram a dizer bem dele, porque era uma grande consideração o Sr. Soromenho ter entrado na nossa casa.
Passados dias chamou a minha mãe e informou-a de que ia passar a fanga para outro homem. À noite quando se falou nisso, eu vi bem que não me enganara com ele; prometi trabalhar tanto quanto pudesse. com 11 anos incompletos pouco arranjaria que fazer. Porém, as Praias lá estavam para dar alguma coisa, mesmo com os guardas à vista. Houvesse o que houvesse, tinha de fazer o meu lugar de homem da casa. A minha avó Caixinha disse-mo, mas eu já o pensara antes e fiquei satisfeito com isso.
Arranjei um lugar de guardador de ovelhas; embora fosse serviço morto, fui-me habituando. Pela manhã ia buscar o rebanho ao curral, levava-o para o pasto, e todo o dia só conversava comigo, o que era um martírio para quem sempre gostou de companhias. Apesar disso andava orgulhoso do meu trabalho, pois, de cacete na mão e barrete enfiado na cabeça, julgava-me um homem. Inventei divertimentos de toda a espécie para que o tempo custasse menos a passar. Fiz uma flauta para tocar, igual à que o Buraco me dera, arranjei atiradeiras de paus com força e ajeitei bicos para descamisar, distribuindo-os pelas cachopas companheiras da minha irmã.
À noite tinha de tratar da cama do gado e ajudava a alguns serviços no pátio, pois na casa daquele patrão nem horas de sol havia. O carreiro, por exemplo, começava na lida às cinco da manhã e à noite ainda andava de pé. Muito raramente ia dormir na sua cama, porque tinha de ficar no palheiro à espera de ordens. Andava por isso sempre a cair de sono, tendo de vez em quando de lavar a cara para não adormecer. Cada vez o via mais magro e derreado, e muitas vezes o ouvi queixar-se da labuta a que o obrigavam. Mantinha uma ranchada de filhos; e patrões que dessem pão certo não abundavam na Golegã.
Uma madrugada, na época das eiras, baldeou de um carro abaixo, e ficou muito ferido nas pernas, apesar de todos dizerem que andara com muita sorte em os animais não lhe passarem por cima. O patrão bramou com ele e falou em despedi-lo. Exemplos daqueles arrefeciam o meu entusiasmo pelo trabalho e entristeciam-me. Porém, como era garoto e nessas idades os desgostos não vão muito ao fundo da gente, lá continuava na mesma.
O filho do patrão era quase da minha idade, embora tivesse mais corpo, e, algumas vezes, vinha para junto de mim ver-me tratar do gado e falar-me do colégio em que andava a estudar. Era simpático e parecia que tinha por mim um certo respeito. Talvez por me ver trabalhar ou porque me supusesse capaz de vencê-lo, se andássemos à briga. Mas um dia deu-lhe a veneta de andar às minhas cavalitas; e eu que por brincadeiras era capaz me dar cavalaria, assim à força, não me dispus a acatar-lhe a ordem. Puxou-me por duas vezes, deitou-me o barrete ao chão e acabou por me atirar um pontapé a uma perna e abalar para casa. À boca pequena chamei-lhe um nome, cresceu-me vontade de correr em cima dele e estafá-lo a cacete. Fiquei-me só na vontade; todo aquele dia as ovelhas andaram num badanal, pois não pude levar à paciência uma desfeita daquelas, tanto mais que o tinha noutra conta. Ainda por cima fez queixa de mim ao abegão; valeu-me este que fora um grande amigo do meu pai, senão a porta da rua seria logo o meu caminho.
O carreiro falou comigo acerca daquele incidente, numa noite em que nos encontrámos no palheiro.
- Estás servido, Manel. O menino tomou-te de ponta...
Continuei a passar as palhas com a forquilha, como se o não tivesse escutado, certo de que iria ouvir outro responso.
- Isto cá em casa tem de se fazer o que eles querem, senão...
Só então encarei o meu companheiro, ao compreender o tom azedo com que dissera aquelas palavras. Mesmo assim não fui capaz de lhe falar na minha danação, pois, em tal idade, a gente não sabe dizer as coisas como as sente.
- Vê se deitas o olho a outro serviço, Manel. Olha que quando menos esperares, levas um capote.
Na nossa gíria apanhar um capote é sermos dispensados de um amo, se ele entende que não lhe fazemos o trabalho com jeito. É claro que o facto corre de boca em boca, e de patrão em patrão, ainda mais depressa, até que começam a encontrar-se dificuldades para haver quem nos queira pagar jorna.
- Mas eu não fiz nada, seu Joaquim.
- Pois por isso mesmo, homem. A gente tem de andar debaixo de toda a rama, sem cuidar se é cristão ou besta de carga. Não viste comigo?...
Então avantajou-se o caso passado com o meu companheiro; senti mais forte a convicção de que perdera a independência e nunca mais a encontraria para o resto da vida. Lembrei-me do meu pai, do meu tio e de muitos outros. Todos os homens de trabalho da Golegã andavam sujeitos à mesma carga e isso deu-me uma certa resignação naquele momento.
- Tu sabes ler, Manel?
- Não senhor.
- Estamos quase todos na mesma.
- E gostava, seu Jaquim. com o ler sabe-se muita coisa.
- É coisa boa, é. Olha ao Barra é que eles não fazem ninho atrás da orelha. Pega num livro e leva-a de ponta à ponta. Anda para aí muito doutor que sabe menos do que ele. O vinho é que deu conta daquela cabeça. Mas antes... Davam-lhe trabalho só para o não ouvirem; traziam-no sempre nas palminhas.
O carreiro foi à porta do palheiro espreitar o pátio; como não visse quem nos incomodasse, sentou-se num irreio da carroça e continuou a conversa.
- Há aqui uns anos os patrões começaram a fazer-se finos com as jornas. Os abegões iam às praças e ofereciam menos, dizendo que os barrões davam o mesmo trabalho por metade do dinheiro. Andava aí tudo levantado, mas ninguém sabia o caminho a tomar. Foi ele quem se pôs à cabeça do povo.
Naquela altura eu pouco percebia das palavras do carreiro. Até na minha entendia que era má ideia chamar o ódio dos amos, pois só eles punham e dispunham da nossa vida.
- Agora anda para aí tudo sem coragem. Um homem sozinho não faz nada e cada um tem de se aguentar comopode. Tu tem conta...
Como já estava mais à vontade, fui-me abrindo.
- Aquele filho da mãe até me deu um pontapé, seu. Jaquim. Se fosse na rua, comia-lhe as orelhas. Mas cá dentro do pátio...
Foi então que chamaram por mim, aparecendo-me o patrão com o menino. O carreiro desbarretou-se para receber ordens e eu fiz o mesmo, embora compreendesse que tinham vindo ali por minha causa. Enquanto o patrão falava com o meu companheiro, continuei a passar palha com a forquilha, olhando de banda para ele. A lanterna dava uma luz muito fraca e eu não sabia se a disposição do Sr. Carlos era boa ou má. Ele andava a cheirar todos os cantos, como para prolongar a conversa que havia de ter comigo. Por fim resolveu-se. Pôs a mão no ombro do filho e mandou-me parar o trabalho. - Tu sabes quem é este?...
- Sei, sim senhor, patrão.
- O que é que lhe fizeste?...
- Nada...
Ele viu modos agressivos no meu embaraço e começou a gritar, pondo-se muito vermelho. O menino sorria orgulhoso da sua vitória. A cada momento eu compreendia melhor a necessidade de me justificar, mas cada vez estava mais embaraçado, baralhando-se-me as ideias, sem saber por onde principiar.
- É meu filho, ha?!... E não admito que malandro nenhum se meta com ele. Quem quiser ganhar o meu dinheiro, tem de respeitar os meus. No sábado...
Derreou-se-me o corpo, tinha a cabeça que nem um sino. Desceu por mim abaixo um grande frio; o frio mais frio que senti ainda em toda a minha vida.
- ... recebes a féria e procuras patrão. Cá não tens nem mais uma semana. Começas cedo...
Voltou costas, atirando um boa-noite ao carreiro. Atrás dele, saltitando para o acompanhar, o filho virou-se para mim numa desafronta, querendo humilhar-me. Fiquei especado, como se tivesse perdido a noção dos movimentos ou, à minha volta, o mundo desabasse. Quando os julgou longe, o carreiro falou-me em voz baixa:
- Eu não te dizia, Manel! O abegão já me tinha dado um zunzum.
- Mas isto não é capote, seu Joaquim, pois não?!... Só isso me importava. A consciência de fazer mais do que podia era a minha satisfação. Só mais tarde percebi a tolice desse orgulho, que me saía do corpo e chegava em dinheiro às mãos dos outros. Por mim, nunca ganhei mais por isso.
- Sim, dá capote... Mas é pior, Manel. Dão-se por aí de inventar uma história qualquer e vês-te e desejas-te para arranjar outra casa.
Boa razão tinha o carreiro para falar assim. Minha mãe ralhou-me muito quando lhe contei; à noite bateu-me, pois tinham-lhe dito que eu chamara nomes ao filho do patrão e lhe dera um pontapé.
- Agora cá estou eu para te dar de comer. Ficaste para me ralar. Se tens ido com o teu pai...
Era doloroso ouvir dizer aquelas coisas, quando sabia nada ter feito para merecê-las. Andei de portão em portão a pedir trabalho, cheguei-me aos amigos do meu pai, mas ninguém me pôde valer. Os lugares de pastor eram disputados; para o que eu deixara, já se tinham proposto alguns quatro rapazolas. Cheguei a arrepender-me da insubmissão, mas acabei por reagir e ficar contente comigo. O meu avô Sebastião também assim fora e eu era parecido com ele; mais parecido do que o meu pai, que se dobrava a tudo e acabou daquela Maneira.
Passei a dar volta pelas Praias, iludindo a vigilância dos guardas; temente primeiro por falta de hábito, mas afazendo-me, a pouco e pouco, aos sustos e às correrias. Era ver de manhã por todos os carreiros, estradas e carris que dão para o campo, mulheres e rapazes de saco debaixo do braço, à procura do sustento do dia. De fome não se podia morrer e cada um era obrigado a ganhar a vida, mesmo com o perigo da cadeia. Já nos conhecíamos uns aos outros e ríamos e cumprimentavamo-nos nos encontros que tínhamos, dando indicações aos companheiros, se sabíamos da posição dalgum guarda. Entre todos havia uma grande camaradagem e ajudávamo-nos naquilo que podíamos.
Um dia salvei eu uma velhota, a Ti Maria Libânia, de cair nas mãos do administrador. Como via pouco, não dera pela aproximação do António Castelo, que era o guarda mais danado de todo o campo da Golegã. Quem fosse apanhado por ele, já sabia que não lhe ganhava o perdão, por muita lamúria e choro que fizesse.
- Peçam-me. Se eu puder, dou - dizia ele.
Mas o António Castelo nunca dava um nico de qualquer coisa. Eu ia a passar pelo carril, levando o meu saco dentro da camisa, sem me ter estreado, pois andava ainda a escolher sítio para poisar. E vai então dei com u António Castelo a fazer pés de lã, de cacete às costas e a sorrir da presa que ia fazer. A velhota preparava-se para vir ao carril; oculto com o canavial e uns silvedos, cheguei-me junto dela e tirei-lhe o saco das mãos. Fiz-lhe sinal que o guarda se aproximava e, em voz baixa, disse-lhe para gritar, enquanto eu deitava a correr que nem ’ima lebre, direito à estrada.
- Ah, malandro!... Ah, malandro!...
Esperei por ela e então é que soube como tudo se passara.
Mal a ouvira gritar, o António Castelo viera que nem um eiró e deitara-lhe a mão, pondo-se a perguntar-lhe o que sucedera.
- Foi um rapazeco que me roubou o saco, António.
- Vossemecê já tinha feito colheita?!...
- Eu não, homem de Deus. Andava por aqui a ver se te encontrava, para te pedir alguma coisinha. Mas esta vista...
Meio desconfiado, o guarda rebuscara entre o canavial e o silvedo, e, como nada achasse, ficou convencido. Então, pela primeira vez na vida, o António Castelo deu ordem para a Ti Maria Libânia apanhar umas pêras do chão.. Mas queria saber quem era o rapaz.
- Eu sei lá, homem! Ele parecia-me mais um lobisomem que gente. Passou por mim que nem um rabo devento, não fui capaz de conhecê-lo.
Rimo-nos ambos e mais a filha, que era viúva do João Grande, morto com uma infecção apanhada numa eira com os bicos duma forquilha. Jantei com ela nessa tarde e fiquei a dispor da sua amizade. Depois contou-me que namorara o meu avô Sebastião. Falou-me dele durante muito tempo. Esqueci-me das horas; quando voltei a casa, só encontrei cães vadios e bêbedos. Mas então eu já não. tinha medo nem de bêbedos nem de cães.
VIERAM as eiras e a minha irmã arranjou para eu ir trabalhar no Joaquim Honorato. A vontade de ganhar a vida era cada vez maior, mas repugnava-me aceitar alguma coisa daquele homem, depois do que me tinham dito. De madrugada lá fui e tomei conta da égua que puxava as palhas para a enfardadeira com um rodo de madeira a que a gente chama burra.
A colheita daquele ano fora um mimo e os molhos de trigo faziam uma montanha de pão. A locomover não parara, de sol a sol, e a debulhadora nunca mais estava farta de engolir espigas e deitar bagos para o carro. Quatro raparigas - a minha irmã era a rainha - acarretavam os molhos para o frasca! e dali um homem levava-os a ponta de forquilha para cima, onde o rapaz os desatava, para entregá-los ao aumentador. Ali é que era dar tudo, sem ter licença para limpar o suor e olhar cá para baixo. De tantos em tantos carros, os três eram substituídos e iam deitar-se debaixo de uma árvore depois de beberem uma grande golada de água da bilha. O maquinista vigiava a locomover, mandava o ajudante meter lenha na fornalha, e o trabalho seguia sempre, levado o movimento pelas correias grandes à debulhadora e à enfardadeira. Alguém que quisesse dirigir palavra a outro companheiro tinha de gritar; as cantigas das cachopas mal se ouviam nomeio daquele barulho.
Eu lá continuava na minha faina, sempre pelo mesmo caminho, já farto de pó e de palhas miúdas que se metiam dentro da camisa e das calças, e me enchiam de comichão. Isso me fazia olhar admirado para os dois homens que estavam na enfardadeira e, às vezes, não me pareciam gente. Os fardos eram empilhados a um lado, os carros de cereal eram despejados a outro. De vez em quando o abegão que dirigia o trabalho metia a mão ao monte de trigo e falava com o maquinista. Para cada pessoa aquele diabo tinha sempre um defeito a pôr no trabalho.
-’Cuidado com esses molhos!...
- Desata-me isso mais depressa!...
- Tu vê lá como metes essa forquilha! Esbandalhas tudo!...
A minha irmã respondeu-lhe que os molhos eram muito pesados e as cordas não aguentavam. Mas todos os outros se calaram com os seus reparos.
- És mesmo Caixinha!...
A mim disse para andar mais devagar com o animal, porque aquilo não era eira de favas. Quando voltou costas, atirei-lhe um tal modo de olhar que se os olhos tivessem força, ele baldearia com certeza. E em todo o dia, só com os intervalos para comer qualquer coisa, ninguém parava um momento, a não ser os três homens da debulhadora.
O patrão vinha de vez em quando espreitar o trabalho; olhava muito para o monte de trigo e tinha sempre um dito para a minha irmã. Para qualquer coisa que lhe fosse preciso, não sabia chamar outra pessoa.
- Anita, dá-me um púcaro de água!
- Anita, sacode-me aqui o casaco!
Do meu lugar eu acompanhava-lhe os gestos e percebia bem a intenção com que ele lhe falava. Apetecia-me largar a tarefa e abalar, porque me sabia mal o dinheiro ali ganho. Mas ninguém seria capaz de me perceber e diriam que eu não gostava do trabalho.
Às vezes ele abeirava-se de mim para me dizer qualquer coisa e fazia-o de Maneira diferente da que usava para os outros trabalhadores. Punha-me a mão no ombro, perguntava-me se estava satisfeito com o meu lugar e sorria-se muito. Eu só lhe respondia com meias palavras. Quando ele abandonava a eira, saía-me do peito um grande peso.
Numa tarde, depois da máquina apitar para o fim do dia, já o Sol se pusera havia um bom pedaço, o patrão pegou-se a conversar com a Anita e, embora não percebesse o que lhe dizia, adivinhei pelas atitudes dela que não era boa coisa. Reparei até que lhe voltou costas e quando chegou ao pé de mim e das companheiras vinha com um modo triste, olhos no chão e muito corada. Mal me achei com ela em casa, fiz-lhe a pergunta, mas tentou desviar o rumo que eu lhe dava.
- Já sei, Anita! É ele que não te larga.
Fez-me que não com a cabeça, porém os olhos diziam tudo e senti necessidade de desabafar:
- Se ele te disser mais alguma, mete-lhe a forquilha no bandulho, Anita! Faz queixa à mãe... Se quiseres, eu digo ao tio ou à avó...
- Não é isso, Manel...
Eu bem sabia que o seu mal era só aquele e que ela não mo queria confessar por eu ser um rapazote.
- Eu sou capaz, Anita...
Voltou-me as costas, num repente, meteu-se no quarto e fechou-se. Bati, mas não quis abrir. Ouvi-lhe os soluços, muito baixinho, e parecia-me que estava a ver os seus olhos cheios de lágrimas. A minha mãe tinha saído a ganhar dois quartéis numa horta e ainda não voltara. Mas ouvi-lhe a voz na rua e, quando fui espreitá-la para lhe dizer tudo, via-a a conversar com o Joaquim Honorato.
Aí pelas alturas de Outubro que entrei na Maracha, à noite, pela primeira vez. Lemhro-me disto bem, porque a Anita e outras cachopas foram comigo, depois da volta do olival da D. Aurora onde andávamos a apanhar azeitona de terço. Combinou-se aquela surtida no trabalho; logo a seguir à ceia, reunimo-nos todos em casa da Mariana do Enfartado, que ficava mais no caminho para todo o grupo.
A pouco e pouco é que eu sentia melhor a falta feita por meu pai, pois na altura da sua morte talvez chorasse mais por ver os outros do que por mim próprio, embora dentro de mim, mesmo ao meio do peito, eu tivesse notado um grande vazio, assim como se me tivessem arrancado tudo quanto lá guardava. Minha mãe, sem os seus reparos, estava cada vez pior para mim e para a Anita, embora ultimamente mudasse muito quanto à minha irmã. Não a largava, procurava adivinhar-lhe os desejos, falava-lhe pelos cantos num ar misterioso, evitando sempre que eu ouvisse o que dizia. Essa atitude amargava-me muito, tanto que algumas vezes comecei de embirrar com a Anita por causa disso, embora lho não dissesse. Então ia para junto da minha avó” Caixinha, que me afagava muito, procurando ver-me bem com os dedos, já que a vista lhe começava a faltar e nem podia fazer meia ou remendar os trapos da casa. Falávamos pouco, mas entendíamo-nos muito bem. Ela calculava porque ia eu procurá-la e punha-se a repetir muito o meu nome.
- Ora o Manel!... Ora o Manel!...
A lembrança da morte desgraçada do meu pai fazia-me pensar que algum dia também ela ia desaparecer e eu ficaria sem mais ninguém que me compreendesse sem falar, porque naquelas idades a gente diz com os olhos tudo quanto não é capaz de dizer com a boca. Essa certeza entristecia-me, amaciava-me o corpo, dava-me uma grande vontade de chorar no regaço da minha avó.
- Ora o Manel!... Ora o Manel!...
Depois, para disfarçar as preocupações, pois eu também lhas compreendia no meio do seu enleio, fazia-me perguntas à toa, contava-me histórias já decoradas, e acabava por ficar silenciosa, só a mexer os dedos no meu cabelo e na minha cara.
Era assim, dia a dia, que a morte do meu pai se avantajava na minha vida.
Mas naquela noite, acabada a ceia, fomos para a Maracha, o que para mim era jornada de muito agrado, pois ouvira falar bastante nas peripécias ali passadas com os guardas e as pessoas em busca de lenha. Algumas das raparigas levavam serrotes para cortar algum pedaço menos jeitoso de safar; a Maria da Luz, sempre de carinha na água, não acabava com as suas risotas e os seus ditos, principalmente para a Gertrudes Redola, que ia também pela primeira vez para aqueles lados e àquela hora.
- vou a tremer toda.
- Não estejas assim cachopa que eles não comem gente.
- Mas levamos alguma trancada...
- E a gente dá-lhes outra.
- E depois?!...
- A cadeia não se fez pra cães.
Eu também, diga-se a verdade, não ia naquela altura muito afoito. De dia achava aquilo mais natural, menos sujeito a reparos de quem quer que fosse e sem perigo de meter administração. O sol parecia-me uma boa testemunha das nossas colheitas e já me habituara a saltar as sebes e a correr os atalhos e as estradas. A pouco e pouco ia-se destemperando a alegria sentida, quando me convidaram e, embora nada dissesse, como a Gertrudes, ficava-me para trás, porque era lugar mais seguro para deitar a fugir. A Maria da Luz era a única que falava e ria.
- Uma vez... Ah, cachopas!... Isto é que foi uma. A minha mãe tinha uns coelhos e eu peguei numa saca e numa foice e fui à procura de comer para lhes dar. Olho aqui, olho acolá, dei com um relvão muito lindo que até apetecia uma pessoa deitar-se-lhe para cima, a dormir. Como não vi ninguém, toca. Foice a cortar e mãos a meter na saca, foi um virote. Estava tão regalada a pensar na ceia que ia dar aos bichos, que nem reparei no guarda, um lobazana grande, alto como um salgueiro. Eh, rapariga!... Quando me voltei e dei com ele, estive para fugir. Mas depois fiquei, porque aquilo era erva e a perca não era nenhuma. «Larga lá isso, anda!»’E vou eu pus-me a pedir-lhe: «Deixe-me levar esta ervazinha para os meus coelhos...»
- Deixaste-a toda?!...
- Pois não, cachopa. Aquilo era aveia. Vi-me enrascada. Mas tanta choradeira lhe fiz que o homem lá me deixou abalar.
Ela riu-se muito e as outras fizeram-lhe companhia, menos a Gertrudes Redola, que se pusera a meu lado, a olhar-me de vez em quando, não sei se por eu ser rapaz e se julgar mais segura ao pé de mim, se por ter visto que também não ia lá muito decidido.
- Ainda por cima, mal cheguei a casa e contei tudo a minha mãe, apanhei uma feira de cinco dedos na cara que ainda parece que cá está o vergão - continuou a Maria da Luz.
com a aproximação da Maracha, dividimo-nos em três grupos, ficando eu com a Anita e a Maria da Luz, pois já se viam as fogueiras acesas pelos guardas, que com elas se orientavam melhor para apanharem quem lá entrasse. A noite estava boa para a surtida, uma vez que a Lua não aparecera e a escuridão se fechara de todo, não se vendo um palmo à frente do nariz. Como andávamos descalços, os nossos passos mal se sentiam, mas mesmo assim eu tremia todo quando alguma folha rangia debaixo dos nossos pés ou algum ruído chegava aos meus ouvidos. Assim, no meio das trevas, todos os barulhos insignificantes parecem trovoadas e o medo ajuda ainda a torná-los maiores.
A passo e passo, parando de vez em quando para tentarmos penetrar na noite, íamos caminhando sempre para diante e cada vez a respiração me saía mais apressada, apesar de procurar segurá-la no peito, fechando a boca. A alguns metros, uma fogueira erguia-se e toldava-nos a ista. Ficámos os três juntos, curvados e quietos, olhos e ouvidos atentos à espera da certeza, para continuarmos a jornada por ali ou metermos por outro lado. Não sei se a Anita, se a Maria da Luz, pôs-me a mão no ombro e por um pouco não dou um grito, pois, de repente, pareceu-me a mão de um guarda a apanhar-me. Perdi a noção de tudo o que me rodeava e demorou um bom bocado, primeiro que me refizesse e fosse capaz de ganhar entendimento.
com a continuação, a vista habituou-se à noite, e nunca pensei que no meio da escuridão se pudesse ver tanto como se via. Mas é que eu via até de mais, pois, uma vez por outra, julgava adivinhar vultos encaminhando-se para nós. A Maria da Luz é que me sossegava, tanto se habituara já àquelas andanças. Quando lhe pareceu, saiu de ao pé dos dois e deu uma corrida em direcção à fogueira. Eu e a Anita chegámo-nos mais, procurando assim ganhar ânimo, e daí a pouco vimos as labaredas baixarem e a fogueira perder a vivacidade. Estava feito o pior trabalho. - Venham!...
Eu não podia dar um passo, tive de me aproximar. Se o meu avô Sebastião pudesse assistir ao meu enleio, ficaria envergonhado de mim, pensei naquele momento. Isso deu-me mais coragem. Depois lembrei-me de que aquilo não era jornada nova na Golegã e não hesitei. De serra em punho, as duas atiraram-se a uma ramada caída no chão, enquanto eu enfaixava, o melhor que sabia, toda a lenha que ia apanhando.
Sem a ajuda da fogueira, o guarda desorientara-se e podíamos, então, trabalhar mais à vontade, embora eu não deixasse de percorrer a escuridão, procurando adivinhar-lhe o vulto. Lá ao longe, outra fogueira apagou-se e isso era sinal de que outro grupo tinha começado a recolha. Naquele momento já não dava pelo ranger das folhas debaixo dos meus pés nem o passar do vento na ramaria das árvores. Parecia que dentro de mim havia um barulho maior do que tudo, embora estivesse afoito e não temesse a chegada do guarda.
Quando as duas acabaram de cortar a ramada, eu aprontara três feixes; a volta não demorou mais que o tempo de carregá-los à cabeça. Quem passou a ter mais cautela foi a Maria da Luz, que nos disse ser coisa de uma pessoa se afogar se aparece alguém quando se vai carregado. A mim já me apetecia assobiar, porque, em meu entender, estava alcançado aquilo que tantos tremores me dera.
Mal nos achámos longe, a Maria da Luz voltou a galhofar; então, achei graça aos seus ditos e ri bem mais do que Anita, toda metida consigo, assim com modos de quem levava pesares. Durante algum tempo esperámos pelos outros dois grupos; logo que nos reunimos, voltámos à Baralha, como se viéssemos de cometer um grande feito, embora procurássemos evitar que alguém nos visse, pois olhos de inveja não faltam.
Nunca mais me esqueceu essa noite, não só pelas impressões deixadas pela Maracha, como ainda porque minha mãe, à hora de deitar, disse que era melhor eu ficar sozinho, pois já era um homem e mal parecia dormir ainda acompanhado.
A minha irmã fizera-me um sinal e eu percebera que ela não queria abandonar-me. Teimei, pus-me a chorar e acabei por vencer. Minha mãe deixou-nos, muito furiosa; ao meter-me na cama, perguntei à Anita qual a causa do seu aceno de cabeça. Não me explicou, mas duas noites passadas eu conhecia o seu segredo.
A CORDARA de súbito. com medo de despertar a minha irmã, ficara muito quieto no meu lado, embora me apetecesse puxar a manta mais para mim, pois a noite estava fria e só com aquela coberta sentia-me enregelar. O vento assobiava nas telhas e rumorejava na figueira do quintal. Afastado o sono, pus-me a pensar em milhentas coisas, daquelas que povoam as cabeças dos rapazes dessa idade. Trabalhar muito, forrar dinheiro e fazer ver a toda a gente que era um homem, capaz de chegar para a situação criada com a morte do meu pai. Como uma vez me dissessem que havia homens ricos nascidos do nada, levei a fantasia para esse lado e sonhava-me com casa e terras minhas, mesa farta, mulher recatada e filhos bem criados, tendo escola, como o do meu patrão onde fora pastor. com a escola lembrei-me do Barra e fiz opropósito de procurá-lo para me ensinar umas letras, pois queria tentar por mim aquilo que a minha família não me podia dar.
A minha irmã continuava a dormir, movia-se, abria os braços, tinha tremuras no corpo, mas depois aquietava-se e voltava ao respirar sossegado. Veio-me à ideia que ela era moça casãdoira e não faltariam rapazes para lhe arrastar a asa, como o Zé da Maravalha e o Luís do Calvo, que se tinham pegado numa taberna, a pretexto de trabalho, quando a razão fora só a Anita e nada mais. Lá como bonita eu não via outra e para a lida era desembaraçada, mulher para ajudar um homem, safa de braços para uma eira ou para uma ceifa, para uma apanha de azeitona ou descamisada. Desejei encontrar na vida uma companheira como ela e pareceu-me que entre as cachopas da Baralha não havia alguma do meu tamanho capaz de Se lhe comparar. Naquela altura eu já não brincava aos maridos, embora isso me lembrasse muitas vezes e eu pudesse muito melhor fazer esse papel.
Acabei por me aborrecer daqueles pensamentos e tentei dormir, voltando-me para o outro lado e cerrando os olhos. Mas o sono não chegava, porque dentro de mim dois partidos se formaram: um para descansar, outro para evitar que o fizesse. Assim o tempo passava, embora me lembrasse de que no outro dia tinha trabalho num olival e depois uma apanha de tomate na fanga do meu vizinho Narciso, que, por dó da gente e porque a mulher andava de esperanças, me falara para o ajudar.
com essa ideia resolvi dormir. Já cerrara os olhos e o corpo parecia querer esquecer-se, quando ouvi passos no corredor, a porta do quarto ranger e alguém entrar. Apertei os braços no peito, e pus toda a atenção no silêncio, pois estava de costas e não podia voltar-me. Ainda hoje não sei explicar qual o motivo que me levou a proceder assim. Isso de pressentimentos são coisas que calham, porque as maiores desgraças da minha vida nunca me foram avisadas. O que é certo é que me não voltei e fiz de conta que estava ferrado no sono.
- Anita!... Anita!...
Senti que a sacudiam, pois, embora levemente, a cama estremeceu. Conheci a voz da minha mãe e não me aquietei, não sei porquê.
- Olha, Anita!...
A minha irmã moveu-se, deu de repente um grande salto, sentou-se num virote e começou a dizer palavras soltas.
- Cuidado com o teu irmão...
Sobressaltei-me com o aviso e o coração começou a bater com uma força capaz de me partir o peito. Queria ouvir melhor e aquele baque era como um mangual dentro de mim, a bater cada vez com mais força. Naquela altura não escutava o ramalhar nas telhas e na figueira, nem o caruncho a minar as portas. Batia-me o coração e descarregavam-se-me na cabeça as palavras de minha mãe.
- Cuidado com o teu irmão...
As duas ficaram caladas por momentos, a quererem descobrir na escuridão se eu estava acordado. Respirei ainda mais forte, como se tivesse caído num sono profundo.
- O que foi, mãe?!...
A minha mãe sentou-se na borda da cama, aquietou a Anita e pôs-se a falar. Então é que eu soube por que motivo a minha irmã me fizera aquele sinal.
- Ele está lá fora...
- Ó mãe...
Era dolorosa a voz da Anita; parecia que lhe custaa a passar pela boca. Eu estava tão atordoado por tudo quanto ouvia que nem me lembrei dele.
- Eu só quero o teu bem, filha. É um bom homem... vai ajudar-te muito, ele disse-me. Não terás a vida que eu tive e que as outras mulheres têm.
Não as via, mas adivinhava-as. Minha mãe afagava-a com certeza, e a Anita, sentada na cama, muito hirta, olhos a quererem desvendar o futuro, estava indecisa. Ela deveria saber, certamente, qual a resposta a dar, mas era a nossa mãe que lhe falava e ela temia-a.
-- Vais casar aí com algum bruto que te dá má vida, te enche de pancada e de filhos...
- como a minha irmã não lhe respondesse, continuava para não se calar.
- Depois mesmo assim, se quiseres, casamentos não te faltarão. Ele está lá fora... Levanta-te... O Manel está a dormir que é um regalo. Anda!
Então movi-me e voltei-me para elas, deixando cair um braço em cima da minha irmã. No silêncio do quarto eu julgava escutar o eco de todas as palavras ditas e via na escuridão o vulto de minha mãe debruçado na cama. Quando me julgou pregado de novo num sono profundo, repetiu as mesmas ofertas para deslumbrar. Pegou no meu braço e tirou-o da anca da Anita, dizendo-lhe que não tivesse medo. Eu sentia vontade de gritar, de chamar pela minha avó Caixinha e por toda a gente da Baralha para que não deixassem levar a minha irmã. Mas retinha-me o pavor, a incerteza, qualquer coisa que ainda hoje não sei explicar.
- Eu não quero o teu mal, Anita. Sou tua mãe e como sei o que a vida custa... Anda!...
- Não...
Aquela palavra proferida numa voz apagada, que mais parecia um ruído brando do vento, entrando pelas frincha* das telhas, gritou na noite como um brado capaz de acordar a Golegã.
Ficou-me nos ouvidos por tanto tempo que ainda agora a ouço e hei-de ouvi-la toda a vida, enquanto tiver entendimento. Naquele não, minha irmã dizia tudo quanto havia para dizer a minha mãe. Custa-me a largar esta palavra, mas aquela mulher era a minha mãe.
Desde essa noite a vida tomou para mim outro sentido. Tornei-me duro, julgo até que não sei rir, e as coisas belas que penso ou vejo ficam todas dentro de mim guardadas a sete chaves. Mas não descreio da vida como muitos velhos com quem converso. Julgo que um dia as mães como a minha hão-de desaparecer da terra...
Na manhã seguinte levantei-me ainda mais cedo do que era costume e só abalei de casa quando a Anita saiu. Só tive pena de não poder acompanhá-la ao trabalho e ficar a guardá-la todo o dia, para que ninguém a tentasse com promessas. Não me esquece o olhar que pôs em mim, como a tentar descobrir se eu tinha ouvido as palavras de minha mãe. Esta é que não deixava de lhe dar apaparicos, sempre à sua volta. Para mim nem olhava, porque os donos da Golegã só pretendem de saias.
Durante o dia não tirei o sentido da cena passada e as sensações batalhavam dentro de mim, sem saber qual o caminho a tomar. Temia levantar escândalo, saber que a minha irmã seria tratada pelas portas com nomes maus, mas receava também não poder guardá-la sozinha. Ela talvez fosse capaz de se não deixar arrastar e os dois poderíamos fazer frente à minha mãe e ao Joaquim Honorato. Mas se a não largassem... eu sabia lá. Distraído com estas preocupações, ouvi ralhos do capataz do rancho da azeitona e das mulheres que comigo andavam e me diziam parvo de todo. Ao almoço nem comi. Abalei numa corrida até onde a Anita andava e só voltei depois de a espreitar e ver sentada a comer. Tinha, porém, um modo triste - olhos postos no chão e cabeça pendida.
«Se não andas mais ligeiro, dou-te um capote» foi o. que no resto do dia me disse o capataz, de olho sempre posto em mim, como um cão danado à minha guarda. Mas o que podia eu ouvir ou entender nesse momento?
À largada do trabalho, Sol no poente havia um bom, pedaço, desandei para casa. Não houve conversas de cachopas, nem desafio de rapazes que me fizessem desviar do rumo. Eu queria poder galgar toda a distância que me separava da Baralha, como os pássaros que voavam por cima da minha cabeça. Vencido, punha o olhar no chão, embora não reparasse nas pedras dos caminhos nem nos que me saudavam. Era como se no mundo só eu existisse com aquela pena a abater-me o peito, mas a enrijar-me as pernas para chegar depressa. Não sentia, como nos outros dias, o cansaço a tolher-me os rins e as cruzes, e ia mais cansado do que nunca. Cansado de me saber rapaz e não chegar para defender a minha irmã, cansado de pensar e nada saber que me livrasse daquela preocupação. Só sabia que era preciso chigar depressa, evitar que minha mãe a tentasse, para que ela não dissesse mais aquele não lá de dentro, tão manso que mais parecia um bafo da noite, mas tão forte que contra ele me parecia nada haver na Terra nem no Céu.
Minha mãe, quando me viu entrar, estranhou-me e disse que eu estava cada vez mais bicho e mais bruto. Percebi que ela esperava só uma palavra entre dentes, um arremesso que fosse, para se atirar sobre mim. Quando a vi naquela atitude, julguei-me fraco de mais para lhe fazer frente. Entrou comigo um grande abatimento, uma vontade enorme de chorar... Mas limpei às costas das mãos duas lágrimas que me corriam e criei forças para prosseguir. Não sabia ainda como, mas havia de continuar até ao fim, fosse como fosse... O homem de casa era eu e essa obrigação tinha de ser cumprida.
Mal a Anita chegou de cesta no braço, deixando atrás de si a gralhada das companheiras, a minha mãe meteu-se com ela no quarto e fechou a porta. Passeei no corredor, não sei quantas vezes, encostei o ouvido à parede, bati-lhe com os punhos com ganas de deitá-la abaixo. Não passava uma palavra, um ruído único para me sossegar ou dizer-me que a Anita já estava convencida e eu tinha de intervir. Até o barulho do caruncho a devastar a casa não se ouvia. Não vinha da rua o sinal da passagem dum animal ou dum carro; não silvava o vento nem as galinhas cacarejavam no quintal. Tudo mudo; só os meus sentidos gritavam desespero.
- Mãe.
Mesmo assim não me responderam. Cresceu-me vontade de rebentar a porta e separá-las.
- Mãe.
O eco do meu grito encheu a casa toda, passou aos meus ouvidos, vezes sem conta; ficou no ar por largos momentos.
- O que é?...
Só então me lembrei de que nada tinha para lhe pedir e que pudesse dizer. Atropelaram-se protestos na minha cabeça, abria a boca para falar e logo a fechava, arrependido. Acabei, finalmente, por vencer aquele tremor que me viera num instante.
- A ceia, mãe.
- Espera se queres, se não queres, vai andando. Maltês!
De novo veio o silêncio. De novo me achei impotente para salvar a minha irmã. Se continuasse, tinha de contar com as bofetadas e os pontapés, os gritos que chamavam toda a rua e já me envergonhavam, e os nomes que me diminuíam perante os outros rapazes. Mas não podia ficar quieto e calado. Então, sentei-me no chão, e pus-me a bater com um banco na parede, repetindo a mesma palavra, sempre e sempre.
- Mãe! Mãe! Mãe!
Num repente, a porta abriu-se, vi-lhe os olhos rasgados e duros a quererem esmagar-me e a sua mão alçar-se e estalar na minha cara. Bateu-me por toda a parte e de toda a Maneira. Atirou-me com o banco acima, deu-me pontapés e acabou por se deitar sobre mim, mordendo-me as orelhas. Depois, como a porta se enchesse de gente, largou-me e pôs-se a gritar, dizendo-se desgraçada e que era uma maldição que lhe caíra em casa. Falou no meu pai e chorou, para logo voltar a chamar-me quantos nomes entendeu.
Eu tinha o corpo dorido, mas sentia uma grande vontade de cantar e de rir.
pude cear ao pé dela e a minha irmã é que a convenceu a encher-me um prato com sopa de tomate. Mas não vi nem uma borra de café. Nessa noite nada disso me importava. Comi a um canto da cozinha, como se fosse um cão, e nunca me senti mais homem do que nesse momento.
Noutra altura qualquer, e por menos pancada, teria amarrado o burro e nem uma caçadeira apontada ao peito me faria comer, por muita fome que sofresse. Nessa ceia comi tudo e até bati com a colher no prato para beber a última pinga de caldo. Quando a minha mãe se voltava para a lareira, a Anita fazia-me sinais com pena de mim. E eu via na sua cara que devia ter pena dela, porque sofria bem mais do que eu. Estava muito branca, como quando voltara do Paul; tinha umas grandes olheiras, os lábios agarrados um ao outro e dois vincos que lhe vinham de junto do nariz até aos cantos da boca. Nem parecia ela. Fiquei certo de que a conversa fora a mesma da noite passada.
Contra o costume, pois quando se zangava comigo passava dias sem me olhar, a minha mãe deu-se à fala.
- Já comeste?
Estranhei a sua atitude e não pude deixar de erguer a cabeça para ela. Mostrei-lhe o prato vazio.
- Vai para a rua, se queres. E tem juízo... Vê se deixas de me ralar. Já és um homem.
Não era de agradecer o elogio, pois bem percebi a intenção de me afastar de casa. Noutras noites era um inferno para dar uma volta à procura dos meus companheiros. Não era que se importasse comigo, mas tudo fazia para me contrariar.
- Não quero...
- O que passou, passou. Vai lá, anda.
- Não quero...
Voltou a irritar-se; embora não me batesse, porque a Anita se meteu entre os dois, obrigou-me a ir para o quarto.
- Malvado! Raios t’abrasassem!
Aquelas pragas eram ditas duma Maneira tão áspera, como se com elas pudesse desencadeá-las sobre mim. Nada disso me fez desistir. Sentei-me na cama e fiquei à espera da Anita, ouvindo minha mãe a cochichar e ela a dizer que não. Mas, a pouco e pouco, eu sentia que o «não» ia amolecendo e perdia a força da outra noite.
- Vou-me deitar, mãe.
Despi-me num instante e fingi que dormia. Minha irmã entrou e sentou-se na borda da cama, fincando o queixo na palma da mão; ficou assim por largo tempo, sem fazer um gesto nem dar uma palavra. Pensava, decerto, no que lhe tinham dito, e eu desejava penetrar a sua mudez para saber o rumo dos seus pensamentos. Cresceu-me uma vontade de lhe falar naquilo, mas envergonhei-me e não fui capaz. Às vezes, e não sei porquê, custava-me a acreditar que tudo fosse verdade. Desejaria ver-me livre daquelas preocupações, tão serôdias ainda para a minha idade.
Depois de estar assim largo tempo, ela começou a despir-se e deitou-se ao meu lado. Pôs-me a mão na cabeça e adivinhei que ficara mais triste do que antes. Talvez até lhe corressem lágrimas ou talvez aquela carícia fosse uma despedida que me fazia. Encostou a cabeça às grades da cama, e o seu peito começou a arfar muito, como se tivesse dado uma grande corrida ou lhe tivessem pregado um susto. Alarmado, movi-me na cama e cheguei-me mais para junto dela, deixando cair sobre si um braço. Pareceu-me senti-la estremecer toda, mas logo se pôs a afagar-me a mão, soltando, de momento a momento, suspiros fundos. Na escuridão, a sua camisa branca alvejava como uma luz.
Cansado do dia, percebi que o sono vinha a chegar e não sabia a Maneira de repeli-lo de mim, pois de olhos cerrados ainda o provocava mais. Porém, temia abri-los, pois entendia que nas trevas eles seriam como um incêndio numa eira, visto de sete léguas ao redor. Falar não podia, sentar-me ainda menos. Tinha de ficar quieto e mudo, mas vigilante sempre. Pelo corpo subia-me cada vez mais um esquecimento profundo. A cabeça esvaída deixava de conter pensamentos e tornava-se uma coisa morta, sem préstimo. Eu precisava então, mais do que nunca, de ter bem despertados todos os sentidos.
Quando ela se deixou escorregar e se deitou, aquietei-me mais. Mas as imagens da outra noite vinham até mim e recusavam-me sossego. Todos os ruídos me pareciam os passos da minha mãe.
«Ele está lá fora! Vem!...»
Ele era o Joaquim Honorato, o homem que mais moças tivera na Golegã e de quem toda a gente falava. bom amo para as raparigas mais galhardas, trinta demónios para quem tivesse de ganhar o pão nas suas terras. Desde o dia em que os meus companheiros falaram dele na alverca, ganhei-lhe medo, fiquei a pressentir que dali viria algum mal para a minha vida. Tinha a certeza naquele momento. Era possível que ele viesse já a caminho da minha casa, fazendo horas para eu dormir e deixar a Anita à vontade, enquanto minha mãe lhe poria a porta aberta para não alarmar a vizinhança.
Então, passei o braço por cima da minha irmã, cheguei-me muito a ela e apertei-a quanto pude. Não sei se estava acordada. O certo é que nada me disse nem se moveu. Abri os olhos, procurei distrair-me, evitando assim que o sono me vencesse e ela pudesse abalar; as trevas não me ofereciam entretém e a fadiga tomava conta de mim. Ainda se assobiasse ou cantarolasse uma moda, era possível afastar o abatimento que me minava. Lembrei-me das noites passadas no palheiro, quando era guardador. Mas aí tinha um companheiro que me contava coisas da vida e podia distrair-me. Ali era pior que estar sozinho. Fechavam-se-me os olhos, relaxava-se o arco do meu braço, pendia-me a cabeça a procurar repouso no travesseiro de palha. Invoquei em pormenor tudo o que me veio à ideia, para continuar vigilante.
«O Barra... A essa hora andaria pelas tabernas, afogando em vinho a sua descrença nos homens. Mais tarde correria as ruas da Golegã, quando tudo estivesse fechado; a falar consigo, passaria a noite inteira, descansando nalgum portal. Havia de lhe pedir para me ensinar umas letras. Andava desde há muito com essa mania, mas ainda não fora capaz de abordá-lo, não sabia se por falta de tempo, se por vergonha... Por tudo isso talvez e por qualquer outro motivo que não podia encontrar. Também à noite é que tinha os meus momentos livres e nessa altura era raro dar com ele em casa.»
No fim destes pensamentos perdi-me de todo e comecei a dormir. Logo acordei sobressaltado, abanando a cabeça e unindo-me mais ainda a minha irmã, receando que ela se evadisse, como o vento por entre os meus dedos. Daí a pouco ouvi-a falar; por mais que quisesse perceber as suas palavras, não fui capaz. Tinham-me dito que quem fala sozinho conversa com o Diabo. Porém, o diabo ali em casa era a minha mãe e ainda não viera. Escutei as suas palavras por muito tempo e, às vezes, parecia aflita, contorcendo-se, como a querer fugir ao meu braço. Cada vez, contudo, a apertava mais, pois julgava que queria sair de junto de mim e ir ter com ele.
- Largue-me!
Só então percebi que sonhava. Sentou-se na cama de um pulo e ficou por muito tempo a reparar onde estava. Depois falou para mim:
- Estás acordado, Manel?!...
Hesitei se lhe devia responder e acabei por ficar calado, procurando fingir o melhor que sabia. Disse palavras sem nexo, dei duas voltas na cama e voltei à mesma posição. Logo que me pareceu, deitei-lhe o braço por cima. Então, ouvi distintamente o que disse:
- Julgava que era aquele malvado.
Daí a pouco, para se certificar se eu a escutara, voltou a falar-me:
- Manel!...
Sorrateira, como se viesse a rojar-se pelo corredor, minha mãe aproximou-se. Voltou a instar, fez mais promessas, mostrou a diferença da vida que levava e da que podia ter. Procurou convencê-la pelos outros, já que a Anita, por si, não se demovia.
- Eu e o teu irmão levávamos uma vida melhor. Eu sei lá o que vai ser dele. Faz-se-me um vadio e ainda envergonha a gente. O seu Joaquim disse-me que o metia como criado e fazia dele um homem.
Foi preciso um grande esforço para me conter. Tinha de aparentar que dormia, quando o meu desejo era gritar e dizer-lhe tudo na cara. Sobressaltei-me ainda mais, pois receei que minha irmã se condoesse por mim e acedesse.
- Não tens coração, Anita. Sendo boa para ti, eras boa para a gente.
- E o povo?!...
Era a primeira vez que minha irmã falava sem dizer não.
- Ora o povo... Quem é que sabe?... Anda!... E pegava-lhe na mão para a levar consigo.
- É um coração de oiro...
A Anita voltou a recusar e minha mãe saiu do quarto, percebendo-se bem, no tom da sua voz, que não ia contente. Mesmo assim não fui capaz de me aquietar. Lutei com o sono e o cansaço durante muitas horas. Algumas vezes deixava-me vencer, para logo acordar num repelão e ficar de vigília largo tempo. Nunca pensei que custasse tanto a gastar uma noite.
Na rua passou uma carroça e entretive-me com o seu ruído nas pedras.
«Quem seria?!... Talvez o compadre Zé Malafaia no carreto da azeitona da D. Aurora.»
Pensei na vida do Zé Malafaia. Nos seus filhos, na mulher, na sua labuta de dia e de noite, na sua cara, na sua perna um poucochinho manca... Fiz como se estivesse a contar alguma história a alguém. Depois de relembrar tudo o que sabia, comecei a inventar. Compadre Zé Malafaia era valente como os valentes. Mais do que ele só o meu avô Sebastião, que morrera na cabeça de um toiro. No Riachos fizera frente a um grupo de homens que o tinha querido assaltar; só com um varapau obrigara-os a fugir direito a Torres Novas. E compadre Zé Malafaia já matara um maltês que o julgara macio, lá por lhe ver a perna manca e o corpo desancado de trabalho.
Como não fui capaz de inventar mais coisas, resolvi pensar que era outro o cocheiro do carro. Fiz o mesmo, mas acabei por repetir as mesmas passagens. O sono não me largava, a por-me ardores nos olhos, a cair-me nas pálpebras, num grande peso, a martirizar-me a cabeça em navalhadas fundas, ora na nuca ora na testa. O braço parecia encolher-se, incapaz de segurar a Anita, fraco como uma verdasca.
Levei assim toda a noite até que o galo da minha vizinha Quitéria pôs-se a cantar, lembrando que o sol não tardaria muito. Estava incapaz de dar um passo e tinha de ir para a fanga do compadre Narciso. Mesmo assim era melhor do que ir para rancho com capataz. Mas se me mexesse pouco, começaria a ganhar fama de mandrião e, mais tarde, por muito que trabalhasse, seria sempre o mesmo. Então, se arranjasse uma alcunha, bem podia mudar de terra, pois os patrões não dão tarefas a homens ou mulheres que levem capote.
Arrastei-me o melhor que pude, para não levantar reparos e, nos momentos de descanso, nem abri a cesta, aproveitando os. bocados de folga para dormir alguma coisa. Até-assim me custava a pegar no sono, como se o facto de fechar os olhos fosse o suficiente para a Anita se perder. Ao ver-me assim, o meu vizinho Narciso atribuiu a modorra a sezões e receitou-me um chá de ervas para beber à noite.
- As maleitas andam agora por toda a parte. Antigamente por aqui só se agarravam no Paul. Mas isto vai tudo mudado. São os homens e as terras... Noutros tempos...
Compadre Narciso falava sempre de outros tempos, como de uma vida muito diferente em que os homens fossem mais felizes. É mania geral de toda a gente lembrar o passado como um bem perdido e que deixa saudades. Eu por mim nunca lhe achei diferença. O passado dos velhos já foi presente e presente de outros que também recordavam os tempos idos. É afinal uma grande desculpa para não procurar, nuns tantos, os males constantes dos homens alugados nas praças.
Compadre Narciso fora um grande amigo de meu pai e, como ele, era um trabalhador que respeitava os amos mais ainda do que a Deus. Falava-lhes submisso, de barrete na mão, como quem agradece a esmola de uma conversa, Queixava-se da sua fanga, sem nunca aludir a quem lhe cedia a terra e vivia do seu esforço e dos outros. Recebia aquilo como uma fatalidade e não levava a bem os que resmungavam da vida dos patrões.
- São pobres e mal agradecidos. Se não fossem eles, a gente estalava aí de fome. Vinham os barrões fazer as fangas todas, como dantes, e o povo daqui estoirava pelos cantos como cigarras.
Eu escutava-o, sem perceber o sentido das suas palavras, e dizia que sim, como faria o mesmo se alguém me falasse no contrário. Ainda não tinha entendimento para perceber completamente as coisas; muito menos ainda naquele dia em que o corpo me pesava umas tantas arrobas.
Quando voltei a casa, tive de ficar alerta e passei a noite na mesma. De manhã não me pude levantar e fui obrigado a mentir, arranjando uma grande dor de cabeça. A vizinha Quitéria veio ver-me, pôs-me a mão na testa e achou que eu estava a arder em febre.
- Algum mau-olhado... Sei lá! Há gente por aí que onde põe os olhos põe o mal.
Minha mãe não era da mesma opinião e não rezou o quebranto, o que muito me agradou, pois já estava a pensar em deixar a cama se a visse nessa disposição. Sarnou-me todo o dia por eu não ir trabalhar, porque a minha doença era mais mândria do que outra coisa. Não deixou de se queixar à minha avó da minha falta de apego ao trabalho. Calculei isso, porque a minha avó me veio visitar e logo me falou, muito chorosa, lembrando-me o meu pai.
- Faz-te um homem, Manel. És ainda muito novo, mas tens de levar a vida doutra Maneira. Tu estás doente?!...
Senti vontade de lhe contar tudo, mas era tão extraordinário o que tinha para lhe dizer que eu próprio, muitas vezes, duvidava se não inventara tudo aqui, numa alucinação.
- Estou sim, avó.
- Olha para a tua mãe e para a tua irmã. Elas precisam de ti, Manel.
- Sim, avó.
- O teu pai era um homem de trabalho. De ti só me dizem mal...
- Sim, avó.
Não era isso que eu lhe queria dizer, mas não fui capaz de responder doutra Maneira. Devia falar-lhe da minha mãe, que era ela quem espalhava essas coisas, sem razão nenhuma, porque não gostava de mim e me queria odiado por toda a gente. A minha avó talvez não acreditasse, embora eu percebesse que minha avó não puxava muito para ela.
- Vê lá, Manel.
Despediu-se muito chorosa, deixando-me duas pêras cozidas para me amimar.
Nessa noite estive novamente de vigia; na manhã seguinte, pouca era a vontade de me levantar. Mas não tive outro remédio, pois minha mãe, embora tivesse mais facilidade do que eu em arranjar trabalho, muito ao raro se dispunha a fazê-lo.
Repetiram-se assim mais três dias e três noites. O capataz acabou por me mandar embora, a pretexto de que o trabalho de rapazes não rendia ao patrão. Eram mais quatro do meu tamanho e fomos todos dispensados. É claro que logo resolvemos dar umas voltas pelas Praias na manhã seguinte, a fim de trabalharmos por nossa conta. Lenha mesmo molhada, resto de tomatal ou horta mal guardada, tudo nos servia.
Tive de ouvir minha mãe nessa ceia, continuei alerta toda a noite, segurando a Anita com o meu braço e, de manhã, lá abalei para o nosso trabalho.
- Aonde vais, Manel?
- vou fazer colheita numa fazenda que trago de renda.
E achei graça à minha resposta. A Anita, não sei porquê, é que ficou muito triste.
ela tinha razão.
Como de costume, eram muitos os que iam procurar nos campos o remédio para a falta de trabalho. Desse modo, os guardas andavam pressentidos; como os dias estavam frescos, não ficavam nas barracas a repousar da vigia. Vinham-nos ver aos caminhos e metiam-se com a gente.
«Então vêm para a apanha, não?» «Vossemecês não têm vergonha de vir roubar com um corpo desses? Levam boa escola...»
Esqueciam-se do tempo em que faziam o mesmo, convencidos de que guarda era emprego para o resto da vida. O pior é que quando chegava a velhice, os patrões mandavam-nos com dono e o fim era igual ao da maioria - sopas, por favor, numa ou noutra casa.
Naquele dia a coisa estava apertada, mas o nosso grupo não podia ficar de braços cruzados, pois o comer não caía do céu e cada um tinha de tratar de si. Fizemos uma ronda completa, até que nos decidimos por um lado. Na horta do Caldeira havia novidades que era um regalo; e enquanto um tratasse de entreter o guarda, os outros três fariam a colheita o mais depressa possível. Depois era dar às pernas e cada qual que se safasse o melhor que pudesse.
Calhou-me a vez.
Os meus companheiros foram esconder-se num canavial, depois de atravessarem um pego, a nado, enquanto eu enfiava pelo carril direito ao portão, pensando na Maneira de segurar o Tóino Ruço o maior tempo que me fosse possível. Eles conheciam também todas as artimanhas usadas e era preciso descobrir outra forma para enganá-los. Ruminei naquilo todo o caminho; quando cheguei ao portão, ainda me não decidira. Então, sentei-me numa pedra e com a ajuda do assobio pus-me a escolher o processo a usar naquele dia. Estava sossegado. Como tinha a certeza de estar a fazer uma coisa justa, os nervos não davam o mais pequeno sinal de inquietação. Entretinha-me a olhar as folhas que caíam das faias e desabrigavam a passarada, deixando os troncos à mostra e as árvores descarnadas.
- Seu Tóino! Seu Tóino Ruço!...
Logo que gritei, fiz uma corrida para perto duma moita, onde ele se escondia quando nós o chamávamos. Usava sempre o processo de não aparecer, dando a impressão de que dormia ou abandonara a horta, para depois, de varapau nas unhas, cair em cima de quem se atrevesse a passar o portão. Como o não visse vir a passo lonceiro, todo encolhido por detrás das cepas, voltei ao mesmo sítio para o chamar. Abanei o portão e gritei mais alto. Os meus companheiros vê-lo-iam sair de casa e, logo que isso se desse, começariam na tarefa.
- Seu Tóino! Seu Tóino Ruço!... E depois com mais força.
- Faz favor!...
Não o tínhamos visto, ele poderia estar deitado ou ter ido à Golegã, à procura de qualquer amanho. Então deveria escarranchar-me no muro para ter a certeza e assobiar para os meus camaradas. Mas mal amarinhei o portão descobri-o logo a espreitar-me por detrás de um monte de esterco. Como demos com os olhos um no outro, não se pôde esquivar e veio pelo carreiro fora, de cajado estendido nas costas e mãos agarrando-lhe nas duas pontas.
- O que é lá?!...
Um cão saltou-lhe à frente e veio a ladrar até junto do portão com farroncas de me engolir. Porém os cães não me metiam medo. Fingi que o temia, afastando-me uns passos e pondo-me a querer amansá-lo para envaidecer o Tóino Ruço.
- Chinho! Chinho!
Fixando-me com o seu olhar matreiro, rijo como pedra, mais rijo ainda para se dar ao respeito, o guarda vinha para mim, balouçando o seu corpo atarracado e forte.
Tirei o boné e pus-me a passá-lo nas mãos, mostrando-lhe receio.
- O que é?!...
- Seu Tóino...
Mastiguei as palavras para ganhar tempo e os meus companheiros poderem encher bem o saco.
- Vinha ver se vossemecê precisava de alguém para a horta.
- Para a horta?
- Sim, senhor. Ando sem trabalho...
- Vinhas fazer gardanho, não?
A sua cara vincou-se de sulcos fundos, enquanto as mãos apertavam mais o cacete. Não me senti muito à vontade, mas tive de continuar. O cão rosnava mais, como» se compreendesse a desconfiança do dono.
- Não, senhor, seu Tóino Ruço. Trabalho é que eu quero.
- Não há cá trabalho. Andor!...
Era cedo ainda para ele abalar e tinha de descobrir qualquer pretexto para segurá-lo ao pé de mim. Se lhe pedisse qualquer coisa e ele ma desse, ficaria ali pelo receio que eu fizesse a mão mais larga.
- Então dê-me umas vides para lume. E instei perante o seu silêncio.
- Só uma braçada, seu Tóino.
Pela primeira vez, Tóino Ruço compadeceu-se de mim. Toda a vida tenho amargurado essa compaixão.
- Entra lá, diabo. Depois não digas donde vais; senão tenho aí a fazenda cheia de gente.
Empurrei o portão e logo o cachorro quis atirar-se às minhas pernas. Foi preciso o dono aquietá-lo para poder pôr mãos nas vides. Estava eu a gozar a certeza de ter feito um bom trabalho - os meus companheiros na horta e eu a arranjar lenha -, quando uma voz de mulher começou a gritar pelo guarda e a dizer-lhe que estava gente a roubá-lo. Fiquei enleado, levantei a cabeça e fixámo-nos. Não sei o que a minha cara tinha, mas logo percebi que ele compreendera que eu era camarada dos outros. À sorrelfa, fui dispondo as coisas para fugir. Os olhos dele é que não se despegavam de mim, fixando-me os gestos, e acabei por deixar tudo e pôr-me a correr. O portão estava fechado. O muro, embora baixo, estava cheio de silvas. Atrás de mim, pega não pega com os meus calcanhares, o cão ladrava, furioso. E ainda por cima o Tóino Ruço tinha a pontaria apurada. Atirou o cacete que me bateu nas pernas e me fez baldear num virote.
- Ah, ladrão!...
Tentei levantar-me ainda, mas já ele me agarrava pela camisa, sacudindo-me com toda a sua força. Pôs-ma num farrapo e deu-me duas punhadas na cara, com tal gana, que julguei ter-me despegado a cabeça.
A mulher veio a correr, chamou-me os nomes que quis e parecia disposta a dar-me maquia.
- Uns homens... Malandros!
- Deixa-o lá comigo.
Deu instruções à mulher para ficar de guarda e obrigou-me a ir com ele. Quando compreendi que me ia levar para a administração, tentei fugir, recusei-me a andar, pedi-lhe por tudo que me largasse. Arrastou-me pelo caminho, deu-me uns tantos murros e não deixou a sua.
- Vais saber como a vida custa, grande ladrão.
Nem as minhas lágrimas o demoveram. Outros guardas vieram espreitar-nos às vedações, rindo-se de mim.
- Hoje houve caçada grande, ó Tóino! Já lá vão mais. E é cada coelho...
- Dá-lhe nas orelhas! Que as mãos não te doam... Caramba!
Não eram os remoques que me importavam, pois ir às Praias arranjar qualquer coisa para casa não deslustrava ninguém. Se os guardas deitassem a mão a toda a gente que lá vai, não chegaria a cadeia para receber o povo. Mas era a primeira vez que me apanhavam e desde muito pequeno eu ganhara um grande respeito pelas grades que deitavam para a praça, mesmo defronte da igreja grande. Ainda hoje, quando ali passo, fico triste e abatido com a recordação das horas que lá amarguei.
Nada demoveu o seu Tóino Ruço. Levou-me como a um cão por aquelas ruas fora, sem cuidar dos remoques que lhe atiravam. Nas Praias, os guardas hostilizavam-me; na Golegã era para ele que iam as reprimendas.
- Larga o cachopo, Tóino, não tens vergonha?...
- Aquilo não é teu, homem. Que vais ganhar com isso?
- Qualquer dia levas um pontapé e tens de fazer o mesmo que ele.
Confortavam-me aquelas palavras, mas não venciam o meu desespero. Quanto mais me aproximava da praça, mais doloroso era para mim o caminho. Pedi-lhe mais uma vez, chorei, rojei-me pelo chão. Ele não me atendeu, sacudindo-me sempre, como se quisesse desfazer-me nas mãos.
- Lá é que vais saber.
Se naquele dia me tem perdoado, nunca mais voltaria ~ às Praias nem a qualquer fazenda. Mas as consequências foram para mim tão trágicas que daí para diante fui mais atrevido do que nunca.
NO banco em que me mandaram sentar estavam três mulheres. Os meus companheiros não tinham sido apanhados e isso foi um pouco de consolação para a minha angústia, pois era sinal de que me saíra bem da parte que me fora distribuída. Depois de saberem quem me deitara a mão e de me fazerem quantas perguntas lhes pareceu, galhofaram por me verem ali, consolando-me no meu enleio.
- A cadeia fez-se para os homens, Manel. Não mataste ninguém...
- Depois isto é uma repreensão, duas ou três horas Já no calaboiço e pronto!
Uma delas é que complicou o bom humor das outras. fazendo má cara para o meu caso.
- O pior é ser o Tóino Ruço. Isso faz aí uma parte ao rapaz...
- Também a terra lhe há-de ser pesada como chumbo. A primeira mulher que foi chamada não voltou satisfeita como fora. O administrador naquele dia não estava de boa maré e pregara-lhe uma multa de dez mil rei» com ordem para a deixarem sair só no outro dia, à mesma hora, se não viessem dar o dinheiro. A outra que se seguiu foi com poucas esperanças de se salvar, e a que ficou comigo desunhou-se a chamar, em voz baixa, nomes ao administrador e ao guarda que a trouxera.
- A mim não me apanham eles o dinheiro. Dez mil réis são dois dias de trabalho e agora, que não arranjo patrão, é mais que o dinheiro de uma semana. ”Aqui têm que me dar comer. O marido e os filhos não hão-de morrer de fome.
Tremendo, como se me tivesse chegado alguma sezão, indaguei se também lá ficaria.
- Se calhar... Mas não te rales, Manel. Um dia e uma noite passam-se. Eu já cá levo quarenta e cinco anos a passar mal e ainda aqui estou.
Então, vieram-me todas as preocupações dos dias anteriores; dobradas, naquele momento, por pensar que minha irmã ficaria sozinha nessa noite. Não era já a cadeia que me atemorizava. Isso parecia-me fácil, uma vez que entrara ali e me sentara no mesmo banco onde tinham esperado assassinos e ladrões. Aquela mulher estava confiada e os dez mil réis valiam-lhe bem mais do que a liberdade de vinte e quatro horas. Para mim é que depois do sol-posto valia uma vida. Não tinha mil-réis de meu, na minha família não havia quem me valesse. Só a minha avó Caixinha, se soubesse, seria capaz de andar pelas portas ricas, a pedir alguma coisa para me salvar. Mas talvez não se importasse comigo, já que a minha mãe tão mal lhe dizia de mim, o que a poderia fazer pensar que o castigo servisse de emenda para os meus defeitos.
- E se eu pedir...
- Deixa-te disso, rapaz. Ainda se vestisses saias e fosses mais espigado...
Pensei, então, no Joaquim Honorato. Se a minha irmã lhe pedisse, ele não deixaria de me ir buscar. Porém, a paga seria aquela que ele desejava de há muito, já que as mulheres pobres não podem saldar contas doutra Maneira. Não queria que ele viesse, mas se não fosse esse homem, mais ninguém viria para me dar liberdade. Percebi que entrara num beco sem saída.
Quando me vieram chamar para ser ouvido, corriam-me lágrimas pela cara. Para além da porta que abriram, só via imagens confusas, chegando-me aos ouvidos palavras soltas e sem sentido. Foi preciso o homem empurrar-me para eu entrar. Até à secretária donde me falavam, parecia que o caminho era em declive e eu era atirado por ele abaixo, sem me poder agarrar a qualquer coisa e sem haver mão que me quisesse salvar. As paredes queriam fechar-se sobre mim e lá fora o sol tinha-se apagado, como se já fosse noite.
Noite! E lembrei-me ainda mais da minha irmã.
Via vultos, mas não era capaz de distinguir a expressão dum rosto.
- É este?!
- Saiba Vossa Excelência que sim senhor. Percebi a voz do Tóino Ruço, mais áspera que um
cardo, mais dura que uma pedra do dique. Quando lhe conheci a figura baixa e disforme, corpo todo ombros, braços compridos e pernas curtas, deu-me vontade de me lançar sobre ele.
Ele contou tudo e disse ainda mais coisas. Falou muito tempo. Disse dos prejuízos do patrão com os assaltos de todos os dias. Esclarecera que eu era useiro e vezeiro naquele trabalho.
- É mentira, senhor.
- Cala-te!
Como não escutasse o reparo, continuei a falar, procurando esclarecê-lo. Porém, o homem que me fora buscar sacudiu-me um braço e gritou-me.
- Não ouviu o Sr. Administrador?
- Deixe-o lá. Já vi que é boa peça. E voltando-se para o Tóino Ruço:
- Pois vá lá à sua vida que para prejuízo já basta. Diga ao Sr. Caldeira que o rapaz vai ter castigo. Não estou aqui para outra coisa.
- com sua licença.
- Adeus, António.
Ao passar junto de mim pareceu-me que fez uma sombra que tapou a casa. Adivinhei um sorriso na sua cara deslavada, muito rala de barba, de olhos piscos, onde as pestanas eram raras, de boca levemente torta, como se passasse a vida a fazer caretas. Os seus passos no sobrado da casa eram como marteladas na minha cabeça.
- Que idade tens?
No desejo de convencê-lo com a minha humildade, lembrei-me do tratamento que lhe dera o Tóino Ruço e aquela Maneira.
- Saiba Vossa Excelência que doze anos.
- Doze anos... Sim... sim...
Brincou com um lápis entre os dedos, recostou-se na cadeira de costa alta, e, voltando-se para outro senhor que eu só então notei, pôs-se a falar em voz pausada.
- Eram precisas muitas casas de correcção. Este rapaz pode fazer-se um bandido da pior espécie.
- Ah, pois!
- Nunca estive numa terra em que casos destes fossem tão frequentes. Parece ser herança de pais para filhos. É preciso começar a metê-los na ordem, fazê-los respeitar o que é dos outros.
E voltando-se para mim com um modo autoritário:
- Não sabias que aquilo te não pertencia?
- Eu não tirei nada...
- E os teus companheiros?... Começam já a formar quadrilhas, a usar processos dos ladrões da cidade... Quem te ensinou?
Não lhe respondi. Não sabia mesmo explicar-lhe o que me perguntava.
- Pois bem!...
Tocou uma campainha e ouvi passos por detrás de mim.
- Leve-o lá para baixo. Eu direi depois quando o devem soltar.
Mal senti a mão pesada, agarrando o meu braço, reparei no destino que me davam. Levantei os olhos e atirei-lhe o pedido mais humilde que poderia fazer. A mão puxou-me e desequilibrei-me.
-’Senhor...
Precisava de lhe dizer que não podia ficar uma só noite fora de casa, porque a minha irmã estaria perdida. Jurava ali que não voltaria a procurar qualquer coisa, mesmo que rebentasse de fome. Jurava e fazia.
Mas a mão arrastou-me e eu não despregava os olhos daquela secretária, onde se poderia resolver o meu futuro e o da minha irmã. Ele sorria-se, confiante no processo empregado. Estendi-lhe o braço, para que me salvasse, desejando que pudesse esticar até que a minha mão tocasse a sua.
- Eu não faço mais.
Se passasse para além daquela porta estaria perdido. O administrador esquecia-se de mim com certeza, e naquela noite... Deitei-me para o chão, gritei. O homem que não me largava, já desesperado de não poder comigo, começou a dar-me puxões muito fortes e aproveitou a distracção dos dois senhores para me atirar um pontapé. Não era isso que me importava. Podiam-me espancar, fazer-me numa posta de sangue, mas deixassem-me ir para junto da Anita.
- Tens medo agora, ha?
Não lhe podia responder. Naquele momento não tinha medo das grades nem da escuridão que me tinham dito haver no calaboiço, nem dos ratos, nem de ninguém que ali estivesse naquela casa. Tinha medo do futuro, temia a minha mãe e o Joaquim Honorato.
O Sr. Administrador, que estivera a sorrir por muito tempo, gozando o espectáculo do meu desespero, levantou-se, transtornado, veio junto de mim e agarrou-me no outro braço. Fiquei com uma esperança. As lágrimas corriam-me cara abaixo, num fio seguido, e toldavam-me os olhos, escorriam-me pela boca de mistura com saliva.
- Eu não faço mais...
- Vamos lá acabar com isto.
Não fui capaz de reagir. Como um farrapo, levando-me arrastado para fora da sala, ouvi dirigirem-me palavras que não entendi e a porta fechou-se. Fechou-se com tanta força que eu senti que estava perdido. O homem levou-me aos empurrões e entregou-me ao carcereiro.
Enrolado no chão, a soluçar baixinho, fiquei assim por muito tempo. A morte do meu pai avantajava-se naquele momento e compreendi a sua falta como nunca. Não sabia conjugar ideias, não era capaz de compreender porque estava ali e porque chorava. Mas tinha cada vez mais vontade de chorar, de romper com as grades, por onde o sol mal entrava, e ir para a rua, correr até à Baralha e esperar pela minha irmã.
De dentro do calaboiço alguém me falou.
- Que foi, homem?... Que diabo!...
Só então reparei que estava acompanhado. Vi à minha frente um homem alto que nem um pinheiro, muito magro e em mangas de camisa, calças a caírem-lhe pelas pernas, como se não tivesse corpo para as aguentar. com a escuridão da enxovia e o cerrado da barba, parecia que a cara só tinha olhos. Uns olhos muito grandes, luzidios como os de um gato, mas macios e expressivos. Agarrou-me num braço e levou-me para a tarimba, fazendo-me sentar. Depois pôs-se à minha frente, muito sério, como se procurasse adivinhar a minha vida, enquanto eu desviava o olhar e o corria pelos cantos do calaboiço. Fiz aquilo, não porque o temesse, pois sem saber porquê senti que tinha ali um bom companheiro. Talvez com vergonha de me ouvirem na rua, continuava a soluçar, reprimindo a minha angústia quanto podia.
- Não chores, homem. Que fizeste tu?!... Deixou cair a sua mão sobre o meu ombro e sentou-se ao meu lado. Por instantes não lhe respondi, não sei se por não saber onde devia começar, se por entender que nada tinha comigo. Fez-se assim um grande silêncio, só cortado pelo ruído dos passos por cima de nós e por um brado ou outro que vinha da rua. Depois, sem ele voltar a pedir-me, contei-lhe tudo quanto se passara.
- E choras por isso?
Estive quase a dizer-lhe todo o resto, mas calei-me^ Embora não conhecesse aquela cara da Golegã, parecia-me que não lhe devia desvendar o meu segredo, uma vez que ele não lhe poderia dar remédio. Limpei as lágrimas e prometi a mim mesmo não chorar mais.
- Estes últimos anos tem sido mais o tempo que estou na cadeia do que ao ar livre.
Deixou cair a mão do meu ombro e fincou as duas na borda da tarimba. Fui eu, então, que me voltei para ele. Como se não estivesse a falar para si, o homem continuou, parecendo que as palavras lhe caíam da boca.
- Levantei da minha terra, porque ali já não me deixavam ganhar o pão. Numa pega com um manajeiro, perdi a cabeça e dei-lhe para baixo. Coisas!... Corri estradas e atalhos, dormi na rua, de qualquer Maneira... Vida de cão. Uma noite fiquei num monte em que me deram abrigo e logo, por sina minha, desapareceram os arreios dum carro de mula. Mal me tinha posto à jornada, vieram dois guardas-republicanos no meu encalce e deitaram-me a mão. Foi a primeira vez que entrei num calaboiço. As muitas juras que fiz não me valeram. Julgavam que eu tinha um companheiro qualquer e queriam à força que lhes dissesse o seu nome. Passei horas do diabo! Ao fim de uns tantos meses, lá saí. Quase perdera o hábito do trabalho, pois na prisão a vida é dormir e falar com os companheiros. Aprende-se ali de tudo: mais de mau que de bom. Como não queria voltar à terra, demais a mais tinham-me posto o nome no jornal como ladrão, continuei por esse mundo fora. Trabalho cada vez mais raro, portas abertas sempre desconfiadas.
E estendendo as pernas para me mostrar as botas:
- Olhavam-me para os pés quase descalços, para esta cara de fome, para tudo isto, e corriam comigo às boas. Talvez a pensarem que seria capaz de lhes tirar a vida.
Eu ouvia-o entre deslumbrado e medroso, lembrando-me, de vez em quando, que o tempo corria e a noite se chegava a pouco e pouco. Levantei-me num pulo e fui espreitar às grades. O sol batia em cheio na igreja e as suas pedras pareciam mais novas. Voltei, de novo, para junto do meu companheiro.
- Depois é a vida de todos que vêm a estas casas. Por tudo e por nada se desconfia da gente. De uma vez mataram um homem no Sardoal e lá porque eu passara por ali entenderam que fora eu quem dera conta dele. Ainda nem sei como de lá saí inteiro.
Baixou um pouco a voz, como se estivesse a falar-meem segredo, e prosseguiu:
- É claro que nem sempre fui santo. Fiz as minhas... De repente calou-se, arrependido talvez de ter falado tanto.
- Tu não percebes destas coisas. Mas estou para aqui há doze dias sem dar com alma viva... A cadeia desta terra é para as pulgas e para os ratos. Aí ao lado nas mulheres é que é quase todos os dias.
Quando falou de mulheres, o rosto alterou-se-lhe e começou a passear de um lado para o outro, fazendo de conta que me não via. De vez em quando parava e espreguiçava-se, abrindo a boca com grande ruído. Eu fui encostar-me à janela a olhar a rua, tendo o cuidado de ficar na sombra, como se receasse que me vissem de fora.
Estivemos para ali, como se não reparássemos um no outro.
Eu alimentando esperanças de me virem buscar antes da noite, ele, decerto, a pensar nas mulheres de que costumava ouvir as conversas através da parede. Mas foi ele que me falou, mal se ouviram passos no corredor.
- São horas de jantar. Vem aí o carcereiro.
Daí por um momento ouviu-se o barulho de chaves mexeram na porta do nosso calaboiço e o carcereiro entrou, pondo a lata da comida no chão. Fixei-o, à espera que se lembrasse de mim e me dissesse alguma coisa. Não me contive quando ele ia a sair e saltei-lhe à frente.
- Já tenho ordem para me ir embora?
O olhar que me atirou, foi como se só então me tivesse visto.
- Ainda não há ordem nenhuma. Se calhar... ficas cá toda a noite.
E atirou com a porta. Foi como se todo o prédio tivesse abalado e quisesse cair. Não pude vencer o meu desespero. Bati na porta com os punhos, chamei em altos gritos, atirei-me contra ela, como se me sentisse capaz de derrubá-la.
- Não quero!...
De fora mandaram-me calar. Respondi mal, disse tudo quanto me veio à cabeça. Enfureci-me e pus-me aos pontapés à porta. Então o meu companheiro agarrou-me e fez-me sinal de silêncio. Como eu persistisse, pegou-me com as duas mãos e empurrou-me para o lado da tarimba. Voltou a repetir o sinal.
- Assim passas cá a vida. com esta gente só há duas Maneiras: ou serrar as grades e fugir ou fazer uma doideira.
E noutro tom mais amigo, atirou-me o seu braço pelo ombro.
- Vamos comer. Uma noite passa-se bem.
Como se naquele momento sentisse ainda melhor a minha tragédia, estendi-me na tarimba e chorei mais. Chorei tanto que o meu companheiro não foi capaz de voltar a animar-me. Ele sabia que aquilo me fazia bem e deixou arrefecer o jantar, à espera que findasse o meu pranto. A comida acabou por ficar na lata.
Acordei noite adiante. O meu companheiro ressonava debaixo da manta que dividira pelos dois. Para o não despertar, levantei-me de mansinho e saltei da tarimba. Entrava pela abertura das grades a claridade frouxa do luar, como se receasse as trevas do calaboiço. Os ratos, mal me sentiram, escaparam-se para os seus buracos e só ficou ali o ruído do sono do meu companheiro.
Quando me encostei às grades e vi a igreja, senti bem que o meu destino estava traçado. E pior que o meu o da minha irmã. Não chegava um barulho da rua e a noite fizera-se mais silenciosa que nunca para me deixar pensar e sofrer.
Nem um vulto passava nem o vento bulia as folha» do jardim. Lá no alto, as estrelas piscavam-me, sobressaltadas, talvez, com a inquietação adivinhada por elas nos meus olhos. Um grilo sarrazinou, mas calou-se, de seguida, para não me entreter.
... Coberta toda de azul Que Deus teceu de um fio Mas tão rota de estrelas Que deixa entrar o frio...
Como se receassem quebrar o silêncio, as lágrimas corriam de mansinho na minha cara. Via a Anita a atravessar o largo pela mão de minha mãe, que a ia entregar ao Joaquim Honorato, sentado a fumar à porta da igreja. Mas não entravam. Metiam-se pela noite dentro e no céu adormeciam as estrelas e o luar, para que eles caminhassem sem receio de mim.
Quando deitei as mãos às grades, foi para as quebrar. Porém, mal compreendi que as minhas mãos eram impotentes para as vencer, deixei cair a cabeça nos braços e esqueci-me de mim. Lembrei-me mais do que nunca que o Joaquim Honorato era quem tinha as moças mais desenxovalhadas da Golegã e era o dono da terra. E como visse a igreja imperturbável com o meu desespero, julguei que o Joaquim Honorato também era o dono do Céu.
QUEM o visse correr por aquelas ruas fora, julgaria que o rapaz levava algum toiro na cola. Direito a casa, ninguém foi capaz de lhe tolher o caminho, embora as perguntas chovessem de todos os lados.
- Eh Manel!... Como foi isso, homem?...
- Apanhaste um calor, ha?!...
Mas ele não ouvia nem via, porque tinha todo o corpo carregado da mesma alucinação. Julgavam-no apavorado de vergonha os que reparavam na sua carreira e queriam conversar, para depois ficarem no paleio algum tempo.
- O rapazinho vai mesmo moidinho de pancadas.
- Pancadas não direi, Ti Rosa. Mas sempre é um vergonhaço.
- Qual coisa, mulher.
Havia algumas que afirmavam ter ouvido os seus gritos toda a noite.
- Até cortava o coração, alminha! --Se ele fosse meu filho...
- A mãe é que se não deu com a nova. Ficou na mesma. Aquilo lá por dentro era capaz de estar satisfeita...
- Sempre há mães...
- Olhe, Ti Rosa, isto há mães e mãezinhas.
A velha acenava a cabeça, esquecida da lenha que levava no regaço, e a conversa continuou por muito tempo. Uma mulher que passou à fonte transmitiu a novidade, e logo as outras puseram cântaros de lado para atinar no sucedido.
- Coitadinho do cachopo! A mãe nem o foi ver.
- Jesus Santíssimo! Aquilo é mesmo um coração de pedra.
E falaram da vida de toda a família. Invocaram a morte do pai na cheia grande e disseram quanto lhes veio à cabeça.
Assim que entrou na Baralha, Manuel Caixinha viu que estava perto de casa, mas parou. Fizera aquela corrida para lá chegar e naquele momento ganhara medo à verdade, hesitando se devia continuar. Lembrou-se que talvez fosse melhor ficar na cadeia e só sair com o companheiro vagabundo para correr estradas e terras. Um dia, velho e cansado, sem ninguém já o conhecer por ali, passaria para saber do destino da irmã.
Quando entrou em casa, parecia-lhe que levava o coração partido e o peito atravancado do mesmo peso. Foi ao seu quarto e encontrou-o vazio.
Como deixara a porta aberta, as vizinhas vieram procurá-lo para saberem tudo; na rua havia grupos a comentar o caso.
- A tua mãe não está, Manel.
- Coitadinha da tua avó...
Mas nada disso o afligia naquele momento.
- E a Anita, Ti Quitéria?!... A Anita?!...
- Está boa, cachopo!
- Mas onde está ela?...
Ia de mulher para mulher, sacudia-as, rogava-lhes, com o rosto transtornado, que lhe dissessem tudo. Sem compreenderem o amargo da sua voz, molhada de choros e quebrada de soluços, as mulheres olhavam umas para as outras, como se não entendessem a sua pergunta. Quando uma lhe respondeu, abalou pelo corredor fora empurrando a gente que lhe tapava a porta.
- Está doudo o cachopo!
- Ai, Mãe Santíssima! E puseram-se a chorar, clamando umas para as outras,
em gritos e erguer de braços. Atrás dele foi um grupo de rapazes.
«Está no barracão do Joaquim Honorato.» Não o detiveram os braços dos que o chamavam nem as suas próprias dúvidas. Entrou pelo pátio dentro, sem cuidar dos cães, tropeçou no cabo de um ancinho, mas pôde endireitar-se e continuar para o barracão. Só parou à porta. De costas para ele, as mulheres trabalhavam nos sedeiros, arranjando as palhas na descamisa, à lufa-lufa, porque o trabalho era de empreitada. O ar andava cheio de uma poeira que sufocava as mulheres e lhes entontecia a cabeça. Correu o olhar pela fila até encontrar a irmã.
Uma mulher cantava.
O saramago é que atrasa A seara ao lavrador...
Queria mesmo dali adivinhar o que se tinha passado na noite da sua ausência; porém, a irmã estava como as outras e não descobria qualquer indício que lhe respondesse. Saca sobre as pernas, sentada no banco do sedeiro, a Anita despegava os restos de palha do carolo e juntava-os na mão. Depois dava-lhe a primeira passagem nos seis bicos colocados no cepo e passava-os para o colo, onde os apertava com os outros, entre os joelhos.
Teve vontade de chamá-la, mas reteve-se ainda com receio da verdade. Ela passava as camisas aos bicos para as desfiar mais, não parando um só momento com as mãos. Quando suspendia o trabalho, era para ver as picadelas dos dedos, pois, com a pressa, os bicos que cortavam as palhas rasgavam a carne.
Uma mulher que se voltou é que deu com ele.
- Olha o teu Manel, Anita!
Ninguém parou, porque a tarefa era de empreitada e para ganhar uns mil-réis escassos era preciso dar-lhe com gana. Ela ergueu-se, mas o corpo parecia derreado, como se por ele tivessem passado largos anos de canseiras. O pó envolvia tudo e não a podia ver bem. A pouco e pouco ia-se-lhe mostrando, e, inquietos, os olhos procuravam desvendar no rosto coberto de poeira e suor as horas da sua ausência. A irmã estendeu-lhe os braços; ele ficou receoso, sem jeito de os receber.
-Ah, Manel, Manel!
Ficaram assim agarrados por uns momentos. Então afastou-a de si e fixou-a bem.
- Ele foi lá?!...
Viu subir-lhe um calor à cara e sentiu que as mãos dela se afastavam. Alarmaram-se-lhe os sentidos, quis falar-lhe mais, sacudi-la, pedir-lhe que dissesse ser mentira o que pensava. Depois foram os seus braços que caíram primeiro, tão bem percebeu o silêncio inquieto da irmã.
Levantou a vista e envolveu no seu ódio todos os aposentos do Joaquim Honorato. A passo e passo, sem escutar que o chamavam, voltado por inteiro para a certeza que o alagava, saiu o portão. Parou a tomar rumo, como um desconhecido daquelas ruas por onde passar a toda a sua vida. Olhou mais uma vez a casa dele. E como, por cima do muro, visse um vrédio a refulgir ao sol, pegou numa pedra e partiu-o. Meteu as mãos nos bolsos e foi direito à alverca, indiferente a quanto o rodeava. «Ele está lá fora. Vem. Anita!»
E foi outro rapaz que o salvou de morrer na alverca.
DURANTE uns dias não se falou noutra coisa. No derreiro, o Manuel Caixinha contara tudo e a Golegã andava cheia, embora o Joaquim Honorato fosse useiro e vezeiro em escândalos daqueles. Não era já o caso da cachopa, porque, segundo diziam, ela já viera com Aquele destino escrito e não lhe podia fugir, mas a desavergonhada da mãe em levá-la para tão mau passo. Como de costume, deram-lhe ataques, bramou, mordeu-se toda na sua raiva, mas ninguém lhe deitou o perdão, pois o povo bem sabia ser mulher para aquelas coisas. Já em vida do marido se tinham rosnado os seus quês com o João Carleiro, e o caso não passou de segredos, até ter esquecido, porque o Caixinha era homem de boas falas e incapaz de matar uma formiga, mas num caso daqueles não se lhe importava de ter África ou até pena de morte. Na vizinhança ninguém punha boa fé nela e aquilo do cachopo querer afogar-se na alverca, e aludir debaixo da aflição da mãe e ao Joaquim Honorato, bastava para todos lhe deitarem culpas.
Quando lhe falaram em levar o caso para o tribunal, achou que quem não deve não teme, e não expunha a filha a fitas e a vergonhas, porque isso era o que queria aquela gente invejosa e porca de língua. O certo é que andava vendida pela Baralha; durante muitos dias a porta e a janela fecharam-se. Lá em casa, sempre em apuros se alguém não arranjava trabalho, a vida correu melhor do que antes. O Joaquim Honorato, já era seu costume, não faltava nunca ao princípio com o que fosse preciso para não se ver em trabalhos. Depois o tempo remendava e esquecia tudo. A Deolinda e a Lurdes que o dissessem, se alguém as procurasse em Lisboa e elas contassem a sua vida. Que aquelas mulheres, às vezes, não gostam de falar no passado. Se o futuro, que é sempre o que sorri, já é conhecido pelos casos de tantas outras, para que mexer no que lá vai?
Manuel Caixinha não voltou para casa. A avó tomou conta dele e foi na mesma cama onde se finara o seu avô Sebastião que passou três semanas de doença. Durante dias e dias foi um corrupio de gente a saber do seu estado; e poucos iam por bisbilhotice, como é hábito em casos semelhantes. Indagavam por ódio ao Joaquim Honorato e à mãe, porque o caso espalhou-se por toda a vila.
O acontecimento andava de boca em boca, quando a família julgava que aquilo era vergonha só sofrida em casa.
Depois da largada do trabalho o povo ainda era mais. A argola da porta martelava até às tantas; muitos só perguntavam pelo cachopo, porque viam o corredor cheio de gente. Então, quando o achava mais animado, a avó falava-lhe nas pessoas que tinham ido saber dele.
- Veio a Ti Quitéria, o Casimiro...
Ele dava à cabeça e punha-se mais contente, apesar daquela mancha negra não lhe deixar alívio ao coração. A avó afagava-o e passava nos dedos o seu rosário de contas.
- Sabes quem cá veio ontem?!...
- Não senhor.
- O Josefino Barra!
Como o percebesse desgostoso, Maria Caixinha tentou emendar a informação.
- Mas nunca mais cá vem, deixa lá.
- Mas eu queria, avó.
- Então há-de voltar, Manel.
- E mesmo que eu esteja a dormir vossemecê chama-me?
- Chamo, sim.
Dias depois, na escuridão do quarto iluminado vagamente por uma candeia de azeite, o Manuel Caixinha via entrar o Barra, de chapéu na mão. Logo se sentou na cama, como se a doença lhe tivesse passado, e sorriu-se para a avó num agradecimento.
- Senta-te Josefino, anda - disse a velha
E ofereceu-lhe uma cadeira que ele puxou para junto do leito. Manuel Caixinha estava deslumbrado, embora naquele momento nada lhe ocorresse para dizer. Endireitou a almofada, levantando-a um pouco, e recostou-se para vê-lo melhor.
- Então como vai isso, Manel?
Encolheu os ombros e pôs-se a rir, sem atinar resposta.
- Já tens que contar...
Naquele dia Josefino Barra não tinha bebido e mostrava no olhar uns restos da sua antiga firmeza, lembrando o homem que só se domara quando os companheiros deixaram de crer no futuro. Nunca as ameaças e os ódios assolados o tinham abatido. Mais tarde, divididos os homens por esquecimento das suas palavras, caíra para o abismo onde se afundava cada vez mais.
-Tu chamaste-me, Manel?
- Sim, senhor...
- E o que queres tu de mim?... Olha que já não presto para a ponta de um chavelho. Estou velho... E mais do que velho, estou como as aranhas ou como as formigas. De nada valho.
Barra sentia em certos momentos que tomara o pior caminho. Compreendia, então, que o seu dever o levava a continuar, pois é preciso costela de teimoso para se fazer alguma coisa na vida. Assim, talvez pudesse fazer arrepiar os antigos companheiros ou procurar novos amigos nos rapazes que começavam a ir às praças. Mas considerava-se incapaz de recomeçar o mesmo ardor dos dias passados e essa certeza abatia-o tanto que se entregava ainda mais ao vício.
Vendo o rapaz calado, com sinais de embaraço, voltou a falar-lhe:
- Mas diz lá, homem. Se não te puder servir, serei teu amigo como dantes. Noutros tempos... arranjei muitos inimigos, mas também sabia o que desejava. Quando entrava nesse caminho, não havia quem me arredasse. Até com o teu pai...
O olhar do Manuel Caixinha fez uma interrogação cheia de curiosidade. O outro compreendeu-o e resolveu-se a satisfazê-la.
- Lá porque naquele dia em que se não pegou no trabalho lhe deram mais dinheiro, o teu pai e mais uns poucos ajustaram-se sem ter em conta os companheiros.
Fui eu que falei ao teu pai quando soube do seu passo.
Foi o diabo! Pegámo-nos de conversa azeda, mais para aqui, mais para ali, embora eu quisesse levá-lo a bem, pois já lhe conhecia o feitio arisco, se as coisas corriam atravessadas. Não houve meio de o convencer. Ele bem percebia que eu tinha razão, disse-mo mais tarde, mas estava de maus azeites e deu-lhe para contrariar os companheiros, sem levar em conta outras razões mais capazes para um homem direito.
Voltando-se para o rapaz, o Barra agarrou-lhe na mão e sorriu.
- Caixinha, não faças isso! - dizia-lhe eu. - Olha que a gente zanga-se!... Ainda me parece que estou a ouvir a resposta dele.
Como arrastado pela lembrança desses momentos, Josefino Barra parecia falar para alguém invisível, pois nem olhava o cachopo.
- Resposta torta, só daquela cabeça que tão mau governo deu à vida, para acabar com aquela maluqueira. «Isso é que me rala que a gente se zangue. Não faço conta de casar contigo...» Pegámo-nos os dois, houve um burburinho dos diabos e acabámos por bater com os ossos na cadeia. Lá é que o teu pai emendou todo o mal que fizera, quando lhe perguntaram o motivo da zaragata. Respondeu que fora por ditos de mulher e não houve quem o arrancasse da sua. Era assim o teu pai. Nunca ninguém o percebia nem com ele podia contar. Era o que lhe dava na cabeça. Foi assim que a coisa se passou, Manel. Tempos!... E éramos dois amigos. Mas não pôde ser de outra Maneira. Se o caso fosse só comigo, não tínhamos ido às do cabo. Assim não houve outro remédio.
E depois de um silêncio curto em que os seus olhos vagueavam pelo quarto:
- Tempos que já não voltam! Diz lá, Manel. Já estou a sentir a falta do vinho. Nunca te habitues a isso. Sei que me faz mal e já não passo sem ele. É como o ar que a gente respira. Foi ele que deu conta de mim... E eu é que tive culpa.
Manuel Caixinha continuava calado. Bateram à porta e entreteve-se a escutar a conversa que vinha do corredor.
A candeia de azeite mirrava-se mais com a ponta de vento que entrava pelo quarto.
- Mas lá por haver aquilo que te contei com o teu pai, não deixes de pedir, homem. Tudo passou e fomos amigos na mesma.
- Eu gostava de ler, seu Barra. Não sei nem uma letra...
O outro ficou embaraçado, fez rodar o chapéu nos dedos e demorou-se a olhar para o chão, como se ali ocorresse alguma coisa para distraí-lo.
- Não posso ir à escola...
- Eu mal sei para mim, rapaz.
- Ensina-me o que sabe. Não quero ser doutor...
Josefino Barra ficou pensativo por largo tempo, levantou-se da cadeira, deu uns passos no quarto e foi sentar-se na borda da cama.
- Está certo! Ao menos que sirva para isso.
O rapaz apertou-lhe muito as mãos e desencostou-se da almofada, como se pudesse demonstrar assim a gratidão que experimentava.
- E para que queres tu ler?
- Para saber o que dizem os papéis. Já há muito tempo que gostava, mas depois que se passou isto ainda tenho mais vontade.
- Está bem. Começamos quando te levantares.
- Eu já estou bom, seu Barra.
- Trata-te primeiro e depois pensamos nisso. Adeus, Manel.
- Obrigado.
Quando o outro saía a porta do quarto, chamando pela avó, o rapaz pediu-lhe que voltasse. E falou-lhe muito trémulo, ajoelhado na cama, voz hesitante de comoção.
- Eu gostava era de poder matá-lo, seu Barra. Matá-lo, pois.
com a mão no ombro, Josefino fê-lo deitar-se e aconchegou-lhe a roupa.
- Não remediavas nada. Talvez que um dia saibas como isso se acaba. Sossega, Manel. Adeus!
Na meia luz do quarto, Manuel Caixinha viu-o desaparecer no corredor e depois bater a porta da rua. Passaram-lhe na cabeça, numa alucinação, todas as imagens dos últimos dias. Abateu-se-lhe o corpo, mas logo se reanimou, sentando-se de novo.
- Avó Caixinha! Avó Caixinha!
Quando ela viesse, havia de lhe dizer que já estava bom e que no outro dia queria levantar-se.
”DAQUELA noite a Anita caíra sem saber como. A mãe •*• dissera-lhe que o Sr. Joaquim vinha tratar do caso do irmão para ver se era possível fazê-lo sair da cadeia e que perguntara por ela. Mal ficava se não lhe aparecesse, pois não era fácil arranjar um amo tão amigo, sempre em cuidados para lhe dar que fazer e desejoso até de lhe pôr melhor vida. Ficaram sós, conversaram pois muito tempo, e às duas da manhã ele saía de casa. a saborear os momentos que a rapariga lhe dera. O seu destino estava traçado. Quis reagir depois, mas sentiu-se incapaz de fazê-lo. Toda a Golegã estava cheia daquele acontecimento e ela não podia avantajar-se aos reparos, aos ditos na rua e no trabalho, aos olhares significativos de toda a gente. Teve de ficar em casa duas semanas e a féria não lhe faltou. Repugnou-lhe aceitá-la, mas a mãe não a deixava de mão, querendo demonstrar-lhe que o bem era seu e que a razão estava com ela. O comer também não caía do céu e havia que abençoá-lo, chegando para as duas sem mais canseiras.
o Joaquim Honorato voltava de vez em quando, e ficava, às vezes, até de madrugada. Uma noite falou-lhe que ela tinha de arranjar trabalho, pois doutra Maneira confirmava-se quanto diziam a seu respeito e era preciso calar as bocas do mundo. No íntimo, ele entendia que a rapariga lhe estava a sair cara e necessário se tornava pô-la a trabalhar, pois não era só para ali que ele tinha de fazer conta.
A Anita lembrava-se das companheiras que nunca mais lhe tinham cruzado a porta, os rapazes que bebiam os ares por ela, e achava-se fraca de mais para os defrontar.
- Eu não sou capaz...
Chorava horas, sem fim, deitada sobre a cama, sem vontade de ir para a cozinha comer alguma coisa para aconchegar o estômago. Fazia-lhe mal aquela fartura tão gabada pela mãe.
- Começas para aí a mirrar, arranjas alguma doença e depois ninguém te quer.
Ele, numa noite que veio, também lhe disse que estava a estragar os bonitos olhos que Deus lhe dera. Que não chorasse tanto, pois não era ingrato e nunca mais a esqueceria. Mas não havia promessas que a aquecessem, vendo-se desprezada da família e até mesmo do irmão.
Saiu uma manhã para o trabalho, depois de muito instada, e não fez mais que um quartel. Todas as cantigas, todos os risos, quaisquer conversas feitas em voz baixa lhe pareciam consigo. As amigas falavam-lhe de longe. Ela quis aproximar-se para voltar aos dias passados e viu um pego aberto à sua frente.
Não pôde mais com aquilo. Pretextou umas sezões e abalou para casa.
O Joaquim Honorato teve de lhe arranjar morada no Pombalinho, o que por um lado o desgostou, mas por outro lhe deu esperanças para mais tarde. O povo teve novo pretexto para falazar, voltando à baila todos os acontecimentos passados. A mãe partiu ainda mais contente, porque na Baralha não tinha qualquer amizade e podia esquecer-se melhor da sua viuvez. Uns meses depois já estava na companhia de um criado da Quinta da Broa, mais moço do que ela, mas que antes levava vida de galdério por nem se lhe conhecer família. Boa vida não lhe deu, antes a sovava de vez em quando, pois gostava da sua pinga e o vinho dava-lhe para molhar a sopa.
Depois, à boca pequena, começou a falar-se que ele gostava mais da enteada que da mãe, e isso foi o melhor pretexto para o Joaquim Honorato deixar a cachopa. Pessoas mais íntimas das duas afirmavam que o boato fora lançado por conta dele, para a rumar aquelas ligações que o obrigavam a fazer caminhadas de noite, a cavalo, com o risco dalgum encontro que lhe custasse a vida.
Não quis, porém, abandoná-la de qualquer Maneira e arranjou-lhe uma casa para ela servir em Lisboa.
Manuel Caixinha sabia de tudo o que se passava e falou nisso ao Barra. O outro contou-lhe a vida da Beatriz, por quem tivera amores.
- Pode ser que não, Manel. Nem todas as raparigas caem nessa vida. Mas assim sozinha...
- A minha avó diz que já é a sorte que nasce com a pessoa.
- Não é, não, Manel. Não há sinas nem coisas escritas do passar de cada um. Enquanto a vida só for de homens como o Honorato, hão-de sempre haver mulheres como a Beatriz.
Manuel Caixinha não percebeu, mas não fez mais perguntas.
O Barra é que cada dia andava mais. admirado com o desembaraço do rapaz.
menos de dois anos o Barra ensinou-lhe tudo quanto sabia, menos a sua experiência da vida. Continuava a enfrascar-se em vinho, sempre que podia, desvairado já por aquele vício que tomara conta de si. Algumas vezes invocava razões para se afastar, mas sentia-se incapaz de reagir. Só podia dizer aos rapazes com quem falava para não se meterem na taberna, porque era o pior vício que um homem podia ganhar. Admiravam-se os outros de ouvi-lo falar assim e atiravam-lhe o seu remoque por isso.
- Tens medo é que o vinho acabe.
E riam-se muito do dito, acotovelando-se à espera da réplica, pois o Barra tinha sempre resposta pronta para tudo.
- Eu falo assim porque me conheço. Estou como os médicos que fumam e dizem aos outros para não pegarem num cigarro. É que eles sabem melhor do que a gente o que faz mal, mas já não são capazes de o largar.
- Mas isso...
- Não se dá o exemplo, lá isso é verdade. Mas se um bêbedo diz que não se deve beber vinho, ninguém melhor do que ele pode dizê-lo.
- Tens medo não te chegue a conta...
- Tu estás a brimcar, mas sempre te digo que quando um homem agarra um vício, qualquer coisa lhe serve para o matar. Quando foi da guerra, até se fumaram parras secas e só papel. Se faltasse o vinho, até de água se fazia. Há aí menino todo crente que se lhe dissessem que as pedras da igreja davam sumo tinto, eram os primeiros a deitá-la abaixo.
As gargalhadas secundavam cada palavra do Barra e ele falava naquilo, pesaroso, sentindo-se impotente para vencer a sua fraqueza.
- Os taberneiros já estão contra ti, Josefino.
- E eu estou contra eles. Mas no fundo não passamos uns sem os outros.
Lembrava-se, então, dos tempos em que trabalhava, sofrendo injustiças sem conta, mas rebelde sempre, não deixando passar um ensejo para mostrar aos companheiros que a vida se podia conquistar com a vontade de todos. Os outros tinham-no abandonado, cansados de esperarem e certos de que alguma coisa se podia conseguir doutra Maneira. Desiludido, deixara-se arrastar para o vinho, e compreendia, nos momentos lúcidos, que se fizera pior do que os demais. Essa certeza magoava-o. Por duas ou três vezes tentara voltar ao trabalho, indo às praças esperar por amo que o contratasse. Mas todos passavam por ele como se o não vissem, pois julgavam que estava ali para acamaradar na taberna com os homens que não ganhassem soldada.
Fangas não lhe ofereciam, porque não as tomava até ao fim. Começara a fazer uma que lhe entregara o Soares; ao cabo da sementeira abandonara-a de todo, sem dar conta ao outro do seu propósito. Quando o procuraram para se combinar a altura da sacha, respondeu que perdia tudo, mas não entrava ali nem mais um dia. A sua atitude passara de voz entre rendeiros e senhorios.
Vivia de biscates, alimentava-se de ar e vinho. Distribuía conselhos por todos os que lhe chegassem e regalava-se a falar do Manuel Caixinha.
- Aquele rapaz com estudos fazia-se um grande homem. Metido neste meio é capaz de acabar mal. Quando se nasce para besta de carga, a inteligência é um grande tropeço. Nem sei se fiz mal em lhe ensinar umas letras.
- Sempre é bonito, Josefino.
- Pode arranjar um lugar de apontador ou abegão em qualquer casa grande.
- Se soubesse que o tinha ensinado só para isso... Mas tenho uma esperança que assim não há-de suceder. O rapaz tem bom fundo...
E contava o caso da carta que ele escrevera.
Depois da ceia, em casa da avó Caixinha, ficavam todos a conversar nas coisas mais diferentes da vida. Os homens sentados à mesa, as mulheres em bancos baixos ou no chão da lareira. Os cachopos sarnavam uns com os outros, perdidos de sono, até que a mãe os ia deitar. Quando a tia voltava, os quatro continuavam a conversa; quase sempre, por mais voltas que dessem, as palavras acabavam na Anita. Um suspiro da avó, um dito do tio ou da mulher, tudo se encarreirava para aquele lado. Manuel Caixinha só ouvia, embora andasse cheio de recordações da irmã.
Nessa noite o tio voltara aborrecido do trabalho, embirrando com todos. Nem puxara para os joelhos o filho mais novo, seu enlevo dos serões. O cachopito viera agarrar-se-lhe às pernas e ele sacudira-o, obrigando a mãe a tomar conta do cachopo; metera depois a cabeça entre as mãos, talvez arrependido da braveza com que tratara o filho.
- Credo, homem! Vai dar uma volta que te faz bem, anda.
As mulheres nunca desejam que os maridos saiam, pois já sabem que à volta eles trazem carrego de vinho e que este tanto dá para cantar e rir como para pegar por qualquer coisa até arranjar escandaleira. Só quando os vêem embezerrados, sem poderem ouvir o rojar de um banco ou o pairar de um cachopo, lhes lembram que a rua existe.
- Anda, vai!...
- Desde que foi aquela vergonhaça da Anita...
Pusera-se a enrolar um cigarro para distrair o nervoso, mortalha a tremer-lhe nas mãos, como se experimentasse, pela primeira vez, fazer aquele trabalho.
- ...parece-me que todos olham para mim a lembrar-me essa desgraça.
A velhota suspirara, pondo-se mais mirrada no seu canto, enquanto a mulher se entreteve a espreitar a cafeteira da água e a soprar o lume com a boca. O rapaz ajeitou-se na cadeira, fixando o olhar na luz do candeeiro, como se aquilo o preocupasse.
- Dá-me vontade de abalar daqui.
- Não mataste ninguém. Não tens culpa da cabeça dos outros.
- Aquilo era sina dela, filho.
Nessa noite foi a primeira vez que o Manuel se meteu na conversa. Passara quase todos os serões de três anos a ouvir a mesma coisa, sem dizer palavra.
- Qual sina, avó!... Não houvesse malandros como aquele...
- Ele é homem, nada lhe fica mal. Cala-te aí.
- Então lá por ser homem... Vossemecê não sabe para que anda a criar a sua Mariana.
O tio excitara-se e crescera para ele com vontade de lhe chegar. Foi preciso a mulher meter-se no meio e afastar o rapaz.
- Tu também tiveste culpa. Sabias de tudo e não contaste a ninguém. Sais a essa porca que casou com o meu irmão.
Do seu canto, Maria Caixinha acalmou o filho, intermeando as suas palavras com rezas entre os dentes.
- Faz-se de conta que ela morreu. E morreu mesmo para a gente.
- Mas não morreu para os outros. Eu bem percebo que se riem de mim quando calha.
O rapaz tinha muito que dizer, mas a sua boca não se abriu mais. Não foi o primeiro a deitar-se como nas outras noites: pegou num livro e pôs-se a ler. O que estava escrito nas páginas era a história desses dias distantes e repetidos agora a todas as horas.
- A minha Mariana há-de ser uma mulher de vergonha. Se a vir mal encaminhada, sou eu mesmo que dou cabo dela. Até a retraçava toda.
- Pronto, homem, acabou-se. Pra que te hás-de arreliar?
- Nunca na nossa família houve uma coisa assim. Levantou-se num repelão e nem deu as boas-noites.
Encafuou-se no quarto e daí por um bocado chamou a mulher para se deitar. Quando reparou na filha adormecida, sorrindo-se nalgum sonho que a deslumbrava, tapou a cabeça com o lençol e deu-lhe vontade de chorar.
Na cozinha só ficaram os dois. A avó com as mãos debaixo do avental a passar as suas contas, ele a olhar o livro por onde decorria toda a vida.
- É o que a gente tem a fazer, Manel. Esquecer-se dela e pronto. Custa muito, mas não há outro remédio. Deitá-la ao desprezo da família...
Ele tirou o olhar do livro e fixou a avó. Depois foi buscar a caneta e o tinteiro, arrancou uma folha do caderno onde fazia as cópias, para lhe não passar o que aprendera, e pôs-se a escrever.
- Olha que já é tarde, Manel. Amanhã tens de ir para a fanga com o tio e depois custa-te a levantar. Não te entretenhas.
- Vá a avó que eu não me demoro. É só fazer umas palavras.
A velha ergueu-se do banco baixo, juntou as brasas na lareira e prantou-lhe a panela em cima com água. Passou por pé dele e ficou encostada à sua cadeira, a espreitar-lhe por cima do ombro, toda regalada por vê-lo escrever que nem um doutor.
- Não te entretenhas, Manel.
Beijou-lhe os cabelos crespos e deu-lhe as boas-noites.
- Não te esqueças de apagar a luz.
- A avó quer?
- Não. Dispo-me bem às escuras. Adeus.
Quando ficou sozinho, Manuel Caixinha desabotoou o colete que parecia esmagar-lhe o peito e continuou. Era a primeira carta que fazia para si. A caneta corria-lhe na mão, mais ligeira que quando escrevia as cartas dos outros. Sabia de cor todas as palavras que tinha para dizer e era só copiá-las da sua cabeça.
A mão é que às vezes não acompanhava o seu pensamento, traído pelo aparo já um pouco velho e de bicos a abrir. Em baixo escreveu o seu nome e começou a relê-la. No dia seguinte havia de comprar um sobrescrito e um selo; ele mesmo a meteria no correio, lá na praça, ali ao pé da cadeia que fora o grande mal da sua vida.
- «Anita.»
Custou-lhe mais a dizer aquela palavra do que a escrevê-la. O som da sua voz lembrou-lhe as noites distantes. «Anita, anda. Ele está lá fora.» Era a voz da mãe que lhe repetia o passado. Sem saber porquê olhou à volta, como se receasse que alguém estivesse ali com ele a martirizá-lo.
«Tu ainda és a minha irmã. Não te deixes levar por mais ninguém, para mim tu não morreste porque sei que não tiveste culpa. Lembra-te do nosso pai e de mim. Esta carta é escrita pela minha mão e se puderes aprende também, foi o Barra que me ensinou. Ele falou-me daquela história da Beatriz que tu também sabes e ele disse-me que ninguém nasce com sina certa. E se ele disse é capaz de ser verdade, é homem que sabe muita coisa.»”
Satisfeito consigo mirou a carta de alto a baixo, achando-a curta para o muito que havia para lhe contar. Mas como a irmã precisava de mostrá-la a alguém, assim era melhor porque só eles percebiam o sentido das palavras.
«Quando for homem e se quiseres vir para a Golegã a minha casa também é a tua e eu gostava porque assim estaas ao pé de mim e ninguém te fazia mal. A avó vai passando bem... (Era preferível assim. Há mentiras que ficam bem a quem as diz.)
«A avó vai passando bem e lembra-se muito de ti. ~É muito tua amiga. Os cachopos do tio estão bonitos e gordos; a Mariana está uma mulher e o Joãozito, que tu conheces, já anda e começou a falar no outro dia. Muitos beijos do teu irmão e recomendações da família. Manuel Caixinha.»
O Barra falou naquela carta a toda a gente que calhou, e o tio, uma noite à ceia, perguntou-lhe se era verdade. Como lhe dissesse que sim, ralhou com ele e andou torto umas poucas de semanas, pois achava que era baixar muito a família fazer uma acção daquelas.
Só a avó, como tocada no fundo do coração, o beijou muito quando se foram deitar.
- Fizeste bem, Manel. Ela é tua irmã e minha neta.
PELA semana na eira da D. Aurora os homens não deixaram de atezaná-lo com a paga da patente, tanto mais que era a primeira vez que ele saltara para cima de uma debulhadora a desmanchar pão e isso já era trabalho de rapaz feito. Na roda do dia era mastigar poeira e palhas, de braços sempre espertos para a faina não abrandar, embora o corpo se lhe derrancasse com o esforço. O tremelicar da máquina entontecia a cabeça e exigia sempre o mesmo ritmo ao aumentador, que não parava de estender os braços a pedir pão. Ele e outro companheiro recebiam os molhos da ponta da forquilha e logo os libertavam do aperto da cobra, atirando-os ao outro. Revezavam-se os homens de tantos em tantos carros de cereal, e só os dois não eram rendidos assim como as mulheres que traziam os molhos das medas grandes. O barulho da máquina e das correias enchia tudo, levando os eirantes no seu ritmo veloz. As palavras que os dois rapazes trocavam tinham de ser gritadas e o aumentador não os deixava arrefecer, encafuando espigas pela boca da debulhadora sôfrega, capaz de devorá-los a todos.
As horas de comer não o largavam de mão com os mesmos gracejos.
- Não te esqueças, Manel. No sábado tens de contar com a gente. Vais receber uma fèriazona e com cinco litros fazes a festa.
- Cinco litros!... Era o que faltava. Se queres ser homem, é até a gente arrear.
- Se forem todos como vossemecê nem três férias iguais chegam para enchê-lo de vinho.
- Seja lá como for a patente é que não passa.
As raparigas riam-se e depenicavam-no também, principalmente a Rita, que olhava muito para ele e era um bocado de mocinha.
- E a gente?...
- A elas umas beijocas chegam.
- Disso está a gente farta. No sábado há baile no celeiro do Quintão e a gente lá o espera.
- Mas não sei bailar...
- Aprendes, cachopo. Aquilo é andar de roda e acertar com a música.
- O pior é os pés das raparigas que agarram uma estafa de calções. Se fores desembaraçado como eu...
O Zé Vinagre, que gostava mais da pinga que do nome, voltava logo a puxar a conversa para a sua banda, lembrando a patente e piscando o olho para os camaradas.
- Lá nas tuas leituras não ensinam isso? Pois é preciso que aprendas. Hei-de dar uma desanda ao Barra.
Aquelas horas tinham de se passar, uma vez que os cestos não abundavam de comida e, por muito que se remoesse, não durava o quartel todo. Faziam assim conversa uns com os outros e galhofavam com ele, ou com qualquer rapariga mais embesoirada, pouco afeita aos risos e aos ditos. Depois o capataz dava sinal ao maquinista, a locomover silvava e todos voltavam ao mesmo apego forçado do trabalho.
O certo é que acabou por fazer conta com aquela despesa para abater na féria de sábado. Falou ao Barra que lhe pôs cautelas, não fosse deixar-se levar pelo hábito de beber até cair.
- Os rapazes daqui só se julgam homens quando vão à taberna. Fazem-se homens só no vício. No resto são uns cachopos que não sabem onde têm a cara.
A recomendação ficou-lhe; fez o propósito de nem molhar a boca com os companheiros. Pagava o que eles quisessem, sim senhor, e depois abalaria para casa, a ler um folhetim de fascículos que o contínuo da Câmara lhe emprestara. Sempre passaria melhor o tempo, tanto mais que tudo aquilo lhe era estranho, pois só falava de marqueses e condessas, filhos abandonados e amores não consentidos.
Nesse sábado, quando ele disse que bebiam todos, fizeram-lhe uma grande festa. As cachopas aproveitaram para protestar, pois não entravam em tabernas e ficavam a perder.
- A gente depois leva-o ao baile, Rita.
- E há-de ir todo inteiro, porque a gente não lhe cobiça nada.
Como o caso da patente estava resolvido, arranjavam já outro pretexto para entreter, tanto mais que a cachopa ainda não sabia guardar as inclinações em bom recato.
- A mim que me rala.
- Ele é que é mesmo morrinha. Senão já te tinha feito ver.
O outro rapaz desatador falara-lhe na moça, dizendo-lhe que se via bem que a Rita puxava para ele. Gostaria de reparar na cachopa e começara a retribuir-lhe os olhares, sorrindo-lhe lá de cima da debulhadora, quando ela chegava com os molhos. Porém o aumentador não o deixava repousar, obrigado pela máquina que lhe levava da mão as espigas que enfiava na boca da máquina.
- Vá, Manel, anda! Hoje é que começas a ser homem.
A promessa que a vida lhe fazia, dava-lhe forças para prosseguir na tarefa dura que lhe desancava os rins e os braços. Acostumara-se já ao tremelicar da debulhadora e à vertigem que lhe toldava a cabeça, pondo-a numa embriaguez consciente.
«Começaria a ganhar jornas maiores, qualquer dia iria às praças, pegaria na gadanha, seria aumentador numa máquina, faria fanga numa terra da Requeixada ou das Praias. Bem sentia no seu corpo que ia ser homem, mas sabia-lhe melhor que lho dissessem, pois era sinal de que os outros reparavam nele. Deixariam de lhe chamar cachopo, faria namoro à Rita ou a outra qualquer. À noite, depois do trabalho, iria até à porta dela, de casaco ao ombro, falar do futuro e tratar do presente, se ela deixasse.»
com aquela ideia o corpo vibrou-lhe e suspirou fundo, como se quisesse absorver no peito todo o ar que enchia o mundo e as próprias imagens que dali avistava. A poeira e as palhas eram o tributo de ser homem, mas pareciam-lhe bem pequena paga para tão grande coisa.
«Fazer-se ainda maior, mais largo de ombros e mais rijo de braços e de pernas, tomado por todos os patrões e desejado por todas as mães que quisessem as filhas entregues a homem capaz.»
No emaranhado daqueles pensamentos, vieram-lhe à lembrança a irmã e o Joaquim Honorato. Começou a desatar os molhos aos sacões, irritou-o o tremer da debulhadora, deu-lhe ganas de se entregar ao aumentador para que o metesse também na boca da máquina.
O Sol ia no pino do céu e incomodou-o. O camarada falou-lhe no bailarico e ele já estava ausente para a promessa daquele dia. Os olhos da Rita já não o desafiavam, nem se recordou do namoro que lhe havia de fazer à noitinha. Entregue àquela obsessão que o transtornava, foi preciso o capataz gritar-lhe para cair em si. -i Eh, rapaz!
Deu-lhe vontade de responder mal, saltar da máquina para cima dos molhos, pegar no casaco e abalar sem dizer água vai. Perder-se no mundo com aquele companheiro da cadeia e ser o autor de todos os roubos, de todos os crimes e fogos de eiras por onde passasse.
Quando a locomover apitou, ainda sentia a mesma revolta. Até os companheiros lhe pareciam diferentes: todos seus inimigos, de caras estranhas, transformadas na expressão macia do Joaquim Honorato. Pegou no seu cesto e foi pôr-se a distância, sentado num monte de lenha, irritado com os ditos dos outros e as gargalhadas das raparigas. «A mais galharda talvez fosse cobiçada um dia por algum dono de terras que lhe rondasse a porta, a desvairá-la com promessas. E a sua boca não saberia rir como naquele momento. Findaria na cidade a servir - a servir nalguma casa ou os homens que a quisessem.» com a ponta da navalha ia espetando as batatas que levava à boca, num remoer sem fim. Acabou por meter tudo no cesto e deixou-se cair para trás, apoiada a nuca nas palmas das mãos, e de olhos fechados para não ver o céu, cujo azul lhe desagradava.
- Cuidado com o sol, Manel. Arranjas para aí alguma...
Fez que não ouviu, mas expôs-se mais à torreira, como que a pedir para acabar de qualquer modo, farto de viver assim. As conversas dos companheiros continuavam; de vez em quando lá vinha pega para ele.
- Estás a ver se disfarças?!... Não te faças bruto que logo pagas.
- Olha o sonso, ha?!...
A pouco e pouco o sol parecia que lhe crestava a revolta e o transformava. Lembrou-se das palavras do Barra quando lhe falara no seu desejo de morrer, e começava a compreender-lhe a razão. Os companheiros estavam ali a uns passos, todos mais velhos do que ele, mas mais confiantes no futuro. Levantou-se, sorrateiro, contrafeito da sua atitude, e foi sentar-se ao pé da Rita, meio disfarçado, com uma grande vontade de lhe dar um abraço e dizer-lhe uma palavra qualquer. Ela não se deu por achada, mas corou muito quando uma companheira lhe piscou o olho e lhe acenou com a cabeça.
- Manuel Caixinha!
Era a o último da folha e quase galgou para junto do apontador, tão moído estava de ver dinheiro na mão dos outros e ele à espera.
- Toma!
Logo os companheiros fizeram roda à sua volta, nem deixando que conferisse as moedas que recebera. Era o primeiro dinheiro que tinha para si. O que ganhara antes, entregara-o sempre à mãe ou à avó, não ficando para ele uma moeda sequer. Desde aquela semana daria em casa uma conta certa e tudo o que arranjasse a mais seria para juntar numa caixa, pois queria estrear fato pela feira daquele ano, uma vez que já começava a ser homem e as cachopas o preocupavam. Desta primeira féria ficaria pouco depois de pagar a patente. A malta não o largava e combinara-se irem todos para a taberna do Chouriço, onde havia um senhor vinho que até tinha excelência, dissera o Zé Vinagre, de olhitos brilhantes pelo desvario do vício. Nem foram a casa lavar os braços e a cara, sujos de uma massa de suor, poeira e palhas.
- Isto não se deixa arrefecer.
Todo o caminho foi uma grazinada com as raparigas, porque elas protestavam também o direito a beber qualquer coisa, tanto mais que no baile se dispunham a ensinar-lhe o seu pé de dança.
- Ele paga aos homens, porque hoje entra no nosso rol. A não ser que vossemecês queiram que o rapaz se faça cachopa.
com aquele dito ficaram todos a rir por muito tempo, de tal modo que uma velha foi rua acima a resmungar baixo, achando aquilo um destempere de gente. A eles é que se não lhes dava com isso. A eira ficava longe e, embora com féria curta, sempre se sentia dinheiro na algibeira. E demais, se fossem a entregar-se de todo ao dianho da vida, iriam juntos afogar-se no Tejo que corria lá abaixo.
As raparigas acabaram por tomar o seu caminho, com grande surriada dos homens, jurando que nem uma só olharia para o Manuel Caixinha. No fundo tudo aquilo era passatempo, para não estarem caladas e ralarem o moço.
Na taberna só estava um carreiro encostado ao balcão, enquanto à porta os bois tilintavam as campainhas, como se lhe lembrassem que a jornada ainda era longa e a noite se aproximava. Escolheram uma mesa e sentaram-se. Zé Vinagre aconselhou que deviam pedir uma garrafa, para não serem enganados na medida, mas o Francisco Beirolas aproveitou logo para lhe largar das suas, dizendo que ele queria ganhar nas goladas.
- Cada vez que a metes à boca, vai um litro.
Outro aventou que era melhor pedirem copos para se servirem, embora o Chouriço mostrasse má cara. pois com o Zé Vinagre ninguém queria acamaradar. Manel Caixinha, de mão na algibeira, acariciava o dinheiro ganho, pondo-se a deitar contas à despesa, alarmado com a disposição dos companheiros.
Vieram três garrafas de vinho tinto. O carreiro saiu. saudando os que ficavam, enresinado por ter tão grande jornada com carrego de palha. Mas na época das eiras há que andar sempre, sem deitar contas ao sono e ao cansaço.
- Quanto é, seu Chouriço?!...
- Tens tempo, homem.
E fazendo uma careta para os outros, pois já percebera que era paga de patente, gracejou com a pressa do rapaz. Puseram-se os outros a moê-lo por mais isto e mais aquilo. O vinho desaparecia nas garrafas por artes mágicas, sôfregos todos por lhe verem o fim. Ao princípio, ele recusou-se a beber também, resolvido a não se pôr turvo. Mas tanto foi atenazado que acabou por voltar um copo e depois outro. Isso deu-lhe coragem para mandar ir outra rodada, o que os companheiros saudaram com alegria de festa grande.
- O rapaz não é dos que se ficam. Os Caixinhas nunca se puseram mal em parte nenhuma. Era o que faltava... O teu avô Sebastião...
Começou uma história, depois veio outra. Chegaram mais fregueses que bebiam ao balcão, apressados em molharem a féria e com sentido no jantar. Eles é que não se lembravam de casa nem das sopas, no festejo de mais um companheiro de trabalho. O Zé Vinagre pagou uma rodada e o Beirolas também não se ficou atrás.
- Bebe, Manel! Isto um homem não se faz só na lida; é preciso mostrá-lo aqui como os melhores.
- O João...
- Esse anda sempre conservado em tinto. É um filho da mãe que não há barril que o tombe.
- Hoje...
O Zé Vinagre meteu aquela dúvida, para se lembrarem de que não admitia outro mais amigo da pinga do que ele. O Maltês pôs-se na sua e nada houve que o fizesse arredar. Estiveram naquela sarrazina tempo sem fim, até que os outros os puseram de parte e arranjaram outra conversa. Não havia um só que estivesse no são. O Manuel Caixinha já não tinha conta nos copos e levava-os de seguida, não se lhe prendendo a goela, porque o vinho era bom de beber e melhor de subir à cabeça. O Chouriço media mal, mas não vendia zurrapa, ufano de manter a fama de que gozava.
Desvairado, com o corpo a formigar-lhe para a brincadeira, o Beirolas saltou para o meio da casa e pôs-se a bater o fandango, enquanto dois outros cantarolavam e os restantes batiam palmas a acompanhar. Já mal levantava os pés, mas todo ele se queria aprumar, mostrando esmero no sapateado e no compasso. Só o Vinagre e o Maltês não davam de mão, teimosos na sua e cada vez mais sarnas.
- Ó compadre...
- Ó homem...
O Chouriço, que ia e vinha num foguete, limpava as mãos num pano mais sujo do que o tecto da taberna e sorria para os fregueses, riscando a giz, na frente do casco, as garrafas que servia. Como os via tontos de todo, assentara mais uma por sua conta que depois alguém havia de pagar.
- Vá lá um cigarro. Hoje começas a ser homem.
O rapaz perdera o norte. Já fazia tudo quanto quisessem. Tinha uma grande vontade de deixar cair a cabeça em cima da mesa e ficar-se a dormir, pois nem os olhos lhe serviam para coisa de préstimo. Via os companheiros, as garrafas e os copos num tremelicar tão seguido que lhe parecia estar ainda em cima da debulhadora a desmanchar molhos.
Puseram-lhe o cigarro na boca, acenderam-lho e ele tirou umas fumaças intermeadas de tosses e agonias. Esqueceu-se de idades e foi abraçar o Zé Vinagre, cada vez mais teimoso com o outro. Valeu com isso a festa não acabar em bulha, pois o Maltês não era bom de assoar e já começara a remorder e a gaguejar. E quando o Maltês gaguejava era mau sinal• prendia-se-lhe a língua, mas soltavam-se-lhe as mãos.
- Ah, seu Zé Vinagre!...
Achou ele graça ao rapaz e os dois largaram-se a rir, sem tempero, esquecendo num instante o mau humor. O Beirolas já se sentara, cansado de mexer os pés; só um dos homens cantava, cabeça pendida e corpo balouçando, como se estivesse num berço.
- Vai outra rodada, seu Chouriço - gritou o Zé Vinagre, entusiasmado com o moço e perdido da bola.
- Já vi que como este há poucos. Um homem nunca se «troce»... Valeu?!...
O Caliça queria falar de trabalho com o outro rapaz do grupo, iniciado já no outro ano. Puxava-o pela camisa para lhe dar atenção, quando ao rapaz apetecia cantar e bailar, desafiando o Beirolas. Foi nesse momento que o Chouriço foi junto do Zé Vinagre falar-lhe ao ouvido.
- E o que tenho eu com isso? Quem vai, vai, quem está, está...
Pôs-se em pé, foi meio tonto até à porta e logo se fez alarido na rua. Os companheiros mal deram pela sua ausência, distraído cada qual com a sua mania.
- Anda pra casa, Zé.
- vou mas é uma gaita. A casa é pra vossemecê e pràs cachopas. Era o que faltava...
- Dás cabo da féria, homem. E despois vai” ser uma ralação toda a semana.
- Mau, mau! Vai-te lá embora que isto hoje é noite cheia. O rapaz é mesmo bom...
Como a mulher não se calasse e quisesse agarrá-lo por um braço, atirou-lhe um murro ao peito que a fez cambalear. Metida consigo, vendo que ele estava em noite de travessia, deixou-o no meio da rua. Mas o Zé Vinagre e que ficou contrariado com aquela e não se calou mais.
- Vá pró raio que a parta!... Éla!... Julga que sou algum menino de mama, não?!... Logo vais ver como te mordem...
O Chouriço foi puxá-lo para dentro, segurando-o nos seus braços rijos de quem levava boa vida. O outro torcia-se todo, voltado para a rua, vermelho de ira e espumando.
- É só trabalhar, não?!... Dias não são dias... Deixava a sociedade por causa dela... Éla!... Vá pró raio que a parta!...
Quando vinha a entrar, o Manuel Caixinha passou por ele que nem uma seta, quis endireitar-se, mas foi estender-se no outro lado da rua, em cima do esterco que a junta de bois deixara. O vinho saía-lhe pela boca, sem necessidade de vómitos. Falazava a meia voz, misturando palavras sem tino, sem se lembrar como viera ali ter. Lá dentro os outros cantavam e riam. Dois homens que passavam é que deram com ele e levantaram-no como puderam, levando-o em charola para a taberna.
- Está como morto, ó seu Chouriço!
- É sinal de que o vinho é bom...
- Hoje é dia de patente para ele - explicou o Chouriço. - Se quer ser homem...
Sentaram-no num banco e logo o corpo se lhe derreou para cima da mesa. Os outros ficaram-se a olhá-lo por momentos, mas voltaram aos copos, esquecidos do seu ressonar pesado. Só o Maltês continuou a dar-lhe atenção, pensando em qualquer coisa.
Depois levantou-se, sorridente, foi dando palmadas nas costas dos companheiros, e foi queimar a orelha do rapaz com a ponta do tição. Quando o Manuel Caixinha se mexeu, levando os dedos à cara para afastar aquele formigueiro, o Maltês começou a rir com quanta vontade tinha. E riu tanto que o Chouriço julgou que ele estava maluco.
NA eira fez-se conversa do seu estado, antes do pegar no trabalho e no quartel do almoço. As raparigas falaram-lhe do baile e a Rita disse-lhe no olhar que esperara toda a noite para lhe ensinar as modas tocadas no harmónio.
A tarefa custou-lhe mais que nos outros dias. pois sentia-se alquebrado, sem forças nos braços, com uma grande moinha nos rins e nas cruzes, além dum peso de vinte quilos na cabeça. Como se tivesse uma sede de beber o Tejo, o Zé Vinagre rira-se de vê-lo também agarrado ao cântaro e gracejava com ele, dizendo aos outros que a boca lhe sabia a cabos de foice. Durante o dia rogou ao sol, mais do que nunca, para abalar depressa. Apetecia-lhe deixar-se dormir em qualquer canto da eira e esquecer-se dos molhos e da debulhadora. Os outros, já habituados ao vinho, não davam sinal de si. Ainda se os aumentadores arrefecessem um bocado, também ele poderia afrouxar as mãos. Mas até estava convencido de que a bebedeira da véspera os despertara mais.
Ficara dessa noite com uma sensação de abatimento e tristeza, embora reconhecesse que não pensara na vida durante esse estado. Era por isso, certamente, que muitos diziam que o vinho é bom, porque faz esquecer penas e um homem é tão feliz como um bocado de pedra.
A avó ralhara-lhe, embora para dentro achasse graça aos seus ditos; habituara-se a vida inteira a ver os homens da família naquele estado. Achara-o ainda mais parecido com o seu Sebastião, porque ambos tinham um vinho triste e lhes dava para chorar.
À tarde, os companheiros quiseram levá-lo outra vez para a taberna do Chouriço; quando, depois de muito instado, se resolvera a acompanhá-los, apareceu-lhe o Barra ao caminho, com ar de poucos amigos, e respondendo atravessado ao Maltês e ao Beirolas.
- Preciso de te falar, ó Manel!
O rapaz saíra do grupo e os outros logo convidaram o Barra para lhes fazer companhia.
- Aquilo é um senhor vinho...
- A quem tu o dizes. Ele sabe disso como poucos... - Vão lá vocês que eu preciso de ter uma conversa com o Manel.
Voltaram os outros a remorder no convite, até que acabaram por abalar sem eles. Quando se afastaram, os dois foram subindo a rua, calados por momentos, como se não soubessem começar a conversa. Ao fim de algum tempo, o Barra dirigiu-lhe a palavra.
- Já sei que ontem à noite...
- Tive de pagar a patente e acabei por perder a cabeça. Quem lhe disse? Isto sabe-se tudo.
- Parece-te que eu com o meu vício sou a pessoa menos indicada para te dizer alguma coisa?
O rapaz respondeu-lhe num encolher de ombros e pôs os olhos no chão, como se o distraísse a marca dos carros na poeira da rua.
- É por saber que faço mal que eu te falo. Não deves voltar, Manel. Bebe o teu copo uma vez ou outra, mas não te fies nos costumes dos mais velhos. O nosso exemplo é muito desgraçado. Basta olhar para a nossa vida, para se ver que nunca soubemos fazer nada de jeito. Da Maneira que o mundo vai a caminhar é que eu vejo os meus erros. Mas já é tarde...
- Nunca é tarde.
- Quando se perde a vontade, já nada há a fazer senão aconselhar os outros com a nossa experiência. Ainda eras um cachopo, já eu perdera o rumo. Voltei a encontrá-lo tarde e agora já não posso ganhar junto dos outros aquilo que perdi. Pensei muito tempo que a culpa era deles. Desanimaram-me com o seu receio... Mas no fundo o culpado fui eu. Despertei-os e por fim... Quando vi que me abandonavam, achei-me desgraçado e fiz o que tu sabes. Seria melhor deixá-los em bruto, se adivinhasse que não era capaz de ir sempre para a frente. Um dia viria alguém com mais força do que tive. Mas só hoje vejo isso tudo. Fica-me a consolação de reconhecer as minhas faltas.
- Ora!
- Tu és novo e com o tempo a vida vai ensinar-te grandes coisas. Não te relaxes nunca nem desanimes.
- Ontem achei no vinho uma coisa boa... Esqueci-me...
- Mas não é disso que tu precisas. Tu precisas é de lembrar-te sempre e cada vez mais. Vê pelo teu caso o caso de cada um e acharás que não estás só. Aparece esta noite lá por casa...
- A taberna é o nosso entretém...
- Vê bem o que a taberna dá e depois aconselha os outros da tua idade. Os velhos já não são capazes de te ouvir. Mas não te ponhas só, à parte, porque assim não serves para nada. Faz sentir aos outros o que tu sentes e não desanimes. No dia em que conseguires um companheiro, serão dois que farão mais dois. A pouco e pouco serão muitos, porque a vida te ajuda a fazê-los compreender.
E batendo-lhe no ombro, com um ar decidido que nunca lhe vira, despediu-se.
Aparece lá por casa. As mulheres embebedam-se de uma Maneira e os homens doutra. É preciso que a bebedeira acabe. Adeus, Manel.
Puxou o casaco para o peito e foi a ruminar todo o caminho. As palavras do Barra pareciam-lhe estranhas e até sem sentido. «Naturalmente já não estava bom da cabeça - pensara consigo. - E talvez não. Nunca ninguém lhe falara daquele modo.»
DEPOIS das eiras valiam as fangas de um ou outro que precisasse de ajuda, pois ainda não tivera quem lhe oferecesse terra para fazer uma. Era novo ainda e mal começara a ganhar saber nas coisas de trabalho. De seguida chegavam as apanhas da azeitona; entretanto, estava-se no S. Martinho. Ele queria estrear fato, mas já vira que não podia passar do cotim, uma vez que os ganhos eram curtos e tudo custava os olhos da cara. Ao menos que chegasse para isso, mesmo que tivesse de fazer alguns pagamentos depois com o que conseguisse arranjar, embora o Inverno fosse sempre falho e mal chegasse para o prato.
Tinham-no convidado naquele dia para ir até à eira da Sociedade, que é onde se junta toda a colheita de milho dos que não têm eira sua. Era sempre um bocado de boa passagem, porque se reunia muita gente a descamisar e as cachopas cantavam ao desafio com os rapazes. Monte aqui, monte acolá, quase pegados uns aos outros, a eira enchia-se; às vezes, havia o seu bailarico para remate, pois aquela tarefa era de ajuda aos que faziam fanga e tinha de se animar a mocidade. Depois do jantar pegou no casaco e pô-lo ao ombro para sair, indo todo o caminho a pensar na conversa que tivera com o Barra. Achava-lhe razão em muita coisa e compreendia agora melhor a causa de muitos males do mundo. Outras havia, contudo, que o deixavam embaraçado,pmbora já tivesse resolvido algumas dúvidas, servindo-se do pensamento. Parecia-lhe que era uma ferramenta nova que lhe tinham dado, a de se pôr a raciocinar. com ela de facto percebia coisas que até então ignorava, distraindo-se muitas vezes a deduzir o que lia nos jornais velhos emprestados pelo Barra. A vida pouco mudara de então para cá. A diferença maior que havia, segundo o outro, era que o número de ricos mais ricos era menor, enquanto o de pobres aumentava cada vez mais. Não soubera o Barra explicar-lhe porquê e ele por mais que aparafusasse também não percebia.
- Lá isso... Que se passa e como se passa, sei eu bem. Olha, o gajo...
Manuel Caixinha sabia bem quem era o gajo.
- O gajo emprestou para aí uns dinheiros sobre uns bocados de algumas famílias. Passado um tempo, como os outros não puderam pagar, tomou conta de tudo. Esses agora só vivem do seu braço. Ele... é o que tu sabes.
Ia a pensar naquilo e só deu por um grupo de raparigas quando a Rita se lhe meteu à frente e as companheiras se largaram a rir.
- Vais mesmo cego, Manel!
- Cego de amores.
- Se nem as via...
- É que não vai aqui ninguém que te agrade - retorquiu-lhe a Rita, pondo-se-lhe ao lado.
- Lá por isso, não. Agradar por agradar...
- Serviam-te todas, não?!... Olha que não te falha a garganta. Sonso como és...
- Nem por isso. Mas dava-lhe um jeito...
- Já a morte tem vício, ó cachopas! Isto é ouvi-lo?.
- Ainda não deitaste sortes...
- Não falta tudo. Dois anos... pouco mais.
Uma velha que as acompanhava, a Iria da Ponte, logo se meteu na conversa a dizer das suas.
- Os rapazes do meu tempo só olhavam para as moças depois de militar. Brincava-se, mas nada de namoricos.
- Nasciam cachopinhos na mesma. Senão... tinha-se o mundo acabado.
- Mas não havia tanto adiantamento como há para aí. Vossemecês agora logo que começam a deitar corpo, todos se derriçam.
- Não eu, Tia Iria. Não vê como elas se estão a meter comigo.
- Pois é isso mesmo que eu estou a ver. Elas agora são piores que os rapazes. Parece que têm medo de apodrecer. Enchem-se para aí de filhos em pouco tempo e depois ninguém as cala com queixas.
- Cá por mim. prefiro passar fome sozinho. isto para um não chega.
- Fazem-te mal as letras, Manel - voltou a Rita já despeitada por ouvi-lo falar daquele modo.
- Ainda o não achei, Rita.
Como o grupo tomasse toda a rua. e fossem muito chegados uns aos outros, ele sentia no seu braço a rijeza do peito da cachopa. Nascia-lhe no corpo uma sensação nova de prazer e mágoa. Apeteceu-lhe mais chegar-se para ela, embora se lembrasse de que ainda não ia à praça* e só ganhava pouco mais de meias jornas.
- Os livros entretém bastante e escuso de ir para a taberna.
Aquele argumento fez calar as raparigas, pois todas as mulheres se lembravam da taberna como o pior mal da vida. A Tia Iria da Ponte é que lhe respondeu:
-’ Os homens não se querem em casa. Homem em casa sapateiro ou alfaiate...
E logo atirou uma quadra para reforçar o se’u dizer:
Sapateiros não são homens, Alfaiates também não... Onde chegam os campinos Treme a terra e bate o chão.
Todos se puseram a rir, até mesmo o Manuel Caixinha, que ficara tocado com a cantiga.
Dali à eira era um pulo. A noite estava calma e bem semeada de estrelas, ajudada ainda por um luar muito claro que entornava uma luz macia sobre as coisas.
- Nem é preciso lanterna, ó Tia Iria.
- Se não forem muitos rapazes...
- Lá está vossemecê com medo do escuro. Só é comida quem se deixar comer.
- Pois é por isso mesmo. A vontade a eles não lhes falta... o gosto a vossemecês sobeja-lhes. É como lume em seara seca.
- Credo!... Parece que os rapazes são alguns lobos. -- Piores que isso. Quando chegam a esta idade, são mais danados que bichas-feras.
Voltaram as risadas, talvez porque fossem para trabalho de ajuda e «uns têm que ser para os outros». Também era o fim das fangas de milho e o hábito de se ajudarem naquela tarefa já vinha de há muito. As raparigas tinham-se preparado como se corressem para alguma festa, vestindo saias de ganga todas empregueadas e que terminavam em quatro carreiras de penteado branco. De blusas e aventais lavados, canos de meias metidos nas pernas, apuravam-se para a descamisada, porque ali se podia galhofar sem ralhos de capataz e olhares tortos de patrão, e os rapazes chegavam-se para a conversa. Namoravam os que tinham achega, atiravam graçolas os que a procuravam. Mesmo com cantoria, quando não houvesse outra música, se armava baile depois de se dar bem aos bicos e aos dedos.
Mal mexeram no portão, logo um cachorro saltou a desfazer-se de raiva, como se se julgasse capaz de comer o povo todo. Nem com falas mansas se convenceu e foi preciso que de dentro o chamassem para abalar de rabo aos saracoteios e cabeça baixa, humilde de todo.
Não era aquele grupo o primeiro a chegar, porque já se divisavam vultos junto dos montes de maçarocas e se ouviam cantigas e gargalhadas. A eira da Sociedade fica cheia todos os anos, embora ao dono se pague um litro de milho por cada saco de seis alqueires para a colheita lá estar na descamisada, e se dê um alqueire por cada molho à máquina que descarola.
Só um lampeão se acendera naquela noite, uma vez que a luz do luar bastava para se fazer o trabalho e as raparigas não exigiam mais para mexer os bicos.
- Está servido o patrão com vossemecês - gritaram-lhes de um grupo atirado ao serviço.
- Mas vão ver o que é dar às mãos. Vai tudo nesta noite e mais que fosse.
- Ainda vossemecês pedem ajuda, pela certa.
- com o desembaraço com que vêm... -É como se viessem prà forca.
Sentaram-se no chão, num semicírculo, voltadas para o monte do milho por descamisar, retorquindo às outras com galhofas. O Manuel Caixinha derrubou umas tantas maçarocas para lhes dar aviamento e deitou-se sobre
o monte, de cabeça encostada à mão e casaco ao lado. Veio a Rita pôr-se-lhe mais perto e logo as companheiras a mordiscaram por isso. Ele lembrou-se da rijeza do seu peito, parecendo-lhe que o sentia ainda no braço abandonado ao longo do corpo. Reparou nela melhor do que nos dias da máquina. Ali, sem ter que separar molhos para o aumentador e sem o tremelicar da debulhadora, via-a com outros olhos, e até a luz macia do luar a punha mais airosa, afilando-lhe o busto apertado na blusa de riscado.
Cruzaram-se as cantigas, os ditos e as gargalhadas. O ruído das camisas a despegarem-se fazia o fundo dos diálogos e desgarradas, dizendo que as palavras não entorpeciam as mãos. No grupo delas estava a Maria da Luz, sempre pronta para desafios, e deserta para pegar com o Manuel, que não lhe dava troco. Já lhe atirara duas quadras e o rapaz ficara-se como se a não percebesse, apesar da Rita se ter levantado para despejar o avental no monte das maçarocas e lhe dizer que ela queria conversa.
Noutra descamisada, ali perto, o António Maçarico debicava as cachopas e também não tinha quem se quisesse medir com ele. E quando acabou uma cantiga que falava da rapariga de voz no saco, a Maria da Luz saltou-lhe do outro lado a defender as companheiras:
Ó rapaz tu cantas bem
E mostras-me a ser fadista...
O trabalho amorrinhou um pouco, atentos os ouvidos à disputa que ia ser de preceito, pois um e outro não eram pessoas de se ficarem e tinham boa fama de improusadores.
... Olha que eu tenho cantado com galos de maior crista.
Entre as mulheres o gáudio foi grande, porque a Maria da Luz não as deixava ficar mal e a primeira cantiga era amostra de desgarrada renhida. Logo o António, pondo-se de pé num salto e de dedos nas cavas do colete, com o seu ar de pimpão, se voltou para o lado da cachopa e atirou-lhe a resposta:
Tenho uma crista bem boa Não te havia de dizer...
E acenando a cabeça para os outros do seu grupo, pôs-se a sorrir, confiante no efeito do improviso. Os bicos tinham parado, esquecidos da tarefa, e chegavam-se, doutras descamisadas, cachopas e rapazes.
... Desejava de saber
Se a menina a queria ver.
E deixou-se cair no monte de maçarocas por preparar, enquanto os homens o festejavam com gargalhadas e palmas. As raparigas encolheram os ombros e voltaram ao trabalho, sentindo-se vencidas. A Maria da Luz baixou a cabeça e fez que o não ouvira. Se fosse de dia, tê-la-iam visto corar muito e saltitarem-lhe duas lágrimas nos olhos. Nunca mais qantou em desgarradas a Maria da Luz, por muito que lhe rogassem. Ficou-lhe aquela para sempre e o António Maçarico, que bebia os olhares por ela, não lhe viu mais um sorriso nem lhe ouviu uma palavra. Durante muito tempo, os que a queriam afinar falavam-lhe naquilo e pouco faltou para lhe porem alcunha.
Daí por instantes as conversas voltaram a animar-se e as descamisadas seguiram sem despiques, embora as cantigas dum lado e outro não faltassem. com o andar da noite os conversados chegavam-se mais e falavam baixo entre si. Quando elas tinham o regaço cheio de maçarocas, eles iam ajudá-las e as mãos encontravam-se, à socapa. -- Vá lá, meninos - gritavam as velhas.
- Tanta ajuda!
O lampeão da outra ponta tinha-se já apagado e o o luar iluminava a eira, pondo em silhuetas os montes de milho e as casas. Então, quando a torre deu onze horas, o Zé Belisário, que tivera colheita ensejada, gritou que era dar aos dedos em meia hora para depois se armar um bailarico até à meia-noite. Não tiveram as cachopas mãos a medir com a ideia do Zé Belisário. Bem lhes resmungavam as velhas, esquecidas já da sua mocidade, amorrinhando os bicos de propósito para atrasar o trabalho. Mas até os rapazes se puseram a ajudá-las, desertos de as terem nos braços e levá-las rodopio.
Cantou-se mais por toda a eira, para afinar gargantas e facilitar a tarefa. As palhas eram atiradas para tras das costas e as maçarocas guardadas no regaço que os rapazes despejavam no monte, para evitar que elas perdessem tempo.
Ó José, ó cara linda...
Quando ao longe se ouviu o toque de um harmónio, até os bichos o escutaram. Deu-se tudo quanto se podia para paga de meia hora de folgança.
- Está o povo doudo - remordiam as velhas.
Mas ninguém lhes dava ouvidos nem mesmo o Manuel Caixinha, a quem a Rita prometera ensinar-lhe a dançar. Todos os moços pensavam na badalada que o sino da igreja havia de bater e as conversas eram raras para não empatar as mãos.
- A primeira moda é pra mim, Maria da Luz - meteu o António Maçarico de carinha na água, para ver se a cachopa estava melhor do agravo. Ela, porém, nem lhe respondeu. Já jurara para si que não lhe daria mais conversa, mesmo que o visse carregado de oiro.
-’Quanto falta, Francisco?!
O rapaz espreitou o relógio e disse que só cinco minutos. O harmónio começou uma música para valsa rodada e já parecia a todos que o sino se esquecera de marcar a meia hora.
Mais ninguém teve mão naquela gente para se desembaraçar das maçarocas. Logo uns tantos pares se puseram a rodar e a marcar compasso, e só algumas velhas, mais rabugentas, ficaram a descamisar, remordendo entre dentes.
O Manuel Caixinha copiou os outros no pôr das mãos; e a Rita, que levava blusa de festa, entregou-lhe um lenço para ele não lha manchar com suor. Tropeçaram vezes sem conta um no outro, desajeitados ainda naquele acerto de pernas e pés. De todas as vezes que isso sucedia, ela apertava-lhe mais as mãos e ele puxava-a muito para si, lembrando-se da rijeza do seu peito moço. Metiam-se com ele os que o sabiam iniciado na brincadeira e não eram cegos para ver que a cachopa pendia para ali.
- Anda, Manel! Não te fiques, homem!...
- É mesmo um par de escolha!...
- Olha-me pra esses pés! Não estragues os sapatos à cachopa, senão apanha alguma maquia por tua conta.
Ele sorria-se para todos, mas nem dizia palavra, atento ao apuro da valsa, tonto de levar mulher nos braços. Só então compreendeu o desvario de rapazes e raparigas quando se lhes falava de bailarico. Era uma vida nova que sentia nascer no seu corpo rijo e amassado pelo trabalho. Tinha ganas de se abraçar a todos, de rir, de pegar no harmónio e tocar também, com a Rita bem presa a si, segurando-lhe a ilharga na concha da mão nervosa, Parecia que já bebera uma pinga e que às vezes balouçava, perdendo a vista para tudo o mais que não fosse a cachopa. Quando a música acabou e ela se desprendeu, seguiu-lhe os passos, sem saber o que ia fazer, como se a Rita o levasse atrelado a fios invisíveis, presos às suas ancas. Disse-lhe um gracejo. Ela voltou-se e respondeu-lhe com outro. Mas um grupo de rapazes meteu-se de permeio e começaram a falar-lhe de muitas coisas que ele não entendia naquele momento.
O luar e as estrelas chegavam para alumiar a eira e até estavam mais espertos, como se o desembaraço dos pares os despertasse também.
- Vai outra!
Cruzavam-se ditos, conversas e gargalhadas. Junto às moças, ou preparados de longe para as irem buscar, os rapazes esperavam que o harmónio desse início ao toque, fingindo-se distraídos com os outros. O Manuel Caixinha é que, por falta de hábito, tinha os sentidos dispersos por pensamentos vários. Lembrava-se da Rita, mas a irmã aparecia-lhe com ela, e se uma o despertava a outra cansava-lhe o peito.
Quando deu pela música, já a cachopa ia nos braços doutro. Deu-lhe ganas de ir tirá-la e levá-la consigo. Pôs-se triste e a imagem da irmã veio para o seu lado, falar-lhe de um futuro incerto. A Rita passou por ele e repreendeu-o com o olhar, por não ser mais desembaraçado em procurá-la. Sorriu-lhe, desajeitado, encolheu os ombros e foi deitar-se no monte de maçarocas, pensamentos atropelando-se, sensações desencontradas, a correrem-lhe no corpo cansado. Depois, sem saber como, a Rita pegou-lhe na mão e achou-se no meio dos pares a rodopiar também. Pisou-a mais do que da primeira vez, falou-lhe muito, gracejou com outras cachopas. Quando deu a meia-noite, sinal da debandada, reparou que nunca mais a largara e tinha no peito um sinal qualquer - parecia uma nódoa posta pelo seio da cachopa no seu lado direito. Sentiu-a toda a noite, acordado e em sonhos. Custou-lhe a dormir, remexeu-se na cama, sonhou de olhos abertos. E teve vontade, por umas poucas de vezes, de se levantar e ir contar à avó que dançara com a Rita.
NUNCA disseram nada um ao outro, mas procuravam-se para andar no mesmo rancho, comiam perto às horas de descanso, voltavam juntos do trabalho e dançavam sempre nos bailes. Todo o povo dizia que se namoravam e só eles não sabiam disso, porque tomavam por gracejo quando alguém lhes falava. Na feira de S. Martinho, depois das barracas levantarem do Arneiro, é que o caso se deslindou entre ambos. Antes disso, o Manuel andou de cabeça no ar e mal reparou no amuo que a cachopa mostrava.
Estreara fato de cotim militar e chapéu preto, ficando empenhado na loja. Os dias que faltavam para o primeiro domingo da feira custaram-lhe a passar como meses, e todas as noites atravessava o largo, a dar conta dos feirantes que chegavam. As noites-de sexta e de sábado pareciam não ter fim e ele a desejar que corressem mais depressa do que nunca. É que falara em mulheres com o Zé Milho-Rei depois daquele baile em que se conheceu diferente, tendo-lhe dito o companheiro que haviam de arranjar duas mulheres da barraca de tiro.
Pela manhã lavou-se melhor, levou tempo sem conta a sair do quarto e, depois do almoço, abalou sozinho para o Arneiro. A avó achou-o de tal modo que gracejou: viste pássaro novo com certeza; levas mais tempo do que um noivo para se arranjar. Mas foi ela quem lhe puxou o chapéu um pouco para a banda e lhe deu uma pena de pavão para entalar na fita.
Abalou decidido a fazer ronda às barracas, para escolher rapariga com quem gastasse uns escudos que levava no bolso; queria experimentar a pontaria nas pastilhas e nos barros, no canhão e nas caixas que soltavam bonecos. Porém, quando se aproximou, sentiu-se oprimido e deu volta para a rua do passeio, procurando distrair-se com os cavalos e os carros que andavam a mostrar os senhores de terras e haveres. Como sempre, a um lado e outro da rua, marcada a primeira fila na borda do passeio, uma multidão embasbacava-se com os apuros dos ladeios dos cavalos e a riqueza dos arreios e dos carros, tomando partidos, discutindo, acotovelando-se. Manuel Caixinha fora para ali também, como envergonhado de pensar nas raparigas dos tiros, mas logo se lembrou do que o Barra lhe dissera a propósito daquele espectáculo da feira.
Imperturbáveis, não movendo a cabeça nem mexendo o olhar, os senhores passeavam rua abaixo e acima, mostrando as habilidades dos animais e a paciência dos picadores. Sorriam entre si, esmeravam-se no aprumo, para que reparassem neles, sabendo que ali, e mais logo nas tabernas, haveria rixas por sua causa.
O ruído dos tiros chamava-o e ele queria fingir que o não ouvia. Nos outros anos saía dali, procurando entretém no circo e nos fantoches. Agora nada disso o seduzia, embora procurasse reagir contra a tentação que o minava. Procurou o Zé Milho-Rei por todos os lados, meteu-se nos grupos, vasculhou as filas de um lado ao outro. O camarada não lhe aparecia, entretido, talvez, nalguma barraca, a conquistar noiva para aquela noite. Indeciso, deu-lhe vontade de voltar para casa, gastando o tempo de qualquer Maneira. Ainda se pôs a caminho para uma das saídas, mas acabou por meter à rua das barracas de alfaiate e sapateiro, pois contava no outro ano fazer umas compras, se a vida lhe corresse melhor.
Deslumbrou-se com as jaquetas e as samarras, os chapéus de aba larga e as botas de pelica preta. Ouviu a discussão para um negócio de casaco e reparou que o vendedor puxava as pontas da farpela de tal sorte que, embora crescendo um bom bocado para o corpo do homem que o vestia, o casaco estava sempre bom.
- Parece-me um bocado largo, ó patrão!
- Não diga isso, homem. A fazenda sempre encolhe um bocado, mas está-lhe que nem uma luva.
O outro não sabia o que isso era, mas entendeu que devia ser coisa boa, e acabou por fechar negócio, puxando pela carteira muito bem amarrada, de dentro de uma algibeira fechada com alfinete-de-ama. As precauções não chegavam, quando se sabia que não faltavam ladrões para fazer a sua colheita.
Dali passou para a parte do gado e viu ciganos a correr animais a ponta de chicote, fazendo de um burro desancado de velho um jerico esperto e desembaraçado. Os tiros das barracas esmagavam-lhe, porém, todas as atenções e nada daquilo lhe gastava o tempo. Lembrou-se novamente do Zé Milho-Rei, que se esquecera pela certa do combinado entre eles, e resolveu-se a ir até perto do sítio das meninas, embora se pusesse de largo. Apressado, o coração batia-lhe, como se para chegar ali tivesse corrido uma grande jornada. A cúpula de lona do circo, galgando por cima de tudo, indicava-lhe o rumo dos seus passos. Nem isso era preciso, porque, se lhe vendassem os olhos, ele seria capaz de lá ir ter, sem se enganar um palmo. Os tiros estoiravam continuamente e assinalavam que a freguesia era muita à volta daquelas barracas.
Cá de largo, como se ali estivesse por outra intenção, seguiu o vaivém dos homens a rondar: uns esperavam que os chamassem, outros, mais decididos por hábito antigo, encaminhavam-se para o balcão e punham-se de paleio com as moças, a quem tomavam as mãos e diziam graças. Elas riam muito, falavam em calão que eles aprendiam, para depois repetir no trabalho, e entregavam-lhes uma espingarda, porque fregueses de cuspo não convinham à patroa, sempre a rosnar, se as raparigas se entretinham muito com alguém. Os vestidos berrantes acenavam-lhe promessas, carinhos sem conta, palavras novas que nunca escutara. Não era capaz, porém, de vencer aquela timidez, que só o deixava olhar de soslaio e ficar ali especado.
Pensou para si que se os outros se chegavam, ele também podia fazer o mesmo. Guardava no bolso algum dinheiro para gastar; não era muito, mas tivera o cuidado de o trocar todo em papel, para poder puxar da carteira e mostrá-la bem, deixando supor que aquilo era só uma amostra de quanto tinha. com passos medidos, foi-se aproximando, a vencer o embaraço que lhe segurava as pernas e matraqueava o peito. Perto dele passou um grupo de raparigas a olhar para o lado das barracas; uma delas voltou para trás e chamou as outras.
- Não vamos por aí que é uma pouca-vergonha! Anda, cachopa!
- Não sei para que diabo deixam «prantar» isto na feira. Põem mesmo os homens tontos.
De vez em quando voltavam-se ainda e ele julgou que falavam de si. Essa ideia ajudou-o a decidir-se; puxou a aba do chapéu para a banda e isto fez-lhe lembrar que lhe faltava um cigarro para companhia. Se o Zé Milho-rei estivesse com ele, já lá estaria há muito tempo. Assim sozinho, parecia-lhe que ia a trocar as pernas e que toda a gente se poria a olhar para ele, ficando a remorder: «Aquele também vai para a malandrice. Depois andam para aí que ninguém pode com eles. Raios os partam.» Era conversa que ouvira sempre, quando se falava do S. Martinho e dos rapazes doentes.
A primeira barraca era a que tinha mais gente à volta, indício de que estavam ali as moças mais galhardas e bonitas. Só lhes via a cabeça, mexendo-se de um lado para o outro; ouvia-lhes as gargalhadas e as falas, dando troco a todos. Não havia um lugar vago no balcão. Alguns homens até se empurravam para conquistarem a primeira fila, tal como na rua do passeio onde os senhores passeavam os cavalos e os carros. Como estava muito povo, ganhou coragem e chegou-se mais. Procurou o amigo e logo se esqueceu, entretido com a conversa das raparigas. Todas eram de apetite, mas os seus olhos ficaram numa de vestido de seda azul, muito comprido, com cara de boneca, boca muito vermelha e olhar azougado. Tinha a pele branca e duas rosetas nas faces, como se ali tivessem nascido duas flores, daquelas que os homens gostam de trazer na mão para oferecer às namoradas.
-- Idalina - chamara-lhe uma companheira.
Até nisso era diferente, porque nunca ouvira aquele nome a uma rapariga da Golegã. Adivinhou-lhe o corpo por debaixo da seda azul, recordando-se do casamento do Dr. Leitão, que metera meninas vestidas da mesma Maneira, orgulhosas que nem olhavam para o povo. Quando aquelas riam, deixavam mexer nas mãos e diziam nomes bonitos aos que se aproximavam.
Ficou ali tempo sem conta. Acabou por compreender que nunca mais chegaria a sua vez, pois não se sentia capaz de conversar como os outros e de ganhar um sítio no balcão. Se fosse capaz, pegaria numa espingarda e, uma a uma, abriria todas as caixas com bonecos dentro; partiria as pastilhas, quebraria os barros, faria estoirar o canhão e meteria no olho do alvo todas as setas que houvesse na barraca. As raparigas olhariam espantadas para ele; quando se aproximassem para o admirar, pegaria na mão da de vestido azul e dir-lhe-ia palavras bonitas, daquelas do romance de fascículos que andava a ler.
Depois compreendeu que aquilo só acontecia na sua imaginação e ficou ainda mais afastado delas. Um grupo de rapazes da cidade invadira a barraca e todas as raparigas se voltaram para eles, dando-lhes abraços e fazendo-lhes festas. Até a Idalina, a de cara de boneca, se agarrara ao pescoço de um magrizela que não se aguentava com dois murros e lhe chamara filho. Abalou dali desvairado, reparando no seu fato de cotim militar. Ganhou ímpeto para ir a outra barraca, fazendo o mesmo a qualquer daquelas mulheres que não tinham gente à volta e deixavam ver na cara o sinal da idade e das privações. Gastaria com uma delas todo o dinheiro que levava e havia de combinar uma saída para se passear defronte da barraca das outras. Mostraria assim que mesmo com um fato daqueles ainda era capaz de arranjar mulher; elas que ficassem com os rapazes da cidade.
Passou por uma barraca, depois por outra. Quando reparou, uma moça chamava-o com a mão.
- Anda cá, anjinho! Olha!... Não sejas mau!
Não sabia já se era ele que estava ali. Sentia-se corado dos pés à cabeça, tremia-lhe o corpo, esvaía-se-lhe a vista. Olhou para um lado e outro, como para disfarçar, mas a rapariga não o deixava:
- É contigo, amorzinho! Vem cá!... Vem cá!... Não sabia se devia voltar-lhe as costas, se correr para a mão que lhe acenava e se oferecia para ele afagar entre as suas. Via todos os olhos postos nele, até mesmo os dos homens da barraca maior e os da gente da rua do passeio, embora ficassem longe, do outro lado do largo. Até a campainha do circo não chamava para entrarem e verem o maior espectáculo do mundo. Badalava sempre, mas de cima do palanque a menina do arame, o homem das argolas e o faz-tudo apontavam para ele e riam do seu embaraço.
Acabou por abalar e atrás de si ficaram gargalhadas e as palavras da rapariga que lhe acenava com a mão.
- É mesmo parolo, coitadinho! Aquele nunca viu mulher!
E voltando-se para outro homem que passava, repetiu as mesmas palavras que lhe dissera.
- Olha!... Não sejas mau! Vem cá!... Vem cá dar um tirinho!
Galgou o largo todo num instante, sem reparar em mais nada, disposto a sair dali. Já não faltava muito para o jantar e a avó gostava sempre de tê-lo à mesa por causa do tio. Em dia de feira ele havia de chegar de grão na asa; se lhe desse para o bem, tudo seria maré de rosas, mas podia ir atravessado e qualquer coisa lhe bastava para serrazinar com todos.
«E se também bebesse uma pinga? com uns copos um homem é logo outro. Dum valente faz-se um podre e dum mole um atrevido. Talvez então fosse capaz de chegar à barraca maior, tirar a Idalina dos braços de qualquer e tê-la só para si. Então havia de mostrá-la à outra que lhe chamara parolo. Mas também podia ter o vinho triste como o Beirolas e dar-lhe para chorar. Ainda seria pior.»
- Eh, Manel!
Quando se voltou e deu de cara com o Zé Milho-Rei, sentiu ganas de o abraçar e levar em charola.
- Ah, grande gajo!
com aquele desabafo despejou tudo quanto tivera vontade de lhe fazer.
- Moí-me para aí à tua procura. Andei a gastar tempo dum lado para o outro. Aquele cavalo branco da Quinta da Broa...
- Quero lá saber disso.
E reparando no fato do companheiro:
- Tens lama que nem um maltês. Parece que vens de fazer alguma jornada. Ainda vossemecês perdem tempo com esses gajos... Não te vi lá e só lá deitei por tua causa.
- Estava mesmo ao meio.
Agarraram nos braços um do outro e sacudiram-se, sorrindo.
- Vens bonito, pá!
- Estás que nem um doutor!
Lembrou-se do que lhe dissera a rapariga e entristeceu. Logo reagiu, puxando o companheiro para si.
- Já lá foste abaixo?...
O Zé Milho-Rei percebeu-lhe a intenção e piscou-lhe o olho. Riram ambos.
- Já dei uma volta. Logo, quando os meninos estiverem a jantar, é que é altura. Agora é só para eles.
- Vais ter comigo?... !
- Pois. Mas não te demores.
Saíram do Largo. O Zé Milho-Rei já fora militar e sabia daquilo bem mais do que ele.
Parecia outro. Pediram uma espingarda para cada um, entendendo o Zé Milho-Rei que deviam combinar a mesma. Quando lhe falou na Idalina, o companheiro achou-a de mais para eles.
- Não tem cara de sair com a gente.
E levara-o para outra barraca. Ele tinha todos os sentidos lá mais acima, mas foi capaz de pegar nas mãos da rapariga e falar-lhe também, embora não lhe roubasse nenhum beijo como o Zé Milho-Rei já fizera.
Deram tiros ao desafio; em cinco vezes só partiu um fogareiro de barro, enquanto o companheiro só falhou uma vez. Estava trémulo, fora de si, capaz das coisas mais danadas. Apetecia-lhe galgar o balcão, correr todos de dentro da barraca e ficar com a rapariga.
- Como se chama?
- Côa boca!
E riu-se muito da sua resposta. Ele acabou por se rir também e deu-lhe uma palmada nos braços.
- Como é?
- Um nome muito feio: Lurdes.
Ficou satisfeito. Passou a tratá-la pelo nome, deixou-a dar dois tiros à sua conta e deslumbrou-se da facilidade com que ela, de costas, abriu duas caixas de bonecos.
Depois o Zé Milho-Rei falou-lhe baixinho, pagaram a conta e abalaram com um abraço.
- Então?!...
--Logo quando tudo estiver fechado...
Foi depois desse S. Martinho que reparou melhor na Rita. A cachopa falou-lhe mal; embaraçou-se por vê-la amuada e pôs-se-lhe à volta para saber o que havia. Ela respondia-lhe por meias palavras, safanões de ombros e olhar turvado.
- O que é que foi, cachopa?!... Olha que esta!
- Eu não tenho nada com isso...
Esteve-lhe de roda tempo sem conta, gracejou, pôs-se triste também, até que ela se resolveu a falar.
Não gostara de o ver derriçado com a barraqueira, numa pouca-vergonha de gargalhadas e abraços que até parecia mal. Voltou a dizer que nada tinha com isso, mas que era feio por-se naquele disparate à frente de todo o povo e não tinha precisão de andar falado. O Zé Milho-Rei era um tuna e ele que não fosse naquelas companhias.
NAQUELES três anos a vida correra na mesma cadência de sempre. Poucas semanas seguidas de trabalho, folgas constantes por falta de amos, esperanças nas fangas daqueles que as faziam e certezas consoladoras para os patrões que as davam. No Inverno, intervalo maior de descanso forçado, porque o rio nunca deixava de inundar as baixas e o que ficava livre não chegava para todos.
Manuel Caixinha, rijo e decidido, marcou o seu lugar nos trabalhos em que se assoldadou e muitos abegões já sabiam procurá-lo para o contratar. com diferença de poucos meses morreu-lhe a avó e depois o Barra. A falta dos dois deixou-lhe um vazio na vida, pois ambos se equivaliam no seu afecto, valendo-lhe o namoro com a Rita para distraí-lo à noite, embora não lhe fizesse esquecer aquela amargura maior que se lhe marcou no rosto e no coração.
Em casa do tio começou a sentir má vontade contra ele. pois os dois cachopos cresceram, mais três vieram ao mundo, e os cubículos não aumentavam, antes pareciam minguar cada vez mais. Se queria ler o seu bocado, os cachopos não o largavam, escolhendo o mesmo sítio para pegarem um com o outro e distraí-lo. Ralhou-lhes uma vez e percebeu que o tio não gostara da reprimenda. indo para o quarto falar com a mulher. Adivinhou a conversa, saiu e nessa noite não ceou em casa. Começava a sentir a falta de um canto seu para estar à vontade; as necessidades de homem iam-lhe aumentando essa preocupação, tanto mais que já falava à porta com a Rita e os sentidos não se podiam libertar da aproximação da moça. Mais amiúde, passou a escrever à irmã, procurando nela os afectos que lhe faltavam; aconselhava-a sempre a acautelar-se com promessas de rico, porque para cair em mau caminho já dera o primeiro passo. Falava-lhe muito na Beatriz do Barra, para lhe lembrar um exemplo, e para que sentisse que homens como ele não aparecem muito no caminho dessas mulheres. A instâncias suas a Anita aprendeu umas letras para melhor se entenderem, sem que outros soubessem da sua vida. Então ela começou a contar-lhe melhor o que se passava nas casas dos senhores da cidade, obrigando-a a andar de serviço em serviço, porque eles ou os filhos não deixavam as raparigas, entendendo que criada é mulher para qualquer trabalho.
Quando foi para militar, destacaram-no para Abrantes; depois do tempo de recruta passou para cocheiro do carro dos oficiais, o que lhe granjeava gorjetas e muito saber da vida, pois, nas suas conversas, aprendeu coisas novas que jamais pensara. Como era camponês, tinham-no por bronco, falando de tudo junto dele, como se fizesse parte dos animais do carro. Depois ganhava a vantagem de não fazer guardas, embora muitas madrugadas tivesse de se levantar antes dos outros para aparelhar as mulas e fazer jornadas com qualquer tempo. Naqueles dezoito meses só foi à Golegã por seis dias, pois não havia quem lhe oferecesse dinheiro para a viagem e não conseguia juntar do que lhe davam. A Anita, uma vez, é que lhe mandou das suas economias.
No dia em que o licenciaram foi festa grande. Correu com os camaradas as tabernas da cidade, esquecendo-se da noite em que pagara a patente. Depois foram todos à rua das mulheres e acabaram em briga por causa duma delas, a Amália, que viera de Lisboa e não gostava de soldados. Pela tardinha, abalou para a estação com os que ficavam no Entroncamento e acabou aquele ano e meio de ausência. A caminho dos 22 anos parecia ter mais idade. Atarracado e largo de ombros, mãos pesadas pelo trato das fainas do campo, ninguém o via rir. Quando alguma coisa o tocava, não fazia mais do que um sorriso leve, empregueando a boca beiçuda. Um dos companheiros reparou melhor nele quando iam em viagem e gracejou para os outros.
- Aqui o 27 já parece um correço. Tem cara de gajo que foi ao barril.
- Não vais contente, pá?
- Contente de quê?!... Não mudo de vida...
- Não se grama aquela malta.
- Mas aguentam-se outros piores. Se não levo saudades de Abrantes, também não me puxa pra casa. Oficiais ainda há alguns de boa forma, agora patrões... Nem um. Parece que nasceram todos da mesma mãe.
Calaram-se os outros com as suas razões. Um deles puxou de uma gaita de beiços e pôs-se a tocar uma moda qualquer. Foi então que o 83 veio para junto dele e começou a falar. Ficou a saber que trabalhava nas oficinas do Entroncamento e que já fora algumas vezes à Golegã. Gostara de o ouvir falar e perguntara-lhe se sabia ler.
-- Qualquer coisa.
- Então hás-de ler uns livros que eu tenho.
- Falaram-me da Toutinegra do Moinho. Dizem-me que é um romance bonito.
- Bonito é veneno, pá. Já leste o Nasceu Uma Criança?
- Não.
- Isso é que é um romance.
Fizeram-se amigos desde aquele dia e encontravam-se sempre que lhes calhava. A vida começou a ter para ele um novo sentido, procurando sempre o contacto dos companheiros, ainda que tivesse de ir à taberna para fazê-los sair consigo. Lia aos outros passagens dos livros que lhe emprestavam e só então eles compreendiam que era bom saber ler. Nem o Barra sabia falar de tais coisas, de Maneira que todos ficavam a saber o que lá se dizia.
- Se quisesses ir à minha casa, Manel.
- Vamos todos.
E passou a namorar a Rita só duas vezes por semana.
A sua vida de homem começava verdadeiramente naquele dia. Toda a noite pensara no acontecimento, tecendo factos à imagem das suas ilusões. Sentia-se assim mais perto dos companheiros, relembrando os longos anos em que apetecera aquele momento. Não guardava nisso as mesmas esperanças de então, embora ainda se achasse orgulhoso com a ida ao Arneiro. Sabia de trabalho como qualquer outro, tinha os seus braços de rapaz, o que chegava bem para não ser dos que levam capote. Conhecia, porém, que a praça não é esse lugar em que sonham todos os moços, quando se querem fazer homens. Na praça resolve-se o destino de todos os trabalhadores da Golegã, sejam eles da Baralha ou de Marvila, tenham de pegar na gadanha ou eirar, puxar pela enxada ou varejar azeitona. A vida dos homens é ali que se faz e desfaz. Ele desejava aquele momento com ansiedade, porque lhe parecia ser necessária a sua presença junto dos companheiros. Não precisou que o galo cantasse na capoeira para lhe dar o sinal da madrugada. Levantou-se ainda de noite, foi até ao quintal ver a criação, e depois saiu, metendo primeiro até S. José para dar uma volta ao pontão. De casaco ao ombro e chapéu derrubado, dedos nas cavas do colete, soube-lhe bem a aragem da manhã. Havia estrelas no céu, mas não reparou nelas, porque os seus pensamentos iam para os homens que viviam ali com ele. Em todo o caminho só encontrou um boieiro, que ia para o pátio do patrão tratar do gado, e cães famintos. Pôde assim pensar bem naquele passo da sua vida, agora que sabia ser mais do que um homem. Passava a ser para sempre um trabalhador do campo, alugado na praça para fainas de qualquer época, sofrendo com os outros os mesmos salários, oferecidos por quem tinha terra sua ou de renda. Se se destacasse no trabalho, poderia também arranjar uma fanga e fazer mais um tanto pelas colheitas. Havia de ter casa sua, casar com a Rita... E lembrou-se da irmã. Veio todo o passado para junto dele a recordar-lhe a morte do pai, as promessas do Joaquim Honorato, as falas da mãe e aquela noite. Bastas coisas tinha já para contar...
Entregou-se por inteiro aos pensamentos que lhe ocorriam e não reparava no que ia à sua volta. O dia chegava-se, pondo em tudo a claridade da madrugada, e já passava por ele mais gente a tratar da vida. Corriam carros pela estrada, saíam rebanhos dos redis. Uma velha que o viu a falar sozinho benzeu-se e disse para si que o rapaz conversava com o Diabo. E nem lhe deu a saudação, não fosse o Demo reparar nela também.
Quando o dia clareou, pôs-se a caminho para lançar a sua sorte. Não conseguia vencer, por inteiro, a emoção que o tomava, criando imagens e diálogos, ora esperançosos ora acabrunhantes.
«-Manel Caixinha, vem daí! Pago-te a dezasseis, que é conta que não faço a mais ninguém. Passava um e outro, mas nenhum reparava nele. Abria os braços e mostrava-se para que vissem bem o seu poder, capaz de
qualquer das tarefas do campo. Os companheiros iam todos e só ele ficava sem aluguer, esquecido no meio do largo, como coisa sem préstimo, olhado de banda pelos abegões e rendeiros. - «Se queres vir, pago-te a oito!» «Oito?!...» «És ainda um novilho no trabalho e não mereces mais.» «Não vou, guarde lá o seu dinheiro. Se faço trabalho igual, quero também salário igual.» «Se calhar, ainda nem sabes pegar na foice.» «À vista do pano é que se talha a obra.»
Toda a jornada foi enleado naquela obsessão, interrogando-se em milhentas perguntas, para que achava sempre diversas respostas.
- Eh, Manel!... Aonde vais tu?!...
- vou até à praça, para ver se há quem me pegue. E vossemecê?...
- Ao mesmo. Que a mim só quando não há outro é que me agarram. Mas já é costume...
Parou à espera do camarada, um velho trôpego, derreado pelo cansaço de largos anos de aluguer.
- Se queres ir mais devagar...
- Pois, Ti Caetano. Ainda chegamos a tempo, pela certa.
- Chegas tu; eu...
- Chega na mesma altura e sabe mais do que eu.
- Faltam-me os braços e as pernas. Isso tens tu de larga. É a primeira vez que lá vais?
- Sim, senhor.
- E eu se calhar é a última. Estou farto de perceber isso, mas não há Maneira de me desimaginar. Há quase cinquenta anos que faço esta carreira. De há tempo para cá... é ir-me abaixo, eles a passarem de largo...
Ti Caetano rebuscou no bolso uma ponta de cigarro, levou-a à boca, mastigou-a por um bocado e deitou-a para o chão.
- Tudo é assim na vida. O que está velho... fora! Há aí muita árvore que eu plantei e tratei melhor do que me tratavam a mim. Hoje dão frutos e madeira que é um regalo. Esqueceram-se os donos que fui eu quem as fiz. Eu... e a terra.
--”A gente é que faz tudo.
- Pois é! Pois é!... E no fim de contas...
Pôs a mão no ombro do rapaz e teve um sorriso amargo.
- Agora pegam-te sempre. Não tens mãos a medir, para os que te querem levar. Quase que se batem por tua causa. A pouco e pouco ficam com a tua gana e até com o teu corpo. Depois tens tu que lhes pedir e depois...
- Esquecem-me.
- É isso! Se eu tivesse só uma pequenina parte do pão que arroteei, semeei e cortei à gadanha, podia viver vinte vidas que nunca me faltava. Agora... vou para ali porque já não sei outro caminho. Estou como os animais que puxam à nora e não sabem fazer outra coisa. E custa-me. Se não for ali, tenho de me pôr a uma esquina à espera que me vejam do Céu.
- Mas não o vêem...
- Sou muito pequeno para me alcançarem. Ainda não pedi pão a ninguém. Peço-o aos meus braços e eles... ficam-se.
Bocejou, deu à cabeça como desiludido, e apontou de longe os homens que já tinham chegado à praça.
- Acabam todos como eu e começaram todos como tu. Há-de ser assim toda a vida... sempre...
- Eu tenho esperanças...
- Estou farto de ouvir falar disso. Já quando eu era rapaz se dizia o mesmo. Um dia... E esse dia nunca chegou, Manel.
- Mas há-de vir. Há-de vir, Ti Caetano.
- Ainda era uma consolação para mim. Era triste morrer, mas sabia-me bem que os outros ganhassem com isso. Os meus netos... tu... essa rapaziada que para aí anda...
Numa fila que tomava a berma da rua, voltados para o Arneiro, os homens esperavam que os viessem alugar. Conversavam alguns, outros entretinham-se a puxar fumaças dos cigarros, estremunhados ainda, por tão cedo madrugar. Defronte deles, a uma esquina, um grupo de patrões falava, combinando jornas.
- Adeus, Manel. Boa sorte!...
--Boa para si, Ti Caetano! E tenha esperanças...
- com esta idade...
Separaram-se. Manuel Caixinha percebeu porque o velho se despediu e encaminhou-se para junto dos mais novos. Reparou, então, que se reuniam por idades, talvez ^em intenção de se dividirem. Ele foi acolhido com abraços e galhofas. Ti Caetano chegou ao meio dos velhos, deu os bons-dias e não houve sorrisos.
- Tenho lá um tomatal de ver a Deus.
- Os meus pimentos também prometem. O pior é que este ano, como o preço foi bom, o meu senhorio aumentou a sua parte.
- Aumentaram todos. Lá nisso puxam eles certo. Têm medo que a gente lhes faça sombra com mais alguma coisa de ganho. Isto de fanga é um homem fazer um jeito para se enganar.
- Mata-se a gente com trabalho e no fim...
- No fim é esperar pelo outro ano e acontecer-lhe
o mesmo.
- É hoje a primeira vez, Manel?
- É.
- Vamos lá ver se não levas capote. A gente mesmo assim tem saído quase todos os dias.
- E daquele lado?... Apontou para a fila dos velhos.
- Esses, coitados...
- Há já uma semana que nem faço uma hora.
- E eu na mesma. A companheira entrevada na cama... pra lá está. Eu como conversa nas tabernas, ela come choros.
- E os seus rapazes?
- Ora, os meus rapazes. Se nem para eles chega. Uma ninhada de filhos cada um. Mas lá dão uma ajuda de vez em quando. Mesmo assim, nisso não fui falto de sorte.
- Também se não fossem eles...
- Eles que demoram tanto, não estão a combinar boa.
- Olha quem!... Alguns dez mil réis e viva!
- Era nem um homem sair. --E o resto?
- Rebentava tudo. Ao menos acabava-se esta matação.
- O abegão do Honorato nunca mais chega.
- Falaste com ele?
- Falei.
- E depois?!...
- Levam-se os homens sem preço e ele paga a dez. A gente... segue.
- Diz que pra Almeirim pagam a oito. -- Quem disse?
- Ouvi dizer.
- É preciso ver isso bem. As coisas cada vez estão piores e a gente não pode armar em rico.
Chegavam mais homens para a praça, acamaradando em grupos. Manuel Caixinha reparou que os de Marvila
não vinham para junto dos da Baralha, deixando-se ficar à esquina, no outro extremo da praça. Os patrões não se resolviam. Inquietos, os homens olhavam para eles, querendo adivinhar-lhes as intenções.
- O que é que eles estarão à espera?
- Do que há-de ser! Não vês que ainda não chegou o cão do Honorato!
- E com esta praga de gente...
- Vai ser um dia catita.
- Ó se vai!
A roda dos patrões abriu-se e puseram-se em fila, a olhar para os homens. Mal o perceberam, todos se mostraram o melhor que podiam, levantando o peito e procurando avantajar-se aos do lado, para que os levassem primeiro. Falavam ainda, em diálogos curtos, mas os seus olhos andavam inquietos, a quererem lembrar aos amos os trabalhos prestados noutras fainas. Para alguns, já ali não havia companheiros, senão inimigos que se defrontavam numa luta surda de melhores braços. A praça estava cheia de homens e os patrões eram poucos, sinal de que a jorna ia sair baixa e muitos tinham de passar o dia nas tabernas a esquecer a vida.
Os de Marvila estavam no outro extremo e para lá se encaminharam dois abegões, como distraídos, em passeio e conversa, mas escolhendo os alugados que haviam de levar para melhor rendimento. Todos lhes queriam despertar a atenção, só faltando chamá-los, como se faz nas feiras. Manuel Caixinha reparou na semelhança e recordou-se do S. Martinho quando notou os gestos de alguns camaradas. Parecia que tinham uma campainha na mão, como os homens do circo, e berravam para os amos, dizendo das vantagens da escolha.
«Meus senhores! Meus senhores! Não há braços mais fortes em todo o mundo! Aqui se faz todo o trabalho melhor e mais barato! Não há faina que eu não conheça! Se quando o espectáculo começar alguém não ficar satisfeito, restitui-se a importância! Meus senhores! Meus senhores!»
Levavam a mão à cabeça quando os outros passavam. queriam reter os olhares e prendê-los até que lhes acenassem para sair da fila. Já ninguém falava. As palavras tinham começado a rarear, até se extinguirem de todo. O silêncio dizia mais que quantos gritos de súplica se pudessem soltar.
Quando chegou o abegão do Honorato, os homens sentiram que o destino estava nas suas mãos. Ele também fizera parte daquela fila e dali saíra alugado para tarefas do campo. Depois destacara-se, aos poucos, a forçar os companheiros, e gente daquela nunca os patrões deixam esquecida. Mais decidido que nenhum abegão, fez sinal para um homem.
- Vem tu!
Logo o outro avançou, sorridente e empertigado. porque aquilo era distinção que poucos mereciam.
- Trabalho de gadanha.
- Quanto, seu Francisco?
- Isso vê-se depois. O que os outros pagarem também eu pago.
Era a mesma palavra de sempre, quando na praça havia muito povo. Eles queriam dizer alguma coisa, mas já muitos tinham ficado marcados por exigirem preço e os patrões combinaram-se para lhes fazerem sentir que homem alugado só recebe ordens.
Aquele ficou e vieram mais cinco para junto dele, escolhidos entre os homens famosos no manejo da gadanha.
- É ir que eu não demoro! Peguem na ponta de baixo e levem-me tudo de seguida. E agora não adormeçam por lá. Tu, ó Jaquim, vê lá isso!
- Sim, senhor.
Aquele prometeu para si puxar bem pelos companheiros, porque alguma vez podia ficar criado do Honorato e deixaria de vir à praça, sujeito a dias parados por falta de amo ou ruindade de tempo.
Alugados os mais novos, ficou todo o resto. Só doze homens não levaram capote. Os outros não arrancaram, esperançosos nalgum amo mais tardio que lhes pegasse. Falaram em coisas da vida. Voltaram a sentir-se companheiros.
Manuel Caixinha, que foi para as Praias, chamado pelo abegão da D. Aurora, levou todo o caminho a lembrar-se dos que tinham ficado. Ele nunca poderia ser guarda de propriedade, quanto mais abegão. Na praça, como nas feiras, há sempre gado que fica, por mais que o corram e o queiram fazer ligeiro.
Já os outros tinham feito um quartel, quando os primeiros homens sem dono abandonaram a berma da rua. Quase todos foram para as tabernas esquecer a vida. Os que faziam fanga, foram dar-lhes volta, crentes de ganharem ali o dia perdido. Os velhos ficaram ao sol, pelas esquinas, a aquecer o corpo frio.
- Eu ainda me hei-de desenganar...
- Eu já lá vão duas semanas e nada...
Nas tabernas, os homens de Marvila pegaram-se mais uma vez com os da Baralha por causa do local da praça.
- A gente ainda há-de deixar de vir aqui.
Na outra madrugada voltavam todos. Uma fila à espera de dono - velhos e moços. Só alguns saíram.
- E preço?...
- Isso vê-se depois. O que os outros pagarem também eu pago.
Os velhos foram novamente para as esquinas, à espera que o sol os aquecesse.
MANUEL Caixinha não se dava mal nas praças, pois só quando o trabalho faltava de todo é que ficava à boa vida. Ele sabia bem o porquê dos seus contratos e não deixava nunca de tomar o partido dos companheiros, mesmo à frente de capatazes e abegões.
- Isso foi herança do Barra.
Era o que lhe respondiam sempre, quando se tinham de calar perante as suas razões. Como os seus braços não se ficavam, e muito ainda havia que lhes tirar, era dos primeiros a arranjar amo para qualquer tarefa. A Rita também fazia os seus dias e, como a casa do tio se tornasse cada vez mais pequena para tanta gente, pensaram mais a sério no casamento.
- Enquanto não vier doença ganharemos a vidinha. O pior... são as coisas de casa.
- Cama, talvez eu arranje...
- Ó Manel!...
E pegou-lhe na mão, apertando-a muito entre as suas. Como chuviscara, tiveram de se recolher um pouco mais para dentro de casa, pois ainda não tinha ordem de lá entrar; o casamento ainda não estava combinado e sem isso as liberdades ficam à porta da rua.
- Eu gostava de levar cama nova... Todas levam...
- E o dinheiro, Rita?
- Ora!...
- Não vês que tenho de comprar um burrito para me levar os amanhos da gadanha? com menos de três notas não alcanço nada de jeito.
Como a visse amuada, deitou o olhar para a rua e para dentro de casa, e furtou-lhe um beijo. Chegaram-se mais. de mãos enlaçadas, esquecidos de que havia gente na cozinha.
- Porque é que não pedes uma fanga?
Ele ficou calado, pensando nas queixas dos outros fangueiros e no fim do pai.
- Faz, Manel!... Dois anos só, até a gente arranjar as nossas coisas.
- Mato-me de trabalho e, no fim...
- Eu ajudo-te. Tu vais ver o que é dar-lhe com vontade. Não preciso capataz para me mandar, nem há canseira que me chegue. Os dois tratamos daquilo aos bocados.
E nunca mais se calava, a querer transmitir-lhe o seu entusiasmo.
--Sim, Manel! Diz que sim... Comprávmos uma cómoda daquelas com flores... e um espelho... um candeeiro grande...
- A gente só acende o da cozinha...
--Mas fica em cima da cómoda. É tão bonito...
Meio convencido, ele titubeava pretextos, mais por senti-la tão junto de si do que para lhe pôr objecções. Uns passos na rua fizeram-nos afastar; depois riram-se do susto que tinham agarrado, ficando de mãos presas, como se as quisessem esmagar.
- E a quem vou? Há para aí tanta gente que as quer...
- Mas tu és novo, Manel. Tomaram eles que tu fales.
- No fim é trabalhar e morrer de fome. Todos se queixam...
- E todos querem.
- É por isso que eles estão sempre de cima e cada vez tiram mais. Não vês nos pimentos?!... Como deram bom preço, já aumentaram a parte deles.
-- São só dois anos, Manel!
Quando voltou a casa, tinha prometido que procuraria patrão que lhe desse uma sorte de terra para ele trabalhar. Não queria ir para aquilo, mas não via Maneira de comprar os amanhos e forçara-se a anuir. Pensou muitas horas no que havia de fazer, acabando por resolver-se por terra de milho, que sempre dá menos cuidados quando o ano corre de ensejo.
- Que diabo! Também não me vou matar. Se não me der bem, largo. Não me obrigam...
Por fins de Março bateu a várias portas ou procurou encontros para arranjar fanga. É essa a altura própria em que todos minam para conseguir aquele achego de canseiras, confiantes sempre de que alguma coisa virá para tapar as faltas maiores; muitos não a adregam, porque os patrões não entregam terra a qualquer.
- Tenho as sortes todas tomadas, rapaz. Tenho pena... Para o ano talvez. Há lá um diabo que não me trata aquilo a jeito e vou arrumá-lo.
- Lá isso, não senhor... Às vezes a terra não dá...
- Terra daquela dá sempre, homem. Aquilo é um mimo de lentura. Até parece que só os olhos lhe fazem nascer milho. Eles é que pedem e depois relaxam-se.
- O tempo, patrão.
- Qual tempo, homem?!... Querem agarrar este mundo e o outro; nas colheitas quem perde sou eu. Levanto dali umas maçarocas, quando devia tirar uns bons alqueires.
Acabou por cair nas mãos do António Falcão, falcão de nome e de ganância. A Rita não o deixava, confiante de que ambos seriam capazes de arrancar uma boa seara, e ele acabou por também ceder naquilo.
- Fazer fanga já é despir a pele e morrer de fome. Em terra do Falcão é empenhar o corpo e nem ganhar para o enterro. Mas está bem... Tu não te salvavas.
com o dinheiro que arranjassem, comprariam dois carneiros para criar. Ela iria à erva e prometeu tratá-los até à feira de Torres Novas ou qualquer mercado do Entroncamento. Lá negócios de gado era com ele. Vendesse-os e fizesse do dinheiro o que lhe aprouvesse. Talvez não fosse mau comprar outras duas crias, mercando, com o que sobejasse, alguma mobília ou roupas para casa.
- De gastar é ele bom, cachopa! com isso não te importes tu! Damos-lhe conta num foguete.
Perdeu naquele dia o último quartel e pôs-se à cata do António Falcão, correndo Ceca e Meca para o agarrar. Acabou por dar com ele na farmácia, entretido por dois dedos de conversa com o Dr. Serrão e o administrador. Passou várias vezes para baixo e para cima, rente ao passeio, e foi postar-se defronte, no meio da praça, encostado a uma árvore, certo de que naquele dia o caso ficaria arrumado. O cocheiro já lhe dissera que havia uma sorte sem fangueiro e o patrão não lha recusava, pela certa.
Tempo sem conta ali esteve, olho bem vivo para a porta, admirado de nunca mais o ver sair. De bem disposto que estava, pensou no caso, gracejando para si: «Aquele diabo ou está a fazer negócio ou pagam-lhe para ele conversar. O Falcão a perder mais duma hora...» Depois lembrou-se de que talvez o tivesse deixado sair sem reparar, o que lhe não parecia fácil. Mas há momentos de cegueira na vida de um homem e aceitou a hipótese. Atravessou o largo e foi certificar-se, entrando na farmácia a comprar um papel de borato, que é coisa que sempre dá jeito.
- Patrão!... - e tirou-lhe o chapéu, pois sabia que o outro gostava de mesuras.
Aviou-se e saiu. Voltou para o mesmo sítio, à espera, cada vez mais admirado da demora.
«Não estava ali para dar ponto sem nó, não. Pelo doutor não devia ser, que as consultas eram pagas. Pelo administrador, talvez ou quase certo. Era novo na terra e sempre convinha ganhar-lhe a estima, para casos de maltês ou prisão de rapazes e mulheres que se atrevessem a ir-lhe aos amanhos.»
Veio-lhe à ideia a noite dormida na cadeia, tudo o que a antecedera e quanto se passara depois. Tinham corrido largos anos e guardava os mais pequenos pormenores, como se acabasse naquele momento de vivê-los. Faziam parte dele próprio, como um órgão de que não podia separar-se.
«O que faria a irmã? As cartas rareavam e pareciam esconder alguma coisa para lá da sua simplicidade. Andava de casa para casa, sempre perseguida pelas exigências dos patrões, e qualquer dia... Qualquer dia era mais uma.»
Quis afastar essa alucinação, mas nada agora o distraía. O Joaquim Honorato tinha uma filha do seu tamanho e ele desejou-lhe qualquer mal que pagasse o martírio da Anita, longe dele, sem arrimo de ninguém, numa terra grande como Lisboa, onde os homens se perdem, quanto mais as moças... Mas a filha de rico o pior que sucede é casamento feito à pressa. O dinheiro lava ’tudo, | pois as fangas não servem para outra coisa.
Apeteceu-lhe sair dali. Não esperava o Joaquim Honorato, mas outro que era bem seu par, sócio na parceria’ dos senhores da Golegã, que tudo têm - terras, gados e homens.
Quando a conversa acabou na farmácia, vieram para o passeio e continuaram-na. Ele aproximou-se tanto que o Falcão percebeu que lhe queria alguma coisa e disse para os outros «que de certeza não lhe vinha dar nada». Teve vontade de lhe responder que sim, pegar-lhe na banda do casaco e, cara a cara, dizer-lhe tudo quanto havia. E muito tinha para falar...
- Que grande namoro, ha?!... O que é que queres de mim?...
Era mesmo de lhe voltar costas e responder que falasse para os cães. Mas o pobre tem de passar os dias a mastigar palavras, sem nunca poder cantar de alto, já que pouco mais arranja para remoer.
- Se o patrão tinha uma sorte para me entregar.
- Há por lá qualquer coisa, sim. Mas estou farto disso.
Agradou-lhe a proposta do rapaz, ganho de fama por saber trabalhar e decidido como poucos. Havia, porém, que dar rendimento à terra, fazendo-se desinteressado.
- A gente dá fangas para ajudar e no fim são uns mal agradecidos que varrem as ruas com o nosso nome... Assim nem apetece.
A resposta não lha podia dar e ficou calado, à espera que o outro decidisse.
- vou acabar com aquilo qualquer dia e faço a terra de minha conta. Ganho mais...
- Paciência, patrão. Desculpe...
Fez jeito de se retirar, levando a mão à aba do chapéu. O outro pegou-lhe no braço:
- Sempre tens vontade de pegar na fanga?
- Se não tivesse...
- Ias-te embora... Parece que o interesse não é grande.
- Não vinha aqui se a não quisesse. O patrão não a dava e eu não podia obrigá-lo.
- Fazes milho?
- Pensei nisso.
- Agarras ali um bocado que é mesmo de feição. Se lhe trabalhares com vontade, ganhas ali uma boa conta. E tu mereces... És filho de bom homem. Aquilo da morte chegou-se a saber porque foi?
- Coisas da vida! Trabalhou de dia e de noite e cada vez tudo lhe ia pior. Desenganou-se...
Varado pela resposta, o outro mudou o rumo à conversa, entrando na combinação do contrato. Puseram-se a caminhar para o lado de Marvila, ombro com ombro.
- Dou-te a sete.
- Sete, patrão?! Caramba!
- Pois?!...
- Sete é a terra da Companhia, a Requeixada e o Paul. E mesmo assim...
- A minha é bem melhor, rapaz. Como te chamas?...
- Manuel.
- Pois é verdade, Manel. Sete e é pegar-lhe. Aquilo é terra que nem uma coelha. Dá tudo que se lhe meta dentro. Já te disse e é mesmo assim: dou aquilo de fanga para os ajudar, porque se me atirasse àquele bocado forrava não sei quantas vezes mais.
Manuel Caixinha ia pensativo, mal ouvindo as palavras do outro, contrariado já por ter acedido aos rogos da cachopa. Lembrava-se de um dito do Maurício Carapinha.
sempre repetido quando se falava de casamento. «Enquanto fui solteiro era só Maurício. Agora, depois de me comprometer, tenho um ror de nomes. Maurício lenha, Maurício pão, Maurício dinheiro... Eu sei lá!...»
Ele agora já era Manel fanga - Manel trabalha para António Falcão ter vida regalada e conversar na farmácia com o médico e o administrador. Se não fosse a Rita, de há muito que teria voltado costas àquela conversa. O pior é que as casas não se enchem com o vento e havia muito que mercar.
- Pois é verdade, Manel. Dou terra, lavra e semente.
- E gado para carretos...
- Nisso nem se fala, homem. Vais aí para terra de vinhas? fraca de todo, e deixas quatro partes.
- Há aí quem dê de meias e de terço.
- Mas dá mais trabalho e menos maçarocas. No fim não ês nem um carolo. Na minha parece que apanhas um pedaço de céu.
- Isso não dá milho, seu Falcão. Anjos e santos é que lá se criam.
Riu-se o outro do gracejo, como se lhe não percebesse a intenção. Chegaram à porta da casa, donde vinha o toque de um piano, e António Falcão meteu a chave à fechadura para se fazer desinteressado.
- Olha que te não fico com a palavra. Se pegas é negócio fechado. Senão... Já me andam aí de volta que mais pareço uma mulher para tanto olhado e namoro.
- Fico-lhe com a sorte.
- Já te disse...
- Escusa de repetir, seu Falcão. Bem sei: é um favor que me faz.
Todo o caminho de volta à Baralha não houve quem lhe visse o olhar. «Manel fanga, Manel lenha, Manel pão...»
A terra era fraca e prometia pouco. Já trabalhara na sacha e na amontoa, esmerando-se quanto podia e sabia para salvar tudo pelo melhor. O Falcão não se lhe dava com a seara, porque conhecia que fangueiro de primeiro ano é sempre de trabalhar com vontade, esperançoso de ganhar ajuda para alguma achega. Naquele dia pouco pessoal saíra da praça e ele resolvera-se a ir fazer uma volta à fanga, como se pudesse com os olhos ajudar o milho a crescer e a criar maçarocas gradas. Passara por casa para fazer farnel, levando-o num saquito que pôs ao ombro, como se levasse alforje de grande avio, e todo o caminho se pusera a ruminar na falta de notícias da irmã. Escrevera-lhe duas vezes, uma das cartas viera devolvida sem uma indicação que o pudesse sossegar. Reconhecia naquele momento que ambos tinham o destino certo que o berço lhes trouxera. Ele fazia fanga e a Anita andava por Lisboa, ao baldão, sem carinho amigo de quem lhe quisesse bem. Apetecia-lhe largar tudo e procurá-la, correndo a cidade de ponta a ponta. Parecia-lhe, às vezes, que isso era a coisa mais natural deste mundo, mas noutras compreendia o absurdo da sua ideia e punha-se abatido, sem ganas de se mexer.
Aos poucos, como um pingo de água na pedra da nascente, ele entendia melhor o suicídio do pai. Chorara muito, parecendo que então adivinhara saber um dia, mais tarde, todos os motivos da sua morte na alverca. Bem queria romper barreiras, continuar sempre com a sua energia e trabalhar sem canseiras. Acabava por sentir que desperdiçava a mocidade numa coisa sem préstimo para ele e para os companheiros. No fim, o António Falcão teria dinheiro para mais extravagâncias ou para comprar terras a algum proprietário pequeno que se deixasse afundar, como sucedia cada vez com mais frequência.
- Isto o dinheiro corre para o dinheiro, como o Tejo corre pró mar. Não há carreira mais certa.
Os velhos falavam assim e os velhos tinham sempre razão quando se queixavam da vida. Não a ganhavam, quando cruzavam os braços e aconselhavam os outros a fazer o mesmo.
- Já cá encontrámos isto... O que há-de a gente fazer para se tirar deste inferno?!...
Ficavam naquela interrogação, tolhidos de entendimento, deixando pender a cabeça e enfraquecer os membros. Andavam para ali, como animais cansados de trabalhar, a quem só o aguilhão desse algum alento para o resto da caminhada no mundo.
Quando chegou, deu a volta à sua sorte, comparando-a com a dos outros a quem o Falcão entregara terras. - Aquilo é um mimo! A sete e é só para os ajudar! --e verificou que a sua seara parecia melhor de quantas ali se faziam. bom trabalho lhe custara e mais à Rita, decidida como poucas em ajudá-lo, embora talvez contrafeita consigo mesma por incitá-lo a pegar naquilo. Os feijões que pusera pelo meio do milho estariam prontos para apanhar depois da desponta; qualquer dia, já o Falcão lhe dissera, convinha fazer umas guardas de noite, porque senão, quando lá chegasse, nem terra seria capaz de encontrar.
Era de tudo o que mais lhe custava, embora fosse guardar um pouco do seu suor - o maior quinhão já ele dera ao outro com contas de juros largos. A vida é assim mesmo. Sentia dolorosamente que era um traidor aos bandos de mulheres e rapazes que todos os dias buscam na seara alheia a sua pequena parte de direito ao pão. Lembrava-se da infância, dos conselhos do Barra. Tudo se lhe projectava em tortura na sua cabeça cansada, vivendo os contrastes de pensamentos opostos.
Pendurou o saquito do farnel no galho de uma árvore e voltou a correr a fanga, a passo curto, como se lhe custasse caminhar com o peso das preocupações. Parava de vez em quando a olhar tudo, afagava uma cana ou outra, e continuava. Só de tarde chegava a sua vez de regar e custava-lhe ficar ali, tempo sem conta, a atender as interrogações a que se dava. Tinha consigo dois homens diferentes, trocando razões, enquanto o seu corpo passivo se achava incapaz de seguir um deles. Acabou por se sentar num marco que dividia as fazendas, agitado por aquela luta que o minava e consumia. Inquietos, as pernas e os braços não achavam posição para se ficar, ora apoiando o queixo na mão, ora cruzando as pernas, para logo endireitar o busto e encostar os pés à pedra.
Dentro de si, as duas almas debatiam-se em razões.
«Que tenho eu com os outros?! Toda a vida foi assim e assim será para sempre.
- Na vida não há sempre... Os homens é que a fazem.
- Os homens?!...
- Sim, os homens. A vida muda a cada passo. Ainda hoje no mundo ela é diferente. Aqui é uma coisa, ali outra...
- Mas o que não posso deixar é que os outros levem aquilo que o meu suor criou.
- Se pensasses assim, não fazias fanga. A fanga é trabalho forçado para ti e colheita para o Falcão.
- Esse é o dono...
- De quê?!
- Da terra...
- E dos fangueiros. A terra não é de ninguém.
- Minha não é ela...
- Nem do Falcão.
- Mas cada um deve tratar de si.
- Esmagando os outros. Por isso mesmo é que a vida está só nas mãos dalguns.
- Eu não tenho mais ambições que fazer fanga e ganhar o que puder, até ter um bocado de meu. Depois juntar-lhe outro bocado...
- Até que o mundo todo te pertença.
- Isso não pode ser.
- Não pode ser, mas é o que querem todos como tu.
- Um pedaço basta-me.
- Depois de teres isso, quererias mais e mais. Ficarias cego, surdo e mudo para tudo o que não fosse teu. É assim que começam. Primeiro com Maneiras mansas, logo crescendo de ambições, capazes de incendiar o mundo por um naco de terra.
- A terra...
- Quando nasceste já ela cá estava e quando morreres cá fica.
- Fica para os meus.
- Os nossos são todos os que trabalham. É a família maior do mundo. ’
- Pois sim, mas virei fazer guarda à fanga, porque não estou para me roubarem o que o meu suor criou.
- Eu prefiro que venham cá os que não têm celeiro. Faz de conta que vêm buscar parte que lhes pertence. É o pagamento dum foro.
- Eu sou eu e só eu...
- Eu sou os outros todos que vão comigo para a praça e ali se alugam. Sem eles nada valho.
- Isso é fraqueza...
- Isso é a minha força...
- Ainda tenho esperanças de deixar a praça quando tiver fazenda minha.
- Eu sei que hei-de deixar de lá ir, mas é dali que sairá essa vontade.
- E a vontade de Deus?
- Deus deixou isso aos homens.»
E o seu corpo passivo ficava incapaz de tomar um rumo. Sentado, só via os pés de milho à sua volta, como se todo o mundo fosse aquilo e nada mais. No meio da folhagem verde, aberta como uma flor, despontava alguma coisa. Dali sairia o produto do seu esforço e da Rita. Maçarocas bem cheias, loiras como o Sol que lhe tostava a cara e alumiava a terra.
Via um grande monte de milho, mais alto que a árvore que ali perto oferecia sombra. À sua volta, orgulhosos de seu suor, os fangueiros sorrindo-se e dando-se as mãos. Mas depois o Falcão chegava, punha na mão de cada qual um punhado de grãos e levava todo o resto para si. E quando eles lhe mostravam o que lhes ficava, o outro franzia o sobrolho e voltava as costas.
- Sete e é por ter pena de vocês!
Levantou-se num repelão e viu para além mais alguma coisa que a sua fanga. Era a terra de horizonte a horizonte, cheia de luz e de esperanças, inundada de fartura, cortada de árvores que se erguiam para o céu. A vila pressentida pela brancura das primeiras casas, a distância, tapada pelos cabeços onde os pinheiros pareciam erva rasteira. O rio adivinhado lá abaixo, manso como o dia, manso como ele. Mais tarde o rio havia de se enfurecer, galgar margens, derrubar tudo e vir até onde ele estava, cobrindo a fanga, a pedra onde se sentava e o tronco da árvore que oferecia sombra. E sem saber porquê sentiu-se feliz com aquela ideia. Sossegou.
- Eh, Manel!
Voltou-se e deu com o Jacinto a acenar-lhe com o braço. Agarrou no farnel e caminhou para o outro, satisfeito de ver alguém.
- Que tal?!...
- Fraco. Mata-se a gente de trabalho e no fim...
- Queres vir?!... ’
- Aonde vais?...
- vou ao Terréiro ajudar a laçar uma vaca brava. Mata-se o tempo. Escusa um homem de se pôr parvo a pensar nisto tudo.
- Não gostas de pensar, Jacinto?
- Não há meio de pensar em coisas boas. Só com uma pinga. Ainda é uma grande coisa, ó Manel! Se não fosse o vinho, estou desconfiado que mais de meia Golegã se matava.
- com o vinho vocês matam-se todos os dias e o mal não tem cura.
-- Vem daí, homem. A que horas tens rega?...
- Lá prà tarde.
- Então, embora. Fazes de conta que vais laçar o Falcão.
Riram-se ambos da graça e meteram ao carril que leva ao aposento. Filas de faias e choupos guarneciam o caminho, como guardas defendendo os amanhos, e projectavam sombras largas na areia que o rio trouxera pela última cheia. Dois rapazotes, acocorados num silvedo, esperavam o momento de fazer a sua colheita. Quando os pressentiram, disfarçaram a~ assobiar, e um deles atirou uma pedra a um pássaro que voava.
- Estão a ver se ganham o dia?
Iam a ensaiar desculpas, mas quando notaram a cara do Caixinha, viram que dali não havia que temer. E sorriram-se.
- Estou a guardar a propriedade, seu Manel - disse-lhe o mais atrevido, piscando-lhe o olho.
- Temos aqui uma boa seara - juntou o companheiro já refeito do susto.
- Então não a largues.
E seguiram jornada, a recordar coisas passadas com os dois.
Quando chegaram ao aposento já havia rapazio na vedação do cercado, esperando o animal que não devia tardar, pois os campinos tinham abalado com os cabrestos. O comprador da vaca levou a carroça puxada a mula^ para debaixo de uma oliveira, não fosse o bicho encrencar com as bestas e ferrar-lhe partida. Depois veio de chicote na mão, pôr-se à curva do carril, falando aos criados da casa. De longe ouviam-se chocalhos e brados de maiorais na apartação. A manada estava à borda de água, pastando num poisio, e havia que separar das outras a vaca escolhida, metendo-a à ponta de vara no meio dos cabrestos.
Manuel Caixinha e o companheiro despiram os casacos, mal perceberam a chocalhada aproximar-se, e foram colocar-se em boa posição para desafiar o bicho. Quando apontaram à curva do carril, envolvido tudo de poeira, campinos de caras alçadas e barretes aos sacões pelo correr das éguas, cabrestos enrodilhando a vaca que se destacava, pela cor, entre o amarelo das chocas, os dois saltaram dispostos a fazê-la sair, para arranjar tourada. Mas tudo passou de roldão, direito ao cercado, entre algazarra dos rapazes encarrapitados nas varas e nos moirões. Fechada a porta, o animal olhava à volta, como se pressentisse o destino que lhe davam. Receoso, acometia com os cabrestos, para logo se aquietar e procurar o seu amparo. O maioral ia preparando a corda, enquanto dois homens de cinta vermelha saltaram para dentro do cercado; de pampilho em punho, faziam rodar o gado e iam juntá-lo a um canto. Depois um deles pegou na vara com a corda na ponta, protegendo-se atrás dum cabresto, e, cauteloso, não fosse a vaca descobri-lo, tentou meter-lha nos cornos. Por três vezes a tentativa falhou e outras tantas o maioral mordiscou no campino desajeitado.
- Se não tens outra habilidade...
- Eu não me dou com isto.
Assomadiço, largou a vara, atirou-se para cima dum cabresto e enfiou a corda na cabeça do bicho; depois entregou a ponta aos que estavam de fora. Nervoso pelos remoques do maioral, pegou na vara e fez sair as chocas, espicaçando-as nas ancas, enquanto de fora uns tantos homens puxavam a corda e torciam a cabeça da vaca que acometia o espaço de cornos engravitados; de madrinhas ao ombro, outro campino galgou as varas, decidido, e foi amarrar-lhe as mãos, insensível aos seus mugidos, que pretendiam chegar até à manada, como se as outras pudessem salvar daquele embaraço.
O abegão deu ordem para a derrubar e ficou de largo com o comprador, a falar do peso e do preço, atirando recomendações aos que se chegavam para dar ajuda.
- Cuidado com o animal, eh gente! Quantas menos voltas, melhor!
Uns dum lado, uns tantos doutro, puxaram as madrinhas e atiraram a vaca ao chão, saltando-lhe em cima com os joelhos, não fosse ela sacudir-se com mais ímpeto e apanhar algum dando-lhe a conta. Pelo agitar da cabeça o chocalho badalava, numa nova tentativa de libertação. Cansada do esforço, ficou-se depois a resfolegar e a mugir, como se compreendesse o seu destino e o lamentasse, já que os homens e os rapazes gralhavam contentes de a terem vencido. Cruzaram-lhe depois os pés e as mãos e só a barriga se movia, num respirar ruidoso que levantava poeira como um fole. Estremeceu num último arranco, percorrendo com os olhos a fila de homens que estava à sua frente, ergueu ainda a cabeça e logo a deixou cair num desalento.
Então, o comprador foi buscar a carroça, meteu-a no cercado, desatrelou as mulas e entregou-as a um rapaz que se ofereceu para ajuda e andava dum lado para o outro a querer emparceirar.
- Vai ó!
Carroça empinada, de varais ao alto, dois homens arrastaram o bicho pelo rabo e deram-lhe volta para que a cabeça ficasse a direito da mesa. Derreados do esforço, mordiscavam na ponta do cigarro, mãos descansadas na cinta vermelha, enquanto outros puxavam a corda da cabeça e torciam a vaca, mugindo de novo e resfolegando mais.
- Vai ó! Vai tudo!...
- Puxa certo!...
- Vai daí, com força!
Todos ajudavam, uns agarrados às madrinhas, outros aliviando a vaca pelo rabo, outros ainda endireitando os varais, para que as mulas fossem engatadas. Os mugidos esmoreciam a pouco e pouco; de cabeça torcida e hastes aperreadas, o animal já não se movia em repelões bruscos para se soltar, esmorecido por se sentir incapaz de atirar dóis ou três homens abaixo e procurar o caminho da beira-rio. Um fio de baba grossa escorria-lhe do canto da boca, donde pendia a língua cinzenta, inquieta ainda. Depois do gado metido à carroça, um campino saltou-lhe para cima da anca, para se certificar de que não haveria novidade até à vila. E outro pôs-se a aconchegar-lhe mãosadas de palha por baixo, enquanto as moscas começavam a pousar por todos os lados.
- Pronto, seu Zé.
De gado à mão, o comprador saiu do mercado a caminho do carril. Brincava-lhe, por entre os pêlos eriçados da barba e do bigode, um sorriso de triunfo, como se tivesse cometido grande façanha.
- À à à! Vai à à!...
A rapaziada saltou das varas e moirões e foi agarrar-se à carroça, num acompanhamento de algazarra e gargalhadas, empurrando-se por melhor lugar, pois cada qual queria entrar na vila em destaque, para contar melhor todas as peripécias.
- com esse pessoal que leva aí, nem vôssemecê precisa de abrir o talho. Comem-lhe o bicho todo num virote.
- Isso talvez, isso talvez.
Ao lado das mulas, tornando-se mais prestável para ganhar gorjeta, o rapaz que se agarrava tocava-as com uma verdasca, sem compartilhar do gáudio dos companheiros. O marchante é que dispensou a ajuda e correu com ele dali.
- Fui eu que lhe segurei no gado, seu Zé! Dê-me então alguma coisinha.
- Um raio que te parta!
E fez estalar o chicote para afastar a romaria que não lhe deixava a carroça.
Manuel Caixinha ficou no grupo de criados a vê-los seguir, entretido com a surriada que o rapazio fazia ao homem. Mas quando olhou para o Sol e o viu a inclinar-se para o poente, abalou carreiro fora, sem mais conversa, pegando no braço do Jacinto. O outro, esquecido dos afazeres do companheiro, teimava para que ainda ficasse.
- Não posso, homem. Se me passa a hora da rega, mato o milho de securas. E o Falcão manda-me desancar pela criadagem toda. Isto de ter fanga é uma matação... matação bem grande. Muitos dias não tomava amo, -^ porque o milho exigia a sua presença e não podia abandoná-lo só à sorte do tempo; em muitos outros era despegar do trabalho depois do sol-pôr e abalar para lá, sem cuidar de ceia nem de canseiras. Em seara de sequeiro ainda se pode descansar na terra, mas em milho de regadio as tarefas desdobram-se e perde-se a conta das horas gastas no trato.
- Se pudesse perder meio quartel...
- Isto tem de se acabar, homem. Se não podias vir, era melhor não teres levantado da praça. O patrão brama-me e eu não te posso dar mais trabalho.
Era assim cada vez mais dura a luta entre o assalariado e o fangueiro. Apetecera-lhe bastas vezes abandonar tudo e entregar a seara ao Falcão. Se largasse o trabalho, sem atender às palavras de capatazes e abegões, começaria a perder amos e a fanga não lhe dava para viver. Também o dono da terra não o largava com recados e conversas, exigindo que fizesse tudo com tempo e depressa, pois queria receber dali quanto mais pudesse.
Abandonar a fanga era dar ao Falcão muitos dias de esforço, ralações sem conta e a esperança de recolher qualquer coisa para os arranjos da casa. A Rita não o deixava, em cada dia mais entusiasmada com a colheita.
- Havemos de comprar um estanheiro, duas cadeiras à papo-seco e uma mesa, sim, Manel?
Ele sentia-se incapaz de contrariá-la; embora tivesse muito para lhe dizer. Ao abatimento sucedia-se a coragem para continuar até ao fim contra as amarguras que o queriam derrubar; então atirava-se à tarefa com mais gana, convencido de que os seus braços moços chegariam para tudo.
- «Se os outros se amanham, também eu hei-de ganhar alguma forra. Isto na vida o que é preciso é paciência.»
Conseguia, às vezes, abafar os protestos do outro companheiro que tinha dentro dele, a lembrar a todos os momentos o fim dos fangueiros que gastavam a vida a trabalhar terra alheia, sem ao menos terem jorna certa. Punha-se mudo a essas recordações e dava-lhe sempre para diante, pois ficar no caminho era encher a bolsa ao Falcão e regalar alguns que só medram com o mal alheio.
De vigia ao sol, ardendo de impaciência para que o dia acabasse, começou a ouvir remoques de patrões, uma vez que no último quartel o trabalho não lhe saía com o mesmo desembaraço. Eles alugavam-no para dar tudo quanto tivesse e não levavam à paciência vê-lo levantar os olhos ou voltar-se para o poente. E atiravam palavras aos capatazes, para que ele ouvisse a recomendação.
- Qualquer dia acaba-se a jorna para os fangueiros. Lá pagar para namorarem o Sol é que eu não estou de acordo. Quem lhes dá a terra que lhes dê trabalho. Ou não vão às praças, que é para não enganarem quem lá
vai. Se pago, quero trabalho. Dinheiro à minha custa é que não fazem.
E mais serrazinar à parva, que era mesmo de um homem perder a cabeça, pegar na alfaia e desancá-los com quanto poder guardasse. Mas só havia que esquecer os ouvidos para não dar troco a conversas daquelas. O milho pouco prometia; porém não podia deixá-lo sem oferecer ao Falcão quanto lá gastara em dinheiro e suor. O gasto das semanas era certo, as lojas remordiam-se para abrir mais fiados, e um homem salvava-se melhor, assoldadando-se para fainas de ensejo, deixando a colheita para alguma compra mais precisa, pois da jorna nunca sobejava dinheiro do prato. Os outros patrões é que não gostavam de dispensar quartéis nem sentir o pessoal deserto pelo fim do dia. Andava-se assim preso por ter cão e preso por não o ter.
- Larga!
Sacudia as botas, passava a manga da camisa na testa para limpar o suor, punha o casaco ao ombro e abalava.
- Até amanhã!
Fora assim para a sacha e para a amontoa, para a desponta e para a apanha do feijão. Já desfolhara uma parte e naquela noite tinha de dar conta do resto, senão o outro não o largava com recados e ameaças. Depois do folhado estar seco, dá-lo ao carro e perder um dia; apanhar o milho e levá-lo às costas, sem mais ajudas, para o transportarem à eira; descamisá-lo, espalhá-lo, escarolá-lo... Uma praga de canseiras e, no fim, pouco achar de seu, a não ser um grande abatimento que magoava o peito e tornava a vida mais dura. Depois pensava que talvez não, que o milho às vezes engana, e atirava-se ao trabalho para abrandar dúvidas e merecer melhor paga.
À noite só tinha de contar consigo. Como não estavam casados, a Rita não podia ir ajudá-lo, mesmo que nem pela cabeça lhe passasse outra coisa que não fosse a fanga. Mas se as bocas do mundo pegam onde não há ponta, melhor se deitam quando agarram dúvida.
O namoro já perdera aquele deslumbramento dos primeiros dias, e ambos, cansados de trabalhar, mal se reconheciam mulher e homem. Falavam da vida, pegavam-se de zanga por isto e mais aquilo. Ele acabava por descer a rua, prometendo não voltar mais, uma vez que nada lhe devia. Um beijo ou outro não se percebe à luz clara do dia e nenhuma mulher deixa de ter casamento por ninharia tão tola. Mas acabavam por esquecer o arrufo, para na outra semana voltarem a zangar-se.
Quando ele começara a desfolhar, o Falcão procurara-o por causa da guarda.
- Manel!
Aquele ar, assim tão amigo, trazia por certo má notícia. E então com mão no ombro era de deitar a fugir. - É altura de fazeres umas guardas à seara.
- Eu, patrão?
- Pois, homem, quem há-de ser?!... Fica por lá aquele folhado, o milho já se vai a chegar...
- Mas o folhado é seu, patrão.
- Mas fanga é fanga. Vê-se mesmo que é a primeira vez que tomas conta de uma tarefa dessas. Uma noite ou outra só para não julgarem que aquilo não tem dono.
- Lá isso não, seu Falcão. Trabalho, aquele que a seara pedir e ainda mais algum que vossemecê não deixa um homem em descanso. Agora cão de guarda... e sem pagar licença...
- Que raio de coisa, homem. Entortas tudo. Lá ficas cão por tomar conta do que te custou a ganhar... Vocês têm cada uma... Vê-se mesmo que és rapaz de agora. Metem-se umas coisas na cabeça desta gente que é mesmo de uma pessoa se julgar noutro mundo.
- Lá isso é verdade, patrão. O que lá pus já não posso tirá-lo. Se se perder, que vá em boa hora e que faça bom proveito a quem o levar.
- Mas não pode ser assim, Manel. O teu pai...
--O meu pai matou-se na alverca e eu não conto fazer o mesmo. É mais fácil entrar com alguém que entrar comigo. Porque não manda vossemecê um criado tomar conta?!...
- Quem faz a fanga és tu.
- E vossemecê é que ganha o dinheiro. Acabaram atravessados um com o outro. Não contou
o caso à Rita, porque no fim dava arrufo, tanto a cachopa teimava em querê-lo atrelar a tudo o que desse no gosto do Falcão. Sempre que na vida algum passo o martirizava, lembrava-se da irmã. Era um refúgio doloroso, esse a que se abrigava. Mas com isso sentia que o seu viver tinha um destino bem diferente daquele.
Então, nas noites de Agosto, vigiado pelas estrelas lá no alto e entregue à tarefa da fanga, a sua presença não o abandonava. E parecia-lhe que o mundo tinha uma nova razão para si.
AQUELA semana quem tivesse unhas para puxar a gadanha forrava jorna mais alta. Muitos lavradores tinham forrejo para cortar e com gadanheiros faziam o serviço mais barato, pois cada homem faz o trabalho de três ceifeiros, mesmo dos que não amorrinham nas mãos. Se os mais novos eram quase sempre preferidos, em tarefa daquelas só eles saíam da praça. Os outros iam lá por hábito, para não ficarem em casa a ouvir a serrazina da mulher e dos filhos. Às vezes, quando o serviço era muito, um ou outro mais decidido conseguia aiianjar patrão.
Como as searas de forrejo não são grandes e, por tanto, não valia a pena meter manajeiro para puxar pelos homens, os lavradores combinaram entre si darem empreitadas, porque de outro modo os gadanheiros mais ralhavam e ficava sempre alguma coisa para o outro dia. Medindo bem os homens pelo seu corpo, como se escolhessem gado numa feira, os abegões passavam por diante da fila para alugar e escolhiam os mais capazes de dar rendimento, abanando-lhes a cabeça num gesto de contrato. Eles davam uns passos à frente e a combinação fazia-se.
- Gadanhar forrejo. É aí uma seara de quarenta alqueires de terra.
É no Espargal ou no Campo?
- No Campo. Dá para dois homens, dois dias de trabalho à larga.
- À larga é lá na sua. E a como?
- Só dou empreitada.
Manuel Caixinha hesitou um momento a olhar o outro, medindo-o de alto a baixo. De há um tempo àquela parte não sabiam outra conversa para searas pequenas e eles não achavam outro remédio senão aceitar. Trabalho de gadanha é de desancar o corpo, mas em cada dia a vida ia a pior e eles não se sabiam combinar como os patrões. Já falara nisso a uns camaradas e nenhum o quisera atender. Só o Jacinto concordara com as suas palavras, mas os dois não chegavam para ganhar opinião na praça.
- Empreitada?!... E a como?...
- Recebes oitenta escudos por dois dias. Se fores capaz sozinho... - e sorria-lhe da proposta.
- Vossemecê é teso. Sozinho, dois dias, ha? - e sorriu-se também, num esgar amargo, com vontade de lhe voltar costas e mandá-lo alugar a família.
- Arranjas companheiro.
- Quarenta alqueires de terra disse vossemecê?
- Quarenta alqueires, pois. É terra de Campo, mas aquilo é melhor que o Espargal.
- Dá uma nota e fica o contrato feito.
- Isso é muito, homem. Vossemecês agora puxam que é uma beleza. Vinte mil réis por dia é jorna de doutor. E ainda acham pouco.
- Não há doutor nenhum que ganhe isso, nem algum que queira pegar na gadanha. Nem vossemecê o quer, quanto mais...
- Já peguei e nunca me fiquei para trás. Olha que nunca levei capote.
- É por isso mesmo que devia saber o que o trabalho custa. Mas vossemecê já se esqueceu - e atirou-lhe aquela a sorrir, como se lha dissesse por gracejo.
- Oitenta!
- Não levanto. Adeus, seu João, e obrigado. Separaram-se. Ele voltou para a fila à conversa com os camaradas. O outro seguiu caminho à espera que ele o chamasse, retardando os passos para o deixar arrepender. Como não lhe ouvisse a voz, veio ele à fala, gritando-lhe de longe.
- Partimos a conta ao meio, Manel.
- Na, na. Isso de partir é escangalhar, seu João. É uma nota e tem o trabalho pronto amanhã ao sol-posto.
Em voz baixa, um companheiro contou-lhe que havia homens saídos a vinte para a gadanha. Mas ele sacudiu-lhe os ombros, fazendo que não o escutava.
O abegão ficou-se a mirá-lo bem, como se estivesse na feira de S. Martinho a assistir ao passeio na rua dos senhores. Atarracado e largo, aquele afirmava-lhe que o serviço se faria na conta e o patrão não teria que lhe dizer.
- Vá lá, diabo. Chega-te aqui. Dou-te cinquenta e pagas quarenta ao outro.
- Ó seu João... Vossemecê acha-me capaz de fazer isso a um camarada?! O trabalho é o mesmo...
- Mas tu é que puxas. Não há por aí gadanheiro melhor que tu. Se quiseres ficar como manajeiro da casa em serviços de gadanha... Não sejas parvo...
- Lá para puxarante não sirvo, seu João. Nem pra isso nem pra guarda. Obrigado pela lembrança. Se eu ganhar cinquenta, o meu camarada ganha outros cinquenta.
- És parvo.
E pondo-lhe a mão no ombro, sacudiu-o para si.
- O Barra não fez nada deles. Acabou na desgraça.
- E o que tenho eu com o Barra que já morreu?
- Trata de ti, homem. com o que sabes ler, com a gana que tens e mais o que sabes de trabalho, podes arranjar um bom lugar numa casa grande. E fazes a tua vida. Os outros não te pagam coisa nenhuma.
- Ninguém me deve.
- Pois sim. Os patrões é que já remordem em ti. Tem conta...
O abegão perdera perante ele o seu ar agressivo, de quem se julgava senhor e dono de todos os homens da praça. Lembrara-se dos seus tempos de alugado e amaciara, sem saber porquê, a dureza de sempre.
- Arranja companheiro! Vem lá pelos cem, mas não digas aos outros.
- E onde é, seu João?
- Ao pé do Honorato.
- Mas não é para ele!...
- Não, homem. Nunca mais te passa, ha?!...
- Nem mil anos que eu viva.
O Joaquim Bagulho pôs-se a olhá-lo da fila com olhar de cão humilde, como se lhe quisesse lembrar que há muito não ganhava jorna, metido na cama com uma carga de sezões agarradas no Paul. Manuel Caixinha fez-lhe sinal para sair e logo a cara do outro se encheu de uma expressão nova, brincando-lhe nos olhos gotas de água.
- Gadanha, Manel?
- Pois. Tens a tua boa?!
O outro fez-lhe que sim, acenando-lhe a cabeça, como se não fosse capaz de achar palavra para lho dizer. combinaram encontrar-se à porta do Ventura e cada um meteu a passo largo, direito a casa, pois, em empreitadas, o tempo não sobeja para entreténs.
O Bagulho trazia o burro para lhe levar os amanhos da gadanha e ofereceu-se para levar os seus, uma vez que ele ainda não ganhara para comprar um. com os dois alforjes, os barris de água e os apetrechos, o jerico ia desancado de todo, caminhando a dar à cabeça, como se com ela quisesse marcar o ritmo do passo.
- É para muitos dias, Manel?
- Dois pelos alqueires de que ele me falou e pelo tempo que os bois levaram a lavrar.
É assim na gadanha. O trabalho dos homens é temperado pelo tempo de serviço dos bois. A tarefa de uns é a tarefa dos outros.
- Vinte cinco.
- É bom preço, Manel. Houve lá quem levantasse a vinte.
- Qualquer dia ainda pagam para gadanhar. É descer, descer... Por menos não me apanham eles.
De martelo e safra às costas, atados pela ataca, que é nome que a gente dá à ponta de coiro cru, seguiam lado a lado, em conversa, incitando o burro de vez em quando para ir mais ligeiro; à cinta, e do lado direito, o caçapo com a água e a pedra de afiar, enquanto a gadanha descansava, desarmada ainda e presa ao cabo pelo elo com o francalete de cabedal.
- A tua fanga?
- Fraquinha. Pela primeira vez apanho uma carga de canseiras e no fim...
- A como fazes?
- A sete! É mesmo trabalhar e morrer de fome. Se não fosse a cachopa, não era o Falcão que me pilhava. Isto de fanga...
- As terras fracas...
-- E eles cada vez mais lambões. A gente dá o suor, a pele...
- E agarrar alguma. Até parece que se comem uns aos outros para arranjar terra.
- É como os besoiros quando vêem luz. Acabam por ficar tontos e batem tanto nas lanternas que morrem naquela canseira. A gente está na mesma. Tontos como os besoiros.
Descarregaram o burro cada qual do seu lado, pondo os amanhos no chão, tiraram-lhe a albarda e o freio, e, depois de o prenderem, deixaram-no a tasquinhar na erva, rebolado de fartura. O Bagulho pôs-se a armar a gadanha, enquanto ele dava uma volta à seara para destinar o serviço.
- Estamos servidos com isto. Há por aqui forrejo acamado que parece que lhe andaram dentro éguas a espojar-se. Temos de lhe dar bem.
- Não foi pla minha cara não. Olha quem!
Sentados no chão, safra espetada pelo bico, passaram sobre ela o gume do cortante, batendo-a com o martelo para o picar, três vezes para baixo e para cima.
- Estou a precisar doutra.
- Eu qualquer dia arrumo a minha e nunca mais lhe pego. Os anos já vão passando...
O sol começava a romper e era tempo de apressar os preparos para se deitarem ao serviço. Armaram a gadanha, despiram o casaco e foram pôr o barril da água na outra ponta da seara, no maranho, que é o nome que a gente também dá ao eito.
- Vamos lá a isto?
- Vamos, pois! Daí a bocado está ele aí para ver se não fica mal. Mesmo de empreitada não deixa de vir dar a sua sentença.
Manuel Caixinha começou à frente, deixando três passos para o companheira guardar distância. Como não estava vento, não havia que escolher o seu favor para gadanhar, e principiaram mesmo ali, dispostos a dar quanto pudessem.
Mão esquerda na manácula de cima, a direita bem presa à debaixo, junto ao arame que ajeita o trigo ou forrejo, puxavam pela alfaia, decididos, corpos atirados à frente, com ímpeto de vencer os quarenta alqueires de terra. Todo o movimento caía sobre o lado esquerdo, tanto que todos os gadanheiros julgam que aquele lado é de um outro corpo mais musculado e mais sentido. O gume da gadanha riscava o ar numa cintilação curta, para logo cair na terra e derrubar os caules do forrejo, mesmo rente à raiz, para que tudo se aproveitasse. Na gadanha há que trabalhar depressa e bem, porque fama ganha naquele serviço é certeza de jornas pelas colheitas. Todos se esforçam por criá-la, queixe-se o corpo de quantas dores o atormentam ou estale o pulmão esquerdo para verter sangue.
- Vai ser dia de sol, Bagulho.
- Vai!
O companheiro soltou aquela palavra num silvo, que o peito já lhe ia aberto pela caminhada de quinhentos passos de ponta à ponta da seara, e não queria que crescesse a distância aberta entre os dois. Na gadanha os homens perdem a cabeça e puxam uns pelos outros, sem atender às suas próprias fraquezas. Parece que a alfaia leva os braços, arrasta o corpo e entontece o cérebro para raciocínios. Há histórias de gadanheiros que ficam para toda a vida e naquela tarefa todos se querem avantajar.
- O Zé Custódio cortou num dia quinze alqueires.
- Isso também eu faço.
Discutem em apostas de vinho por vinte anos de saúde gastos num dia de trabalho. Por isso na gadanha os homens se desconhecem e esbracejam, como máquinas destemperadas capazes de levarem o mundo na curva da lâmina sempre afiada.
O primeiro maranho estava vencido e ambos deitaram mão aos barris para matar a sede. Beberam água com sofreguidão, deixando-a escorrer pelo queixo e tornbar no peito para acalmar o calor que começava já a sentir-se, tanto mais que tinham de fazer provisão para duas caminhadas. O maranho seguinte era feito em sentido contrário para acamar a erva; seriam precisos mil passos e tantos outros cortes de gadanha para voltarem junto do barril.
Olharam um para o outro, tiraram a pedra que levavam no caçapo pendurado do cinto, e correram com ela a lâmina do coice para o bico. Depois inclinaram-se sobre a terra e voltaram ao manejo da alfaia, levando de vencida o forrejo mais alto do que eles, forte de raiz e de caule, porque a terra era de bom ensejo. Os braços tinham de se fazer com gana ao corte e para o Bagulho já não era uma planta o que ele tinha para derrubar - talvez árvores, pedras ou o mundo. Parecia-lhe que o camarada desaparecia à sua frente, aumentando cada vez mais a distância começada, tanto que às vezes julgava nem vê-lo, quando o outro ia ali a quatro passos. Então reunia tudo o que lhe restava de quinze anos de gadanheiro, fincava os dentes, cerrava os olhos e cortava num desespero, alucinado, cabeça zunindo-lhe risos de manajeiros, prontos a dar-lhe capote.
«Vai-te embora, Bagulho! Arruma isso que na tua mão já não tem préstimo. Cria os teus filhos depressa e manda-os para cá, porque a gente precisa é de malta nova, capaz de cortar searas mais depressa que ninguém e sair das praças pelo preço de ceifeiros. Vai-te embora, Bagulho!»
Ele ouvia aquela voz dentro de si, a torturá-lo, e queria mostrar-se capaz de se pôr atrás ou à frente de qualquer, mesmo que fosse do Zé Custódio. Esquecia-se de passar a pedra pelo gume da gadanha, para não perder tempo, e os braços sentiam-se mais, as mãos apertavam-se nas manáculas e só com impulso o forrejo cedia.
O sol crescera nas alturas e queimava-o como uma grande fogueira que lhe tivessem acendido nas costas com paveras de mato seco. Entrava-lhe nos rins, furava-Ihe os pulmões e saía-lhe à frente, como sete espadas que o atravessassem. O Manuel Caixinha não parava, não cedia um momento, pensando na sua fanga. Ainda naquele dia lhe tinha de dar volta; se pudesse ganhar algumas horas, melhor seria. - Ha! Ha! Ha!
O ritmo da faina era o próprio cansaço que o dava. Era com ele que os dois podiam ir mais depressa, como se ouvissem a zunida de uma verdasca, pronta a descarregar-se-lhe na lombeira. No extremo daquele maranho estava o barril da água e a goela seca já o suplicava, rogando aos olhos que medissem a distância e à gadanha que cortasse bem para chegarem depressa. Apetecia-lhes entorná-la toda, cabeça abaixo, molhando a camisa ensopada de suor e a fronte toldada de poeira. Ali perto não havia poço e o Tejo ficava longe, para se lá chegar sem perder tempo largo. Havia que gastá-la com conta, quando ambos se sentiam capazes de esvaziar a alverca se lá estivessem.
- Ha! Ha!
Só ao almoço descansaram, cheios de apetite para a comida, mas sem poderem comer muito, porque a boca seca encortiçava o pão e a amostra de conduto. Olharam
a seara derrubada e ambos sentiam orgulho no poder da sua alfaia. Contudo, logo que notaram o que havia ainda para cortar, pareceu-lhes que nem com uma vida de trabalho seriam capazes de a vencer.
Uma ponta de vento fraco fazia oscilar o forrejo, dando-lhe ondulações largas. Contente da fartura, o burro espojou-se e zurrou forte, esquecendo que estava preso e «e não podia afastar.
- Está aí um sol...
- Como aquele que matou o Beirolas num dia de gadanha.
Logo os dois se calaram com aquela recordação; em silêncio, passaram de novo o gume, a safra e martelo. Guardaram os alforjes numa moita, por causa do calor, e recomeçaram a tarefa, iniciando novo eito.
- Estou desconfiado que isto tem mais de quarenta alqueires.
- Talvez!... - e meneando a cabeça, Manuel Caixinha deitou-se ao trabalho para ganhar três passos.
Pé esquerdo avançado quando a gadanha vinha atrás, ao impulso dos dois braços, logo o outro à frente quando atiravam o corte, ambos procediam sem um descanso, como ignorados um do outro. As pernas de Manuel Caixinha não eram para o Bagulho as de um camarada - pertenciam a um manajeiro que o patrão pusera ali para eles trabalharem mais, e dava vontade de cortá-las num golpe de lâmina, para acabarem aquele desafio ao seu corpo abatido. Pendidos para a terra, marcas de fogo do sol a seguir-lhes os passos, caminhavam um atrás do outro, como cão e lebre, frementes pela emoção da tarefa. Lançavam a gadanha, como se quisessem, de uma só vez, acabar aquela tortura.
- Ha! Ha! Ha!
Como um lamento era aquele som que os auxiliava, lamentando-lhes a sua condição de homens. No cimo do maranho a bilha esperava-os e o travo salgado do suor na boca despertava-lhes mais a sede, que nem a língua já podia acalmar. No mesmo vaivém, os braços iam e vinham no movimento da alfaia, como pêndulo dum relógio que lhes marcasse no peito o findar da vida.
De vez em quando tiravam a pedra do caçapo, passavam-na pela lâmina, para lhe puxar o gume, e continuavam no derrube, sem uma palavra entre eles. As pontas do forrejo dobrado espicaçavam-lhes a cara coberta de suor e pó, incitando-os na faina. Pareciam puxavantes ao serviço do patrão, cortando-lhes a pele onde o sol entrava, como um ferro em brasa, a abrir feridas. Exasperados pelo roçagar do forrejo, pela comichão do suor e do pó, e pela ardência do sol, os braços revigoravam-se para acabar mais breve aquela tortura. Mas a terra era de quarenta alqueires e, pelas contas do tempo gasto pelos bois a lavrar, eles levariam dois dias naquele trabalho.
O Bagulho tinha vontade de largar a gadanha e deixar-se cair, quase incapaz de dar um passo. Ou pegar fogo ao resto da seara e vê-la arder, como lhe ardia o corpo. O companheiro ia à frente e a distância já passava de cinco passos. Ficar-se era fazer o seu último dia de gadanheiro e nunca mais contar na praça com patrão para serviços de homem válido. - Ha! Ha!
Apetecia-lhe pedir tréguas ao companheiro, quando chegassem ao cimo daquele maranho, para poder dar uma folga aos rins e ao pulmão esquerdo, todo cosido de dores, como se numa zaragata o tivessem cravado com navalhadas. O calor entrava-lhe pelas narinas, pela boca, pelos olhos, pela pele encharcada, e até parecia correr pela lâmina da gadanha, infiltrando-se-lhe nas mãos agarradas às duas manáculas. A aragem que vinha do forrejo ao cair, era fogo também. «-’Está aí um sol...
- Como aquele que matou o Beirolas num dia de gadanha.»
E àquela lembrança sentia-se fraquejar, cair de borco na resteva ardente, esfriar ali sem um ai, num dia de tanta soalheira que até os pássaros se mirravam na sombra das árvores e as próprias árvores eram pedaços de sol caídos no campo para atormentar alugados.
Manuel Caixinha, quando chegou à porta do eito, reparou, então, no companheiro, atrasado dele uns largos passos. Viu-o cambalear, pôr-se lívido, querer-lhe sorrir ainda, quando os olhos se encontraram, mas só ter no rosto uma expressão amarga de desalento!
- Eh, Bagulho! Larga isso, homem!
O outro meneou-lhe a cabeça, levou os braços atrás para novo golpe, mas o gume da alfaia bateu no chão estorricado e só levantou poeira. Depois voltou-se para o camarada, gadanha jungida aos braços descaídos, e pôs-se a rir em gargalhadas destemperadas, enquanto pela cara lhe caíam dois fios de água riscando o empaste de suor e pó.
- Estás melhor, Bagulho?!... Fica-te aí um bocado que eu vou-me a isto!
- Eu já posso, Manel. Tenho de ganhar a minha parte.
- Ainda posso pelos dois, camarada. O Zé Custódio cortou num dia quinze alqueires e eu não me hei-de ficar atrás. Os teus filhos me pagam isso mais tarde.
- E o abegão?
- Isto fica entre os dois. com este sol não se aguenta.
Sorrindo para o outro, deitou-se ao trabalho, como se à sua beira levasse um rancho de puxavantes a obrigá-lo.
- Ha! Ha! Ha!
QUANDO a Anita voltou a dar notícias, invocando pretextos para o seu silêncio, ele compreendeu melhor o caminho que levara. Viu-a passando de braços para braços, numa multidão de homens que compravam a felicidade à hora, como ele o fizera na feira de S. Martinho. Ruminou naquela ideia uns tantos dias, na praça e no trabalho, na fanga e na companhia dos camaradas. Fez projectos sem conta, para os abandonar depois, e logo voltar a concebê-los com o mesmo afinco.
Naquela noite não se conteve.
-Tio!
- Alguma novidade?
- Quero falar-lhe.
O tio olhou à volta, puxou a cadeira à frente, fincou os cotovelos na mesa e, de garrafa à mão, fez-lhe sinal para dizer. No canto da lareira a tia mandou calar os filhos e preparou-se também para o ouvir. Embaraçado, deixou cair entre eles um silêncio longo, em que só falavam as interrogações dos olhos.
- Podes começar, homem. Enquanto houver vinho aqui...
E mostrou a dentuça castanha e rala, num sorriso todo aberto.
- Quero falar-lhe da Anita...
O tio levantou a cabeça, arregalando os olhos, para o fitar bem de frente, e a mulher chegou-se mais, sabendo que o marido de há muito pedia aquela conversa.
- Da minha irmã.
- Que não é minha sobrinha. Cá na família nunca houve gente sem vergonha.
- Sem vergonha é como quem diz.
- Sem vergonha, pois. Sai à tua mãe...
- É melhor acabar a conversa, tio.
Fez menção para se levantar, tirando o chapéu da cadeira.
- Nem a devias ter começado.
Nos seus olhos azuis brilhavam gumes de ódios revolvidos e as mãos trémulas cofiavam a barba já ponteada de branco.
- Mas já que falaste, sempre te quero dizer que não me agradam essas cartas. Se tivesses sentimentos, recusavas-te a recebê-las, quanto mais a responder-lhes.
- Isso é comigo. E vinha falar-lhe para a receber cá em casa.
- Cá em casa, Manel?!... Ainda querias emporcalhar mais o nosso nome?! Nem que andasse negro e morto de fome aceitava da sua mão fosse o que fosse. A Anita morreu...
- Está mais viva do que nunca. É por isso mesmo que eu preciso que ela venha.
- E querias pô-la aqui com a minha mulher e os meus filhos?!...
- com certeza.
- Tu bebeste alguma pinga lá por fora, tu não estás bom, Manel! O que dizia esse povo todo?!... Eu nem era capaz de levantar a cabeça para um cachopo, quanto mais para essa gente de vergonha... Os livros fizeram-te mal, deram-te volta ao miolo.
- Todos como o Joaquim Honorato...
- Ele é homem!
- Homem só de aspecto como quase todos. Ser homem não é ser malandro. Então eles que são os donos da terra e se julgam também donos do povo fora do trabalho...
- Se não lhes dessem asas... Umas galdérias... e eles aproveitam.
- Aproveitam-se, tio. Atiram à fome de cada cachopa o seu dinheiro e mais do que isso as suas promessas. Mostram-se por aí como meninos de oiro a apoucarem a miséria da gente. A Anita...
- Quando a gente não quer... - atalhou a tia do seu canto, aconchegando a filhita para si, como a defendê-la das tentações do mundo.
- A outra é que quis. Eu ouvi-a noites sem conta, à volta da minha irmã, fingindo que dormia. Falava-lhe de tudo que a pudesse convencer... Era como o Tejo a goivar...
Indeciso, o tio abanava a cabeça tamborilando os dedos na garrafa quase vazia. Um dos miúdos queixava-se de sono, sarnando num carpir sem lágrimas, até que a mãe o acolheu no regaço e se pôs a embalá-lo.
- Só conseguiram na noite em que fiquei na cadeia. A Anita não queria. E agora que adivinho que ela pode ir por mau caminho...
- Querias trazê-la para aqui. Isso nunca, Manel! Tu tens razão, mas...
- Não digas isso, homem. Eu sou mulher e nunca me deixei levar por conversas. A honrazinha acima de tudo.
Respondeu o olhar do sobrinho, numa expressão dura de ressentimento. Arrastou a cadeira e levantou-se, procurando o chapéu que tinha na mão.
- Cala-te para aí, boca! Cá por mim... ela sempre é nossa. Mas ó Manel, o que havia de dizer essa gente se a puséssemos aqui?!...
- Trouxesse ela dinheiro... É como a família da Gertrudes, que quase morria de vergonha quando se soube do seu passado. Mas depois com uns e outros fez-se senhora e quando aí veio quase lhe lambiam as solas dos sapatos.
--’Mas o povo falou...
- E acabou por se calar. Hoje tem para aí um ror de afilhados, porque é larga em enxoval. E dizem que ela teve sorte... Lá no fundo todas as cachopas lhe invejam a vida.
- Ó Manel!...
- Assim mesmo. E assim há-de ser enquanto a vida não for de todos. Uns como reis, outros como gado... A honra assim não passa de uma coisa que eles compram se lhes der na cabeça.
Conformado pelas suas palavras, o tio calara-se, só para lhe não dar assentimento. Depois pareceu-lhe tê-la já ali em casa, sentindo a hostilidade do povo quando ele passava. No silêncio das emoções retraídas, a sua voz bateu numa sentença sem apelo.
- Não, Manel! Isso nunca!...
Logo contrafeito pela aspereza das palavras, foi amaciando nas suas razões.
- Depois a casa é pequena... Tu bem vês... Ficamos para aí mal...
- Não diga mais nada. E só desejo que aquela nunca seja a mais no mundo.
Meteu corredor fora, direito à porta da rua, enquanto lá de dentro a voz esganiçada da tia lhe gritava num desespero.
A noite estava calma. Na eira da Sociedade já havia montes de milho por descamisar e as cachopas tinham começado a labuta, ajudando-se umas às outras. A Rita não fora ainda, porque era noite de namorarem à porta e estava à sua espera, lá dentro, na cozinha, entretida em qualquer afazer que lhe matasse o tempo.
Numa taberna por onde passou, os homens discutiam mais acesos pelo vinho que pelas convicções, enquanto o taberneiro, por detrás do balcão, lhes sorria, enchendo copos. Deu-lhe também vontade de entrar, sentar-se a uma mesa e só sair dali quando a porta fechasse e os outros tivessem de o levar em charola, perdido de bebedeira. O vinho, diziam todos, matava penas. O Barra não achara na vida outro caminho para os seus desenganos, incapaz de ganhar um naco de pão.
- Tu tens um cobertor E uma cama quente? - Pois eu tenho um portal E um copo de aguardente!
Ainda se chegou à porta da taberna; logo que o viram, dois homens vieram agarrá-lo, puxando-o para dentro.
- Ó Manel!... Ó Manel!... Isso é uma desfeita!
- Quem paga sou eu. Aquela acção que tu fizeste com o Bagulho...
- Foi uma coisa bonita!... Lá isso foi, ó compadre. , O bafo do vinho daquelas bocas arroxeadas, o olhar
turvo, os corpos descaídos e sem vontade de luta, fizeram-no reagir. Desembaraçou-se como pôde dos seus braços e continuou o caminho.
- É uma desfeita, Manel! Palavra de honra...
As suas vozes alteradas ecoavam no silêncio da rua, soturnas como o próprio destino dos homens. Para além delas, as gargalhadas dos outros bêbedos, recreados com algum dito malandro ou o tombo de companheiro mais pingado. E depois, e sempre, o sossego da noite, sossego tão falso como a alegria dos bêbedos.
«Era o grande mal deles todos. Já não havia um só que não reconhecesse que a vida estava torta. Mas poucos havia capazes de olhá-la de frente e dispostos a modificá-la. Bem sabiam os outros defender-se... Alugavam-nos na praça e, para que alguns tivessem ilusões de terra sua, entregavam-lhes as fangas. E eles trabalhavam uma vida inteira, como se a luta fosse com eles e a terra. Para as horas vagas tinham o vinho, onde os homens se recolhiam nas suas mágoas. Os outros tinham sabido fazer o mundo... Fazê-lo e defendê-lo. Noutros tempos até os contratos na praça eram firmados com vinho. Depois da molhadura o alugado tinha patrão.»
Caminhava a passos lentos, como a querer prolongar a distância para a casa da Rita. Se tivesse um cigarro naquela altura, fumava-o todo, embora não fosse de seu vício queimar dinheiro.
«Se até o Barra... Se até esse que sabia da força dos trabalhadores, se deixara arrastar...»
- Tu tens um cobertor E uma cama quente?
- Pois eu tenho um portal E um copo de aguardente!
«E acabara satisfeito com o dizer daqueles versos às portas dos donos da terra. Se ainda fosse vivo, muito teriam que falar. Aqueles versos estavam errados de ponta a ponta e eram uma espécie de vinho que os homens ouviam. Se tivesse jeito, havia de fazer outros.»
Depois parou a mastigar aquela ideia, abanou a cabeça e sorriu-se.
«O Alfredo é que tem razão. Isto não vai com versos.» Levantou os ombros, abriu dois botões da camisa e caminhou rua adiante, decidido e firme.
ERA uma carga de canseiras, sem conta, as últimas semanas da fanga do milho. Pasmava, como os barrões que vinham da Serra se podiam manter, mesmo vivendo nos quartéis em esteiras, misturados uns com os outros como animais na palhada. Via-lhes algum arranjo que traziam de casa e as cagarrinhas para sopa. Ainda andavam com sorte, se as deixavam apanhar, sem lhes pedir dinheiro, embora fosse planta crescida ao deus-dará do tempo, sem tratos nem semente cuidada.
Viviam no esterco, como se a própria porcaria os alimentasse. Quando se passava aos quartéis, o fedor tombava e, ali dentro, eles folgavam, riam, faziam filhos e julgavam-se gente. Começavam a vir menos, apercebidos já da exploração a que os submetiam. Por isso os lavradores já davam fangas à gente da Golegã, menos submissa e mais descuidada.
Nos últimos trabalhos do milho, os fangueiros não podem tomar patrão, porque os outros não os deixam com recados e imposições, atemorizando-os de lhes tirar a terra. Têm de abrir fiados nas lojas, entregues à gula do rol.
Manuel Caixinha já apanhara o milho e dera-o ao carro que levara à eira do Falcão. Todos os dias lhe parecia que o seu monte mingava e as suas queixas juntavam-se às dos outros fangueiros.
- Isto há ladrão de milho por aqui.
- Os teus olhos é que estão tortos. Pois se tenho cá o guarda...
- Pois com os olhos é que eu meço isto. Calados, tementes do Falcão, os outros ficaram-se a escutar a conversa lá do largo.
- És capaz de dizer que sou eu que cá venho.
- Lá. isso, não!... Que vossemecê não tem necessidade de roubar o suor de cada um.
Aquelas palavras saíram da boca mais repisadas, como se quisessem gravar-se nos ouvidos do outro.
- A sua parte chega-lhe bem...
- Lá estás tu com pedradas, Manel! É isso que eu não posso ouvir, homem. Fui eu que te procurei?
- Não, senhor. Pra que está vossemecê a zangar-se?... Ainda não disse nada de mal...
Depois da descamisada, feita à noite com cachopas e rapazes, cantigas e bailarico (uma vez por outra que o patrão não gostava muito disso), toca de espalhar as maçarocas na eira até ao escarolamento, pago à máquina em maquia grande, pois o Falcão com ela queria ganhar mais uns tantos sacos.
- Nem menos nada, homem. A máquina custou uma fortuna e eu não posso fazer jeitos.
- A colheita foi ruim.
- O pior mal é meu que não tiro da terra o rendimento que devia.
- Tempo mau, a terra também não é lá grande coisa... - Tu é que não cuidaste daquilo como devias. VosseDnecês querem fanga e querem trabalho... Fangueiros
como os barrões não entram mais no campo da Golegã. Isso é que é gente para cuidar duma seara!
- Não fazem outra coisa...
- Pois não pode ser. Ao menos que não perca na máquina. É fazer de conta que ela é doutro. Eu levo o que os outros levam.
E todos os dias o monte mingava, espalhado de manhã na eira e junto de novo, à tarde, até estar seco. Depois limpá-lo bem à pá, atirando-o ao ar, para que o vento levasse as impurezas, juntas pelos criados para o gado do patrão.
Eram horas de queimar. Queixavam-se do trabalho perdido à volta da fanga, para no fim mal acharem com que pagar fiados. Logo na outra Primavera voltavam à terra, como se os prendesse ali alguma grilheta bem chumbada, tendo ainda de se defender dos amigos que lhes queriam tomar a vez.
- Está pronto pró celeiro?!...
Metia a mão no monte do milho, apalpava-o nos dedos, e fazia-o cair de novo no monte para lhe ouvir o cantar. Toda a eira estava cheia daqueles corutos de oiro que a terra e o suor dos outros lhe oferecia todos os anos, como dádiva a um deus por promessa de viver. E lamentava-se para que eles o não julgassem contente.
- As contribuições levam tudo! É uma matação!... Fica-me quase tanto como a vocês! E as ralações? Se o Estado quisesse, era melhor entregar-lhe tudo.
De carinha na água, como quem não quer ofender, um fangueiro voltou-lhe que não se importava de trocar.
- Olha que ganhavas muito com isso! Vocês sabem lá...
- Aprendia depressa, patrão. Não é preciso chegar a doutor. Quando quiser, mande lá dizer a casa que eu venho logo num virote. Até queimo aquela cangalhada toda.
O coro das gargalhadas roçava-lhes o peito, como o gume de uma gadanha que os cortasse.
Para a medição, o lavrador dava homem que tomava conta da medida, marcada de sua conta, sem autorização de a substituir. Eram momentos de ralé, que se não fosse a justiça para os servir, um homem perdia a cabeça e escavacava outro sem dó, como se estivesse a acabar com alguma peçonha. Cheios os sacos, toma lá este resto e carrega lá para o carro aquela taleiga toda. Depois, ainda para o celeiro, eram eles que o tinham de levar às costas, subindo pilhas e pilhas, para onde lhes desse na gana.
- Arruma-me isso lá em cima!
Desancados de todo, pernas vergadas de cansaço, corpo balouçando, deixavam lá a colheita. Repassados de suor, sem uma ajuda, aguentavam nas costas sacos e sacos, como se estivessem a cumprir alguma pena.
- Pronto?!
E eles acenavam com a cabeça, atordoados do esforço e da desilusão. Um criado oferecia um copo de vinho e a porta do celeiro fechava-se para eles.
- Se o patrão me pudesse adiantar alguma coisa... Tenho para aí umas contas e não me largam.
- Compro-te o milho, se quiseres. Ha?!...
- A como?!
Pagavam a menos, mas pagavam logo. Eles deixavam ficar a sua parte, porque em casa havia faltas e nas lojas faziam cara quando pediam mais fiado.
- Ainda não vendeste o milho?
E desconfiados, racionavam-lhes os avios, pesando mal e assentando à larga.
AS conversas entre ambos passaram a dar sempre na mesma e acabavam em discussão e amuos. Ele esfriava cada vez mais, sentindo que aquilo era uma amarra a prender-lhe a liberdade e a entregá-lo ao Falcão. Começava a compreender a situação de muitos companheiros, incapazes de uma resolução, levados pelas palavras das mulheres, como se fossem interessadas nos proventos dos lavradores.
- Matei-me de trabalho, tu deste toda a ajuda e no fim...
- Mas os outros todos fazem o mesmo, Manel. E a gente assim nunca mais tem a nossa casinha.
- E lá porque os outros se deixam roubar, também eu hei-de cair na mesma poça? Não pode ser, cachopa.
- Não se lhe ”dá outro jeito, Manel!...
E pegavam-lhe nas mãos, acarinhava-as, chegava-se muito para ele, como se se quisesse meter debaixo da capa velha que o pai lhe deixara. Ele não a sentia mulher, desvairado pela tortura daquela incerteza, e afastava-a de si.
- Milho é que eu não faço outra vez.
- Pegam-lhe outros...
- Que lhe peguem” e que tenham a sorte que eu não tive. Não os invejo. Se nenhum lhe pegasse um ano só que fosse...
- Ainda era pior...
- Pior que isto, cachopa?!... Obrigavam-se a ir às praças chamar pessoal e então é que eles haviam de saber quanto lhes custava a colheita. Assim, habituaram-se a dar a terra e a semente, e a gente que se morda para os encher todos os anos.
- A terra é deles!
- Quem é que lha deu?! Eles vivem da nossa cegueira...
- Cegueira...
- Mais cegos que esses que andam aí pelas feiras. Esses, às vezes, parece que vêem. A gente... cegos e sem entendimento. Julgamos que no fim das fangas se acaba esta canseira em que andamos.
- E acaba, Manel!
- Tu já viste algum fangueiro ganhar terra sua?! Estás douda! A fanga não se fez prà gente ganhar a vida. É só pra enganar, pra trazer um homem preso. Vê lá o que eles fizeram com os queimos.
Ela calara-se, encostada à ombreira da porta. Os chuviscos fizeram-se em temporal, açoitados pelo vento norte que mugia.
- Davam-nos de terço, mas como o preço subiu, passaram logo para o quarto. Ainda se ganha menos quando o povo é que dá tudo.
Lá de dentro gritaram à cachopa que se recolhesse, não fosse apanhar alguma pneumonia com noite tão arisca. Depois disseram-lhe para ele entrar também, embora o casamento não estivesse ajustado!
- Entra, Manel!
- Pra quê, mulher? Vai tu que eu fico aqui à revessa até isto passar.
E olhando os astros, volveu os olhos para o lado do Tejo.
- A cheia vai subir mais, pela certa. Não tarda muito que a água chegue à Baralha e dê por lá desgraça. São as duas coisas que não faltam todos os anos na nossa vida: cheia e falta de trabalho.
- Também eles perdem.
- Ainda não vi nenhum andar à sopa nem pedir de fiado. A gente é que não lhe dá outro tombo.
- Mesmo com falta ainda são eles que dão trabalho. Às vezes é só para os entreter a vocês em qualquer coisa.
- Que é prà gente não se lembrar...
Do fundo do corredor voltaram a chamá-los. A noite era um farrapo cortado por ziguezagues de luz.
-- Ficam aí de molho como o bacalhau? Entra, homem, que o telhado não te cai em cima! Agarram alguma que não há botica que os salve:
Ela tirou-lhe a capa dos ombros, sacudiu-a e foi pendurá-la num prego, donde pendia uma molhada de cebolas. Meio hesitante, ele seguiu-a pelo corredor fora, reparando-lhe nas ancas avantajadas pelos repregos da saia rodada. Pelo vaivém dos passos, pressentiu que davam uma arrumação na cozinha. Uma voz de homem falava baixo, cortada pelo traquinar dos pratos.
- Entra, Manel! Tens vergonha, rapaz?!... Deixa lá que por vires aqui não te obrigo a ficar com a cachopa.
Um vulto esgalgado apareceu no limite da luz, barrete enfiado até às orelhas e dedos metidos nas caves do colete.
- Boa noite!
- Nada boa, homem. Vai aí um temporal capaz de dar conta da Golega. Vai uma pinga?
- Não uso.
- Vossemecês agora nem são homens nem são nada. Não bebem... não fumam... É o diabo!
- E fazes bem, Manel. O tempo não vai para gastos - disse a mãe da Rita.
A conversa caiu nos estragos da cheia, no gado saído das Praias para os terrenos mais altos, na fraqueza do dique que não tardava muito para dar de si e puxar uma golada de água capaz de varrer os campos de terra para deixar areia. Depois de falar com a mãe à parte, a Rita ofereceu-lhe uma púcara de café, sorrindo-lhe da lareira, num contentamento que não sabia conter.
- com o frio que está...
- Bebe sempre, homem. Nisso nem se fala. Arranja também uma para mim, cachopa. Não te dá muito a conta, não? Tem paciência, já que a tua mãe não cuida de mim.
E piscara o olho para o Caixinha, como a dizer-lhe que tomasse o remoque por gracejo. A Rita foi sentar-se junto dele e voltou a falar-lhe da fanga.
- Eu vou desfiar camisas para o barracão. Todo o dinheiro que arranjar há-de ser para o enxoval.
A mãe, que tomava conta na conversa, pegou logo na palavra para alardear vaidades.
- Há-de levar coisa que se veja, contigo ou com outro, que vossemecês ainda não estão comprometidos. Não temos riquezas, mas para os filhos... O meu homem trouxe quatro lençóis e o meu Joaquim levou outros tantos. Trouxe duas toalhas e o meu Joaquim levou quatro.
- Não trouxe mais porque não pude.
Ela fez de conta que não lhe ouvira o reparo e continuou na sua, estendendo a lata do açúcar para a cachopa.
- Levou o seu fatinho, meia dúzia de pares de ceroulas e umas tantas camisas. Não o deixei ficar mal, não senhor. Trabalhei muito. E esta também há-de levar o seu arranjinho.
Depois de beberem o café, o pai da Rita começou a cabecear e a mulher não o largou para que fosse dar descanso ao corpo.
- Tu desculpas, Manel. Mas a esta hora fica para aí perdido de sono que não há quem o segure.
E pôs-se a contar uma história passada num dia em que vieram uns primos da Chamusca, pelo S. Martinho, e ele fizera a mesma vergonha, sem se importar com visitas. A Rita aproveitou para voltar à mesma conversa.
- Mais um ano, Manel!... Eles levam tudo, mas o pouco que deixam ainda faz arranjo. Daqui por mais um tempo vende-se o carneiro no mercado do Entroncamento e compra-se qualquer coisa mais.
Ele não sabia que lhe responder, embaraçado por ter de invocar razões à frente dos outros. Aborreceu-o aquela serrazina sem fim e pôs-se mal encarado, de olhos postos no chão, como quem não ouvia o pedido. A chuva não o deixava dar saída para se ir embora e a cachopa não o largava, certa de que o convencia mais aquela vez.
- Quando arranjas casa, Manel?
- Ainda não nasceu o pedreiro que a vai fazer.
- Não falo por mim, mas disseste-me que querias sair de’ casa do teu tio.
- vou aí para qualquer palheiro. Não arranjei ainda para ter casa minha. Se a Anita vier...
Então foi ela que se calou, descansando a cabeça na ponta da mesa. O pai despediu-se, a cambalear de sono, arrastando os pés pelo corredor e a praguejar com a companheira, que ia à sua frente, de candeia na mão.
- Já te calaste?
Fez-lhe um arremesso com os ombros para lhe voltar as costas. Ele pegou na capa, embrulhou-se nela e saiu, sem dar conta da chuva que cada vez caía mais cerrada. Quando a mãe voltou e não o viu, percebeu que houvera zanga e ralhou-lhe.
- Se a mãe soubesse...
- Tens que te fazer ao feitio dele, cachopa. com esses modos nem S. João te queria. Se apanhasses o teu pai, tinhas muito que contar. Ora se tinhas! Mas afinal o que foi?!...
- Não quer fazer fanga, diz que não está para trabalhar para o Falcão.
- Olha o fidalgo, ha?!... Então para quem quer ele trabalhar?!... Isto há cada um...
- Tenho tido uma matação por mor disso. E ainda por cima...
- Mais ainda? É capaz de querer que trabalhes para ele. Ora o fidalgo!...
- Diz que há-de trazer a irmã para casa.
- O quê?!...
Arregalou os olhos, como se tivesse visto alguma avantesma, pôs as mãos nas ancas e saracoteou todo o corpo, vermelha de ira, sufocada pelas palavras que não lhe passavam a goela. A Rita escondeu a cabeça no avental e ficou-se a soluçar.
a cheia saiu dos campos e não houve mãos a medir para recompor vedações, fazer lavras e preparar novas colheitas. Nas praças nem os velhos ficavam, pagos a jornas iguais às dos moços. Também era tempo de se fazer alguma coisa, porque em três meses de invernia dura, raros tinham sido os dias de trabalho. Aproximava-se a época de começar as fangas que, após as longas semanas paradas, sempre prometiam algumas esperanças. Já lá ia longe o mês das contas e as indignações abrandavam-se, principalmente naquele momento em que a cheia deixara ficar rasto em todos os lares.
- Disseram-me que querias largar a minha terra. É verdade? - perguntou-lhe o Falcão, quando encontrou o Caixinha.
- Ditos, patrão. Quando não me der conveniência, tenho boca para falar.
Manuel Caixinha lutara aquele tempo com os dois homens que guardava dentro de si. O alugado revoltava-se com o trabalho oferecido para regalo do Falcão, entendendo que era preferível passar pior, mas não entrar em contratos daqueles. Se os outros continuavam, era preciso que um desse o exemplo e lhes fizesse sentir o trato a que os submetiam. O fangueiro, por seu lado, entendia que o mundo assim não se endireitava e cada um devia amealhar para si, procurando libertar-se da praça. Que não era justo o que se recebia, mas que já assim era há longos anos e ele sozinho não podia resolver a situação de todos.
A Rita emparceirava com o fangueiro nos seus projectos, e Manuel Caixinha acabara por voltar à fanga, embora o aviso do alugado estivesse presente em todos os momentos.
- Se o patrão me deixar fazer tomate...
- Lá por mim. Já sabes que é de terço.
- Sim, senhor.
- E tens dinheiro para a semente e pró amónio? Olha que comigo não podes contar, acabei com empréstimos. No fim só dão perca.
- Se eu tivesse uma fazendazita...
- Isso era outra coisa. Empréstimos só com garantia. E mesmo assim com todos os pontos nos is, porque às vezes ainda um homem fica mal.
- Lá o dinheiro arranja-se. Custa caro, mas dá-se um jeito. Também se me desengano desta...
- É preciso é andar-lhe em cima. As searas não crescem sem cuidado e vossemecês, às vezes, esquecem-se disso. A perca no fim é minha.
- E a nossa ainda é maior, seu Falcão.
- Lá vens tu com as tuas. És bom rapaz, mas às vezes tens umas coisas do diabo. Sabes duas letras e devias perceber melhor que os outros o que estas coisas são. Mas não senhor...
- Perceber, percebo eu; faço que não entendo.
- Pois mete lá a seara. A terra já está lavrada e quando for a altura não lhe falto. Anda-me tu sempre a tempo que eu por mim não me fico. Pões alguma feijoca nos intervalos e nas ruas?
- Penso.
- Está bem.
E ficou a acenar a cabeça com um modo que o outro percebeu ter mais alguma coisa para lhe dizer. --A meias... --A meias, patrão? A seara é de terço...
- Mas nas minhas fangas o resto é assim. A terra cansa-se e quem tem de a temperar sou eu. Se precisares dalgum bocado para fazeres a sementeira, fala, que te arranjo em conta.
- Precisar, preciso. Mas o patrão pede tudo pelos olhos da cara.
- Lá estás tu.
Acabaram por acertar o arrendamento: uma parte paga no primeiro dia de trabalho e a outra quando se levantassem as plantas para a fanga. Logo em Fevereiro teve de perder umas horas a semear; e a tarefa da rega, de dois em dois dias, foi feita aos bocados, depois de largar o trabalho, porque a Rita caíra à cama com um mal de pele apanhado no barracão da desfia das camisas. Já com a cava e o estrumar tinha ido dois dias, não contando com o picar a terra a ancinho, para que a semente fosse tapada.
- Aquilo vai levar um ror de dinheiro, cachopa.
- O meu primo arranja o que for preciso. -’ E a como?
- Diz que a vinte cinco; é quanto pagam os que não têm de seu.
- E é por favor?!...
- Diz que sim. Diz que fica sujeito a não receber nada se a gente não lhe puder pagar...
Estava metido à canga e havia que puxar, para não perder o que já gastara. Mas o alugado é que tinha razão quando dizia que as fangas eram boas para todos, menos para os que a faziam. Aquele pedia juros de vinte cinco, o outro queria o terço no tomate e meias na feijoca.
--É um grande favor, é!... E o Falcão também é nosso amigo.
Saíra para não entortar a conversa, embora a cachopa e a mãe percebessem que ele não ia de boa catadura. Ficaram as duas a falar no caso, enquistadas por ele não reconhecer a boa vontade do primo, logo de tão bom agrado quando lhe tinham falado.
As plantas começaram a nascer mal e houve que gastar uma conta fechada em amónio para as ajudar, pois o Falcão mandara recado a propósito disso, quando lá passara e as vira tão mirradinhas.
--Não me demores aquilo, Manel!...
- Afinal a terra é só para lhe meter a planta, que quem a alimenta sou eu à força de adubo.
Pegaram-se em conversa azeda por causa do dito e acabaram tortos de todo em discussão de gritaria e gestos. Dentro dele o fangueiro fora espezinhado pelo outro, e acabara por ir à praça arranjar trabalho a amorroar, que é como a gente chama ao espetar de canas ou estacas ao pé das levadas, para se segurarem melhor e as cepas crescerem direitas.
O Falcão, que andava de ponta com ele, mandou-lhe recado para fazer a postura depressa, porque todos os outros fangueiros já tinham começado e ele não queria seara para Dezembro.
- Diz que se o plantio não estiver bom que o compres.
- Eu é que o comprava...
Manuel Caixinha pusera-se lívido com aquela ordem e bom fora o outro mandar-lhe recado, porque de outro modo a conversa iria por mau caminho.
- Se não quiseres, que toma conta da terra.
- Olha, João. Diz-lhe que não compro plantas, nem ele me fica com a seara. Pode ficar outro, agora ele é que não fica.
Remordido uns poucos de dias com o mandado, nem os recados da Rita o fizeram procurar-lhe a porta. Irritava-se por tudo e já um manajeiro lhe experimentara as mãos, por se pôr de gracejo com a velhice do Ti Caetano. A bulha correra pela Golegã e o Falcão acabara por se esquecer das suas imposições. Só em começos de Maio é que mandou dar parte ao outro para se fazer a postura; e numa tarde, que de tarde essa tarefa dá sempre melhor ensejo, deitou-se ao trabalho, perdendo dois quartéis na cura das videiras da D. Aurora. A terra já estava riscada, ficando de risco para risco dois palmos, e de sacho na mão fez o plantio. com uma lata de água junto dele, ia molhando as raízes para não secarem na terra e poderem agarrar-se na fresquidão.
- Lá pus aquilo tudo. Até se me cortava a alma de perder tempo e plantas. Era como se andasse ali a enterrar-me vivo. Mas já que se começou...
A cachopa não lhe deu saída, pois já sabia que, como ele andava, a conversa por aquele lado não tinha bom fim.
Depois, de três em três dias, ia fazer a retrancha, pondo pés novos nos sítios em que os tomateiros morriam com mal de bicho ou por mau apego ao chão. Sempre assim, até à primeira roça, feita a enxada no desterroar e no bater bem a terra, para o sol lhe não entrar, queimando os pés ainda tenros.
Dentro de si... - ele é que contava bem o que sentia.
«Era uma canseira pior do que andar na gadanha uma semana a fio. A todos os momentos do dia, em muitas horas das noites, não me deixava aquela dúvida, sempre dentro de mim, como se no meu peito morassem duas pessoas. Num desabafo que tive com o meu tio, ele achou que eu me devia benzer, pois era capaz de andar comigo o espírito do meu pai, atenazando-me a toda a hora para eu deixar de fazer fanga. De princípio andei preocupado com aquela ideia, pondo-me algumas vezes a escutar o silêncio, para ver se ouvia alguém a falar-me. A Rita, sem eu saber, ofereceu duas velas do meu tamanho a S. João, achando que não era tolice a suspeita do meu tio. A pouco e pouco, porém, isso desvaneceu-se. Comecei a reparar melhor no que se passava em mim e achei que o meu pai não seria capaz de me dar aqueles conselhos. O meu pai era um parrana, um pau-mandado, e nunca poderia aconselhar-me naquele jeito.
«Andei por umas poucas de vezes para falar com o Alfredo, mas acanhava-me, sabendo que ele se riria, com certeza, das minhas suposições. Um dia não me contive e disse-lhe tudo. Conversei tempo sem conta, incapaz de o fitar, e ele não me interrompeu. Quando acabei, olhou-me muito sério, pôs-me a mão no ombro e acenou a cabeça.»
- É isso mesmo, Caixinha. Os camponeses têm dentro de si duas almas. A do que é capaz de matar qualquer por um palmo de terra, onde não ganha para a fome de um dia, e o outro... O outro que tem um coração tão grande que dentro dele cabe o mundo.
«Nunca esqueci aquela verdade. Passei a confiar em mim mais do que nunca, não receando o futuro.
«Os pedidos e os choros da Rita deixaram de ter o condão de me dobrar. Tentava explicar-lhe tudo, mas ela não me percebia e zangava-se com a minha firmeza.
Achava-me teimoso e para si pensava muitas coisas más a meu respeito.»
... o que tem um coração tão grande que dentro dele cabe o mundo.
AMANHÃ vamos vender o carneiro. - E depois?!...
Aquele depois lembrava o casamento em que teriam de servir um ensopado ao jantar, tradição estabelecida de há muito, sem o que o noivado mereceria reparos dos convivas.
- A fanga há-de dar para um rebanho - respondera-lhe ele a sorrir, como num gracejo à confiança da cachopa.
Como os olhos dela se turvassem, falou-lhe dos juros que tinham para pagar e das despesas com a seara do tomate.
- Tem de ser, mulher. A gente também não o comprou para outra coisa. Antes que lhe dê para aí alguma doença e morra sem nos deixar vintém, é passá-lo. Vejo o animal a modos triste.
Pediu uma carroça emprestada e, de manhã, já estava à porta dela, de barba feita e o seu melhor fato de cotim, chapéu preto de aba larga e chicote na mão. A guizalhada da mula chegou-lhe até ao quarto e veio avisá-lo de que estava pronta, mas a mãe ainda demorava. Em voz baixa, explicou-lhe que não ia de vontade, porque sempre pensara em criar o carneiro para a boda, e remordera todo o serão quando fora para dentro e lhe dera a novidade.
Ele gostou de vê-la na sua blusa verde com rendas brancas, saia empregueada, avental cor-de-rosa e lenço de ramagens na cabeça. Pareciam já casados naquele momento, esquecidos de que alguma coisa os afastava um do outro.
- O Sol já vai alto, cachopa. A tua mãe que se não demore.
Ela chamou para dentro, enquanto ele foi cobrir a tábua do assento com duas mantas que trouxera, chegando tudo mais à frente, para o carneiro caber à vontade na mesa da carroça. Daí a pouco aparecerem ambas, uma de animal à corda, outra empurrando-o pelas ancas, pois o bicho parecia compreender que ali não voltaria mais e fincava as unhas no chão para o não levarem. O Manuel pendurou o casaco na maçaneta do travão, deitou o chapéu para trás e, pegando-lhe pela barriga, carregou-o em charola; depois reparou que o assento era curto e que os três tinham de ir bem chegados para lá caberem. Sentia já na sua perna o aconchego da perna da cachopa, a desafiar-lhe o instinto. Mas a mãe, quando voltou, meteu-se no meio dos dois, remordendo que parecia mal ainda não estarem de ajustes e irem já em procissão, a mostrar-se ao povo com ela à ilharga. A mula é que pagou à saída, levando três chicotadas pelo lado das orelhas, que a fizeram abalar num trote ligeiro.
Pela estrada fora, gente conhecida levava o mesmo rumo do mercado. Uns a pé, outros de carroça; rapazes de bicicleta, em correrias pelo asfalto, outros ainda montados em burros, pernas bamboleando ao passo curto das bestas. Durante muito tempo foram calados, sem saberem por onde pegar conversa. Como outra carroça os ultrapassasse, o Manuel tocou a mula com o cabo do chicote, e
logo a mãe da cachopa o avisou de que não queria correrias, porque não estava para ficar esmigalhada nalguma berma.
- Deixe lá que ainda não morre desta. Vossemecê fica cá para semente.
Tinham começado os muros da Cardiga, desdobrando-se sem fim, como se toda a terra pertencesse ao mesmo dono. Flores pendiam para a estrada, como para fazer esquecer que só aquela quinta daria pão a todo o povo da Golegã, sem praças nem fangas.
- Isto é que é uma fartura! Parece a minha seara, ó Rita!...
- Há-de chegar prà gente.
- Pró Falcão chega ela com certeza. Prà gente não é certo.
- Vossemecê naturalmente queria enriquecer só num ano! - resmungou a futura sogra.
- Nem num ano nem na vida toda. Fazia-me logo como os outros...
- Ou pior ainda.
- Os novos-ricos são sempre piores que os antigos. Isso é da conta!... Julgam que ainda lhes vêm pedir o que eles tiraram.
- Vossemecê diz cada uma... Credo, que homem!
E voltou-lhe as costas. Até ao Entroncamento não houve mais palavra entre eles; quebrava o silêncio a guizalhada da mula e as saudações aos que passavam. As ruas iam cheias de povo a caminho do mercado. Cruzavam-se brados com pregões. À volta da praça lugares de calçado e alfaias, roupas de mulher e mobílias, montes de melancias gradas e melões de boa casta.
A soalheira estorricava e a poeira, levantada pelos pés das bestas e dos homens, parecia tornar o sol mais quente e as moscas mais ariscas. À roda dum vendilhão
que mostrava gravuras coloridas do corpo humano, estava uma massa de gente especada, de olhos e ouvidos atentos, bebendo-lhe os gestos e as palavras.
- O homem é uma grande máquina...-garantia o propagandista..
- Isso é verdade, ó compadre - disse em voz baixa, para um companheiro, um velhote de jaqueta e barrete preto, já safo da fruta que trouxera para venda. Os seus olhitos negros, azougados como mercúrio, iam do reclamista para o outro.
- Criam-se dentro do homem bichos que se não fossem pequenos eram maiores que bois.
- Isto há coisas, ó compadre!
O outro queria sair dali, arrepiado com aqueles pormenores.
- Espere lá, homem.
- Para evitar esse mal que leva à morte, tenho aqui estas pastilhas...
O velhote foi comprar uma caixa, e outros mais fizeram também a sua merca, pois, nos casais, os médicos quando chegam é tarde e empenham uma família com meia dúzia de visitas. Depois vieram outros e o homem voltou a mostrar uma serpente dentro de um frasco, um baralho de cartas e as gravuras coloridas do corpo humano.
As tabernas estavam até à porta. Ao domingo mata-se a sede mais à vontade, pois a jorna ainda aquece as algibeiras e o vinho põe um parrana em festa. Já havia quem jogasse às furtas com a rua e muitos falavam sozinhos, num dize-tu-direi-eu, de razões aperreadas no são.
Os taberneiros mediam bem os fregueses, para saber de que casco deviam encher os copos,
Manuel Caixinha fustigou a mula até ao alto da vila, onde, num terreiro, se faz a feira do gado, com as rédeas
bem presas na mão, porque a carroça tinha de ziguezaguear por entre grupos de gente e lugares de louça.
Marchantes de chapéu para os olhos, dedos nas cavas do colete e bengalões pendurados no braço, miravam o gado que chegava e combinavam preços entre si para se não guerrearem. Os ciganos vasculhavam tudo, ora compradores ora vendedores, tendo para cada caso uma solução pronta. Faziam correr asnos a ponta de chicote, como se os bichos tivessem alma de cavalo, mostrando a desenvoltura das pernas e o levantar da cabeça.
- Vale três notas ou não?!
Para os que vinham vender, os ciganos passavam desconfiados, pegavam nos pés dos burros, davam-lhes pancadas nas ancas e seguiam. Depois de longe, como desinteressados, perguntavam o preço.
- Eh, senhor! Valha-o Deus, homem. Por um animal desses...
Encostados aos varapaus, os donos descansavam as mãos, afadigados de pensar na vida.
A um canto do terreiro vendiam-se varas altas para o varejo das azeitonas, e, a toda a voha, carroças de varais levantados faziam moldura ao campo, enquanto as bestas presas comiam ração de palha, espirrando com ruído e levantando a cabeça. Ciganas de saias de veludo e blusas berrantes levavam atrás de si ranchadas de filhos, ranhosos e rotos; choravam uns, riam outros, enquanto os marchantes as seguiam com olhar guloso e os camponeses seguravam melhor as arreatas dos burros ou as cordas que prendiam os animais para venda.
Manuel Caixinha postou-se junto de uma barraca de bebidas, onde se firmavam transacções a copos de vinho, para lá da qual varas e varas de bácoros guinchavam e corriam de roda, como redemoinhos de vento. Espalhados por todo o terreiro, rebanhos de cabras e ovelhas, escanzeladas e tristonhas, só procuradas, então, porque nos mercados faltava carne gorda e os bois e vitelos eram raros.
- É pra vender?
Logo a Rita retesou a corda e o Manuel acarinhou a lã do bicho, dando-lhe palmadas no lombo.
- Se me der a conta...
O comprador agarrou o carneiro pela barriga, para lhe tomar o peso, e fez boa cara para outro que o acompanhava. Chamou o Caixinha de lado e segredou-lhe o preço, com modos de quem teme ser ouvido.
- Isso custou-me ele.
- Lá por uva mijona não o leva vossemecê - interveio a Rita.
- Isto é negócio de calças, menina.
--Parece-lhe... que eu também mando. Custa-me andar à rama pra lhe dar.
O outro comprador pegou nos pés do carneiro e mostrou as unhas compridas ao companheiro, esquecido daquele pormenor.
A desafiar tentações, cauteleiros passavam apregoando números.
- com estas unhas?!... É animal criado em casa. À vontade não se criam elas.
- E depois?!
- Tem a carne mal batida. Animal criado à vontade é sempre melhor. Quanto vale?!...
Voltaram ainda a apertar o peito, as ancas e o rabo do carneiro, tomando-lhe de novo o peso.
- Isso é muito! dei-lhe este preço porque não sou marchante. É carne para o meu negócio. Mais vinte mil réis!
- Não, senhor. É o que eu disse.
Encolheram ombros um para o outro e o comprador lá foi com o companheiro, de tesoura na mão, a dar volta ao terreiro, chegando-se só aos animais isolados, sempre de melhor gordura.
À brida, como se levasse toiro a cheirá-lo, um rapazote galopava um cavalo castanho, malhado na testa. Saltaram-lhe à carreira dois ciganos, de paus erguidos, não se podendo conter com o deslumbramento da linha do animal.
- Quanto quer pelo cavalo?
- Este não vem para venda. Mas se tiver aí dez notas de quilo...
E deu de esporas, mais direito no selim por se saber admirado. Os dois ciganos ficaram-se a vê-lo no galope certo, esquecidos do negócio de asnos. Fizeram aquilo para tomar ares de negociantes abastados, mas as calças traíam-nos.
- Ainda talvez se faça o negócio. Que dizes?
Manuel Caixinha, sempre que via gente daquela lembrava-se do seu encontro com o Buraco, no primeiro dia em que fora à fanga do pai. Parecia-lhe que todos os ciganos da sua idade se assemelhavam a esse companheiro distante. Mas naqueles dois não pôde atentar bem, porque a guizalhada de uma mula espantara o carneiro e a Rita chamava-o para a ajudar a contê-lo. O animal saltava, torcia-se, punha-se às arrecuas, como se preparasse alguma marrada, ante a aflição da mãe da cachopa, que se encostara à parede e supunha que a ia acometer. Depois, acalmado, o carneiro farejava a poeira, de cabeça baixa, torcendo a corda.
- Tire lá trinta mil réis no animal - voltou o comprador a oferecer. - Já tenho ali mais cinco mercados pelo preço que eu disse. Mas já agora...
- Não baixo um tostão. Não vim aqui para regatear.
- Se vossemecê for sempre assim...
E voltando-se para a Rita, como a tomar confiança para o negócio correr melhor.
- Está a menina arranjada.
-’ Dá muito trabalho a tratar um animal destes. E se ele me morresse?... O preço que ele lhe pediu já não é nada do meu gosto.
Estiveram para ali dum lado para o outro, preço puxa preço. Até que o comprador, pegando no carneiro mais uma vez, fez um significativo sinal ao companheiro.
- Marca lá esse diabo! Se toda a gente fosse assim... Tirou o dinheiro da algibeira e entregou uma nota
ao Caixinha, enquanto o outro dava dois cortes na lã do carneiro, que, azougado, voltava a encaracolar-se e a farejar o chão.
- Já volto.
Daí a pouco, de notas na algibeira, desceram à praça para comprar uma mesa. Manuel Caixinha entregou o dinheiro às duas e foi à procura do amigo do caminho-de-ferro, prometendo demorar-se só dez minutos. Quando voltou, estavam ambas fartas de esperar, tosquiando-lhe a pele com indignações e azedumes.
Risonho, todo o caminho, nem reparava na cara das mulheres. Recordava as palavras do amigo e isso lhe bastava para companhia. A mãe da cachopa, arrenegada pela sua indiferença, é que não se conteve sem largar das suas:
- Comigo é que não vêm vossemecês mais ao mercado! Lá isso não!
- Faz vossemecê muito bem, Ti Maria. Eu cá fazia
o mesmo.
E voltou a assobiar, tocando o animal de vez em quando com a ponta do chicote.
a última roça no tomatal, era de esperar que o sol fizesse o resto, tendo só o cuidado de evitar que
- queimasse a rama; senão havia que cobrir os frutos, como se se tratasse de meloal, e isso era trabalho que a parte ajustada no contrato não cobria, só em horas perdidas, pois tinham-se chegado os cortes do trigo e quem fosse bom gadanheiro levantava da praça com jornas melhores. Os lavradores de seara no campo tinham resolvido não meter mulheres a ceifar, pois os homens da gadanha davam mais ganho.
O abegão do Castro para segurar pessoal até dera volta a casa dos gadanheiros mais famosos, dizendo-lhes que não fossem à praça porque o patrão pagava mais dois mil réis do que o maior preço ajustado e, em lugar do meio litro de vinho, oferecia sete decilitros. Manel Caixinha também foi falado; mas na primeira manhã de trabalho juntou os companheiros no largo da igreja.
- Vossemecês já sabem o que é jorna ganha no Castro; não preciso dizer mais nada. Tem lá o Silvino, para puxavante que é uma alma vendida capaz de se matar só para que o pessoal não arrefeça.
- A mim não me rebenta ele.
Abalaram todos direitos à estrada da Romeira. Quando chegaram, já o Silvino estava à espera e pôs-se a olhar o Sol, como a dar-lhes a entender que deviam ter começado a puxar a folha antes do nascente. Descarregados os asnos, sentaram-se todos a tratar do gume com a safra e o martelo, enquanto o manajeiro escolhia o jeito do trabalho para traçar os maranhos.
- Vamos lá com isso que já vai o Sol fora! Gadanha armada, mãos apertadas nas manáculas, ficaram à espera de ordem; depois ataram ao pescoço os lenços tabaqueiros que traziam, por causa dos arranhões das espigas. Os golpes na cara bastavam bem para atormentá-los com o suor e a poeira.
- Eu começo à frente.
O Silvino tomou a dianteira para ganhar os três passos, pondo-se a gadanhar com quanta gana tinha. Seguiu-lhe na peugada o Zé Custódio, depois outro e outro, ficando o Manuel Caixinha no coice do rancho.
Dobrado pelos rins, puxando a alfaia para a esquerda, as espigas caíam-lhes aos pés, cortadas pela base da cana, numa restolhada seca e constante. De vez em quando tiravam a pedra do caçapo e passavam-na pela lâmina, sem perda de tempo. O Zé Custódio aguentava o passo; antes de chegarem ao cabo do primeiro eito, já o manajeiro lhes levava avanço. Ele bem via a cara do outro amargada pelo esforço, a pretender atrelá-los ao seu ritmo, mas fazia de conta que era ele quem conduzia os companheiros.
- Então isso?!...
O brado perdeu-se na indiferença dos homens que guardavam entre si a mesma distância. Os mais velhos, metidos no meio, compreendiam, então, como um alugado pode aguentar mais anos de gadanha sem estoirar. O trabalho corria igual, sem perigo de algum deles apanhar capote. O calor apertava. A pouco e pouco, os bicos das espigas atormentavam os rostos, mas não tinha a aspereza doutros cortes de trigo.
- Ha! Ha!
O Silvino, quando chegou ao cimo do maranho, viuv que ganhara mais quatro passos além dos que fizera para dar rumo à tarefa, e não se conteve sem falar no seu poder.
- Então, ó Zé Custódio, isso é que é ganhar fama?!
O outro parou de gadanhar e todos os homens fizeram o mesmo, encostados ao cabo da alfaia, a limpar o suor.
- Gadanheiros como tu há poucos! Tens jorna certa, ganhas mais...
- Tens mais força; sempre podes comer melhor que a gente - ajuntou o Manel Caixinha do coice do grupo.
- Vamos lá a esse resto! - remendou o manajeiro com mau modo. Bebeu do seu barril, correu o lenço pela testa e voltou à conversa.
- Assim desta Maneira apanho uma desanda do patrão que não me ajudo. Julga que estive a brincar com vossemecês. Eu agora neste eito corto atrás de todos.
Era a tentativa empregada por todos os puxavantes, quando os homens os deixavam distanciar. Ele não queria ficar mal, porque o patrão lhe pagava para obrigar os outros e no fim da tarde teria de prestar contas do serviço feito.
- Começa lá tu!
Logo o Zé Custódio Se dobrou sobre a seara, manejando a gadanha no mesmo ritmo de há pouco, seguido pelos outros companheiros. Atrás do Manel Caixinha, o manajeiro pôs-se a carregar para cima, querendo obrigá-lo a apertar com os companheiros. Ele não lhe deu saída; mal o outro se lhe aproximou mais, tirou a pedra do caçapo, passou na lâmina e recomendou-lhe cautela.
- Cautela?!
- Pois, homem. Ou tu julgas que as minhas pernas são trigo para ceifar?!
- Anda lá para diante que já não te toco...
- A gente não pode andar mais. Não vês a distância certa?!... Lá que tu venhas capaz de gadanhar isto tudo sozinho, é lá contigo.
Voltou ao trabalho, ganhando os passos perdidos a ripostar ao Silvino. Perdido da cabeça, o outro arfava atrás dele, varando-o com o olhar, como se o pudesse acometer com a raiva.
- Ha! Ha! Ha!
Mas de novo teve de parar para não tocar nos pés do Caixinha, decidido por uma vez a não ir em desafios.
- Vá lá isso, gente!
O puxavante mandava sempre, porém, naquele corte, só caminhava ao tempero dos outros. Todos os gadanheiros estavam já apanhados e aquele rancho era o melhor que havia na Golegã.
- Puxa lá, Zé!...
- Puxar, puxo eu, homem! Cá vou!
As gadanhas não paravam, movidas pelas manáculas e derrubando a seara sempre em frente. Espicaçados pela barba das espigas, os rostos pareciam crescer de volume, tão grandes como o Sol queimando lá do alto. As camisas iam-se repassando de suor e poeira, os pulmões levavam bicos de foice enterrados e os rins eram rijos, como se os homens fossem de pedra. Mas o manajeiro não mandava, porque o rancho se dispunha a não ir no seu encalce. Ele bramava, gadanhava à frente, vinha para a retaguarda, e os homens não davam pela sua presença.
--Vá lá isso! Isto é que vai um trabalho!...
- Estás hoje com uma alma... Comeste algum boi de manhã?!
- Vossemecês é que comeram ar!
- Dizes bem, Silvino. Puxavante és tu!
Antes do almoço o patrão chegou a cavalo; mal reparou no trabalho feito, chamou o manajeiro. Ele explicou-lhe que os homens não andavam mais, pois de vez em quando tinha de parar para não transtornar os eitos.
- Mas quem arranjaste tu? Trouxeste-me para aí balhana, não?...
- Está cá o melhor pessoal. O Caixinha, o Zé Custódio, o Anselmo... Que quer o patrão que eu faça?!
O Silvino voltou para junto deles e o patrão pôs-se ao lado para os incitar.
- Pessoal novo de fama e afinal...
O manajeiro carregou quanto pôde, mas o Caixinha guiou-se pelo companheiro da frente, sem se incomodar com a fúria do outro, derramado de gana atrás de si. As braças de espigas iam amparadas pela cota das gadanhas e caíam umas atrás das outras, em estalidos secos.
- Ha! Ha! Ha!
- Olha lá isso!
- Mexe-te tu! Corja de marralheiros!
- O nosso passo é certo, patrão! Lá que ele possa mais...
- Quem não é capaz de gadanhar, não vai à praça. Arruma a alfaia em casa e fica a coser as meias...
Cabeças pendidas, braços em vaivém, puxando a gadanha à esquerda, os homens prosseguiam a tarefa na mesma cadência. Quando o almoço chegou, tinham todos mais confiança em si.
NAS últimas semanas aumentavam as preocupações com as searas de tomates e pimentos, porque o pão-de-galinha, o isco e a rosca pareciam capazes de devorar tudo, principalmente a última, que só sai de noite e é negra como ela. Metida na terra durante o dia, amarinha pelo pé da planta e vai comer em cima, só voltando pela madrugada para o seu refúgio. Os sachos não lhe davam tréguas, escavando junto do pé da planta para descobri-la e dizimá-la. Fora um alarme por toda a Golegã aquela invasão, como se fossem arrasados os próprios lares dos fangueiros.
Manuel Caixinha perdera uns dias de jorna por causa disso e o Falcão nunca o visitara tanto como nessa semana, procurando com bons modos vencer-lhe a rebeldia.
- É um namoro pegado - contara ele a um companheiro. - Nunca esperava ver um homem daqueles tantas vezes à minha porta. Quando o perigo lhes ronda a algibeira, até são capazes de rezar aos pés dum ladrão de estrada.
Vermelhos, como baga de rebenta-bois, os tomates estavam já capazes da primeira apanha; o Falcão não se esquecera de mandar um criado, de noite, arrancar uns cestos deles para o que desse e viesse. Conhecia que aquele fangueiro não fazia guardas, mas o Manuel Caixinha soubera disso por um outro seareiro que descobrira o ladrão e lhe passara palavra.
- Esta noite também vou até lá fazer-te companhia. Cão de guarda do Falcão é que não sou. Agora guardar-me dele... Se o apanho lá dentro na colheita, faço de conta que o não conheço e marco-o bem. Todo o povo há-de ficar a conhecê-lo.
Depois que saíra de casa do tio e vivia sozinho, num buraco alugado, até isso lhe ajudava a passar a noite. Fez uma barraca de tabuga debaixo de uma oliveira e ali dormiu, até ao fim da apanha, embora o ladrão não tivesse voltado.
O primeiro fangueiro que levara tomates à fábrica viera mais queixoso do que nos outros anos. Só os aceitavam dentro de caixas fornecidas por eles e obrigavam-nos a pagar metade de um valor que lhes atribuíam e que chegava bem para duas ou três.
- E aquela balança!... Já não basta o Falcão e ainda por cima a fábrica. Levam tudo que um homem faz numa seara.
Manuel Caixinha lembrava-se ainda dos primeiros entusiasmos pela balança, onde se pesava tudo ao mesmo tempo -- tomates, caixas, carroça e burros. De uma casinha um empregado da fábrica dizia o peso cá para fora e outro assentava. Todos se sentiam roubados, mas ninguém falava. O Manuel Vicente, que um dia quisera bisbilhotar a balança, tivera tantos descontos por mais isto e aquilo que no fim quase ficara empenhado com a paga das diferenças.
- Nunca vi uma coisa daquelas! Um homem parece que caiu no meio de uma quadrilha de ladrões onde nem pode gritar.
- Mas para o ano volta tudo à mesma e só no fim é que se dá conta disso. Vamos uns atrás dos outros como carneiros.
- A sorte do pobre é a história mais triste do mundo.
- E cada vez mais triste... Se a gente quiser...
- A gente quer, mas não pode...
- A gente pode tudo.
Manuel Caixinha escolhera aquele dia para a primeira apanha e já pedira carroça emprestada para fazer o transporte até à fábrica. De canivete na mão, para cortar o encurado dos frutos tocados, ia-lhes tirando os pícaros e as rosetas, pois, se passasse algum, era caso para lhe marcarem descontos no pagamento. A Rita fora ajudá-lo, esquecida de que o povo podia falar de a ver por ali com ele, quando ainda nem corriam papéis para o casamento. Andava de um lado para o outro, deslumbrada com tanta fartura de frutos, maduros uns, vermelhos e apetitosos para uma sopa, verdoengos outros, pela cobertura da rama farta que os defendia do sol.
- Que riqueza, Manel!
Ele não lhe respondia, como se o desvelo da tarefa lhe tomasse os sentidos.
- com quatro ou cinco caminhos tira-se uma conta bonita.
Ele continuou mudo e ela aproximou-se mais, arrastando a sua cesta de apanha.
- Eu não te dizia?!... Temos aqui uma seara!
- Uma seara e muitas coisas mais. A dívida ao teu primo por pagar, os meus fiados nas lojas, os dias que não fui à praça para vir trabalhar nisto, e no fim de tudo a parte para o Falcão.
- Alguma coisa há-de ficar...
Pelo menos a raiva de encher os outros com o meu trabalho.
Deixou a moça a conversa por ali, ajudando-o a passar os frutos para as caixas da fábrica.
- Até nisto eles ganham. Qualquer dia obrigam um homem a vestir de veludo para entrar no portão, mas eles é que vendem o fato. Isto é uma grande sociedade!... Falcão, fábrica...
Todo o caminho levou a ruminar naquilo, deixando os burros no seu passo sossegado. Casaco pendurado no ombro, arreata presa na mão canhota, queimava-lhe os olhos o brilho do sol a encher os campos, e queimava-lhe a alma aquela certeza dolorosa de mal ganhar para os dias, quanto mais para as preocupações que todo o ano tivera. Na alverca do Rombo, aberta ali no meio das Praias pelas unhas da cheia, lavavam mulheres e brincavam cachopos. Lembrou-se da sua infância e pareceu-lhe que o pai caminhava com ele, queixando-se da vida que passara e para a qual só achara remédio naquele dia da cheia grande.
Mergulhados na água, salgueiros encharcavam-se de cor, amparados pelas agulhas dos choupos altos e das faias frondosas. Depois milheirais e vinhedos, já devassados uns, quase a pedirem colheita os outros, enquanto os pires, passarocos que gritam o seu nome, lhe iam tirando os melhores bagos dos cachos. Aproximava-se da fábrica, onde ia deixar a primeira apanha e mais três ou quatro que ainda tirasse da seara. Marchavam para ele os pinheirais das outras margens do rio; como se lhe espreitassem a jornada, oliveiras surgiam por todos os lados dos campos.
Bem parecia tudo em dia de festa - carinhoso o sol, farta a terra enfeitada de formas e cores. Só para ele, e para os outros da sua igualha, o esplendor do dia era uma ofensa. Para eles, como para os pescadores que via de cima da ponte, a enxugar as redes nos areais - manchas douradas na estrada do Tejo, onde construíam as casas de latas velhas e madeira abandonada.
A última viagem que fez à fábrica foi a 11 de S. Martinho. O Falcão marcara hora certa para todos os fangueiros de searas de tomates e pimentos e, pela estrada fora, encontravam-se, acamaradando nas mesmas conversas de sempre. Era uma romaria, como se a feira tivesse passado do Arneiro para o outro lado do rio, pois naquele dia de Novembro a tradição mandava liquidar as fangas. A pé uns, outros escarranchados nos burros, outros ainda de carroça engatada, aproveitando o ensejo para passeio da família, pareciam bandos de emigrantes, fugindo a alguma cheia maior que tivesse coberto a Borda-d’Água e até o nicho de Santa Iria, sinal de que a terra ia ser arrasada pelo Tejo.
- Levas a carroça para trazer o dinheiro?!
- Se te parece. a fábrica não ganhou este ano para pagar a minha parte.
- O meu cabe-me todo no bolso do colete.
- Já tu estás a queixar-te.
- Do mesmo mal que tu te queixas.
Riam com um riso amargo, como se pudessem assim aliviar as preocupações. Havia alguns que se não lamentavam, envergonhados de confessarem a situação em que ficavam depois de oito meses de canseiras.
Procuravam muitos chegar primeiro ao portão, para se despacharem depressa e voltarem para casa. Faziam-lhes os outros sogada de gritaria e assobios, de gracejos e alcunhas. Manuel Caixinha metera-se de paleio com o António da Maria Gaitas, um velho que fazia fanga desde os vinte e cinco anos.
- Que tal a tua?
- Ora, Ti António, igual à dos outros todos. A terra sempre dá, quando é bem tratada, mas eles é que levam tudo.
- É isso, Manel... É isso mesmo! Há mais de trinta anos que faço aquele bocado e já o tinha pago dez vezes se o tivesse comprado, mesmo com juros. Assim aquilo é sempre dele e os meus braços já vão cansados...
- Juntou o seu dinheirito noutros tempos!
- A trabalhar nunca se junta dinheiro, Manel. Tu bem o sabes!... O teu pai foi um moiro, eu outro... No outro dia mandou-me dizer que as searas estavam a dar pouco e que eu já não podia. Que desse o lugar aos novos...
- Se todos vissem as coisas...
- Contigo pode-se falar assim, mas com outros... Durante muito tempo nunca disse nada. Calei-me sempre, para que se não soubesse, julgando que só eu tinha pouca sorte com a minha fanga. Engrolava aquilo comigo, horas sem conta. Um dia veio um e desabafou... Depois outro... E acabei por saber que o mal batia a todas as portas.
- A fanga se existe é porque não é um bem para a gente. Convém-lhes assim e um homem julga que vai buscar o céu, quando o céu é lá em cima:
- E nem os pardais lá chegam.
- Céu aberto é para eles que nada mexem e tudo arrecadam.
- A vida dos homens é cá na terra, Ti António.
- Em tempos julguei que não. A gente habitua-se a ouvir as coisas de pequeno e anda por aqui, sem dar conta que se tem cabeça não é só para lhe pôr o chapéu ou o barrete. Quando repara, é tarde e são eles que dão o primeiro aviso. Vossemecê está velho, tenha paciência.
- É uma coisa em que o povo é muito rico. Paciência para tudo.
-’É mesmo, Manel. Um pobre pede esmola... tenha paciência! Levam-nos o trabalho da fanga... tenham paciência! Tiram-nos a sorte... tenha paciência!
- A gente tem uma seara de paciência e eles o resto todo.
-- A mim até isso já me tiraram. Agora não encontro outro remédio senão fingir que tenho alguma. Nas praças não me pegam... É um resto que me fica até ele querer. E para isso mesmo é preciso pedincha à volta da menina.
Quando chegaram, já muitos tinham feito contas; embrulhavam o dinheiro nas mãos, como vergonhosos de mostrarem a parte que lhe ficara. Davam dois dedos de conversa e abalavam, parando à volta, na tenda da ponte, para beberem uns copos. Começavam assim a enganar-se, esquecendo os oito meses de trabalho, guardados num canto da algibeira, para passarem daí a pouco para as mãos deste que emprestara um tanto, para as do outro que fiara umas semanas.
O Falcão chegou de charrette, meteu-a ao portão e, daí a pouco, chamaram os seus fangueiros para fechar as contas. Nas do Caixinha houve discussão, porque as pesadas não davam certas. Ele puxou de um papel e mostrou as notas que tomara pelo seu punho. Depois de muitas conferências, em que o Falcão interveio a cochichar com o dono da fábrica, arrumaram o pagamento.
- Tens razão, Manel. É muita coisa e eles às vezes enganam-se. Queres o dinheiro aqui ou vais recebê-lo lá a casa?
- Pode ser aqui, seu Falcão.
- Para não arrefecer!
- Frio já ele cá chega. Mais frio que uma manhã de geada.
Contas divididas, pegou-lhe o outro pelo braço, a falar-lhe do futuro. Embezerrado, olhos postos no chão, Manel Caixinha não lhe respondia.
- Aquilo dá uma boa seara de pimentos. Falamos qualquer dia. Anda daí na charrette.
- Não, senhor...
- Não pagas nada, homem.
- É por isso mesmo que não vou. Se pagasse...
O outro subiu para a campana a sorrir-lhe, sem compreender a intenção do fangueiro. Pegou no chicote, fê-lo estalar no lombo da égua e meteu estrada fora, direito à Golegã. Manuel Caixinha deitou o chapéu para a nuca, concertou o casaco no ombro e pôs-se a caminho.
«Seara de pimentos!...»
Meneou a cabeça e ergueu um olhar atravessado para a charrette, que desaparecia numa curva da estrada.
Dentro de si, mais atroz que nunca, a luta entre as duas almas. Caía a noite quando chegou à Gulegã e meteu-se no seu buraco, onde a lareira estava apagada e nem umas petingas havia para comer. Deitou-se em cima da cama a rever a sua vida, negra como as trevas que cobriam o quarto.
A irmã lá longe, na cidade, aos baldões, sem amparo de ninguém. Ele acabara a fanga e, apesar de há muito esperar aquele resultado, parecia-lhe que nunca se preparara para tal desilusão. Doía-lhe o peito, tinha vontade de se esquecer de si, fechar as portas e deixar-se morrer. Logo lhe apetecia gritar, ir para a rua, falando aos outros fangueiros naquele destino que tinham de vencer.
«- Tenta-se mais um ano, homem.
- Tentar o quê?! Prefiro alugar-me toda a vida que pegar noutra terra.
- Arranja outro lavrador. Talvez...
- O Falcão é igual aos demais e os outros da mesma escolha. Eles sabem o que querem. A gente é que não sabe.»
Da rua chamaram por ele e duas argoladas bateram na porta. Ergueu-se, para logo se deixar cair. Mas instavam e assim não podia pensar. Gritou lá de dentro e a sua voz repetiu-se, enchendo o vazio do quarto.
- Quem é?!... Bata com a cabeça! Responderam-lhe gargalhadas e um falatório de que não percebia as palavras. Arrastou-se na escuridão e repetiu a pergunta.
- Sou eu, Manel! Então não vamos ao circo? «Num bom circo andava ele. Menina do arame, palhaço e homem das forças.»
- Anda lá, homem. Já comprámos o bilhete para a primeira sessão.
Quando abriu a porta, a luz macia da noite transtornou-lhe os olhos e só viu sombras que se moviam na rua. Riram-se da sua cara e houve quem achasse que ele tinha bebido uns copos para festejar a fanga.
- Ganhas a bandeira de S. Martinho, não?!
Era a Rita e outras companheiras com a família e os namorados. O ar festivo daquela gente toda magoou-lhe o abatimento e rosnou qualquer coisa entre dentes. A cachopa veio pôr-se ao seu lado, a fazer-lhe perguntas; acabou por se calar o resto do caminho, quando percebeu que não lhe arrancava palavra de jeito.
Naquela noite o largo do Arneiro parecia mais barulhento que nunca com os sons das cornetas e dos tiros do canhão nas barracas de meninas, com a cegarrega da gaita de foles dos cavalinhos e das músicas dos fantoches e do circo. O povo acotovelava-se pelas ruas adiante, dum lado para o outro, à procura de um pretexto para estar ali. Passavam homens fartos de castanhas e vinho, balouçando como barcos do Tejo e falando entre dentes nas coisas mais espantosas da vida. Alguns levavam atrás deles as companheiras e os filhos, ralados de todo, com receio de o verem metido nalguma borrasca de murro e cacete. Entregues a si, os homens só reparavam no fulgor das luzes que os tornava cada vez mais sombrios, e falavam sempre, parando uma vez ou outra para tomar rumo ou ganhar equilíbrio.
De cima do palanque do circo, os palhaços tocavam o badalo, anunciando que o espectáculo ia começar, de mistura com gracejos gritados e quedas aparatosas, que faziam rir quantos se tinham especado ali, indecisos na sua penúria, a dar balanço ao dinheiro e ao preço da geral.
-’Quem não se rir recebe o seu dinheiro! Eu pago tudo! - afirmava o palhaço da boca grande, casaco de bebé e calças de gigante.
- É entrar! É entrar! Nunca veio a esta terra e já cá não volta o circo mais importante do mundo!
Decidia-se um grupo, depois outro, a caminho da bilheteira, junto da qual estava um grande cartaz com letras de palmo e fotografias dos artistas. Aquilo acabava por convencê-los e revolviam as algibeiras à procura das moedas, esquecidos de quantas dúvidas os tinham prendido momentos antes.
Manuel Caixinha lembrava-se das outras feiras, caminhando arrastado pelos passos dos outros. Não o chamavam o tiro do canhão da barraca das meninas que prometiam afagos, nem a gaita de foles dos cavalinhos que não paravam no seu corrupio. Ia para o circo, mas talvez fosse o único que poderia pedir o valor do bilhete.
- Quem não se rir recebe o seu dinheiro! - gritava o palhaço de cabelo vermelho e laçarote amarelo no alto da cabeça, enquanto o outro, de fato com lantejoulas, lhe descarregava pancadas nos ombros.
- Ói Quico! Qui mi matas!...
A Rita meteu outra vez conversa com ele e nada mais conseguiu que encolheres de ombros e dois nãos entre dentes. Manuel Caixinha sentia vontade de abalar dali, perder-se no silêncio dos campos e ficar sozinho para pensar. Parecia-lhe que lhe apertavam os braços e as pernas, tolhendo-lhe os movimentos, como se alguém o temesse em liberdade. -Apetecia-lhe gritar, desfazer toda aquela multidão que o enrolava numa teia de grupos, de diálogos e de risos. Depois reconsiderava, caía num abatimento profundo que lhe dava ganas de chorar sem fim, e julgava-se louco, raivoso de desespero, como o Francisco Gregório, que, numa tarde, lhe dera para tropelias e acabara por se estoirar, debaixo dum comboio, ao pé de Mato de Miranda.
À entrada do circo juntara-se uma massa de gente; lutavam todos para chegar primeiro, rompiam com os cotovelos e os ombros, como temessem não ir a tempo para ver os palhaços. Era um mar que se agitava em vaivém, entre gritos de mulheres pisadas e choros de crianças perdidas das mãos que as guiavam. Manuel Caixinha caminhava numa das pontas do seu grupo, amparando a onda de povo que, de vez em quando, acometia para o seu lado e parecia capaz de varrer a feira. Um rapazote de ares apurados empurrou-o pelas costas, gracejando pela bravura com duas meninas de gente rica, e ele não se conteve sem lhe pagar com tal vontade que o outro cambaleou naquele mar de cabeças. O seu olhar disse-lhe tais coisas que nunca mais lhe ouviu uma palavra para fazer rir as meninas, nem lhe sentiu o peito atirado com aquele ímpeto de quem veio ao mundo para ter os caminhos livres.
A guarda continha as entradas pelo argumento das coronhas, mas o nervosismo crescia, porque lá dentro a música rompera a tocar uma marcha e todos julgavam que o espectáculo começara sem a sua presença.
Os bancos da geral estavam cheios de gente que ria, que assobiava, que gritava e batia as mãos num contentamento infantil.
- O que tens, Manuel? Zangaste-te com o Sr. Falcão?
A cachopa apertou nos dedos o seu lenço azul com rendinhas, quando o viu continuar de cabeça baixa, olhar turvado e chapéu descaído, num jeito de quem se cansou de viver. Chegou-se mais para ele, como se fosse obrigada a fazê-lo para dar lugar a mais alguém. Mas o Manuel não a sentia mulher nessa noite de S. Martinho.
Ora preso pelas emoções dos números arriscados, ora soltando-se em gargalhadas com os faz-tudos que vinham desenrolar e enrolar o tapete coçado e roto, o povo comprimia-se cada vez mais, como se o corpo de todos tivesse crescido de volume. Esboçavam-se discussões e desordens de vez em quando, logo acalmadas com a vinda de outros artistas anunciados por um homem de fato preto com bandas reluzentes.
Manuel Caixinha é que parecia à parte de tudo, a face encostada à mão, os olhos fixos na pista iluminada; pensava na vida lá de fora, no dia de ontem e no que viria amanhã. Aquilo era um intervalo para muitos, menos para ele que sentia na carne e no coração a amargura daquela tarde.
«Aquela terra dá uma boa seara de pimentos, Manel.»
Não sabia porquê, mas os homens que davam saltos lá de cima de um trapézio para o outro, a rapariga que viera mostrar as pernas e aguentar nos seus braços com um cacho de gente, o garoto que se contorcera, como se fosse uma bicha, dobrando o tronco para fazer surgir a cabeça entre as pernas, eram ele próprio, trabalhando de manhã à noite, na gadanha ou nas eiras, nas vinhas ou nos olivais. E à volta, todas aquelas cabeças que não distinguia eram do Falcão, dono da terra e senhor dos fangueiros, assistindo refastelado à sua labuta.
Um coro de gargalhadas rompeu no circo. Como se o tivessem acordado, levantou a cabeça e pôs-se a seguir as graças dos palhaços.
- Vamos fazer uma sociedade!!
- Vamos, Quico.
O palhaço de fato de lantejoulas expunha o seu plano ao outro, que, embasbacado, piscava os olhos pintados, contorcia o corpo num contentamento que lhe não cabia na alma, espalmava as mãos e abria a boca rasgada.
- Sim, Quico!
Despiu o seu casaco de bebé, tirou um colete branco que lhe tocava os joelhos, compôs o laçarote amarelo e começou a acarretar paus de um lado para o outro, enquanto o palhaço de fato de lantejoulas se sentara, cantarolando uma música qualquer.
- Não trabalhas, Quico?!
- Eu não, Tonito. Eu sou o sócio capitalista. Eu vejo.
- Ha?!...
Manuel Caixinha seguia os palhaços e lembrava-se da fanga. No meio da arena, ele era o faz-tudo de calças de gigante e o Falcão o que se sentara a cantarolar, de braços cruzados e fato de lantejoulas. As gargalhadas altas da geral era ainda o outro que as soltava, como se fosse o ruído de um rabo de vento, prestes a destruir os panos do circo.
Depois do trabalho feito o Falcão chamara o senhor de casaco de bandas reluzentes e vendia-lhe tudo, metendo o dinheiro nas algibeiras largas que faziam bico ao lado.
- E eu, Quico?!
- Tu?!... Fica a sociedade feita. Tu trabalhaste e eu também.
- Mas eu é que peguei nos paus.
- E eu tive o trabalho de receber e contar o dinheiro. E como o outro protestasse, corria-o à volta da arena,
batendo-lhe com um cacete, até que ambos desapareciam no corredor dos camarins, ante os risos destemperados da geral e os sorrisos condescendentes do público das cadeiras.
Em todo o resto do espectáculo, Manuel Caixinha viu e ouviu o intervalo cómico dos palhaços. Nada mais se passava no circo que essa cena entre ele e o Falcão.
À saída, a cachopa experimentou conversa e ele falou. Falou todo o caminho até à porta dela, dizendo-lhe o que desde há muito guardava dentro de si. Quando recolheu ao quarto, a Rita levava o lenço azul com rendinhas a enxugar os olhos e soluçava baixinho para a mãe não ouvir.
SENTIRAM-NA triste, a choramingar pelos cantos, e os pais tiveram mau pressentimento, embora as liberdades não fossem muitas e o Manuel Caixinha parecesse incapaz de fazer alguma partida.
- Eu sei lá!... Isto de lume ao pé da estopa. Os tempos são outros, a vergonha é cada vez mais pequena.
- Ela que chora...
- E cria a gente uma filha para isto.
- Fala-lhe tu, mulher. Se houve alguma coisa, casam-se e pronto. Pede-se um dinheirito emprestado para a boda e para os amanhos da casa. Assim como assim, de vergonha já não se passa.
- Ele precisava...
- O que se há-de fazer... A gente vê caras, mas não vê corações. Saísse ele aos Caixinhas... Boas famílias, gente de respeito. Mas com aquela costela da mãe, uh!... Fala à cachopa.
Saiu de casa para se meter na taberna, porque só ali era capaz de disfarçar o pesadelo daquela dúvida. A mulher ficou na lida, escolhendo palavras para falar à filha, metida no quarto a mexer na mala da roupa. O tempo passava e acabou por se decidir, indo pelo corredor, pé aqui, pé acolá, como se receasse assustá-la.
-É vossemecê: e esqueceu-se com um travesseiro na mão, pondo o olhar no tabuleiro que tinha ao lado.
- O que tens tu, cachopa?... A falar é que a gente se entende. O teu pai...
Sentou-se na beira da cama, mãos unidas entre as pernas, no refego da saia. E depois em voz baixa:
- Ele fez-te partida? Diz, cachopa!
- Não, senhora.
- Então o que tens tu, que andas para aí a chorar pelos cantos? É mesmo uma coisa parva.
- O Manel falou comigo...
Misturavam-se-lhe as palavras com os soluços, corriam-lhe pela cara as lágrimas em fio.
- ... e diz que não faz mais fanga...
- Essa agora! Ele disse-te isso, cachopa?
- Sim, senhora. E se visse os olhos que me deitou quando eu lhe pedi para continuar...
- Mas só com a jorna ainda é pior. De princípio ainda vai menos mal com o dinheiro dos dois, mas vêm os cachopos...
- Diz que vai à praça todos os dias, mas que não pega em terra de mais nenhum lavrador. Ganhou-se pouco, é certo, mas ter uma fanga sempre parece outra coisa. Não é verdade, mãe?... E ainda por cima...
- Mais alguma ?...
- Que vai trazer a Anita para casa... Eu nem lhe disse nada. Vi-o tão alterado.
A mãe levantou-se num repelão, como se a tivessem picado com a vara dum maioral de toiros, e passeou o quarto em todos os sentidos:
- Isso era o que faltava. Não te quero com gente dessa. Filha minha não precisa de se misturar com galdérias, nem de se sujeitar a vergonhas. Que trabalhe!...
Isto homens do campo que saibam ler... É desgraça certa em casa que lhes abra a porta. Ou acabam desgraçados como o Barra ou saem como este. No fim são todos mandriões. Em lugar de se distrair numa taberna, mete-se em casa...
Vendo que a cachopa não parava de chorar, pôs-lhe a mão na cabeça e afagou-lha.
- Fome não passas tu, mulher. Na Golegã há ainda rapazes de trabalho que te queiram; enquanto o teu pai e eu tivermos vida, não te falta casa e alguma coisa de comer. E depois sabes trabalhar. Deixa lá.
Quando bateram à porta, as duas ficaram suspensas, sem dar palavra, interrogando-se com o olhar. Logo a mãe se decidiu, abrindo a porta do quarto e perguntando para fora.
- Eu, Manel! - responderam.
A Rita fez menção para se levantar, enxugando as lágrimas à pressa.
- Deixa que sou eu quem lhe fala. Vai ouvir das boas. Se tiver vergonha, nunca mais cá passa à porta. Que vá para o raio que o parta!... Não faça fanga, mande vir a irmã, mas ao menos que nunca mais desinquiete as filhas de gente honrada.
FIQUEI mais leve, como se de riba de mim saísse uma grande carga. Aquilo com a Rita já não havia volta a dar-lhe, por mais que a gente quisesse. Ainda gostava dela, sim, ainda gostava. Mas não era assim uma coisa de morrer; tudo havia de passar com o tempo. com o tempo até a gente passa... E foi bom que a mãe me dissesse todas aquelas coisas que me doeram, porque assim nunca mais poderei encarar com a filha. Raparigas não faltam por aí...
Hei-de arranjar uma boa companheira; preciso duma boa companheira. Uma mulher faz falta... Nem sempre fará falta, mas há horas de tristeza e horas de alegria em que se precisa de dividir com alguém certas coisas da vida.
Levantei-me cedo na manhã seguinte, dei uma volta pela alverca, nem sei bem porquê, talvez para me lembrar melhor do meu pai, e abalei até à praça do pessoal. Os trabalhos não pediam muita gente - serrar lenha, limpar oliveiras e semear trigos temporões - e parecia que estavam lá mais homens do que nos outros dias. Sentia-me um bocado triste para dizer a verdade. Mas do fundo das minhas penas crescia uma força nova, em que se misturavam as amarguras, as desilusões e um não-sei-quê de esperança, uma fogueira de esperança que me aquecia.
O fangueiro morrera dentro de mim. Matara-o para sempre. Ficara o homem com uma só alma, decidido a procurar pelos caminhos do sacrifício, e até da morte, eu sei lá!, o que julgo ser a estrada dos que mais nada têm para perder. Que tenho eu para perder?!...
Foi o que disse nessa manhã de Dezembro ao António Quitério, quando me cheguei para o pessoal de Marvila e ele pegou comigo, perguntando-me se eu queria deixar a gente da Baralha para ficar com os dali. Respondi-lhe que não, que estava bem junto de todos, pois não me constava que na Baralha ou em Marvila a vida dos trabalhadores fosse diferente. Os patrões percebiam-no e por isso mesmo só havia uma praça de trabalho para a Golegã inteira. E falei de mais coisas que não vêm agora para a conversa. Nessa altura, já se formara uma roda de malta à nossa volta; ele lembrou-me que devia ter cuidado, não me acontecesse o mesmo que a muitos outros... Eu, então, já nem sei porquê, talvez por brios ou por motivo ainda mais forte, larguei-lhe aquela: - Que tenho eu para perder?!...
Quase todos se puseram da minha banda, embora só um ou dois tivesse falado. Mas os olhos dos mais calados não me enganaram. O que havia nalguns era o receio de se saber o que pensavam.
Da praça saíram poucos homens. Eu fiquei por ali no cavaco e vi com alegria que o pessoal acamaradava sem distinção de bairros. Essa coisa simples e bonita sucedeu pela primeira vez num dia agreste e ventoso que nunca mais esquecerei, por muitos anos que viva.
Alves Redol
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















