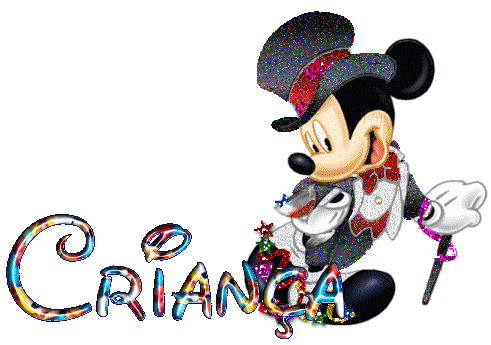Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




Ana Karenina
CAPÍTULO I
Todas as famílias felizes se parecem, as infelizes não.
Havia grande confusão em casa dos Oblonski. A esposa acabava de saber das relações do marido com a preceptora francesa, e comunicara-lhe que não podiam continuar a viver juntos. Durava já há três dias a situação, para tormento não só do casal mas também dos demais membros da família e da criadagem. Todos em casa se apercebiam de que já não havia razão alguma para manter aquele convívio, e que as pessoas que por acaso se encontrassem numa estalagem teriam talvez mais afinidades entre si. A esposa não saía dos seus aposentos, havia três dias que o marido não parava em casa; as crianças corriam de um lado para o outro, como que perdidas; a preceptora inglesa indispusera se com a governanta e escrevera a uma amiga pedindo que lhe arranjasse outra colocação; na véspera, o cozinheiro abandonara a casa à hora do jantar; o cocheiro e a copeira tinham pedido que lhes fizessem as contas.
No terceiro dia após a altercação, o príncipe Stepane Arkadievitch Oblonski — Stiva, como lhe chamavam os íntimos — acordou à hora do costume, ou seja, às oito da manhã, não no quarto conjugal, mas no escritório, deitado no divã de couro. Revolveu o corpo, gordo e bem tratado, sobre as molas do divã, como se quisesse adormecer de novo, e abraçou se ao travesseiro, apertando o contra a face. De repente, porém, sentou se e abriu os olhos
«Como? Como era?», pensou, lembrando se do sonho que tivera «Como era aquilo? Ah, já sei! Alabine dava um jantar em Darmstadt, não, não era em Darmstadt; era na América. Sim, no sonho Darmstadt ficava na América. Alabine oferecia um jantar servido em mesas de cristal e as mesas cantavam Il Mio Tessoro! Talvez não fosse Il Mio Tesoro, mas qualquer coisa melhor, e havia umas garrafinhas, que afinal eram mulheres.».
Os olhos de Stepane Arkadievitch brilharam alegremente, e, sorrindo, ficou se a cismar. «Sim, era muito bonito, estava muito bem. E havia muito mais coisas magníficas, mas não podia descrevê-las nem por palavras nem por pensamentos, nem mesmo desperto como estava.» Ao perceber um raio de luz que penetrava por um dos lados da cortina, retirou alegremente os pés do divã, procurando com eles, no chão, as chinelas de couro dourado que a mulher lhe oferecera no ano anterior (presente de aniversário) e, costume seu de há nove anos, sem se levantar estendeu o braço para o roupão, geralmente dependurado à cabeceira da cama. Então lembrou-se subitamente do motivo por que não dormira no quarto conjugal; o sorriso desapareceu-lhe do rosto, e franziu as sobrancelhas.
— Ai, ai, ai! — queixou-se, ao lembrar-se do que sucedera. De novo se lhe representavam na memória todos os pormenores da altercação com a mulher, a posição insolúvel em que se encontrava e as culpas que tinha, e isto era o que mais o atormentava.
«Não! Não me perdoará, não pode perdoar-me. E o pior é que sou o causador de tudo, embora não seja culpado. Essa a tragédia», pensava.
— Ai, ai, ai! —repetia, desesperado, ao recordar os momentos mais dolorosos da discussão.
O momento mais desagradável fora aquele em que, ao regressar do teatro, alegre e satisfeito, com uma bonita pêra para a mulher, não a encontrou nem no salão nem no escritório, coisa que o surpreendeu, mas no quarto de dormir, na mão o maldito bilhete que tudo lhe revelara.
Dolly, a mulher sempre diligente, cheia de preocupações e tão limitada, segundo pensava Oblonski, sentara-se com o bilhete na mão e olhava-o num misto de cólera, horror e desalento.
— Que é isto? Que é isto? — perguntou-lhe, mostrando o bilhete.
Ao lembrar o ocorrido, o que mais lhe doía, como sempre acontece, não era tanto pelo facto em si, mas o modo como respondera à mulher.
Naquele momento sucedeu-lhe o que sucede a qualquer pessoa obrigada a confessar algo vergonhoso. Não soube encontrar expressão adequada à situação. Em vez de ofender-se, negar, justificar-se, pedir perdão ou mesmo mostrar indiferença — qualquer coisa teria sido melhor —, apareceu-lhe de súbito, na fisionomia, involuntariamente («Reflexos cerebrais» pensou Stepane Arkadievitch, que era dado à fisiologia), o sorriso habitual, bondoso e estúpido. Não podia perdoar-se sorriso tão absurdo. Diante desse sorriso, Dolly estremeceu, como se sentisse uma dor física, e, com o seu arrebatamento peculiar, rompeu numa torrente de palavras duras, acabando por sair, correndo, do quarto em que estava. Desde então não mais quisera ver o marido.
«Aquele estúpido sorriso é que teve a culpa de tudo. Mas que fazer? Que fazer?», perguntava-se Stepane Arkadievitch, sem encontrar resposta.
CAPÍTULO II
Oblonski era sincero consigo mesmo: não se sentia arrependido e não tinha remorso disso. Aquele homem bem parecido, de trinta e quatro anos, de temperamento amoroso, não podia, realmente, arrepender-se de não estar enamorado da mulher, um ano apenas mais nova do que ele, e mãe de sete filhos, dos quais cinco vivos e sãos. A única coisa que lamentava era não ter sabido esconder melhor os seus sentimentos. Mas compreendia a gravidade da situação e deplorava o que acontecera, tanto por Dolly e pelos filhos como por ele próprio. Talvez tivesse conseguido ocultar melhor as suas faltas, se pudesse adivinhar que causariam tamanho efeito sobre Dolly. Nunca pensara claramente no problema, embora imaginasse, um tanto vagamente, já há algum tempo, que a mulher desconfiava da sua infidelidade, sem no entanto atribuir grande importância ao facto. Era, inclusive, de opinião que a esposa, esgotada, envelhecida, sem beleza nem atributos, conquanto simples e boa mãe de família, devia ser condescendente por espírito de justiça. Ora, acontecera exactamente o contrário.
«Oh, é terrível, terrível!», exclamou Stepane Arkadievitch, sem descobrir uma solução para o caso. «E que bem vivíamos até aí! Dolly sentia-se feliz e contente com os filhos, eu não a incomodava em coisa alguma, deixava-a inteiramente à vontade com as crianças e a casa. Evidentemente, não estava certo que «ela» fosse a preceptora dos nossos filhos. Não estava certo! É grosseiro e vulgar fazer a corte à preceptora que nos educa os filhos. Mas, que mulher!» E recordou vivamente os astutos olhos pretos e o sorriso de Mademoiselle Roland.
«Enquanto esteve em nossa casa, no entanto, não houve nada, nada. E o pior é que ela já... Parece que tudo aconteceu de propósito! Ai!»
Resposta, só aquela, que a vida costuma dar a todas as questões complexas e insolúveis: viver o dia a dia, isto é, divertir-se. Já não podia fazê-lo através do sonho, pelo menos enquanto a noite não voltasse; já não podia tornar a ouvir a música que as mulheres garrafinhas cantavam.
Só lhe restava distrair-se com o sonho da própria vida.
«Veremos isso mais tarde», disse consigo mesmo Stepane Arkadievitch; e, levantando-se, enfiou o roupão cinzento forrado de seda azul e deu um nó no cinto de bolas. Depois, respirando a plenos pulmões, encheu-os de ar, aproximando-se da janela com o habitual andar resoluto das suas pernas tortas, que com tanta ligeireza lhe transportavam a vigorosa figura, afastou a cortina e tocou a campainha. A chamada acudiu imediatamente o velho escudeiro Matvei, que lhe trazia a roupa, os sapatos e um telegrama. Atrás dele vinha o barbeiro com os respectivos apetrechos.
— Trouxeram os processos do tribunal? — perguntou Stepane Arkadievitch, pegando no telegrama e sentando-se diante do espelho.
— Estão em cima da mesa — respondeu Matvei, mirando o amo com uma expressão entre interrogativa e solícita, e daí a pouco acrescentou, com um sorriso malicioso: — Vieram umas pessoas da parte do cocheiro.
Stepane Arkadievitch não respondeu, limitando-se a encarar Matvei através do espelho; pelo olhar que trocaram percebia-se que se entendiam.
O olhar de Stepane Arkadievitch parecia perguntar: «Para que me falas nisso? Porventura não sabes?» Matvei enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta e avançou um pé, fitando o amo em silêncio, com um imperceptível sorriso bondoso.
— Disse-lhes que voltassem no domingo e até lá não incomodassem o senhor nem se preocupassem sem necessidade — articulou o criado, que, ao que parecia, preparara a frase.
Stepane Arkadievitch percebeu que Matvei quisera brincar e também que lhe prestassem atenção. Rasgando o telegrama, leu-o, corrigindo com sagacidade os diversos erros de palavras, e o seu rosto iluminou-se.
— Matvei, amanhã chega a minha irmã Ana Arkadievna — disse ele, detendo, por momentos, a gorda mão reluzente do barbeiro que lhe abria uma risca rosada nas longas suíças frisadas.
— Graças a Deus — exclamou Matvei, dando a entender, com esta resposta, que compreendia tão bem como o patrão o significado daquela notícia, isto é, que Ana Arkadievna, a irmã querida de Stepane Arkadievitch, podia cooperar na reconciliação do casal. — Vem só ou com o marido? — perguntou.
Stepane Arkadievitch, que não podia falar porque o barbeiro lhe escanhoava o lábio superior, ergueu um dedo. Matvei olhou para o espelho e moveu afirmativamente a cabeça.
— Sozinha. Preparam-se-lhe os aposentos do andar de cima?
— Comunica a Daria Alexandrovna e prepara os aposentos que ela mandar.
— A Daria Alexandrovna? — repetiu Matvei, como que hesitante.
— Sim. E pega no telegrama. Mostra-lho.
«Quer experimentar!», pensou Matvei, compreendendo. E limitou-se a dizer: — Muito bem.
Stepane Arkadievitch, lavado e penteado, começou a vestir-se quando Matvei penetrou de novo no gabinete, em passo vagaroso, as botas rangendo um pouco, e o telegrama na mão. O barbeiro entretanto saíra.
— Daria Alexandrovna manda-lhe dizer que se vai embora. Que o patrão faça o que quiser, isto é, o que quisermos — disse, rindo-se apenas com os olhos. E, enfiando as mãos nos bolsos, inclinou a cabeça para um lado, de olhos fitos no chão.
Stepane Arkadievitch conservou-se calado durante um momento. Depois aflorou-lhe ao belo rosto um sorriso bondoso e um tanto compassivo.
— Então, Matvei? — disse, movendo a cabeça.
— Não se preocupe, meu senhor; tudo se «arrumará» — respondeu o criado.
— Se «arrumará»?
— Sim, senhor.
— Achas? Quem está aí? — perguntou Stepane Arkadievitch, ao ouvir o frufru de um vestido atrás da porta.
— Sou eu — retrucou uma voz feminina, fina e agradável. E o rosto marcado de bexigas de Matriona Filimonovna, a aia, assomou à entrada.
— Que há, Matriona? — inquiriu Oblonski, aproximando-se da porta.
Apesar de Stepane Arkadievitch ser considerado culpado perante a mulher e ter consciência disso, quase todos em casa, inclusive a aia, a melhor amiga da Daria Alexandrovna, estavam do lado dele.
— Que há? — repetiu com uma expressão triste.
— Vá pedir perdão à senhora outra vez. Talvez ela lhe perdoe. Sofre muito; faz dó. Além disso, tudo anda transtornado nesta casa. É preciso ter pena das crianças. Que havemos de fazer? Quem corre por gosto...
— Não me receberá...
— Seja como for, tente. Deus é misericordioso. Reze, meu senhor, peça a Deus.
— Está bem, vai-te embora — exclamou Stepane Arkadievitch, corando repentinamente. — Deixa ver a minha roupa — acrescentou, dirigindo-se a Matvei, enquanto despia o roupão, decidido.
Matvei já tinha na mão a camisa, aberta em forma de coleira, e soprava-lhe ciscos invisíveis. Com manifesto prazer enfiou-a no bem cuidado corpo do patrão.
CAPÍTULO III
Já vestido, Stepane Arkadievitch perfumou-se, ajeitou os punhos da camisa e, num gesto habitual, guardou nos bolsos os cigarros, a carteira, os fósforos e o relógio de corrente dupla com berloques. Sacudiu o lenço e, sentindo-se limpo, perfumado, são, fisicamente contente, apesar de tudo, dirigiu-se, balançando-se ligeiramente, ora num pé ora no outro, para a sala de jantar, onde já o aguardavam o café, as cartas e o expediente do tribunal.
Leu a correspondência. Uma das cartas era muito desagradável, escrevia-a o comerciante que se propunha comprar um bosque das propriedades de Dolly. Enquanto não se reconciliassem, impossível falar em tal assunto. Nada mais desagradável do que misturar interesses materiais no grave problema da reconciliação. Repugnava-lhe a ideia de que aquilo o compelisse a procurar um meio de fazer as pazes com a mulher.
Quando terminou a leitura das cartas, Stepane Arkadievitch pegou nos processos, folheou-os rapidamente, garatujou algumas notas com um lápis enorme e, pousando tudo de lado, começou a tomar o café, ao mesmo tempo que abria o jornal da manhã, ainda húmido de tinta.
Stepane Arkadievitch era leitor de um jornal liberal, não extremista, antes da tendência política a que pertencia a maioria. Embora, na realidade, não lhe interessasse nem a ciência, nem a arte, nem a política, defendia firmemente as mesmas opiniões da maioria e do jornal, só mudando de ideias quando todos o faziam, ou melhor, não mudava de ideias; estas é que se transformavam imperceptivelmente, por si mesmas.
Stepane Arkadievitch não escolhia as suas tendências nem os seus pontos de vista; estes é que vinham até ele, tal como acontecia no que respeitava ao feitio do chapéu e ao corte das roupas: usava o que estava na moda. Em virtude de pertencer a determinado círculo social e de necessitar de alguma actividade mental — coisa que geralmente se desenvolve na idade madura — era-lhe tão imprescindível possuir pontos de vista próprios como usar chapéu.
A razão que o levava a preferir a tendência liberal à conservadora, à qual pertenciam também muitas pessoas do seu nível social, não era o facto de aquela tendência lhe parecer a mais sensata, mas apenas por ser a que mais se ajustava à sua maneira de viver. O partido liberal era de opinião de que na Rússia nada ia bem e, com efeito, Stepane Arkadievitch tinha muitas dúvidas e positivamente o dinheiro não lhe chegava para nada. Segundo ainda o mesmo partido, o casamento era uma instituição caduca, cumprindo reformá-lo. Realmente, a vida familiar poucos prazeres proporcionava a Stepane Arkadievitch, obrigando-o a mentir e dissimular, o que contrariava a sua natureza. Por outro lado, o partido sustentava, ou melhor, dava a entender que a religião era um freio para a parte inculta do povo e Oblonski, que não podia assistir a qualquer cerimônia religiosa, por mais breve que fosse, sem se queixar dos pés, não conseguia entender o porquê de todas essas palavras terríveis e enfáticas acerca do outro mundo, quando neste se podia viver tão bem. Ao mesmo tempo, como gostava de gracejar, às vezes desconcertava as pessoas pacíficas com o argumento de que, se alguém se vangloriava da sua raça, não havia razão para se agarrar a Rurik e renegar o macaco, o primeiro ancestral. Eis, pois, como a tendência liberal se transformara num hábito de Stepane Arkadievitch, que apreciava o seu jornal como apreciava o cigarro depois de comer, graças à ligeira neblina que lhe provocava na mente, leu o artigo de fundo, em que se dizia ser completamente inútil, no nosso tempo, vociferar que o radicalismo ameaçava devorar os elementos conservadores e que o Governo tinha obrigação de tomar medidas que esmagassem a hidra revolucionária; mas, pelo contrário, «segundo a nossa opinião», dizia, «o perigo não reside na pretensa hidra revolucionária, mas na firmeza da tradição e no progresso reprimido», etc. Também leu outro artigo sobre economia, em que eram citados Bentham e Stuart Mill e se lançavam críticas ao Ministério. Graças à sua peculiar agilidade mental, compreendeu o significado de todas as alusões: de onde vinham e contra quem, ou qual o motivo que as determinava, o que, como sempre, lhe proporcionava certo prazer. Mas naquele momento esse prazer era estragado pela lembrança dos conselhos de Matriona Filimonovna e pelo que estava acontecendo em sua casa. Depois leu outras notícias: pelo que se dizia, o conde Beist passara por Wiesbaden; já não havia cabelos brancos; estava à venda uma carruagem ligeira e uma pessoa jovem oferecia os seus serviços. Nada disto, porém, lhe proporcionou a satisfação calma e irônica de outrora.
Quando acabou de ler o jornal e bebeu a segunda xícara de café, acompanhada de um bolo de manteiga, Oblonski levantou-se, sacudiu as migalhas que lhe tinham caído no coiete e, estofando o peito, sorriu jovialmente, não porque sentisse qualquer coisa de particularmente agradável, mas apenas porque comera bem. Aquele alegre sorriso, contudo, recordou-lhe imediatamente o que se passara e Stepane Arkadievitch absorveu-se em reflexões.
Atrás da porta ouviram-se duas vozes infantis (Stepane Arkadievitch reconheceu a voz de Gricha, o filho mais novo, e a de Titiana, a filha mais velha). Arrastavam qualquer coisa pelo chão que tinham deixado cair.
— Já te disse que não se podem pôr os passageiros no tecto. Anda, vai tirá-los! — gritava a menina em inglês.
«Que desordem», pensou Stepane Arkadievitch. «As crianças correndo sozinhas pela casa.» Aproximou-se da porta e chamou-as. Abandonando a caixa com que brincavam de carruagem, as crianças penetraram na sala de jantar.
Tatiana, a predilecta de Oblonski, entrou decidida, abraçou-se ao pai e, rindo, dependurou-se-lhe ao pescoço, deliciada, como sempre, com o perfume das suas suíças, tão seu conhecido. Finalmente, deu-lhe um beijo no rosto, afogueado por causa da inclinação, e, radiante de ternura, desprendeu as mãos, disposta a sair, correndo; Stepane Arkadievitch deteve-a, porém: — A mãezinha, como está? — perguntou, acariciando o pescoço macio da filha. —Olá! — acrescentou, sorrindo, para o pequeno que por sua vez lhe dava bom-dia.
Stepane Arkadievitch reconhecia que gostava menos do filho, e embora sempre procurasse mostrar-se justo, o garoto dava por isso, não correspondendo ao frio sorriso do pai.
— A mãezinha? Já se levantou — respondeu a menina. Stepane Arkadievitch suspirou. «Isto quer dizer que passou a noite acordada», pensou.
— Está bem disposta?
A menina sabia que os pais se tinham zangado, que a mãe não podia estar bem disposta e que Stepane Arkadievitch fingia ao fazer-lhe aquela pergunta tão despreocupadamente, pois devia saber a verdade. E corou por ele. Oblonski compreendeu-o imediatamente, enrubescendo por sua vez.
— Não sei. Mandou-nos para casa da avòzinha com Miss Hull, em vez de irmos estudar.
— Bom, então vai, vai, minha Tantchurotchka. Ah, espera um instante! — acrescentou Stepane Arkadievitch, retendo a filha e acariciando-lhe a mãozinha delicada.
Procurando em cima da prateleira do fogão uma caixinha de bombons, que ali deixara na véspera, deu dois à menina, escolhendo os de que ela mais gostava: um de chocolate e outro de creme.
— É para o Gricha? — perguntou ela, mostrando o de chocolate.
— Sim, sim — assentiu Stepane Arkadievitch. De novo acariciou um dos ombros da filha e, beijando-a no pescoço e na raiz dos cabelos, deixou-a partir.
— Já está aí a carruagem — disse Matvei, acrescentando: — Há uma visita para o patrão.
— Está aí há muito tempo?
— Há uma meia hora.
— Quantas vezes te disse que me deves anunciar imediatamente as visitas? — Ao menos, precisa de tomar sossegadamente o seu café — replicou Matvei naquele tom entre amistoso e brusco, com o qual ninguém conseguia zangar-se.
A visita, a esposa do segundo-tenente Kalinine, vinha solicitar algo impossível e absurdo, mas Stepane Arkadievitch, como era seu costume, pediu-lhe que se sentasse, ouviu-a atentamente, sem a interromper, e, pormenorizadamente, explicou-lhe a quem se devia dirigir. Inclusive, escreveu um bilhete, rápido e desembaraçado, na sua bela letra nítida, grande e espaçada, a uma pessoa que a podia auxiliar. Quando se despediu da esposa do tenente, Oblonski pegou no chapéu e deteve-se, procurando verificar se esquecia alguma coisa. Esquecia, apenas, o que queria esquecer: a mulher.
«Ah, sim!», baixou a cabeça, e uma expressão triste lhe inundou a simpática fisionomia. «Vou ou não vou?», perguntou a si mesmo. Uma voz, no íntimo, dizia-lhe que não, que esse passo era falso, que e reconciliação era impossível: como tornar-se ela de novo atraente, capaz de despertar amor e converter-se ele num velho, incapaz de amar? Só falsidade e mentira resultaria dali, e a falsidade e a mentira repugnavam à sua natureza.
«No entanto, alguma vez terá de ser a primeira; isto não pode continuar assim», disse com os seus botões, procurando reanimar-se. Aprumou-se, tirou um cigarro, acendeu-o e, depois de soltar algumas baforadas, atirou-o para o cinzeiro de nácar. Em seguida, atravessando o salão a passos largos, abriu a porta do quarto de dormir.
CAPÍTULO IV
Daria Alexandrovna, de roupão e as tranças, outrora abundantes e sedosas, apanhadas na nuca, o rosto magro e abatido, que fazia ressaltar ainda mais os seus enormes olhos assustados, cercada de uma série de objectos, espalhados pelo quarto, encontrava-se diante de uma cômoda de cujas gavetas abertas ia retirando qualquer coisa. Ao ouvir os passos do marido, deteve-se e olhou para a porta, num grande esforço para demonstrar um ar de desprezo e severidade. Era evidente que receava tanto o marido como aquela entrevista. Naquele momento dispunha-se a fazer o que já tentara dez vezes em três dias: juntar as suas coisas e as das crianças e levar tudo para casa da mãe, sem nada dizer ao marido. Desta vez, ainda, como das anteriores, ia dizendo, intimamente, que a situação não podia continuar como estava, que devia fazer alguma coisa, que tinha de castigar e humilhar o marido, vingar-se dele, retribuindo-lhe, em parte que fosse, o sofrimento que ele lhe causava. Embora continuasse a dizer que abandonaria Oblonski, sentia-se ser-lhe isso impossível, pois não podia deixar de considerá-lo seu marido e a verdade é que ainda gostava dele. E depois, se em sua própria casa mal tinha tempo de cuidar dos cinco filhos, pior seria na casa de sua mãe. Com efeito, naqueles três dias, o benjamim adoecera por causa do caldo estragado, e os outros mal haviam ceado na véspera. Dolly estava certa de que não podia partir; no entanto, enganando-se a si mesma, pusera-se a juntar as suas coisas.
Ao ver o marido, meteu as mãos numa das gavetas da cômoda, como se procurasse qualquer coisa, e só se voltou quando ele já se encontrava a seu lado. No seu rosto, porém, que queria aparentar desprezo e severidade, apenas havia perturbação e sofrimento.
— Dolly! — exclamou Stepane Arkadievitch, em voz baixa e tranqüila. Encolheu-se, afundando a cabeça entre os ombros, afectando uma atitude submissa e dolorosa; no entanto, irradiava saúde e boa disposição. Num relance, Dolly percorreu dos pés à cabeça aquele corpo cheio de vigor, de vitalidade. «Sente-se feliz e satisfeito. E eu?», pensou.
«Como detesto esta odiosa bonomia que todos estimam e louvam.» Contraiu os lábios, e um músculo da face direita do seu pálido rosto nervoso tremeu ligeiramente.
— Que pretende? — perguntou, numa voz alterada e grave, que nem ela própria reconheceu.
— Dolly! — repetiu ele, em voz trêmula.— A Ana chega hoje.
— Que tenho eu com isso? Não posso recebê-la! — exclamou ela.
— Mas, Dolly, é preciso...
— Vá-se embora, vá-se, vá-se embora! — gritou Daria Alexandrovna, como se os gritos que soltava fossem provocados por uma dor física.
Stepane Arkadievitch conseguira estar tranqüilo enquanto pensara na mulher com a esperança de que tudo se «arrumaria», expressão de Matvei, e até pudera ler tranqüilamente o jornal e tomar o café. Mas agora, ao ver a fisionomia de Dolly, atormentada pelo sofrimento, ao ouvir-lhe o tom desesperado, resignado, sentiu que lhe faltavam as forças, que um nó lhe apertava a garganta, e os olhos encheram-se-lhe de lágrimas.
— Meu Deus, que fui eu fazer! Dolly! Pelo amor de Deus!... Se... É — não pôde prosseguir, afogado pelos soluços.
Daria Alexandrovna fechou bruscamente as gavetas da cômoda e fitou o marido.
— Dolly, que te posso dizer?... Só uma coisa: perdoa-me... Porventura nove anos de vida em comum não chegam para resgatar uns momentos, uns momentos...? Daria Alexandrovna, de olhos baixos, ouvia o que ele dizia, como que suplicando-lhe que a convencesse de qualquer maneira.
— ...uns momentos de arrebatamento... — pronunciou Stepane Arkadievitch, disposto a sair.
Mas, ao ouvir semelhante palavra, os lábios de Dolly voltaram a crispar-se, e de novo lhe tremeu o músculo da face direita, como que contraído por uma dor física.
— Vá-se embora, vá-se embora daqui! — gritou num tom de voz ainda mais lancinante. — E não me fale de seus arrebatamentos nem das suas canalhices. — Quis sair, mas cambaleou e teve de apoiar-se ao espaldar de uma cadeira. O rosto de Stepane Arkadievitch dilatou-se, intumesceram-se os lábios, os olhos encheram-se de lágrimas.
— Dolly! — disse, soluçando. — Pelo amor de Deus, pensa nas crianças; elas não têm culpa. Sou culpado, castiga-me, diz-me como redimir a minha culpa. Que posso fazer? Estou disposto a tudo. Sou culpado; não há palavras que exprimam até que ponto sou culpado! Mas Dolly, perdoa-me! Daria Alexandrovna sentou-se. Stepane Arkadievitch ouvia-lhe a respiração forte e pesada, e era indescritível a compaixão que ela lhe inspirava. Por várias vezes quis falar, mas não pôde. Stepane Arkadievitch esperava.
— Lembras-te dos meninos apenas quando te divertes com eles.
Eu, ao contrário, sei agora que estão perdidos — disse ela. Pelo visto, era uma das frases que estivera repetindo durante aqueles três dias.
Daria Alexandrovna dissera «tu», e Oblonski olhava-a agradecido, aproximando-se dela, para lhe pegar na mão; ela, porém, afastou-se com repulsa.
— Penso nas crianças e faria tudo para salvá-las; mas não sei como, se levando-as comigo ou deixando-as junto de um pai depravado sim, junto de um pai depravado... Diga-me: acha possível continuarmos a viver juntos depois... do que aconteceu? Acha possível? Diga-me: acha que pode ser? — repetia, erguendo a voz. — Depois de o meu marido, o pai dos meus filhos, ter tido uma aventura amorosa com a preceptora das crianças...? — Mas, que fazer agora? Que fazer? —exclamou Stepane Arkadievitch, com voz lastimosa, sem saber o que dizia, e baixando cada vez mais a cabeça.
— O senhor é repugnante, repulsivo! — gritou ela, cada vez mais irritada. — As lágrimas que chora são de crocodilo. Jamais gostou de mim, não tem coração nem sentimento! É um infame, um homem repugnante, um estranho, isso mesmo: um homem completamente estranho para mim.
Daria Alexandrovna pronunciou com expressão de dor e de ódio a palavra «estranho», que lhe parecia horrível.
Stepane Arkadievitch olhou para a mulher, assustado e surpreendido com a revolta que se reflectia no seu rosto. Não compreendia que a compaixão que lhe manifestava provocasse repulsa. Dolly via nele compaixão, mas não amor. «Odeia-me. Não me perdoará», pensou ele.
— É horrível, horrível! — exclamou.
Naquele momento, no quarto contíguo ouviu-se gritar uma das crianças, que naturalmente caíra. Daria Alexandrovna apurou o ouvido e instantaneamente suavizou-se a sua fisionomia. Permaneceu alguns segundos como que procurando lembrar-se onde estava e o que devia fazer. Depois, levantou-se rapidamente e aproximou-se da porta.
«Mas se ela gosta assim de meu filho, do meu filho, como pode odiar-me?», pensou Oblonski, ao observar a mudança de expressão que se operara no rosto da mulher.
— Dolly, só uma palavra — disse, seguindo-a.
— Se me seguir, chamarei os criados e os meninos. Quero que todos fiquem sabendo que o senhor é um canalha! Ir-me-ei embora hoje; o senhor, se quiser, pode continuar a viver aqui com a sua amante!
Daria Alexandrovna saiu, batendo a porta com violência. Stepane Arkadievitch suspirou e, enxugando o rosto, aproximou-se da porta em passos lentos. «Matvei diz que tudo se há-de arrumar, mas como? Não vejo jeito. Oh, oh, que horror! E que maneira tão reles de gritar!», dizia consigo mesmo, recordando-se das palavras «canalha» e «amante». Se calhar até as criadas ouviram. Foi tremendamente vulgar.» Permaneceu imóvel alguns instantes, enxugou os olhos, suspirou e, aprumando-se, saiu do quarto.
Era sexta-feira. O relojoeiro alemão dava corda ao relógio da sala de jantar. Stepane Arkadievitch recordou, sorrindo, a sua pilhéria a propósito daquele relojoeiro calvo, tão pontual; costumava dizer que «lhe tinham dado corda para toda a vida, a fim de que ele, por sua vez, a desse aos relógios». Oblonski apreciava muito os ditinhos chistosos. «Talvez se arrume! Essa palavra agrada-me: arrumar-se. Hei-de empregá-la», pensou.
— Matvei! — exclamou ele — Prepara os aposentos para Ana Arkadievna na saleta Mana que te ajude.
— Muito bem, meu senhor.
Stepane Arkadievitch enfiou a pelica e saiu para o alpendre.
— Não janta em casa? — perguntou-lhe Matvei, enquanto o acompanhava.
— Isso depende. Toma lá para as despesas, Achas que chega? — interrogou Oblonski, entregando-lhe dez rublos, que tirara da carteira.
— Chegue ou não chegue, terei de me remediar — replicou Matvei, fechando a portinhola da carruagem e voltando ao alpendre.
Entretanto Daria Alexandrovna, que consolara a criança e compreendera, pelo ruído da carruagem, que o marido saíra, voltou ao quarto de dormir. Era o único refúgio das preocupações domésticas que a assaltavam, mal chegava à porta No momento em que foi ao quarto dos pequenos, logo a inglesa e Matriona Filimonovna a assediaram com um sem número de perguntas urgentes, a que só ela podia responder «Que deviam vestir os meninos para irem passear? Deveriam beber leite? Seria preciso arranjar outro cozinheiro?» — Por amor de Deus, deixem-me, deixem-me! — exclamou Daria Alexandrovna, e voltando para o quarto, sentou-se no mesmo lugar onde permanecera durante o diálogo com o marido.
Contorcendo as mãos esquálidas, de cujos dedos ossudos se desprendiam os anéis, lembrou-se das palavras que tinham trocado.
«Foi-se. Mas como terá ele acabado com ela? Será possível que continuem a encontrar-se? Porque não lhe perguntei? Não, não podemos reconciliar nos? Ainda que continuássemos juntos sob o mesmo tecto, permaneceríamos estranhos um ao outro? Somos para sempre estranhos?», repetiu, repisando de maneira especial essa palavra que lhe ressoava horrorosa «E tu que tanto lhe quis ‘Como eu lhe queria’. E por ventura não continuo a querer ‘Não lhe quererei agora mais do que antes’.
E o mais terrível é que»
Matriona Filimonovna interrompeu o curso dos seus pensamentos
— Quer a senhora que eu mande vir o meu irmão! Ao menos preparará o jantar e os meninos não ficarão sem comer até às seis horas, como ontem.
— Está bem, vou dar as minhas ordens. Foram comprar leite fresco? E Daria Alexandrovna mergulhou nas preocupações quotidianas, afogando nelas, momentaneamente, os seus desgostos.
CAPÍTULO V
Graças aos seus dons naturais, Stepane Arkadievitch fizera bons estudos, mas, como era preguiçoso e travesso, saíra do colégio entre os últimos da sua classe. No entanto, apesar da vida dissipada que levara, da baixa classificação que obtivera e de ser ainda muito jovem, ocupava o lugar, bem remunerado, de presidente de um tribunal de Moscovo. Conseguira esse emprego graças ao marido de Ana, sua irmã, Alexei Alexandrovitch Karenine, que desempenhava um dos mais altos cargos do Ministério a que se subordinava o tribunal de que era funcionário. Mas se Karenine não lhe houvesse conseguido o cargo. Stiva Oblonski tê-lo-ia obtido, a esse ou a outro qualquer, com os seus mil rublos de remuneração — quantia de que precisava, dada a má situação dos seus bens pessoais e apesar da fortuna da mulher — graças a uma centena de protectores de que dispunha irmãos ou irmãs, tias ou segundos nós.
Metade da população de Moscovo e de Sampetersburgo era constituída por parentes ou amigos de Stepane Arkadievitch. Nascera entre pessoas que eram ou passaram a ser os poderosos deste mundo. Uma terça parte dos velhos funcionários fora das relações do pai e tinha-o conhecido de calções, a outra terça parte tratava o por tu e os restantes, sob a forma de empregos públicos, arrendamentos, concessões e coisas do mesmo estilo, seus amigos, não podiam deixar de mostrar interesse por ele. Eis, pois, como não fora difícil a Oblonski obter um bom lugar. A única coisa de que precisou foi de não contrariar ninguém, não ter inveja, não discutir nem ofender-se, atitudes de que a sua bondade mata sempre o afastara. Ter-lhe-ia parecido simplesmente ridículo dizerem-lhe que não lograria um lugar com a remuneração que lhe era indispensável, sobretudo por nada exigir de excepcional. De facto, apenas queria o que os seus amigos da mesma idade haviam conseguido, persuadido como estava de ser tão capaz quanto qualquer deles.
Todos gostavam de Stepane Arkadievitch, não só pelo seu feitio alegre e bondoso e pela sua indiscutível probidade, mas também devido à sua arrogante e bela presença, dos seus olhos brilhantes, das suas negras sobrancelhas, dos seus cabelos e do seu rosto branco e rubonzável, coisas que produziam impressão agradável naqueles que o conheciam. «Olá, Stiva! Oblonski! Ei-lo!», costumavam exclamar, ao saudá-lo, quase sempre sorrindo alegremente Ainda mesmo quando, depois de com ele conversarem, não sentiam nisso uma satisfação especial, no dia seguinte, ao voltarem a encontrá-lo, acolhiam no sempre com igual regozijo.
Depois de haver desempenhado durante três anos o cargo de presidente de um dos tribunais de Moscovo, Stepane Arkadievitch alcançara não só a amizade mas também a consideração dos colegas, dos subordinados, dos chefes e de todos os que com ele privavam. As principais qualidades de Stepane Arkadievitch, as que lhe haviam granjeado esse respeito, consistiam, em primeiro lugar, numa extrema condescendência para com todas as pessoas, condescendência essa alicerçada na consciência dos seus próprios defeitos, em segundo lugar, no seu espírito liberal, não propriamente do liberalismo que ele extraíra dos jornais, mas do que tinha no sangue e graças ao qual tratava todos no mesmo pé de igualdade sem atender a posições ou a hierarquias, e em terceiro lugar — a sua qualidade mais importante, — na perfeita indiferença que mostrava pelo cargo ocupado, o que fazia com que nunca se entusiasmasse e por isso mesmo sem que nunca praticasse erros.
Ao chegar à repartição, Stepane Arkadievitch, seguido a respeitável distância pelo contínuo que lhe levava a pasta, penetrou no seu gabinete para vestir o uniforme, e logo em seguida dirigiu se à sala de sessões. Todos os funcionários se levantaram, saudando o alegre e respeitosamente. Como de costume, Stepane Arkadievitch apertou a mão de cada um e encaminhou se, pressuroso, para o seu lugar. Conversou e pilherou um pouco, justamente o tempo que a cortesia mandava, e pôs se a trabalhar. Ninguém sabia melhor do que Stepane Arkadievitch encontrar os limites da liberdade, a simplicidade e a afabilidade necessários para que o trabalho se tornasse agradável. O secretário aproximou se de Oblonski com o expediente, jovial e respeitoso, como todos na sua presença, mantendo esse tom familiar que o próprio Oblonski introduzira nas suas funções.
— Finalmente conseguimos as informações da administração provincial de Panz. Aqui estão. Se me permite.
— Chegaram por fim! — exclamou Stepane Arkadievitch, pegando num dos papéis —Bem, meus senhores. E a sessão principiou.
«Se eles soubessem que não há meia hora ainda o presidente do tribunal se sentia culpado como um garoto», pensou Stepane Arkadievitch, enquanto escutava a exposição, de cabeça inclinada e grave expressão no rosto. Os olhos sorriam lhe, o ouvido atento. Teriam de trabalhar sem interrupção até às duas horas, altura em que haveria um intervalo para comer.
Ainda não eram duas horas quando, de repente, se abriram as portas de vidro da sala de audiência e alguém entrou. Os membros do tribunal, sentados debaixo do retrato do czar e os que se sentavam por detrás do símbolo da Justiça, voltaram se para a porta, contentes com a distracção, mas o oficial de justiça, à entrada, imediatamente obrigou a sair quem entrara, fechando a porta atrás de si.
Quando acabaram de ler o expediente, Stepane Arkadievitch pôs-se de pé, endireitou se e, rendendo tributo ao liberalismo da época, acendeu um cigarro mesmo na sala do tribunal, encaminhando se depois para o seu gabinete. Os seus dois colegas, o velho funcionário Nikitine e o jovem Grimevitch, saíram com ele.
— Teremos tempo de acabar depois do almoço — disse Stepane Arkadievitch.
— Com certeza! — corroborou Nikitine.
— Esse Fomine deve ser um autêntico maroto — observou Grimevitch, referindo se a um dos implicados na causa que examinavam.
Stepane Arkadievitch franziu o sobrolho ao ouvir as palavras de Grimevitch, dando a entender que não convinha emitir juízos antecipados, e nada lhe respondeu — Quem entrou na sala? — inquiriu do oficial de justiça.
— Um senhor que perguntava por V Exª e que se introduziu na sala sem licença, apanhando me desprevenido. Disse lhe que quando saíssem os membros do tribunal.
— Onde está ele?
— Naturalmente foi para a antecâmara, primeiro andou às voltas por aí. É aquele — acrescentou, apontando para um homem corpulento, espadaúdo, barba encaracolada, na cabeça um gorro de pele de carneiro, que naquele momento subia apressadamente os gastos degraus da escada de pedra. Um empregado magricela, que descia com uma pasta na mão, deteve se, olhou, como que censurando, as pernas do homem que subia as escadas e dirigiu a Oblonski um olhar interrogativo.
Stepane Arkadievitch encontrava se no alto da escadaria e o seu bondoso rosto resplandecente, emergindo da gola bordada do uniforme, ao reconhecer o recém chegado, iluminou se mais ainda.
— Então eras tu! Finalmente, Levine! — exclamou com um sorriso amistoso e trocista, olhando Levine, que se aproximava — Como te dignaste vir buscar me a este «covil»? Chegaste há muito? — perguntou.
E não contente com o aperto de mão do amigo, beijou-o.
— Acabo de chegar, estava morto por te ver — respondeu Levine, numa expressão tímida, ao mesmo tempo que olhava à sua volta, inquieto e medroso.
— Bom, vamos para o meu gabinete — disse Oblonski, que conhecia o amor próprio e a timidez irritável do amigo.
E, pegando-lhe pela mão, arrastou o consigo, como se o levasse pelo meio de grandes perigos.
Stepane Arkadievitch tratava por «tu» quase todos os conhecidos: anciãos de sessenta anos, rapazes de vinte, comerciantes, actores, ministros, ajudantes de campo do imperador, de maneira que muitas das pessoas a quem tuteava pertenciam a extremos opostos da escala social e muitos se surpreendiam ao descobrir, através de Oblonski, um traço comum entre si Tratava por tu todos os que bebiam champanhe, e bebia champanhe com todos E quando, na presença dos subordinados, se encontrava com alguns dos tus que envergonhavam, como costumava chamai a muitos deles, por brincadeira, conseguia também atenuar, com a sua habilidade inata, qualquer impressão desagradável que porventura isto lhes pudesse causar. Levine não pertencia ao número dos tus que envergonhavam, mas, com a sua acuidade, Oblonski percebeu que o amigo pensava que talvez ele, Oblonski, não desejasse mostrar a intimidade que existia entre eles na presença dos seus subordinados, razão por que se dera pressa em levá-lo para o seu gabinete.
Levine tinha quase a mesma idade que Oblonski, e não só por ter bebido champanhe com ele o tratava por tu. Fora seu companheiro e amigo de adolescência. Apesar da diferença de caracteres e de gostos, estimavam-se como amigos que conviveram desde a mocidade. Mas, como geralmente acontece entre pessoas que se dedicam a actividades diferentes, embora cada um deles apreciasse e aprovasse a profissão do outro, a verdade é que, no fundo da alma, a desprezavam. Afigurava-se, a cada um deles, que a sua própria vida era a verdadeira, enquanto a do outro não passava de ficção. Oblonski não podia reprimir um certo sorriso de troça quando via Levine. Inúmeras vezes o vira chegar assim a Moscovo, vindo da aldeia, onde se dedicava a qualquer coisa que Stepane Arkadievitch nunca soubera bem o que fosse e, para ser exacto, nem lhe interessava. Levine chegava a Moscovo sempre numa grande excitação, inquieto, um tanto inibido e irritado com a sua própria timidez, e a maior parte das vezes com um conceito novo e imprevisto sobre ai coisas. Stepane Arkadievitch troçava disso, mas ao mesmo tempo gostava. Assim mesmo, Levine, no seu íntimo, desprezava o gênero de vida citadina que o amigo levava e até mesmo o cargo que ele desempenhava, na sua opinião absurdo, rindo-se de tudo isso. A única diferença ê que Oblonski, ao fazer o que os outros faziam, gracejava com segurança e benevolência, ao passo que Levine o fazia pouco seguro e às vezes até irritado.
— Há muito que estávamos à tua espera — disse Stepane Arkadievitch, ao penetrar no gabinete e largando o braço do amigo, como que dando-lhe a entender que o perigo passara. — Estou muito contente em ver-te. Então como vai isso? Quando chegaste? — prosseguiu.
Levine calava-se, olhando as caras desconhecidas dos companheiros de Oblonski e sobretudo a mão do elegante Grimevitch, de longos dedos brancos e compridas unhas, pálidas e recurvas, bem como os enormes brilhantes das abotoaduras da sua camisa. Dir-se-ia que aquelas mãos o absorviam por completo, impedindo-o de pensar. Oblonski, observando isso, sorriu.
— Permitam que os apresente — disse. — Os meus amigos Filirx Ivanovitch Nikitine, Mikail Stanislavitch. — E dirigindo-se a Levine, acrescentou: — Constantino Dimitrievitch Levine, membro do zemstvo, homem original, ginasta, capaz de levantar cinco puds com uma só mão, fazendeiro, caçador, meu amigo e irmão de Sérgio Ivanovitch Kosnichev.
— Muito prazer — articulou o ancião.
— Temos a honra de conhecer seu irmão Sérgio Ivanovitch — disse Grimevitch, estendendo-lhe a delicada mão de grandes unhas.
— Escuta. Vamos almoçar no Guarine. Ali conversaremos. Estou livre até às três.
— Não. Ainda tenho de ir a outro lugar — replicou Levine, depois de pensar um pouco.
— Bem, então podemos jantar juntos.
— Jantar? Mas não se trata de nada importante. Quero apenas dizer-te duas palavras. Falaremos mais tarde à vontade.
— Pois diz-me agora essas duas palavras e conversaremos depois de jantar.
— Trata-se do seguinte... não é, aliás, nada de particular — disse Levine; e de súbito reflectiu-se no seu rosto uma viva irritação, provocada pelo esforço que fazia para vencer a timidez. — Que fazem os Tcherbatski? Continuam como dantes? — inquiriu.
Oblonski que soubera, tempos atrás, que Levine estava enamorado da sua cunhada, Kitty, sorriu imperceptivelmente e os olhos brilharam-lhe alegres.
— Disseste-me duas palavras, mas eu não posso responder-te com outras duas, porque... Desculpa-me por um momento...
Entrava nesse momento o secretário, com uns papéis; com a familiaridade respeitosa e com a discreta consciência que todos os secretários têm da superioridade sobre os chefes no conhecimento dos assuntos que lhes dizem respeito, aproximou-se de Oblonski para lhe explicar uma dificuldade como se fizesse uma pergunta. Stepane Arkadievitch, sem o ouvir até ao fim, pousou uma das mãos no braço do secretário, num gesto carinhoso.
— Seja como for, como eu lhe disse — articulou, suavizando a advertência com um sorriso. E após uma breve explicação acerca de como interpretar o caso, repeliu de si os papéis, acrescentando: — Faça assim, por favor, Zacarias Nikitine.
O secretário afastou-se, confuso. Levine, que durante aquela consulta, se refizera completamente da perturbação que o possuíra, apoiava-se com ambas as mãos às costas de uma cadeira e ouvia com uma atenção zombeteira.
— Não compreendo, não, não compreendo! — exclamou.
— Que é que tu não compreendes? — perguntou-lhe Oblonski, sorrindo também e puxando por um cigarro. Esperava de Levine uma saída extravagante.
— Não compreendo o que vocês fazem — replicou ele, encolhendo os ombros. — Como podes tomar estas coisas a sério?
— Por quê?
— Porque... porque aqui não há que fazer.
— É o que tu pensas; estamos cheios de trabalho.
— De papelada. Sim, realmente, sempre tiveste jeito para isso.
— Então, achas que para outras coisas não sirvo?
— Talvez. De qualquer modo, porém, admiro a tua importância e sinto-me orgulhoso de ter um amigo de tal categoria. Mas não respondeste à minha pergunta — acrescentou Levine, fitando-o nos olhos, num esforço desesperado.
— Bom, bom. Espera um pouco mais e verás como tu também hás-de lá chegar. Apesar dos teus três mil hectares de terra na província de Karazinski, desses músculos, dessa louçania de menina de onze anos, também acabarás por lá chegar, como nós. Quanto ao que perguntavas, não há novidade, mas é pena que tenhas estado tanto tempo sem aparecer.
— Por quê? — interrompeu Levine, assustado.
— Por nada. Depois falaremos. E afinal, para que vieste?
— Disso também falaremos depois — respondeu Levine, de novo corado até às orelhas.
— Sim, já percebi. Escuta: gostaria de te convidar para ires a nossa casa, mas minha mulher não está bem. Se queres ver os Tcherbatski, acho que devem ir hoje, das quatro às cinco, ao Jardim Zoológico. Kitty vai patinar. Passa por lá. Irei buscar-te para irmos jantar em qualquer parte.
— Perfeitamente. Até logo, então.
— Mas escuta. Bem te conheço, és muito capaz de te esqueceres ou de te ires embora para a aldeia — exclamou Stepane Arkadievitch, rindo.
— Não, não, irei sem falta.
E só depois de sair do gabinete, Levine se apercebeu de que não se despedira dos amigos de Oblonski.
— Parece ser muito enérgico — opinou Grimevitch, depois de Levine ter saído.
— Sim, meu velho. Nasceu com boa estrela! — observou Stepane Arkadievitch, abanando a cabeça. — Três mil hectares em Karazinski, uma vida inteira diante dele e aquele vigor! Tem mais sorte do que nós.
— O senhor de que se queixa, Stepane Arkadievitch?
— Tudo vai mal — disse este, com um profundo suspiro.
CAPÍTULO VI
Quando Oblonski perguntou a Levine que tinha ele vindo fazer a Moscovo, este enrubesceu, coisa que o indispôs consigo mesmo, pois não pudera responder-lhe, «para me declarar à tua cunhada», apesar de ter vindo exclusivamente para este fim. Os Levines e os Tcherbatski, antigas famílias nobres de Moscovo, sempre haviam mantido íntimas e cordiais relações. Essa amizade ainda mais se consolidara durante o tempo de estudante de Levine, que se preparara para dar entrada na Universidade e nela fora admitido ao mesmo tempo que o jovem príncipe Tcherbatski, irmão de Dolly e de Kitty. Naquela época, Levine costumava visitar muito amiúde os Tcherbatski e afeiçoara-se à casa. Por estranho que pareça, Constantino Levine apegara-se precisamente à casa, à família e em especial ao elemento feminino dos Tcherbatski. Não se lembrava da mãe e a única irmã que tinha era mais velha do que ele. Por isso mesmo fora em casa dos Tcherbatski que sentira pela primeira vez aquele ambiente de lar nobre, intelectual e distinto que não chegara a conhecer entre os seus por causa da prematura morte dos pais. Todos os membros daquela família, especialmente as mulheres, lhe apareciam como que envoltos num misterioso véu poético, e não só via neles defeito algum, como imaginava que por debaixo desse véu existissem os sentimentos mais elevados e todas as perfeições deste mundo. Levine não compreendia por que falavam aquelas senhoras hoje em francês e amanhã em inglês; por que, a horas determinadas, e por turnos, tocavam piano, cujos sons ele ouvia lá em cima no quarto do irmão, onde se reuniam para estudar; para que serviam aqueles professores de literatura francesa, de desenho, de música, de dança; por que iam as três irmãs a horas certas de carruagem, acompanhadas por Mademoiselle Linon, à Avenida de Tverskoi, embrulhadas nas suas pelicas — a de Dolly, comprida; a de Natália, três quartos, e a de Kitty, muito curta, de tal sorte que lhe deixava completamente descobertas as pernas com as suas meias vermelhas — e para que haviam de passear pela Avenida Tverskoi, ainda por cima acompanhadas de um lacaio com um distintivo dourado no chapéu. Tão-pouco compreendeu muitas outras coisas que sucediam naquele mundo misterioso, embora soubesse que tudo ali era magnífico e fosse precisamente essa atmosfera de mistério que o cativava.
Durante os tempos de estudante estivera a ponto de apaixonar-se pela irmã mais velha, Dolly, mas daí a tempo casavam-na com Oblonski. Depois começou a sentir-se atraído pela segunda, como se precisasse de estar sempre enamorado de uma das irmãs, sem poder dizer de qual delas gostava na verdade. Também Natália se casou, na ocasião em que foi apresentada à sociedade, com o diplomata Lvov. Kitty ainda era muito criança quando Levine saiu da Universidade. O jovem Tcherbatski, que ingressara na marinha de guerra, morrera no mar Báltico, e as relações dele com a família, por esse facto, tornaram-se menos freqüentes, apesar da sua amizade com Oblonski. Porém, quando no princípio do Inverno daquele ano chegou a Moscovo, depois de um ano de isolamento na aldeia, compreendeu de qual das irmãs estava predestinado a gostar deveras. Aparentemente, nada mais simples do que pedir a mão da princesa Tcherbatskaia, uma vez que Levine era homem de boa família, mais rico do que pobre, e com trinta e dois anos de idade Era de crer que vissem logo nele um bom partido Mas Levine estava apaixonado e por isso Kitty lhe parecia uma criatura tão perfeita em todos os sentidos, tão para além das coisas terrenas, quando ele, pelo contrário, era um ser tão baixo e mundano, que não podia pensar sequer que ela e os outros o considerassem digno de aspirar à sua mão.
Havia dois meses que estava em Moscovo, como num sonho, encontrando se quase todos os dias com Kitty nas reuniões mundanas a que assistia para vê-la, quando decidiu, repentinamente, que não teria êxito, e voltou para a aldeia.
Julgava essa aspiração impossível, certo de que, aos olhos dos pais de Kitty, não era nem um bom partido nem a pessoa indicada para tão maravilhosa criatura Demais, convenceu se de que ela não podia amá-lo Aos olhos dos pais de Kitty, Levine não tinha nem profissão determinada nem posição social Enquanto os seus camaradas de estudo já eram, um coronel e ajudante de campo, outro catedrático, director de um banco e de uma companhia de caminhos de ferro um terceiro, e o último presidente de um tribunal, isto é, o próprio Oblonski, ele, pelo contrário (sabia perfeitamente o efeito que isso produzia nas outras pessoas), era simplesmente proprietário rural, dedicava se à criação de gado, à caça às perdizes e à construção Quer dizer era um homem sem aptidões, que não chegara a ser coisa alguma, e que na opinião geral, fazia apenas o que fazem os que não servem para mais nada.
A misteriosa e encantadora Kitty não podia gostar de um homem tão feio como ele, que Levine assim se considerava, e sobretudo de um homem tão simples, que não sobressaía em coisa alguma Por outro lado, as suas anteriores relações com ela — as relações de um homem com uma garota —, graças à amizade que mantivera com o irmão, apareciam lhe como mais um obstáculo a esse amor Imaginava que se podia querer como amigo a um homem bom, como se considerada, embora feio, mas que seria preciso ser belo e sobretudo excepcional para despertar amor igual ao que ele sentia por Kitty.
Ouvira dizer que as mulheres muitas vezes se enamoravam de homens vulgares, mas não acreditava nisso, pois julgava os demais por si, e ele só se sentia capaz de amar uma mulher bonita, misteriosa e original.
No entanto, após dois meses sozinho na aldeia, convencera se de que o sentimento que dele se apossara nada tinha a ver com os amores que conhecera na adolescência, uma vez que lhe era impossível sossegar e viver na ignorância de Kitty vir a ser ou não sua mulher Também se persuadira de que a família nenhuma razão tinha para o repelir Partiu, pois, para Moscovo, no intuito de fazer o seu pedido e de se casar, na hipótese de um bom acolhimento Caso contrário não podia imaginar quais as conseqüências de uma resposta negativa.
CAPÍTULO VII
Levine chegou a Moscovo no comboio da manhã e hospedou se em casa do irmão mais velho, Kosnichev Assim que mudou de roupa, entrou no gabinete do irmão disposto a expor lhe os motivos da sua viagem e a pedir lhe conselho Kosnichev, porém, não estava só Recebia, na ocasião, um professor de filosofia que viera de Karkov na intenção de esclarecer uma questão grave que entre ele surgira acerca de um muito importante problema de filosofia O professor sustentava uma luta encarniçada com os materialistas e Sérgio Kosnichev, que a acompanhava interessado, escrevera lhe expondo os próprios pontos de vista depois de ler o seu último artigo increpava-o por fazer demasiadas concessões ao maternalismo. O professor apresentara se imediatamente em Moscovo para discutir o assunto. Tratava se de uma questão actual. Existe um limite entre os fenômenos psíquicos e os fenômenos fisiológicos? Se existe, onde está?
Sérgio Ivanovitch acolheu o irmão com o sorriso afectuoso e frio com que costumava acolher a todos, e, depois de o apresentar ao professor, prosseguiu com este a conversa interrompida.
O professor, um homenzinho de óculos, de testa estreita, calara se por momentos para cumprimentar Levine, continuando em seguida o seu discurso sem lhe prestar a mínima atenção Levine sentou se, à espera de que o professor se fosse, mas não tardou a interessar se também pela discussão.
Já havia encontrado nas revistas artigos em que se falava do assunto em discussão, interessado que estava em ampliar os seus conhecimentos das ciências sociais Estudara ciências naturais, mas nunca estabelecera relação entre as conclusões da ciência sobre as origens do homem, os reflexos, a biologia, a sociedade e as questões que ultimamente o preocupavam cada vez mais, isto é, o sentido da vida e o significado da morte.
Ao ouvir a discussão de Sérgio Ivanovitch com o professor, reparou que eles relacionavam os problemas científicos com os que diziam respeito à alma Várias vezes abordaram tais questões, mas, ao chegarem ao ponto mais importante, na opinião de Levine, desviavam se imediatamente e voltavam a aprofundar, no domínio das subtis subdivisões, as críticas, as citações, as alusões, as referências às opiniões autorizadas, ficando ele sem perceber coisa alguma.
— Não posso concordar com Keiss — dizia Sérgio Ivanovitch com a sua peculiar clareza, o seu rigor de expressão e elegante dicção — em que o conceito que tenho do mundo exterior deriva das sensações A ideia fundamental do ser não a recebo através das sensações, pois não existe órgão nenhum especial para a sua transmissão.
— Sim, mas Wurts, Knauts e Pripasov responder-lhe ao que a consciência que o senhor tem do ser deriva do conjunto de todas as sensações. Wurts afirma mesmo que sem a sensação, a consciência do ser não existe.
— Eu afirmo o contrário — principiou Sérgio Ivanovitch.
Neste momento, porém, Levine, pensando que eles se iam afastar do ponto capital uma vez mais, resolveu formular ao professor a seguinte pergunta: — Por conseguinte, quando os meus sentidos se aniquilam e o meu corpo morre, não há mais existência possível? O professor, despeitado e como que chocado por aquela interrupção, fitou o estranho interrogador, que mais parecia um rústico do que um filósofo, desviando em seguida os olhos para Sérgio Ivanovitch, como a perguntar-lhe: «Valerá esta pergunta uma resposta?» Sérgio Ivanovitch, no entanto, que estava longe de falar com a intransigência e a persuasão com que falava o professor, e cujas ideias eram suficientemente desenvolvidas para poder responder a esta pergunta e compreender o ponto de vista simplista e natural com que ela fora feita, sorriu, dizendo:
— Ainda não podemos responder a essa pergunta...
— Não temos dados — afirmou o professor, e prosseguiu com os seus argumentos. — Não. Observo que, se, como afirma Pripasov, as sensações se fundam nas impressões, devemos distinguir, de maneira rigorosa, estes dois conceitos.
Levine deixou de estar à escuta, e esperou que o professor se retirasse.
CAPÍTULO VIII
Quando o professor saiu, Sérgio Ivanovitch dirigiu-se ao irmão: — Gostei muito de ter ver. Vais demorar-te? Que tal a herdade? Levine sabia que ao irmão não interessavam as terras e que por mera condescendência se informava da herdade, por isso limitou-se a falar-lhe na venda do trigo e no dinheiro.
Teria querido falar-lhe na intenção que tinha de contrair casamento e pedir-lhe conselho, decidido como estava a casar-se, mas quando viu Sérgio Ivanovitch e ouviu a sua conversa com o professor, quando atentou no tom involuntariamente protector com que ele se lhe dirigia a propósito da administração da propriedade (não tinham feito partilhas das terras herdadas da mãe e Levine era quem as administrava), percebeu que não podia falar com o irmão acerca dos seus projectos, pois ele não os tomaria em consideração como desejaria Levine.
— E que tal o vosso zemstvo? — perguntou Sérgio Ivanovitch, que mostrava grande interesse por esse organismo, atribuindo-lhe muita importância.
— Se queres que te diga, não sei...
— Como?... Pois não eras membro da administração?
— Não, já não sou; pedi a demissão, já deixei de assistir às reuniões — replicou Levine.
— É pena! — lamentou Sérgio Ivanovitch, de sobrecenho carregado. Para se justificar, Levine contou-lhe o que costumava suceder nas reuniões de seu distrito.
— É sempre a mesma coisa! — interrompeu Sérgio Ivanovitch. — Somos sempre assim, nós, russos! Talvez seja um bom traço do nosso temperamento sermos capazes de reconhecer os nossos defeitos. Mas exageramos, consolando-nos com a ironia que sempre temos na ponta da língua. Apenas te direi que se concedessem direitos como os que concedem as nossas instituições do zemstvo a qualquer outro povo europeu, por exemplo, aos Alemães ou aos Ingleses, acabariam por obter a liberdade por meio deles. Nós, pelo contrário, apenas sabemos zombar dessas coisas.
— Que havemos de fazer? — disse Levine, como que a desculpar- se. — Foi a minha última prova. Dediquei-me a ela com toda a minha alma, mas não posso, não sou capaz.
— Não é que não sejas capaz, encaras mal o assunto — replicou Sérgio Ivanovitch.
— Talvez — respondeu Levine, desanimado.
— Sabes que o nosso irmão Nicolau está aqui outra vez?
Nicolau, o irmão mais velho de Constantino Levine e gêmeo de Sérgio Ivanovitch, era um homem perdido. Dissipara grande parte da fortuna, tinha relações com pessoas extravagantes e de má reputação e não falava com os irmãos.
— Que dizes? — exclamou Levine, horrorizado. — Como soubeste?
— Prokofi viu-o na rua.
— Aqui em Moscovo? Onde mora? Sabes?
Levine levantou-se, como que disposto a sair imediatamente.
— Lamento ter-te dito — replicou Sérgio Ivanovitch, abanando a cabeça perante a agitação do irmão. — Mandei averiguar onde vive e remeti-lhe a letra de Trubine, que eu paguei. Eis o que ele me respondeu.
— Sérgio Ivanovitch estendeu ao irmão um papel que estava em cima da mesa, debaixo de um pesa-papéis. Levine leu o bilhete, escrito com uma letra esquisita, que lhe era familiar:
Peco-lhes encarecidamente que me deixem em paz. É a única coisa que exijo dos meus amáveis irmãos.
NICOLAU LEVINE
Depois de ler o bilhete, Levine permaneceu diante do irmão com o papel entre os dedos, sem levantar a cabeça. Na sua alma debatia-se o desejo de esquecer o irmão infeliz e a consciência de que tal atitude não era correcta — Pelo visto, pretende ofender me — prosseguiu Sérgio Ivanovitch —, mas não o consegue Desejaria ajudá-lo com toda a minha alma, sei, porém, que é impossível — Sim, sim — replicou Levine —Compreendo-te e aprecio o teu procedimento para com ele Mas eu irei procurá-lo — Pois vai, se queres, embora não te aconselhe a fazê-lo Não receio pelo que me diz respeito, não poderá indispor se comigo Mas não o aconselho por ti Enfim, faz o que entenderes — Talvez seja impossível ajudá-lo, mas sinto, principalmente neste momento (claro que se trata de outra coisa) que não possa ficar de braços cruzados — A verdade é que não o compreendo — disse Sérgio Ivanovitch — A única coisa que compreendo é essa lição de humildade Principiei a considerar de outra maneira, com mais indulgência, aquilo a que se costuma chamar infâmia, desde que o nosso irmão Nicolau tomou este caminho Bem sabes o que ele fez
— É horrível! É horrível! — repetiu Levine.
Quando o criado de Sérgio Ivanovitch lhe deu o endereço de Nicolau, Levine estava disposto a procurá-lo imediatamente, mas, depois de reflectir alguns instantes, decidiu adiar para a noite essa visita Antes de mais nada, para tranqüilidade de espírito, queria resolver o assunto que o trouxera a Moscovo De casa de Kosnichev dirigiu-se à repartição de Stepane Arkadievitch e depois de se informar acerca dos Tchebatski, encaminhou se para o local onde aquele lhe dissera que podia encontrar Kitty.
CAPÍTULO IX
Às quatro da tarde, Levine, com o coração a latejar, apeou se de um carro de praça à porta do Jardim Zoológico e dirigiu-se por uma das áleas que levavam à pista de patinagem, certo de ali encontrar Kitty, pois vira a carruagem dos Tcherbatski à entrada do parque.
Era um dia claro e frio Junto à porta havia filas de carruagens e de trenós, de cocheiros e de polícias O público, bem vestido, com seus chapéus que resplandeciam ao sol brilhante, agitava-se junto aos portões e pelas alamedas limpas de neve, no meio das casinhas de estilo russo com os seus adornos esculpidos As velhas e frondosas bétulas do jardim, cujos ramos pendiam sob a neve, pareciam engalanadas de vestes novas e solenes Levine caminhava pela álea de patinagem dizendo de si para consigo. «Não devo emocionar-me, preciso de estar sereno. Que é isso? Cala-te, tonto!», acrescentava, dirigindo-se ao seu próprio coração E quanto mais se esforçava por tranqüilizar-se, tanto mais emocionado se sentia Alguém o cumprimentou, mas Levine nem sequer o reconheceu. Aproximou se dos relevos do gelo, de onde os trenós se precipitavam, para voltarem a subir tirados por correntes, num grande ruído de ferros. No meio de todo aquele tumulto ouviam-se vozes alegres Andou mais uns passos, até encontrar a pista, e imediatamente no meio dos patinadores reconheceu Kitty.
A alegria e o temor que de repente lhe inundaram o coração revelaram-lhe imediatamente a presença dela. De facto, Kitty, no extremo oposto da pista de patinagem, falava com uma senhora.
Nada a distinguia das pessoas que a rodeavam, quer na atitude, quer no traje Levine, no entanto, logo a reconheceu no meio da multidão tão distintamente como reconheceria uma rosa num ramo de urtigas. Parecia tudo iluminar, dir-se-ia um sorriso que tudo fizesse refulgir à sua volta. «Ousarei, realmente, descer até à pista e aproximar me dela?», pensou Levine. O lugar onde estava Kitty parecia-lhe um santuário inacessível e por momentos sentiu tanto medo que pensou em fugir. Teve de fazer um grande esforço para se convencer de que Kitty, rodeada como estava por toda a espécie de gente, não podia achar estranho que também ele ali aparecesse. Desceu até à pista, evitando olhá-la de frente, como se ela fosse o Sol, mas, sol que era, também não precisava de olhar para vê-la.
Era o dia e a hora em que todas as pessoas do mesmo nível social se encontravam semanalmente ali na patinagem. Havia excelentes patinadores, que exibiam as suas habilidades, e aprendizes que ensaiavam, atrás dos pequenos trenós, os seus primeiros passos tímidos e vacilantes. Jovens e velhos, todos se entregavam, por questão de higiene, ao mesmo exercício. Afigurava-se a Levine que todos eles eram seres eleitos dos deuses, só pelo facto de se encontrarem junto dela Perseguiam na, ultrapassavam na, interpelavam-na numa completa indiferença, divertindo se independentemente dela e como se a única coisa que lhes importasse fosse a excelente pista e o tempo óptimo. Nicolau Tcherbatski, o primo de Kitty, de casaco curto, calça justa, e de patins, descansava num banco Ao ver Levine, gritou-lhe.
— Olá, primeiro patinador da Rússia! Quando chegaste? O gelo está óptimo. Calça os patins.
— Não os trouxe — replicou Levine, surpreendido com semelhante audácia e desenvoltura diante de Kitty, sem a perder de vista um só instante, embora não olhasse para ela Sentia que o sol se ia aproximando Kitty, que estava num dos extremos da pista, principiara a deslizar na sua direcção, assustada, ao que parecia, colocando os pèzinhos, calçados com botas altas, em posição não muito firme sobre a superfície do gelo. Um rapazinho, vestido à maneira russa, gesticulando muito e todo inclinado para diante, procurava ultrapassá-la Kitty patinava com pouca segurança.
Tirara as mãos do regalo pendente do pescoço, como se se preparasse para cair, e olhando para Levine, que acabava de descobrir, sorria assustada. Ao findar a volta, com um impulso do pèzinho flexível, deslizou até junto de Tcherbatski, e, agarrando-se a ele, sorrindo, cumprimentou Levine com um aceno de cabeça. Ainda era mais encantadora do que ele imaginara. Quando pensava em Kitty, Levine podia contemplá-la, de repente, toda inteira, e sobretudo àquela sua encantadora cabecinha loura, tão graciosamente pousada nos jovens e esbeltos ombros, com aquele seu ar de menina, cheia de candura e bondade. O contraste entre a graça juvenil do rosto e a beleza feminina do busto davam lhe um encanto todo especial, que Levine muito apreciava. Mas o que sempre o assombrava nela eram os olhos, tímidos, serenos e sinceros, e aquele sorriso que o transportava a um mundo de magia, em que se sentia enternecido e dulcificado como só raras vezes se lembrava de se ter sentido na primeira infância.
— Já esta aqui há muito tempo? — perguntou Kitty, estendendo-lhe a mão — Obrigada — acrescentou, quando Levine apanhou o lencinho que lhe caíra do regaço.
— Quê? Não, há pouco. Cheguei ontem, quer dizer hoje — respondeu ele, que não percebera logo a pergunta, em virtude da emoção que o assaltava — Pensava em ir a sua casa — prosseguiu, mas, ao lembrar se do motivo por que procurara Kitty, perturbou se, enrubescendo — Não sabia que patinava Patina admiravelmente.
Kitty fixou Levine com atenção, como se desejasse compreender o motivo do seu embaraço.
— O seu elogio é estimulante. É tradicional, aqui, a sua fama de ser o melhor patinador — observou ela, enquanto com a mãozinha enluvada de preto sacudia as agulhas de gelo do regalo.
— Sim, houve tempo em que patinar me apaixonava. Queria chegar à perfeição.
— Parece que se apaixonava por tudo — observou Kitty, sorrindo — Gostaria muito de vê-lo patinar. Calce os patins e vamos patinar juntos.
«Patinar juntos! Seria possível?», pensava Levine com olhos cravados em Kitty.
— É já — e foi calçar os patins
— Há muito tempo que não aparecia por aqui — observou o em pregado da pista de patinagem, enquanto lhe segurava o pé para firmar o patim — Ninguém patina como o senhor. Está bem assim? — perguntou lhe, apertando a correia.
— Esta bem, esta bem, depressa, por favor — respondeu lhe Levine, reprimindo a custo o sorriso de felicidade que, a pesar seu, lhe transparecia no semblante — «Isto é vida? Isto é a felicidade?», pensava «Disse pintos, vamos patinar juntos. Digo lhe agora? Mas agora, justamente porque me sinto feliz, é que receio dizer lho, feliz como estou, cheio de esperança. Mas é preciso. É preciso! Abaixo a timidez!»
Levine pôs se de pé, despiu o capote e, tomando impulso por cima do gelo crespo, logo ali junto ao pavilhão surgiu na superfície lisa da pista, deslizando sem esforço, como se acelerar, retardar ou dirigir a carreira, tudo dependesse da sua vontade. Aproximou se de Kitty com timidez, mas o sorriso desta tranqüilizou o de novo.
Kitty deu lhe a mão e deslizaram juntos, acelerando a marcha. Quanto mais depressa iam mais ele lhe apertava a mão.
— Consigo aprenderia a patinar mais depressa, não sei por quê, mas sinto me segura na sua companhia — disse lhe ela.
— Eu também me sinto seguro quando se apóia em mim — replicou Levine, corando, assustado com a própria ousadia. E, efectivamente, mal pronunciou estas palavras, de repente, como se o Sol se escondesse atrás das nuvens, o rosto de Kitty anuviou se e uma ruga se lhe desenhou na testa Levine sabia que esta alteração no rosto de Kitty correspondia a uma concentração do pensamento.
— Que tem? Está claro que não tenho o direito de fazer lhe esta pergunta — disse ele, precipitadamente.
— Por quê? Não, não tenho nada. — respondeu Kitty, com uma expressão fria, acrescentando — Já viu Mademoiselle Linon? — Não, ainda não.
— Pois vá lhe falar, aprecia o muito.
«Que é isto? Ofendê-la ia? Meu Deus, ajuda me!», suspirou Levine, e dirigiu se, veloz, para o banco onde estava a velha francesa, toda caracóis grisalhos, que o acolheu como a um velho amigo, mostrando lhe, ao sorrir, a dentadura postiça.
— Estamos crescendo — observou ela, enquanto mostrava Kitty com os olhos — e envelhecendo Tiny bear já é maior — continuou ela, rindo, recordando lhe que costumava chamar, às três irmãs, os três ursinhos, os ursinhos de um conto inglês — Lembra se de que costumava chamá-las assim? Levine nem de longe se recordava do gracejo, mas a velha preceptora havia dez anos que lhe achava muita graça.
— Bom, vá, vá patinar, não fique aqui Não acha que a nossa Kitty já patina muito bem?
Quando Levine voltou, correndo, para junto de Kitty, no rosto dela já não havia severidade, e os seus olhos olhavam sinceros e suaves como antes. Todavia, Levine julgou notar lhe na afabilidade um tom especial de serenidade premeditada. E sentiu se triste. Depois de conversar com ele acerca da velha preceptora e das suas excentricidades, Kitty interrogou o sobre a sua vida.
— Será possível que não se aborreça durante o Inverno na aldeia?
— Não, não me aborreço, estou sempre muito ocupado — respondeu Levine, sentindo que ia acontecer o mesmo que no princípio do Inverno, pois ela, usando aquele seu tom tranqüilo, obrigava-o a manter-se no mesmo diapasão, do qual Levine não seria capaz de livrar-se.
— Pensa ficar muito tempo em Moscovo? — perguntou Kitty.
— Ainda não sei — disse Levine, sem prestar atenção ao que dizia. Pensava que se se tornasse a deixar dominar por aquele seu modo sereno, amistoso, voltaria para, a aldeia sem nada decidir, e resolveu rebelar-se.
— Como não sabe?
— Pois não sei. Depende de si — disse, logo assustado com as palavras que pronunciara.
Kitty ou não ouviu ou não quis ouvir essas palavras. Fosse como fosse, pareceu tropeçar, bateu duas vezes com o pèzinho no chão e afastou-se, rápida. Ao chegar junto de Mademoiselle Linon disse-lhe qualquer coisa e dirigiu-se ao pavilhão onde as senhoras calçavam e descalçavam os patins.
«Meu Deus, que lhe fiz eu? Meu Deus, ajuda-me, ilumina-me!», dizia consigo mesmo Levine, como que rezando; e como se, ao mesmo tempo, sentisse necessidade de um exercício violento, pôs-se a deslizar sobre os patins, descrevendo círculos atrás de círculos.
Entretanto um dos jovens, o melhor patinador de entre os novos, saiu do café, de cigarro na boca e os patins calçados. Ganhando impulso, desceu ruidosamente a escada, saltando degrau a degrau, prosseguindo, depois, sobre o gelo, sem mudar sequer a posição livre das mãos.
— Ah, um novo truque! — exclamou Levine, e imediatamente galgou os degraus, disposto a fazer o mesmo.
— Cuidado, veja lá se se magoa. É preciso prática — gritou-lhe Nicolau Tcherbatski.
Levine trepou até ao patamar, afastou-se para ganhar o maior
impulso possível e deixou-se deslizar, mantendo o equilíbrio com a ajuda das mãos. No último degrau tropeçou, mas, roçando apenas de leve a superfície do gelo, fez um movimento rápido, ergueu-se e, soltando uma gargalhada, precipitou-se na pista.
«Que rapaz agradável», pensou Kitty, que naquele momento saía do pavilhão com Mademoiselle Linon, seguindo Levine com os olhos e sorrindo, doce e carinhosamente, como se se tratasse de um irmão querido. «Teria eu procedido realmente mal? Dizem que isto é coqueteríe! Sei que não é dele que eu gosto, mas nem por isso deixo de me sentir bem na sua companhia. É tão simpático... Mas por que me teria ele dito aquilo?...», pensava ela.
Ao ver que Kitty se retirava, e que a mãe a aguardava na escada, Levine, muito afogueado por causa do exercício violento que fizera, deteve-se, pensativo. E desembaraçando-se dos patins foi no encalço das senhoras até ao portão do parque.
— Muito prazer em vê-lo. Recebemos todas as quintas-feiras, como sempre — disse a princesa.
— Hoje, por conseguinte?
— Dar-nos-á muito prazer a sua presença — replicou a princesa secamente.
Esta frieza não agradou a Kitty, que, sem poder reprimir o desejo de suavizá-la, se voltou para trás e num sorriso disse: — Até logo.
Naquele momento, Stepane Arkadievitch, de chapéu à banda, rosto e olhos resplandecentes, entrava no parque com um ar alegre e triunfante. Ao aproximar-se, porém, da sogra, respondeu, com uma expressão triste e contrita, à pergunta que esta lhe fazia sobre a saúde de Dolly. Depois de ter falado com ela em voz baixa e desanimado, travou Levine pelo braço.
— Então, vamo-nos embora? — exclamou. — Tenho pensado em ti todo este tempo, e estou muito contente, muito, que tenhas vindo — acrescentou, olhando-o nos olhos com uma expressão significativa.
— Sim, vamo-nos, vamo-nos — tornou-lhe Levine, sentindo-se feliz, no ouvido o cristal da voz que lhe dissera «até logo» e nos olhos o sorriso que a acompanhara.
— Aonde vamos? Ao Hotel de Inglaterra ou ao Ermitage?
— Para mim dá no mesmo.
— Então vamos ao de Inglaterra — disse Stepane Arkadievitch, escolhendo esse restaurante, porque, como era maior ali a sua dívida do que no Ermitage, lhe parecia pouco decente evitá-lo. — Tens carro à tua espera? Óptimo. Mandei o meu embora.
Durante o trajecto os dois amigos conservaram-se calados. Levine pensava no que poderia significar aquela mudança de expressão no rosto de Kitty, ora cheio de esperança, ora desesperado e convencido de que eram insensatas as suas ilusões. No entanto, sentia-se outro, em nada se parecia com o homem que fora antes do sorriso de Kitty e do seu «até logo».
Por sua vez, Stepane Arkadievitch ia preparando a ementa do jantar.
— Gostas de robalo? — perguntou a Levine ao chegarem.
— Que dizes? — inquiriu por sua vez Levine. — De robalo? Gosto muitíssimo.
CAPÍTULO X
Quando entraram no restaurante, Levine não pôde deixar de observar em Oblonski uma expressão especial, como que uma alegria contida, que se notava tanto no rosto como em todo o seu ser. Stepane Arkadievitch tirou o sobretudo e de chapéu à banda penetrou na sala de jantar, dando ordens aos solícitos criados que o rodeavam todos de fraque e guardanapo debaixo do braço. Cumprimentando para a direita e para. a esquerda os amigos que o acolhiam cheios de simpatia, como de costume, Oblonski aproximou-se do balcão, onde bebeu um copo de vodka enquanto petiscava uns mariscos. Disse qualquer coisa à empregada francesa — toda pintada e enfeitada de fitas e rendas — que a fez rir a bom rir. Pelo seu lado, Levine não quis beber vodka, precisamente porque o incomodava aquela francesa, para ele uma mistura de cabelos postiços, de poudre de riz e vinaigre de toilette. Como se se tivesse aproximado de um lugar pestilento, afastou-se dali precipitadamente. A sua alma transbordava de Kitty e diante de si só via os olhos dela irradiando ventura.
— Por aqui, se faz favor, Excelência — disse um criado velho cujos enormes quadris não lhe deixavam ajustar as abas do fraque. — Faça favor, Excelência — continuou, dirigindo-se também a Levine, em sinal de respeito por Oblonski.
Estendeu rapidamente uma toalha limpa numa mesinha redonda, já entoalhada, sobre a qual havia um candeeiro de bronze. E depois de aproximar da mesa as cadeiras forradas de veludo, quedou-se, o guardanapo numa das mãos, a lista na outra, aguardando as ordens de Stepane Arkadievitch.
— Se Sua Excelência prefere um gabinete reservado, terá um livre dentro de instantes. O príncipe Galitzine está ali com uma senhora, mas já vai sair. Temos ostras frescas.
— Ah! Ostras!
Stepane Arkadievitch ficou pensativo.
— Que achas? E se alterássemos o plano, Levine? — disse, apontando com o dedo a ementa. No seu rosto havia uma grande indecisão. — São boas as ostras? Hem? — São de Flensburgo. Hoje, de Ostende, não há.
— Tanto faz que sejam de Flensburgo. Mas, estão frescas?
— Recebemo-las ontem.
— Então principiamos pelas ostras e alteremos todo o plano. Hem?
— Para mim é a mesma coisa. Do que eu gosto é dos stchi e da kacha; mas aqui não há disso.
— Deseja Vossa Excelência kacha à la russe? — perguntou o criado, inclinando-se para Levine, como uma aia se debruça para uma criança.
— Não, realmente o que tu pedires estará bem. Patinei muito e tenho fome. E não penses — acrescentou, ao ver que Oblonski parecia descontente — que não vou apreciar a tua escolha. Comerei com muito prazer.
— Era o que faltava! Podes dizer o que quiseres, mas comer é um dos prazeres maiores da vida — exclamou Stepane Arkadievitch. — Bom, pois vais trazer-nos ostras, duas... Serão poucas: três dúzias. Sopa de verdura...
— Printanière — adiantou-se o criado. Mas, ao que parecia, Stepane Arkadievitch não desejava dar-lhe o prazer de dar nomes franceses aos pratos.
— De legumes, sabes? A seguir robalo com um molho e depois... rosbife, bem passado, hem! E por fim frango e conservas.
O criado, ao lembrar-se que Stepane Arkadievitch tinha a mania de dar aos pratos nomes russos, não ousou interrompê-lo mais. Uma vez escolhido o jantar, porém, deu-se ao prazer de repetir, malicioso, toda a ementa à francesa: «Soupe printanière, turbot sauce Beumarchais, poulard à l’estragon, macédoine de fruits.» E acto contínuo, como que movido por uma mola, retirou a ementa e apresentou a lista dos vinhos a Stepane Arkadievicth.
— Que vamos beber?
— O que quiseres, mas não muito. Champanhe — disse Levine.
— Quê? Para começar? É, talvez tenhas razão. Gostas do rótulo branco?
— Cachet Blanc — corrigiu o criado.
— Bom, traz desse para as ostras. Depois veremos.
— Muito bem. E que vinho de mesa deseja, Excelência?
— Traz-nos Nuits. Não, antes o clássico Chabits.
— Muito bem. E posso servir-lhe o seu queijo, Excelência?
— Sim, parmesão. Ou preferes outro?
— Tanto faz — respondeu Levine, sem poder conter o riso.
O criado afastou-se correndo, com as abas do fraque apertadas atrás, e daí a cinco minutos voltava, voando, com uma bandeja de ostras abertas nas suas conchas de nácar, e uma garrafa entre os dedos.
Stepane Arkadievitch desdobrou o guardanapo engomado, meteu uma das pontas no colete, apoiou os braços e pôs-se a comer as ostras.
— Não estão nada mal — disse, enquanto ia arrancando, com uma faquinha de prata, das suas conchas nacaradas as ostras vivas, que devorava umas atrás das outras. — Não estão nada mal — repetia, mirando, os olhos brilhantes, ora Levine, ora o criado.
Levine também comeu ostras, embora preferisse pão branco com queijo. Estava pasmado com Oblonski. O próprio criado, que desarrolhara a garrafa e deitara o espumoso vinho nas taças de cristal, olhava para Oblonski com um sorriso de satisfação enquanto ajeitava o laço da gravata branca.
— Não gostas muito de ostras ou estás preocupado? — perguntou Stepane Arkadievitch, virando a taça.
Oblonski desejava que Levine estivesse alegre. E efectivamente estava, mas sentia-se inibido. No seu estado de espírito incomodava-o aquele restaurante com os seus gabinetes reservados, em que se comia com mulheres, e aquela barafunda, bem como os bronzes, os espelhos, as luzes e os criados. Temia conturbar os belos sentimentos que tinha na alma.
— Eu? Sim, estou preocupado e além disso tudo isto me inibe — respondeu. — Não podes calcular como este ambiente me parece estranho, a mim, um aldeão. É um pouco como as unhas daquele senhor que eu vi na tua repartição.
— Sim, reparei nisso, que as unhas do pobre Grimevitch te interessaram muito — disse Oblonski, rindo.
— Sim, que queres? Procura compreender me, pondo te no meu lugar, adopta o ponto de vista de um homem que vive na aldeia. Ali procuramos ter as mãos para trabalhar com comodidade, por isso cortamos as unhas rentes, e às vezes até arregaçamos as mangas. Aqui, pelo contrario, as pessoas deixam crescer as unhas o mais que podem e, à guisa de abotoaduras, usam uma espécie de pires para nada poderem fazer com as mãos.
Stepane Arkadievitch sorriu jovialmente.
— Isso quer dizer apenas que não precisam de trabalhar com as mãos a cabeça lhes basta.
— Talvez. Mas, de qualquer forma, acho esquisito, da mesma maneira que não posso deixar de estranhar estarmos aqui, tu e eu, a comer ostras para despertar o apetite, ficando à mesa tempo infinito, quando na aldeia tratamos de comer o mais rapidamente possível para voltarmos às nossas ocupações.
— Claro. Mas é nisso mesmo que consiste a civilização fazer com que tudo se transforme em prazer — replicou Stepane Arkadievitch.
— Pois bem, se é esse o objectivo da civilização prefiro ser selvagem.
— Já o és, meu caro Todos os Levines o são.
Levine suspirou. Lembrou se de seu irmão Nicolau e, sentindo-se envergonhado e pesaroso, franziu as sobrancelhas. Mas Oblonski pôs-se a falar-lhe de uma coisa que logo o distraiu.
— Vais esta noite a casa dos Tcherbatski? — perguntou lhe com significativa expressão, enquanto afastava de si as rugosas conchas vazias, aproximando o queijo.
— Irei sem falta. Embora tenha a impressão de que a princesa me convidou de má vontade — replicou Levine.
— Que idéia! Tolices! São as maneiras dela. Eh, amigo, venha de lá a sopa! São os seus modos de grande dama. — disse Stepane Arkadievitch — Eu também irei. Mas antes tenho de ir ao ensaio do coro da condessa Bonina. Então, como é que tu não hás de ser um selvagem? Explica me, se fazes favor, por exemplo, o porquê do teu desaparecimento súbito de Moscovo. Os Tcherbatski passavam a vida a perguntar por ti, como se eu soubesse. Só sei uma coisa que fazes sempre o contrário de toda a gente.
— Sim, tens razão, sou um selvagem — confirmou Levine, lenta mente e com emoção — Mas não por me ter ido embora daqui e sim por ter voltado. Aqui estou outra vez.
— Que feliz te sentes! — interrompeu o Stepane Arkadievitch, fitando-o nos olhos.
— Por quê?
— «Os cavalos fogosos conhecem-se pela marca e as pessoas apaixonadas pelos olhos» — declarou Stepane Arkadievitch. — O futuro pertence te — E tu já só tens o passado?
— Já nada mais me resta senão digamos, o presente, e um presente onde nem tudo é cor-de-rosa.
— Que há contigo?
— As coisas não vão bem. Mas não te quero falar de mim, tanto mais que não me é possível entrar em todos os pormenores — disse Stepane Arkadievitch — Bom, para que vieste a Moscovo? Olha, tu, muda estes pratos — gritou para o criado.
— Não calculas? — replicou Levine, sem deixar de fitar Oblonski
com os seus olhos profundos e luminosos.
— Calculo, mas não me compete ser o primeiro a falar do assunto. Por isto podes imaginar se adivinho ou não — disse Oblonski, olhando para Levine enquanto sorria subtilmente.
— Pois bem, então que achas? — perguntou Levine em voz trêmula e percebendo que lhe estremeciam os músculos da face — Que achas? Stepane Arkadievitch levou aos lábios, lentamente, um copo de Chablis, enquanto continuava a olhar para Levine.
— Eu? Por mim, não desejaria outra coisa. Era o melhor que poderia suceder! — replicou.
— Mas não estás enganado? Sabes do que estamos a falar? Achas que é possível? — insistiu Levine, cravando os olhos no interlocutor.
— Acho que sim. Por que não?
— Realmente, achas isso possível? Diz me tudo o que pensas? E se me espera uma recusa? Estou quase convencido que sim.
— Por quê? — perguntou Stepane Arkadievitch, sorrindo ante a inquietação de Levine.
— Isso é o que me parece às vezes, e seria horrível para mim e para ela.
— Bom, em todo o caso, para ela não seria nada horrível. Qualquer jovem fica sempre lisonjeada quando a pedem em casamento.
— Sim, mas ela não é como as outras.
Stepane Arkadievitch sorriu. Compreendia perfeitamente o estado de espírito de Levine, sabia que para ele as mulheres do mundo se dividiam em duas classes a primeira incluía todas, excepto Kitty, e essas tinham todas as fraquezas humanas, sendo absolutamente vulgares, na segunda só cabia ela, que não tinha fraqueza alguma e pairava muito acima de tudo o que era humano.
— Espera, serve te de molho — disse, detendo a mão de Levine, que repelia a molheira.
Levine obedeceu, mas não deixou Stepane Arkadievitch comer em paz.
— Não, espera, espera — disse ele. —É preciso que compreendas que isto para mim é questão de vida ou de morte. Nunca falei com ninguém a este respeito nem posso falar a ninguém excepto contigo. Como vês, somos diferentes em tudo temos gostos e pontos de vista diversos, mas sei que és meu amigo e que me compreendes, e por isso te aprecio muitíssimo. Mas, por amor de Deus, diz-me toda a verdade..
— Digo-te o que penso — respondeu Stepane Arkadievitch, sorrindo — e ainda te direi mais minha mulher é uma pessoa extraordinária — Oblonski suspirou ao lembrar se do estado das suas relações com Dolly, e após um breve silêncio continuou — Tem o dom de prever os acontecimentos. Conhece as pessoas como se lhes lesse na alma. Mas isto não é tudo. Sabe o que vai acontecer, sobretudo tratando-se de casamentos. Por exemplo, predisse que a Chakovskoi casaria com o Brenteln. Ninguém acreditava nisso, mas a verdade é que assim foi. E está do teu lado.
— Então?
— Não só gosta de ti, como diz que Kitty há de ser, seja de que maneira for, tua mulher.
Ao ouvir estas palavras, o rosto de Levine iluminou se num sorriso que se aproximava das lagrimas de ternura.
— Foi isso que ela disse? — exclamou — Sempre achei a tua mulher encantadora Bom, basta, não falemos mais no caso — acrescentou, levantando se.
— De acordo, mas senta te.
Levine não podia continuar sentado. Percorreu, duas ou três vezes, num passo firme, o recanto onde se encontravam, piscando os olhos para disfarçar as lagrimas.
— É preciso que compreendas — continuou ele, voltando a sentar se —, não se trata de um amor vulgar Já estive enamorado várias vezes, mas não era a mesma coisa O que me domina não é um sentimento meu, mas uma força exterior Saí de Moscovo porque decidira que isso não podia ser, pela mesma razão de que a felicidade perfeita não existe na terra Mas lutei comigo mesmo e acabei por reconhecer que não podia viver sem ela É necessário tomar uma resolução — Mas por que fugiste?
— Oh, espera! Oh! Se soubesses quantas ideias tenho dentro da cabeça, as coisas que te queria perguntar? Escuta me. Nem podes calcular o bem que me fizeste com as tuas palavras. Sou tão feliz que até me fiz uma pessoa má. Esqueço me de tudo. Soube hoje que meu irmão Nicolau está aqui em Moscovo. E até dele me esqueci Afigura se me que até ele próprio é feliz Isto parece loucura. Mas há uma coisa horrível. Tu, que és casado conheces esse sentimento. O que é terrível é que nos, homens maduros, já com passado não de amor, mas cheio de pecados, ousemos aproximar nos sem pejo de um ser puro e inocente. Isto é tão repulsivo que não posso deixar de me sentir indigno.
— Ora, tu não deves ter grandes crimes na consciência.
— E no entanto — replicou Levine —, quando analiso a minha vida, estremeço, amaldiçôo-me e lamento me cheio de amargura. Sim.
— Que havemos de fazer? O mundo é assim — disse Stepane Arkadievitch.
— Só vejo um lenitivo, essa oração de que eu tanto gostava «Perdoa me, Senhor, não pelos meus mentos, mas pela grandeza da Tua misericórdia» Só assim é que me pode perdoar.
CAPÍTULO XI
Levine esvaziou o copo, e ambos ficaram calados.
— Tenho ainda mais alguma coisa a dizer te. Conheces o Vronski? — inquiriu Stepane Arkadievitch.
— Não, não conheço. Por que perguntas?
— Traz outra garrafa — disse Stepane Arkadievitch, dirigindo se ao criado, que enchia os copos e se punha a girar em torno da mesa nos momentos mais inoportunos — Digo te, porque é um dos teus rivais.
— Quem é Vronski? — perguntou Levine, e no seu rosto, onde havia um entusiasmo pueril, surgiu, de repente, raiva e contrariedade.
— É um dos filhos do conde Kiril Ivanovitch Vronski e um dos mais belos exemplares da juventude dourada de Sampetersburgo. Conheci o em Tver, quando ali estive a servir. Costumava ir lá para o recrutamento. É imensamente rico, bela figura e com boas relações. É ajudante de campo e além disso rapaz muito simpático e bom moço. Quando lidei com ele aqui pude verificar que também é culto e muito inteligente é um homem que há de ir longe.
Levine franziu as sobrancelhas, conservando se calado.
— Esteve aqui pouco tempo depois de te teres ido embora. Segundo me parece, está enamoradíssimo de Kitty, e deves compreender que a mãe.
— Perdoa me, mas não entendo nada — replicou Levine, taciturno.
E imediatamente se lembrou do irmão Nicolau e se persuadiu de que era uma indignidade tê-lo esquecido.
— Espera, espera — disse Stepane Arkadievitch, sorrindo e pegando -lhe na mão — Disse te o que sabia. E repito te que na medida em que é possível fazerem se previsões num assunto tão delicado e subtil como este, sou de opinião de que todas as vantagens são tuas. Levine recostou se no espaldar da cadeira Estava pálido.
— Mas aconselho-te a que decidas as coisas o mais depressa que puderes — prosseguiu Oblonski, enchendo o copo de Levine.
— Não, obrigado, não posso beber mais — disse este, repelindo o copo.— Acabaria bêbedo... Bom, e tu, como vais? — continuou, tentando, ao que parecia, desviar a conversa.
— Só mais uma palavra: em todo o caso, repito, aconselho-te a que decidas o caso quanto antes. Mas acho melhor não falares hoje. Vai amanhã pela manhã pedir a mão dela, segundo todas as praxes e que Deus te abençoe...
— Por que não vens caçar nas minhas terras? Aparece na Primavera — disse Levine.
Estava arrependidíssimo agora de ter tratado aquele assunto com Stepane Arkadievitch. Aquele seu sentimento tão íntimo fora maculado ao falarem desse oficial de Sampetersburgo, seu rival, e pelas conjecturas e conselhos de Oblonski.
Este sorriu, compreendendo o que se estava passando na alma de Levine:
— Mais tarde ou mais cedo, apareço por lá — disse ele. — Sim, homem, as mulheres são a mola que tudo move neste mundo. Também a mim as coisas não correm bem. E tudo por culpa das mulheres. Fala-me com sinceridade, dá-me um conselho — continuou, enquanto puxava de um cigarro e mantinha o copo suspenso na outra mão.
— De que se trata?
— Do seguinte. Suponhamos que estavas casado, que gostavas da tua mulher, mas outra te seduzia...
— Perdoa-me, não percebo absolutamente nada. Era como se eu, ao sair daqui satisfeito com o jantar, passasse por uma confeitaria e roubasse um doce.
Os olhos de Stepane Arkadievitch resplandeceram mais do que habitualmente.
— Por que não? Às vezes um doce cheira tão bem que a gente não pode conter-se.
Himmlisch ist’s, wenn ich bezwungen
Meine irdische Begier;
Aber doch wenn’s nicht gelungen,
Hatt’ ich auch recht hübsch Plaisir!
Ao dizer isto, Stepane Arkadievitch sorria, subtilmente. Levine também não pôde reprimir o sorriso.
— Basta de gracejos — prosseguiu Oblonski. — Pensa numa mulher agradável, tímida, afectuosa, só e pobre que tudo sacrificou por ti. Agora, que a coisa está consumada, poderei porventura abandoná-la? Suponhamos que nos separássemos para não destruir a vida familiar. Mas como não compadecer-me dela, não ajudá-la, não suavizar-lhe a sorte?
— Perdoa-me, já sabes que para mim as mulheres se dividem em duas classes.. Quer dizer, não. Mais exacto seria dizer que há mulheres e... Nunca vi uma mulher decaída com atractivo, nem verei, e as mulheres como aquela pintalgada do balcão, a francesa, com as suas risadas, são para num pior do que a peste. Todas as mulheres decaídas são iguais — E a do Evangelho?
— Oh! Cala-te! Cristo nunca teria pronunciado aquelas palavras se pudesse calcular o mau uso que viriam a fazer delas. São as únicas palavras do Evangelho que todos sabem de cor. Além disso não estou a dizer o que penso, estou a dizer o que sinto. Repugnam-me as mulheres decaídas. A ti metem-te medo as aranhas, e a mim essas misérias. Naturalmente nunca estudaste a vida das aranhas nem lhes conheces os costume: o mesmo acontece comigo.
— É-te fácil falares assim. Fazes-me lembrar aquela personagem de Dickens que com a mão esquerda atirava por cima do ombro direito todos os assuntos difíceis de resolver. A verdade, porém, é que negar um facto não é dar uma resposta. Dize-me: que fazer? Que fazer? A tua mulher envelhece e tu estás cheio de vida. Num abrir e fechar de olhos dás-te conta de que não podes continuar a amar a tua mulher por maior respeito que sintas por ela. E é então que aparece o amor. Estás perdido! Estás perdido! — concluiu Stepane Arkadievitch, pateticamente.
Levine sorriu com ironia.
— Estás perdido — prosseguiu Oblonski —, mas que fazer?
— Não roubes doces.
Stepane Arkadievitch soltou uma gargalhada.
— Ó moralista! Mas lembra-te disto: há duas mulheres — uma apenas se apóia no seu direito, que é esse amor que tu não lhe podes dar; ao contrário, a outra tudo sacrifica sem te exigir nada. Que deves fazer?
Digno do céu se sentia quando os meus terrenos apetites dominava. Mas quando não o conseguia, um inefável prazer de mim se apoderava.
Como deves proceder? É um drama terrível.
— Se queres que te dê a minha opinião sincera sobre esse caso, dir-te-ei que não creio que se trate de um drama, e aqui tens porquê. Creio que o amor... essas duas classes de amor que, como te deves lembrar, Platão define no seu Banquete, constituem a pedra de toque dos homens. Uns só compreendem um destes amores; os demais, o outro. E os que só compreendem o amor não platônico, esses não têm o direito de falar de dramas. Com um amor dessa classe não pode existir nenhum drama. «Agradeço-lhe muito o prazer que me proporcionou, e adeus.» Nisso consiste todo o drama. E no que diz respeito ao amor platônico, também esse não pode produzir dramas, porque nele tudo é puro e diáfano, porque Naquele momento Levine lembrou se dos seus pecados e da luta interior que tinha mantido. Inesperadamente acrescentou: — Afinal de contas, talvez tenhas razão. É muito possível. Mas não sei, verdadeiramente não sei.
— Vês, és um homem íntegro. — volveu Stepane Arkadievitch — Esse é o teu defeito e a tua virtude. Tens um carácter íntegro e queres que toda a vida se componha de manifestações íntegras. Mas a verdade é que isso não acontece. Por isso desprezas a actividade social do Estado, pois queres que todo o esforço estivesse sempre directamente relaccionado com um fim, o que não é verdade. Também gostarias que a actividade do homem tivesse um objectivo que o amor e a vida conjugal fossem uma e a mesma coisa. Mas as coisas não se passam assim. Toda a diversidade, todo o encanto, toda a beleza da vida se compõe de luzes e de sombras.
Levine suspirou e nada respondeu. Pensava nos seus problemas e não prestava atenção a Oblonski. E de súbito ambos sentiram que, conquanto fossem amigos, conquanto tivessem comido e bebido juntos, o que os devia ter unido ainda mais, cada um deles só pensava em si, sem no fundo preocupar se com o que dizia respeito ao outro. Não era a primeira vez que Oblonski experimentava, depois de comer, essa separação extrema em vez de uma aproximação, e sabia o que devia fazer em tais circunstâncias.
— A conta? — gritou, e passou à sala contígua, onde se deparou com um ajudante de campo das suas relações. Puseram se então a conversar a respeito de uma actriz e seu amante. E logo se sentiu aliviado e descansado da conversa que tivera com Levine, que tinha a faculdade de o arrastar sempre para uma tensão mental e espiritual excessiva.
Quando o criado apareceu com uma conta de vinte e seis rublos e uns tantos copeques, além de um acréscimo pela vodka, Levine, que noutra oportunidade se teria horrorizado, bom aldeão que era, por ter gasto catorze rublos, não fez caso disso, e depois de pagar dirigiu se a casa para mudar de roupa, decidido a ir à recepção dos Tcherbatski, onde o seu futuro se decidiria.
CAPÍTULO XII
A princesa Kitty Tcherbatski tinha dezoito anos. Era o primeiro Inverno em que fazia vida de sociedade, e nela obtinha maior êxito que as duas irmãs mais velhas e até mesmo mais do que esperava a própria mãe. Não só os rapazes que freqüentavam os bailes de Moscovo estavam todos enamorados de Kitty, como naquele mesmo Inverno já recebera duas propostas sérias de casamento a de Levine, e, imediatamente após a sua partida, a do conde Vronski.
O aparecimento de Levine no princípio do Inverno, as suas freqüentes visitas e o seu evidente amor por Kitty deram motivo a primeira conversa séria entre os pais sobre o futuro da filha e até haviam provocado algumas discussões. O príncipe defendia Levine e dizia que não podia desejar nada melhor para Kitty. A princesa, pelo contrario, com o característico costume que as mulheres têm de desviar as questões, opinava que Kitty era muito jovem, que Levine não demonstrara intenções sérias, que a pequena não se sentia inclinada para ele e outros argumentos deste gênero. Mas não dizia o mais importante isto é, que esperava um partido mais vantajoso para a filha, que não simpatizava com Levine e ainda por cima que não o entendia. Quando Levine partiu de Moscovo repentinamente, a princesa ficou contentíssima e disse ao ma rido com expressão de triunfo «Como vês, eu tinha razão» E quando apareceu Vronski, ainda mais alegre ficou, firmando se na opinião de que Kitty faria não só um bom casamento, mas um casamento esplêndido.
Para a princesa não podia haver comparação possível entre Levine e Vronski. Não gostava das estranhas e violentas opiniões de Levine, nem do seu acanhamento na sociedade, em parte motivado, assim o pensava, pelo orgulho, nem tão pouco dessa vida selvagem da aldeia, só entre animais e camponeses. E o que ainda mais lhe desagradava era o facto de Levine, enamorado da filha, ter lhe freqüentado a casa durante mês e meio sem se explicar francamente sobre as suas intenções. Desconheceria ele os costumes até esse ponto? Ou recearia, talvez, conceder-lhes uma excessiva honra? E, de repente, aquela partida sem quaisquer explicações «Ainda bem», pensou a princesa, «que é tão pouco atraente que nem sequer virou a cabeça da pequena!» Vronski, pelo contrário, satisfazia todas as suas ambições era muito rico, inteligente, famoso e aguardava o uma brilhante carreira tanto no exército como na Corte. Não podia desejar nada melhor.
Nos bailes, Vronski galanteava abertamente Kitty dançava com ela e freqüentava lhe a casa de tal maneira que ninguém podia ter dúvidas quanto à seriedade das suas intenções E no entanto a pobre mãe de Kitty passara todo o Inverno muito inquieta e preocupada.
A princesa casara se trinta anos atrás e fora uma tia quem lhe preparara o casamento. O noivo sobre quem se haviam antecipadamente tomado todas as informações, chegara, conhecera a noiva e dera se a conhecer. A casamenteira observou a boa impressão que cada um causara ao outro e disso inteirou ambas as partes. A impressão fora boa. Depois, e numa data prevista, procedeu se ao pedido, que foi aceito. Tudo fora muito fácil e simples. Foram muitos os receios que teve, muitos os pensamentos, muito o dinheiro que gastou e muitos os desgostos com o marido ao casar Daria e Natalia as duas filhas mais velhas. Agora, ao apresentar a sociedade a mais nova voltaram os mesmos receios, voltaram as mês mas duvidas e as discussões com o marido eram ainda maiores. Como todos os pais, o velho príncipe era muito escrupuloso a respeito da honra e da pureza das suas filhas. Era exageradamente cioso delas, especialmente de Kitty a predilecta, e a cada momento armava cenas com a mulher, alegando que ela comprometia a pequena. A princesa já estava acostumada com isso no que tocava as duas outras filhas, mas agora se apercebia de que a susceptibilidade do príncipe tinha fundamento nos últimos tempos muita coisa mudara nas recepções sociais e os seus deveres de mãe eram agora mais difíceis. Verificava que as raparigas da idade de Kitty formavam grupos, assistiam a não sei que cursos, tratavam os homens com desenvoltura, saíam sozinhas, muitas delas não faziam reverências ao cumprimentarem e, coisa bem pior, estavam convencidas de que a escolha de marido incumbia a elas e não aos pais «Hoje em dia já não se casam as filhas como dantes», diziam e pensavam todas essas jovens e mesmo as pessoas de idade. A princesa, contudo, não conseguia perceber como se casavam hoje em dia as raparigas. O costume francês, de acordo com o qual eram os pais quem decidia do futuro dos filhos não só não era admitido, mas criticado. O inglês, segundo o qual as mulheres deviam ser completamente livres, também seria repelido, impossível que era na sociedade russa. Considerava se ridículo o costume russo de arranjar os casamentos por intermédio de casamenteiras e todos se riam disso, inclusive a própria princesa. Mas ninguém sabia como levar a cabo os casamentos. Todas as pessoas com quem a princesa falava a este respeito lhe respondiam da mesma maneira «Nos nossos dias já é tempo de acabar com esses antigos costumes. Quem se casa são os filhos, não os pais, é preciso deixarmos que sejam eles que se entendam uns com os outros» Era muito fácil falar assim para quem não tinha filhas, mas a princesa compreendia que Kitty podia apaixonar se, no seu trato com os homens, por alguém que não tivesse intenção de casar com ela ou que não lhe conviesse. E por mais que lhe dissessem que nos tempos que tornam às jovens se devia dar a oportunidade de preparar o seu próprio futuro, não podia conformar se, como tão pouco se conformaria que houvesse uma época em que o melhor brinquedo para as crianças de cinco anos fossem pistolas carregadas Eis que a princesa andava mais preocupada com Kitty do que outrora com qualquer das suas duas filhas mais velhas.
Agora receava que Vronski se limitasse apenas a fazer a corte à filha Sabia que Kitty já estava enamorada dele, mas consolava-a a ideia de que Vronski era homem sério. Também sabia quão fácil era transformar a cabeça de uma rapariga na sociedade livre dos tempos modernos e a pouca importância que os homens atribuíam a semelhantes faltas. Na semana anterior Kitty contara à mãe a conversa que tivera com Vronski durante uma mazurca. Essa conversa tranqüilizada em parte a princesa, mas não lograra serená-la por completo Vronski contara a Kitty que tanto ele como o irmão estavam tão habituados a obedecer à mãe que nunca tomavam qualquer resolução importante sem lhe pedir conselho «E agora aguardo com uma grande felicidade a chegada de minha mãe a Sampetersburgo», concluíra.
Kitty contara isto à mãe sem lhe atribuir importância, mas a mãe interpretou essas palavras de outra maneira Sabia que Vronski esperava a mãe de um momento para o outro e que ma regozijar se com a escolha do filho No entanto, parecia lhe estranho que, para não ofender a mãe, Vronski não se decidisse a declarar se. Tão grande, porém, era o seu desejo de que esse casamento viesse a realizar se, e sobretudo tamanho o seu desejo de recuperar a serenidade depois de todas aquelas apoquentações, que confiava que Vronski o viesse a fazer. Conquanto a afligisse muito a infelicidade da filha mais velha, disposta a separar se do marido, o certo é que a preocupação com o futuro de Kitty a absorvia por completo. A chegada de Levine veio trazer lhe mais uma preocupação a princesa receava que a filha, que tempos antes mostrara simpatizar com ele, repelisse Vronski, por um excesso de escrúpulos e que, de maneira geral, o aparecimento desse pretendente atrapalhasse ou protelasse o assunto, tão próximo de um desfecho.
— Chegou há muito? — perguntou a princesa quando entraram em casa.
— Hoje mesmo, mãezinha.
— Quero dizer te uma coisa — principiou a princesa, e Kitty adivinhou, pela sua expressão séria e animada, o que lhe ia dizer.
— Por amor de Deus, mãe, por amor de Deus, não me fale nisso — replicou Kitty, num arrebatamento, voltando se rapidamente para a mãe —Já sei, sei tudo muito bem.
Os desejos de Kitty eram os mesmos da mãe, mas ofendiam na os motivos que inspiravam os desejos desta.
— Apenas te quero dizer que se deste esperanças a alguém.
— Querida mãe, por amor de Deus!, não me diga nada. É terrível falar destas coisas.
— Esta bem, não falarei, mas ouve o que te digo — teimou a princesa, vendo lagrimas nos olhos da filha — promete me não teres segredos para mim Assim farás, não é verdade? — Não, nunca, mãezinha, não — replicou Kitty, corando e olhando a mãe nos olhos — Mas agora nada tenho que lhe dizer. Eu eu. Ainda que quisesse dizer lhe alguma coisa não sabia que, nem como. Não sei.
«Com estes olhos não pode mentir», pensou a princesa, sorrindo, ao ver a emoção e a felicidade da filha Sorria ao pensar quão grandes e importantes se lhe afiguravam, a pobrezinha da Kitty, as emoções do seu coração.
CAPÍTULO XIII
Depois do jantar e até ao princípio da noite, Kitty conheceu as mesmas impressões que costuma experimentar um jovem soldado nas vésperas de uma batalha... O coração pulsava-lhe com violência e não era capaz de concentrar o pensamento. Sentia que aquela noite, em que «eles» se encontrariam pela primeira vez, iria decidir do seu destino. Estava a vê-los constantemente, ora os dois juntos, ora cada um de per si. Quando recordava o passado, era com prazer e ternura que evocava a sua intimidade com Levine. As recordações de infância, bem como a, amizade de Levine com o falecido irmão, nimbavam de um encanto especial e poético as suas relações com ele. O amor que Levine lhe tinha, amor de que ela estava certa, inundava-a, enchendo-a de contentamento. Era-lhe agradável lembrar-se de Levine. Pelo contrário, ao pensar em Vronski uma espécie de mal-estar a assaltava, não obstante ser homem sossegado e extremamente mundano. Parecia que notava certa falsidade, não nele — era muito simples e simpático — mas nela própria, enquanto que com Levine se sentia completamente sincera e tranqüila. Todavia, se pensava no seu futuro com Vronski, o futuro aparecia-lhe brilhante e feliz, enquanto com Levine lhe surgia nebuloso.
Quando foi vestir-se e se mirou ao espelho, notou com alegria que estava num dos seus melhores dias, e que se encontrava no domínio pleno de todas as suas forças, coisa de que tanto precisava naquele momento. Nem a graça nem o sangue-frio lhe iriam faltar dentro de pouco. Às sete e meia, quando desceu ao salão, o criado veio anunciar: — Constantino Dimitrievitch Levine.
A princesa ainda estava nos seus aposentos e o príncipe também ainda não descera. «Meu Deus!», suspirou Kitty, e todo o sangue lhe afluiu ao coração. Ficou horrorizada ao ver-se tão pálida diante do espelho.
Agora compreendia claramente que Levine viera mais cedo só para se encontrar a sós com ela. E tudo lhe apareceu sob um aspecto distinto e novo. Naquele momento só percebeu que se tratava de saber com quem iria ser feliz e a quem amava, como se via na contingência de ofender um homem que lhe era querido. Ofendê-lo de maneira cruel... E por quê? Porque era simpático, porque lhe queria, porque estava enamorado dela. Mas não havia nada a fazer, era preciso, tinha de ser assim.
«Meu Deus!», pensou. «Será possível que tenha de lhe dizer eu mesma? Dizer-lhe que não gosto dele? Mas isso não é verdade. Que lhe direi então? Que gosto de outro? Não: é impossível. Vou-me embora, vou-me embora.» E já se aproximava da porta quando ouviu os passos de Levine.
«Não; não seria leal. De que tenho medo? Não fiz mal algum. Aconteça o que acontecer, dir-lhe-ei a verdade. Além disso, diante dele não me sinto embaraçada. Ele aí está», pensou, ao vê-lo aparecer, tímido na sua força, fixando nela um olhar ardente. Kitty fitou-o francamente face a face, e estendeu-lhe a mão.
— Acho que cheguei cedo de mais —disse Levine, relanceando os olhos ao salão vazio.
Ao certificar-se de que as suas esperanças se realizavam, que nada o impediria de fazer a sua declaração o seu rosto entristeceu-se.
— De maneira nenhuma — replicou Kitty, sentando-se junto à mesa.
— Era precisamente isso que eu queria, encontrá-la só — principiou Levine, sem se sentar e sem fitar Kitty, para não perder a coragem.
— Minha mãe já vem aí. Ontem ficou muito cansada. Ontem...
Kitty falava sem saber o que os seus lábios diziam e sem afastar de Levine os olhos suplicantes e acariciadores. Levine fitou-a. Kitty corou e calou-se.
— Já lhe disse que não sei se irei ficar muito tempo aqui... que isso dependia de si...
Kitty baixava cada vez mais a cabeça, sem saber que resposta dar ao que Levine lhe ia dizer.
— Que isso dependia de si —repetiu ele. — Queria dizer-lhe... Vim para que... que... seja minha mulher! — concluiu, sem saber bem o que dizia, mas dando conta de que o mais terrível e o mais grave estava dito. Então fixou nela os olhos.
Kitty continuava de cabeça baixa; respirava com dificuldade. Uma alegria imensa lhe enchia o coração. Nunca pensara que a confissão daquele homem lhe causasse uma impressão tão viva. Mas daí a pouco lembrou-se de Vronski. Ergueu para Levine os olhos luminosos e sinceros e ao ver a angústia que se lhe pintava no rosto, replicou apressadamente:
— Isso não pode ser... perdoe-me.
Havia pouco, que próxima dele se sentia e que importante na sua vida! E agora, que longe e alheia se lhe tornara! — Não podia ser de outra maneira — disse Levine sem a fitar. Com uma reverência, ia retirar-se.
CAPÍTULO XIV
Mas naquele momento entrava a princesa. No seu rosto transpareceu o horror que lhe causava vê-los ali sozinhos e com aquelas transtornadas expressões. Levine inclinou-se diante dela sem dizer palavra. Kitty, calada, não ousava erguer os olhos. «Graças a Deus, disse-lhe que não», pensou a mãe, e no seu rosto transpareceu o sorriso habitual, o sorriso com que acolhia todas as visitas de quinta-feira. Depois de se sentar, principiou a fazer perguntas a Levine acerca da sua vida na aldeia. Levine sentou-se também, aguardando a chegada dos convidados, para poder retirar-se discretamente.
Daí a cinco minutos chegava a condessa Nordston, amiga de Kitty, que se casara no último Inverno.
Era uma mulher delgada, amarelada, de brilhantes olhos negros, nervosa e enfermiça. Gostava muito de Kitty e o carinho que sentia por ela, como acontece quase sempre da parte das casadas para com as solteiras, manifestava se no desejo de casar a amiga de acordo com o seu próprio ideal de felicidade queria vê-la casada com Vronski. Não simpatizava com Levine, a quem vira freqüentemente no último Inverno em casa dos Tcherbatski. Quando perto dele, o que mais a divertia era ridicularizá-lo.
— Gosto muito de o ver olhar-me do alto da sua superioridade, quando interrompe, convencido de que sou uma estúpida, os seus belos discursos intelectuais ou quando condescende em dirigir-me a palavra. Condescende! É esse mesmo o termo. Adoro que me deteste! — costumava dizer a condessa quando falava dele.
Tinha razão. De facto, Levine não a tolerava. Desprezava nela precisamente aquilo de que ela mais se orgulhava e tinha como suas maiores virtudes o nervosismo o desdém requintado, a indiferença por tudo que considerava material e grosseiro.
Havia-se estabelecido, pois, entre eles um gênero de relações muito comum em sociedade estimando-se aparentemente, no fundo a tal ponto se desprezavam que não podiam sequer tomar se a sério um ao outro nem ofender-se reciprocamente.
Lembrando-se de que Levine, no princípio do Inverno, comparara Moscovo a Babilônia, a condessa imediatamente abordou o assunto?
— Ah! Constantino Dimitrievitch? Então voltou à nossa pervertida Babilônia! — exclamou, estendendo-lhe a mão minúscula e amarelada — Foi a Babilônia que se regenerou ou foi você que se perverteu? — acrescentou com um sorriso irônico, enquanto relanceava um olhar a Kitty.
— Muito me lisonjeia, condessa, que se recorde das minhas palavras — replicou Levine, que entretanto se refizera do choque, adoptando o tom irônico e hostil com que habitualmente se dirigia à condessa Nordston —Vê-se que muito a impressionaram.
— Evidentemente? Registo-as todas Que tal, Kitty? Patinaste hoje?
E continuou tagarelando com Kitty.
Ainda que lhe custasse partir naquele momento, Levine achou isso preferível a ter de ficar toda a noite a ver Kitty, que de quando em quando olhava para ele, evitando encontrar-lhe os olhos. Quis levantar-se, mas a princesa, ao ver que ele não falava, perguntou-lhe.
— Conta ficar muito tempo em Moscovo? Creio que pertence ao zemstvo. Não deve poder demorar-se dias.
— Não, já não faço parte do zemstvo, princesa Estarei aqui alguns
«Tem qualquer coisa hoje», pensou a condessa, fitando-lhe o rosto concentrado e grave «Não está disposto a grandes discursos Mas eu o provocarei Gosto de pô-lo em ridículo diante de Kitty, e consegui-lo-ei» — Constantino Dimitrievitch, faça o favor de me explicar, o senhor que entende disso, por que é que os camponeses da nossa aldeia de Kaluga gastaram em bebida tudo quanto tinham e agora não nos pagam Que quer isto dizer? Está sempre a defendê-los.
Naquele momento entrava uma senhora no salão, e Levine levantou-se.
— Perdoe me, condessa, mas nada entendo disso e não me é possível responder-lhe — replicou, e dirigiu os olhos para o oficial que acompanhava a senhora recém-chegada.
«Deve ser Vronski», pensou, e para certificar-se olhou para Kitty. Esta já tivera tempo de olhar para Vronski e agora fitava Levine. E por aquele olhar, vendo que os olhos dela resplandeciam involuntariamente, Levine compreendeu, com a mesma certeza como se ela própria lho tivesse dito, que Kitty amava aquele homem. Mas que espécie de homem seria ele? Há pessoas que ao defrontarem-se com um rival afortunado, seja qual for o terreno em que se encontrem, são incapazes de lhe descobrirem qualquer qualidade, outras há que, pelo contrário, tratam de ver no rival as qualidades que lhe serviram para vencer, e tudo fazem para só lhes descobrir os méritos, apesar do sofrimento que isso lhes causa Levine pertencia a esta classe de pessoas. Mas não lhe foi difícil apreender as qualidades e os atractivos de Vronski Imediatamente lhe saltaram à vista. Vronski era um homem moreno, não muito alto, de forte compleição, belo, e de fisionomia extremamente serena e grave. Tudo na sua figura, desde os negros cabelos curtos e o rosto recém-barbeado até ao folgado uniforme novo, era simples e ao mesmo tempo vistoso. Depois de deixar passar a senhora que entrara ao mesmo tempo que ele, Vronski aproximou-se primeiro da princesa e depois de Kitty.
Ao acercar-se da jovem, os seus belos olhos brilharam de um modo especial e com um imperceptível sorriso feliz e discreto de triunfador (assim se afigurou a Levine) Inclinando-se, respeitoso e circunspecto, diante dela, estendeu-lhe a mão, larga mas não muito grande.
Depois de ter cumprimentado todos, sentou-se, sem olhar para Levine, que não o perdia de vista.
— Permita que lhe apresente — disse a princesa apontando para
Levine — Constantino Dimitrievitch Levine. Ó conde Alexei Kinlovitch Vronski.
Vronski ergueu-se e fitando amistoso Levine apertou-lhe a mão.
— Creio que no Inverno passado, em certa ocasião, devemos ter jantado juntos; mas o senhor partiu repentinamente para a aldeia — disse Vronski, com um sorriso franco e simpático.
— Constantino Dimitrievitch despreza e odeia a cidade e os citadinos— interveio a condessa Nordston.
— Pelo que vejo, as minhas palavras produziram-lhe grande impressão, visto que as recorda tão bem — observou Levine, mas, ao reparar que já dissera aquela mesma frase, corou.
Sorrindo, Vronski olhou para Levine e para a condessa.
— Vive sempre na aldeia? — perguntou Vronski. — Quer-me parecer que no Inverno é aborrecido.
— Não, quando temos qualquer coisa em que nos ocuparmos; também nunca o homem se aborrece na sua própria companhia — respondeu Levine bruscamente.
— Gosto da aldeia — disse Vronski, fingindo não ter dado pelo tom de Levine.
— Espero, conde, que não concordaria em passar o ano todo na aldeia — comentou a condessa Nordston.
— Não sei; nunca vivi muito tempo no campo. Mas senti qualquer coisa de extraordinário. Nunca tive tantas saudades da aldeia, da aldeia russa, com os seus lapti e os seus mujiques como no Inverno que passei em Nice com minha mãe — replicou Vronski, acrescentando: — Nice é muito aborrecida. E Nápoles também. De Sorrento, gosto, mas para pouco tempo. Precisamente ali é que nós nos lembramos mais vivamente da Rússia, e sobretudo das suas aldeias... É como se...
Falava dirigindo-se tanto a Kitty como a Levine e o seu olhar afectuoso e sereno fixava-se alternadamente num e noutro. Parecia dizer a primeira coisa que lhe vinha à cabeça.
Ao notar que a condessa Nordston queria falar, calou-se e ficou a ouvi-la atentamente.
A conversa não afrouxava um só momento. A princesa não precisava de lançar mão das peças de artilharia que reservava para o caso em que a conversa esmorecesse: o ensino das letras e das ciências e o serviço militar obrigatório. Também a condessa não teve oportunidade de troçar de Levine.
Este muito desejaria intervir na conversa geral, mas não conseguia fazê-lo; estava sempre a pensar: «É agora que me vou embora», mas não se ia e continuava ali, como se esperasse alguma coisa.
A conversa versou depois sobre o tema das mesas que batem e dos espíritos; a condessa Nordston, que acreditava em espiritismo, pôs-se a narrar um facto sobrenatural a que assistira.
— Oh, condessa, por amor de Deus, leve-me a ver uma coisa dessas. Nunca vi nada de sobrenatural, apesar de fazer tudo para isso — disse Vronski, sorrindo.
— Está bem, no sábado próximo. E você, Constantino Dimitrievitch, acredita nestas coisas? — perguntou ela a Levine.
— Por que pergunta? Já sabe o que lhe vou responder.
— Queria saber a sua opinião.
— Na minha opinião essas mesas que se mexem apenas demonstram que a nossa pretensa sociedade culta está tão pouco desenvolvida como os nossos aldeões — replicou Levine. — Enquanto eles acreditam em mau-olhado, em feitiçarias e em aparições, nós, de nossa parte...
— Então você não acredita?
— Não posso acreditar, condessa.
— Mas eu estou a dizer-lhe que vi com os meus próprios olhos.
— Também as camponesas serão capazes de dizer que viram fantasmas.
— Então, na sua opinião, eu não falo a verdade —e a condessa pô-se a rir, mas o seu riso não reflectia satisfação.
— Não é isso, Macha, o Constantino Dimitrievitch quer apenas dizer que não pode acreditar em espiritismo — explicou Kitty, corando por Levine.
Este compreendeu e ia responder, ainda mais irritado, quando Vronski, com o seu sorriso franco e alegre, interveio na conversa, impedindo que ela tomasse um rumo desagradável.
— Não admite de modo algum essa possibilidade? — inquiriu.— Por quê? Admitimos a existência da electricidade, que não conhecemos. Por que não poderá haver uma força nova, ainda que desconhecida para nós, que...?
— Quando se descobriu a electricidade — interrompeu bruscamente Levine — apenas se comprovou o fenômeno, mas não a sua causa; ignorava-se de onde provinha e o que a produzia, e séculos decorreram antes que se lhe desse uma aplicação. Pelo contrário, os espíritas começaram por receber comunicações, por meio de mesas de pé de galo, de aparições de espíritos, e depois atribuíram isso a uma força desconhecida.
Vronski, como sempre, ouviu atentamente Levine, interessado, ao que parecia, nas suas palavras.
— Sim: agora, porém, os espíritas dizem: não sabemos de que força se trata, mas a verdade é que essa força existe e que actua sob estas e estas condições. Aos sábios compete descobrir em que consiste. Não vejo por que não possa existir uma força nova, porque...
— Porque na electricidade — interrompeu de novo Levine — sempre que o senhor esfregue um bocado de resina com um pedaço de lã se produzirá certa reacção, enquanto no espiritismo isso não sucede com a mesma regularidade. Eis por que não pode ser um fenômeno natural.
Ao perceber que a conversa tomava um tom demasiado sério para o ambiente do salão, Vronski não respondeu e, procurando mudar de tema, sorriu, voltando-se para os outros.
— Vamos então fazer uma experiência, condessa — principiou por dizer. Levine, porém, teimou em completar o seu argumento.
— Na minha opinião, é um erro os espíritas tentarem explicar os seus prodígios como uma força desconhecida — continuou. — Falam de uma força espiritual e querem submetê-la a experiências materiais. — Todos estavam mortos por que Levine se calasse, e ele percebia-os.
— Pois eu acho que o senhor seria um médium de primeira ordem. Às vezes parece ficar em êxtase — observou a condessa Nordston.
Levine abriu a boca, quis dizer qualquer coisa, corou e não falou mais.
— Vamos, condessa, vamos demonstrar agora mesmo essa história das mesas de pé de galo — disse Vronski. — Dá licença, princesa?
Vronski pôs-se de pé, procurando com os olhos uma mesa de pé de galo. Kitty sentia-se tanto mais penalizada quanto sabia ser ela a causa daquela mágoa. «Se me puder perdoar, perdoe-me», dizia o olhar de Kitty. «Sou tão feliz!» «Odeio-os a todos, tanto a você como a mim mesmo», ripostou o olhar de Levine, que nesta altura pegara no chapéu. Mas não era ainda dessa vez que poderia partir. No momento em que todos se iam instalar em torno da mesa de pé de galo e Levine se dispunha a sair, entrava o velho príncipe, que, assim que cumprimentou as outras pessoas, se dirigiu a Levine.
— Quê? — exclamou alegremente. — Está aqui? Mas não sabia.
Muito prazer em vê-lo.
O velho príncipe dirigia-se a Levine tratando-o ora por tu ora por senhor. Abraçou-o e pôs-se a falar com ele sem reparar em Vronski, que se pusera de pé e aguardava que o príncipe lhe dirigisse a palavra. Kitty compreendia que, depois do que acabava de acontecer, as atenções do pai para com Levine deviam ser dolorosas para este. E corou ao notar a frieza com que o pai respondera ao cumprimento de Vronski e a surpresa com que este olhou para o príncipe, sem perceber por que podia ele estar mal disposto a seu respeito.
— Príncipe, consinta que Constantino Dimitrievitch se junte a nós — disse a condessa Nordston. — Queremos fazer uma experiência.
— De que se trata? De fazer girar mesas de pé de galo? Perdoem-me, minhas senhoras e meus senhores, mas acho muito mais divertido que brinquem antes às prendas — replicou o príncipe, fitando Vronski e adivinhando que fora dele a ideia. — Brincar às prendas tem algum sentido. Surpreendido, Vronski fitou o velho príncipe com os seus olhos graves e depois de um ligeiro sorriso pôs-se a falar com a condessa Nordston acerca de um baile que se realizava na semana seguinte.
— Espero que não falte — disse Vronski, dirigindo-se a Kitty.
No momento em que o velho príncipe se separara dele, Levine saíra sem ninguém dar por isso, e a última impressão que reteve daquela noite foi a impressão feliz e sorridente do rosto de Kitty respondendo à pergunta de Vronski sobre a baile.
CAPÍTULO XV
Ao findar o serão, Kitty contou à mãe a conversa com Levine. Apesar da pena que lhe inspirava, estava contente que ele lhe tivesse feito uma declaração. Não tinha dúvidas de que procedera como devia. Mas, uma vez deitada, demorou muito a adormecer. Uma impressão a perseguia sem cessar: o rosto de Levine, de sobrancelhas franzidas e olhos profundamente tristes e bondosos, olhando-os, ora a ela, ora a Vronski, enquanto ouvia o príncipe. Tanta pena teve dele que lhe vieram as lágrimas aos olhos. Logo, porém, pensou no homem a quem preferira.
Lembrou vivamente o seu rosto sério e varonil; aquela nobre serenidade e benevolência para com todos; evocou o amor que lhe dedicava aquele a quem queria, e sentindo de novo a alegria na alma, com um sorriso feliz, deixou-se cair sobre o travesseiro. «Que pena, que pena, mas que hei-de fazer? A culpa não é minha», dizia a si mesma, embora uma voz interior lhe segredasse o contrário. Não sabia se estava arrependida de ter conquistado Levine ou se de o haver repelido. E o certo é que a felicidade que sentia era empanada pelas dúvidas. «Meu Deus, perdoa-me! Meu Deus, perdoa-me!», foi repetindo intimamente, até que adormeceu.
Entretanto, lá em baixo, no pequeno gabinete do príncipe, desenrolava-se uma dessas cenas que freqüentemente se repetiam entre os pais, por causa daquela filha tão querida.
— Que há? Ainda perguntas? — exclamou o príncipe, gesticulando, ao mesmo tempo que ajeitava o roupão de petít-gris. — Ainda perguntas? Pois escuta. Não tens nem amor-próprio nem dignidade. Comprometes, perdes a tua filha com essa mania baixa e estúpida de impingi-la às pessoas.
— Mas, pelo amor de Deus! Que fiz eu? — replicou a princesa, a ponto de chorar.
Depois da conversa com a filha, a princesa, feliz e contente, viera, como de costume, dar a boa-noite ao marido, e embora não tencionasse falar-lhe na declaração de Levine nem na negativa de Kitty, disse-lhe que, segundo julgava, o assunto Vronski se poderia considerar resolvido, que se decidiria logo que a mãe dele chegasse. Ao ouvir estas palavras, o príncipe descontrolou-se, proferindo frases inconvenientes.
— Que fizeste? Em primeiro lugar, procuras atrair um noivo, e toda a gente em Moscovo irá falar nisso, aliás com inteira razão. Se queres dar festas, convida toda a gente e não apenas determinados pretendentes. Convida todos esses peralvilhos (assim chamava o príncipe aos jovens de Moscovo), arranja um pianista e que dancem. Não faças como hoje, que trouxeste para casa os pretendentes, e toca a tratar do casamento! Mete-me nojo tudo isto, conseguiste encher a cabeça da pequena de ideias tolas. Levine é um homem mil vezes melhor. Esse peralvilho de Sampetersburgo é dos que se fabricam em série. São todos iguais e nenhum presta para nada. Mesmo que fosse príncipe de sangue, a minha filha não precisa disso para nada.
— Mas que fiz eu?
— Que fizeste? — vociferou o príncipe, furioso.
— Só sei que, se te der ouvidos, nunca casaremos a nossa filha. Nesse caso é melhor irmos para o campo.
— Realmente, acho melhor.
— Escuta. Porventura provoquei alguém? O que há é o seguinte: esse rapaz, muito bom, enamorou-se de Kitty, e ela, pelo que sei...
— Isso é o que pensas! E se Kitty se apaixona de verdade e ele pensa tanto em casar como eu...! Oh! Que os meus olhos não vejam uma coisa dessas...! «Oh, o espiritismo! Oh! Nice! Oh! O baile!» — E o príncipe, imitando a mulher, fazia uma reverência à medida que ia pronunciando cada palavra. — E se viermos a fazer a desgraça de Katienka, se ela toma isto a sério? — Mas por que supões uma coisa dessas?
— Não suponho, tenho a certeza. Para isso nós, os pais, temos uma acuidade que vocês, as mulheres, não têm. Vejo, por um lado, um homem com intenções sérias: Levine, e, pelo outro, esse pelintra que só pensa em divertir-se...
— Lá vens tu com as tuas manias...
— Lembrar-te-ás do que estou a dizer quando for tarde de mais, como aconteceu com a Dacha.
— Bom, bom, não falemos mais nisto — interrompeu-o a princesa, lembrando-se da infelicidade de Dolly.
— De acordo, adeus!
Depois de terem trocado o beijo e o sinal-da-cruz do costume, os dois esposos separaram-se, ambos persuadidos de que cada um ficaria com a sua opinião. No entanto, a princesa, ainda há momentos firmemente convencida de que naquela noite se decidira do futuro de Kitty, sentia agora essa convicção um tanto abalada pelas palavras do marido. E uma vez recolhida, o futuro surgia-lhe bem pouco seguro e, tal como Kitty, repetiu várias vezes, mentalmente: «Senhor, tem piedade de mim! Senhor, tem piedade de mim!»
CAPÍTULO XVI
Vronski não sabia o que era vida de família. Quando nova, a mãe, senhora da sociedade e mulher muito atraente, não só em vida do marido, mas principalmente depois de viúva, tivera muitas aventuras, que eram do conhecimento de todos. Vronski, educado no Corpo de Pajens, mal conhecera o pai. Saíra da escola muito novo e não tardou a levar a mesma vida de todos os ricos oficiais petersburgueses. Embora freqüentasse, de quando em quando, a alta sociedade de Sampetersburgo, o certo é que os seus problemas sentimentais estavam fora desse meio.
Em Moscovo experimentara pela primeira vez, rompendo com a vida ostentosa que levava, o encanto de conviver com uma jovem da sociedade, delicada na sua candura, e que não tardara a enamorar-se dele.
Nunca lhe passara pela cabeça que pudesse haver qualquer mal nas suas relações com Kitty. Freqüentava-lhe a casa, e nos bailes dançava de preferência com ela. Falava com Kitty das coisas de que em geral se fala na sociedade: uma série de tolices a que dava, instintivamente, um sentido especial que só ele podia entender. Embora nada lhe tivesse dito que não pudesse ser repetido diante de todos, percebia que Kitty dia a dia dependia mais dele e quanto mais o reconhecia mais agradável isso se lhe tornava. O sentimento que ela lhe inspirava ia-se tornando cada vez mais delicado. Ignorava que a maneira como a tratava tinha um nome específico: tentativa de sedução sem intenções matrimoniais, má acção corrente entre jovens arrogantes como ele. Dir-se-ia que era a primeira vez que descobria semelhante prazer, e tirava dele o melhor partido possível.
Grande seria a sua surpresa se tivesse podido ouvir naquela noite a conversa travada entre os pais de Kitty, se lhe fosse dado situar-se no ponto de vista da família e inteirar-se de que a jovem seria desgraçada se não casasse com ele. Como poderia ele considerar repreensível uma coisa que tão grande prazer lhe proporcionava e que tão agradável era, sobretudo para ela, Kitty? E ainda por cima ter de casar com ela!
Nunca encarara a perspectiva do casamento. Não só não apreciava a vida familiar, como via qualquer coisa estranha, hostil, e sobretudo ridícula na família, principalmente no marido, de acordo como o ponto de vista do grupo de solteiros que freqüentava. Mas o certo é que Vronski, embora não pudesse suspeitar da conversa havida entre os pais de Kitty, ao sair naquela noite de casa dela teve a impressão de que o laço espiritual que os unia se apertava mais, e a tal ponto que seria necessário tomar uma decisão. Mas que decisão? E de que espécie? «Precisamente o agradável é que nenhum de nós tenha dito nada e que, no entanto, nos compreendamos um ao outro só com essa muda linguagem dos olhares; hoje disse-me mais claramente do que nunca que me ama. E fê-lo de um modo tão agradável, tão simples e sobretudo tão confiado! Até me deu a sensação de que sou uma pessoa melhor, mais pura. Dou-me conta de que tenho coração e que há em mim muitas coisas boas», pensava Vronski ao regressar de casa dos Tcherbatski. E, como sempre que deixava essa casa, experimentava uma agradável sensação de pureza e de juventude, por um lado em virtude de não ter fumado durante toda a noite e pelo outro graças ao sentimento desconhecido, novo para ele, que lhe inspirava o enternecimento diante de Kitty e o amor que ela lhe tinha.
«Bom, que importância tem isso? Nenhuma. É agradável para mim e para ela também.» Vronski pôs-se a pensar onde acabar aquela noite. Mentalmente reviu os lugares aonde poderia ir. «Ao clube? Fazer uma partida de bésigue e tomar champanhe com Ignative? Não, não vou. Ao Château des Fleurs, com as suas cançonetistas e os seus cancãs... e também com Oblonski? Não, estou cansado de todas essas coisas. E é precisamente por isso que tanto aprecio os Tcherbatski. Em casa deles sinto-me melhor pessoa. Vou para casa.» Dirigiu-se directamente para o seu quarto do Dusseau, pediu a ceia e assim que se despiu e que deitou a cabeça no travesseiro adormeceu pesadamente.
CAPÍTULO XVII
Às da manhã do dia seguinte Vronski foi à estação esperar a, mãe, que vinha de Sampetersburgo, e a primeira pessoa com quem se encontrou na escada foi Oblonski, que aguardava a irmã, que devia chegar no mesmo comboio.
— Seja bem aparecida Sua Alteza! A quem espera? — gritou-lhe Oblonski
— Minha mãe — respondeu Vronski, sorrindo, como todas as pessoas que se encontravam com Stepane Arkadievitch. E depois de lhe apertar a mão, subiram juntos para a gare. — Chega hoje de Sampetersburgo.
— Esperei-te ontem à noite até às . Aonde foste depois de saíres de casa dos Tcherbatski? — Para casa. Passei um serão tão agradável em casa deles que não me apeteceu ir a lugar algum — replicou Vronski.
— Conheço os cavalos fogosos pela marca e os jovens apaixonados pelos olhos — declarou Stepane Arkadievitch, repetindo o que dissera a Levine. Vronski sorriu, como a dar a entender que o não negava, mas mudou logo de conversa.
— E a quem esperas tu? — perguntou.
— Eu? A uma mulher muito bela — disse Oblonski.
— Olá!
— Honni soit qui mal y pense! Espero minha irmã Ana.
— Ah! A Karenina! —observou Vronski.
— Tu conheces-la?
Maldito seja quem mal pensar. Lema do escudo da Ordem da Jarreteira e das armas da Grã-Bretanha.
— Parece-me que sim, ou não... realmente não me recordo — replicou Vronski distraído, a quem o nome de Karenina evocava qualquer coisa de aborrecido e afectado.
— Mas com certeza conheces meu cunhado, o célebre Alexei Alexandrovitch. Toda a gente o conhece.
— Conheço-o de vista e de ouvir falar... Sei que é homem inteligente, sábio e um tanto sobrenatural... Mas, sabes, não é precisamente o meu gênero... Not in my Une — disse Vronski.
— Sim, é um homem notável; um tanto conservador, mas boa pessoa, boa pessoa — observou Stepane Arkadievitch.
— Tanto melhor para ele — tornou Vronski, sorrindo. — Ah, estás aqui! — exclamou, dirigindo-se ao velho e espadaúdo criado da mãe. — Segue-me.
Como todas as pessoas, Vronski também estava encantado com Oblonski, mas de há tempo que sentia no seu convívio um prazer muito especial: não seria ainda aproximar-se de Kitty? — Então está combinado — disse, alegremente, travando-o pelo braço. — Domingo oferecemos um jantar à diva? — Sem falta. Eu tratarei da subscrição. A propósito, conheceste ontem o meu amigo Levine? — perguntou Stepane Arkadievitch.
— Claro! Mas foi-se embora muito cedo.
— É um bom rapaz, não é verdade? — continuou Oblonski.
— Não sei porque todos os moscovitas, à excepção do que está a falar comigo, como é natural, têm certa rudeza no trato — observou, brincando. — Espinham-se à menor coisa e enfadam-se, como se nos quisessem dar uma lição.
— É verdade, é... — exclamou rindo, alegremente, Stepane Arkadievitch.
— O comboio demorará muito? — perguntou Vronski ao criado.
— Já saiu da última estação — replicou este.
O movimento crescente na gare, as idas e vindas dos carregadores, o aparecimento dos polícias, a chegada das pessoas que vinham esperar os viajantes, tudo era indício da aproximação do comboio. Fazia frio, e através da bruma viam-se operários de pelicas curtas e botas de feltro que atravessavam as linhas. Ao longe ouviu-se o silvo de uma locomotiva e daí a pouco distinguiu-se o ruído de uma massa pesada em movimento.
— Não! Não! Não apreciaste devidamente o meu amigo Levine —
Não é o meu tipo disse Stepane Arkadievitch, que muito desejava contar a Vronski as intenções de Levine a respeito de Kitty. — É um rapaz muito nervoso, que às vezes costuma ser desagradável, mas outras é capaz de ser muito simpático. E um coração de ouro, uma natureza recta e honrada. Mas ontem tinha motivos especiais — prosseguiu, com um sorriso significativo, esquecendo por completo a sincera compaixão que Levine lhe inspirara na véspera e experimentando naquele momento o mesmo sentimento em relação a Vronski. — Sim, tinha motivos para se sentir ou muito feliz ou muito desgraçado.
Vronski deteve-se, perguntando sem rodeios:
— Que queres dizer? Porventura se teria declarado ontem à tua belle-soeur?...
— Talvez — replicou Stepane Arkadievitch. — Creio que sim. Se partiu cedo e estava mal disposto, não há dúvida... Há tempo já que anda apaixonado; tenho muita pena dele.
— Ah, sim?... Seja como for, acho que Kitty pode aspirar a um melhor partido — observou Vronski, e, dilatando o peito, seguiu em frente. — Aliás, não o conheço... Deve ser, efectivamente, uma situação penosa. É por isso que a maioria dos homens prefere tratar com certas mulheres. Nessa altura, quando uma pessoa não tem êxito, é só por falta de dinheiro. Nos outros casos, os méritos pessoais é que estão em jogo. Olha, lá vem o comboio.
Com efeito, a distância, silvava a locomotiva. Transcorridos alguns minutos, a plataforma estremeceu e a locomotiva entrou na gare, lançando nuvens de fumo, que a atmosfera gelada fazia descer para a terra, passando, ruidosamente, diante das pessoas que se aglomeravam na gare, às quais o maquinista, todo agasalhado e coberto de gelo, acenava com a mão, enquanto a biela da roda central se movia lentamente. Subitamente a plataforma foi ainda mais violentamente sacudida. Atrás do tender, refreando a marcha pouco a pouco, surgiu o furgão, onde um cão uivava, e, por fim, apareceram os vagões dos passageiros, que antes de parar foram sacudidos por um movimento brusco.
O condutor fez soar o apito ainda com a composição em movimento, e saltou. Depois principiaram a desembarcar, um por um, os passageiros impacientes: um oficial da Guarda, muito hirto, que olhava à sua volta com uma expressão severa; um jovem comerciante, ágil e sorridente, que carregava uma pasta; e, por fim, um camponês com uma sacola ao ombro.
Vronski, que se conservava ao lado de Oblonski, ia observando os vagões e os passageiros que desciam, esquecido da mãe. O que acabava de saber de Kitty emocionara-o; causava-lhe satisfação. Sem dar por isso, dilatara o tórax enquanto os olhos lhe faiscavam. Sentia-se vitorioso.
— A condessa Vronski vem naquela carruagem — disse o condutor, aproximando-se dele.
Estas palavras despertaram Vronski, obrigando-o a lembrar-se da mãe e da entrevista que daí a pouco iria ter com ela. No fundo da sua alma não respeitava a mãe e, conquanto não desse por isso, também não a estimava verdadeiramente.
De acordo com a mentalidade do meio em que vivia e a educação que recebera, não podia imaginar outras relações com ela além das do respeito e da extrema obediência, relações que se tornavam tanto mais aparentes quanto menos a estimava e respeitava no seu íntimo.
CAPÍTULO XVIII
Vronski seguiu o condutor e subiu ao estribo do vagão, detendo-se à entrada do compartimento para dar passagem a uma senhora que saía.
Com a sua velha experiência de homem de sociedade, bastou-lhe um olhar para compreender, pelo aspecto da desconhecida, que pertencia à alta-roda. Curvou-se e ia entrar no vagão quando sentiu necessidade de voltar a olhá-la, não atraído pela sua beleza, nem pela sua elegância, nem pela singela graça que se desprendia de toda a sua pessoa, mas apenas porque a expressão do seu rosto encantador, quando passara junto dele, se mostrara especialmente suave e delicada. No momento em que se voltou, também ela olhara para trás. Os seus brilhantes olhos cinzentos, que pareciam escuros graças às espessas pestanas, detiveram-se nele, amistosos e atentos, como se o reconhecessem, e imediatamente se desviaram para a estação, como que procurando alguém. Naquele rápido olhar, Vronski teve tempo de lhe observar a expressão de uma vivacidade contida, os olhos reluzentes e o sorriso quase imperceptível dos lábios rubros. Parecia que algo excessivo lhe inundava o ser e, a pesar seu, transbordava ora do olhar luminoso, ora do sorriso. Não obstante ter velado intencionalmente a luz dos olhos, ela transparecia através do leve sorriso.
Vronski penetrou no compartimento. A mãe, uma velhinha mirrada, de olhos negros e caracóis na testa, apertou os olhos ao examinar o filho e um leve sorriso lhe aflorou aos lábios delgados. Levantou-se, passou uma maleta à criada grave, estendeu a mão magra ao filho, que a beijou, beijando-o ela, por sua vez.
— Recebeste o telegrama? Estás bem? Graças a Deus!
— Fez boa viagem? — perguntou Vronski, sentando-se a seu lado. Involuntariamente ia ouvindo uma voz feminina que ressoava do outro lado da portinhola. Sabia que era a voz da senhora com quem se cruzara à entrada do comboio.
— Não estou de acordo consigo — dizia essa voz.
— É o ponto de vista petersburguês, é o ponto de vista feminino — respondia ela.
— Então! Consinta que lhe beije a mão.
— Adeus, Ivan Petrovitch. Faça o favor de ver se o meu irmão está aí e diga-lhe que venha ter comigo — disse a mesma senhora, junto à portinhola, voltando ao compartimento.
— Encontrou o seu irmão? — inquiriu a Vronskaia, dirigindo-se a ela. Naquele momento, Vronski compreendeu que devia tratar-se da Karenina.
— Seu irmão está aí — disse-lhe ele, levantando-se. — Perdoe-me, não a tinha reconhecido; aliás, tão rápido foi o nosso encontro que é natural que não se lembre de mim.
— Oh, sim! Tê-lo-ia reconhecido, porque durante a viagem sua mãe e eu falámos muito a seu respeito — replicou Karenina, deixando, por fim, que o riso se lhe espalhasse no rosto. — Mas meu irmão é que não aparece.
— Vai chamá-lo, Aliocha — disse a idosa condessa. Vronski desceu à plataforma e gritou:
— Oblonski, estamos aqui!
Ana Karenina, porém, não esperou pelo irmão; ao vê-lo, saiu da carruagem com seu passo decidido e ligeiro. Quando chegou junto dele, num gesto que surpreendeu Vronski pela graça e firmeza, abraçou Stepane Arkadievitch com o braço esquerdo, puxando-o a si e beijando-o efusivamente. Vronski, sem a perder de vista, olhava-a, sorrindo sem saber porquê. Ao lembrar-se de que sua mãe o esperava, voltou para a composição.
— Não é uma pessoa muito agradável? — perguntou a condessa.
— O marido veio instalá-la a meu lado e isso deu-me muito prazer. Conversámos toda a viagem. Bom, e de ti dizem que... vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux.
— Não sei a que te referes, maman — replicou Vronski friamente.
— Bom, maman, vamos?
Ana Karenina voltou ao vagão para se despedir da condessa.
— Bem, condessa, encontrou o seu filho e eu encontrei meu irmão — disse alegremente. — Esgotei todo o meu repertório, já não teria mais nada para lhe contar.
— Não creio. Era capaz de dar a volta ao Mundo na sua companhia sem me aborrecer — replicou a condessa, pegando-lhe na mão. — É uma pessoa simpática com quem é agradável conversarmos e até estarmos calados. Não pense tanto no seu filho, peco-lhe: é bom separar-se dele de vez em quando entregas-te ao amor platônico. Tanto melhor, querido, tanto melhor Ana Karenina permanecia imóvel, muito direita, os olhos risonhos.
— Ana Arkadievna tem um filho de oito anos, de quem nunca se separou, e está saudosíssima por ter sido obrigada a deixá-lo em Sampetersburgo — explicou a condessa a Vronski.
— Sim, passámos a viagem toda a conversar: eu, de meu filho; e a condessa, do seu — disse Ana Karenina, e de novo um sorriso lhe iluminou o rosto, e esse sorriso destinava-se a ele.
— Isso deve tê-la maçado muito — disse Vronski, que devolvia a Ana Karenina a coquetterie que ela lhe lançara, como quem devolve uma bola. Mas, pelo visto, Ana não queria continuar a conversa nesse tom e dirigiu-se, desta vez; à idosa senhora: — Estou-lhe muito agradecida. O dia de ontem passou sem que eu desse por isso. Até à vista, condessa.
— Adeus, minha senhora — replicou a mãe de Vronski. — Permita que lhe beije o lindo rosto e que lhe diga, velha que sou, que me conquistou inteiramente.
Apesar do que havia de convencional nesta frase, Ana Karenina pareceu acreditar nela e sentir-se comovida. Corou, inclinou-se ligeiramente e aproximou o rosto dos lábios da velha condessa; depois soergueu-se e com o mesmo sorriso inquieto estendeu a mão a Vronski. Este apertou aquela pequenina mão, muito feliz, como se fosse uma coisa extraordinária poder corresponder àquela pressão firme e enérgica. Ana Karenina saiu em passos rápidos, numa ligeireza surpreendente, dadas as suas formas pronunciadas.
— Encantadora! — exclamou a condessa.
O filho era da mesma opinião. Seguiu-a com os olhos até lhe perder de vista a graciosa figura, e só então o sorriso lhe desapareceu dos lábios. Através da portinhola viu-a aproximar-se do irmão, pôr-lhe a mão no ombro e principiar a falar animadamente, sem dúvida de qualquer coisa sem a menor relação com Vronski, o que se lhe afigurou desagradável.
— Bom, maman, estás mesmo bem? — voltou a perguntar, dirigindo-se à mãe.
— Muito bem, maravilhosamente. Alexandre esteve muito simpático. E Maria está uma beleza. É uma mulher muito interessante.
E principiou a falar do que mais a interessava: o baptizado do neto — fora a Sampetersburgo para assistir a esse baptizado — e a especial atenção que o soberano dispensava ao seu filho mais velho.
— Ali está o Lavrenti, se queres podemos descer — disse Vronski, olhando pela janela.
O velho mordomo, que acompanhara a condessa na viagem, entrou no compartimento para dizer que tudo estava em ordem. A condessa levantou-se.
— Vamo-nos, agora há pouca gente — disse Vronski.
A criada grave pegou na maleta e no cãozinho, o mordomo e o carregador apanharam o resto da bagagem. Vronski deu o braço à mãe, mas quando desciam do comboio viram umas pessoas assustadas que passavam a correr. Atrás delas seguia o chefe da estação com o seu gorro de cor espaventosa. Devia ter acontecido alguma coisa imprevista. Os passageiros do comboio retomavam, correndo.
— Que foi?... Que aconteceu?... Onde...? Atirou-se?... Morreu?... — ouvia-se entre os que passavam.
Stepane Arkadievitch, de braço dado com a irmã, voltava também. No rosto deles havia uma expressão assustada. Para evitarem a multidão, pararam, muito aflitos, junto da portinhola do vagão.
As duas senhoras subiram para a carruagem, enquanto Vronski Estepane Arkadievitch iam inteirar-se dos pormenores do desastre.
O agulheiro, ou porque estivesse bêbedo, ou porque não ouvisse o comboio, de tão enroupado que estava por causa do frio, fora apanhado pela composição que recuava.
Antes do regresso de Vronski e de Stepane Arkadievitch já as senhoras estavam ao corrente de tudo através do mordomo.
Stepane Arkadievitch vira o cadáver mutilado. Oblonski estava visivelmente emocionado. Fazia caretas e por pouco não chorava.
— Ai, que horror! Se o tivesses visto, Ana! Que coisa horrível! — dizia ele. sereno.
Vronski estava calado, mas havia gravidade no seu rosto, aliás
— Ah, se o tivesse visto, condessa — exclamou Stepane Arkadievitch.— Está aí a mulher dele... Que horror... Atirou-se para cima do cadáver. Dizem que ele era o único a ganhar para uma numerosa família. Que desgraça! — Não poderíamos fazer alguma coisa por ela? — murmurou Ana Karenina, emocionada.
Vronski relanceou-lhe uma olhar e acto contínuo saiu do vagão.
— Volto já, maman — disse ele da portinhola.
Quando regressou, passados alguns minutos, Oblonski falava com a condessa de uma nova cantora, enquanto esta olhava impaciente para a portinhola, ansiosa pelo filho.
— Podemos partir — disse Vronski, entrando de novo no compartimento.
Desceram juntos. Vronski e a mãe seguiam adiante. Ana e o irmão atrás deles. À saída, o chefe da estação veio ao encontro de Vronski.
— O senhor entregou duzentos rublos ao meu ajudante. Faça o favor de dizer a quem se destinam? — À viúva — disse Vronski, encolhendo os ombros. — Não sei por que faz essa pergunta! — Deste-lhe dinheiro? —gritou Oblonski, e apertando o braço da irmã, acrescentou: — Muito bem, muito bem! Que rapaz encantador, não é verdade? Meus parabéns, condessa!
Oblonski e a irmã detiveram-se à procura da criada. Quando chegaram à porta da estação já a carruagem dos Vronski partira. As pessoas que entravam ainda faziam comentários sobre o sucedido.
— Uma morte horrível — comentava um cavalheiro que passava junto deles. — Dizem que ficou dividido em dois.
— Pelo contrário, a mim parece-me que foi a melhor deste mundo, repentinamente — dizia outro.
— Não percebo por que não se tomam medidas de precaução... — observou um terceiro.
Ana Karenina subiu para a carruagem e Oblonski viu, assombrado, que lhe tremiam os lábios e que mal podia conter as lágrimas.
— Que tens, Ana? — perguntou-lhe, quando o veículo se pôs em marcha.
— É mau presságio — respondeu ela.
— Tolices! Chegaste, é o principal. Pus todas as minhas esperanças na tua viagem.
— Conheces Vronski há muito tempo? — perguntou Ana.
— Sim, acho que acabará por casar com a Kitty, sabes?
— Realmente?...—comentou Ana em voz baixa. — Bem, agora falemos de ti. Recebi as tuas cartas e aqui me tens.
— Sim, todas as minhas esperanças estão em ti — acrescentou Stepane Arkadievitch.
— Conta-me tudo.
E Stepane Arkadievitch pôs-se a relatar o que acontecera. Ao chegar a casa, Oblonski ajudou a irmã a descer, suspirou, apertou-lhe a mão e dirigiu-se ao tribunal.
CAPÍTULO XIX
Quando Ana entrou na salinha, Dolly dava lição de francês a um rapazinho, gorducho e louro como o pai. Enquanto ia lendo a lição, o pequeno tentava arrancar o botão do casaco já meio desprendido. Por várias vezes a mãe o repreendera por isso, mas a mãozinha gorda da criança voltava a agarrar o botão. Então Dolly arrancou-o e guardou-o no bolso.
— Fica sossegado com as mãos, Gricha — disse-lhe ela.
E continuou o trabalho em que estava absorvida. Era uma colcha que principiara havia muito e em que apenas trabalhava nos momentos difíceis. Trabalhava nervosamente, encolhendo e distendendo os dedos, contando e recontando as malhas. Embora tivesse dito na véspera ao marido que pouco lhe importava a chegada da irmã dele, o certo é que preparara tudo pira a receber e esperava a com impaciência.
Por mais abatida e preocupada que estivesse com a sua dor, Dolly não podia esquecer se de que Ana, sua cunhada, era uma grande dama e esposa de uma das personalidades mais importantes de Sampetersburgo. Não ousaria, portanto, recebê-la mal «Além disso», dissera ela de si para consigo, «Ana não tem culpa de coisa alguma. Sempre tenho ouvido falar bem dela, e no que me diz respeito sempre me deu provas de amizade e de carinho» Era certo que, segundo se recordava, a casa dos Karenine em Petersburgo não lhe produzira muito boa impressão havia qualquer coisa de falso na maneira de viver daquela família «Por que não haveria ela de a receber? Desde que se não lembre de me vir consolar!», pensava Dolly «Conheço muito bem essas exortações, essas admoestações, esses apelos à clemência cristã Já ruminei tudo isso quanto basta para saber o que vale.»
Todos aqueles dias estivera sozinha com os filhos. Não queria falar à ninguém na sua infelicidade, embora se sentisse incapaz de abordar qualquer outro assunto. Compreendia que com Ana se veria obrigada a romper o silêncio e ora lhe sorria a perspectiva dessa confidência ora, pelo contrario, a necessidade de revelar à irmã do marido a humilhação por que passava, e o ter de lhe ouvir as banais consolações, afiguravam -se lhe coisas intoleráveis.
Olhando a cada passo o relógio, ia contando os minutos, à espera de vê-la aparecer de um momento para o outro, mas, como tantas vezes acontece em casos semelhantes, tão abstracta estava que não ouvira a campainha. Quando passos ligeiros e o frufru de um vestido junto à porta a fizeram levantar a cabeça no seu rosto atormentado não se reflectiu alegria, mas surpresa Ergueu se para abraçar a cunhada.
— Como, pois já chegaste? — perguntou, beijando-a.
— Dolly? Que contente estou em tornar a ver te?
— E eu também — respondeu Dolly, sorrindo ligeiramente e pró curando averiguar, através da expressão da cunhada se ela estava ou não inteirada do sucedido.
«Deve saber tudo», pensou, ao reparar na expressão compadecida de Ana. E, procurando protelar quanto pudesse o momento da explicação, continuou.
— Vem daí Quero levar te ao teu quarto.
— Este é o Gricha? Meu Deus, que crescido está! Não, permite que fique aqui — replicou Ana, e beijando a criança sem afastar os olhos da cunhada, corou.
Tirou o xale e o chapéu que se prendeu nos cabelos negros frisados, e que conseguiu desprender sacudindo a cabeça.
— Estás radiante de felicidade e de saúde? — disse Dolly quase com inveja — Eu Sim — aquiesceu Ana — Meu Deus, Tânia? — És da idade do meu Seriocha — acrescentou, dirigindo se à menina que entrava na sala correndo. Pegou lhe nas mãos e beijou-a — Que criança encantadora! Quero vê-los todos.
Lembrava se não só do nome e da idade de todas as crianças, mas até do feitio de cada uma e das doenças que tinham tido Dolly sentiu se tocada por tanta solicitude.
— Pois, sim vamos velas — disse ela — Vácia está a dormir, é uma pena.
Depois de ver as crianças, sentaram se as duas no salão diante de duas xícaras de café Ana estendeu a mão para a bandeja, mas logo a repeliu.
— Dolly, Stepane falou me de tudo — disse ela Dolly olhou a friamente. Esperava ouvir frases de fingida compaixão, mas Ana nada disse que se parecesse com isso.
— Dolly, querida — principiou — Não quero defendê-lo nem consolar te, é impossível. Deixa que te diga, apenas, que te lamento do fundo do coração? Por detrás das espessas pestanas reluziam as lágrimas Sentia se mais próxima da cunhada, e tomou a mão dela na sua mão pequena e enérgica Dolly não a retirou, mas a sua expressão continuava a ser fria.
— É inútil tentares consolar me. Depois do que aconteceu, tudo está irremediavelmente perdido.
Mas assim que pronunciou estas palavras, a expressão do seu rosto suavizou se subitamente Ana levou aos lábios a mão delgada e seca da cunhada e beijou a.
— Mas, enfim, Dolly, que pretendes fazer? Esta situação falsa não pode prolongar se Não seria melhor pensarmos numa solução qualquer? — Tudo acabou — disse Dolly — E o mais terrível, como vês, é que não posso deixá-lo, estou amarrada pelas crianças Mas não posso continuar a viver com ele, vê-lo é uma tortura para mim.
— Dolly, minha querida, o Stepane contou me tudo, mas eu gostaria que tu mo contasses por tua vez.
Dolly olhou para ela com uma expressão interrogativa. O carinho e a compaixão eram sinceros no rosto de Ana.
— Está bem, mas terei de te contar tudo desde o princípio — disse, de súbito — Sabes como me casei. Com a educação que a maman me deu, não era apenas inocente, era estúpida. Ignorava tudo. Dizem que os maridos costumam abrir se com as mulheres sobre a sua vida passada, mas Stiva — corrigiu — Stepane Arkadievitch não me contou nada. Talvez não acredites, até agora estava convencida de que tinha sido a única mulher na sua vida. E assim vivi oito anos. Compreendes não só não me passava pela cabeça que me fosse infiel, como até julgava isso impossível, e, com estas ideias na cabeça, podes imaginar o que foi para mim saber de um momento para o outro de todo esse horror, dessa vilania... Compreende-me. Estar inteiramente confiante na felicidade e de repente... — continuou Dolly, reprimindo os soluços — receber uma carta... uma carta dele dirigida à amante, à preceptora dos seus filhos. Não! É uma coisa horrível! — Dolly puxou apressadamente o lenço, escondeu o rosto com ele e depois de um silêncio continuou: — Ainda posso admitir um momento de desvairamento, mas enamorar-se premeditadamente, enganar-me com malícia... e com quem?... E continuar a ser meu marido enquanto mantinha relações com ela!... Isto é horrível! Não podes fazer ideia.
— Estás enganada, faço, faço ideia, querida Dolly — exclamou Ana, apertando-lhe a mão.
— Ainda se ao menos se desse conta do horror da minha situação! — prosseguiu Dolly. — Mas não, continua feliz e satisfeito.
— Oh, não! — interrompeu-a Ana, pressurosa. — Faz pena olhar para ele: está cheio de remorsos, arrependidíssimo.
— Achas que é capaz de sentir remorsos? — interrompeu Dolly, por sua vez, observando atentamente a expressão da cunhada.
— É. Eu conheço-o. Não pude olhar para ele sem compaixão. Ambas o conhecemos. É bom, mas altivo, e agora sente-se tão humilhado... O que mais me impressiona — naquele momento Ana adivinhou o que mais poderia calar no espírito de Dolly — é que o atormentam duas coisas: o que ele sofre por causa das crianças e quanto sofre por te ter ferido, a ti, a quem ele ama, sim, sim, a quem ele ama acima de tudo neste mundo — insistiu ela, com receio de que Dolly a desmentisse. — «Não, não, ela nunca me perdoará», está sempre a dizer.
Dolly desviara os olhos da cunhada; meditava.
— Sim — disse ela, finalmente —, compreendo que a situação dele seja horrível. O culpado deve sofrer mais do que o inocente, quando se reconhece a causa de todo o mal. Mas como hei-de eu perdoar-lhe e voltar a ser mulher dele depois das suas relações com «ela»? A vida em comum será para mim agora um suplício, precisamente porque não posso esquecer o amor que lhe tinha antes disto...
Os soluços abafaram-lhe as palavras. Mas, como de caso pensado, logo que se comovia, voltava de novo a falar do que a irritava.
— Sim, a verdade é que ela é nova e bonita. Não compreendes, Ana, que a minha juventude e a minha beleza me foram arrebatadas?... E por quem? Por ele e pelos seus filhos. Tudo sacrifiquei por eles, e agora que já não presto para nada, é natural que ele prefira uma jovem, embora vulgar. Naturalmente divertiram-se à minha custa, ou pior ainda, esqueceram-se por completo de que eu existia. — Uma expressão de ódio perpassou nos olhos de Dolly. — E que poderá ele vir dizer-me agora, depois disto?... Como hei-de eu acreditar nele? Nunca. Não, agora tudo acabou, tudo, tudo o que constituía a consolação, a recompensa dos trabalhos, dos sofrimentos... Serás capaz de acreditar? Estava dando a lição ao Gricha, o que antigamente para mim era uma alegria, e com que tormento o faço agora! Para que me esforço eu? Para que trabalho? É horrível que tudo se haja modificado na minha alma: em vez de amor e de ternura, ia não tenho dentro de mim senão ódio, sim, é ódio que eu sinto. Era capaz de matá-lo...
— Dolly, querida, compreendo perfeitamente, mas não te atormentes. Sentes-te tão ofendida e estás tão excitada que não és capaz de ver as coisas como elas realmente são.
Dolly serenou, e ambas ficaram caladas.
— Que hei-de fazer, Ana? Pensa e ajuda-me. Já examinei tudo e não me ocorre nada.
Para Ana afigurava-se-lhe difícil encontrar uma solução, mas cada palavra, cada olhar da cunhada achavam eco no seu coração.
— Uma coisa te posso dizer: sou irmã dele e conheço-lhe o carácter e a capacidade que tem de tudo esquecer — levou a mão à cabeça —, essa capacidade de se deixar seduzir completamente, mas, ao mesmo tempo, de cair em si e de se arrepender. Agora não compreende, não concebe que tenha sido capaz de proceder dessa maneira.
— Oh, não!—interrompeu-a Dolly.—Compreende-o, sempre o compreendeu perfeitamente. Aliás, pareces esquecer-te de mim, pois, ainda que assim fosse da parte dele, nem por isso eu sofreria menos.
— Ouve. Confesso-te que quando ele me falou eu não compreendi todo o horror da situação. Só via que ele me fazia pena, e à desordem do vosso lar. Foi dele que tive pena, mas agora, ao falar contigo, como mulher que sou, vejo as coisas de outra maneira: vejo o teu sofrimento e não sei dizer-te quanto te lastimo. Mas Dolly, minha querida, embora compreenda plenamente as tuas dores, uma coisa ignoro: até que ponto, no fundo do teu coração, ainda lhe queres. Só tu poderás saber se esse amor ainda chega para lhe poderes perdoar. Se ainda lhe queres o suficiente, perdoa-lhe.
— Não — ia dizer Dolly, mas Ana interrompeu-a, dando-lhe outro beijo na mão.
— Conheço o mundo melhor do que tu — disse ela. — Sei como os homens do tipo do Stiva encaram estas coisas. Dizes que eles teriam falado de ti. Nada disso. Os homens assim cometem infidelidades, é certo, mas o lar e a mulher são sagrados para eles. Desprezam as outras mulheres, que não representam de maneira alguma um perigo para a família. Eu não posso compreender, mas é assim mesmo.
— Sim, mas ele beijou-a...
— Dolly, escuta, minha querida. Vi o Stiva quando estava enamorado de ti. Lembro-me da época em que vinha a minha casa, e chorava ao falar de ti, tão elevada e poeticamente te considerava, e sei que quanto mais tem vivido contigo tanto mais te respeita. Costumávamos rir-nos dele, porque estava sempre a dizer: «A Dolly é uma mulher excepcional.» Sempre foste e sempre continuarás a ser para ele uma divindade; ora, no capricho que ele teve agora o coração nunca entrou.
— Mas se volta a fazer o mesmo?
— Isso parece-me impossível.
— E tu, no meu lugar, perdoarias?
— Não sei, não me é possível julgar... — e, depois de pensar um momento, depois de sopesar mentalmente a situação, acrescentou: — Sim, seria capaz de o fazer! Não voltaria a ser a mesma, mas perdoar-lhe-ia... e perdoar-lhe-ia como se nada se tivesse passado, absolutamente nada.
— Claro, pois de outro modo não seria perdoar — interrompeu-a Dolly, com vivacidade, como se dissesse qualquer coisa em que já pensara mais de uma vez. — Sim, quando se perdoa, tem de perdoar-se de maneira completa, absoluta... Anda, vamos, quero acompanhar-te ao teu quarto — acrescentou, pondo-se de pé e logo em seguida abraçando-a.
— Minha querida, que bem fizeste em teres vindo. Sinto-me aliviada, muito aliviada.
CAPÍTULO XX
Ana não saiu de casa naquele dia, quer dizer, de casa dos Oblonski, e não recebeu ninguém, nenhuma das pessoas que, prevenidas da sua chegada, a vieram visitar. Passou toda a manhã com Dolly e com as crianças. Entretanto mandara recado ao irmão, pedindo-lhe que viesse sem falta a casa. «Vem», dizia-lhe ela; «a misericórdia de Deus é infinita!» Oblonski jantou, pois, em casa; mantiveram uma conversa geral e a mulher tratou-o por tu, coisa que não fazia desde o que acontecera. As relações entre os dois permaneciam tensas, mas já não se falava em separação e Stepane Arkadievitch vislumbrava a possibilidade de chegarem a um acordo e reconciliarem-se.
Logo que acabaram de jantar, apareceu Kitty. Mal conhecia Ana Karenina e não sabia como a iria receber essa grande dama petersburguesa, que todos elogiavam tanto. Mas não tardou a tranqüilizar-se, pois sentiu que a sua beleza e a sua juventude agradavam a Ana, de quem, de resto, ela própria desde logo se encantou, como acontece às vezes às jovens que ficam como que fascinadas pelas mulheres casadas mais velhas do que elas. Ana não parecia uma senhora da sociedade nem a mãe de um filho de oito anos, mas uma garota de vinte anos, a julgar pela flexibilidade dos seus gestos, a frescura e a vivacidade da expressão, que ora lhe transparecia nos lábios ora nos olhos, agora séria e logo triste, coisa que muito surpreendeu Kitty. Foi precisamente esta particularidade que a seduziu: para além da simplicidade e da franqueza de Ana, adivinhava todo um mundo de poesia, misterioso, complexo, que se lhe afigurava inacessível. Depois do jantar, quando Dolly se retirou para os seus aposentos, Ana levantou-se e aproximou-se do irmão, que acendia um cigarro.
— Stiva — disse-lhe ela, persignando-se, ao mesmo tempo que lhe indicava com os olhos a porta da sala —, vai e que Deus te ajude! Oblonski compreendera e jogando fora o cigarro desapareceu, enquanto Ana voltava para junto das crianças. Em virtude da afeição que viam a mãe testemunhar-lhe ou apenas porque ela os conquistara de uma só vez, os dois mais velhos, e depois os mais novos, imitando-os, já antes do jantar se tinham agarrado às saias daquela nova tia e não queriam por nada deste mundo abandoná-la. Entre eles estabelecera-se uma espécie de jogo que consistia em se sentarem o mais perto possível dela, em tocar-lhe, em pegar-lhe na minúscula mão, dar-lhe beijos e brincar com o anel que ela trazia, ou pelo menos em se roçarem na sua saia.
— Bom, vamos outra vez para os nossos lugares, como estávamos há pouco — disse Ana Arkadievna, instalando-se no seu cantinho.
Gricha voltou a passar a cabeça por debaixo do braço de Ana, aninhando-se no vestido de seda, orgulhoso e radiante de felicidade.
— Quando é o próximo baile? — perguntou Ana a Kitty.
— Na semana que vem. Vai ser magnífico. Um desses bailes em que as pessoas estão sempre alegres.
— Há realmente bailes em que estejamos sempre alegres? — perguntou Ana com uma ligeira ironia.
— Embora pareça estranho, a verdade é que há. Em casa dos Bobrietchev estamos sempre alegres e em casa dos Nikitine também. Em compensação, na dos Mechkov estamos sempre aborrecidos. Nunca reparou nisso?
— Não, querida. Para mim já não existem desses bailes em que estamos sempre divertidas — disse Ana, e Kitty viu que lhe transparecia nos olhos esse mundo singular que nunca lhe fora revelado. — Para mim, há bailes menos penosos e menos aborrecidos...
— Como pode a senhora aborrecer-se num baile?
— Por que não havia «eu» de me aborrecer num baile? — perguntou Ana.
Kitty percebeu que Ana sabia a resposta que ela lhe iria dar.
— Porque é a mais bela de todas.
Ana corou, coisa que lhe acontecia freqüentemente, e disse:
— Em primeiro lugar, não é verdade. E ainda que o fosse, de que me serviria?
— Assistirá a esse baile? — perguntou Kitty.
— Vejo que não terei outro remédio senão assistir. Toma, apanha-o — disse a Tânia, que procurava tirar-lhe o anel, que lhe deslizava com facilidade pelo dedo branco e afilado.
— Gostaria muito que fosse. Seria tão bom vê-la no baile!
— Se me vir obrigada a ir, ao menos consolar-me-á a ideia de que lhe darei com isso satisfação... Gricha, não me puxes pelo cabelo, que já estou bastante despenteada — protestou, ajeitando um cacho de cabelos com que o pequeno se entretinha.
— Estou a vê-la no baile vestida de lilás.
— Por que há-de ser de lilás? — perguntou Ana, sorrindo. — Vamos, meninos, não estão a ouvir Miss Hull chamá-los para o chá? — acrescentou, repelindo as crianças, que se dirigiam à sala de jantar. — Já sei por que quer que eu vá ao baile. Espera muito dessa noite e deseja que todos tomem parte no seu triunfo.
— É verdade. Como sabe?
— Oh! Feliz idade a sua! Conheço-a, recordo muito bem essa neblina azul que faz lembrar a das montanhas suíças, essa bruma que tudo envolve, na época ditosa em que a infância está prestes a acabar, quando esse grande círculo divertido e feliz se converte num caminho cada vez mais estreito, num desfiladeiro ao mesmo tempo alegre e angustioso, embora pareça diáfano É encantador... Quem não passou por isso? Kitty sorria, calada. «Como teria ela vivido esse tempo? Gostaria tanto de saber!», pensou, recordando a figura pouco poética de Alexei Alexandrovitch, o marido de Ana.
— Sei alguma coisa a seu respeito. O Stiva contou-me. Felicito-a. Acho Vronski um rapaz muito agradável, encontrei-o na estação — prosseguiu Ana.
— Ah! Esteve na estação? — perguntou Kitty, corando. — E que lhe disse o Stiva? — Contou-me tudo. Da minha parte, teria muita satisfação... Fiz a viagem com a mãe de Vronski, que me falou dele todo o tempo; é o seu filho predilecto. Bem sei que as mães são parciais, no entanto...
— E que lhe contou?
— Oh! Muitas coisas. E embora eu saiba que é o seu filho predilecto, vê-se bem que é um cavalheiro. Contou-pie, por exemplo, que Vronski quis ceder todos os seus bens ao irmão e que criança ainda fez uma proeza extraordinária: salvou uma mulher de morrer afogada. Numa palavra: é um herói — disse Ana, sorrindo.
E lembrou-se dos duzentos rublos que Vronski dera ao empregado da estação. Disso, porém, não falou a Kitty. Lembrava-se dessa circunstância com um certo mal-estar, pois sentira nesse acto qualquer coisa que se relacionava com ela, algo que fora melhor não ter acontecido.
— Pediu-me muito que a fosse visitar, e terei grande satisfação em tornar a ver essa velhinha. Irei a casa dela amanhã. Graças a Deus, Stiva está-se demorando muito com Dolly no gabinete — acrescentou Ana, mudando de assunto e pondo-se de pé, contrariada por qualquer motivo, segundo pareceu a Kitty.
— Eu primeiro! Não, eu!—gritavam os pequenos, que tinham acabado de tomar o chá e corriam ao encontro de Ana.
— Todos ao mesmo tempo — exclamou ela. E rindo, correu para eles, abraçando o bando de crianças buliçosas que chilreavam entusiasmadas.
CAPÍTULO XXI
Depois do chá das crianças, foi servido o chá dos adultos. Dolly saiu sozinha do quarto de dormir, pois Stepane Arkadievitch devia ter saído por outra porta — Tenho receio de que sintas frio no quarto lá de cima — observou Dolly, dirigindo-se à cunhada. — Vou-te instalar lá em baixo e assim ficaremos mais perto
— Não te preocupes comigo — replicou Ana, fitando Dolly, procurando descobrir se a reconciliação era um facto.
— Aqui terás melhor luz.
— Garanto-te que durmo como uma pedra seja onde for.
— De que se trata? — perguntou Stepane Arkadievitch, que saíra do escritório e se dirigia à mulher.
Ana e Kitty compreenderam imediatamente pelo tom da voz dele que se tinham reconciliado.
— Queria instalar Ana aqui em baixo, mas é preciso pôr umas cortinas. Ninguém será capaz de fazê-lo, e terei eu mesma de pô-las — replicou Dolly.
«Só Deus sabe se se teriam reconciliado de todo», pensou Ana, ao ouvir o tom frio e severo da voz da cunhada.
— Bom, não vale a pena complicar as coisas, Dolly! — volveu Stepane Arkadievitch. — Mas, se quiseres, eu me encarregarei de tudo.
«Sim, devem ter-se reconciliado», reconsiderou Ana.
— Sim, já sei. Mandarás o Matvei fazer coisas impossíveis. E depois ir-te-ás embora, deixando que ele faça tudo ao contrário — replicou Dolly.
E o costumeiro sorriso irônico franziu-lhe as comissuras dos lábios.
«Graças a Deus, a reconciliação é completa, completa», voltou Ana a pensar. E contente por ter concorrido para isso, aproximou-se de Dolly e beijou-a.
— Ora, ora! Por que nos tens em tão pequena conta, a mim e ao Matvei? — perguntou Stepane Arkadievitch com um imperceptível sorriso.
Durante toda a tarde, Dolly conservou se ligeiramente irônica para com o marido e este mostrou-se contente e alegre, mas não tanto que desse a entender que, uma vez perdoado, se esquecera por completo da sua culpa. Às nove e meia o serão familiar, particularmente alegre e agradável, à mesa do chá dos Oblonski, foi interrompido por um acontecimento dos mais vulgares, o qual, no entanto, sem qualquer motivo, a todos pareceu surpreendente. Falavam de amigos comuns de Sampetersburgo quando, de súbito, Ana se levantou.
— Vou mostrar-lhes a fotografia do meu Seriocha — disse ela com um sorriso de orgulho maternal — Tenho-a comigo no meu álbum.
Por volta das dez horas da noite é que ela habitualmente costumava despedir se do filho. Muitas vezes, mesmo, antes de sair para um baile, era ela quem o deitava por suas próprias mãos. Eis por que, quando essa hora se aproximava, sempre se sentia triste quando estava longe dele. Fosse qual fosse o assunto de que se falasse, tinha sempre de pensar no garotinho de cabelinho encaracolado. Assim, um grande desejo a assaltou de falar nele e de lhe contemplar o retrato. E aproveitando o primeiro pretexto, saiu da sala no seu passo ligeiro e decidido. A escadinha que conduzia ao seu quarto dava para um patamar da escadaria principal muito aquecida. No momento em que Ana deixava o salão, retinia a campainha do vestíbulo.
— Quem será? — perguntou Dolly.
— É cedo ainda para me virem buscar, mas, para uma visita, já é tarde — observou Kitty.
— Naturalmente são alguns documentos para mim — interveio Stepane Arkadievitch.
Quando Ana atravessava o patamar da escadaria, subia o criado para anunciar a pessoa recém chegada, nessa altura sob a luz do candelabro, em baixo, no átrio Ana olhou para o fundo das escadas e logo reconheceu Vronski, ao mesmo tempo que um estranho sentimento de alegria e receio lhe agitava o coração Vronski, de capote, procurava qualquer coisa no bolso. No momento em que Ana atingia o centro do patamar, ergueu os olhos e ao vê-la o seu rosto reflectiu confusão e receio. Ana desapareceu, com um ligeiro aceno de cabeça, e daí a pouco ouvia se a sonora voz de Stepane Arkadievitch, que convidava Vronski a subir, e a deste, baixa, suave e serena, que recusava.
Quando Ana voltou com o álbum, Vronski já não estava e Stepane Arkadievitch contava que o amigo, de passagem, quisera informar-se acerca de um jantar em organização para homenagear uma celebridade que vinha de fora.
— Não quis subir por nada deste mundo! Que original! — acrescentou.
Kitty corara. Julgava só ela compreender a razão por que Vronski ali aparecera, e porque se recusara a subir «Naturalmente foi a minha casa e, como eu não estivesse, pensou, talvez, encontrar-me aqui. Mas não quis entrar por ser tarde e pela presença de Ana.» Todos se entreolharam sem dizer palavra e em seguida puseram-se a folhear o álbum de Ana. Não havia nada de particular nem de estranho no facto de alguém visitar um amigo às nove e meia de noite para colher um informe sobre um banquete que se estava a organizar e não ter querido subir, mas a verdade é que a todos surpreendeu. E a pessoa mais surpreendida fora Ana, que achara aquilo uma impertinência.
CAPÍTULO XXII
O baile principiara havia pouco quando Kitty e a mãe apareceram na escadaria iluminada, cheia de flores, ao longo da qual se postavam os criados de libré vermelha e cabeleira empoada. Do patamar decorado com arbustos onde, diante de um espelho, elas ajeitavam o penteado, ouvia se um zunzum, semelhante ao de uma colméia, e os sons melodiosos dos violinos da orquestra começando a primeira valsa. Um senhor pequenino e idoso, que alisava os escassos fios de cabelos brancos diante de outro espelho, recendendo a perfume, afastou-se para as deixar subir os últimos degraus, extático diante da beleza de Kitty, a quem não conhecia. Um desses jovens imberbes, de colete muito decotado, a quem o velho príncipe Tcherbatski chamava «peralvilhos», cumprimentou-as, de passagem, enquanto compunha a gravata branca. Mas logo voltou atrás para pedir a Kitty que lhe concedesse a primeira quadrilha. Como já estava comprometida com Vronski, concedeu-lhe a segunda dança. Um militar, que abotoava as luvas junto à porta do salão, afastou-se para deixar passar Kitty e, retorcendo o bigode, pareceu fascinado diante daquela aparição toda vestida de rosa.
Embora o vestido, o penteado e os demais preparativos para o baile lhe tivessem custado muitos esforços, o certo é que Kitty entrava agora no salão de baile tão natural e simples, no seu complicado vestido de tule sobre um forro cor-de-rosa, como se todas aquelas rosinhas e rendas, todos aqueles enfeites não lhe tivessem custado, e aos seus, um minuto de atenção. Dir-se-ia ter nascido assim mesmo, já com aquele vestido de tule e aquele penteado alto coroado por uma rosa com duas folhas.
Quando a princesa mãe, antes de entrar no salão de baile, quis arranjar o cinto da filha, que se engelhara, Kitty afastara-a, relutante, pois sentia que tudo lhe assentava bem e caía com graça, que nada era preciso corrigir.
Realmente, estava num dos seus dias felizes: o vestido não a comprimia, assentava-lhe perfeitamente, nenhum dos adornos se amarrotara ou descosera, os sapatos cor-de-rosa, de salto alto, não apertavam, antes pareciam acariciar-lhe os pèzinhos, os bandos postiços, que lhe enchumaçavam os cabelos louros, não lhe pesavam na cabeça grácil, as luvas de canhão alto, sem uma ruga, moldavam-lhe o antebraço, apertados os seus três botões, sem se esgarçar, e a fitinha de veludo, de que pendia o medalhão, cingia-lhe o pescoço com uma graça sem par. De facto, aquela fita era um encanto, e Kitty, que diante do espelho do quarto já pudera verificar que lhe ficava muitíssimo bem, sorriu-lhe de novo ao revê-la num dos espelhos da sala de baile Podia ter algum receio quanto ao resto da toilette, mas quanto àquele veludo, não, não tinha nada a dizer. Os ombros e os braços nus davam-lhe a sensação de uma frialdade marmórea, sensação de que particularmente gostava. Os olhos brilhavam-lhe e a certeza de que tinha de estar um encanto confiava-lhe aos lábios um sorriso involuntário.
Um enxame de raparigas, massas de tule, de fitas, de rendas, de flores, aguardava os seus pares, mas Kitty, nem agora nem em outra qualquer noite precisava de se lhes juntar mal entrara na sala, logo fora convidada pelo melhor dos pares, o mestre-de-cerimônia e organizador de bailes, um homem casado, belo, elegante, o Sr. Egoruchka Korsunski.
Acabava de deixar a condessa Banine, com quem abrira o baile, quando, relanceando um olhar aos seus domínios, isto é, a um grupo de pares que valsavam, descobriu Kitty que entrava no salão. Imediatamente se lhe dirigiu, nesse passo desenvolto, característico dos organizadores de bailes, e sem mesmo lhe pedir autorização, passou-lhe o braço pela cintura fina Kitty procurou com os olhos a quem entregar o leque a dona da casa pegou nele, sorrindo.
— Fez muito bem em ter vindo cedo — disse ele, no momento em que a enlaçava —Não compreendo essa mama de chegar tarde.
Kitty pousou a mão esquerda no ombro de Korsunski e os seus pèzinhos, nos sapatos cor-de-rosa, deslizaram, ao compasso da música, pelo soalho encerado.
— É um descanso dançar consigo — disse Korsunski mal deram os primeiros passos lentos da valsa — num encanto de ligeireza, de pré- cisto — acrescentou.
Costumava dizer o mesmo a todas as suas conhecidas. Mas Kitty sorriu ao ouvir o elogio e continuou a olhar para a sala por cima do ombro de Korsunski. Não era nem uma principiante, que confunde o rosto de todos os assistentes na embriaguez das primeiras impressões, nem tão-pouco uma dessas jovens já fartas de bailes a quem todos os rostos conhecidos apenas inspiram tédio. Nem uma coisa nem outra. Por mais excitada que estivesse, nem por isso deixava de se dominar, mantendo íntegra a sua faculdade de observação. Notou, por isso mesmo, que a nata da sociedade se agrupava no ângulo esquerdo da sala. Ali estava a dona da casa e a mulher de Korsunski, a bela Lídia, escandalosamente decotada, Krivne, que privava sempre com a alta-roda, exibia a sua calvície. Os rapazes olhavam de longe aquele grupo sem se atreverem a aproximar-se. E foi ali também que ela descobriu Stiva e depois a deliciosa cabeça de Ana e o seu elegante corpo moldado num vestido de veludo negro «Ele» também lá estava Kitty não o tornara a ver desde a noite em que recusara a proposta de Levine. Os seus penetrantes olhos reconheceram no de longe, notou mesmo que ele a olhava.
— Quer dar mais uma volta? Não está cansada, pois não? — perguntou Korsunski, ligeiramente sufocado.
— Não, muito obrigada.
— Aonde quer que a acompanhe?
— Está ali a Karenina, parece Leve me até junto dela.
— Com todo o gosto.
E Korsunski, retardando o passo, mas valsando sempre, encaminhou-se para o grupo da esquerdá-la dizendo «Pardon, Mesdames; pardon, pardon, Mesdames», e tão bem a conduzia pelo meio daquela onda de rendas, de tules e de fitas, que nem uma só pluma se lhe prendeu ao vestido. Ao chegar ao seu destino, fez o seu par dar uma brusca pirueta, e a cauda do vestido de Kitty, desdobrando-se como um leque, veio pousar nos joelhos de Krivine, enquanto as delgadas pernas da dançarina, nas suas meias transparentes, se descobriam e mostravam Korsunski fez uma reverência, empertigou-se ligeiro e ofereceu-lhe o braço para conduzi-la até junto de Ana Arkadievna. Kitty, corando, um pouco aturdida, afastou a cauda do vestido dos joelhos de Krivine e volveu os olhos em busca de Ana. Esta não estava vestida de lilás, como tanto teria desejado Kitty. Um toilette de veludo preto, muito decotada, desnudava lhe os ombros esculturais, que lembravam velho marfim, assim como o colo e os braços roliços, de pulsos finos. Rendas de Veneza guarneciam lhe o vestido. Nos cabelos negros, sem postiços, ostentava uma grinalda de amores-perfeitos, combinando com outra que lhe adornava a fita preta do cinto, rematada por rendas brancas Estava penteada com muita simplicidade. Apenas alguns caracóis de cabelo frisado na nuca e nas fontes se lhe eriçavam rebeldes. Em volta do pescoço bem torneado brilhava um fio de pérolas.
Kitty, fascinada, todos os dias, em imaginação, via Ana vestida de lilás. Mas só agora, ao vê-la de preto, percebia que não apreendera todo o seu encanto. Via-a sob um aspecto novo e inesperado. Agora compreendia que o lilás não lhe ficasse bem. O seu grande encanto resultava precisamente desse relevo da sua personalidade. O que vestia passava despercebido Enquanto um vestido lilás a teria exibido, este, ao contrário, não obstante as sumptuosas rendas, era apenas uma moldura discreta que lhe punha em evidência a inata elegância, o encanto, a perfeita naturalidade.
Como sempre, lá estava, erecta, e quando Kitty se aproximou do grupo, ela, de cabeça ligeiramente inclinada, falava com o dono da casa.
— Não, não serei eu quem atire a primeira pedra, embora o não compreenda — replicava Ana a um argumento daquele, e encolhendo os ombros, logo se dirigiu a Kitty com um meigo sorriso protector. Num rápido olhar, muito feminino, apreciou a maneira como ela estava vestida, esboçando, aprovador, um breve aceno de cabeça, que não escapou a Kitty.
— Parece que entrou na sala a dançar — disse-lhe ela.
— É uma das minhas melhores colaboradoras — observou Korsunski, numa reverência a Ana Arkadievna, que ainda não cumprimentara. — A princesa contribuiu para tornar o baile encantador e alegre. Ana Arkadievna, uma valsa? — disse, numa mesura.
— Ah, conhecem-se? — observou o dono da casa.
— Quem é que nos não conhece, à minha mulher e a mim? Somos o lobo branco. Esta valsa, Ana Arkadievna?
— Nunca danço, sempre que o posso evitar.
— Hoje não pode — teimou Korsunski. Vronski aproximou-se naquele momento.
— Está bem, já que hoje é impossível, dancemos — acedeu Ana Arkadievna, fingindo não ver o cumprimento que Vronski lhe dirigia e colocando, apressadamente, a mão no ombro de Korsunski.
«Por que estará ela enfadada com ele?», pensou Kitty, notando que Ana não respondera, intencionalmente, ao cumprimento de Vronski. Este aproximou-se de Kitty, lembrou-lhe que lhe prometera a primeira quadrilha e que lamentava não ter tido o prazer de a ver antes. Kitty ouvia-o enquanto, embevecida, contemplava Ana, que dançava. Julgara que Vronski a iria convidar para aquela valsa, mas ele não a convidou, e Kitty olhou-o surpreendida. Perturbado, Vronski deu-se pressa em convidá-la, mas quando passava o braço pela cintura da jovem e dava o primeiro passo, a música parou. Kitty fitou-lhe o rosto, que tão próximo estava do seu, e por muito tempo, anos e anos depois, sempre que lembrava o olhar cheio de amor que então lhe dirigira e a que ele não correspondera, atormentava-se envergonhada, — Pardon, pardon! A valsa, valsa — gritou Korsunski do outro extremo do salão.
E enlaçando a primeira senhora que lhe passava perto, principiou a rodopiar.
CAPÍTULO XXIII
Vronski e Kitty deram alguns passos de dança. Depois Kitty foi para junto da mãe e mal teve tempo de trocar algumas palavras com a condessa Nordston, pois Vronski veio tirá-la para a primeira quadrilha Enquanto falaram nada disseram de especial, a conversa girou à volta do casal Korsunski, que Vronski descrevia de maneira assai cômica, como se fossem crianças de quarenta anos, e de um espectáculo de amadores em organização. Só uma vez a conversa tocou Kitty vivamente, quando Vronski, lhe perguntou se Uvine estava no baile, acrescentando que minto gostara dele. Aliás, Kitty pouco esperava da quadrilha, toda a sua esperança estava na mazurca. Acreditava que, nessa ocasião, tudo se decidira. Nem sequer se sentiu preocupada com o facto de Vronski não a ter convidado para a mazurca enquanto dançavam a quadrilha. Tinha a certeza de que a convidaria, como nos bailes anteriores, e recusou cinco pares sob o pretexto de estar comprometida. Todo o baile, até à ultima quadrilha, foi para Kitty um sonho encantador, cheio de cores, de sons e de movimentos harmoniosos. Só não dançava quando se sentia muito cansada e pedia que a deixassem descansar. Mas, durante a última quadrilha, que dançara com um rapaz enfadonho, a quem não pudera furtar-se, encontrou-se frente a frente com Vronski e Ana. Não voltara a ver Ana desde o princípio do baile e de novo ela se lhe apresentou sob um aspecto novo e inesperado. Viu em Ana aquela excitação que o êxito dá, tão sua conhecida. Dir-se-ia embriagada pela admiração que despertava em volta de si. Kitty conhecia essa sensação com todos os seus sintomas, e era o que via em Ana: o brilho inflamado dos olhos e o sorriso feliz e animado que, mal-grado ela, lhe assomava aos lábios, bem como a graça, a segurança e a ligeireza dos movimentos.
«Quem será?», perguntou a si própria. «Todos ou um apenas?» E sem prestar atenção ao rapaz com quem rodopiava, que fazia grandes esforços para reatar a conversa interrompida, e obedecendo, automaticamente, aos gritos imperiosos de Korsunski, que a todos ordenava um grand rond, ora a chaîne, Kitty observava-a enquanto o coração se lhe primia. «Não, não é a admiração geral que a embriaga, mas a admiração de um só. Será possível que seja a dele?» De cada vez que Vronski lhe falava, os olhos de Ana brilhavam alegres, e um sorriso de felicidade lhe aflorava aos lábios vermelhos. Dir-se-ia que fazia tudo para não deixar transparecer esses indícios de alegria, que se manifestavam apesar de tudo. «Mas que tem ela?», pensou Kitty, olhando Vronski horrorizada. No rosto dele viu o que tão claramente vira no de Ana. Onde estava a sua atitude, sempre firme e serena, e a sua expressão despreocupada e tranqüila? Agora, de cada vez que se dirigia a Ana, inclinava ligeiramente a cabeça, como se desejasse cair-lhe aos pés, e no seu olhar tudo era receio e submissão. «Não quero ofendê-la, quereria apenas salvar-me e não sei como», parecia dizer o olhar dele. Kitty nunca vira aquela expressão no rosto de Vronski.
Ana e Vronski falavam das suas relações, a conversa era trivial, mas Kitty persuadia-se de que cada palavra que pronunciavam decidia ao mesmo tempo da sorte deles e da sua própria. E o mais estranho é que, embora na realidade comentassem o ridículo de Ivan Ivanovitch a falar um péssimo francês, e achassem que se poderia ter encontrado melhor partido para a Ieletskaia, de facto, as palavras que diziam tinham outro significado para eles, coisa de que se davam conta com tanta evidência como a própria Kitty. O baile, as luzes, tudo se velou de névoa na alma desta. A única coisa que a amparava era a sua rígida educação, que a forçava a fazer o que convinha, isto é, a dançar, a responder às perguntas que lhe faziam, a falar e até a sorrir. Mas antes de começar a mazurca, já colocadas as cadeiras e um certo número de pares a passar das salas pequenas para o salão, encheu-se de desespero e horror. Recusara cinco pares e ia ficar sem parceiro para a mazurca. Não tinha já esperança de que a convidassem, pois, como era grande o êxito que desfrutava em sociedade, ninguém pensava que naquela altura ainda estivesse sem par. Ver-se-ia obrigada a dizer à mãe que se sentia indisposta e que tinha de voltar para casa, embora lhe faltasse ânimo para isso. Era grande o seu abatimento.
Refugiando-se a um canto de uma das salinhas, deixou-se cair numa poltrona. A vaporosa cauda do vestido, envolvendo-a, parecia uma nuvem; uma das delicadas e finas mãos descaiu-lhe, ocultando-se entre as pregas do vestido; na outra tinha o leque, que de vez em quando agitava em rápidos movimentos diante do rosto arrebatado. No entanto, apesar desse aspecto de mariposa que acaba de pousar na relva, pronta a bater de novo as asas irisadas, uma terrível angústia lhe oprimia o coração.
«Talvez me tenha enganado, talvez não seja nada disso.» E de novo recordou tudo o que vira.
— Kitty, que tens tu? Não percebo nada — disse, entretanto, a condessa Nordston, que se aproximara silenciosamente, os passos abafados pelo tapete.
O lábio inferior de Kitty tremeu e ela ergueu-se precipitadamente.
— Kitty, não danças a mazurca?
— Não — respondeu ela, numa voz em que as lágrimas tremiam.
— Convidou-a para dançar a mazurca diante de mim — disse a condessa, certa de que Kitty saberia a quem ela aludia. — E ela perguntou-lhe: «Então não a dança com a princesa Tcherbatskaia?»
— Tanto faz! — atalhou Kitty.
Ninguém, a não ser ela própria, podia compreender a situação em que se encontrava: ninguém se não ela sabia que recusara a proposta de um homem a quem talvez amasse, por acreditar noutro.
A condessa Nordston foi em busca de Korsunski, com quem dançaria a mazurca, e pediu-lhe que convidasse Kitty.
Kitty abriu a mazurca com Korsunski, felizmente sem necessidade de falar, uma vez que este ia de um lado ao outro dirigindo os pares. Vronski e Ana estavam sentados mesmo defronte dela. Via-os ora longe ora perto quando os pares se cruzavam, e quanto mais os observava mais se convencia da sua infelicidade. Adivinhava que ambos se sentiam completamente sós no meio do salão. E o rosto de Vronski, sempre tão resoluto e sereno, reflectia agora aquela expressão submissa e atemorizada que tanto a impressionara, fazendo-lhe lembrar a expressão de um cão inteligente quando se sente culpado.
Ana sorria e o seu sorriso comunicava-se a Vronski. Se porventura ficava pensativa, ele punha-se sério. Uma força sobrenatural atraía para Ana os olhos de Kitty. Estava encantadora com o seu vestido negro muito simples; os seus torneados braços, cingidos por pulseiras, eram belos; belo era o seu colo alto, em que avultava o fio de pérolas; encantadores os graciosos e ligeiros movimentos dos seus pèzinhos e das suas mãos; fascinante o seu rosto animado. No seu encanto, porém, havia qualquer coisa de cruel e de terrível.
Kitty olhava-a mais fascinada ainda do que até então e cada vez era maior o seu sofrimento. Sentia-se esmagada, e isso mesmo se lia no seu rosto. Quando Vronski a viu, ao encontrar-se com ela durante a mazurca, não a reconheceu logo, tão mudada estava.
— Que baile magnífico! — disse, para dizer alguma coisa.
— Pois é — respondeu Kitty.
Lá para o meio da mazurca, quando se ensaiava uma complicada figura inventada por Korsunski, Ana teve de colocar-se no centro do círculo e escolher dois cavalheiros e duas senhoras. Uma das senhoras que escolheu foi Kitty. Kitty aproximou-se, olhando-a, receosa. Ana, semicerrando os olhos, fitou-a sorrindo enquanto lhe apertava a mão. Mas ao ver que Kitty lhe respondia com uma expressão de angústia e surpresa, voltou-se e pôs-se a falar alegremente com outra senhora.
«Sim, há nela uma sedução estranha, diabólica», pensou Kitty consigo mesma.
Ana não queria ficar para a ceia, mas o dono da casa insistiu.
— Fique, Ana Arkadievna — disse Korsunski, puxando-a pelo braço nu — Tenho uma ideia para o cotillon. Un bijou!
E procurava arrastá-la, encorajado pelo sorriso do anfitrião.
— Não, não posso ficar — respondia Ana, sorrindo. No entanto, apesar daquele sorriso, tanto o dono da casa como Korsunski compreenderam, graças ao seu tom decidido, que ela não ficaria.
— Já dancei hoje mais em Moscovo do que durante um ano inteiro em Sampetersburgo. Preciso de descansar antes da viagem — acrescentou, voltando-se para Vronski, que estava junto dela.
— Sempre parte, realmente, amanhã? — perguntou ele.
— Sim, acho quê sim — volveu-lhe Ana, como que surpreendida com o atrevimento da pergunta.
Mas o irresistível brilho dos seus olhos e o sorriso que lhe lançou enquanto lhe dirigia a palavra abrasaram-no.
Ana Arkadievna partiu sem ter querido cear.
CAPÍTULO XXIV
«Sim, em mim há qualquer coisa de desagradável, qualquer coisa que afugenta», pensava Levine ao sair da residência dos Tcherbatski, enquanto se dirigia a pé para casa do irmão. «Não sirvo para conviver com as pessoas. Dizem que é orgulho, mas a verdade é que nem sequer sou orgulhoso. Se o fosse, não estaria na situação em que estou.» E diante de seus olhos aparecia o feliz, o bom, o inteligente Vronski, o qual, com certeza, nunca se vira numa situação assim. «Era naturalíssimo que ela o preferisse. Não podia ser de outra maneira, e não devo queixar-me de nada nem de ninguém. A culpa é minha. Com que direito pensei eu que ela estivesse disposta a unir a sua vida à minha? Quem sou eu? Que sou eu? Um homem inútil, de quem ninguém precisa.» Lembrou-se do irmão Nicolau e essa lembrança consolou-o. «Pois não tem ele razão quando diz que tudo neste mundo é mau e repugnante? Não sei se fomos justos armando-nos em juizes do nosso outro irmão. Naturalmente do ponto de vista de Prokofi, que o vê de pelica rota e bêbedo, é um homem desprezível; mas eu vejo-o de outra maneira. Conheço-lhe a alma e sei que nos parecemos um com o outro. E o certo é que em vez de o ter ido procurar fui jantar e depois apresentei-me ali.» Levine aproximou-se de um lampião, puxou da carteira, leu o endereço de Nicolau, chamou um carro de praça e deu a direcção ao cocheiro. Durante o longo trajecto foi recordando os episódios que conhecia da vida do irmão. Lembrou-se de que ele, durante os anos dos seus estudos universitários e mesmo até um ano depois de concluído o curso, apesar da troça dos amigos, vivera como um frade, cumprindo rigorosamente os preceitos da religião, assistindo à missa e praticando jejuns, evitando toda a sorte de prazeres e sobretudo mulheres. Depois, mudara de chofre, passando a acompanhar-se de gente da pior espécie e votando-se a uma vida dissoluta. Lembrou-se da história do garoto que trouxera da aldeia para educar e em quem batera tanto num momento de excitação que fora chamado ao tribunal para responder pelos maus tratos que lhe infligira. E também daquele grego a quem dera em pagamento de uma dívida de jogo uma letra de câmbio (a letra que Sérgio Ivanovitch acabava de pagar), denunciando-o depois por crime de estroquerie. De outra vez passara uma noite no comissariado da polícia por desordem na via pública. E ainda intentara um processo contra o irmão Sérgio, a quem acusava de não lhe ter entregue a parte que lhe cabia na herança materna.
A sua última proeza fora quando viajara para a Polônia, em busca de trabalho, e se vira em sérios apuros, chamado ao tribunal, por haver maltratado um magistrado. Evidentemente que tudo isto era odioso mas menos odioso, no entanto, aos olhos de Levine do que aos daqueles que não conheciam nem a vida nem o coração de Nicolau.
Levine recordou que na época em que Nicolau procurara na religião e nas suas práticas mais austeras um freio, um dique a opor à sua natureza apaixonada, ninguém o amparara, pelo contrário, todos, e ele em primeiro lugar, o tinham ridicularizado, chamando-o de eremita e beato. Quando Nicolau mudou, e o dique se rompeu, todos, em vez de o ampararem, se afastaram dele, desgostosos e horrorizados.
Levine dava conta de que no seu íntimo, no mais fundo da sua alma, apesar da vida depravada que levava, ele, o irmão, não era mais culpado do que os que o desprezavam. Não tinha culpa de ter nascido com aquele carácter indomável e aquela ilimitada inteligência. Sempre desejara ser bom. «Falar-lhe-ei com o coração nas mãos, obriga-lo-ei a fazer o mesmo e provar-lhe-ei que o estimo e portanto que o compreendo», decidiu Levine, falando consigo mesmo, ao chegar ao hotel que o endereço indicava, cerca das onze horas.
— Lá em cima, no e no — respondeu o porteiro, em resposta à pergunta de Levine.
— Está em casa?
— Creio que sim.
A porta do nº estava entreaberta e do quarto desprendia-se um fumo espesso de tabaco ordinário. Levine ouviu, primeiro, uma voz desconhecida, e em seguida a conhecida tossezinha do irmão.
Quando entrou, numa espécie de vestíbulo, a voz desconhecida dizia:
— Tudo depende da habilidade e da prudência com que se fazem as coisas...
Levine olhou pela porta entreaberta e viu que quem falava era um rapaz de grande cabeleira que vestia uma podiovka. No divã estava sentada uma mulher nova, picada de bexigas, com um vestido de lã, sem mangas nem gola. Não se via Nicolau. Constantino Levine sentiu oprimir-se-lhe o coração ao ver a espécie de gente com quem o irmão privava. Ninguém dera por ele e Levine ficou a ouvir o que dizia o rapaz de podiovka enquanto descalçava as galochas. Falava de um negócio em projecto.
— Que o diabo as leve, às classes privilegiadas! — disse Nicolau, tossindo. — Macha, pede a ceia e serve-nos vinho, se o há; se não, manda-o vir.
A mulher levantou-se do divã, passou para o outro lado do tabique e viu Constantino.
— Nicolau Dimitrievitch, está aqui um senhor — disse ela.
— Quem procura? — exclamou a voz irritada de Nicolau Levine.
— Sou eu — respondeu Constantino, aproximando-se da luz.
— Eu, quem? — exclamou Nicolau, ainda mais irritado.
Levine ouviu-o levantar-se de chofre, agarrando-se a qualquer coisa, para daí a momentos ver diante dele a alta silhueta descarnada e um pouco corcovada do irmão. Por mais familiar que lhe fosse a figura de Nicolau, o seu aspecto doentio e selvagem não deixou de o assustar.
Ainda estava mais magro que da última vez que o vira, três anos antes. Vestia uma sobrecasaca curta, e os seus braços e os seus ossos salientes ainda pareciam maiores. Tinha os cabelos menos fartos, o bigode que lhe escondia os lábios era ainda o mesmo e a mesma surpreendente ingenuidade se lia no olhar que fixava no recém-chegado.
— Ah! Kóstia! — exclamou, ao reconhecer o irmão, e nos olhos perpassou-lhe um lampejo de alegria.
Ao mesmo tempo, porém, virara-se para o amigo com aquele movimento convulsivo de cabeça e pescoço que Constantino tão bem lhe conhecia, como se a gravata o enforcasse, e uma expressão diferente — selvagem, de sofrimento e crueldade — se reflectiu no seu rosto magro.
— Já lhe mandei dizer, e também ao Sérgio Ivanovitch, que não quero nada com vocês. Que desejas? Que deseja o senhor?
Não era aquele o homem que Constantino imaginara ir encontrar. Ao pensar nele esquecera o pior e o mais penoso do carácter do irmão, o que tornava tão difícil o trato com ele. E agora, ao ver-lhe o rosto, e sobretudo aquele seu convulsivo movimento de cabeça, tudo lhe vinha à memória.
— Nada quero de ti — respondeu, com uma certa timidez. — Vim apenas para te ver.
A timidez de Constantino pareceu acalmar Nicolau. Contraiu os lábios.
— Ah, vens por desfastio? — disse ele. — Bom, entra, senta-te.
Queres cear? Macha, traz três rações. Não, espera. Sabes quem é? — perguntou ao irmão, apontando para o rapaz da podiovka. — O Senhor Kritski, um amigo meu ainda do tempo de Kiev, um homem notável. Como é natural, anda perseguido pela polícia, pois não é um canalha. — E, segundo seu velho costume, relanceou os olhos por todos os que o rodeavam. Ao ver que a mulher, ainda junto à porta, se dispunha a sair, gritou-lhe: — Disse-te que esperasses!
E com aquela indecisão e aquela falta de eloqüência que Constantino tão bem lhe conhecia, pôs-se a contar ao irmão, depois de perpassar de novo a vista por todos, a história de Kritski: que fora expulso da Universidade por ter criado uma sociedade de auxílio aos estudantes pobres e às escolas dominicais, que se fizera professor de uma escola pública e também fora expulso dali, e que depois disso lhe haviam instaurado um processo.
— Estudou na Universidade de Kiev? — inquiriu Levine de Kritski, para interromper o silêncio desagradável que se formara no quarto.
— Sim, em Kiev — murmurou este, franzindo as sobrancelhas, numa expressão de enfado.
— E esta mulher, Maria Nikolaievna, é a companheira da minha vida — interrompeu Nicolau Levine, apontando Macha. — Tirei-a de uma casa... — ao dizer isto agitou convulsivamente o pescoço. — Mas quero-lhe e respeito-a e peço a todos que queiram entender-se comigo que lhe queiram e a respeitem. — É como se fosse minha mulher, tal qual como se o fosse. Bom, agora já sabes com quem estás a falar. Se achas que isso te rebaixa, a porta está ali, vai-te com Deus.
De novo percorreu os olhos pelos circunstantes, numa expressão interrogativa.
— Não sei por que havia de me rebaixar.
— Então, Macha, encomenda a ceia: que tragam três rações, vodka e vinho. Não, espera... Não, está bem... Raspa-te!
CAPÍTULO XXV
— Já vês — continuou Nicolau Levine, fazendo uma careta e enrugando a testa, pois não sabia lá muito bem que dizer ou que fazer —, como vês...
Apontou para um recanto do quarto onde estavam umas barras de ferro amarradas com cordas.
— Estás a ver aquilo? — conseguiu dizer, finalmente. — É o começo de uma nova obra a que nos vamos consagrar. Trata-se de uma cooperativa operária de produção...
Constantino quase não lhe prestava ouvidos. Observava-lhe o rosto de tuberculoso e cada vez era maior a compaixão que lhe inspirava. Não conseguia prestar atenção ao que ele dizia. Compreendia que aquela cooperativa era para ele apenas uma tábua de salvação: a forma de não se desprezar a si próprio por completo. Deixava-o, pois, perorar.
— Bem sabes que o capital oprime o trabalhador. Entre nós, os operários e os camponeses suportam todo o peso do trabalho, e as coisas estão feitas de tal maneira que por mais que trabalhem não conseguem passar de bestas de carga. Todos os benefícios, tudo o que permita ao trabalhador melhorar a sua condição, ter descanso e, por conseguinte, tempo para instruir-se, todos esses benefícios os capitalistas lhes roubam.
A sociedade está organizada de tal maneira que quanto mais os operários trabalharem tanto mais amealharão os comerciantes e os donos da terra, continuarão aqueles a ser bestas de carga. É preciso modificar esta ordem de coisas — concluiu, olhando interrogativamente para o irmão.
— Claro, é natural — corroborou Constantino, notando a cor que aparecera nas maçãs salientes do rosto de Nicolau.
— Estamos a organizar uma cooperativa de serralheiros em que tudo será em comum: trabalho, lucros e até as principais ferramentas.
— Onde instalarão a cooperativa? — perguntou Levine.
— Na aldeia de Vozdrema, na província de Kazan.
— Por quê numa aldeia? Em geral nas aldeias não falta trabalho. Para que quererão ali uma cooperativa de serralheiros?
— Porque o camponês contínua escravo como antes e o que vos desagrada, tanto ao Sérgio como a ti, é que o vão tirar dessa escravidão— replicou Nicolau, irritado com a interrupção.
Constantino suspirou enquanto examinava o quarto sujo e lúgubre. E aquele suspiro ainda pareceu irritar mais Nicolau.
— Conheço muitíssimo bem os pontos de vista aristocráticos de Sérgio Ivanovitch e os teus. Sei que ele põe em prática todo o vigor da sua inteligência para justificar o mal existente.
— Nada disso; mas para que é o Sérgio chamado aqui? — perguntou Levine, sorrindo.
— Por que chamo aqui o Sérgio Ivanovitch? Pois vou já dizer-te, vou já dizer-te! — vociferou Nicolau exasperado, ao ouvir o nome do irmão. — Mas, o que adianta discutir? Diz-me só uma coisa... Que vieste fazer? A nossa empresa não te merece senão desprezo, não é verdade? Está bem, mas então vai-te com Deus! Vai-te! Vai-te! — gritou, levantando-se. — Vai-te! Vai-te! — Não a desprezo, nem sequer a estou a discutir — disse Constantino, timidamente.
Naquele momento entrava Maria Nikolaievna. Nicolau voltou-se para ela, irritado. Maria aproximou-se dele e disse-lhe qualquer coisa precipitadamente.
— Estou doente, tudo me irrita — murmurou Nicolau Levine, serenando e respirando penosamente. — E vens tu falar-me do Sérgio Ivanovitch e do artigo dele. É um absurdo, um embuste, a maneira de uma pessoa se enganar a si própria. Que há-de dizer da justiça um homem que não conhece a justiça? Leu o artigo dele? — perguntou a Kristki, enquanto voltava a sentar-se e se punha a juntar a um lado o monte de cigarros espalhados na mesa.
— Não — replicou Kritski, com uma expressão taciturna, como se não quisesse tomar parte na conversa.
— Por quê? — perguntou Nicolau Levine, exasperado desta vez com Kritski.
— Eu acho que não vale a pena perder tempo com essas coisas.
— Perdão, como sabe que é perder tempo? Esse artigo está para além da compreensão de muitos. Quanto a mim, é diferente. Eu conheço o fundo das suas ideias, conheço-lhe os pontos fracos.
Todos se calaram. Kritski levantou-se vagarosamente e pegou no chapéu.
— Não quer cear? Bom, então passe muito bem. Volte amanhã com o serralheiro.
Depois de Kritski sair, Nicolau Levine sorriu, piscando o olho.
— Este também não vale grande coisa. Vejo que... Naquele momento Kritski chamou-o da porta.
— Que é que há — perguntou Nicolau, que saiu ao patamar da escada.
Ao ficar sozinho com Maria Nikolaievna, Levine perguntou-lhe:
— Vive há muito tempo com meu irmão?
— Vai para dois anos. Piorou muito de saúde. Bebe de mais.
— Que me diz?
— Sim, bebe muita vodka, e isso faz-lhe muito mal.
— Será possível?
— Bebe — respondeu Macha.
E olhou receosa para a porta, onde nessa ocasião assomava Nicolau Levine.
— De que falavam? — perguntou ele, franzindo o sobrolho, enquanto olhava ora para um ora para outro, com olhos assustados. — De quê? — De nada — replicou Levine, um pouco confuso.
— Se não queres dizer, não digas. Mas não tens nada que falar com ela. Ela é uma prostituta e tu és um cavalheiro — exclamou, com um movimento convulsivo do pescoço. — Estou vendo que percebeste tudo e que estás a mostrar compaixão para com os meus desvaira-mentos — acrescentou, alteando a voz.
— Nicolau Dimitrievitch, Nicolau Dimitrievitch — murmurou Maria Nikolaievna, aproximando-se dele.
— Bom, bom!... E a ceia? Ah! Lá vem ela — acrescentou, ao ver o criado com a bandeja. — Aqui, aqui, ponha aqui — disse, irritado, e imediatamente encheu um copo de vodka, que bebeu de um trago, avidamente. — Queres beber? — perguntou, já mais alegre, ao irmão.— Bom, deixemos o Sérgio Ivanovitch. Seja como for, estou contente por te ver. Por mais que diga, vocês não são uns estranhos para mim. Anda, bebe. Conta-me o que tens feito. Que vida levas? — continuou, enquanto mastigava com avidez um pedaço de pão e enchia outro copo de vodka.
— Vivo só na aldeia, como antigamente, e trato das terras — respondeu Constantino Levine, horrorizado com a maneira ávida como o irmão comia e bebia e procurando fingir que não percebia.
— Por que não te casas?
— Ainda não calhou — replicou Constantino, ruborizando-se.
— Ora. No que me diz respeito, adeus, acabou-se! Dei cabo da vida. Digo e repito: se me têm dado a minha parte quando necessitava dela, toda a minha vida teria sido diferente.
Constantino deu-se pressa em mudar de assunto.
— Sabes que empreguei o teu Vânia em Pokrovskoie como auxiliar de escritório? — disse ele.
— Sim, conta-me o que vai lá por Pokrovskoie. A casa continua de pé, e as nossas bétulas e o nosso quarto de estudo? E o Filipe, o jardineiro, ainda é vivo? Estou a ver o pavilhão e o divã!... Não mudes nada na casa, casa-te depressa e que tudo fique como dantes. Então irei visitar-te, se a tua mulher for uma rapariga às direitas.
— Por que não hás-de vir agora comigo? Entender-nos-íamos tão bem os dois! — Iria, se tivesse a certeza de que não me ia encontrar com o Sérgio Ivanovitch.
— Não te encontrarás com ele. Vivo completamente independente.
— Por mais que digas, tens de escolher entre ele e eu — disse Nicolau, olhando o irmão nos olhos com uma expressão onde havia timidez. Essa timidez comoveu Constantino.
— Se queres que te fale com toda a franqueza, dir-te-ei que nessa vossa disputa não estou nem contigo nem com o Sérgio Ivanovitch. Nenhum de vocês tem razão. Tu não a tens, digamos, na forma e ele no fundo.
— Ah! Compreendeste! Compreendeste! — exclamou Nicolau alegremente.
— Mas, se queres saber, aprecio mais a tua amizade, porque...
— Por quê? Por quê?
Constantino não podia dizer-lhe por que o considerava desgraçado e portanto mais necessitado de carinho. Mas Nicolau compreendeu-o e franzindo as sobrancelhas pôs-se a beber vodka.
— Basta, Nicolau Dimitrievitch! — disse Maria Nikolaievna, estendendo o braço nu e torneado para a garrafa.
— Larga! Deixa-me em paz! Queres apanhar? — gritou Nicolau. Maria Nikolaievna sorriu, entre doce e bondosa, comunicando o seu sorriso a Nicolau, e retirou a garrafa.
— Julgas que não percebe nada? — perguntou ele. — Entende
tudo melhor do que nós. Não é verdade que há nela qualquer coisa de simpático, de agradável? — A senhora não viveu já em Moscovo? — perguntou Constantino, para dizer alguma coisa.
— Não a trates por senhora, isso faz-lhe medo. Nunca ninguém, à excepção do juiz de paz, que a julgou quando quis sair daquela casa de corrupção, a tratou até agora por senhora. Meus Deus, quantas coisas absurdas neste mundo! São um escândalo essas novas instituições, esses juizes de paz, esses zemstvos.
E principiou a contar os seus conflitos com as novas instituições. Constantino Levine escutava-o, e embora fosse da mesma opinião e como tal se tivesse manifestado muitas vezes, agora, ao ouvi-lo dizer a mesma coisa, sentia uma impressão desagradável.
— No outro mundo, havemos de compreender tudo isto — disse-lhe por zombaria.
— No outro mundo? Oh, não gosto do outro mundo! — exclamou, pousando os olhos selvagens e assustados no rosto do irmão. — Tenho vontade de sair de toda a esta porcaria, dizer adeus às nossas misérias e às do próximo, mas tenho medo da morte, tenho um medo horrível da morte. — Teve um arrepio. — Anda, bebe qualquer coisa. Queres champanhe? Ou então vamos dar uma volta. Queres ir ver os zíngaros? Agora gosto muito dos zíngaros e das canções russas.
Entaramelava-se-lhe a língua, passava de um assunto a outro; Constantino, ajudado por Macha, convenceu-o a que não saísse, e deitaram-no completamente embriagado.
Macha prometeu a Levine que lhe escreveria em caso de necessidade e que faria o possível por convencê-lo a ir morar com ele.
CAPÍTULO XXVI
No dia seguinte pela manhã, Constantino Levine saía de Moscovo e chegava a casa ao fim da tarje. Durante o trajecto entabulou conversa com os companheiros, falou de política, de caminhos de ferro, e tal como em Moscovo não tardou a sentir-se submerso no caos das opiniões, descontente consigo próprio e envergonhado sem que soubesse muito bem porquê. Mas quando, à luz indecisa que se derramava das janelas da estação, viu Inácio, o cocheiro estrábico, a gola do cafetã levantada, depois o trenó coberto de peles e os cavalos com os seus arreios bem tratados, e aquele lhe contou, enquanto ele se instalava, as novidades da aldeia — que chegara um comprador e que a Pava tivera o seu bom sucesso —, Levine sentiu que toda aquela confusão de ideias se esclarecia e que a vergonha e o descontentamento se dissipavam. Entretanto, essa impressão teve-a apenas ao ver Inácio e os cavalos, quando se embrulhou na tulup que o cocheiro tivera o cuidado de lhe trazer e se sentou bem abrigado no trenó, que se pôs a andar, pensou nas ordens que teria de dar logo que chegasse a casa e, examinando um dos cavalos, o seu preferido para montar — um velho cavalo do Don, já gasto, mas ainda veloz — pôs-se a ver de maneira muito diferente o que lhe acontecera. Deixou de querer ser outro que não ele próprio e apenas desejou ser melhor do que fora até ali. Em primeiro lugar, decidiu que daí por diante não poria as suas esperanças numa felicidade extraordinária, como a que esperara do casamento, e que, por conseguinte, não iria menosprezar tanto o momento presente; depois, que nunca mais se deixaria conduzir por uma baixa paixão, como acontecera na véspera de se decidir a declarar-se. E, lembrando-se do irmão, resolveu nunca mais o esquecer nem o perder de vista, para assim poder ajudá-lo sempre que ele precisasse. Pressentia que isso iria acontecer dentro de pouco. Em seguida pensou na conversa que tivera com o irmão sobre o comunismo e que tão superficialmente encarara na oportunidade. Considerava absurda a reforma das condições econômicas, mas sempre se dera conta da injustiça que representava o muito que tinha em comparação com a miséria do povo. Para se sentir completamente justo, apesar de que sempre trabalhara muito, vivendo sem luxo algum, tomou a resolução de trabalhar cada vez mais e de levar uma vida ainda mais simples. Tudo lhe parecia tão fácil de realizar que pensar nisso foi a coisa mais agradável que lhe ocorreu durante o trajecto. Quando chegou a casa, por volta das nove da noite, sentiu que uma vida nova, uma vida mais bela, começava para ele. Uma réstia de luz filtrava-se através das janelas de Agáfia Mikailovna, a sua velha ama, agora governanta da casa. A velha ainda não dormia. Acordou Kuzma, que, estremunhado e descalço, veio até ao alpendre. Também Laska, a cadela, apareceu, e por pouco não derrubava Kuzma, ladrando e esfregando-se nas pernas de Levine, sem ousar pôr-lhe as patas dianteiras no peito.
— Ora ainda bem que voltou tão cedo, paizinho! — exclamou a velha.
— Tinha saudades, Agáfia Mikailovna. Estamos bem em casa dos outros, mas ainda melhor na nossa — respondeu Levine, entrando no escritório.
À luz de uma vela trazida à pressa e que iluminou lentamente a casa, Levine viu surgir, pouco a pouco, da obscuridade os objectos seus conhecidos: os chifres de veado, as estantes cheias de livros, o espelho, a estufa com o seu ventilador, sempre à espera de conserto, o divã do pai, a mesa grande com um livro aberto em cima, um cinzeiro partido e um caderno com anotações suas. Quando viu tudo aquilo, pareceu-lhe mais difícil a mudança de vida com que sonhara durante a viagem. Todos aqueles vestígios do passado pareciam apoderar-se dele, dizendo: «Não, não nos abandonarás, não hás-de ser outro, continuarás o que sempre foste: com as tuas dúvidas, o teu perpétuo descontentamento contigo mesmo, as tuas baldadas tentativas de aperfeiçoamento, as tuas crises, a tua sempre renovada esperança de uma felicidade que não consegues e que não foi feita para ti.» Era o que diziam as coisas que o rodeavam; mas outra voz falava do fundo da sua alma e essa dizia-lhe que não se submetesse ao passado, que cada um pode fazer de si próprio o que quiser. Obedecendo àquela voz, Levine aproximou-se de um recanto, onde tinha dois pesos de um pua cada um, e principiou a fazer com eles alguns exercícios na intenção de se animar. Entretanto ouviram-se uns passos atrás da porta e Levine largou precipitadamente os pesos. Era o administrador. Declarou que graças a Deus tudo ia bem, a não ser o trigo-negro, que se queimara um pouco na nova secadora. A notícia irritou Levine. A nova secadora fora construída e em parte inventada por ele. O administrador mostrara-se sempre hostil a essa máquina e agora vinha anunciar-lhe aquele malogro com um triunfo dissimulado. Levine estava convencido de que aquilo acontecera por não se terem tomado as precauções que ele mil vezes recomendara. Zangado, repreendeu o administrador. Mas logo lhe passou a má disposição quando lhe anunciaram um acontecimento importante e agradável: Pava, a melhor vaca, adquirida numa exposição, tivera o seu bom-sucesso.
— Kuzma, dá-me o tulup. E você — disse ele ao administrador — mande acender uma candeia: vou ver a Pava.
O estábulo das vacas seleccionadas ficava mesmo por detrás da casa. Levine contornou o monte de neve acumulada sobre o maciço dos lilases, aproximou-se do estábulo e abriu a porta, em parte gelada nos gonzos. Lá de dentro saiu um quente cheiro de estrume; as vacas, surpreendidas pela luz da candeia, revolveram-se na sua cama de palha fresca. O amplo lombo preto e branco da vaca holandesa avultou na penumbra. Berkut, o touro, deitado, com um anilho nas narinas, fez menção de se levantar, depois, mudando de ideia, limitou-se a mugir quando passaram junto dele. A magnífica Pava, imensa como um hipopótamo, deitada de costas, não permitia que os recém-chegados vissem a bezerrinha, que arfava.
Levine aproximou-se dela, examinou-a e ergueu a bezerra, malhada de branco e vermelho, sobre as suas longas pernas vacilantes. A vaca mugiu, inquieta, mas assim que Levine aproximou dela a cria, sossegou, e, depois de beijá-la como se suspirasse, pôs-se a lambê-la com a língua, áspera. A bezerra procurava-lhe os úberes, metendo a cabeça nos flancos da mãe, enquanto meneava a cauda.
— Alumia aqui, Fiador. Aproxima a candeia — disse Levine, examinando a cria. — Parece-se com a mãe, mas no pêlo faz lembrar o pai! É bonita! E que grande, que forte! Não é bonita, Vacili Fiodorovitch? — exclamou, voltando-se para o administrador, reconciliado com ele, graças à alegria que lhe causava a bezerrinha.
— Pois como não havia ela de ser bonita, Constantino Dimitrievitch! A propósito, no dia seguinte ao da sua partida, apareceu aí o Semionov, o comerciante. Temos que regatear muito com ele. Bom, já lhe disse o que se passou com a máquina.
Esta simples frase fez reentrar Levine de novo nos pormenores da herdade, que era grande e complicada. Do estábulo dirigiu-se directamente ao escritório, e depois de falar com o administrador e com o comerciante Semionov voltou para casa e subiu ao salão.
CAPÍTULO XXVII
A casa era grande e antiga, e ainda que Levine vivesse só, ocupava-a inteiramente e aquecia-a de ponta a ponta. Sabia que aquela vida era absurda, contrária aos seus novos planos e, inclusive, que não estava certa, mas aquela casa representava todo um mundo para ele: o mundo onde tinham vivido e morrido os pais. Ali haviam levado uma existência que se lhe afigurava ideal e era com isso mesmo que ele sonhava: voltar a viver com a mulher essa mesma vida ideal.
Embora mal se lembrasse da mãe, Levine mantinha um verdadeiro culto da sua memória e parecia-lhe impossível desposar uma mulher que não fosse a encarnação desse ideal adorado. Não concebia o amor fora do casamento; mais, era na família que ele pensava em primeiro lugar e só depois na mulher que lhe daria essa família. Ao contrário de todos os seus amigos, que apenas viam no casamento mais uma das manifestações da vida social, ele considerava-o o principal acto da existência, aquele de que dependia toda a felicidade do homem. E agora via-se obrigado a renunciar a ele.
Penetrou no salãozinho onde lhe costumavam servir o chá, pegou num livro, sentou-se na sua poltrona, e, enquanto Agáfia Mikailovna lhe trazia uma chávena de chá e se retirava para o vão da janela, declarando, como de costume: «Vou sentar-me, paizinho», com grande surpresa sua, Levine reconheceu que não renunciara às suas ilusões e que não podia viver sem elas.
«Com ela ou com outra, pouco importa», disse consigo, «mas tem de ser.» Por mais que tentasse ler ou que se esforçasse por prestar atenção à tagarelice de Agáfia Mikailovna, em imaginação iam-lhe perpassando, desordenadamente, várias cenas da sua futura vida de família. E compreendeu que uma ideia fixa se instalara de vez nos recessos da sua alma. Agáfia Mikailovna contava-lhe que, sucumbindo à tentação, Prochor, a quem Levine confiara uma certa importância para a compra de um cavalo, se pusera a beber e a espancar a mulher, que ficara meia morta. Enquanto a ouvia, Levine lia o livro e pouco a pouco reencontrava o fio das ideias que aquela obra outrora despertara nele. Era o tratado de Tyndall sobre o calor. Lembrava-se de ter censurado ao autor a sua suficiência, quando falava das próprias experiências com grande vanglória e inteiramente desprovido de pontos de vista filosóficos. De súbito, um alegre pensamento lhe ocorreu: «Dentro de dois anos terei duas holandesas, talvez a Pana ainda seja viva, e se juntarmos às doze crias de Berkut essas três, será uma beleza!» Voltou à leitura: «Bom, admitamos que a electricidade e o calor são o mesmo e único fenômeno; mas, na equação que serve para resolver o problema, poderemos nós empregar as mesmas unidades? Não. E então? A relação existente entre todas as forças da natureza nota-se por instinto... Que linda manada quando a filha de Pava se tiver transformado numa bela vaca vermelha e branca e lhe tenhamos juntado as três holandesas!... Magnífico! Quando nós sairmos com os convidados, minha mulher e eu, para ver as vacas... Minha mulher dirá: «Kóstia e eu criámos este bezerro como se fosse uma criança.» «Como pode interessar-se por estas coisas?», perguntará um dos convidados. «Tudo o que interessa a meu marido me interessa também.» «Mas quem será ela?» E lembrou-se do que acontecera em Moscovo.
«Que havemos de fazer?... A culpa não é minha... Agora tudo caminhará de maneira diferente. É absurdo não aceitarmos a vida como ela é, deixarmo-nos dominar pelo passado. Há que lutar para viver melhor, muito melhor.» Levine levantou a cabeça das páginas do livro e ficou a pensar, perdido nas suas reflexões. Entretanto a velha Laska — que ainda não perdera a alegria que lhe causara a chegada do dono, que ia ladrar lá fora por tudo e por nada, voltou à sala meneando o rabo, impregnada do ar fresco da noite. Aproximou-se de Levine, meteu-lhe a cabeça debaixo da mão e principiou a latir, queixosa, como que exigindo que ele a acariciasse.
— Só lhe falta falar — disse Agáfia Mikailovna. — Sendo uma cadela... compreende que o dono voltou para casa e que está triste.
— Por quê?
— Julga que eu não vejo? Vivo com os meus amos desde rapariga, já tenho tempo de os conhecer. Criei-me com eles. Mas não se atormente, paizinho. Desde que haja saúde e que a consciência esteja tranqüila.
Surpreendido de vê-la adivinhar-lhe os pensamentos, Levine olhou-a atentamente.
— Quer mais um pouco de chá?—perguntou a velha, e saiu levando a chávena.
Laska continuava a meter a cabeça por debaixo da mão de Levine. Este acariciou-a, e a cadela, enroscando-se-lhe aos pés, apoiou o focinho na pata traseira, que estendera para a frente. E como que a demonstrar que tudo agora estava bem, entreabriu a boca, remexeu o focinho, ajeitou em volta dos lábios pegajosos os velhos dentes e adormeceu numa paz beatífica. Levine, que observara atentamente todos estes movimentos da cadela, disse consigo mesmo: «Façamos o mesmo. Não vale a pena atormentarmo-nos. Tudo se arranjará.»
CAPÍTULO XXVIII
Na manha seguinte ao baile, Ana Arkadievna telegrafou ao marido anunciando-lhe que partiria de Moscovo naquele mesmo dia.
— Tenho de ir, tenho de ir — dizia, explicando à cunhada, num tom peremptório, como se lhe ocorresse de repente que tinha muitas coisas inadiáveis a fazer. — Não. É melhor que seja hoje mesmo.
Stepane Arkadievitch não jantou em casa, mas prometeu estar de volta às sete para acompanhar a irmã.
Kitty também não apareceu, e mandou um bilhetinho desculpando-se. Dolly e Ana jantaram as duas sozinhas com a inglesa e as crianças. Entretanto, ou pela inconstância própria da idade ou adivinhando que Ana já não era a mesma pessoa do dia em que a ela se tinham afeiçoado, e que pouca atenção lhes prestava agora, as crianças perderam de súbito toda a amizade pela tia, já não queriam brincar com ela nem tinham pena que se fosse embora. Toda a manhã Ana estivera ocupada com os preparativos da viagem: escreveu alguns bilhetes de despedida, fez as suas contas e arrumou as malas. Parecia a Dolly que Ana não estava tranqüila ou que se encontrava num estado de preocupação que ela própria conhecia, e que raras vezes se produz sem motivo e na maior parte dos casos esconde um verdadeiro descontentamento íntimo. No fim do jantar, Ana foi vestir-se nos seus aposentos e Dolly seguiu atrás dela.
— Que estranha estás hoje! — disse-lhe.
— Eu? Achas? Não estou estranha, mas triste. Acontece-me isto às vezes. Tenho vontade de chorar. É uma tolice, daqui a pouco estou boa — replicou Ana, rapidamente, escondendo o rosto afogueado com o saquinho onde guardava os lenços e a touca de dormir. Tinha um brilho especial nos olhos, que a cada momento se enchiam de lágrimas.
— Não tinha vontade de sair de Sampetersburgo, e agora, pelo contrário, não tenho vontade de me ir embora daqui.
— Uma boa inspiração te trouxe —disse Dolly, examinando-a atentamente.
— Não digas isso, Dolly. Nada fiz e nada podia fazer. Por vezes pergunto a mim mesma por que hão-de as pessoas estar assim todas de acordo para me tecerem elogios. Que fiz eu e que podia fazer? No teu coração é que havia amor bastante para perdoares...
— Só Deus sabe o que teria acontecido se não tens aparecido! Que feliz tu és, Ana! Na tua alma tudo é claro e puro.
— Todos temos os nossos skeletons na alma, como dizem os Ingleses...
— Que skeletons tens tu? Em ti tudo é tão claro!
— Tenho-os—disse Ana, repentinamente, e um inesperado sorriso, malicioso e zombeteiro, lhe assomou aos lábios através das lágrimas.
— Pelo que vejo, o teu skeleton deve ser divertido e não triste — observou Dolly, sorrindo.
— Não; é triste. Sabes por que me vou embora hoje em vez de ir amanhã? Estava atormentada com isto, mas quero confessar-te a verdade — volveu Ana, reclinando-se numa poltrona, em atitude decidida, enquanto cravava os olhos nos de Dolly.
E com grande surpresa, Dolly viu que Ana rosara-se até às orelhas, até à própria raiz dos seus ondulados cabelos negros.
— Sabes por que é que Kitty não veio jantar hoje em tua casa? — prosseguiu Ana.—Tem ciúmes de mim. Estraguei-lhe a felicidade... Por minha causa o baile tornou-se para ela um tormento em vez de uma alegria, quando a verdade é que não tenho culpa ou tenho muito pouca culpa no que aconteceu — disse, arrastando em voz débil a expressão «muito pouca».
Esqueletos, mas figurativamente, «segredo».
— Oh! Disseste isso de maneira tão parecida à maneira de falar do Stiva — observou Dolly, sorrindo.
— Oh, não! Oh, não! Não sou como o Stiva — exclamou, franzindo as sobrancelhas. — Conto-te isto porque não me permito duvidar de mim mesma um instante que seja.
Mas no momento de pronunciar estas palavras, Ana deu conta de que não correspondiam à verdade: não só duvidava de si mesma como pensar em Vronski a perturbava e apenas antecipara a partida com o único objectivo de o não tornar a ver.
— Sim, o Stiva contou-me que dançaste a mazurca com Vronski e que ele...
— Não podes calcular a graça que as coisas tomaram. Propunha-me armar em casamenteira, e resultou o contrário. Talvez contra minha vontade...
Corando, calou-se.
— Oh, os homens sentem isso imediatamente! — exclamou Dolly.
— Ficaria muito pesarosa se ele tivesse tomado as coisas a sério — interrompeu-a Ana. — Mas tenho a certeza de que tudo esquecerá e que Kitty deixará de me odiar.
— Por outro lado, Ana, para te falar a verdade, não tinha grande desejo que Kitty casasse com ele. Acho melhor que este casamento se desfaça, uma vez que Vronski pôde enamorar-se de ti tão depressa.
— Oh, meu Deus, seria absurdo! — exclamou Ana, e de novo ficou toda corada, tão grande a satisfação que a percorreu ao ouvir pronunciar em voz alta o pensamento que o preocupava. — E aqui me tens que me vou embora depois de ter feito da Kitty uma inimiga, a Kitty de quem tanto gostava. É tão simpática! Mas tu arranjarás tudo, não é verdade, Dolly?
Dolly a muito custo reteve um sorriso. Gostava de Ana, mas não lhe desagradava a ideia de que também ela tinha as suas fraquezas.
— Uma inimiga? Isso não pode ser.
— Gostaria muito que todos me quisessem como eu lhe quero a ela. E agora ainda vos quero mais do que antigamente — disse Ana, com as lágrimas nos olhos. — Ah, que tola eu estou hoje!
Passou o lencinho pelos olhos e principiou a vestir-se.
Precisamente na ocasião em que ia partir, chegava Stepane Arkadievitch, que vinha atrasado, cheirando a vinho e a tabaco e muito corado e alegre.
A comoção de Ana apoderara-se de Dolly, e quando abraçou a cunhada pela última vez, murmurou: — Lembra-te, Ana, de que nunca esquecerei o que fizeste por mim.
E quero que saibas que sempre te quis e sempre te hei-de considerar a minha melhor amiga! — Não compreendo por quê — replicou Ana, beijando-a e escondendo as lágrimas.
— Compreendeste-me e ainda me compreendes. Adeus, minha querida!
CAPÍTULO XXIX
«Graças a Deus, tudo acabou!», foi o primeiro pensamento de Ana Arkadievna ao despedir-se pela última vez do irmão, que permaneceu na plataforma, impedindo a entrada do vagão, até a sineta tocar o terceiro sinal. Ana sentou-se no seu lugar, ao lado de Anuchka, examinando tudo à sua volta, na semipenumbra do compartimento. «Graças a Deus, amanhã verei o meu Seriocha e Alexei Alexandrovitch e retomarei a minha vida agradável.» Sentindo a mesma preocupação que a tomara todo o dia, mas com certo prazer, começou a instalar-se para a viagem; abriu, com as suas mãos ágeis, o saquinho vermelho, retirou dele uma almofada, que colocou em cima dos joelhos, e embrulhou as pernas na manta de viagem, sentando-se com toda a comodidade. Uma senhora doente dispôs-se a deitar-se desde logo. Outras duas puseram-se a conversar com ela e uma dama gorda queixava-se do mau aquecimento enquanto embrulhava as pernas. Ana respondeu com algumas palavras a perguntas que elas lhes dirigiam, mas ao ver que a conversa era destituída de interesse, pediu a Anuchka a lanterninha, que prendeu no braço do assento, e tirou da maleta um romance inglês e uma espátula de cortar papel. De princípio não pôde ler. O ir e vir das pessoas incomodava-a, e quando o comboio se pôs em andamento foi-lhe impossível não prestar atenção aos ruídos dos vagões. Mas daí a pouco distraía-se com a nevasca que caía, açoitando a vidraça da portinhola esquerda, com o condutor que passava, muito agasalhado e coberto de neve, e os comentários a respeito da tempestade que se desencadeava. Mais adiante tudo se repetia, o trepidar da composição, a neve na vidraça, as bruscas mudanças de temperatura, do calor para o frio e do frio para o calor, as mesmas caras na obscuridade e as mesmas vozes. Contudo conseguira principiar a ler e a compreender o que lia. Anuchka já dormitava, segurando entre as mãos enluvadas — uma das luvas estava rota — o saquinho vermelho em cima dos joelhos. Ana Arkadievna lia e compreendia o que lia, mas o desejo que ela própria tinha de viver era grande de mais para se interessar pela vida dos outros.
Se a heroína do romance tratava um doente, Ana tinha desejos de andar em passos leves pelo quarto do enfermo; se um membro do Parlamento pronunciava um discurso, ela própria desejaria tê-lo pronunciado, se lady Mary cavalgava atrás da sua matilha, irritando a nora e a todos assombrando com a sua audácia, Ana ambicionava ser ela própria a galopar. Mas nada tinha que fazer! E lá ia revolvendo nas mãos a espátula de cortar papel e prosseguindo na leitura.
O herói do romance estava já a dois passos de conseguir o que constitui a felicidade inglesa: o título de barão e uma terra, onde ela teria gostado de o acompanhar, quando, de repente, se lhe afigurou que o dito herói devia sentir vergonha e que essa vergonha a atingia também. Mas por quê vergonha? «De que me envergonho eu?», perguntou a si mesma assombrada e sentida. Abandonou o livro e recostou-se no assento, apertando a espátula entre os dedos. Que fizera ela? As suas recordações de Moscovo perpassaram-lhe diante dos olhos: eram todas excelentes.
Lembrou-se do baile, de Vronski, com o seu rosto transido de enamorado, a atitude que ela mantivera para com ele: nada disso a podia envergonhar. Mas ao mesmo tempo, precisamente neste ponto das suas recordações, a vergonha aumentou, como se uma voz interior lhe dissesse enquanto pensava em Vronski: «Foi-te agradável, foi-te muito agradável!» «Sim, e depois», perguntou a si mesma, resoluta, agitando-se no assento. «Que tem isso? Terei medo de enfrentar esta recordação? Que houve, afinal? Existe, poderá existir alguma relação, além das simples relações mundanas, entre mim e aquele militarzinho?» Sorriu, desdenhosa, e voltou a pegar no livro; era-lhe, porém, completamente impossível compreender o que lia. Passou a espátula pela vidraça coberta de gelo, depois perpassou pelo rosto a superfície fria e lisa, e, cedendo a um súbito acesso de alegria, desatou a rir quase ruidosamente. Notou que os nervos se punham cada vez mais tensos, que os olhos se lhe abriam desmesuradamente; as mãos e os pés crispavam-se; qualquer coisa a sufocava. E naquela penumbra vacilante os sons e as imagens impunham- se-lhe com uma estranha intensidade. A cada momento perguntava a si mesma se o comboio avançava, recuava ou permanecia no mesmo lugar. Era Anuchka realmente ou seria uma estranha aquela mulher ali sentada a seu lado? «Que está suspenso daquele cabide? Uma pelica ou um animal? Sou eu realmente quem está sentada nesta almofada? Serei eu ou outra mulher?» Receava abandonar-se a semelhante estado de inconsciência. Mas algo a arrastava para ele, embora se lhe pudesse ou não entregar consoante a sua vontade. Ergueu-se, sentindo-se ainda incapaz de resistência, jogou a manta, tirou a capa. Momentaneamente voltou a si, compreendendo que o homem magro com um grande capote a que faltava um botão era o encarregado do aquecimento que viera verificar o termômetro e que o vento e a neve tinham entrado atrás dele pela porta do compartimento. Depois, porém, tudo se confundiu outra vez... O homem alto pôs-se a raspar qualquer coisa na parede do carro; a senhora idosa estendeu as pernas, levantando uma nuvem de pó negro; ouviu um ranger, um martelar medonho, como se estivessem a torturar alguém; uma luz vermelha cegou-a, depois a escuridão tudo invadiu. Ana julgou que se despenhava de um precipício. As sensações que experimentava eram, aliás, mais alegres que terríveis. A voz de um homem todo enroupado e coberto de neve gritou-lhe qualquer coisa ao ouvido. Recuperou os sentidos, compreendeu que se aproximavam de uma estação. O homem era o condutor. Imediatamente pediu à criada que a acompanhava o xale e a capa, agasalhou-se e dirigiu-se para a porta.
— A senhora quer sair? — perguntou Anuchka.
— Quero, preciso de respirar; aqui sufoca-se.
Ana tentou abrir a portinhola. O vento e a neve fizeram-lhe frente. Era divertido. Por fim, tendo conseguido abri-la, saiu. Dir-se-ia que o vento a esperava: ululava, querendo arrastá-la, mas Ana agarrou-se com uma das mãos ao varão da portinhola e erguendo a saia com a outra pôs os pés na plataforma. Abrigada pela composição, respirou com verdadeira satisfação o ar glacial daquela noite de tempestade. De pé, junto da portinhola, olhava a gare e as luzes da estação.
CAPÍTULO XXX
Desencadeara-se uma terrível tempestade de neve e o vento sibilava por entre as rodas do comboio e os postes próximos da estação. As carruagens, os postes, as pessoas, tudo ficava coberto de neve, que aumentava constantemente. Após uma curta acalmia, a tempestade redobrou de intensidade e tão violentamente que parecia nada poder resistir-lhe. Entretanto a porta da estação abria-se e fechava-se continuamente para dar passagem a pessoas que corriam de um lado para o outro ou ficavam a conversar alegremente na plataforma, cujas pranchas rangiam debaixo dos pés. A sombra de um homem curvado pareceu sair de sob a terra junto do local onde Ana se encontrava; ouviu o retinir de um martelo num pedaço de ferro e em seguida, do lado oposto, uma voz irritada, que saía das trevas, e vociferava: «Mande um telegrama!», dizia, e outras vozes gritavam: «Por aqui, se faz favor! O nº !» Ana viu passar diante de si vultos cobertos de neve, atrás dos quais dois senhores caminhavam fumando tranqüilamente. Ana respirou outra vez a plenos pulmões o ar frio, e, já com a mão na portinhola do compartimento, de novo se preparava para embarcar quando um homem de capote militar se aproximou, ocultando a luz do farol. Ana observou-o e reconheceu Vronski. Este levou a mão ao barrete, inclinou-se e perguntou se lhe podia ser útil em alguma coisa. Ana olhou-o um momento sem responder. Embora ele estivesse de costas para a luz, julgou ver-lhe nos olhos e na fisionomia a expressão de respeitoso entusiasmo que tanto a impressionara na véspera. Acabava de dizer para si mesma, depois de o repetir tantas e tantas vezes naqueles últimos dias, que Vronski, para ela, era um rapaz como outro qualquer que encontrava por todos os lados na sociedade, e em quem nunca se permitiria pensar, e eis que, de repente, ao vê-lo, se apoderavam dela a alegria e o orgulho. Não precisava de lhe perguntar por que estava ali. Estava ali, sabia-o com toda a certeza, como se ele lho tivesse dito, evidentemente para se encontrar com ela.
— Não sabia que tinha de ir a Sampetersburgo! Que vai fazer lá? — perguntou Ana, deixando descair a mão, que se firmara já no varão da portinhola.
A animação e a alegria, uma animação e uma alegria indizíveis, resplandeciam-lhe no rosto.
— Que vou fazer lá — repetiu Vronski, fitando-a nos olhos. — Bem sabe que vou para estar junto de si. Não posso fazer outra coisa.
Naquele instante o vento, como se tivesse acabado de derrubar todos os obstáculos, arrancou a neve do tecto das carruagens, agitou no ar uma prancha metálica que arrancara de qualquer parte, e, lá mais para diante, ressoou, triste e lúgubre, o estridente silvo da locomotiva. Todo o horror da tormenta se lhe afigurou ainda mais grandioso. Vronski dissera precisamente o que Ana no fundo da sua alma desejava que ele dissesse, embora a sua razão receasse ouvi-lo. E não respondeu. Ele viu que na expressão dela se traduzia um sentimento de luta.
— Perdoe-me, se o que acabo de dizer lhe desagrada — pronunciou humildemente.
Falava com respeito e cortesia, mas com tanta firmeza e decisão que Ana se viu impossibilitada de lhe responder logo.
— Isso não está certo, e peco-lhe, se é homem de bons sentimentos, que esqueça o que disse; eu farei o mesmo — pronunciou, finalmente.
— Não esquecerei, nem poderei esquecer nunca uma só palavra, um só gesto seu.
— Basta! Basta! — exclamou Ana, procurando debalde imprimir ao rosto uma expressão séria, ao rosto que ele fixava demoradamente.
Erguendo-se até à fria plataforma da carruagem, deteve-se ali por momentos. Não se lembrava das palavras dele, mas sentia que aquela rápida conversa os unira muito, o que a assustava e a fazia feliz ao mesmo tempo. Alguns segundos depois penetrava no compartimento e sentava-se. Cada vez se sentia mais nervosa: chegou a pensar que ia partir-se dentro dela uma corda demasiado tensa. Não dormiu toda a noite. Mas naquela tensão nervosa e nos sonhos que lhe enchiam a imaginação nada havia de desagradável ou de triste, muito pelo contrário, havia qualquer coisa de perturbador, de ardente, de excitante. Pela madrugada, adormeceu na poltrona e ao acordar já era dia. O comboio aproximava-se de Sampetersburgo. Imediatamente se pôs a pensar na casa, no marido, no filho, e as preocupações do dia absorveram-na.
Mal desembarcou, o primeiro rosto que encontrou foi o do marido: «Meu Deus! Por que lhe terão crescido tanto as orelhas?» pensou ela, mirando-lhe a arrogante e fria figura e sobretudo as cartilagens das orelhas, que lhe chamavam agora a atenção, nas quais, dir-se-ia, vinham pousar as abas do chapéu. Ao vê-la, avançou ao seu encontro, com o seu habitual sorriso irônico, fitando-a com os seus grandes olhos fatigados. Uma sensação desagradável oprimiu o coração de Ana ao encontrar o olhar cansado e tenaz do marido. Era como se esperasse achá-lo diferente.
O que mais a surpreendia era a sensação de descontentamento consigo própria que a dominava ao ver-se junto dele. Afinal, no trato com ele experimentava uma sensação familiar, conhecida, uma espécie de hipocrisia; anteriormente não dava por isso, mas agora essa sensação tornava-se clara e dolorosa.
— Como vês, o teu terno marido, terno como no primeiro ano de casado, estava morto por tornar a ver-te — proferiu ele, na sua voz aguda e lenta, naquele tom como de mofa, que habitualmente adoptava para com ela, como se quisesse ridicularizar essa mesma maneira de se exprimir.
— E o Seriocha, está bem? — perguntou ela.
— Assim respondes à minha veemência!... Está bem, está bem.
CAPÍTULO XXXI
Vronski nem sequer tentara dormir aquela noite. Passara-a inteira sentado com os olhos muito abertos. O seu olhar, fixo a maior parte das vezes, atentava, de quando em quando, nas pessoas que entravam e saíam, sem as distinguir das próprias coisas. Nunca a sua serenidade parecera tão desconcertante, a sua altivez mais inabordável. Esta sua atitude desde logo lhe conquistou a inimizade do companheiro de viagem, um jovem funcionário judicial, nervoso, que tentara o impossível para fazê-lo compreender que fazia parte do número dos vivos. Mas por mais que lhe pedisse lume, que lhe dirigisse a palavra, que o acotovelasse mesmo, Vronski não lhe prestara maior atenção que à lanterna do comboio e o desgraçado, ofendido por tamanha fleuma, dificilmente se reprimia, pronto a explodir.
Se Vronski dava mostras de uma tão real indiferença não era por estar certo de haver tocado o coração de Ana. Não, isso não ousava pensar; mas o veemente sentimento que sentia por ela enchia-o de felicidade e de orgulho. Que resultaria de tudo aquilo? Não sabia nem queria pensar nisso. Mas sentia que todas as suas forças, relaxadas e dispersas até então, se enfeixavam e tendiam como que para um fim único e maravilhoso. Vê-la, ouvi-la, viver junto dela, a vida já não tinha para ele outro sentido. Este pensamento a tal ponto o dominava que não pôde evitar confessar-lho quando viu Ana na estação de Bologoia, onde descera para tomar um copo de soda. Estava contente por ter falado: Ana, agora, sabia que ele a amava, e não podia deixar de pensar nisso. Ao voltar para o seu compartimento, Vronski recapitulara, um por um, todos os pormenores dos encontros que tinha tido. Reviu todos os gestos, todas as palavras, todas as atitudes de Ana. E as imagens que se iam formando no seu espírito quase lhe paralisavam o coração.
Quando desceu do comboio em Sampetersburgo sentiu-se fresco e repousado como depois de um banho frio, embora não tivesse pregado olho a noite inteira. Deteve-se junto do carro dela, para a ver passar.
«Tornarei a ver-lhe mais uma vez o rosto, o andar», dizia consigo, com um sorriso involuntário. «Talvez tenha para mim um olhar, um sorriso, uma palavra, um gesto.» Mas a quem viu primeiro foi ao marido, acompanhado, com grande deferência, pelo chefe da estação. «Ah! Sim, o marido!» E quando o viu aparecer na sua frente com aquela cabeça, os ombros e as pernas perdidas dentro das calças, quando o viu, sobretudo, dar o braço a Ana, como homem que conhece os direitos que lhe assistem, Vronski teve de convencer-se de que aquela personagem, cuja existência até então se lhe afigurara problemática, existia, era de carne e osso, e que laços muito estreitos a uniam à mulher que ele, Vronski, amava.
Naquele frio rosto petersburguês, aquele ar severo e seguro de si, aquele chapéu de abas redondas, aquele dorso ligeiramente corcovado, de tudo isto Vronski teve de admitir a existência, mas com a sensação de um homem que, morto de sede, encontra uma nascente de água pura conspurcada pela presença de um cão, de um carneiro ou de um porco. O andar de Alexei Alexandrovitch, de pernas hirtas e quadris bamboleantes, foi o que mais o incomodou. A ninguém reconhecia o direito, salvo a ele próprio, de amar Ana. Felizmente, esta era a mesma de sempre e ao vê-lo sentiu-se reanimado. O criado de Vronski, um alemão que viajara em ª classe, veio receber as ordens do amo. Confiando-lhe as bagagens, Vronski avançou resolutamente para ela. Assistiu, pois, ao encontro dos esposos e a sua perspicácia de namorado permitiu-lhe apreender o ligeiro constrangimento com que Ana acolheu o marido. «Não, ela não gosta dele, nem pode gostar», decretou. Embora Ana estivesse de costas, Vronski notou com alegria que ela lhe adivinhara a presença. Voltou-se um pouco, reconheceu-o e continuou a conversa que encetara com o marido.
— Passou bem a noite? — perguntou Vronski, inclinando-se diante do casal, dando assim oportunidade a Alexei Alexandrovitch de o reconhecer, caso isso lhe aprouvesse.
— Muito obrigada, passei bem — respondeu ela.
O seu rosto fatigado não aparentava a animação costumeira; no entanto, um lampejo lhe perpassou pelos olhos ao ver Vronski, e foi quanto bastou para ele se sentir feliz. Entretanto levantara os olhos para o marido, como para se certificar de que ele reconhecia o conde: Alexei Alexandrovitch olhava-o com um ar de poucos amigos, procurando lembrar-se de quem se tratava. A serenidade e a suficiência de Vronski chocaram-se com a fria segurança de Alexei Alexandrovitch, como uma foice que bate numa pedra.
— O conde Vronski — disse Ana.
— Ah! Creio que já nos conhecemos — replicou com indiferença Alexei Alexandrovitch, estendendo-lhe a mão. — Fizeste a viagem de ida com a mãe e a de volta com o filho — acrescentou, sublinhando cada palavra. — Tem estado de licença, naturalmente? — perguntou, e sem aguardar resposta dirigiu-se à mulher no seu habitual tom irônico: — Quê? Então houve muitas lágrimas à despedida em Moscovo? Pela maneira de se dirigir à mulher, Vronski percebeu que ele desejava estar só com ela. Mas Vronski, voltando-se para Ana, disse-lhe ainda: — Espero ter a honra de lhe apresentar os meus cumprimentos. Alexei Alexandrovitch olhou Vronski com os seus olhos cansados.
— Com muito gosto; recebemos às segundas-feiras — replicou com frieza, e, sem mais se preocupar com ele, voltou-se para a mulher. — Muita sorte tive em poder dispor desta meia hora para te vir esperar, e ter podido mostrar-te todo o meu carinho — continuou ironicamente.
— Estás a ressaltar o teu carinho para que eu o aprecie melhor — respondeu Ana no mesmo tom irônico, ouvindo, involuntariamente, os passos de Vronski, que caminhava atrás dela. «Mas que me importa?», pensou. E imediatamente perguntou ao marido como Seriocha passara aqueles dias, na sua ausência.
— Oh, magnificamente! Mariette diz que esteve muito bonzinho...
E tenho de te dar um desgosto... Não teve tantas saudades tuas como o teu marido. E outra vez merci por teres vindo um dia mais cedo. O nosso querido samovar vai ter com isso uma grande alegria (era o nome que ele dava à célebre condessa Lídia Ivanovna, que vivia sempre em estado de emoção e de agitação). Perguntou por ti. Se me atrevesse a dar-te um conselho, dir-te-ia que a visitasses hoje mesmo. Sabes que sofre por tudo e por nada. Agora, além de todas as suas preocupações, está interessadíssima na reconciliação dos Oblonski.
A condessa Lídia Ivanovna era amiga de Alexei Alexandrovitch e o eixo do grupo da alta sociedade de Sampetersburgo que Ana mais freqüentava por causa do marido.
— Eu escrevi-lhe.
— Mas precisa de saber pormenores. Vai a casa dela, se não estás cansada, querida. Kondrati leva-te no carro. Eu tenho de ir a uma reunião. Enfim, já não jantarei só — acrescentou com ironia desta vez. — Não podes calcular como me habituei...
E dito isto, apertou-lhe demoradamente a mão, sorriu-lhe com o seu melhor sorriso e ajudou-a a subir para a carruagem.
CAPÍTULO XXXII
A primeira pessoa que descobriu Ana quando esta chegou a casa foi o filho; sem querer ouvir os brados da preceptora, correu escada abaixo ao seu encontro, gritando numa grande alegria: «Mãezinha! Mãezinha!», e lançou-se-lhe ao pescoço.
— Eu bem lhe dizia que era a mãezinha! — gritava ele à preceptora. — Tinha a certeza.
Mas também o filho, tal como o pai, causou em Ana uma espécie de desencanto. Imaginava-o melhor do que ele era realmente. Para o apreciar plenamente, viu-se obrigada a descer à realidade e vê-lo tal como era, isto é, uma linda criança de caracóis louros, belos olhos azuis e pernas bem feitas nas suas meias bem esticadas. Então experimentou um prazer quase físico ao senti-lo junto de si, ao receber as suas carícias e uma espécie de apaziguamento moral penetrou nela quando ele principiou a fazer as suas ingênuas perguntas e se pôs a perscrutar-lhe os olhos tão meigos, tão confiantes, tão cândidos. Desembrulhou os presentes que Dolly lhe mandava e contou-lhe que havia em Moscovo uma menina chamada Tânia, que já sabia ler e até ensinava os outros a ler.
— Então sou pior do que ela? — perguntou Seriocha.
— Para mim, meu amor, não há ninguém melhor do que tu.
— Eu bem sabia — disse Seriocha sorrindo.
Ainda Ana não acabara de tomar o café quando lhe anunciaram a condessa Lídia Ivanovna. Era uma mulher alta e cheia, de tez amarelada e enfermiça e uns melancólicos e bonitos olhos pretos. Ana, que a estimava, julgou aperceber-se pela primeira vez de que ela também tinha os seus defeitos.
— Então, querida, levaste-lhes o ramo de oliveira? — perguntou a condessa, mal entrou na sala.
— É verdade, tudo se consertou. Além disso as coisas não eram tão feias como pareciam — replicou Ana. — Em geral uma belle-soeur é um pouco precipitada nas suas decisões.
Mas a condessa Lídia, sempre muito interessada pelo que não lhe dizia respeito, tinha por costume não prestar a menor atenção ao que se supunha interessar-lhe. Interrompeu Ana.
— Sim, há muita maldade e muita desgraça neste mundo. Estou hoje tão desanimada! — Por quê? — interrogou Ana, procurando conter o riso.
— Começo a cansar-me de lutar em vão pela verdade e às vezes vejo-me completamente derrotada. A obra das nossas irmãzinhas (tratava-se de uma instituição filantrópica patriótico-religiosa) segue por bom caminho, mas não se pode fazer nada com estes senhores — disse a condessa Lídia Ivanovna, ironicamente, como que submetendo-se ao destino.— Apoderaram-se da ideia para a desvirtuarem e agora julgam-na de uma forma vil e indigna. Só duas ou três pessoas, no número das quais está o seu marido, compreendem o significado desta obra; as demais não sabem senão desacreditá-la. Ontem recebi uma carta de Pravdine...
Pravdine, célebre pan-eslavista, residia no estrangeiro. A condessa resumiu a Ana o conteúdo da carta dele. Depois contou-lhe as inúmeras ciladas e contratempos armados à obra da união das igrejas e retirou-se a toda a pressa, pois ainda tinha de assistir, naquele dia, a duas reuniões, uma das quais do comitê eslavo.
«Nada disto é novo», dizia Ana com os seus botões, «mas por que não o percebi antes? Estaria ela hoje mais nervosa do que de costume? No fundo, tudo isto é cômico: esta mulher, que se diz cristã e que só pensa na caridade, zanga-se e luta com outras pessoas que trabalham exactamente pelos mesmos fins que ela.»
Depois da condessa, chegou uma amiga de Ana, esposa de um funcionário, que lhe contou as novidades da capital, e partiu às três horas, prometendo vir jantar com ela. Alexei Alexandrovitch estava no Ministério. Quando ficou só, Ana assistiu primeiro ao jantar do filho — a criança comia à parte — e depois procurou pôr em ordem as suas coisas e responder à correspondência em atraso.
Da perturbação, da vergonha inexplicável que a assaltara durante a viagem, já não havia vestígios. De novo no seu ambiente habitual, sentia-se outra vez segura e irrepreensível, e não conseguia perceber o estado de espírito por que passara na véspera. «Que se passou afinal de tão grave?», interrogou-se a si mesma. «Nada. Vronski disse uma loucura e eu respondi-lhe como devia. Não vale a pena falar no caso a Alexei, seria como que atribuir-lhe importância.» E recordou-se de ter contado, uma vez, ao marido que um subordinado dele estivera a ponto de se lhe declarar e ele lhe respondera que toda a mulher que freqüenta a sociedade está sujeita a coisas dessas, mas que confiava plenamente no seu tacto e nunca se permitiria humilhá-la e humilhar-se a si próprio deixando-se arrastar pelo ciúme. «O melhor, portanto, é calar-me», concluiu ela. «E, aliás, graças a Deus, nada tenho a dizer-lhe.»
CAPÍTULO XXXIII
Alexei Alexandrovitch voltou do Ministério às horas, mas, como freqüentemente acontecia, não teve tempo de entrar nos aposentos da mulher. Meteu-se logo no escritório para receber umas visitas que o aguardavam e assinar uns papéis que o secretário lhe trouxera. À hora do jantar chegou a velha prima de Alexei Alexandrovitch, um director do seu Ministério com a esposa e um rapazola que lhe fora recomendado (os Karenines tinham sempre dois ou três convidados para o jantar). Ana desceu ao salão para recebê-los. Às em ponto, ainda o relógio de bronze, estilo Pedro I, não deixara cair a última badalada, entrava Alexei Alevandrovitch, de sobrecasaca e duas condecorações ao peito, pois tinha de sair logo após o jantar. Todos os minutos da sua existência eram cogitados, e para poder cumprir o que diariamente lhe competia via-se obrigado a observar uma pontualidade estrita. «Sem precipitação e sem descanso», eis o seu lema. Ao entrar no salão, cumprimentou todos os presentes e sentou-se, apressadamente, sorrindo para a mulher.
— Finalmente, acabou a minha solidão! Nem tu imaginas como é incômodo — sublinhou a palavra «incômodo» — comer sozinho.
Durante o jantar falou com Ana acerca de Moscovo, e com um sorriso irônico perguntou por Stepane Arkadievitch; mas conversou a maior parte do tempo sobre assuntos de ordem geral, tendo abordado questões do Ministério e da sociedade de Sampetersburgo. Findo o jantar, Alexei Karenine demorou-se meia hora com os seus convidados e depois de apertar de novo a mão da mulher, sorrindo sempre, saiu para ir assistir a uma nova sessão do conselho. Ana não foi a casa da princesa Betsy Tverskaia, nem ao teatro, onde tinha um camarote reservado. Não foi principalmente por ainda não ter pronto o vestido com que contava. Ao ocupar-se das suas toilettes depois da partida dos convidados, irritou-se muito. Antes de partir para Moscovo mandara à modista três vestidos para transformar. Em geral, tinha a habilidade de gastar pouco, vestindo-se embora muito bem. Precisava de transformar aqueles vestidos de tal sorte que ficassem irreconhecíveis, e havia já três dias que deviam estar prontos. No entanto, dois deles estavam por acabar, e o outro não lhe agradou. A modista apressou-se a explicar-lhe que o vestido ficava melhor como ela o fizera, e Ana enfurecera-se tanto com ela que até sentia vergonha agora ao recordá-lo. Para serenar, dirigiu-se ao quarto do filho e passou todo o serão com ele, deitou-o, arranjou-lhe a roupa com muitos cuidados e saiu depois de o abençoar com o sinal-da-cruz. E sentiu-se então bastante satisfeita por não ter saído e por ter passado uma tarde tão agradável. Estava serena e tranqüila, e via claramente que tudo que lhe parecera significativo durante a viagem era um facto corriqueiro e trivial da vida mundana e que não havia razão para se envergonhar nem perante si mesma nem perante ninguém. Sentou-se junto ao fogão e ali ficou tranqüilamente à espera do marido, entretida a ler o seu romance inglês. Às horas em ponto retiniu a campainha autoritária de Alexei Alexandrovitch e não tardou que ele entrasse na sala.
— Finalmente, chegaste! — exclamou ela, estendendo-lhe a mão, que ele beijou antes de se sentar junto da mulher.
— Vejo que a tua viagem obteve êxito — disse Alexei.
— Sim, o mais completo — replicou Ana, e contou tudo desde o princípio: a viagem com Vronskaia, a chegada a Moscovo e o desastre na estação. Depois disse-lhe da compaixão que sentira primeiro pelo irmão e depois por Dolly.
— Sou de opinião que não se deve perdoar a um homem assim, embora se trate de teu irmão — disse ele com expressão severa.
Ana sorriu. Compreendeu que ele falava assim para provar que os laços de parentesco não o podiam impedir de emitir juízos sinceros. Confiou-lhe: esse traço de carácter e apreciava-o.
— Estou muito satisfeito que tudo tenha acabado bem — continuou. — Bom, o que se diz por lá da nova lei que apresentei ao conselho? Ana não ouvira falar de semelhante lei em Moscovo e envergonhou-se por ter esquecido uma coisa que tão importante era para ele.
— Aqui, pelo contrário, tem sido muitíssimo comentada — disse Alexei Alexandrovitch com um sorriso de satisfação.
Ana compreendeu que o marido lhe queria comunicar qualquer coisa agradável a propósito da referida lei e tantas perguntas fez que conseguiu que ele se explicasse.
— Dá-me isso muita satisfação. Isso só demonstra que, por fim, aqui começa a forma-se um ponto de vista firme e razoável acerca de semelhante assunto.
Depois de ter tomado dois copos de chá com nata, levantou-se disposto a voltar para o seu gabinete de trabalho.
— Não saístes? Deves ter-te aborrecido — disse à mulher.
— Oh, não! — replicou Ana, erguendo-se também e seguindo com ele ao longo da sala. — Que estás a ler agora? — La poésie des Enfers, do duque de Lille. É um livro muito interessante.
Ana sorriu, como em geral as pessoas sorriem diante das fraquezas dos seres amados, e, enfiando o braço no do marido, acompanhou-o até ao escritório. Conhecia o costume dele, que se lhe tornara imprescindível, de ler todas as noites. Sabia que apesar das obrigações, que lhe roubavam quase todo o tempo, considerava como que um dever acompanhar todas as coisas interessantes que apareciam no mundo intelectual. De resto, ela não ignorava que, assaz competente em política, filosofia e religião, Alexei Alexandrovitch nada entendia nem das letras nem das artes, o que, no entanto, não o impedia de se interessar particularmente por obras do gênero. E se em política, em filosofia, em religião lhe acontecia ter dúvidas e procurar esclarecê-las, nas questões de arte, de poesia, de música, sobretudo nos assuntos de que nada entendia, estava sempre pronto a emitir opiniões definitivas e sem recurso. Gostava de discutir Shakespeare, Rafael ou Beethoven, de pronunciar-se sobre as novas escolas de música e poesia, e de classificá-las numa ordem tão lógica quanto rigorosa.
— Bom, até já — disse Ana Karenina, junto à porta do escritório. Junto à poltrona do marido já estavam acesas as velas com o seu abat-jour e posta uma garrafa com água.
— Vou escrever para Moscovo.
Alexei Alexandrovitch apertou-lhe a mão, tornando a beijá-la.
«Seja como for, é um homem bom e justo, de bom coração e notável no seu meio», dizia Ana para si mesma, ao regressar aos seus aposentos, como se o defendesse diante de alguém que o acusava e dissesse ser impossível amá-lo. «Mas por que razão lhe sobressaem tanto as orelhas? Teria cortado o cabelo?»
À meia-noite em ponto, Ana ainda escrevia a Dolly, sentada à sua pequenina secretária, quando ouviu aproximarem-se uns passos abafados e Alexei Alexandrovitch apareceu, com um livro na mão, de pantufas calçadas, já pronto na sua toilette da noite.
— São horas de dormir — disse-lhe ele com um sorriso malicioso, antes de penetrar no quarto de dormir.
«Que direito tinha de o olhar assim?», pensou Ana, lembrando-se, de repente, do olhar que Vronski lançara ao marido.
Ana não tardou a entrar no quarto do marido, mas onde estava aquela chama que em Moscovo lhe animava o rosto, lhe cintilava nos olhos, lhe iluminava o sorriso? Extinta, ou, pelo menos, bem escondida.
CAPÍTULO XXXIV
Ao deixar Sampetersburgo, Vronski cedera ao seu melhor camarada, Petritski, o amplo andar que ocupava na Rua Morskaia.
Petritski era um jovem tenente, de família modesta, sem bens e cheio de dívidas. Todas as noites se embriagava e com freqüência era preso por causa das suas aventuras divertidas e escandalosas. Mas, apesar de tudo, tanto os seus camaradas como os seus superiores o estimavam muito. Ao chegar a casa, pouco depois das horas, Vronski viu à porta uma carruagem que não lhe era desconhecida. Enquanto não lhe abriam a porta, ouviu risos de homens, a tagarelice de uma voz feminina e em seguida os gritos de Petritski:
— Se é uma dessas aves de rapina, não a deixem entrar!
Vronski entrou na primeira saía, silenciosamente, sem se anunciar. Muito catita, no seu vestido de cetim lilás e com a sua carinha rosada, a amiga de Petritski, a baronesa Chiltone, tal qual um canário enchia toda a casa com o seu sotaque parisiense. Sentada a uma mesa redonda, preparava café. Petritski, à paisana, e o capitão de cavalaria Kamerovski, fardado (naturalmente chegava do serviço), estavam a seu lado.
— Olá, Vronski! — exclamou Petritski, levantando-se e fazendo ruído com a cadeira. — Aqui tem o dono da casa em pessoa! Baronesa, sirva-lhe café da cafeteira nova. Não te esperávamos! Que dizes a esta nova decoração do teu escritório? Espero que te agrade — exclamou ele, apontando para a baronesa.—Já se conhecem, não é verdade? — Pois não nos havíamos de conhecer? — replicou Vronski, sorrindo e apertando a mãozinha da baronesa. — Somos velhos amigos!
— Acaba de chegar de viagem? — perguntou a baronesa. — Então vou-me embora. Se incomodo, saio já.
— Está em sua casa, baronesa — replicou Vronski. — Olá, Kamerovitch — acrescentou, apertando-lhe friamente a mão.
— Vocês não sabem dizer coisas assim amáveis — censurou a baronesa, interrompendo a conversa de Vronski com o companheiro.
— Por quê? Depois de jantar, também lhas saberei dizer. E melhores ainda.
— Depois de jantar já não têm mérito. Bom, vou preparar-lhe café enquanto se lava e arranja — disse a baronesa, e pôs-se a arranjar a cafeteira nova. — Pierre, passa-me o café. Vou deitar mais — disse a Petritski. Chamava-lhe «Pierre», abreviando-lhe o nome, sem esconder a sua intimidade com ele.
— Vai estragá-lo!
— Não, não! Não o estrago... E a sua mulher? — perguntou a baronesa, interrompendo a conversa de Vronski com o companheiro. — Casámo-lo na sua ausência. Trouxe a sua mulher?
— Não, baronesa. Nasci boêmio e espero morrer boêmio.
— Tanto melhor! Tanto melhor! Dê-me a sua mão. E sem o deixar partir, a baronesa começou a expor-lhe, entre gracejos, os seus últimos planos de vida pedindo-lhe conselhos.
— Ele continua a não querer consentir no divórcio. Que hei-de eu fazer? («Ele» era o marido.) Penso em dar início à acção. Que acha?... Kamerovski, cuidado com o café, que está quase a ferver. Bem vê que estou a falar de negócios. Estou resolvida a instaurar o processo, porque preciso do que me pertence, não é verdade? Imagine, que atrevimento! Com o pretexto de que lhe sou infiel — sorriu, com desdém—aquele cavalheiro apropria-se do que é meu.
Vronski ouvia, divertido, a tagarelice daquela bonita mulher, dava-lhe razão, aconselhava-a, zombando, e não tardou a adoptar o tom que costumava empregar para com essa espécie de mulheres. As pessoas do seu meio dividiam a humanidade em duas categorias opostas: a primeira, de gente vulgar, estúpida e sobretudo ridícula, supõe que os maridos devem ser fiéis às suas mulheres, as donzelas puras, as mulheres castas, os homens corajosos, firmes e moderados, e que devem educar os filhos, ganhar a vida, pagar as dívidas e outras frioleiras do mesmo gênero. Esta era a gente antiquada e ridícula. A segunda, pelo contrário — * gente da «alta» —, à qual eles se vangloriam sempre de pertencer, preza a elegância, a generosidade, a audácia, o bom humor, entrega-se sem pudor a todas as paixões e ri-se de tudo o mais.
Ainda sob a impressão dos costumes moscovitas — quão diferentes! —, Vronski sentiu-se, por momentos, aturdido ao reencontrar aquela gente alegre e agradável, mas não tardou a adaptar-se à sua antiga existência com a felicidade de quem calça uma velha pantufa.
O famoso café nunca mais estava pronto. Transbordou da cafeteira para o tapete, sujou o vestido da baronesa, salpicou todos, conseguindo o que era preciso: provocar o riso e soltar o espírito.
— Bom, agora, adeusinho. Se não me vou embora, nunca mais se lavará nem arranjará, e sobre a minha consciência virá a pesar o maior delito que um homem elegante pode cometer — não se lavar. Acha então que lhe devo apontar o punhal ao peito?
— Com certeza, e procure a maneira de a sua mão lhe ficar bem perto dos lábios. Acabará por beijá-la e tudo ficará resolvido — replicou Vronski.
— Então, até logo, no Teatro Francês!
Kamerovski levantou-se também, e Vronski, sem esperar que ele se retirasse, apertou-lhe a mão e dirigiu-se ao quarto de banho. Enquanto ele procedia às suas abluções, Petritski pintava-lhe, a grandes pinceladas, o quadro da sua situação. Nada de dinheiro; o pai declarava não lhe dar dinheiro e nunca mais lhe pagara nenhuma dívida; um alfaiate estava disposto a recorrer à polícia e outro ameaçava-o de fazer o mesmo; o comandante decidido, caso continuasse aquele escândalo, a obrigá-lo a deixar o regimento; a baronesa, enfadonha como uma chuva miúda, sobretudo por causa das ofertas de dinheiro que constantemente lhe fazia; em compensação, uma nova beldade no horizonte, de estilo oriental, «gênero escrava Rebeca, meu caro, e que tu precisas de conhecer»; uma questão com Berkochev, que estava disposto a enviar-lhe as suas testemunhas, mas que naturalmente nada faria. Entretanto tudo corria melhor e o mais alegremente possível. E sem dar tempo a que Vronski meditasse no que lhe acabava de dizer, Petritski pôs-se a contar-lhe todas as novidades que corriam. Ouvindo aquelas coisas que lhe eram tão familiares, em sua casa, naquela casa onde vivia há três anos, Vronski experimentava a agradável sensação de ter regressado à despreocupada e habitual vida petersburguesa.
— É impossível! É impossível! — exclamava, abrindo a torneira do lavatório, que ao jorrar lhe borrifava o pescoço forte e vermelho. — É impossível! — repetia, recusando-se a acreditar que a Laura tivesse deixado o Fertingov para viver com o Mileiev. — Ele continua o mesmo estúpido que sempre foi e a mesma criatura cheia de suficiência? E a propósito, que me contas do Buzulukov?
— Buzulukov? Ao Buzulukov aconteceu uma coisa estupenda! — exclamou Petritski. — Bem sabem que tem a paixão da dança e não falta a um só baile da Corte. Pois bem, foi a um grande baile com o capacete novo. Já viste os capacetes novos? São bons, mais leves... Lá estava ele, pois, de grande uniforme... Ouve, faz o favor de ouvir-me.
— Estou a ouvir —replicou Vronski, que se enxugava com uma toalha de felpa.
— Passa uma grã-duquesa pelo braço de um diplomata estrangeiro e por infelicidade a conversa recaía sobre os novos capacetes.
A grã-duquesa estava morta por mostrar um ao embaixador. De súbito, vê o nosso amigo, ali, de pé, de capacete na mão (dizendo o que, Petritski ia arremedando a atitude de Buzulukov). A grã-duquesa pede-lhe que lhe mostre o capacete. Ele não se mexe. Que significa aquilo? Todos lhe fazem sinais, caretas, piscadelas de olhos. Mas ele não se mexe. Parece petrificado. Podes imaginar a cena? Então um não sei quem... esquece-me sempre o nome dele... tenta tirar-lhe o capacete. Ele não deixa. O outro arrancá-lho da cabeça e apresenta-o à grã-duquesa. «Aqui tem o novo modelo», diz ela, examinando o capacete. Pois que julgas que sai de lá de dentro? Nunca te passará pela cabeça... Uma pêra, e bombons, duas libras de bombons... Tinha-se abastecido bem, o figurão! Vronski ria a bandeiras despregadas. E tempo depois, sempre que lhe acontecia, ao falar de coisas muito diferentes, lembrar-se da história do capacete desatava a rir, num riso franco e jovial que lhe punha à mostra os belos dentes fortes e regulares.
Inteirado das últimas novidades, Vronski envergou o uniforme, com a ajuda do criado de quarto, e cuidou de ir apresentar-se no quartel.
Tencionava passar depois por casa do irmão, visitar Betsy e principiar uma série de visitas pela sociedade onde lhe seria mais provável encontrar-se com Ana Karenina. Como sempre fazia em Sampetersburgo, saiu de casa na intenção de a ela não voltar senão noite adentro.
Leon Tolstoi
Carlos Cunha 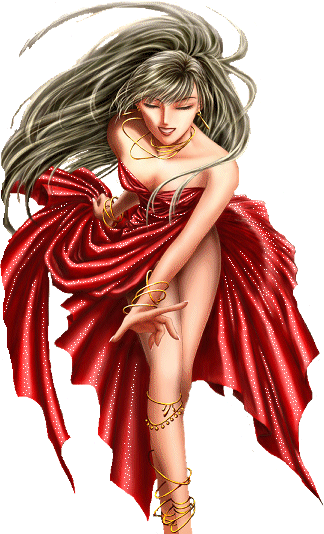 Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa