



Biblio VT




Moisés recebe instruções para a construção da arca - A Arca da Aliança, citada no verbete "O Mais Velho dos Dias" - Discussão dos teólogos sobre o material de construção e o conteúdo da arca - A descoberta feita por Lazarus Bendavid - Como a arca troca de proprietário e não pára de passar de mão em mão - A produção industrial do maná - Fábrica de produtos alimentícios na rota do deserto - Radiação perigosa, emitida pela Arca da Aliança - Teria a arca sido esquecida ou escondida? Como a arca chegou de Jerusalém à Etiópia - Como Jeremias ficou envolvido no caso - Mané. Técel, Farés - A epopéia KEBRA NEGEST fala nas andanças da arca - Um presente de rei - Como Salomão foi iludido - Carro voador, mais veloz do que a águia no céu - A Arca da Aliança poderá ser encontrada na região de Jerusalém ou na Etiópia?
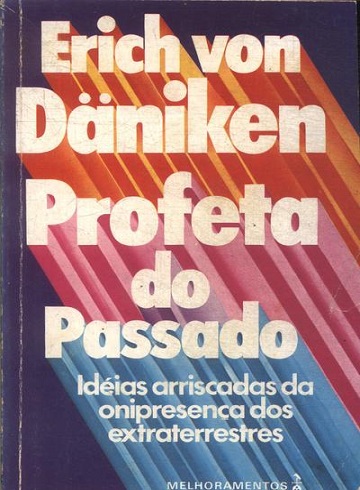
Certa vez, por ocasião de uma entrevista, a inigualada autora de romances policiais Agatha Christie revelou a receita básica de um romance policial de sucesso, a saber: o enredo somente pode ser interessante e produzir "suspense", quando toda e qualquer pista de uma suspeita for suficientemente documentada, de modo que no fim existam boas razões para a detenção do criminoso; todavia, a solução do caso só se torna convincente quando, mesmo depois do fim, ainda continuem pairando no ar algumas dúvidas. Agatha Christie falou em romances policiais, de enredo imaginário. Gostaria de contar um caso que, apesar de ter realmente acontecido, encerra todos os elementos considerados necessários pela Grande Velha Dama para a produção de um romance policial de classe A.
Para mim, o policial em apreço começou na aula de catecismo, quando nos ensinavam que Deus mandou Moisés construir uma arca. Pela leitura do Êxodo, 25, 10, conhecemo-las instruções que Moisés recebeu, as quais, no entanto, não podem ter sido somente verbais, pois, pelo que reza Ex 25, 40, Moisés chegou a ver um modelo da arca:
"... e faze conforme o modelo que te foi mostrado sobre o monte.”
Esta arca é o corpo de delito de que trata o nosso romance policial; não vamos perdê-Io de vista. No entanto, apesar de o nosso crime policial ter-se passado em época tão remota, até hoje os peritos continuam brigando por causa do suposto criminoso, da mesmíssima forma como os telespectadores hodiernos costumam discutir e apostar no suposto criminoso do filme policial a que assistem no horário nobre, no canal da TV da sua preferência.
Afinal, o que era essa arca?
Os teólogos que, a esta altura dos acontecimentos, desempenham o papel de detetives, emitem pareceres bastante divergentes a respeito do objeto. O Léxico Universal de Pierers dá a seguinte descrição da arca, a qual chama também de Arca da Aliança:
"Caixa de madeira de acácia, de 1,75 m de comprimento e 1 m de altura e 1 m de largura, folhada a ouro interna e externamente.“
O prof. Dr. Hugo Gressmann, teólogo de renome, reputa bem menor o tamanho da caixa que, para ele, apresenta: "aproximadamente 1,25 m de comprimento e 75 cm de largura e 75 cm de altura".
Essas indicações são precisas, porém, escassas. Por sua vez, o Livro de Zohar, a principal obra da Cabala, fornece dados bem mais explícitos e, evidentemente, os detetives engajados naquela obra trabalharam com curiosidade indiscutivelmente maior. Apesar dos seus dados pormenorizados, o Livro de Zohar ficou excluído das investigações "oficiais", talvez por ser uma obra oculta, judaica, que somente entre o período de 130-170 d.C. passou para os autos. Em todo caso, aquela obra dedica quase 50 (!) páginas à Arca da Aliança e fornece também detalhes mínimos, que outros criminalistas não perceberam.
Todavia, é só à primeira vista que parece um tanto estranho o fato de o Livro de Zohar citar a "arca da aliança" no verbete "O Mais Velho dos Dias". Mas, uma leitura mais detida desse texto mostra logo como estes dois conceitos estão relacionados entre si.
O modo da emissão da ordem para a construção da arca, que se vê no Livro de Zohar, confere com aquele descrito por Moisés, a quem Jeová, o Deus de Israel, mandou fazer "um santuário e eu habitarei no meio deles (os filhos de Israel)" Ex 25,8, ou seja, fazer um tabernáculo para "O Mais Velho dos Dias" e levá-Io, junto com o próprio "Mais Velho dos Dias" em suas andanças pelo deserto.
Até agora, a existência da arca é um fato inconteste, embora suas dimensões apresentadas divirjam. Ademais, os criminalistas-teólogos continuam debatendo a finalidade daquela caixa polêmica.
Haja visto que Reiner Schmitt considera a arca como um: "Receptáculo de uma pedra sagrada".
Por sua vez, Martin Dibelius é de opinião diferente e acha que se trata de: "Um trono de deus, vacante, ambulante" ou de um "carro de deus, móvel, no qual se encontra uma divindade, de pé ou sentada". Como conhecermos de perto o corpo de delito, se ainda não existe um consenso unânime nem a respeito da sua finalidade?
Aliás, se fosse aceito o parecer que o teólogo R. Vatke emitiu em 1835, não haveria mais debates sobre o assunto, pois na sua opinião, a Arca da Aliança estava vazia, pelo fato de ter sido habitada por Deus. De onde nada há, nada se pode tirar, falou Sherlock Holmes, ao embocar uma garrafa de uísque vazia.
Harry Torczyner fez constar dos autos que na Arca da Aliança teria havido pelo menos duas tábuas da lei, deixadas por Moisés. Quanto a isto, Harry Torczyner teve de sustentar debate com o seu colega Martin Dibelius, que, por sua vez, pôs em dúvida tanto o próprio conceito da "Arca da Aliança", conforme mencionado nos autos, como a existência, naquele receptáculo, a qualquer tempo, das tábuas mosaicas da lei.
A confusão é total no que se refere às investigações sobre o peso da arca, repleta de segredos. O profeta Samuel, que também era juiz e que, em função desse seu ofício, deve ter sido um exímio observador, escreveu o seguinte:
.. Agora, pois, tomai e fazei um carro novo e ponde ao carro duas vacas que tenham tido há pouco as suas crias, às quais ainda se não tenha posto o jugo e encerrai os seus bezerros no curral. E tomareis a arca do Senhor e a poreis no carro e poreis ao seu lado, numa pequena caixa, as figuras de ouro que lhe pagastes pelo pecado; e depois deixai-a ir." 1 Rs 6, 7-8.
Samuel, o juiz, ainda fala de um segundo carro, para o transporte:
"E puseram a arca de Deus sobre um carro novo e levaram-na da casa de Abinadab, que estava em Gabaa. Ora, Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo." 2 Rs 6,3.
Embora fosse colocada sobre um ou dois carros e exigisse a força de tração desenvolvida por duas vacas adultas, o peso da arca dificilmente poderia ter passado dos 300 kg, pois, vez ou outra, nos santuários de Jeová, levitas, sacerdotes da antiga Jerusalém, foram encarregados do seu transporte ou da sua baldeação, conforme se lê no segundo livro dos Reis:
"E, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, ele imolava um boi e um carneiro". 2 Rs 6,13
A rigor, os criminalistas bíblicos deveriam ser censurados por aquela sua discordância a respeito de um assunto de tal magnitude, a exemplo do que fez Moisés, no Levítico, ao tratar dos deveres sacerdotais.
Afinal de contas, o que foi que os israelitas transportaram pelo deserto e a duras penas, durante nada menos que 40 anos? De vez que a carga era tão pesada, por que é que não podiam desfazer-se desse transporte tão penoso?
O Sr. Lazarus Bendavid (1762-1832), radicado em Berlim, como filósofo e matemático, além de ser diretor de uma escola judaica particular e também redator-chefe de um renomado jornal de Teologia, possuía uma mentalidade aberta, sempre pronta a aceitar as realidades da vida. Entre os seus contemporâneos gozou do conceito de ser "um judeu conhecido por suas atividades de cientista e filósofo", o qual teria logrado comprovar que:
"A Arca da Aliança, dos tempos mosaicos, abrigou uma aparelhagem completa de instrumentos elétricos, que produziram efeitos claros e evidentes".
Lazarus Bendavid não era somente um homem sábio, mas, para a época as suas idéias eram muito avançadas. Na sua qualidade de judeu ortodoxo, será que teria lido o Livro de Zohar? E nele teria deparado com "O Mais Velho dos Dias", que, porventura, lhe tivesse despertado atenção? Ter-se-ia dado por satisfeito com as pesquisas e investigações de que tinha conhecimento? É lógico, ele sabia que apenas um círculo restrito de pessoas, expressamente designadas, teve acesso à Arca da Aliança; e nem o sumo sacerdote tinha permissão de entrar, diariamente, na Arca da Aliança, pois ela era toda especial: era perigosa!
Bendavid escreveu:
"Segundo os talmudistas, a entrada no tabernáculo sempre teria implicado perigo de vida; o sumo sacerdote jamais deixou de sentir certo receio, quando nela tinha que entrar, e sempre ficou feliz ao sair incólume dela, o que era considerado um acontecimento auspicioso, digno de ser comemorado" .
O enredo do nosso romance policial vai se complicando, com a Arca da Aliança trocando de proprietário. Após uma guerra vitoriosa, os filisteus, tribo hebraica de origem ocidental, apoderaram-se da Arca da Aliança. Perceberam que os israelitas julgavam importante a aparelhagem misteriosa e por isso esperavam levar vantagem com a sua posse. Mas, quando os filisteus se apoderaram dela, nela não se achava o respectivo manual de uso e, portanto, não sabiam como manejá-Ia. Durante um certo tempo, ficaram observando que todas as pessoas em contato com a arca adoeciam ou morriam. Aí, então, começaram a transferir a presa sinistra de cidade em cidade; mas, em toda parte, produzia-se o mesmo efeito. Os curiosos que se aproximavam demais desse despojo nefasto ficavam com o corpo todo coberto de bolhas, seus cabelos enchiam-se de caspa e caíam; tanto as crianças como os adultos sofriam ânsias de vômito e muitos deles tinham morte horrível. A respeito desses fatos, o juiz Salomão fez o seguinte comentário:
"Enviaram, pois, mensageiros e reuniram todos os sátrapas dos filisteus, os quais disseram: Devolvei a arca do Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar para que não mate a nós nem o nosso povo. Pois, todas as cidades estavam apavoradas com medo de morrer; é que a mão de Deus fazia-se sentir extraordinariamente pesada. Também os homens que não morriam eram feridos nas partes mais ocultas do corpo e o alarido da cidade subia até o céu". 1 Rs 5,11-12
Durante sete meses, os filisteus ficaram de posse daquele malsinado objeto. Em seguida, só pensavam em livrar-se dele e dos males que Ihes havia causado. Puseram-no sobre um carro atrelado a duas vacas que, a chicotadas e aos berros, o levaram até os confins de Betsames. De manhã, quando os habitantes de Betsames chegaram ao vale, para segar trigo, viram o carro com a arca. Imediatamente, mataram as vacas e chamaram os sacerdotes levíticos, que eram as únicas pessoas capazes de lidar com ela. Lamentavelmente, setenta jovens de Betsames ainda tiveram morte horrível, porque, ignorando os perigos e curiosos, como são as crianças, aproximaram-se demais da arca, para olhá-Ia, quando "o Senhor feriu os habitantes de Betsames". (1 Rs 6, 19).
A esta altura, a arca estava de volta com os seus construtores, que tornaram a controlá-Ia, sob todos os pontos de vista. No entanto, ainda não sabemos em que consistia aquela aparelhagem.
E o romance policial continua; porém, há uma solução à vista, pois:
Em 1978 foi publicado, em Londres, o livro "THE MANNA MACHINE" (A Máquina de Maná), obra de autoria de George Sassoon, estudioso das Ciências Naturais, em colaboração com o engenheiro Rodney Dale. Esses dois pesquisadores britânicos orientaram-se pela descrição exatíssima do "Mais Velho dos Dias", dada pelo Livro de Zohar, que interpretaram sob o aspecto dos conhecimentos técnicos e biológicos hodiernos, o que até permitiu que reconstituíssem a máquina. A exemplo de Bendavid, eles acabaram concluindo que, no caso da Arca da Aliança, tratava-se, de fato, de uma aparelhagem tecnológica, que abasteceu os israelitas com um alimento de albumina, o maná, durante as suas andanças pelo deserto.
A partir de então, as investigações progrediram a passos largos. A fórmula: Arca da Aliança = "O Mais Velho dos Dias" = máquina de maná, não deixou margem para enganos, pois ela era fácil como a tabuada!
Posto que a tecnologia não é assunto da alçada dos teólogos, a esta altura ela poderia muito bem ser excluída dos pontos a serem estudados pelos criminalistas, porquanto ficou evidente que:
A Arca da Aliança não era em absoluto o tabernáculo, mas, sim, o receptáculo de uma máquina destinada à produção de produtos alimentícios. Somente alguns "eleitos" tinham a permissão de aproximar-se dela, ou seja, os técnicos encarregados do seu manejo. Pessoas estranhas àquele processo industrial, que se aproximaram da máquina, adoeceram ou morreram, porque ela emitia uma radiação altamente radioativa.
Assim sendo, o "caso Arca da Aliança" apresenta-se sob os seguintes aspectos, com base nas noções adquiridas a seu respeito:
Por motivos que ignoramos, seres extraterrestres, estavam interessados em separar dos seus semelhantes um grupo de pessoas e mantê-Io isolado, sem qualquer contato com o "resto da humanidade", por mais de duas gerações. Por intermédio do seu elemento de ligação, um profeta, ordenaram a separação daquele grupo privilegiado da civilização contemporânea. Moisés - mas poderia ter sido também outro eleito qualquer - conduziu os israelitas através do deserto. No começo, os extraterrestres protegeram o povo migrante contra seus inimigos, dele afastando os egípcios, que foram literalmente afogados, conforme reza a Bíblia:
"As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, os quais em seguimento (dos israelitas) tinham entrado no mar; e Não escapou um só deles". (Ex 14, 28)
Tanto o FBI como qualquer outra agência especializada, rejeitariam todas e quaisquer teses teológicas que se evocassem a título de explicação, reputando-as contrárias a toda lógica. Argumenta-se que os israelitas teriam atravessado o mar, em seco, com a maré baixa, ou teriam passado por um mar de junco, pois os egípcios, que os perseguiam, foram surpreendidos pelas águas da maré alta, que os levaram ao fundo do mar.
Admite-se atribuir talentos e dons especiais ao povo eleito, mas, não é lícito supor que os egípcios que foram os primeiros a dividir o ano em 365 dias, de acordo com as observações da cheia regular das águas do Nilo - entendessem menos do que os israelitas a respeito de marés alta e baixa. Não! Os egípcios não foram cegamente ao encontro da sua perdição e morte, mas, sim, foram enganados, propositadamente, por "anjos" misteriosos, ou seja, pela coluna de fogo.
"E o anjo de Deus, que caminhava na frente do acampamento de Israel, levantou-se e foi para detrás deles; e com ele ao mesmo tempo a coluna de nuvem, deixando a frente, parou detrás deles entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel e esta nuvem era tenebrosa (do lado dos egípcios) e tornava clara a noite (do lado dos israelitas), de sorte que uns e outros não puderam aproximar-se durante o tempo da noite." Ex 14, 19-20
Aliás, aquela nuvem não era um fenômeno meteorológico casual, conforme se poderia talvez cogitar, porém, essa "coluna de nuvem" serviu de sinalização aos israelitas, como Moisés observou expressamente:
"O Senhor ia adiante deles para Ihes mostrar o caminho, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para lhes servir de guia num e noutro tempo. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo, durante a noite."
Ex 13,21-22
Fenômenos meteorológicos fortuitos costumam aparecer por alguns momentos, minutos, talvez até horas, porém, nunca durante meses e anos a fio. Esta explicação não vinga e cai por terra diante de um exame mais detido.
Para nós, criminalistas, as coisas se tornam mais fáceis, porque não se trata de seguir as pegadas de um ou de alguns israelitas e de descobrir uma tênue pista, visto que temos diante de nós toda uma gigantesca vaga migratória que avança lentamente pelo deserto. Os inimigos estavam eliminados e o caminho, livre e desimpedido. Mesmo assim, porém, continuou sendo uma aventura arriscadíssima conduzir milhares de pessoas - homens adultos e jovens, mulheres, crianças e anciões - através de plagas inóspitas, sem frutos silvestres, nem caça para alimentá-Ios. Até nos tempos modernos, exércitos sofisticados foram aniquilados pela falta de suprimentos!
Nos desertos tropicais, com seu meio ambiente hostil, as temperaturas costumam oscilar entre 58°C positivos e 10°C negativos. A média anual da precipitação é de uns escassos 10 cm ou menos. A natureza nada ofereceu para saciar a fome daquele "exército" gigantesco. Mas, apesar disso, o seu líder, Moisés, arriscou a marcha do povo, através do deserto infindável, sob um calor insuportável.
Quem forneceu alimentos ao povo de Israel?
Foram os extraterrestres que ajudaram e Moisés sabia disso. Pois, o "Senhor", que lhe apareceu na "sarça ardente", mostrou-lhe uma aparelhagem capaz de solucionar, por muitos anos, o problema do abastecimento do povo em migração.
Era uma máquina maravilhosa, que armazenava água, do orvalho da noite, misturava-a com um tipo microscópico de alga verde (clorela) e assim produzia alimento, nas quantidades desejadas. Embora o povo reclamasse do seu cardápio nada variado, ninguém passou fome e foi este o ponto que Moisés frisou, quando seus comandados se rebelaram contra ele.
A síntese alimentícia do orvalho e das algas verdes foi processada por radiação. Não há radiação sem energia. De onde teria vindo aquela energia, lá, bem no meio do deserto? Qual teria sido a fonte energética, inesgotável, ao longo de 40 anos?
Hoje em dia, os pontos de interrogação já podem ser apagados. Conforme nossos conhecimentos atuais, só podia tratar-se de um minirreator. Reatores deste tipo existem e há muito tempo que estão funcionando; quanto a isto não há dúvida e desde fevereiro de 1978, sabemo-Io oficialmente.
O satélite soviético de espionagem "Cosmos 954" caiu no Canadá, nas imensidões ao redor do Grande Lago dos Escravos. O comando de bombardeiros estratégicos das Forças Aéreas dos EUA recebeu o alarme; comunicados e ordens codificados foram despachados para os submarinos que operavam nos sete mares do mundo; as licenças dos tripulantes das estações de foguetes foram canceladas; os telefones vermelhos nos países da OTAN ficaram com suas linhas congestionadas. A bordo do "Cosmos 954" havia mais de 45 kg de urânio 235, radioativo, uma fonte energética que, na opinião dos peritos, continua ativa por mais de um milênio e é capaz de contaminar países e povos com suas nuvens tóxicas.
Na queda do "Cosmos 954" o reator fundiu-se, com o calor de fricção, e liberou a sua carga mortífera. Quando os políticos, finalmente, trocaram apertos de mão, o ambiente desanuviou-se; todavia, o perigo da contaminação radioativa não foi eliminado, mas foi somente a atmosfera política que teve a sua tensão relaxada.
Pouco tempo depois, o governo da Índia divulgou um noticiário, anunciado que, anos atrás, a CIA contratara exímios alpinistas para instalarem um minirreator nos montes Himalaia, para fornecer a energia necessária e inesgotável que permitisse contínuas operações de escuta, visando a China continental. O minirreator libera energia mediante a fissão do plutônio, transformando, assim, diretamente em eletricidade, a energia produzida pela radiação. Trata-se, pois, de um processo diferente daquele usado pelas grandes centrais nucleares, que empregam água pesada e elementos combustíveis. O minirreator emite radiação; embora seja perigoso, ele não mata, conquanto a pessoa não fique perto dele, por tempo demasiado. Afinal de contas, os sherpas contratados pela CIA levaram um tal engenho até os cumes dos montes do Himalaia, de onde voltaram sãos e salvos.
Por exemplo, para as futuras naves espaciais, o minirreator representa uma fonte energética indispensável. Um aparelho que empregue a radiação e produza alimentos albuminosos, de água e algas verdes, será de importância vital, prioritária para o vôo interestelar. Tenho certeza absoluta de que, desde há muito, peritos do vôo espacial estão estudando as descobertas dos ingleses Sassoon e Dale, pois, uma máquina de maná a bordo solucionaria o problema da alimentação básica dos astronautas.
Evidentemente, a arca que o "Senhor" mostrou ao inteligente Moisés, no monte sagrado, não devia ficar ao relento, exposta às intempéries. Era possível que ela devesse ficar resguardada, protegida das areias levadas pelos ventos do deserto; talvez fosse sensível ao calor intenso, durante o dia ou, ainda, provavelmente o povo migrante nem devesse tomar conhecimento da existência daquela máquina misteriosa, que produzia o seu alimento. Seja como for, o fato é que fizeram uma caixa estanque, de acordo com as instruções recebidas e conforme o modelo indicado, para nela ser colocada a aparelhagem sofisticada. Logo, a Arca da Aliança não foi a própria máquina de maná, mas tão-somente o seu receptáculo, o container, dentro do qual foi guardada e transportada. A meta foi aIcançada: o delicadíssimo aparelho foi devidamente protegido contra influências externas, prejudiciais, bem como contra olhares curiosos. Quando a marcha pelo deserto foi interrompida por prolongados períodos de descanso, montou-se uma tenda ao redor desse engenho e, por causa da radiação perigosa que a máquina emitia, essa tenda jamais foi erguida dentro dos acampamentos, mas, sim:
"Moisés, tomando o tabernáculo, levantou-o longe, fora dos acampamentos, e chamou-o de tabernáculo da aliança. E todos os do povo que tinham alguma questão, saíam fora dos acampamentos ao tabernáculo da aliança." Ex 33,7
Continuemos focalizando o corpo de delito, pois a esta altura já sabemos muita coisa a seu respeito, até como funcionava.
Quando Sassoon e Dale reconstituíram o nosso objeto, com base nas indicações que encontraram no Livro de Zohar, descobriram, também, que "O Mais Velho dos Dias" fornecia pontualmente, cada manhã de seis dias consecutivos, o alimento pegajoso, com marca Maná. Era uma semana de seis dias. No sétimo dia, a máquina parava para limpeza e reparos. Os levitas, devidamente instruídos por Arão, o irmão de Moisés, eram encarregados da limpeza e da revisão semanal da máquina. Arão acompanhou Moisés em sua subida ao Monte Sinai e lá deve ter feito um cursículo especial, ministrado pelo próprio "Senhor", que falou a Moisés:
"O Senhor disse-lhe: Vai, desce e (em seguida) subirás tu e Arão contigo; os sacerdotes porém, e o povo não ultrapassem os limites, nem subam para o Senhor, não suceda que ele os mate." Ex 19,24
Quais as conclusões que se devem tirar nesta fase das pesquisas?
- Os acompanhantes extraterrestres do povo migrante queriam isolar um grupo do seu "ambiente".
- Os extraterrestres não tiveram à sua disposição uma frota de naves auxiliares, pois, se a tivessem, seus protegidos não teriam andado a pé, mas, sim, viajado a bordo de uma nave espacial.
- O grupo expedicionário dos extraterrestres era bastante reduzido. Quando a nave espacial pousou no monte, Moisés recebeu a incumbência expressa do comandante, no sentido de mandar levantar uma cerca ao redor do sopé da montanha, impedindo, assim, que aquela área fosse invadida pelo povo, conforme se lê no relato bíblico: "(O Senhor) disse-lhe: Desce e notifica ao povo, não suceda que para ver o Senhor, queira passar os limites e pereça um grande número deles ... Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir ao Monte Sinai, visto que tu intimaste e ordenaste, dizendo: põe limites ao redor do monte e santifica-o." Ex 19,21 e 23
- O pequeno grupo de extraterrestres demonstrou a sua superioridade, ao lançar mão de truques técnicos, fazendo aparecer a coluna de fogo que se deslocava, afogando o exército egípcio.
- O mecanismo de engrenagem da nave espacial emitia gases incandescentes e produzia um barulho ensurdecedor, pois:
"Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo e dele, como de uma fornalha, se elevava fumo e todo o monte causava terror." Ex 19,18
- Da nave espacial descarregaram uma máquina produtora de alimento que entregaram a Moisés e Arão.
- Para ser transportada, colocaram a máquina dentro de um receptáculo, a arca.
- Levaram a máquina sobre um carro puxado por bois, mas o seu peso dificilmente devia ultrapassar os 300 kg, porque, vez ou outra, homens usando pontaletes fizeram a sua baldeação.
- Pessoas incautas, que dela se aproximaram em demasia, adoeceram, sofreram ânsias de vômito, seus corpos ficaram cobertos de bolhas, caspa e eczemas.
- Ninguém sabia o que era transportado dentro da arca. Sabia-se somente, que o "Senhor",abasteceu com alimento o seu povo eleito. O tabernáculo, que abrigava a arca, encerrava um segredo.
Os levitas, devidamente treinados e trajando roupa adequada, cuidavam do bom funcionamento da máquina, sem saber de que tipo era. Tinham medo da máquina. Aliás, esse temor não era infundado, pois houvera casos em que até sacerdotes foram vítimas de morte.
Por enquanto, é isto o que revelam as investigações do caso" Arca da Aliança".
E como continuou esta nossa estória? O que aconteceu com a arca e seu conteúdo misterioso? Onde ficou? Ela ainda existe? Podemos encontrar o corpo do delito? De que maneira? Um tal monstro de volume e peso não pode simplesmente evaporar-se, volatilizar-se! Continuemos explorando as nossas pistas.
As descrições do Êxodo revelam que a máquina funcionava a contento, sempre que fosse devidamente cuidada. Após o ingresso na Terra Prometida, tais cuidados tornaram-se supérfluos, de vez que nessa terra jorrou-se "leite e mel", que permitiram enfim, uma variação do cardápio que há tanto tempo não mudava.
Mas em que pese toda discrição, parece que houve rumores, que falavam de uma coisa estranha que os filhos de Israel haviam trazido, quando regressaram a essa terra, e que os abasteceu de alimento durante a sua grande marcha pelo deserto. E aí, então, começou a espionagem industrial. Todas as casas soberanas queriam a tal máquina incansável, perpétua. Não desconhecemos as lutas vitoriosas dos filisteus contra os israelitas e sabemos como foi que se apoderaram da máquina, que posteriormente foi devolvida durante uma operação noturna, por causa do grande número de acidentes por ela provocados.
Onde ficou a arca, depois de ter sido deixada em Betsames?
No mínimo durante 20 anos ficou encostada num barraco:
"Foram, pois, os homens de Cariatiarim que transportaram a arca do Senhor e puseram-na em casa de Abinadab, em Gabaa; e santificaram o seu filho Eleázaro, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde o dia em que a arca do Senhor foi colocada em Cariatiarim, passaram-se muitos dias (pois já era o vigésimo ano) e toda a casa de Israel descansou, seguindo o Senhor". 1 Rs 7,1-2
Não resta a menor dúvida: a máquina deixou de trabalhar, ninguém se lembrou mais dela, que ficou encostada, esquecida.
Somente Saul, o primeiro rei de Israel, que viveu por volta do ano 1.000 a.C., é que teve a idéia de lembrar ao seu genro, o rei Davi (1.013-973 a.C.), aquela arca, que tanto dera que falar, em seu tempo. Quando Davi começou a interessar-se por aquele objeto misterioso, o mesmo continuava encostado no barraco de Abinadab, onde havia sido guardado. Embora Davi mostrasse interesse pela arca, não lhe ocorreu mandar colocá-Ia num lugar mais condizente, no seu palácio, cujas obras de construção estavam sendo iniciadas. É possível que se tivesse impressionado com as estórias que o povo contava a respeito da arca, ou a ela talvez não atribuísse importância suficiente que justificasse reservar-lhe um recinto próprio, destinado à sua instalação. Em todo caso, demorou bastante tempo até que Davi, enfim, seguisse o conselho do sogro, quando, então, " ... juntou de novo todos os homens escolhidos de Israel, em número de trinta mil... levantou-se e partiu com toda a gente da tribo de Judá, que estava com ele, para transportar a arca de Deus ..." 2 Rs 6, 1-2
Logo, durante o transporte da arca, registrou-se um acidente espetacular:
"Puseram a arca de Deus sobre um carro novo e levaram-na da casa de Abinadab, que estava em Gabaa. Ora, Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E, tendo-a tirado da casa de Abinadab, que estava em Gabaa, Aio ia adiante da arca guardando a arca de Deus. Davi, porém, e todo o Israel tocavam diante do Senhor toda a casta de instrumentos de madeira, cítaras, liras, tímpanos, sistros e címbalos. Mas, quando chegaram à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca de Deus e susteve-a, porque os bois escoicinhavam e tinham-na feito pender. O Senhor indignou-se muito contra Oza e feriu-o pela sua temeridade; e caiu morto ali mesmo, junto da arca de Deus.” 2 Rs 6, 3-7
Assim, surge um novo indício para a busca do corpo de delito, a saber: depois de ficar encostada durante 20 anos, a máquina dava ainda choque elétrico! Portanto, o minirreator continuou irradiando energia, fato importante para o prosseguimento das buscas do objeto.
Durante o transporte da arca surgiram algumas dificuldades, que foram contornadas e, finalmente, ela e seu conteúdo chegaram a Jerusalém, deixando o rei Davi feliz da vida, a ponto de ele executar uma dança de alegria: despiu-se por completo e, nu em pêlo, passou a dar pulos e saltos. Teria ele externado, assim, a sua alegria por estar de posse da arca? Teria ele executado aquela dança a fim de granjear as boas graças de Jeová e fazer com que Ele pusesse a máquina a funcionar de novo? Ou teria ele visado repetir o milagre e tornar a abastecer de maná o povo de Israel?
No entanto, apesar do seu orgulho e da sua alegria por estar de posse da arca, Davi não quis guardá-Ia no seu palácio, e muito menos mandou-lhe erguer um templo, mas limitou-se ao seguinte: "Introduziram, pois, a arca do Senhor, e colocaram-na no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi lhe tinha preparado.” 2 Rs 6, 17
E, novamente, ela caiu no esquecimento, até que o rei Salomão (cerca de 965-926 a.C.), sucessor de Davi, mandou colocá-Ia no tabernáculo, que era um recinto isolado do templo. Ali, ficou ela intocada, durante nada menos que 300 anos, sobrevivendo às guerras e revoltas que nesse período dilaceraram o reino de Israel. Nesse ínterim, o templo foi saqueado no mínimo quatro vezes e despojaram-no dos seus tesouros de pedras preciosas e ouro, mas, a arca continuou intacta, intocada.
Em todo caso, ela não foi mencionada em nenhuma crônica ou relato. Os saqueadores levaram também objetos de valor bem inferior ao das pedras preciosas, mas, não tocaram na arca. Será que não fizeram idéia do que ela encerrava? Sentiram medo daquele seu conteúdo misterioso? Teriam os israelitas tomado o cuidado de esconder e proteger aquela valiosíssima relíquia na sua marcha pelo deserto? Será que não sabiam onde se encontrava? Teria sido este o motivo por que a sua pista sumiu durante tanto tempo? Seja como for, a derradeira referência que consta das atas, a respeito da arca, revela a perda quase total do seu prestígio, dizendo:
"Aos levitas, por cujas instruções todo o Israel estava santificado ao Senhor, disse: Ponde a arca no santuário do templo que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, porque vós não tornareis mais a transportá-Ia...” 2 Paral., 35, 3
Cogitou-se da eventualidade de a arca ter-se perdido durante a destruição de Jerusalém (586 a.C.). Cumpre que se examine também este indício, por mais difícil que se torne o prosseguimento das pesquisas nesse rumo. Não convém desistir antes do tempo.
Antes de mais nada, um segundo resumo parcial das nossas investigações:
- A máquina deixou de produzir maná.
- Não havia mais ninguém que pudesse manejá-Ia.
- Apesar de ter ficado encostado por muito tempo, o minirreator continuou funcionando. O choque elétrico produzido por ele era suficientemente forte para matar Oza, no instante em que tocou na arca.
- Os reis Saul, Davi e Salomão tiveram medo da arca, e acharam por bem escondê-Ia.
- Com o decorrer do tempo, a arca perdeu o seu significado como objeto de culto a ela atribuído na época da marcha pelo deserto.
"'...
- Evidentemente, os extraterrestres desapareceram.
Liguemos, então, a nova pista.
Nos tempos do profeta Jeremias (627-585 a.C.) do seu contemporâneo Ezequiel, os extraterrestres tornaram a aparecer, de repente, e instruíram Jeremias para que sumisse com a perigosa aparelhagem que ainda emitia radiação.
Jeremias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, foi um personagem irrequieto. Era de uma família de sacerdotes, que vivia em Anatot e molestou bastante seus conterrâneos, pois clamava contra a idolatria deles, e exigia atos de penitência e condenava a corrupção que imperava em todo o país. Em poucas palavras, revelou à sua gente a sua verdadeira imagem, coisa que ninguém queria ver. Além do mais, a exemplo de todos os profetas, também Jeremias era político, possuidor daquele sexto sentido, que lhe fez prever e lamentar o ocaso da sua pátria e a destruição do templo de Jerusalém.
É lógico que tal atuação de Jeremias não agradou absolutamente a Joaquim (608-598 a.C.), rei de Judá, que ficou irritadíssimo, mormente com aquele discurso inflamado que o profeta houve por bem proferir no átrio do templo, logo no início do reinado daquele rei. Jeremias tornou-se persona non grata e o rei tratou de cassar-lhe a palavra.
No entanto, isso não foi assim tão fácil, pois, sabido que só ele, Jeremias teve, uma idéia luminosa; em 605 a.C. mandou seu discípulo Baruc registrar por escrito todos os seus discursos e divulgá-Ios entre o povo. No ano seguinte, por ocasião da festa do jejum, Baruc leu os discursos de Jeremias para o povo que estava reunido no templo. Os encarregados de zelar pela ordem pública enraiveceram-se, falaram em subversão e em incitação à rebelião contra o rei Joaquim. O manuscrito de Baruc foi confiscado e entregue ao rei que, por sua vez, num acesso de fúria, rasgou e lançou ao fogo do braseiro que ardia no salão. Daí por diante, Jeremias e Baruc sumiram da vida pública e passaram a viver na clandestinidade.
Acontece que os profetas não tratavam somente de assuntos religiosos, mas, como políticos e demagogos consumados, entraram nas disputas dos assuntos do dia. E como sabiam explorá-los! Na sua qualidade de exímios oradores e de profundos conhecedores da mentalidade do povo, eram mestres na arte de excitar as paixões populares.
O rei Joaquim - e com isto a coisa torna-se altamente política - era tido como vassalo do faraó egípcio, ao passo que Jeremias estava do lado dos caldeus (babilônios), os adversários do rei. Joaquim tolerou francamente a prática de costumes pagãos que em Israel encontraram adeptos em número progressivamente maior. Jeremias era absolutamente contra tais práticas e não teve a mínima dificuldade em subverter o povo, pois, na época, os israelitas tinham que pagar tributos ao Egito. O rei Joaquim percebeu que poderia aplicar um contragolpe: aliou-se aos egípcios e suspendeu o pagamento dos tributos.
No entanto, o rei caldeu Nabucodonosor II (605-562 a.C.) não aceitou tal afronta e, da Síria, mandou um exército sitiar Jerusalém, que conquistou em 597 a.C.
Nesta penosíssima e delicada situação, o rei Joaquim mandou um mensageiro procurar o odiado Jeremias. No entanto, o profeta não teve nenhum consolo a oferecer ao rei e o máximo que pôde fazer foi aconselhá-lo a que se rendesse incondicionalmente aos babilônios.
Nesse exato momento surgiu um exército egípcio e entrou na luta; de repente, os babilônios tiveram de combater em duas frentes, contra os israelitas e os egípcios. A certa altura, as coisas se agravaram e parecia que os vaticínios de Jeremias estavam completamente errados. Mas foi uma fase transitória, pois os babilônios derrotaram os egípcios e voltaram a sitiar Jerusalém.
Em época alguma, os detentores do poder gostaram de ver vingar as idéias de alguém fora do seu círculo; os métodos de castigar tal prepotência variaram, mas jamais deixaram de ser aplicados, fosse pela cassação dos direitos políticos ou pela eliminação física do malfeitor. Os inimigos de Jeremias na corte real pleitearam sua morte e conseguiram que o profeta fosse lançado ao fundo de uma cisterna, onde não havia água, mas somente lodo. Ali o profeta deveria ficar atolado e sofrer uma morte horrível e lenta, como que a prestações.
A exemplo do que prevê o enredo de um bom romance policial, o "herói" é salvo no último momento, por um inesperado golpe de sorte. Foi o que aconteceu também com Jeremias!
Na casa do rei havia também um eunuco etíope de nome Abdemelec, que ouviu falar como tinham lançado Jeremias à cisterna e, graças à sua enorme influência sobre o rei, conseguiu que o profeta, faminto e tiritando de frio, fosse retirado da cisterna e voltasse à luz do dia.
Contudo, Jerusalém não resistiu por muito tempo; os babilônios forçaram as muralhas da cidade e o rei Joaquim foi preso e morto. Seu filho logrou manter-se no poder por três meses apenas, mas também ele acabou se rendendo aos babilônios. E lá se foram 10.000 pessoas ao exílio...
“...foram embora todos os generais do exército, todos os combatentes, bem como os ferreiros e serralheiros, ficando somente o povo mais baixo. Os tesouros do templo e do palácio real foram levados para a Babilônia e as peças de ouro de Salomão foram quebradas, dentro do próprio recinto do templo."
Finalmente, Jeremias recuperou a sua plena liberdade! No entanto, ainda resta saber, onde é que ficou a Arca da Aliança. Sim, como se fosse tão fácil destrinchar um caso policial! Pelo contrário, é preciso examinar muitas pistas para - talvez - encontrar aquela que dê certo, e nesse meio tempo, não perdemos de vista o nosso corpo de delito, mesmo que divaguemos por aí afora.
Entretanto, damos um pulo no tempo.
Em 597 a.C. o rei Nabucodonosor, da Babilônia, conquistou Jerusalém; entrementes, reinava o seu filho, Baltazar. Isto se deu em meados do século VI antes da nossa era, quando aconteceu então algo de misterioso.
O rei Baltazar convidou umas 1.000 pessoas para um lauto banquete. Todos beberam e comeram à vontade e, no auge da festa, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que seu pai tinha levado como presa de guerra do templo de Jerusalém; e neles beberam pandegamente o rei e seus convivas. Foi uma festa e tanto, original e única no seu gênero, graças à idéia genial de Baltazar de mandar vir os vasos do templo, e com a qual ele próprio muito se regozijou.
De repente, quando todos estavam festejando e se excedendo ao máximo, o rei e seus convidados levaram tremendo susto, ao verem como um dedo de fantasma começou a escrever na parede. A Bíblia relata este episódio da seguinte maneira:
"Bebiam o vinho e louvavam os seus deuses de ouro e de prata, de metal, de ferro, de madeira e de pedra.
Na mesma hora apareceram uns dedos, como de mão de homem que escrevia defronte do candelabro, na superfície da parede da sala real e o rei via os dedos da mão que escrevia. Então o semblante do rei mudou-se e os seus pensamentos perturbaram-no; as juntas dos seus rins se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei, pois, clamou em alta voz que fizessem vir os magos, os caldeus e os agoureiros. E o rei, tomando a palavra, disse aos sábios da Babilônia: todo o que ler esta escritura e me der a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará um colar de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino ... Isto é, pois, o que ali está escrito: Mané, Técel, Farés. E esta é a interpretação das palavras: Mané: Deus contou (os dias do) teu reinado e pôs-lhe termo. Técel: tu foste pesado na balança e achou-se que estavas falto de peso. Farés: o teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas ... Naquela mesma noite foi morto Baltazar, rei dos caldeus.” Dan 5,4-5-6-7-25-30
Este acontecimento revela, simplesmente, que os vasos sagrados do templo possuíam forças mágicas; no entanto, nada se fala da Arca da Aliança.
Olhemos Jeremias com um pouco mais de atenção. Há algo de errado com ele.
Conforme relatou o seu escriba Baruc, "anjos do Altíssimo" avisaram Jeremias, expressamente, da aproximação do exército babilônio. Cientes dos acontecimentos que iriam desenvolver-se, esses anjos instruíram Jeremias no sentido de que escondesse dos babilônios os objetos sagrados, que o Senhor havia confiado a Moisés, pois mais cedo ou mais tarde os inimigos acabariam chegando. Logo, os anjos não se preocuparam com os objetos que posteriormente Baltazar iria profanar, por ocasião do seu festim, ou seja, vasos e candelabros, mas, sim, com aqueles que haviam sido entregues a Moisés, por ocasião da marcha pelo deserto. Entre estes estava a Arca da Aliança, inclusive seu aparelho produtor de maná!
Plenamente cônscio da ameaça que pairava no ar, Jeremias convocou alguns homens fortes, entre os quais seu amigo etíope, de nome Abdelemec. Na calada da noite, e em operação de equipe, retiraram do templo os objetos de culto, que esconderam no interior de uma caverna, sem ninguém perceber o que estavam fazendo. O fato é que a Arca da Aliança não caiu nas mãos dos babilônios, mas, andou sumida, sem deixar sequer o menor vestígio. Nos textos bíblicos canonicamente reconhecidos pela Igreja não se encontra mais nenhuma referência a respeito dela.
Menções da Arca da Aliança podemos encontrar apenas nos apócrifos, que são livros sagrados de conteúdo secreto. Sob o ponto de vista estritamente cristão esses escritos apócrifos não são "plenamente válidos", embora na sua forma e conteúdo correspondam totalmente aos textos "oficiais". O Livro II dos Macabeus é um desses apócrifos e nele se lê a seguinte passagem:
"Lia-se também os mesmos nos mesmos escritos que este Profeta (Jeremias), por uma ordem particular recebida de Deus, mandou que levassem com ele o tabernáculo e a arca, até que chegasse ao monte ao qual Moisés tinha subido, de onde ele viu a herança de Deus. Tendo ali chegado, Jeremias achou uma caverna; pôs nela o tabernáculo, a arca e o altar dos perfumes e tapou a entrada. Alguns dos que o seguiam, voltaram de novo para marcar o caminho com sinais, mas não puderam encontrá-Io. Quando Jeremias soube disto, repreendeu-os: Sabei, disse-Ihes, que este lugar ficará incógnito até que Deus reúna o seu povo disperso e use com ele de misericórdia." 2 Mac 2,4-713.
Por sua vez, a Michna, parte do Talmude, conhecida como a "Relação das Leis", diz que certo dia um sacerdote, funcionário do templo, teria ido em busca da arca nos arredores de Jerusalém e achado uma grande pedra, disforme, de cuja existência informou os colegas. Antes, porém, que o caso pudesse ser esclarecido, o sacerdote sofreu morte misteriosa.
"Destarte, os sacerdotes vieram a saber que a Arca da Aliança estava escondida neste local. Michna, 6,2.
E, novamente, nada mais a respeito da Arca da Aliança!
Aliás, não foi procurada somente nos tempos antigos, quando ainda era notícia, mas também nos tempos modernos, pois, em 1910, a "Expedição Parker" partiu à sua procura e voltou, sem resultado positivo. O que aconteceu com a Arca da Aliança?
A esta altura cabe protocolar os seguintes fatos:
- Conforme reza a Michna, sacerdotes supõem que a Arca da Aliança se encontraria na área de Jerusalém, porque lá um sacerdote sofreu morte misteriosa, atribuída à arca.
- As tradições encerram indícios seguros, com base nos quais, na época de Jeremias, extraterrestres desenvolveram atividades no planeta Terra, pois:
- "Anjos do Senhor" preveniram Jeremias; seu escriba, Baruc, escreveu que "havia luzes no céu".
- Dessa mesma época datam as crônicas do profeta Ezequiel, relatando seus encontros com naves espaciais.
- Nos textos apócrifos "Restos das palavras de Baruc", o amigo e escriba de Jeremias, Baruc, relatou uma experiência com extraterrestres, vivida pelo etíope Abdemelec.
Considerando os pontos supracitados, é lícito opinar:
- O grupo dos extraterrestres, numericamente reduzido, não entrou nas lutas e não tomou o partido de nenhuma das três facções em conflito. Evitou misturar-se com o povo.
- Por razões não definidas, o grupo não teve condições para, ele próprio, providenciar o desaparecimento da arca com a máquina de maná. Será que não queria imiscuir-se nos assuntos internos da humanidade? Teriam receado a radiação perigosa do objeto? Em todo caso, é líquido e certo o fato de os extraterrestres não terem permitido que a arca caísse em mãos dos babilônios. Foi por isso que pediram a Jeremias que a escondesse, com a ajuda de alguns amigos dedicados e de toda confiança.
- Em decorrência dessa operação executada na calada da noite e em trabalho de equipe, houve pessoas que ficaram cientes do que se passava! Entre elas o etíope Abdemelec. Foi muito curto o intervalo entre a hora do aviso prévio dado a Jeremias e o aparecimento do exército babilônio; assim sendo, Jeremias não teve tempo de encontrar um local seguro, para nele depositar a arca mas teve que deixá-Ia no interior de uma caverna natural.
Por causado peso da arca, Jeremias e seus auxiliares tiveram de usar estradas e caminhos para o seu transporte e, para não despertar a atenção de ninguém, é possível que tenha sido colocada sobre uma carroça puxada por bois, De mais a mais, como essa providência tinha que ser tomada à noite, e visto que só havia uma noite para isso, a arca não podia ser ocultada longe de Jerusalém, pois do oeste, da atual Jordânia, já se aproximavam os babilônios.
Aparentemente, Jeremias conhecia as peculiaridades da máquina e sabia como manejá-Ia. No entanto, em data posterior, quando um sacerdote dela se aproximou, sofreu morte misteriosa.
Os extraterrestres deviam ter conhecimento da importância da arca, pois, do contrário, teriam permitido a sua entrega aos babilônios. Em vez disso, deram ordens para escondê-Ia.
Onde é que Jeremias teria colocado, escondido, enterrado o objeto tão falado?
A topografia da paisagem multiforme ao redor de Jerusalém oferece um grande número de esconderijos. A leste do lago de Genesaré, há muitas fendas e cavernas na terra, que oferecem esconderijo ideal para a arca. No entanto, mesmo assim, não posso imaginar como Jeremias teria transportado a arca pesada, numa distância de 130 km, em linha reta, aérea! Considerando as condições de estrada daqueles tempos e o andar lento de um carro puxado por bois, teriam sido necessários alguns dias para chegar à região do lago de Genesaré. Outrossim, revelariam falta de tino se tomassem aquele rumo, pois iriam cair diretamente nas garras dos inimigos, que avançavam justamente daquele lado. Tanto faz. Mesmo que Jeremias tivesse encontrado um esconderijo nas imediações de Jerusalém - fosse uma colina ou caverna hoje em dia coberto de vegetação, ninguém poderia supor que lá estaria depositada a máquina celeste. Aliás, o ponto importante reside no fato de ela não ser mais mencionada nos relatos históricos.
Para onde poderia levar tal pista?
Não me sai da cabeça o detalhe de o etíope Abdemelec ter sido testemunha ocular da operação noturna que deu sumiço à Arca da Aliança. Quando retornou à sua terra, será que Abdemelec teria falado daquela máquina milagrosa?
Por mais exíguas que sejam as chances que se lhe oferecem, um criminalista não desiste de pegar o fio de uma pista nova. Por muito tempo, envidei esforços para me inteirar de tradições etíopes. Eu sabia da existência da epopéia KEBRA NEGEST, que pode significar tanto "Esplendor dos Reis” como "Glória dos Reis". Na Europa central essa epopéia é totalmente desconhecida e não foi nada fácil conseguir textos etíopes em tradução alemã. Mas, graças a Deus, existe uma tradução. A mesma deve a sua existência à Real Academia de Ciências da Baviera, que concedeu uma bolsa de estudos ao célebre assiriólogo Carl C. A. Bezold (1859-1922) que lhe proporcionou o tempo necessário para traduzir a obra para o alemão - para o que se valeu de manuscritos conservados em Berlim, Londres, Oxford e Paris.
Hoje em dia, já nem se pode mais determinar a data exata da origem da KEBRA NEGEST, no entanto, não andaríamos muito equivocados se a datássemos por volta de 850 a.C. ...Na tradução alemã, Bezold baseou-se em textos que dois etíopes, Isaak e Jemharana-Ab, verteram do etíope para o árabe, em 409 d.C. Os dois tradutores etíopes dizem na introdução:
"Vertemos este escrito de um livro cóptico para o árabe ... no ano da graça de 409, no país da Etiópia, nos dias do rei Cabra-Masqal, cognominado Lalibala, na época de Abba-Gijórgis, o bispo exímio ... Rezai por mim, seu pobre servo Isaac e não me censureis pelas deficiências da expressão lingüística".
Evidentemente, não vamos censurar o pobre do Isaac pelo fato de, em data posterior à sua obra tão esforçada, terem sido acrescentadas doutrinas cristãs que falam na vinda de Jesus, as quais, sem dúvida, não constavam na KEBRA NEGEST original. Aliás, nem poderiam ter constado na sua versão original, porque ela data de antes do advento da era cristã. O rei Salomão, que viveu de 965 a 926 antes de Cristo, de que maneira poderia ele ter comentado a crucificação e a ressurreição de Jesus?
Convém ignorar os acréscimos pós-cristãos, a fim de não perder de vista as pegadas da Arca da Aliança pré-cristã. Se a estudarmos sob este prisma, a obra em muito ajuda em nossas buscas e leva-nos bem mais perto da arca, a cujo respeito a KEBRA NEGEST escreve, logo de início:
Faze uma caixa de madeira indestrutível; revesti-la-ás de ouro puro e nela colocarás a palavra da lei da aliança, que escrevi de próprio punho ...
O celeste, no interior (da caixa) é de cor e lavra maravilhosas, semelhante ao jaspe, ao minério brilhante, ao topázio, à pedra preciosa, ao cristal e à luz, encantando e deslumbrando a vista, confundindo os sentidos, feito segundo os pensamentos do Senhor e não pela mão de um artista humano, mas, sim, Ele próprio a criou (a arca), como morada do seu esplendor ...
Nela também havia um gomor (antiga medida hebraica) de ouro, cheio de maná, que veio do céu e a vara de Arão que, depois de seca, tornou a verdejar, sem que tivesse sido molhada com água; e aquela partiu-se em dois, resultando três varas, embora continuasse, porém, uma só.” Kebra Negest, Cap. 17
Eis aqui, pois, a descrição plausível de um aparelho do qual os habitantes da Etiópia daqueles tempos nem sequer imaginavam. Eles empregaram conceitos do seu vocabulário, que davam uma idéia mais ou menos aproximada do objeto. Aliás, Ezequiel usou esse mesmo expediente, ao descrever o "esplendor do Senhor", comparando-o a minério brilhante, safiras, pedras preciosas e cristal. Tentativa igual foi feita por Enoque, na sua descrição realista-surrealista do chefe dos extraterrestres, quando disse que: "Seu corpo era parecido com uma safira, seu rosto com uma criolita ..." Uma luz possante, indescritível e naquela luz havia figuras... Assim está escrito no apocalipse de Abraão. Como se igualam as imagens!
Na primeira menção da arca, feita pela KEBRA NEGEST, o ponto importante é a verificação de que dentro dela havia algo de extraordinário, que não foi feito pela mão do homem.
Os relatos da KEBRA NEGEST são pitorescos, ricos em detalhes. Assim sendo, contam como Makeda, a rainha etíope, soube por um mercador ambulante que Salomão, o rei israelita, era um belo homem, soberano de um país esplêndido. Destarte, a rainha Makeda tomou conhecimento também do Deus israelita e da misteriosa Arca da Aliança, que Ele entregara ao povo em migração.
Todas essas novidades animaram a rainha a empreender uma viagem de visita ao vizinho e amigo rei Salomão. Com grande pompa, sem poupar despesas, mandou preparar uma viagem luxuosíssima; diz a KEBRA NEGEST que ela deu ordens para selar 797 camelos, carregar inúmeras bestas de carga, mulas e burros e convidar 300 pessoas a integrarem a sua comitiva.
As crônicas falam que Salomão, além de sábio, teria sido também um insaciável playboy, grande apreciador do sexo oposto, do tipo expressamente proibido pelas severas leis mosaicas; dizem que não se comprazia somente com beldades nacionais, mas também com estrangeiras, que importava de além-fronteiras do reino. Logo, não era de admirar que mandasse preparar uma recepção deslumbrante para a rainha etíope, da qual a KEBRA NEGEST fala o seguinte, no seu capítulo 25:
Mas, prestou-lhe também homenagens, regozijou-se sobremodo com a sua vinda e lhe mandou reservar morada no palácio real, perto dos seus próprios aposentos. Mandou servir-lhe as refeições da noite e da manhã, toda vez, quinze medidas kor (= antiga medida israelita de 364 litros) de farinha de trigo finíssima, triturada e cozida a óleo e muito molho, bem como 30 medidas kor de farinha de trigo, tratada no pilão, para fazer pão para 350 pessoas, mais as respectivas baixelas de porcelana e dez bois gordos, cinco touros, 50 ovelhas; além disso, o rei mandou entregar a Makeda cabras, veados, búfalos e frangos gordos, bem como vinho, 50 medidas do tipo comum e 30 medidas do especial... e diariamente ofereceu à rainha onze trajes finíssimos.
Kebra Negest, Cap. 25
Tais "gentilezas" da parte de Salomão, o sábio, renderam juros e valeram a pena, pois facilitaram a conquista da rainha e, como o rei já lhe havia oferecido presentes tão pródigos por ocasião da sua chegada, não podia fazê-lo por menos, na hora da despedida. Os grandes presentes conservam a amizade e, novamente, a KEBRA NEGEST relata, em detalhes, a prodigalidade de Salomão.
Deu-lhe todas as maravilhas e riquezas com as quais ela poderia sonhar, roupas lindíssimas, bem como tudo quanto a Etiópia pudesse almejar, camelos e carros em número de uns 6.000, carregados de objetos de grande valor, veículos para viajar por terra e ainda um carro, capaz de sustentar-se no ar, confeccionado pelo rei, segundo instruções recebidas de Deus. Kebra Negest, Cap. 30
É preciso ler este texto duas vezes. Nele se acham relacionados, pormenorizadamente, os presentes que Makeda levou para a Etiópia, a saber: camelos, carros, objetos e veículos, para viajar por terra ... e um carro para voar! O cronista distingue, explicitamente, entre os tipos de carros, ou seja, um para viajar por terra, outro para viagens aéreas. Sem dúvida, Salomão era um personagem notável, inigualável entre os reis! Basta ver os tipos de carros existentes no seu parque de material rodante!
Por conseguinte, aconteceu o que estava por acontecer. Nove meses e cinco dias após a sua volta, a rainha deu à luz um menino, que chamou de Baina-Iehkem. (Talvez não passe de uma especulação extravagante, mas, foneticamente, este nome lembra o de Abdelemec. Não seria o caso de, com o uso diário, as vogais e consoantes daquele nome se terem gastado a ponto de Baina-Iehkem se identificar com Abdemelec? Todavia, tal identidade não vinga, sob o ponto de vista cronológico, pois Salomão viveu uns 400 anos antes de Jeremias e seu amigo etíope Abdemelec. Outrossim, não seria este o único caso excepcional, em que os cronistas confundiram eventos e nomes, talvez para apagar uma pista. Porém, conforme já falei, esta é uma especulação à parte.)
Baina-Iehkem, fruto de um amor efêmero entre um rei e uma rainha, foi educado em todas as artes e no domínio das armas, conforme o exigia o seu "status". Quando chegou aos 22 anos de idade, viajou, por sua vez, com grande pompa e acompanhamento para Jerusalém, com o fito de, finalmente, conhecer o seu pai:
"Ele, o filho, Baina-Iehkem, era belo; de estatura, corpo e porte parecia-se com Salomão, o rei, seu pai; seus olhos e suas pernas e todo o seu modo de ser eram os do rei Salomão."
Kebra Negest, Cap. 32
A visita do filho foi motivo de imensa alegria para o pai e, de maneira prodigalíssima, Salomão lhe ofereceu verdadeiros presentes de rei. Mas, Baina-Iehkem era sabido, tinha as suas próprias idéias.
Para ele, todas aquelas preciosidades eram pouco atrativas; o seu maior desejo, oculto, premente, era o de possuir a Arca da Aliança.
Foi o que ele falou ao pai Salomão e acrescentou que gostaria muito de levar consigo a arca, para ser oferecida à mãe, em virtude de a arca garantir a proteção do todo-poderoso, a quem estivesse de posse dela.
Salomão ficou um tanto assustado com esse desejo do seu filho; mas, apenas assustado e não revoltado com a petulância daquele seu rebento. Afinal de contas, a arca era uma relíquia sagrada, de valor incalculável, oriunda de Moisés e conservada num recinto especial do templo, cuja entrada era permitida somente a alguns sacerdotes seletos. Pelo fato de o rei ter ficado apenas assustado com esse pedido fora de série, seria lícito supor uma das duas: àquela altura, a arca já não era mais de grande utilidade ou, por lembrar um amor feliz, o rei queria garantir a segurança de Makeda, e por isso despachou o objeto, a ser guardado no seu palácio. Neste segundo caso, Salomão teria considerado a arca ainda capaz de alguma coisa.
Ao longo de toda a história, não se tem notícias de um só transporte da Arca da Aliança, que estivesse isento de incidentes sensacionais.
Salomão condicionou a autorização para a saída da arca a duas exigências: a) a arca devia ser retirada de Jerusalém, às escondidas; b) sem o conhecimento oficial do rei. Ambas as exigências são perfeitamente plausíveis, pois, se os sacerdotes e o povo soubessem que o rei, sem mais nem menos, dera de presente a arca preciosíssima, ter-se-iam insurgido e rebelado contra o soberano.
Do pai, Baina-Iehkem herdou a sabedoria e da mãe, a esperteza. Ele reuniu seus companheiros mais íntimos e fiéis, para com eles deliberar a respeito dos meios de atender às exigências paternas. Por fim, resolveram que somente um truque muito bem urdido poderia salvar a situação. Como filho do rei, Baina-Iehkem era pessoa gratíssima, de toda confiança e credenciada para ingressar nos aposentos secretos do rei; logo, ele entraria no recinto onde estava guardada a arca, para tirar as suas medidas exatas; em seguida, o pessoal da sua confiança iria à cidade e providenciaria a execução das peças avulsas, a serem feitas por diversos artífices, que, no entanto, ignorariam do que se tratava.
"Depois retirarei o objeto desmontado e montarei as peças avulsas de madeiras somente no local onde se encontra Zíon. Lá serão por mim depositadas e cobertas com as vestes (da arca). Depois abrirei um buraco na terra, para nele esconder (a arca legítima), até viajarmos, quando, então, a levaremos conosco.”
Kebra Negest, Cap. 46
O plano era simples e inteligente.
Depois que os carpinteiros entregaram as peças avulsas, parecidíssimas com as da arca legítima, tanto na madeira quanto na cor, Baina-lehkem desceu, de noite, ao recinto do templo e deixou a porta entreaberta, para que os seus amigos pudessem entrar. Retiraram, pois, a Arca da Aliança de Moisés, cobriram-na com panos velhos e levaram-na para o acampamento dos etíopes, fora dos muros de Jerusalém, onde foi provisoriamente enterrada até a hora de eles regressarem à sua terra. No recinto sagrado, o seu lugar foi tomado por um simulacro, feito de peças avulsas e ninguém percebeu a fraude, conforme se pode ver da seguinte passagem:
"Em seguida, levantou-se e foi acordar seus três irmãos; eles pegaram aquelas madeiras e foram para o templo, onde depararam com todas as portas abertas, de fora e de dentro, até o local onde encontraram Zíon, a arca das leis de Deus; incontinenti, essa foi levada embora, naquele mesmo instante ...”
"Então, os quatro carregaram a arca e levaram-na para a casa de Azarjás; depois voltaram para o templo e montaram aquelas peças de madeira no lugar onde estava a arca, cobriram-nas com as vestes de Zíon e fecharam as portas." Kebra Negest, Cap. 48
Uma semana mais tarde, os etíopes levantaram seu acampamento e partiram. Em Jerusalém, ninguém percebeu o que aconteceu com a arca no recinto do templo. Seria este um indício do pouco interesse dos israelitas na máquina de maná, que se tornou imprestável?
"Fizeram suas despedidas e foram-se embora. Antes disso, na calada da noite, colocaram Zíon (a arca) sobre um carro, junto com objetos de pouco valor, roupa suja e peças várias. Todos os carros foram carregados, os mais velhos levantaram-se, a trompa deu o sinal, que ressoou na cidade, e a juventude, aos gritos, levantou um grande barulho." Kebra Negest, Cap. 50
Logo que se acharam a uma distância segura de Jerusalém, os etíopes fizeram a baldeação da arca para um carro novo e, também desta vez, houve um espetáculo incomum; aliás, já sabemos que em todos os seus transportes aconteceu algo de sensacional, conforme conta a KEBRA NEGEST, no Cap. 52:
"Da arca saiu uma nuvem, como um véu, envolvendo e protegendo-a contra o calor do sol. Ninguém teria puxado o seu carro, mas foi ele próprio (o arcanjo Miguel) que o puxou; desta forma, as pessoas, junto com os cavalos, as mulas e os camelos, foram içados a um côvado acima do solo; e todas as pessoas, montadas em animais, foram levantadas um palmo masculino acima do lombo de sua montaria, bem como, todos os tipos de objetos neles carregados foram alçados em um palmo ... e toda a caravana viajou no carro, como se estivesse a bordo de um navio em alto mar, embalado pelo vento que se levanta, e como uma águia levada suavemente pelo vento. Assim eles seguiram naquele carro, sem balançar para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda.”
A esta altura, convém resumir a situação.
Entre os muitos presentes de Salomão para a rainha etíope, havia "um carro, capaz de sustentar-se e mover-se no ar".
- Com o tácito consentimento do rei, o príncipe real retira a arca, às escondidas, de Jerusalém. Durante uma semana, ela fica escondida, fora dos muros da cidade e, quando a caravana está para partir, a arca é colocada sobre um carro e coberta por objetos sem valor, a título de camuflagem.
- Somente longe de Jerusalém, a arca é baldeada para um novo carro. A partir daquele instante, o carro voa, acima do solo, à altura de um côvado, respectivamente, um palmo masculino. A capacidade daquele carro deve ter sido respeitável, pois, sobre ele "levantaram-se" também pessoas, cavalos, mulas e camelos. A crônica fala, expressamente, em um só carro (quando, na viagem de ida, a caravana viajou em muitos carros).
- O filho do rei concebeu um plano, muito bem bolado, até nos menores detalhes. A algumas jornadas de Jerusalém, ele mandou parar e estacionar o grande carro-voador - deve ter sido o presente de Salomão à sua mãe - presumivelmente, sob escolta armada. A exemplo dos viajantes contemporâneos, ele foi para Jerusalém, lá furtou a arca, partiu e fez a sua baldeação para o carro-voador. O "carro" viajou ligeiro, sem depender das péssimas condições da estrada, pondo, assim, a caravana a salvo de eventuais perseguidores.
As tradições confirmam como corretas estas suposições. Finalmente, no templo em Jerusalém os sacerdotes perceberam o roubo e levaram-no ao conhecimento do rei Salomão. Eles pressionaram o Rei para chamar, imediatamente, suas tropas, com instruções de perseguir os etíopes. Salomão não pôde deixar de atender a essas exigências, nem alegar ignorância, dizendo que o filho retirou a arca sem o seu consentimento.
No entanto, os cavaleiros velozes de Salomão não lograram alcançar os etíopes. Fato nada surpreendente, visto que, entrementes, eles voaram para o Egito. Aliás, em sua passagem, o carro-voador provocou bastante estragos, conforme relataram os egípcios aos mensageiros israelitas:
"Muito tempo atrás, os etíopes passaram por aqui, viajando sobre um carro, como os anjos, e eram mais velozes do que a águia no céu; foi o que os egípcios contaram aos israelitas. Os habitantes das cidades e dos vilarejos testemunharam que, quando os etíopes ingressaram nas terras do Egito, os deuses locais e os deuses dos faraós foram derrubados e quebrados e, da mesma maneira, foram destruídos os obeliscos dos deuses.” Kebra Negest, Cap. 58-59
Tudo isto é extraordinariamente estranho.
Um "carro-voador" derrubando obeliscos? Levando cavaleiros com sua montaria e os camelos? Seria isto um produto da fertilíssima fantasia oriental?
Aliás, também as epopéias hindus, a Maabarata e a Ramaiana, descrevem super-carros voadores. Um deles, deixado pelos deuses, tinha "o tamanho de um templo e a altura de cinco andares". A Ramaiana descreve aparelhos voadores, que "deixaram estremecer as montanhas, ao levantar-se, com o ribombar do trovão, e que incendiaram florestas, campos e as pontas dos edifícios". Logo, os relatos de horror que os egípcios fizeram aos israelitas podem ser considerados como acontecimentos reais, que efetivamente se registraram.
Obviamente, também os mensageiros da tropa veloz de Salomão aceitaram aqueles relatos como fidedignos e assim os transmitiram, incontinenti, aos seus superiores. Porém, sua majestade o rei Salomão não estava disposto a desistir, diante de tais fatos; ele próprio convocou uma tropa de elite e partiu com ela para o Egito onde procurou inteirar-se quando o seu filho Baina-lehkem havia partido de lá. E informaram-lhe o seguinte:
"Este é o terceiro dia após a sua partida. E quando acabaram de carregar seu carro, eles não seguiram pelo caminho, por terra, mas, sim, pairavam no carro, levados pelo vento; eles eram mais velozes do que a águia no céu e todos os seus objetos vieram com eles, sobre o vento; dentro do carro. Mas nós acreditávamos que tu, ó rei, em tua grande sabedoria, tivesses inventado de viajar com um carro, sobre o vento. Então Salomão perguntou-lhes: "Zíon, a arca das leis de Deus, estava com eles?" E eles responderam: "Não a vimos".
Kebra Negest, Cap. 58
Então, Salomão convenceu-se de que fora ludibriado pelo próprio filho e de que a arca, com seu conteúdo precioso, estava irrecuperavelmente perdida. Salomão e seus sacerdotes choraram copiosamente a perda da arca. Salomão chorou e lamentou-se tanto mais, porque, no seu íntimo, sabia que o roubo da arca não deveria chegar ao conhecimento público, porque então ele ficaria exposto a um risco tremendo, pois de repente, reis inimigos poderiam sentir-se suficientemente fortes para atacar Israel, quando soubessem que já não dispunha mais da Arca da Aliança. Levado por tal raciocínio, Salomão deu ordens estritas aos sacerdotes para que absolutamente nada deixassem transpirar junto ao público sobre a perda da arca.
"E Salomão continuou, falando a eles: Escutai bem, para que os povos não-circuncisos não cheguem a vangloriar-se e dizer-nos: a vossa glória foi destruída e fostes abandonados pelo Senhor. Jamais reveleis indício algum disto aos outros povos! No entanto, aquelas madeiras que até agora ficaram encostadas e montadas, ali, vamos montá-Ias, revesti-Ias de ouro e adorná-Ias, a exemplo da nossa senhora Zíon (a arca). E também nela vamos depositar a escritura das leis.” Kebra Negest, Cap. 62
As circunstâncias obrigaram Salomão a encobrir o roubo da arca e instruir os sacerdotes para adornar a arca substituta, com símbolos legítimos. No entanto, ele próprio estava caminhando para o seu fim. Na KEBRA NEGEST está escrito que o rei viveu por mais onze anos, porém, afastou-se de Deus e dedicou-se "a satisfazer o seu amor pelas mulheres".
O que aconteceu com a Arca da Aliança, depois de Baina-lehkem dela se ter apossado?
Depois de o filho do rei e seus seguidores terem sobrevoado a fronteira da Etiópia, ele deu ordens de aterrissar e, a exemplo do que outrora fez o rei Davi, executou uma dança de alegria ao redor da presa:
"Depois, o rei levantou-se e pulou como uma ovelha ou um cabrito, que acaba de mamar o leite materno, em volta da arca das leis de Deus, demonstrando a mesma alegria outrora demonstrada pelo seu avô Davi. Ele bateu o pé, sentiu uma imensa alegria no seu coração e externou o seu júbilo pela boca. Nem sei o que falar da imensa alegria e dos folguedos no acampamento do rei da Etiópia! Rejubilaram-se mutuamente, pularam como novilhos, bateram palmas, ficaram admirados, ergueram suas mãos para o céu, ajoelharam-se, apertaram seu rosto contra o solo e louvaram Deus, no íntimo do seu coração." Kebra Negest, Cap. 53
A rainha-mãe Makeda entregou o governo do país ao seu filho tão bem-sucedido, o qual, doravante, adotou o título de rei Menelik e tornou-se o fundador da nova dinastia etíope.
Aliás, o artigo II da Constituição etíope de 1955 reza:
"Por todas as eternidades, a dignidade real deve continuar derivando de um mesmo tronco genealógico, sem interrupção, ou seja, da dinastia do rei Menelik I, filho da rainha da Etiópia, da rainha de Sabá e do rei Salomão de Jerusalém.”
O imperador Hailé Selassié, da Etiópia, o négus da Abissínia, destronado e banido em 1974, considerava-se ainda descendente direto de Menelik. No decorrer dos tempos, os soberanos etíopes chamaram-se, ora rei, ora imperador; mas, tanto na qualidade de reis ou imperadores, sempre estavam convictos da sua superioridade em relação aos demais soberanos, do seu privilégio absoluto de gozarem da proteção imediata do Deus supremo, graças ao poder invencível da Arca da Aliança.
Enquanto acompanhei as pistas da Arca da Aliança, lembrei-me de um incidente, ocorrido em 1976, em Srinagar, nos planaltos da Índia. Lá, o arqueólogo prof. Hassnain levou-me a uma montanha em forma de cone, chamada "Tahkti Suleiman", e mostrou-me o santuário islâmico, erguido no cume daquele cone, de vertentes íngremes.
Perguntei ao professor o que queria dizer "Tahkti Suleiman" e, sem pestanejar, ele respondeu: "Monte de Salomão!" .
Achei pouco lógico dar o nome do rei israelita Salomão a uma montanha nos planaltos da Índia. Assim sendo, tratei de informar-me a respeito e o professor me deu a seguinte explicação:
"O rei Salomão é venerado tanto pelos muçulmanos como pelos hindus. Esta é a sua montanha e este é o templo do rei! Foi erguido neste local, porque, segundo as tradições, o rei Salomão voou com sua nave voadora até aqui e ele próprio promoveu as obras do templo.”
Achei tudo aquilo um tanto esquisito e não dei muito crédito às palavras do professor, mas tratei de dissimular a minha descrença, visto ser ele um muçulmano praticante.
No entanto, desde que tomei conhecimento da KEBRA NEGEST, reputo perfeitamente possíveis os vôos do rei Salomão para todos os continentes. No Antigo Testamento, Salomão sempre costuma ser distinguido com o atributo de "sábio"; talvez a tradução mais correta fosse "dotado de vocações técnicas".
Lamentavelmente, não sabemos e jamais chegaremos a saber que tipo de aparelho voador era esse que o rei mandou construir. Será que os filhos do céu, mencionados pelo antediluvial profeta Henoc, teriam deixado na Terra uma nave auxiliar? Teria existido um grêmio especial de sacerdotes, uma fraternidade tecnológica, oculta, com condições de manejar e manter aquele monstro técnico? Todas estas perguntas ficam em aberto, sem resposta. O que sabemos por certo - com base na KEBRA NEGEST - é que Salomão deu de presente um aparelho voador à rainha da Etiópia, que desempenhou papel importante no seqüestro da Arca da Aliança.
A cidade de Waqerom foi a primeira escala na viagem aérea do rei Menelik I; de lá, ele prosseguiu para a capital, chamada Monte Makeda:
"O rei entrou com todo o seu esplendor na cidade da sua mãe e, em seguida, essa avistou, na altitude, a Zíon (arca), a sagrada, brilhante como o sol. A rainha ergueu a cabeça, olhou para o céu, louvou seu criador, bateu palmas, jubilou pela sua boca, bateu seus pés, adornou todo o seu corpo com alegria e, no seu íntimo, ela jubilou, em pensamento. E o que devo dizer da imensa alegria que se espalhou por todo o país etíope? Homens e animais, pequenos e grandes, machos e fêmeas - todos rejubilavam! A rainha mandou montar a sua: tenda e as tendas residenciais no sopé do Monte Makeda, em uma área ampla, onde havia água boa, e mandou abater bois gordos e touros, em número de 32.000. A arca sagrada foi levada para a cidadela no Monte Makeda e a rainha destacou 300 portadores de espada, acompanhados da sua própria gente e dos seus dignitários, para montarem guarda nas tendas de Zíon."
Kebra Negest, Cap. 85.
Cabe aqui mencionar que, freqüentemente, os comentários do Antigo Testamento costumam apoiar a tese, segundo a qual o rei Salomão teria recebido a visita não da rainha da Etiópia, mas da rainha de Sabá. (O reino de Sabá ficava situado em terras dos Iêmens hodiernos.) Contudo, os textos não deixam bem claro, se a rainha de Sabá teria visitado também o jovial rei Salomão ou se a soberana etíope teria reinado, inclusive, em Sabá.
Outrossim, não resta a menor dúvida de que a Arca da Aliança foi levada para as terras da Etiópia hodierna. A KEBRA NEGEST descreve, com detalhes, o roteiro que os etíopes seguiram quando voltaram com a arca seqüestrada, a saber: de Jerusalém prosseguiram ao longo do litoral mediterrâneo até o Nilo, mencionado como o "ribeiro do Egito". Naquela sua fuga, os homens do filho do rei acompanharam o curso do Nilo; mas, em todo caso, os egípcios nada poderiam ter tentado contra eles, que sobrevoaram o seu território. Ademais, era do conhecimento dos egípcios que aquela caravana, em fuga, estava levando a Arca da Aliança, potencialmente perigosa, da qual tinham medo, porquanto, de inúmeros relatos sabiam como aquele aparelho era superior a todas as forças inimigas. A KEBRA NEGEST diz que a arca "brilhou como o Sol". Lá, em cima, a bordo do aparelho voador, passaram-se coisas sinistras. Será que uma radiação mortífera era dirigida contra os adversários? Refletiria o aparelho voador o próprio brilho do Sol? Não havia resposta certa para todas aquelas perguntas.
A Arca da Aliança não foi levada pelo Mar Vermelho, do Alto Egito ou da Etiópia para o Iêmen; a KEBRA NEGEST especifica, exatamente, os limites do reino etíope, dizendo:
"E assim o limite oriental das terras, sob o domínio do rei da Etiópia, marca o início das terras de Gaza, no reino de Judá ... e outro limite é constituído pelo mar de Jericó, prosseguindo na zona litorânea do seu mar até a Líbia e Sabá ... outro limite é formado pelo país dos negros e dos nus, subindo para as montanhas de Keberenejon, no mar da escuridão que existe ao pôr-do-Sol..." Kebra Negest, Cap. 92
A Arca da Aliança atravessou o país, para encontrar sua morada definitiva em Axum, cidade da Etiópia setentrional, uma das capitais, cuja fundação foi atribuída a um neto de Noé.
A 24 de outubro de 1970, o jornal suíço "NEUE ZUERCHER ZEITUNG" noticiou: "Agora, há quase três milênios que Menelik I, filho da rainha Makeda, de Sabá e do rei Salomão, teria seqüestrado a arca sagrada, levando-a de Jerusalém para Axum, onde, supostamente, se encontraria, até hoje, sob a guarda dos sacerdotes da catedral de Nossa Senhora Santíssima. Axum deve à posse desta relíquia a sua qualidade de centro religioso do cristianismo copta." Será que, de fato, a Arca da Aliança, com a sua enigmática máquina de produzir maná, estaria em Axum? Esta cidade, que fica a 180 km, em linha aérea, reta, ao sul de Asmara, cidade provincial etíope, tornou-se um centro de atração turística. Ali os turistas visitam templos e tumbas, bem como um reservatório de água, chamado "banho da rainha de Sabá". Ali existem também estelas enormes; a maior delas media 33,5 m de altura, antes de ser derrubada. Debaixo das estelas haveria, supostamente, tumbas; no entanto, ninguém sabe nada ao certo.
Será que a Arca da Aliança continua ainda em Axum? Quem poderia sabê-Io, ao certo? Após a segunda guerra ítalo-etíope (1935-1936), a Etiópia-Eritréia estava sob o domínio de Roma. Será que, por aquela ocasião, perdeu-se a chance única de levar a Arca da Aliança, como troféu de guerra, para Roma? Eis uma especulação francamente afoita e temerária: hoje em dia, a Arca da Aliança bem que poderia estar guardada no próprio Vaticano, graças aos bons ofícios do então governo fascista da Itália. Porém, é o que não se sabe e, mesmo que assim fosse, jamais chegaria a sabê-Io. Logo, esta minha idéia não passa de uma especulação arriscada.
Nesta fase de investigações, a situação é a seguinte: Explicaria o seqüestro da Arca da Aliança pelos etíopes o motivo pelo qual, séculos a fio, a literatura especializada deixa de mencioná-Ia, com uma palavra sequer? Teriam os sacerdotes de Salomão atendido à risca a ordem do rei, proibindo-os de falar, para quem quer que fosse, do seqüestro praticado por seu filho Menelec?
Neste contexto, é curioso o fato de o profeta Jeremias ter, eventualmente escondido a arca falsificada, 400 anos após esses acontecimentos! Mas isto é perfeitamente possível. Sabemos que o rei instruiu os sacerdotes para ornar a arca falsificada com símbolos legítimos e nela depositar a escritura das leis. Jeremias não tinha nenhum ponto de referência, indicando que se tratava de uma falsificação, já que ele viveu por volta de 600 a.C., ou seja, quase 300 anos depois de Salomão, cujo falecimento se deu em 933 a.C. Assim sendo, o profeta, de boa-fé, bem que poderia ter salvo a falsificação, o simulacro, evitando que caísse em mãos dos babilônios.
Outrossim, esta especulação conflitaria com a minha tese anterior, quando eu dizia que, por causa da arca, os extraterrestres teriam avisado Jeremias da aproximação dos babilônios. Por outro lado, é bem possível que os extraterrestres nem tivessem idéia do seqüestro da arca, considerando que, pelo tempo decorrido entre a época de Moisés e a de Jeremias e Ezequiel, não existe o mínimo indício que indique a presença de extraterrestres no planeta Terra. Logo, eles ignoravam os acontecimentos que se registraram ao longo desse período.
Restam duas possibilidades:
- Jeremias teria salvo dos babilônios a arca legítima.
Neste caso, ela deveria encontrar-se ainda no interior de uma caverna ou de uma gruta qualquer na região de Jerusalém.
- A arca legítima teria sido seqüestrada por Baina-Iehkem e levada para a Etiópia. Neste caso, estaria escondida em qualquer ponto daquele país, talvez na cidade santa de Axum.
Outrossim, resta ainda a esclarecer a pergunta suplementar referente ao aparelho voador e aquilo que teria acontecido com ele, pois:
"O rei e todos os seus comandados voaram com o carro, sem doença, nem mal, sem fome, nem sede, sem suor, nem cansaço, vencendo em um só dia uma jornada de três meses." Kebra Negest, Cap. 94
O rei Menelik usou o "tapete voador" nas suas guerras. Aliás, foi uma idéia muito sábia, pois nenhum dos seus inimigos possuía dispositivo similar e, portanto, ele levava uma vantagem enorme e indiscutível sobre todos os inimigos. Aliás, já estou ouvindo cochichos, tais como: muito bem, então, mostre aquela máquina voadora! Depois de mais de 3.000 anos, nada deve ter sobrado daquele engenho, entrementes enferrujado, enterrado e coberto de vegetação. Também pode ter sido levado para outras terras, para locais sem qualquer tradição. Estou tomando a liberdade de lembrar que, até nos dias de hoje, aviões, laboratórios, sondas e outros artefatos espaciais costumam cair, sem que seus destroços jamais sejam reencontrados. Decerto, nunca encontraremos aquele presente de rei. No entanto, podemos reputar bem mais alvissareiras as chances de encontrarmos a pista certa que nos levará até a Arca da Aliança.
Por quê?
As tradições dizem que a Arca da Aliança e sua aparelhagem misteriosa emitiam uma "radiação" perigosa. Deve ter sido a chamada "radiação dura", visto que pessoas que dela se aproximavam em demasia caíam mortas e outras, que penetravam no seu âmbito, ficavam seriamente doentes. Tais efeitos não são produzidos pelo mero reflexo da luz solar!
Naquele aparelho, a peça geradora de energia deve ter sido minúscula; falei num minirreator, conforme está sendo usado hoje em dia.
Que tipo de radiação poderia ser (a) tão potente, conforme descrita, e (b) de efeito tão duradouro, conforme afirmam os relatos sobre a arca? Para tanto, cogitar-se-ia de plutônio, que, em 50% da sua potência original, continua ativo por 24.360 anos; isto quer dizer que, decorridos 24.360 anos, a sua radiação ainda conserva metade da sua potência primitiva. É este, exatamente, o sinal, o relógio do tempo que continua batendo o seu tique-taque, até hoje!
Com as possibilidades técnicas que existem hoje em dia, é possível detectar tal radiação. E é até fácil detectá-Ia, bastando para tanto sobrevoar as áreas em questão com um helicóptero, com sensores sensíveis a bordo. Se é que se tratava de plutônio, deveria continuar radioativo e emitir radiação, desde aqueles tempos longínquos, até os dias atuais!
No entanto, a arca emitiria radiação também no caso de ter sido empregado qualquer outro material radioativo para fazer funcionar o minirreator. Nesta hipótese, seriam pequenas as chances da sua detecção, e não tenho dúvida em admiti-Io. Mas, ainda existe uma possibilidade e, em nossos tempos, costumamos esbanjar milhões em projetos com chances de êxito ainda bem menores. Por que não investir numa pesquisa, que vise a explorar o nosso passado? Com isto, ganharemos o nosso futuro. Se formos bem-sucedidos nas buscas da Arca da Aliança (com a máquina produtora de maná), teremos a certeza de que:
- Existem seres vivos extraterrestres, superiores a nós
- Extraterrestres estiveram no planeta Terra
- Eles conduziram grupos de terrestres numa determinada direção
- As mais antigas regras do jogo da convivência de seres vivos inteligentes foram estabelecidas por extraterrestres
- Chegamos a conhecer técnicas extraterrestres, que datam de tempos imemoráveis, seus processos metalúrgicos, enfim, o grau do seu progresso.
Reconheço, plenamente, que em Israel, na Jordânia e/ou Etiópia tais buscas encontrariam resistência de ordem religiosa e política. Também não é preciso que me digam a onda de ceticismo que se mobilizaria no instante em que uma idéia utópica surgir nos debates. Por outro lado, se fosse para fazer jogo limpo, não deveriam sempre exigir de mim a prova visível e palpável da presença de extraterrestres na Terra, conquanto a outra parte não revelar disposição alguma para fazer a menor tentativa no sentido de perseguir e explorar uma pista comprovadamente existente.
O romance policial intitulado "A Arca da Aliança" bem que poderia ter o seu desfecho feliz. É só querer.
Notas
Em 1753, o português João da Silva Guimarães redigiu um relato, intitulado "Relatório Histórico sobre uma cidade imensa, escondida, antiqüíssima, sem habitantes, descoberta no ano de 1753". Este documento está guardado nos arquivos oficiais, no Rio de Janeiro.
Guimarães relatou como ele e dezoito companheiros, em busca de ouro e diamantes, estiveram no rio Gonfugy, ao norte da localidade de Boa Nova. O grupo perdeu-se nas selvas e, meses a fio, sobreviveu nas matas e nos brejos, quando, de repente, os homens se encontraram no topo de uma colina. Este momento relata-o ele com as seguintes palavras:
"Aos nossos pés, distinguimos as construções de uma cidade cercada pela mata. Passamos por um grande portal, onde estavam gravados uns dizeres. Encontramos uma avenida larga e, por toda parte, havia colunas quebradas. No meio de uma praça quadrada, uma coluna preta, encimada pela estátua de um homem com a mão esquerda apoiada no quadril e a direita estendida, apontando para o norte. Ingressamos num saguão, onde havia muitas efígies de pedra, quebradas, derrubadas. O obelisco ostentava caracteres de escrita desconhecidos de nós. Num dos salões havia um disco grande, de uma pedra cor de rosa; o salão estava desabado...”
Em 1925, o coronel inglês, Percy Harrison Fawcett, membro da Real Sociedade de Geografia, de Londres, partiu com uma expedição, em busca daquela cidade perdida. Fawcett e seus companheiros jamais voltaram.
Em 1928, partiu uma expedição em busca de Fawcett. Sem resultado.
Em 1930, mais outra expedição se pôs a caminho, sob a chefia do jornalista inglês Albert de Winton. Tampouco Winton voltou.
Em 1932, Stefan Rattin, suíço, caçador de animais silvestres, cuja pele comercializava, entregou um relatório ao cônsul geral da Inglaterra, no Rio de Janeiro, dizendo que viu o coronel Fawcett, como preso de uma tribo indígena. A seguir, trecho daquele relatório:
"Ao pôr-do-soI do dia 16 de outubro de 1931, eu e meus dois companheiros estávamos lavando roupa nas águas de um tributário do rio Iguaçu Ximari, quando, de repente, vimo-nos cercados de índios... Depois do pôr-do-sol, subitamente, apareceu um homem idoso, vestindo couros, de barba comprida, branca, amarelecida e cabelos compridos. No mesmo instante, percebi que se tratava de um homem branco... Ele estava com um ar muito tristonho e não conseguiu tirar seus olhos de mim... Quando os indígenas estavam dormindo, o homem idoso veio para o nosso lado do rio e aproximou-se de mim e perguntou se eu era inglês... Ele continuou dizendo: Sou um coronel inglês. Procure o consulado inglês e peça que eles avisem o major Paget que estou sendo mantido preso aqui”.
Bryan Fawcett, filho do desaparecido, não deu créditos às palavras de Rattin, segundo as quais teria visto seu pai; e como ninguém tomasse nenhuma iniciativa, o suíço, cheio de raiva, resolveu tentar sozinho trazer o homem idoso de volta à civilização. Nunca mais se teve notícias de Stefan Rattin.
Em 1952, Bryan Fawcett organizou a sua própria expedição para ir à procura do seu pai, na época já 27 anos após o seu desaparecimento. Resultado daquelas buscas: soube-se que o coronel Percy Harrison Fawcett e os membros da sua expedição foram mortos pelos indígenas.
E o que aconteceu com a cidade mencionada e descrita no documento redigido pelo português, em 1753? Ninguém jamais tornou a vê-Ia. Não houve pesquisas oficiais.
Hoje em dia, a bordo de um satélite, é possível contar o número das pessoas na Praça Vermelha, em Moscou. De muitíssimos quilômetros de altitude, é possível verificar se há ou não calefação na "dacha" de Brezhnev. De grandes altitudes, sensores descobrem minérios e petróleo, nas entranhas da Terra.
É possível fazer tudo isto e muito mais; mas, ninguém se dá ao trabalho de procurar por cidades perdidas nas selvas. Delas, pelo menos uma, aquela localizada por Guimarães e em cuja busca partiu Fawcett, poderia ser um destino certo. Por que nenhum governo, nenhuma entidade de pesquisas dá a ordem de procurar esta cidade perdida? Seria esta uma tarefa, talhada para a NASA, entre outras.
Antes de partir, o coronel Fawcett falou:
"Não sei se lograremos penetrar na selva e dela sair com vida ou se os nossos ossos lá ficarão para apodrecer. Mas, de uma coisa tenho certeza absoluta: podemos encontrar a resposta para o enigma da América do Sul, antiga - e, talvez, de todo o mundo pré-histórico - se e quando localizarmos aquelas cidades antigas e abrirmos o caminho para a sua exploração cientifica. Sei que estas cidades existem.”
O HOMEM ILUDE A NATUREZA
Como Louise Brown veio a ser gerada - Das cozinhas da alquimia para os laboratórios modernos - De onde veio Eva? - De que raça era o primeiro homem? - Parentescos, por seleção - Qual foi o motor da evolução?- A mutação artificial - Como surgiu uma nova espécie?- Por que somos como somos? - Existiriam "povos eleitos "? - Cloning! - Réplica fiel do original - Visão de horror ou dádiva do futuro? - Teria o Homo sapiens sido criado pelo método cloning?
Desde que o mundo é mundo, o fato de o homem gerar o homem é conhecido e se constitui em uma das suas tarefas primordiais. Porém, ainda viveremos o tempo em que o robô irá gerar a vida humana. Afirmei que os deuses fizeram o homem e agora vou provar que, aqui e agora, a exemplo dos deuses, o homem tem condições para produzir, artificialmente, o homem.
Com a colaboração gentil de Leslie Brown, mulher de 32 anos, residente em Oldham, nos arredores de Londres, a imprensa internacional venceu a absoluta falta de notícias, naquele verão europeu de 1978, sem novidades.
A Sra. Brown é estéril; tinha um bloqueio em ambas as trompas que se estendem de cada lado do útero até os ovários, o que a impedia de ter filhos. Apesar disso, o ginecologista, Dr. Patric C. Steptoe, fez com que Leslie tivesse o filho dos seus sonhos. Ele removeu um óvulo dos seus ovários para ser fertilizado - in vitro (= no vidro), como dizem os médicos - na proveta com espermatozóide do seu marido. Sob os cuidados e a atenção constantes do médico, o embrião evoluiu numa cultura de nutrição e no momento exato foi implantado no útero da mãe. No verão inglês de 1978, Louise nasceu; durante algumas semanas ela ficou na incubadora e desde então está crescendo e se desenvolvendo às mil maravilhas, igual a uma bebê normal, gerado in vivo, no útero materno. A não ser pela publicidade em torno daquele nascimento, Louise em nada se distingue dos demais bebês contemporâneos. Em época alguma, bebê algum jamais teve tantas manchetes, seu nascimento recebeu tantos comentários, com tantas fotos em capa de revista, como a pequena Louise que, até chegou a receber uma proposta de casamento e festejou o seu primeiro aninho de vida. Mas, também, quando é que uma criança foi gerada na proveta?
Por outro lado, cumpre lembrar que o "bebê de proveta", nascido no verão britânico de 1978, fez sensação única e exclusivamente porque seus pais e o médico não duvidaram em tornar pública a história da sua origem. Porque marcado com o signo de SEGREDO, ninguém se atreveria a provar que a menina Louise Brown, de Oldham, nos arredores londrinos, tenha centenas, talvez milhares de "irmãos", dessa mesma proveniência. As "crianças de proveta" crescem e desenvolvem-se normalmente, porque os médicos, que as "geraram", receiam sobremodo sofrer difamações por parte de colegas e, sobretudo, da Igreja (embora em ambas estas frentes, já se ouçam vozes que declaram, em termos cautelosos, que a fertilização "in vitro" se coaduna com os dogmas religiosos e os preceitos éticos).
E como judiaram do pesquisador de Bolonha, Daniele Petrucci, quando, em meados dos anos 50, divulgou um relato rigorosamente acadêmico, anunciando que conseguira produzir, na proveta, mais de meio milhar de embriões humanos, os quais logrou manter vivos, durante três meses! A esta hora, pelo menos um desses "bebês de proveta", de Petrucci, deve estar em idade de casar, com boa saúde física e mental. Presumivelmente, o jovem ou a jovem - assim espero - não deixará de gerar o seu próprio filho in vivo, dispensando a fertilização na proveta e colaborando, assim, para a sobrevivência da espécie.
Em todo caso, o "pai" Petrucci desistiu daquelas experiências, quando o papa Pio XII, sem citar nomes, divulgou um aviso inequívoco, dirigido àqueles, que se intrometiam em tarefas reservadas exclusivamente ao bom Deus.
Aliás, já foi no século XVI, a Igreja teve que tomar posição diante do perigo de manipulações artificiais que interferiam na geração da vida humana. Foi Paracelso (1443-1541), médico e doutor em Ciências Naturais, quem teve a idéia inédita, abominável na época, de criar um embrião fora do útero materno. Paracelso imaginava possível produzir um homunculus, um homem muito pequeno, colocando-se espermatozóide num vidro, junto com essências do sangue humano e mantendo-o sob temperatura do corpo humano.
A visão temerária de Paracelso inspirou Goethe a descrever, na 2ª. parte de FAUSTO, a produção artificial, segundo essa receita de um "homúnculo de laboratório". Wagner, o factótum do Dr. Fausto, acompanha a experiência com expressões de deslumbramento... tais como:
Está sendo feito um homem!
De início, um propósito magno parece extravagante, mas, futuramente, daremos risada do acaso mor e, no futuro, tal cérebro pensante será criado, propriamente, por um pensador.
No vidro ressoa um poder aprazível, tornando-o turvo e claro: logo, está se fazendo! Vejo a delicada figura de um homúnculo plausível dentro do vidro, se mexendo.
O que queremos, que mais o mundo pode querer?
Trezentos anos depois, tudo o que passou das cozinhas da alquimia para os laboratórios ultra modernos, se resume na praxe de esses últimos também realizarem as suas experiências em caráter rigorosamente sigiloso, retirando, assim, a qualidade de milagrosos de muitos milagres.
O progresso estonteante da Biologia Molecular, desde meados do nosso século, possibilitou a manipulação do código genético. Aqui falamos, sobretudo, da genética molecular, que trata das bases moleculares da hereditariedade, da mutação, da troca do código genético etc.; logo, ela explora o mistério da célula, elemento constitutivo de todos os organismos vivos.
Só para dar uma pálida idéia da complexidade e das dificuldades inerentes à pesquisa deste "microcosmo", é preciso saber que, por exemplo, o homem possui, aproximadamente, 50 bilhões = 1.000 milhões de células. Para algumas indicações de grandeza, é bom lembrar que a célula espermatozóide tem um comprimento de 0,05 mm; a célula maior, a de um óvulo, mede 0,1 mm de diâmetro, enquanto que o da célula nervosa chega a somente 0,008 mm. No entanto, cada célula encerra um código secreto, que programa a sua planta de construção, o ADN (ácido desoxirribonucléico), a chave da vida, que determina a evolução de toda a planta, do animal inteiro, de todo o organismo humano. O fato de cada célula nascer de sua predecessora corresponde a uma evolução bastante lógica da Natureza. Em resumo: no caso de sobreviver somente um dos 50 bilhões de células, esta única sobrevivente permitiria reconstituir o homem inteiro. Em termos de mão-de-obra, isto significa que cada pedra da catedral de Colônia encerraria a planta completa da obra toda, acabada *.
Era de se esperar que todo mundo se congratulasse com o Dr. Steptoe, pai espiritual de Louise, Brown, pelo bom êxito que teve com a sua geração "in vitro", na proveta. Mas, nada disso aconteceu. Embora a sua sorte fosse melhor do que a daquele seu colega norte-americano, L. B. Shettles - o qual, atendendo a pedidos insistentes de um casal da Flórida, promoveu uma fertilização "in vitro" bem-sucedida, mas que, antes mesmo de implantar o embrião no útero materno, foi sumariamente despedido da Universidade - também Steptoe foi severamente criticado e censurado por "ferir a honra do ser humano" e por praticar "atos imorais". Choveram protestos de todos os lados.
Não vejo imoralidade alguma no fato de um médico ajudar um casal sem filhos a tê-Ios para a sua felicidade! Mas, eis que surge a "Ordem dos Pessimistas", que lança suspeitas sobre todo progresso e que, com grande estardalhaço, considera violentamente e chega a anatematizar todo êxito técnico-científico - refira-se ele à pacífica utilização da energia nuclear, ou sejam passos que levam a viagens interestelares. No ocidente democrático, onde cada qual pode expressar livremente a sua opinião, a "Ordem dos Pessimistas" encontra campo vasto de amplo alcance, bem como plena liberdade para, no pior e mais lato sentido da palavra, os seus pregoeiros se postarem diante de todo local em que se acham instalações de pesquisa a fim de cercar-lhes as suas atividades.
Os aniquiladores do futuro, confrades da "Ordem dos Pessimistas", devem estar com a cabeça cheia de idéias sombrias e sinistras. Ao que parece, só compreendem de maneira negativa os esforços das pesquisas e, para eles, os seus resultados sempre são aplicados para o mal; a seu ver, o progresso é sinônimo de destruição da humanidade e de fim do mundo.
Quanto a mim, ao raciocínio e à responsabilidade do indivíduo, atribuo valor bem maior do que aquele dado a esses valores pelos pessimistas profissionais. Conforme nos ensina a história multimilenar do desenvolvimento da civilização, nós continuaremos donos daquilo que a capacidade mental do homem for capaz de produzir. E assim será, por todo o futuro.
A multiplicação do ser humano sem fertilização natural chegou ao alcance de nossas mãos e há muito tempo já ultrapassou a fase da implantação do embrião de proveta no útero materno.
Aquilo que vaticinei, há exatamente dez anos - francamente, estou admirado com aquela minha audácia - entrementes, realizou-se in vitro.
Em tempos idos, eu li:
"Este é o livro da posteridade de Adão. No dia em que Deus criou o homem, fê-lo à semelhança de Deus. Criou-os varão e fêmea, abençoou-os; e deu-lhes o nome de Adão no dia em que foram criados.”
Gên. 5, 1-2
E, ainda:
"Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão; e, enquanto ele estava dormindo, tirou uma das suas costelas e pôs carne no lugar dela. E da costela, que tinha tirado de Adão, formou o Senhor Deus uma mulher; e a levou a Adão. E Adão disse: Eis aqui agora o osso de meus (!) ossos e a carne da minha carne (!); ela se chamará virago, porque do varão foi tomada.” Gên. 2, 21-23
Naqueles tempos, eu perguntava se com a mutação artificial do código genético, não teria sido programado um ser humano inteligente e se Eva, a nossa gentil mãe primitiva, não teria sido gerada mediante a remoção de espermatozóide, sem fertilização natural.
Isto seria pensável. O caráter da escrita cuneiforme para costela é "ti", que quer dizer "força vital". Logo, uma tradução atualizada da Bíblia deveria dizer "Deus tirou algo da sua força vital"! Ora, a força vital é a célula, sem a qual não há vida, nem no paraíso.
É deste conhecimento sólido e firme que a Biologia Molecular desenvolve as suas pesquisas.
É pela consulta aos maiores lumes e pela instrução que deles recebemos, que ficamos melhor informados.
As minhas perguntas de outrora careciam, pois, de profundidade. Eu deveria ter perguntado também: como foi que, sem mais nem menos, Adão existiu? Quem existiu primeiro, o ovo, o galo ou a galinha? Adão pode ter sido também um bebê de proveta, da mesma forma, que poderia ter sido produzido como clone, o que quer dizer ramo, galho. Para mim, este primeiro clone de importância e a seu respeito me permito expor algumas idéias, que não são tão extravagantes como poderiam parecer.
De que raça é o bebê de proveta de Oldham, perto de Londres? Evidentemente, é de raça branca, como os seus pais o são também.
A que raça pertenciam os nossos primitivos ancestrais, que costumamos chamar de Adão e Eva? Tinham eles pele clara, morena ou amarela? Afinal, será que a sua pele era de uma cor que, hoje em dia, nem existe mais?
Os teóricos da evolução declaram que o homem descende do macaco. Mas, quem já viu um macaco branco? Ou um macaco moreno, de cabelo crespo, a exemplo dos representantes da raça negra?
Ninguém pode negar que o nosso físico sugere parentesco com a família dos símios, que existem analogias entre nós e eles, tais como o uso das mãos, como dispositivos de preensão, os olhos grandes, dirigidos para a frente e permitindo um amplo campo de visão.
Tudo isto é indiscutível, só que surge mais um elemento. A meu ver, esse elemento deve ser de natureza extraterrestres e consiste no cruzamento do planeta Terra (animal) com o universo (inteligência) ... porque o homem inteligente, da maneira como se apresenta, não pode descender de uma espécie pré-símia qualquer. A sua própria raça é a prova disto.
De que raça eram, portanto, os primeiros seres humanos? Por que há raças distintas?
A pesquisa das raças humanas é um setor da Antropologia Biológica, dos estudos do homem e da história das raças humanas. O termo "raça" define o grupo parcial de uma espécie, de indivíduos que apresentam caracteres somáticos semelhantes, transmitidos por hereditariedade e distintos de outros grupos parciais de indivíduos da mesma espécie. Tais caracteres distintos podem ser: proporções físicas, formas do rosto, cor da pele (produzida por pigmentos, uma substância de cor própria, existente na célula), cabelos, posição e cor dos olhos, contornos dos lábios, grupos sangüíneos e outros.
Segundo a definição apresentada pela UNESCO, em 1951, há três raças humanas básicas, a saber: a europóide, a mongolóide, a negróide, "com base em caracteres distintos, preponderantemente transmitidos por hereditariedade e nitidamente marcados".
Todos os grupos raciais humanos constituem partes de uma espécie, o que quer dizer que as três raças básicas, com todos os seus subgrupos, espalhados em todo o mundo, pertencem a uma única espécie biológica. Espécies são populações, cujos indivíduos podem misturar-se entre si. Pelo fato de inexistirem limites fisiológicos e morfológicos, que separem as raças humanas, elas podem acasalar-se uma com a outra. Aliás, este fato está sendo "comprovado", dia após dia, no mundo inteiro ...
... mas nem assim explica como é que surgiram as diversas raças. Teorias a este respeito existem muitas, mas nenhum "status" cientificamente comprovado e bem claro: foi assim e pronto! Decerto, as diversas raças humanas não evoluíram somente no decorrer do exíguo espaço de tempo da História conhecida, mas, devem existir desde os tempos mais remotos, perdidos nas penumbras do passado.
As antigas civilizações dos sumérios, babilônios e egípcios encaravam as diversidades raciais como fato de valor eterno. Heródoto, Hipócrates e Aristóteles mencionaram as diversas raças com a maior naturalidade. Através dos milênios de tradições orais e por escrito, como um fio de cor vermelho-sangue arrastam-se as polêmicas entre as raças, os relatos de guerras, de perseguições raciais abomináveis. Sempre houve uma raça que se considerou superior a outra qualquer e o representante de uma raça sentiu-se discriminado pelo representante da outra raça, só pelo fato de ser diferente.
No nosso século, a confusão instalada no espírito dos representantes de uma só etnia levou aos excessos do período nazi-fascista. Esta pista de sangue e assassínio marcará, para todas as gerações futuras, a época de um inferno dantesco na história da humanidade, somada àquele assinalado pelos dedos da mão fantasma, que escreveu "Mané, Técel, Farés". Os acontecimentos abomináveis registrados conservarão o seu caráter de singular, através da história do homem. Os atuais meios de comunicação de massa, que ligam países, continentes, povos, raças e tribos, deverão divulgar, para o conhecimento geral, a noção e o sentimento inequívocos de que todos nós somos de uma só espécie. Oxalá isso aconteça!
Mesmo posto isto com a devida clareza, de maneira inconfundível, ainda resta perguntar por que existem distinções entre os homens. A genética humana, campo moderno da pesquisa antropológica, está tentando uma classificação objetiva, que possibilite recorrer a características genéticas. Tanto estatística como representativamente, em estudos comparativos das diversas raças, estão sendo pesquisados elementos tais como grupos sangüíneos, proteínas de soro, fator reso, etc., a fim de estabelecer caracteres distintivos.
Destarte, verificou-se que 89,3% de todos os índios são do tipo de sangue O, ao passo que somente 0,8 % dessas populações são do tipo de sangue B. Com os mongolóides, somente 18,3% são do tipo de sangue B, enquanto que 55,7% são do tipo de sangue O.
Sem dúvida, tais comparações de tipos sangüíneos são interessantíssimas para os estudiosos da genética humana, porém, eu me pergunto: qual seria o resultado significativo a se esperar disso? Pois, esta classificação, elaborada agora, vale tão-somente para o presente! De que maneira poderia ser apurada uma modificação nos tipos sangüíneos ocorrida ao longo dos milênios - e, como ficarão - num futuro longínquo?
Ademais, o emprego deste método encerra o risco potencial de provocar orgulho racial. Outrora, um ianque falou: "é somente um negro" e, um negro: "é somente um índio". Será que, no futuro, alguém falará com desprezo do seu semelhante, por ser "somente do tipo sangüíneo, fator reso A, positivo"? E se, por acaso, ficar determinado que uma certa combinação genética é superior a outra qualquer, então estaremos metidos numa nova e acirrada polêmica racial, desta vez rigorosamente científica.
Quer seja o indivíduo classificado segundo aspectos externos ou de acordo com características genéticas, isto não responde às minhas perguntas, com base em comparações raciais - tampouco, tais estudos podem revelar a raça à qual pertenceram os primeiros homens, ou o motivo pelo qual os atributos das três raças básicas são tão fundamentalmente diversos.
Os negróides têm a pele morena, os lábios grossos, o cabelo (quase sempre) crespo, o nariz chato; revelam poucos traços idênticos com os dos europóides. A raça negróide abrange 18 subgrupos, que revelam caracteres nitidamente distintos. Até agora, a raça mongolóide foi classificada e reclassificada em 20 subgrupos. O motivo disto é bem simples e claro: no decorrer da história da evolução, mutações, ou seja, modificações no código genético, provocaram aberrações do padrão básico, do protótipo das raças principais. No entanto, a mim pouco interessam as comparações feitas no âmbito das raças básicas; mas, o que me interessa e muito, é a elucidação da pergunta de como se originaram as primeiras raças básicas, e como chegaram a originar-se.
A uniformidade anatômica dos representantes de todas as raças e a viabilidade do seu acasalamento misto representam os pontos de partida para todas as especulações a respeito. Todos têm os mesmos ancestrais. As células de todos os representantes de todas as raças encerram a mesma estrutura de albumina. Sob este aspecto, tornamos a encontrar mais outra relação de parentesco com nossos ancestrais símios, pois, também o chimpanzé tem a nossa estrutura de albumina!
Como pode ser?
Desde que Charles Robert Darwin (1809-1892), lançou as suas teorias, aceitou-se considerar a evolução das espécies com base na seleção natural e, a partir de determinado período evolutivo, tanto o macaco como o homem, descendentes de um só produto primitivo da Natureza, tiveram desenvolvimento distinto; tal processo estendeu-se por milhões de anos. Pode ser. Segundo esta teoria, a nossa evolução processou-se por milhões de mutações, no decorrer de milhões de anos, até chegarmos a constituir o coroamento da criação. Soa muito bem.
Porém, é preciso recorrer ao milagre, se é que queremos tornar plausível que aquela série ininterrupta de mutações, embora tivesse produzido caracteres distintos, deixou inalterada a estrutura de albumina, tanto no chimpanzé como no ser humano.
Efetivamente, por exemplo, as 146 macromoléculas na albumina da hemoglobina (pigmento dos glóbulos vermelhos) são as mesmas no chimpanzé e no homem, excetuando-se um único elemento de aminoácido. Em vista de tamanha semelhança, não há motivo de se censurar o naturalista sueco Carl von Linné (1707-1778) por ter classificado o chimpanzé como Homo troglodytes, como troglodita. O fato de o homem e o chimpanzé possuírem estrutura de albumina idêntica vem provar que o homem não pode ter evoluído, sozinho com base em mutação e evolução natural. Por que não?
Ao comparar as estruturas de albumina de dois sapos, verificam-se divergências 50 vezes maiores do que aquelas existentes no chimpanzé e no homem, embora um sapo pareça igual ao outro. Logo, seria o caso de concluir que - como o parentesco entre sapo e sapo é mais estreito, do que aquele entre chimpanzé e homem - os sapos deveriam apresentar estrutura de albumina praticamente idêntica, embora no homem e no chimpanzé sejam diferentes. No entanto, ficou comprovado justamente o contrário.
Quando o professor Alan C. Wilson e sua colega Mary-Claire King, ambos bioquímicos da Universidade da Califórnia, tiveram em mãos esses resultados surpreendentes das suas pesquisas da albumina, eles ficaram convictos da existência de "um motor da evolução, ainda ignorado e muito mais eficaz" do que aquele até então conhecido.
O que teria sido esse motor da evolução? O antropólogo prof. Loren Eiseley, da Universidade da Pensilvânia, já o declarava, alto e bom som, que aos teóricos da evolução devia ter passado despercebido um fator, que na formação dos grupos humanos, apresentara faculdades mentais.
Também eu penso assim. Mas, por outro lado, como se explica o fenômeno de o homem e o chimpanzé estarem (ou deveriam estar) em relações de parentesco mais estreitas do que os sapos, de olhos arregalados, que apresentam estruturas de albumina tão distintas? E, ainda, como se explica que - segundo Darwin e a sua teoria aceita - a evolução do chimpanzé para o homem se estenderia por todo um período de milhões de anos e teria implicado em milhões de mutações, ultrapassando em muito aqueles valores previstos para o salto relativamente curto, dado pelo sapo através da história da humanidade?
Aqui vai a minha resposta:
Ocorreu uma mutação artificial, do símio para o homem. Nós não nos afastamos do macaco por tantos milhões de anos, quantos se queira fazer crer, pois, a briga em família e a conseqüente separação começaram somente há uns dez milênios. Por isso, as estruturas de albumina continuam sendo as mesmas, para nós e nossos parentes, os chimpanzés. Se, de fato, houvesse milhões de anos e milhares de mutações positivas no decorrer do processo evolutivo, levando do hominídeo primitivo ao símio hominóide, ao Homo sapiens (o qual temos a honra de representar), as estruturas de albumina desses dois seres vivos deveriam estar bem diferentes, conforme todo geneticista pode confirmá-Io. Eis a conclusão inversa: como isto não acontece, pois, as estruturas são idênticas, com exceção de umas diferenças mínimas, o nosso ancestral, o primeiro Homo sapiens, deve ter feito suas despedidas da família símia somente "em data recente", ou seja, uns escassos dez mil anos atrás.
Acasalamento do homem com o símio não existe, porque, indiscutivelmente, o homem inteligente representa uma espécie totalmente diversa daquela de qualquer raça de símio.
Avaliado em medidas cronométricas da história universal - como é que a espécie humana pode ter passado, em questão de "minutos", por uma evolução tão incrivelmente positiva? Como foi que ele - ainda símio ou já homem - perdeu o seu pêlo, tão de repente? Como e onde é que o primeiro ser humano achou, de pronto, o seu idioma? Como teve a idéia repentina de ficar "civilizado", de formar culturas? Quem lhe ensinou a caçar os animais, seus companheiros da véspera? Como teve a idéia luminosa de acender o fogo, para cozinhar a sua sopa?
Sim, e com quem se casou o primeiro homem, recém-mutado da espécie dos macacos, completamente só, sem companhia adequada? Não pode ter casado com uma descendente dos nossos ancestrais símios, porque ela possuía cromossomos em número diverso daquele do homem.
Pura bobagem, ouço as vozes dos antropólogos. Tudo isto e muito mais não aconteceu assim, tão "de repente", mas, se deu no decurso de uma evolução gradativa, ao longo de milhões de anos. Aquela "súbita" aquisição da inteligência por parte do homo sapiens é mera invenção minha e nada há que a justifique, dizem eles. No entanto essa alegação dos antropólogos cai por terra, desde que ficou comprovado com toda segurança que o homem possui a mesma e tão complicada estrutura de albumina que o chimpanzé.
Onde estaria o tão diligentemente procurado e até agora não encontrado motor da evolução (Wilson)? Qual seria o fator que os teóricos da evolução teriam deixado de notar e que seria responsável pelo desenvolvimento das faculdades mentais, dentro dos primeiros grupos de seres humanos (Eiseley)? Todas estas perguntas encontram resposta, tão logo alguém tenha a destemida coragem de pensar o aparentemente impensável, como seja:
Seres extraterrestres separam o homo sapiens da família dos símios, por meio da mutação artificial, e tornam-no inteligente, segundo a sua própria imagem. O motor da evolução, a mola propulsora, pode ser encontrado nesta manipulação dirigida. Ele funciona às mil maravilhas, conforme veremos a seguir.
Estas minhas idéias especulativas baseiam-se no fato consumado da "intervenção" realizada.
Qual foi, então, a raça dos primeiros homens? Sem dúvida, a estrutura orgânica do homem pode ser considerada como derivando daquela de uma espécie de símios. Por conseguinte, os primeiros homens deviam ter sido de raça negróide, de pele morena, a exemplo dos seus ex-parentes. Se assim fosse, por que os primitivos "donos da Terra" não se espalharam por todo o planeta? E, de onde vêm os mongolóides e europóides, os "homens amarelos" e os "homens brancos"?
Será que, desde o início, os extraterrestres previram várias raças distintas? Teriam eles conferido atributos diversos a diferentes grupos humanos, possibilitando a sua sobrevivência em locais de geografia e clima distintos? Já estava geneticamente programada a pigmentação da pele morena, para que essa raça pudesse viver em zonas tropicais? E, por contraste, qual teria sido, então, a vantagem da pele branca? Deveriam esses indivíduos reunir as condições para viver em regiões mais frias e sob luz solar menos intensa?
A pesquisa atual aceita que os homens pré-históricos tinham pele morena. Conforme a região do globo em que viviam e a quantidade de raios ultravioleta que receberam, os homens mudaram de cor da pele, resultando disso as diversas tonalidades distintas. Embora se queira responsabilizar a vitamina D, produzida pelos raios ultravioleta, pelo mimetismo, também esta me parece ser uma teoria pouco consistente; neste contexto, é só lembrar os esquimós, sabida e notoriamente habitantes dos desertos de gelo, sem sol, cuja pele é morena. Não me venham dizer que a cor da pele dos esquimós é condicionada ao consumo do óleo de fígado do bacalhau. E por que os mongolóides têm a pele amarela? Outrossim, os negróides, que habitam regiões pouco favorecidas pela luz solar, não deveriam então tratar de mudar, logo mais, a cor da sua pele de morena para branca?
Em sua inteligência, que sempre propalei e reputei como bastante superior, é bem possível que os extraterrestres tenham produzido, de propósito, diversas raças humanas, pois, ao explorarem o nosso Planeta Azul, sabiam que suas criaturas ficariam expostas a influências ambientais dos tipos mais diversos. Quem sabe se os próprios extraterrestres não seriam de raças distintas. Em sua ação de mutar hominídeos e torná-Ios inteligentes, à sua própria imagem, eles deixaram pistas para gerações que viveriam num futuro longínquo quais indícios da sua presença de outrora, neste nosso planeta.
Visto que, a meu ver, uma alta inteligência implica uma elevada quota de responsabilidade ética, é bem possível que a disposição genética das diversas tonalidades e cores da pele (bem como outras características) tenham tido um elevado valor educativo. Pois: olhai-vos um ao outro! Pouco importa a cor da vossa pele, sois da mesma espécie e conviveis, portanto, mutuamente em paz!
Será que a primeira nave espacial pré-histórica era tripulada por representantes de raças extraterrestres?
Conforme rezam as grandes lendas da história da humanidade, será que eles se uniram às filhas da Terra e geraram descendentes? E com essas relações sexuais, que contrariavam a ordem dos "deuses", será que tiveram origem raças distintas, à "imagem" e consoante o arquétipo genético dos extraterrestres?
E eu continuo perguntando: será que em épocas diversas houve visitas de naves espaciais, que não mantiveram contato entre si? Será que um primeiro grupo pioneiro isolou o homo sapiens da espécie dos macacos e, destarte, criou a raça negróide? Será que, milênios depois, apareceu uma expedição espacial, cujos membros eram de pele branca ou amarela? Será que aqueles extraterrestres não gostaram da raça negróide, modificaram o código genético, pela cirurgia genética e, assim, programaram uma raça branca e outra amarela?
Decerto, estas minhas especulações não têm vez nem voz no meio dos teóricos de pesquisas raciais, que se dão por satisfeitos com as explicações, até agora encontradas. Mas, afinal de contas, o que é que sabem, de certo? A seguir, um exemplo que ilustra como são deficientes os nossos conhecimentos atuais.
Uma família de gente de pele morena resolve abandonar o seu continente nativo, tropical, e morar em regiões mais temperadas. Com o passar das gerações, os pigmentos mudam, a cor morena clareia, talvez a ponto de ficar branca, transformando assim os representantes da raça negróide em representantes da raça branca. Doravante, a pele morena - dizem os especialistas - não se torna mais necessária, para servir de proteção contra os raios solares. Tudo bem. Assim sendo, no seu novo meio ambiente, o negróide deveria perder também o cabelo crespo, os lábios grossos, o nariz chato, visto que, do contrário, ele jamais poderia tornar-se um homem branco.
Tudo isto é muito simples! - ouço-os falar. O negro casa com branca e os filhos são...
Desculpem um momento só! Estou falando da época em que só havia uma raça. De início - e quanto a isto concordo plenamente com os teóricos no assunto -, só existia uma raça, a negróide, cuja cor da pele era herança dos símios.
A mudança do homem preto para o homem branco não pode ser feita com uma só mutação, mas exige uma seqüência interminável de mutações. Como é possível originar-se uma espécie nova, quando existe tão-somente uma única espécie? De que maneira pode um homem preto chegar a ser branco, sem cruzamento de duas raças?
As atuais "raças intermediárias", tais como árabes, esquimós, insulanos dos mares do sul, foram produzidas mediante o cruzamento de raças. Sem dúvida.
Todavia, no início dos tempos, tal possibilidade não existiu. Então, havia uma só raça - é o que diz a Ciência - que, por si só, se teria transformado em uma outra raça? Até em diversas raças? Se assim foi, então só por milagre.
Estamos todos de acordo no que diz a Ciência que, no início, existiu apenas uma raça, a saber, a negróide. Para um cruzamento de raças não havia nenhum branco, nem mulato. Logo, estamos na estaca zero. Houve apenas gente de pele morena. Compreendi perfeitamente este ponto.
Por conta própria, vou raciocinando e digo que a raça branca não pode ter sido produzida no decorrer de gerações - conforme dizem - por meio da mistura de pretos com brancas, ou vice-versa. Logo, segundo esta teoria, nós estaríamos aqui presentes só na hipótese de, milênios a fio, ex-representantes da raça negróide se terem casado exclusivamente com gente de pele branca. A possibilidade não deixa de existir, mas, de onde teria vindo aquela gente de pele branca, tipo europóide?
Os árabes contam uma lenda muito elucidativa da erigem da sua raça:
Certo dia, Alá pegou um torrão de barro, que usou para moldar o primeiro homem; depois de pronta, colocou esta sua obra no forno, para secar e tornar-se bem resistente. Chovia muito forte e quando Alá deu uma olhada em sua obra, no forno, viu-a ainda toda branca e inexpressiva. Para não perder o material e a mão-de-obra, aplicados naquilo, Alá resolveu tirá-Ia do forno e nela insuflou o sopro da vida, apesar das deficiências que apresentava. Deu, assim, por acabado o primeiro homem branco. E, novamente, Alá enfiou a sua mão no barro para pegar um torrão e moldar o segundo homem. Ele acendeu o fogo no forno, esperou até que as brasas ficassem bem quentes e, então, ali colocou a sua segunda obra de criação. Acontece que ele entrou na dança alegre das divindades e se esqueceu da sua obra no forno. Quando, enfim, dela se lembrou e foi retirá-Ia do forno, estava bastante queimada, preta e cheia de defeitos; porém, mesmo assim, deu vida ao segundo homem e mandou-o embora, porque não se agradou muito da aparência externa daquela sua segunda criatura. Em seguida, Alá resolveu fazer a sua obra-prima, criar um homem que fosse muito mais bonito e perfeito do que o branco e o preto. Caprichou bastante na confecção do molde de barro que tornou a colocar no forno, sentou-se ali perto e, enquanto se deliciava com o calor gostoso das brasas, ficou aguardando pelo momento exato de retirá-Io. Quando esta sua terceira obra estava ficando dourada, retirou-a do forno, animou-a com o sopro da vida e, como saiu tão bem feita, firmou um pacto de amizade com esta terceira obra. Foi assim que surgiu o homem moreno, o árabe.
Esta lenda revela claramente como o árabe se considera representante de uma raça privilegiada. Acontece, todavia, que tal mentalidade não é exclusiva dos árabes, pois, lamentavelmente, ainda é muito comum entre os representantes de todas as raças humanas.
Para queimar a língua, nada melhor do que falar em problemas raciais e, para queimar os dedos, do que escrever a respeito. Há motivos de sobra para que assim seja; talvez seja devido aos seus aspectos externos que o assunto dificilmente pode ser tratado com calma e objetividade. Quem pode dizer o que se passa no íntimo, na alma dos representantes das diversas raças humanas? As suas diversas psiques, com tendências nem sempre fáceis de serem acompanhadas pelo indivíduo de índole diferente, dificultam a compreensão mútua. O europóide simplesmente não compreende a atitude de uma tribo negróide, quando acompanha o enterro de um ente querido com cânticos, danças e ritos berrantes, pois, a seu ver, esta é uma ocasião que exige comportamento discreto, solene. Pelas estórias narradas pelos contadores orientais sabemos que lá estão sendo aceitos, com extremo estoicismo, golpes do destino que, por sua dureza, fariam o europóide perder a calma e até o juízo. Sob estes aspectos, os caracteres raciais não passam de aparências externas, no sentido mais lato da palavra. As verdadeiras linhas demarcatórias passam por dimensões bem mais profundas e, para chegar até lá, é preciso tratar, primeiro, das peculiaridades orgânicas, visíveis e, por assim dizer, mensuráveis. Somente depois de vencida esta primeira barreira é que se pode discernir as sondagens mais fundas e imaginárias, que irão livrar-nos dos últimos resquícios de preconceitos (e prepotências).
Os pesquisadores da matéria ainda continuam avançando nos seus estudos, quais esquiadores, que competem numa corrida de "slalom", com a pista demarcada por bandeirinhas; só que as bandeirinhas deles estão cheias de pontos de interrogação. A mim interessa saber se existem raças humanas com qualidades específicas, que habilitam seus representantes para determinados desempenhos. Por exemplo, em sua grande maioria, os negros têm vocações musicais, têm o "ritmo no sangue". Por quê? Outrossim, será tão-somente a cor da sua pele que torna os sherpas tibetanos menos sensíveis à radiação solar, em grandes altitudes, do que os europóides? Por que um negróide tolera melhor o Sol do que um mongolóide? Por que os legítimos insulanos dos mares do sul têm o peito nu, sem cabelos? Por que os descendentes dos maias, que hoje habitam a América Central, não têm cabelos brancos, mesmo em idade bem avançada? Por que jamais um negróide tem olhos azuis? Existiriam raças, cujos representantes seriam dotados de inteligência indiscutivelmente superior à das demais?
A relação de tais perguntas poderia ser continuada sem maiores esforços, até encher as páginas de uma lista telefônica, do tamanho daquelas de uma das grandes metrópoles internacionais.
Sei perfeitamente bem que estou lidando com um material altamente explosivo, ao arriscar-me a perguntar se, desde o início, os extraterrestres teriam dividido as raças humanas básicas em categorias previstas para a execução de tarefas concretas e se para tanto, as teriam programado com aptidões especiais e específicas.
Não sou racista. Não atribuo vantagens ou desvantagens a nenhuma raça humana terrestre. No entanto, a minha sede de saber me leva a ignorar o caráter de tabu, inerente aos problemas raciais, tornando, assim, inoportunas e perigosas quaisquer perguntas a respeito. A meu ver, os pesquisadores da raça negra, amarela e branca deveriam coordenar seus esforços e pesquisar, em equipe, a pergunta: por que somos como somos?!
Uma vez aceita esta pergunta básica, não se poderia nem se deveria mais evitar a pesquisa arrojada, culminando com a constatação: há ou não há uma raça privilegiada.
Se consideramos a Bíblia como o livro máximo da sabedoria ocidental e se acompanhamos as exposições do Antigo Testamento, então o povo judeu considerava-se como "o eleito". Surge então a pergunta: eleito por quem e para quê? Teria sido previsto esse povo para o cumprimento de uma missão especial? Esta reivindicação milenar de "povo eleito" teria sido um dos motivos para as reiteradas e terríveis perseguições aos judeus? Será que outros povos desprezam tal postulado e outras raças acham necessário combatê-lo? Por quê? Os judeus nada fizeram contra eles.
Revendo a história das Ciências Naturais nos séculos XIX e XX, verifica-se que mais da metade de todas as conquistas e descobertas nesse campo foram feitas por membros do povo judeu. Entre os astrônomos, bioquímicos, matemáticos, botânicos, físicos, médicos, zoólogos e biólogos foram sempre os judeus que ocuparam posições de destaque. De 1901 a 1975, titulares do Prêmio Nobel eram de ascendência judia.
Seria, então, o "povo eleito" uma "raça eleita"? Absolutamente, não, pois os judeus nem são uma "raça". Em sua grande maioria e, a exemplo dos seus vizinhos árabes, pertencem biologicamente ao subgrupo dos orientais, de raça europóide! Por este motivo não se fala em uma raça judia, mas, sim, em um povo judeu. Logo, as grandes obras dos cientistas judeus não podem ser consideradas como motivadas por aspectos raciais.
Mas, apesar disso:
Mesmo arriscando destoar da paisagem atual e ofender ouvidos sensíveis, afirmo, alto e bom som, que os extraterrestres privilegiaram uma determinada raça humana. As mitologias revelam como certos "deuses" orientaram a sua própria "raça", a qual protegeram contra influências alheias, adversas e colocaram seus descendentes em posições destacadas, neste nosso planeta. Todavia, as antigas tradições não dizem qual das raças teria sido a privilegiada; porém, o Antigo Testamento indica que aos privilegiados era proibido misturar-se com os demais.
Ao longo dos 40 anos que, por ordem de Deus, Moisés conduziu os israelitas do Egito, através do deserto, para a Terra Prometida, proibiu-lhes qualquer contato com representantes de outras raças. Deus controlou a observância de tal proibição e estava com os israelitas. Ele os conduziu e acompanhou com o seu signo: na sua frente ia uma coluna de fogo, branca de dia e brilhante, como o fogo, de noite. Desta maneira, o deus ciumento protegeu-os contra inimigos e forasteiros e alimentou-os de maná, o pão milagroso.
Ao término da grande marcha, que durou 40 anos, os israelitas ingressaram na Terra Prometida, sua terra natal.
Porém, o ingresso era permitido tão-somente à nova geração, a geração mais velha, inclusive o próprio Moisés, estava rigorosamente proibida de entrar na terra onde "jorra leite e mel" .
O que aconteceu?
A meu ver, o absurdo de tal ordem divina jamais será elucidado, com base em interpretações teológicas ou pseudo-históricas.
Nos dez anos que se passaram desde que ofereci esta opção de raciocinar, já se tornou troco miúdo a minha interpretação da quarentena, para os eleitos, no sentido de que, durante os 40 anos da marcha pelo deserto (o que, forçosamente, implica no isolamento dos outros seres humanos) os "deuses" ou "extraterrestres", o que dá na mesma, produziram uma nova geração, dotada de novas qualidades genéticas, uma geração com atributos incomuns aos povos em seu redor. Será que este isolamento "por decreto", do novo material genético, teria motivado a norma, até hoje vigente, que determina que o judeu somente pode casar com judia e vice-versa? Será que, com a observância perene desta lei mosaica, houve a formação de uma "espécie" especial, uma "raça" judia, de gente dotada de vantagens e desvantagens específicas, em relação ao resto da humanidade?
Justamente neste nosso tempo, abolindo os preconceitos raciais, tais especulações podem parecer inoportunas, porque poderiam implicar resquícios de racismo. Estou plenamente cônscio da responsabilidade que me cabe ao levantar perguntas sobre eventuais raças privilegiadas, mas, por outro lado, acho que silenciar a este respeito em nada ajuda na solução do problema.
Em sua atual fase de progresso, a genética humana chega, entre outros, a especificar as diversas raças e, assim sendo, está avançando em terreno escorregadio. Sem dúvida, chegará o dia em que ela especificará (se é que já não está sendo pesquisada, desde há muito e sem sabermos!) a combinação genética favorável a determinada raça ou espécie, bem como as combinações indesejáveis, devido a seu caráter nocivo. Em outras palavras: se, de repente, um defeito no nosso ADN originasse seres humanos com três dedos, uma orelha, então, daríamos graças a Deus, se e quando tal deficiência fosse sanada; em todo caso, deveria sê-Io quanto antes. Aquilo que acontece no reino vegetal, ao ser cultivada uma espécie de trigo mais resistente, com caule mais curto - logo, uma manipulação do código genético - ou, no reino animal, visando a criar gado leiteiro de maior rendimento, constitui interferência no "padrão normalizado" das células.
Será que, em futuro previsível, seria viável a manipulação do código genético do ser humano? A olhos vistos, as chances para tais manipulações vão se apresentando em número sempre maior e de maneira sempre mais assustadora.
O que diz um relato técnico a este respeito?
"John Gurdon, biólogo da Universidade de Cambridge, Inglaterra, removeu células de embrião de uma fêmea de sapo albino e implantou seus núcleos celulares, com o código genético, no óvulo de uma outra fêmea de sapo, cujos núcleos celulares haviam sido previamente retirados. Desses óvulos nasceram girinos que, por sua vez, cresceram e se tornaram sapos albinos; eles não estão aparentados com a sapo-mãe." O método empregado nessa experiência é chamado de "cloning". Guenther Speicher explica-o de uma maneira bastante simples e inteligível:
"O galho de uma planta, plantado na terra e que brota, dando uma nova planta, é a réplica exata da planta-mãe." Cumpre ter sempre presente que todo organismo é constituído por células e que cada célula encerra todos os dados necessários à evolução de um organismo completo, a partir de uma só e única célula.
Nesta base, microbiólogos e microcirurgiões concluíram pela viabilidade de reconstituir a unidade total de uma só célula - sem fertilização - conquanto fosse possível remover o núcleo da célula e implantá-Io, intacto, em um óvulo que teve o seu núcleo previamente removido. Os cientistas opinaram que, se tal fosse possível, qualquer organismo animal, vegetal ou humano poderia ser duplicado, em réplica exata do código genético do núcleo alienígena implantado na célula. O produto final em nada se distinguiria do seu original. Os desígnios da Natureza, vez ou outra, revelados com gêmeos de um só óvulo, que são parecidíssimos um com o outro, como "um ovo com o outro", poderiam ser multiplicados tantas vezes que se quisesse, em qualquer número de réplicas.
Observando rigorosamente as regras do jogo deste método, o prof. Gurdon produziu uma colônia de sapos, com cada sapo exatamente igual ao outro, tão semelhantes entre si quanto nos parecem ao observá-Ios superficialmente, mas, neste caso, cada um de toda aquela multidão de sapos era uma réplica "autêntica" do original, sem falhas, nem enganos.
Os ratos são mamíferos e os primeiros ratos produzidos segundo o método cloning vivem e muito bem! São "animais de proveta". O óvulo da fêmea, fertilizado in vitro, foi tratado da seguinte maneira: com uma cânula da espessura de um fio de cabelo, o núcleo celular do espermatozóide foi removido da célula do óvulo; por conseguinte, o embrião de rato deixou de ter o código genético de ambos os seus genitores, mas, somente, o da mãe, da qual deveria ser a réplica. Logo, tal método possibilita a produção exclusiva de fêmeas. Que sorte! E como funcionaria o método cloning na produção de machos? De uma maneira bem simples, conforme explica o prof. Illmensee, da Universidade de Genebra, na Suíça:
"Quando o completo código genético de uma célula de óvulo é removido e substituído pelo núcleo de uma célula do corpo, também podem ser produzidas réplicas de indivíduos machos”. O fisiólogo inglês Alan S. Parker revelou-se um quase profeta quando, muito antes de as possibilidades oferecidas pelo método cloning terem sido comprovadas em experiências, achou viável a remoção de um núcleo celular, bem como a sua implantação, para a gestação, em um útero alienígena. E chegou a dar mais um passo, quando recomendou que se fizessem pesquisas mais intensivas sobre a exeqüibilidade de armazenamento do espermatozóide. Com isso, ele deve ter tido em mente a multiplicação de originais de alta categoria. Aliás, neste seu empenho, Parker teve ótima companhia, pois também o prof. Marshall W. Nierenberg, colaborador destacado nas pesquisas que levaram à descoberta do código genético, era de opinião que, certo dia, todos os obstáculos seriam vencidos, restando somente a saber quando isso viria a concretizar-se; a seu ver, nesses próximos 25 anos, deveríamos ter alcançado a fase de programar células com código genético. Tal otimismo é compartilhado pelo prof. Joshua Lederberg, geneticista da Universidade Stanford, na Califórnia, o qual é de parecer que, ainda neste nosso milênio, o código genético será manipulado.
Até parece que, por medida de precaução, os especialistas na matéria estabeleceram prazos demasiadamente amplos. As coisas deverão acontecer bem mais depressa.
Vamos começar a brincar de destino? Não podemos agir de maneira diferente da qual estamos agindo? Será que os nossos processos mentais devem ficar presos dentro de normas rígidas, que nos prendem como uma camisa de força, da qual não nos podemos livrar, pelo simples fato de estarem programados no nosso código genético? Só porque ficamos inteligentes à imagem daqueles que nos criaram? Aliás, eles já sabiam que, num futuro longínquo, nos arriscaríamos a repetir aquilo que eles fizeram conosco.
Em todo caso, no próprio Gênesis, os "deuses" já predisseram esse futuro:
"... e começaram a fazer esta obra e não desistirão do seu intento, até que a tenham de todo executado.” Gên. 11, 6
Será que chegará o dia de produzirmos seres humanos, segundo o método cloning, réplicas de determinado original, em qualquer número de exemplares desejado? Depois de um certo tempo, as experiências bem-sucedidas com mamíferos (quase) sempre costumam ser repetidas em seres humanos. Aliás, é de importância secundária a pergunta, se o primeiro ser humano, segundo o método cloning, minuciosamente descrito pelo jornalista científico David Rorvik, o qual deu todos os detalhes comprovados a seu respeito, de fato vive incógnito nos EUA, conforme Rorvik afirma. A noção fundamental de que, num futuro perfeitamente previsível, o método cloning poderá ser aplicado ao ser humano, ultrapassa em muito este ou qualquer outro caso individual.
A mola propulsora de toda pesquisa está na finalidade a que se destina, no fim visado. Quais poderiam ser o sentido e a utilidade daquela visão de horror de um homem artificialmente multiplicado, a partir de uma célula, seja ela do sangue, da epiderme ou de um órgão?
Será que, tão logo esse método seja praticamente exeqüível, teremos espécies sortidas de políticos, soldados, cientistas, astronautas, operários, sacerdotes, quiromantes e cômicos, produzidos em série? Encontrar-nos-emos à beira daquele abismo pintado por Orwell e Huxley? Vamos criar novas "categorias raciais", para depois brigarem entre si, só e justamente por causa dos seus caracteres peculiares? Vamos adotar padrões de beleza, sujeitos à moda, e aproveitar o método cloning para fazer sair da linha de montagem manequins femininos e masculinos? Criaremos certos tipos de seres humanos, com características especiais para determinados fins de pesquisa? Será que a esposa conservará algumas células do marido e, por sua vez, o marido da esposa, para o caso de uma morte inesperada, prematura, quando, então, mandará confeccionar uma réplica autêntica do original? Haverá "bancos de células", que estoquem restos celulares de gênios, nos diversos setores das atividades humanas, para que um novo ser humano, a réplica fiel do original, possa continuar a obra do seu predecessor, segundo a sua imagem?
A meu ver, a humanidade beneficiar-se-ia enormemente, se fosse possível conservar o saber de um grande gênio, ao invés de perdê-Io com a sua morte. Como teria ficado o mundo, se Einstein se tornasse como que imortal, com o método cloning? No seu testamento, o grande pensador dispôs que seu cadáver fosse cremado e seu cérebro colocado à disposição da Ciência, para pesquisas. É até triste e humilhante saber que esse legado à Ciência está sendo conservado em formaldeído, no escritório de um laboratório de pesquisas biológicos, em Wichita, Kansas, EUA, que guarda aquele recipiente de vidro dentro de uma caixa de papelão. Segmentos do cérebro foram entregues a especialistas; porém o cerebelo e setores do córtex cerebral jamais foram pesquisados. Como o formaldeído mata os germes, dificilmente se poderá supor que agora, 24 anos após a sua morte, ainda sobrevivam algumas das células de Einstein. Ninguém poderá saber se, com esse seu legado, o grande cientista não teria previsto bem mais do que um exame acadêmico. Será que, profeticamente, ele pressentiu chances que, em 1955, ninguém poderia imaginar? Será que a Ciência teve e aniquilou uma chance fantástica, para o dia X?
A minha idéia especulativa - que hoje em dia já se baseia em noções de Biologia Celular e Microcirurgia -, é a de que o Homo sapiens foi criado pelos extraterrestres, que dominaram, com perfeição, tal método e sua aplicação. Se, de um lado, realizaram o vôo espacial interestelar, que deve ter exigido elevadíssimos conhecimentos técnicos, por outro lado, é lícito considerá-Ios quais mestres na manipulação genética. Eles "plantaram" o ADN da sua raça e o transmitiram perfeitamente intacto. A partir dali, os programas "divinos" começaram a orientar a evolução do homem. É este o conhecimento de tempos imemoráveis que estamos procurando, o qual trazemos em nosso próprio organismo, trata-se apenas de reencontrá-lo.
Nas próximas décadas, decolaremos rumo ao espaço interestelar. Esse passo deve ser dado, porque as reservas de matérias-primas do nosso planeta estão se esgotando. Essa necessidade será uma motivação bem forte e expressiva, que supera em muito a mera curiosidade de descobrir no universo populações ou até civilizações desconhecidas. Tanto faz, não importa qual seja o motivo a impulsionar-nos; teremos que penetrar no cosmo, para sobrevivermos.
No caso de, nas imensidões do espaço universal, ser encontrado um planta semelhante à Terra, desabitado de seres vivos, não resta dúvida que devemos querer colonizá-lo. Até agora, foi eliminado pelo menos um argumento de peso da multiplicidade de argumentos levantados contra o vôo espacial e as eventualidades nas quais implica. Argumentou-se que, dificilmente, milhares de homens e mulheres poderiam ser transportados para o seu destino a bordo de gigantescas naves espaciais, pois os custos seriam enormes e a utilidade, questionável; ademais, nem existe um planeta suficientemente semelhante à Terra, para garantir a sobrevivência dos colonos no espaço, que lá teriam morte certa e horrível; misturas de gases nobres, não tolerados pelo homem e, com isso, também outras bactérias prejudicariam a "raça humana". Sob tais condições, de que maneira os terrestres poderiam aclimatizar-se naquele ambiente inóspito, mortífero? E nos planetas visados em hipótese, talvez existissem temperaturas que oscilam entre 80° negativos e 80° positivos; de que maneira, seres humanos poderiam suportar tais condições climáticas, sem uma roupa especial, de proteção (que, aliás, seria um estorvo no desempenho de qualquer trabalho físico)?
Houve um ponto final bem expressivo, que encerrou as discussões sob estes e ainda outros aspectos, as quais vinham sendo mantidas detrás de portas fechadas. E este ponto final veio com o advento do "cloning". Se o planeta for desabitado, será programada uma "raça" adequada às condições ambientais do novo mundo; se lá existir vida não-inteligente, o código genético do homem terreno será implantado no óvulo da espécie mais desenvolvida. É a história que se repete: nós faremos aquilo que os extraterrestres fizeram conosco, com os primatas neste nosso planeta azul!
Será que para estas minhas idéias extravagantes haveria, aqui na Terra, fatos, indícios ou pontos de referência análogos e relevantes? Sim, existem. Vejamos:
- Muitas mitologias e tradições de antigas religiões asseguram que os "deuses" criaram o homem à sua própria imagem e fizeram várias tentativas até que, enfim, lograram completar a sua obra.
- Diversos povos afirmam, em parte até nos tempos modernos, que seus soberanos eram descendentes diretos dos "deuses" ... como os faraós egípcios, os reis da antiga Suméria, as casas reais da Etiópia e da Pérsia, a casa imperial do Japão, etc.
- Até o dia de hoje, os toradcha, uma tribo dos Mares do Sul, que habitam as margens do lago Zulu, consideram-se descendentes do céu e juram que seus ancestrais, os puangs, tiveram sangue branco, o qual ficou vermelho, com a constante mistura com o sangue dos terrenos.
- Até 1962, a tribo dos uros habitou as ilhas de junco no lago Titicaca; os uros tinham sangue preto. Eles não se misturaram com as vizinhas tribos de índios, devido à sua firme crença na sua descendência cósmica e por desejarem conservar a pureza e exclusividade dessa origem. Viveram retirados e solitários, em constante fuga, a fim de evitar contato com outras tribos.
Outrora, os uros habitaram as margens do lago Titicaca. Somente quando, há mais de 1.400 anos, a tribo guerreira dos aimaras e, posteriormente, as hostes do conquistador espanhol Francisco Pizarro (1478-1511) invadiram o planalto boliviano, é que os uros construíram ilhas de junco, onde, desde então, passaram a morar. Mostraram-se prepotentes para com as demais tribos, porém, procuraram evitar qualquer conflito com elas. Suas qualidades específicas fizeram com que se tornassem arrogantes, orgulhosos; alegaram que não se afogariam, dentro da água, não sentiriam o frio intenso daquelas plagas e resistiriam às tempestades mais violentas. Aliás, a umidade e o frio daquela região, com os quais os outros indígenas adoeciam, foram muito bem tolerados pelos uros; tampouco Ihes fez mal o "fogo do céu" (relâmpagos). O idioma falado pelos uros era totalmente diferente de todos os demais, conhecidos no mundo inteiro. Com obstinação e teimosia cultuaram a sua crença, segundo a qual não eram seres terrenos. Em 1960 sobreviviam ainda oito uros legítimos, nas ilhas de junco, no lago Titicaca; em 1962 morreu o último representante daquela tribo.
Qual teria sido a raça desses presunçosos eremitas? Desde os inícios da sua existência terrena procuraram evitar tornar-se "impuros", com o contato com os terrestres; logo, eles poderiam ter conservado "pura" uma raça, perenemente inalterada, desde as suas origens até o seu ocaso. Quem criou os uros? E para que fim foram criados? Teriam sido destinados ao desempenho de uma tarefa específica, uma missão especial, que deixaram de cumprir?
No caso de as principais raças humanas, de uma forma ou de outra, estarem relacionadas com os "meus" extraterrestres, cumpre especular, se os "deuses" teriam desejado a mistura racial ou preferido uma rigorosa separação das diversas raças.
A julgar pelas lendas, tradições e mitologias dos antigos cultos, os deuses ciumentos não desejavam que as raças se misturassem. A fim de não repetir aquilo que já falei e escrevi a este respeito, há muito tempo, lembro tão-somente o isolamento, a quarentena da geração criada e evoluída nos 40 anos da marcha pelo deserto, quando ela ficou rigorosamente separada da geração mais velha, a exemplo de como os puang ficaram isolados dos uros. Por outro lado, as dinastias dos antigos faraós egípcios praticaram o incesto, por praxe, visando "ficar entre si".
É conhecido o fato de os membros de todas as raças de uma mesma espécie poderem misturar-se. Se os "extraterrestres" tivessem desejado que essa mistura racial, jamais se efetuasse poderiam ter programado barreiras genéticas, tais como, órgãos genitais impróprios para relações sexuais com indivíduos de raça diferente ... ou números distintos de cromossomos. A não ser que o número simultâneo dos cromossomos humanos fosse o código secreto da inteligência! Seria por causa disso que, desde a mutação pré-histórica, cada ser vivo inteligente possui, contadinhos, 46 cromossomos e autossomos?
Pelo método cloning torna-se viável multiplicar a inteligência (ou outras características desejadas), em série, à imagem da célula-protótipo.
Com isso, teve início uma evolução perigosa, tanto mais, por ser atraente. Desta maneira, o cirurgião pode alegar que, em pessoas originadas segundo o método cloning, seria fácil promover transplantes de órgãos, pelo fato de não existirem os riscos da rejeição. Por outro lado, pode-se dizer que um grupo de pessoas, geradas pelo cloning, represente o incesto, levado ao seu mais alto grau de perfeição - porém, tal afirmativa estaria errada, por pressupor que somente um certo tipo ou alguns determinados tipos foram criados segundo esse método. Tão logo haja vários tipos humanos, gerados pelo cloning, haverá a possibilidade de os seus representantes se misturarem ... e, assim sendo, prosseguirem as relações "normais", gerando a vida normal.
Outrossim, seria muita ingenuidade supor que o método cloning possa ser empregado somente em sentido positivo. Ad absurdum, também assassinos e ditadores poderiam ser criados desta maneira e, no caso de um desses processos falhar, nem se poderia excluir a contingência da produção de monstros. Seja como for, para o bem ou para o mal, a aplicação dessa "matéria-prima" é dificílima e arriscadíssima. O que deveria ser feito de criaturas defeituosas? Também elas são seres humanos. Os conceitos éticos e religiosos mandam conservar a vida humana. Todo progresso implica uma obrigação impreterível, inalienável.
Os aspectos positivos e negativos ficam próximos uns dos outros. De que lado pende a balança? Será que uma proibição severa deveria acabar com a pesquisa no âmbito da Biologia Molecular e Cirurgia Genética? Descontado o fato de, a meu ver, agirmos sob a pressão da sede do saber, deveriam ser introduzidas normas rigorosas em todos os países na superfície deste nosso planeta, que proibissem tais pesquisas.
A título de comparação, é só lembrar que as pesquisas de genética estão sendo realizadas dentro de recintos fechados, pequenos, ao passo que a indústria bélica se instala em alas enormes, que cobrem vastas áreas. Quem poderia controlar tais pesquisas? Quem diria se tais normas proibitivas estariam sendo observadas em toda parte? Aliás, jamais a pesquisa parou no meio do caminho para metas já suficientemente "maduras" e quase ao alcance da mão.
Certamente, ao lado dos problemas de ordem biológica e ética, há ainda os de natureza jurídica a serem resolvidos. Quem, por direito, é o testador de um grupo de indivíduos, gerados pelo "cloning"? Quem são seus herdeiros? Por onde passam os limites da descendência direta, considerando que todos os indivíduos em questão descendem de um mesmo tronco celular?
Há uma bomba de tempo, biológica, fazendo o seu tique-taque.
Apesar disso, estou propugnando o prosseguimento das pesquisas em torno do cloning, do aperfeiçoamento daquele método e de guardar em cofre forte, sob controle rigoroso, as regras estabelecidas para a manipulação do código genético. Sou a favor de que núcleos celulares femininos e masculinos, em perfeito estado, sejam armazenados em substâncias adequadas e a temperaturas apropriadas à sua conservação, junto com os sucedâneos exigidos pela sua plena gestação. Que se faça isto para o caso de um cataclismo; em função de uma catástrofe cósmica, causada pela passagem de um meteoro, muito próximo da Terra, o qual venha a contaminar a atmosfera com seus gases tóxicos. Seria também para a eventualidade de grande parte do planeta Terra ficar destruída com um ataque nuclear, cuja radiação radioativa danificaria, permanentemente, os elementos genéticos do ser humano. Aí, então, o método cloning serviria para a reconstituição da raça humana - como no Dia do Juízo Final.
No entanto, se esperarmos até que a humanidade enfrente tal cataclismo, ficaria tarde demais para, de uma hora para outra, desenvolver e testar o cloning. Àquela altura, esse método já deveria estar pronto e testado, para aplicação imediata.
Em absoluto, o cloning não produz tipos padronizados de uma só imensa série de produção. Embora criados, segundo determinado protótipo, ainda haverá tipos individuais, a exemplo de como existem por força da tradicional e muito popular geração in vivo. As criaturas cloning ficarão parecidas umas com as outras, nos seus aspectos externos, da mesma forma como suas vocações estarão condicionadas à matriz do núcleo celular; no entanto, terão raciocínio e ação próprias e ainda levarão a marca que lhes for imprimida por sua educação e seu meio ambiente, da mesma maneira como acontece com todos nós. Não há estagnação ao longo da marcha da evolução. Os indivíduos gerados pelo cloning aceitam no seu código genético elementos novos, a serem transmitidos à sua descendência. Ficarão sujeitos a mutações e, após uma dúzia de gerações, de criaturas cloning, deixarão de ser parecidas como um ovo com o outro.
Aliás, para o caso de cataclismos, bem como para a conquista do espaço, o cloning reveste-se de importância fundamental. Quanto a isso, reputo acertada a idéia do fisiólogo lorde Rothschild, que recomendava a instituição de uma "Comissão Internacional de Controle Genético", para manter sob vigilância permanente a pesquisa e a aplicação dos resultados por ela obtidos. Seria altamente louvável, se tal comissão trabalhasse com eficiência maior do que aquela revelada até agora por grêmios internacionais.
A palavra VIDA, em alemão, quer dizer LEBEN; lida de trás para a frente, diz NEBEL (= névoa). Estaria na hora de levantarmos o véu místico dessa névoa, a fim de começarmos a entender as realidades da nossa existência.
Notas
O robô inteligente já está a caminho!
Ele raciocinará por si só e seu quociente de inteligência ultrapassará em muito o do homem. Será dotado de sensores, que enxergarão melhor do que o olho humano, porquanto poderão ver inclusive no âmbito infravermelho e ultravioleta. Seus sentidos serão muito mais aperfeiçoados, pois seus sensores receberão e transmitirão as diversas sensações de uma maneira bem mais intensa do que o tato humano; suas antenas - supersônicas, de radar, raios X - penetrarão paredes de alvenaria.
O cientista norte-americano Marvin Minsky, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, diz a seu respeito:
"A máquina reunirá condições para contar uma piada e ganhar uma luta de boxe. Uma vez atingido este grau de perfeição, o engenho progredirá com velocidade fantástica. Dentro de poucos meses, terá atingido o quociente de inteligência de um gênio humano e, alguns meses depois, a sua potência tornar-se-á incalculável.”
O Dr. George Lawrence, diretor científico do Instituto de Pesquisas Stanford, Califórnia, já acoplou séries de cérebros humanos a computadores, em contato direto; basta a mera força de vontade para emitir ordens ao computador. Aliás, a execução dessa série de experiências mirabolantes e quase utópicas foi encomendada pelo Pentágono. Nos EUA, as pesquisas visando a criação de um robô inteligente levam a sigla AI ( Artificial lntelligence). A meta final é um robô, com plenas condições de executar, automaticamente, tarefas de pesquisas, de ordem civil e militar, no âmbito do universo e no fundo dos oceanos.
Será que, na Antigüidade, já existiram tais robôs inteligentes? N. S. Kramer, especialista em civilização suméria, decifrou uns caracteres cuneiformes, que diziam:
"Aqueles que acompanharam a deusa Inanna, eram seres que ignoravam a comida, não conheciam a água; não comiam da farinha espalhada por aí, nem bebiam da água do sacrifício...”
A epopéia suméria de Gilgamés dá a seguinte descrição de Enkidu, o guarda da morada das divindades:
"Enquanto não tiver assassinado este homem, se for homem; enquanto não tiver matado este deus, se for deus, não dirigirei os meus passos à cidade... Oh, Senhor, tu que não viste esta coisa... não ficaste amedrontado, porém eu, que vi esse homem, estou apavorado. Seus dentes são como os dentes de um dragão, seu rosto é o de um leão... “
MALTA - UM PARAÍSO DE ENIGMAS A SEREM DESVENDADOS
"Trilhos" no chão de pedra - O que devem ser, o que podem ser. - Rede viária desconcertante - Trilhas de transporte de carga? - Teriam inventado o rolamento de esferas? - Historietas impressas em folhinhas - Originado, há 10.000 anos atrás - Malta, o destino dos extraterrestres? - Uma sensação: um hipogeu - No mundo subterrâneo - Deusas-mães superfecundas - Uma instalação de alta fidelidade, milenar - Um arquiteto da idade da pedra. fazendo o seu trabalho - Odisséia com Ulisses - Seria a obra de gigantes? - Entre os menires, na Bretanha - Datando do período anterior à última era glacial - Febre de ouro - Modelos de pensamento, baseados em axiomas - O segredo do quartzo
Na atual era do avião a jato, o arquipélago de Malta dista 95 km do sul da Sicília.
Pela segunda vez, eu estava com vontade de ver aquilo em que todo turista que visita Malta, mais cedo ou mais tarde acaba tropeçando: aqueles "trilhos" esquisitos, no chão de pedra, espalhados em cada uma das ilhas do arquipélago. No Lexikon der Archaeologie (Léxico da Arqueologia) de 1975, o verbete "Malta" diz:
"Por volta de 3.200 a.C. mais outra vaga migratória, da Sicília, atingiu a ilha. No período de cerca de 2.800 a 1.900 a.C., lá foi erguido grande número de templos megalíticos, dos quais as 30 unidades ainda restantes revelam traços de uma concepção avançadíssima, tanto na sua planta quanto na sua composição ... Possivelmente este povo teve entre seus seguidores emigrantes belicosos, procedentes das regiões a oeste da Grécia ... Daquela época datam também os trilhos esquisitos.”
Após estudo intenso e aprofundado do fenômeno, a melhor definição que encontrei foi "trilhos"; não há outro terno mais apropriado.
Malta, a maior ilha do arquipélago, com a capital Valletta, ocupa uma superfície de uns bons 25 km de comprimento e 12 km de largura. As ilhotas Gozo e Comino têm os seus atrativos peculiares; Malta, porém, supera todas as suas concorrentes, não somente por sua extensão territorial, como também por seus enigmas a serem desvendados e que são, principalmente, os trilhos e templos megalíticos.
O povo desse arquipélago no Mediterrâneo foi moldado e marcado pelo Sol, pelo mar, pelas marés e pela paisagem. Ao aproximar-se de La Valletta, a bordo do avião, tem-se a impressão de aterrissar no meio de um mundo cubista, da cor da pedra, da areia, em que predomina o emprego de linhas retas. Os prédios cúbicos, com seus tetos planos, margeando as ruas e avenidas, em ângulo reto, enquadram-se perfeitamente na simetria dos campos, precisa e exatamente divididos por linhas retas e como que riscados pela régua, com suas tonalidades atraentes, em delicados tons de pastel.
Durante o percurso do aeroporto para o Malta Hilton Motel, em um Ford, ano 1954, o motorista do táxi teceu elogios efusivos ao novo Governo socialista. "Vamos mandar embora os ingleses e todos os que não nos servem!" falou ele enfaticamente. A ele pouco importava se eu estava ou não interessado no assunto, pois fez questão de frisar que o Dr. Tom Mintoff era um verdadeiro "super-homem", cuja ação garantiria o progresso contínuo e ininterrupto da população insular.
No entanto, foi bem pouco o que percebi daquele progresso tão badalado. Desde a minha primeira visita, 2 anos trás, o paraíso dos turistas, com seus hotéis sofisticados, suas avenidas maravilhosas, suas lojas atraentes e suas praias ,em cuidadas, perdeu muito do seu antigo esplendor. Em Dezembro de 1974, o arquipélago transformou-se numa república autônoma e, agora, sob a liderança do "super-homem", está marchando em direção reta ao dia-a-dia socialista. Foi bem pouco o que descobri daquilo que outrora os guias turísticos, os romances e filmes promoveram como elementos principais, singulares daquele paraíso. Decorridos penas alguns dias, eu já tinha a certeza de que jamais iria para Malta, em férias. Outrossim, os pescadores malteses ainda continuam pintando seus barcos nas cores do arco-íris. Por um breve instante, lembrei-me de Hong Kong, só que em Malta não há os juncos chineses.
É lógico, e nem poderia ser diferente, que os insulanos conhecem tanto seus "trilhos" quanto os Cavaleiros da Ordem de Malta que, em fins do século XVI, consagraram a sua ilha como um centro cultural europeu. No entanto, os malteses chamam-nos, de maneira depreciativa, de cart ruts e consideram-nos como algo sem importância ... a exemplo do próprio Governo de Malta, que nada faz em prol da conservação desse valioso patrimônio cultural e histórico, deixando a especulação imobiliária avançar, impunemente e com desrespeito total aos monumentos dos cart ruts, expostos a todas as intempéries, sem qualquer proteção.
Hoje, a toda hora, o visitante ainda depara com trilhos ou pares de trilhos e, ao passar por eles, pode muito bem pensar, sem ligar importância, que se trata de antigas linhas férreas obsoletas, cujos trilhos foram retirados, aproveitando-se o ferro, material de grande valor no arquipélago, para outras finalidades. Talvez o observador ache que as marcas no solo são sulcos abertos no chão com a passagem de carroças. Não sei o que se poderia imaginar a este respeito; sei apenas que nenhuma das hipóteses até agora levantadas corresponde aos fatos reais.
Os trilhos malteses representam um singular enigma pré-histórico. Até os dias de hoje, há algumas centenas daqueles trilhos em Malta e Gozo, porém, milênios atrás eles cobriam todo o chão daquelas duas ilhas. Olhando bem aqueles sulcos abertos no solo que, em sua maioria, correm em sentido paralelo, conforme manda o figurino, a primeira impressão espontânea que se tem é a de trilhos. Mas, com um exame mais atento desse enigma no solo, percebe-se que não se trata de trilhos, no sentido convencional da palavra.
Acontece que os rastos dos dois sulcos em paralelo variam não só de trilho para trilho, mas até ao longo do trecho formado por um só par de trilhos. Este fenômeno não pode passar despercebido, mormente na região de Dingle, a sudoeste da antiga capital, Medina, onde os trilhos por pouco não se amontoam, como num grande pátio de manobras, para ficarmos dentro da terminologia aceita.
De fato - e até os arqueólogos ficam surpresos - são "trilhos" bem esquisitos; passam por vales, sobem montanhas, freqüentemente há alguns que vão seguindo lado a lado, depois se juntam para formar um trecho de trilhos duplos, como nos pátios de manobra das ferrovias; de repente, evoluem em curvas audaciosas ou - imaginem só! - levam diretamente para as profundidades do Mediterrâneo. Outros, ainda, terminam, abruptamente, num recife íngreme. Nestes lugares, todo o penhasco deve ter caído e afundado no mar, junto com os trilhos.
Há bitolas distintas, em profusão, variando de 65 a 123 cm; alguns trechos, os sulcos avançam até a profundidade de 70 cm. Por exemplo, perto de Mensija, os trilhos vem numa curva no sopé de uma colina e penetram nada os de 72 cm no solo de pedra calcária.
Quanto à hipótese dos rastos de carroças, é só lembrar se um dia por ali tivesse passado uma carroça, a mesma jamais poderia ter entrada na curva, devido à profundidade expressão no solo; das duas uma: ou o eixo da roda teria ido no corte fundo ou o eixo deveria estar a uma altura 2 cm, no mínimo, dando uma roda de quase 1,5 m de diâmetro. Ora, tal roda gigante teria sido absolutamente inadequada para completar uma curva dessas, pois, ou atolaria ou quebrar-se-ia. Isto porque, naquela época, dificilmente devia ser conhecida a suspensão das rodas, conforme existe hoje em dia nos automóveis modernos. Por outro lado, um veículo dotado de rodas gigantes de 1,5 m de diâmetro, iguais à uma draga, tipo mamute, não se teria prestado para obras, com aquelas bitolas relativamente estreitas.
Ao brincar com forminhas de areia, pode-se constatar como é absurda a idéia de atribuir a origem dos trilhos malteses à passagem de carroças. Se não, vejamos: profundidade dos trilhos ... 72 cm, largura no ponto mais fundo ... 6 cm. O raio da curva corresponderia, então, a um círculo completo de 84 m (!) de diâmetro. Experimentemos colocar nele roda de carroça, cujo eixo fique a uma altura maior que 72 cm, e rodemo-Ia em círculo, sem que a areia se desfaça em bordas! Em tais condições não há jeito de a roda deslizar. Aliás, este jogo com as forminhas de areia torna-se totalmente impraticável quando os entalhes são de pedra dura, ao invés de areia movediça. Ademais, como toda carroça de eixo possui duas rodas que, "pela lógica", devem passar dois sulcos dispostos em paralelo, esta hipótese pode ser descartada em definitivo e enterrada bem no fundo do solo.
Por outro lado, se, a título de pura brincadeira, pensarmos em uma carroça de dois eixos, o entretenimento com as forminhas de areia acaba de vez. Por força de ditames técnicos, o eixo traseiro com as rodas traseiras requereria uma bitola um pouco mais estreita, com raio menor do que aquela da frente; assim sendo, os ônibus e caminhões realizam uma curva bem aberta, para entrar em uma curva fechada. Como as curvas dos trilhos inexiste uma segunda bitola mais estreita, podemos tranqüilamente eliminar também o carro de dois eixos do parque de material rodante daqueles tempos remotos.
Perto de San Pawl-Tat-Targa, juntam-se quatro pares de trilhos, formando um só par, embora apresentem bitolas distintas, antes do ponto de junção.
Será um passe de mágica? A pouca distância dali, um par de trilhos cruza com outro, mas as suas profundidades são diferentes. Perto de Mensija, o pessoal encarregado das obras daquele setor trabalhou com pouco cuidado; os trilhos estão completamente gastos, vão até 60 cm de profundidade, com somente 11 cm de largura no ponto mais fundo do sulco, mas uma largura de 20 cm, no seu ponto mais alto.
Em alguns trechos litorâneos, como, por exemplo, na baía de São Jorge e ao sul de Dingle, os trilhos levam diretamente para as águas azuis do Mediterrâneo. Até pouco tempo, supunha-se ainda que os trilhos terminavam no mar, a alguns metros da praia e que, por conseguinte, ter-se-iam originado na época em que o nível das águas do Mediterrâneo era baixo. Não senhor, não foi assim! Pesquisadores submarinos corrigiram esta suposição e trouxeram as últimas notícias para a atualidade científica, informando que, até em grandes profundidades, os trilhos prosseguem no leito rochoso, abaixo do nível do mar, adentrando o oceano! Todo mundo ficou surpreso; mas é assim mesmo!
Também os arqueólogos são de parecer que a instalação de uma rede de trilhos deste porte deve ter servido para um determinado fim. E eles foram em busca desse fim. Quando, em 1970, perto de Tas Silg, foram encontrados e escavados, peIa primeira vez, restos de um templo romano, as picaretas cavaram ainda um pouco mais fundo e tocaram na alvenaria de um templo grego mais antigo. Porém, quando os escavadores pensaram ter alcançado a sua meta final, tiveram mais outra surpresa: no andar de baixo jaziam enormes monólitos! Depois de removido o entulho ao seu redor, surgiu a fachada, em semicírculo, de um templo megalítico.
Como, doravante, teremos de tratar de monólitos e construções megalíticas, convém resumir agora suas características. Monólitos são pedras de grandes dimensões, artisticamente trabalhadas, tais como os obeliscos egípcios ou os menires levantados verticalmente (termo celta: "pedras compridas"), perto de Carnac, na França. Obras megalíticas (termo grego: "túmulos de pedras grandes") eram feitas de enormes blocos sobre lajes ou fincadas no solo; também os túmulos em série são considerados como tais.
Logo, recorreu-se aos monólitos para explicar os trilhos. As ruínas nas proximidades de Hagar Qim eram de monólitos de 1,05 m de espessura e de 5 m de altura. Ali uma laje de pedra mede até 7 m de comprimento X 3,12 m de largura X 0,64 m de espessura; um elemento arquitetônico verdadeiramente monstruoso!
Em conclusão, os arqueólogos declararam que os trilhos tiveram a sua origem com o transporte dos monólitos para os canteiros das obras - que são sulcos, cortados no solo pelas rodas das carroças, que faziam o transporte.
Até noções técnicas bastante superficiais revelam como inconsistentes tais conclusões, pois:
- Os trilhos apresentam bitolas várias. Carroças não se adaptam a bitola diferente, quando mudam de direção.
- As bitolas variam também ao longo de um só par de trilhos. Será que, naquela época, os construtores teriam usado carroças com eixos elásticos?
- Cortes transversais dos trilhos mostram como eles não adentraram o solo, em ângulo reto, mas, sim, formaram uma ponta, no seu ponto mais fundo. Se os sulcos fossem causados por rodas de carroças, o corte transversal deveria apresentar base horizontal. No caso de a este respeito surgir o contra-argumento, dizendo que as rodas teriam tido revestimentos pontudos, cuneiformes, eu responderia, então, que jamais seriam transportadas cargas pesadas, tais como monólitos, pois, com cada "raspagem", com cada giro de roda, os sulcos penetrariam mais fundo no solo. Qual teria sido o diâmetro da roda, para permitir que os eixos ficassem acima do nível do solo? - Explicações desta natureza não passam de evasivas ou piadas sem graça.
Mas, o que aconteceu, então?
Examinaremos ainda outros modos de ler. Será que os construtores das obras megalíticas despacharam as cargas em trenós com varais, a tração animal, resvalando morro acima, morro abaixo? Caso, a qualquer época e lugar, os habitantes pré-históricos de Malta tivessem empregado tal meio de transporte, pouco apropriado à topografia da sua ilha, mesmo assim os trilhos não se teriam originado com a passagem daqueles veículos, porque para os varais de trenó vale, e ainda mais, a norma vigente para as rodas de uma carroça, a saber: os varais do trenó são presos ao seu eixo com maior rigidez do que o são as rodas e, assim sendo, irremediavelmente teriam atolado nas bitolas variáveis e nas curvas abruptas.
Eis outro modo de ler:
Para o transporte das suas cargas pesadas (hoje feito por rebocadores), os malteses pré-históricos construíram uma espécie de forcado, instrumento formado de uma haste terminada em duas pontas, com as pontas arranhando o solo e a haste presa ao pescoço de um animal de carga, para nele amarrar os monólitos a serem transportados. - É de dar risada!
O forcado era rígido e os rastos arranhados no solo por suas pontas jamais poderiam ter mudado de bitola. Ademais, nem se fala da consistência da madeira a suportar tais cargas, tampouco dos animais capazes de puxá-Ias. Para tanto seriam necessários dinossauros, que levassem ao pescoço forcados de aço especial! Naquela época não havia aço especial, mas apenas madeira, dura como o aço. No entanto, nem a resistência, nem a confecção do forcado explicariam o enigma dos trilhos, com sulcos em ponta.
Aliás, há ainda outro fato que contesta a tese das carroças puxadas por animais, dos trenós ou forcados, pois, quando, anos a fio, os animais percorrem o mesmo trajeto, forçosamente marcam o solo com as suas próprias pegadas. Logo, os trechos percorridos pelos animais com cargas pesadas seriam por eles marcados da mesma forma como o são pelos trilhos. No entanto, não há marca de cascos de bestas de carga, em nenhum dos trilhos.
O transporte das cargas pesadas teria sido feito sobre esferas? De fato, em Malta foram encontradas centenas de esferas, de pedra calcária, mole, de diversas formas. As maiores esferas têm diâmetro de 60 cm, as menores, de 7 cm. Será que os malteses pré-históricos inventaram veículos que andavam sobre rolamentos de esferas de pedra? Seria genial! Será que levaram esferas sobre os trilhos, transportando os monólitos? Isto explicaria tudo, inclusive a variação das bitolas, bem como por que os sulcos perfazem curvas tão extravagantes e por que os trilhos se cruzam com tamanha facilidade. A esfera prossegue no seu curso predeterminado, pouco importando a bitola. Será que as esferas explicariam o enigma?
Infelizmente não o explicam. Todas as ilhas do arquipélago de Malta são de arenito, pedras calcárias e argila; portanto, de pedra mole. E as esferas lá encontrados são de pedra calcária. Bastaria uma tonelada de peso para deixá-Ias achatadas como uma panqueca. Ademais, esferas de qualquer forma não podem produzir sulcos de fundo pontudo, mas, deixariam sempre uma depressão curva, com os trilhos aumentando em largura, porém, não em profundidade. Outrossim, se as esferas adentrassem o solo de pedra até 70 cm de profundidade, elas seriam enormes, com um diâmetro de mais ou menos 1,5 m; ademais, transportaram cargas pesadíssimas. Além disso, deveriam ter sido de molde a agüentar a fricção em todas as dimensões. Não faz sentido discutir este último modo de ler, visto que, até agora, não foram encontradas esferas com diâmetro maior do que 60 cm.
Da mesma forma, até agora não foram encontradas em Malta esculturas ou relevos, que mostrassem carroças ou carros. Se os construtores dos templos tivessem usado esses meios de transporte, decerto os mesmos apareceriam em desenhos ou pinturas rupestres, conforme existem em toda uma variedade de motivos, de tempos bem remotos.
Originalmente, não houve relação alguma entre os trilhos e as obras dos templos, pois, se assim fosse, "os trilhos" deveriam levar ao local das obras ou, respectivamente, lá terminar. Mas, não é o que acontece! Em uma rede de malha fina, prosseguem por toda parte, passam pelos templos, ultrapassam-nos e continuando adiante, onde nenhum templo ou outro monumento deixou suas ruínas sobre o solo.
Os trilhos não aparecem em mapas geográficos, pois, jamais foi feito um mapeamento dos mesmos. Aliás, seria um processo bastante penoso; ao longo de muitos trechos estão encobertos pela vegetação e, portanto, invisíveis na superfície para, de repente, tornarem a surgir; sobre os trilhos foram erguidas obras de construção; foram entulhados pelos aludes que se debateram sobre eles no decorrer dos milênios.
Ninguém conhece a finalidade desse labirinto de trilhos; ninguém sabe por quem foram criados. Hoje em dia, fala-se tanto em pesquisa interdisciplinar; logo, seria o caso de os arqueólogos solicitarem a colaboração de físicos, químicos ou metalúrgicos para desvendar este enigma. Todavia, em Malta nem se cogita de um tal trabalho de equipe, beirando a técnica empregada na criminologia.
Sem dúvida, os resultados obtidos com as análises daqueles trilhos viriam a preencher lacunas no mapa de nossa atual ignorância. Será que esferas de pedra, forcados ou rodas de carroça deixaram no solo de pedra os vestígios da fricção que, forçosamente, nele praticaram? Será que, naqueles tempos de antanho, os veículos de transporte, fossem quais fossem, teriam introduzido minúsculos seres vivos nos poros da pedra calcária ou argila? Encontrar-se-iam lá restos de pólen, que permitissem concluir pela época da origem dos trilhos?
Hoje em dia, há toda uma gama de meios técnicos para pesquisar e analisar a fundo os sulcos, que prosseguem nas profundezas oceânicas. Por que não se empreendem tais pesquisas?
Como podemos continuar em nossa atitude de completa indiferença frente a um enigma tão fascinante, que remonta ao passado longínquo da humanidade? Em tantos outros pontos, nós, ocidentais, nos julgamos tão adiantados e sedentos de saber. Por que deixamos, então, passar por despercebido um mistério de tal magnitude?
Seria surpreendente a ponto de deixar a gente espantada, se os diversos modos de ler omitissem as tão populares historietas em folhinhas... conforme costumam ser narradas em relação às pirâmides egípcias, às "pedras suspensas" em Stonehenge, perto de Wilshire, na Inglaterra, às "pistas de pouso" em Nasca, no Peru. A tese segundo a qual também os trilhos malteses fazem parte de um sistema calendário, sobredimensionado, apresenta-se como a mais "racional" das respostas estúpidas de uma pergunta completamente em aberto.
Por toda parte, ao redor do globo, onde aquela folhinha arqueológica estiver à venda, trata-se de obras e instalações de proporções fantásticas, "inacessíveis", em sua grandeza, à mentalidade do pobre mortal. Por que o homem da idade da pedra - um tanto abobado, segundo esta tese - teria organizado aquele calendário gigantesco só para saber quando a primavera ia chegar, quando o outono iria começar?! Em parte alguma está escrito que povos pré-históricos cultivaram a lavoura em grande escala. Se, com sua população relativamente reduzida, aqueles povos tivessem praticado a agricultura em escala substancial, não teriam tido nem a mão-de-obra, nem o tempo necessários para, nas horas vagas, organizar e instalar as tais centrais de calendários, à custa de um trabalho penosíssimo e de um esforço sobre-humano, conforme, hoje em dia, requerem.
Visto que os meus adversários gostam de censurar-me, por eu considerar os nossos antepassados incapazes de iniciativa e atividade próprias, valho-me do ensejo para aqui e agora deixar registrado e protocolado que considero inteligentes demais todas as espécies do Homo sapiens, desde que povoam a face da Terra, para recorrerem aos diversos feitios dos supostos calendários de pedra, a fim de determinar a mudança das estações do ano, de uma maneira tão espalhafatosa e pouco prática. Decerto, com base nas suas observações da Natureza, os nossos antepassados sabiam perfeitamente bem quando a primavera estava para chegar, quando o Sol estava para esquentar o verão ou o outono, para assinalar a proximidade do frio.
Aliás, antes que me esqueça, a exemplo do que se costuma fazer em outra parte, também no arquipélago de Malta especula-se a respeito de um eventual relacionamento dos trilhos com "um culto". Que culto teria sido? Quanto a isto, nada nos falam. Tampouco chegamos a conhecer os deuses em cuja homenagem e para cujo prazer visual a rede de trilhos foi ideada e executada. Para que semelhante tese de culto adquirisse um certo peso, gostaria de saber qual teria sido a mensagem a ser transmitida por esses trilhos de culto às divindades, que pairavam no ar, sobre eles?
Para tanto, cito o respectivo verbete no "Lexikon der Archaeologie" - Léxico da Arqueologia - o qual diz que os templos megalíticos teriam sido erguidos por volta de 2.800 a 1.900 a.C. e que a origem dos trilhos remontaria a essa época, ou seja, fins do Neolítico, início da Idade do Bronze.
Tudo isto é pouco consistente e convincente.
As escavações e pesquisas espeleológicas revelam que, por volta de 6.000 a.C., o arquipélago de Malta já vinha sendo habitado há um bom tempo. As estatuetas das deusas-mães têm 5.000 anos; em 300 a.C. vieram os sicilianos e, por volta de 1.400, os fenícios.
Em parte alguma encontrei teses que classificassem os trilhos como pertencentes ao Neolítico, mas, sim, deparei com o parecer catedrático, posicionando a sua origem na Idade do Bronze. Porém, tampouco esta datação, relativamente "recente", pode estar certa, pois, será que, àquela época, lá morava um povo de peixes inteligentes? Ou de mergulhadores que usavam roupa de bronze, com seus apetrechos, bombas de ar, de madeira, viseiras, que permitiam o seu trabalho de arranhar o fundo oceânico?
Diante duma pergunta difícil, bate-se em retirada estratégica, refugiando-se nas incertezas. Não, dizem alguns arqueólogos, a rede de trilhos já existe há mais de 10.000 anos, quando as orlas marítimas, hoje debaixo das águas, ainda eram visíveis e faziam parte da terra continental! Vá lá que seja! Mas, quais eram as ferramentas usadas para bater, fresar ou perfurar no solo aqueles trilhos quilométricos, fundos e largos?
É lógico, para tanto foi empregada a pedra de fogo. Também isto, vá lá que seja, pois, desde os primórdios da Idade da Pedra este mineral mais duro que a pedra calcária, serviu de matéria-prima para a confecção de utensílios. Por outro lado, há o inconveniente de, em todo o arquipélago de Malta, nenhum geólogo ter encontrado nenhuma pedra de fogo! Seria o caso de nos fazer crer que, na Idade da Pedra (!), a pedra de fogo, até agora jamais citada como item do comércio internacional, lá era importada em quantidades suficientes para suprir toda a demanda enorme da rede de trilhos?!
Dizem, inclusive, que tudo está errado, pois, na realidade, quem planejou e executou a rede de trilhos foram os imigrantes gregos e fenícios. E por que não? Só que, dificilmente, alguém teria tal idéia, assim de chofre. Segundo tudo o que foi apurado até agora, os imigrantes sempre costumam trazer da sua terra noções e habilidades, já praticadas com êxito no seu país de origem, para, então, serem aplicadas em sua nova pátria. E acontece que, nem na Sicília, nem na Grécia, há o menor vestígio de algo parecido, nem sequer de longe, com os trilhos malteses.
Como são paradoxas essas contradições! Dizem que os templos megalíticos existiram há muito tempo.. que lá já estavam, quando os imigrantes posteriores chegaram. É de amargar! Se os templos já existiram antes de os trilhos terem sido instalados, evidentemente, não podem ter servido para o transporte dos materiais para a sua construção. Ademais, a tese da origem dos trilhos por volta de 5.000 a.C. desconsidera o fato de, salvo oscilações insignificantes, desde 10.000 anos, no mínimo, o nível das águas do Mediterrâneo continuar inalterado. Por conseguinte, nem se pode cogitar dos últimos imigrantes, da "Grécia Ocidental", como construtores dos trilhos.
Para mim, o caso dos trilhos de Malta é um caso típico da atitude errada, tomada pela Arqueologia contemporânea. Há toda uma gama de explicações, mas, basta arranhar um pouco a superfície da linda fachada desses castelos de cartas, para o esmalte sair e transparecer a inconsistência das teses levantadas. Porém, apesar da sua fragilidade, qualquer uma dessas hipóteses é aceita para publicação em um manual qualquer, que a apresenta como súmula da sabedoria; dependendo do manual que cair em mãos de um estudioso, a tese ali lançada acaba se constituindo na solução do problema. Destarte, formam-se "escolas" que teimam em divulgar a sua doutrina, com base no fato de não conhecerem nem tolerarem outra qualquer. O mais importante é poder dar como solucionado determinado problema; pouco importa se, com isto, o enigma foi ou não decifrado, em definitivo.
O certo é que, em tempos pré-históricos, Malta foi palco de coisas extraordinárias, de uma singularidade sem par, não encontrada em qualquer outra parte do mundo. O arquipélago deve ter servido de centro para alguém e para alguma coisa. Poder-se-ia opinar que ligas de metais teriam escoado pelos sulcos fundos. Porém, tal especulação não vinga, porque os trilhos devem ter a sua origem numa época em que os metais ainda não eram trabalhados; para tanto, atestam as mudanças sofridas pelo nível das águas do Mediterrâneo, depois das eras glaciais!
Outra especulação, digna de entrar em cogitação, é a que diz que, em épocas recuadíssimas no tempo, ácidos que nos são desconhecidos teriam corroído o solo e nele queimado as pistas estranhas. Será? No entanto, tal teoria é contestada pelo fato de o ácido corroer o solo de maneira irregular e não criar formas definidas, nitidamente perfiladas, tais como os trilhos malteses, que prosseguem em linha reta e curva.
Neste contexto, tampouco se enquadraria a idéia de aqueles trilhos terem servido de encanamento de água, a céu aberto. Não vale o contra-argumento de que a água sempre escorre morro abaixo, para o ponto mais fundo, porque os trilhos, evidentemente, sobem e descem os morros. A água poderia ter sido levada morro abaixo, somente no caso de a "nascente" de pressão estar localizada no ponto mais alto e a água ser conduzida por um duto. Em parte alguma foram achados canos ou restos de encanamento. Quem, naquela época - quando teria sido, mesmo? - fosse capaz de instalar um sistema de encanamento de água, decerto teria escolhido o trecho mais curto, entre dois pontos dados, e não levado o encanamento em curvas bizarras ou em ziguezague.
Um sistema de drenagem de tal porte deveria ter servido para fins de irrigação, mas, em todos os tempos o solo das ilhas do arquipélago foi rochoso, estéril. Lá, nada cresceu. Foi até preciso importar o humo. Até uns 40 anos atrás, os comandantes de navios que lá aportaram para reabastecer-se de água, ainda faziam o devido pagamento em humo, ao invés de em moeda.
Haveria ainda outras interpretações a serem estudadas?
Será que naqueles trilhos foi cultivado um produto natural, hoje em dia desconhecido? Teriam aqueles sulcos abrigado criações do bicho-da-seda? Teria existido uma cultura de algas pré-históricas, aproveitadas como alimento? Estas perguntas podem ser riscadas da agenda. A quem se teria destinado a produção em massa, proveniente daquela extensa rede de sulcos? Dificilmente teria encontrado mercado no arquipélago e, conforme já foi dito, nada consta de uma frota mercante pré-histórica. Além do mais, lavradores inteligentes teriam instalado suas culturas de uma maneira bem mais apropriada e prática, uma ao lado da outra, e não espalhadas por montes e vales!
Será que, em seus traçados freqüentemente incomuns, os trilhos poderiam ter marcado os caracteres de uma escrita completamente em desuso? Esta especulação, evidentemente fascinante, esbarra contra a realidade da existência desses "caracteres" debaixo das águas do Mediterrâneo. Quem iria decifrá-los, lá, no fundo do mar?
Por outro lado, se aquela "escrita" absurda fosse "gravada" no solo de pedra calcária antes de as águas do mar atingirem o seu nível atual, então, quem a quisesse ler, deveria ter sido capaz de voar! Do contrário, a escrita, que cobre uma área de mais de 100 km de comprimento, teria ficado ilegível.
Examinemos mais outra idéia, quase utópica, a saber: será que nos sulcos dos trilhos foi fundida uma liga metálica, para servir de "antenas" gigantescas, em sua extensão, abrangendo o arquipélago todo? Neste caso, quem seria o construtor, há mais de dez milênios atrás, quando os metais ainda eram matéria desconhecida? Não poderiam ter sido nem os construtores dos templos megalíticos!
Será que deixei de considerar um elemento essencial? Será que me passou despercebido um ponto importantíssimo? Acho que não.
Os templos megalíticos são as testemunhas petrificadas da profunda religiosidade dos primeiros habitantes do arquipélago, que não pouparam esforços para concretizar, esculturalmente, a sua imensa veneração pelas divindades. A meu ver - já sobejamente conhecido - os "deuses" não são personagens fictícios, produtos de uma fantasia absurda, desenfreada; mas, sim, numa época qualquer, eles eram uma realidade, seres vivos e bem ativos.
Eu me faço a seguinte pergunta e as respectivas opções de resposta são nem mais, nem menos especulativas do que todas as interpretações até agora dadas: os "meus" deuses teriam escolhido Malta como um destino preferencial e lá criado algo, que motivou os malteses para, com um esforço sobre-humano, gravar no solo símbolos, em lembrança ou homenagem aos extraterrestres?
O gerente geral do Hilton Hotel, em Malta, Sr. de Piro, é maltês nato, criado na ilha de Gozo. Ele defende a idéia singular e original de que os trilhos foram gravados no solo pela mão do homem. Eu perguntei: "Para que tanto esforço?”
"O senhor sabe, quando um animal domesticado, um burro, um cavalo, um boi, segue uma trilha certa, adquire o costume de percorrer determinado trajeto, a exemplo de como sabe encontrar o seu estábulo; chega a "conhecer o caminho", Quem sabe se não puseram um objeto no lombo dos animais que, por sua vez, apalpava a trilha, que, então, ano após ano, foi por eles percorrida. Tal percurso, prosseguido e percorrido séculos a fio, deixou as marcas no chão.”
A idéia tem algo de fascinante, porém, não me convenceu. Entre as cidadezinhas de Gharghur e Naxxar estende-se a serra de San Pawl Tat-Targa, formada de pedra calcária, exposta a todas as intempéries, com as vertentes totalmente cobertas de trilhos. Vindo de cima e em sentido paralelo, um par de trilhos desce o declive da montanha, evolui em uma curva abrupta para baixo e vai se perdendo entre as casinhas, na praia. Nada menos de outros seis pares de trilhos cruzam com a curva. Acontece, porém, que os pontos de cruzamento não estão posicionados de maneira a permitir que ali um animal marche, automaticamente, por si só. Os cruzamentos ou terminam de repente num ângulo reto ou sua profundidade ultrapassa a dos trilhos, na curva, para, em outro trecho, afundar até 81 cm. Qualquer animal que fizesse esse trajeto, seguramente teria quebrado uma perna. Enfim, há trilhos que se vão reduzindo para terminar em nada. Destarte, teria sido naqueles pontos, em que o rasto fica ao nível do chão, onde, afinal, o animal de carga teria ficado parado, a exemplo do célebre boi, diante da entrada nova do seu curral. E mais: onde estão as trilhas? Os sulcos não podem ter sido abertos pelas bestas de carga, em sua passagem por ali, visto que, para tanto, são demasiadamente profundos e pontudos; e, mesmo supondo-se que os trilhos ficassem ao nível do chão e depois evaporassem... os animais que os percorreram deveriam ter ficado em alguma parte. Será que, no ponto final da linha, vieram buscá-Ios, de helicóptero?
À primeira vista, a idéia que relaciona os trilhos às obras dos templos megalíticos, é fascinante, atraente e até parece encerrar uma pitada de lógica. Sem dúvida, houve canteiros de obras de proporções olímpicas, que deram origem aos 30 templos megalíticos, erguidos de lajes de pedras de menires, que existem lá, naquela minúscula ilha. A ilha de Malta cobre uma superfície de apenas 247 km2 e Gozo ocupa uma área de 76 km2. Restos de madeira, retirados do templo megalítico de Hagar Qim, foram testados pelo método C-14, visando a atualizar as datações antigas; verificou-se, então, que as obras datam de 4.000 a.C.! Naquela época, os romanos "antigos" ainda não tinham entrado em cena, no palco mundial, pois, o seu povoado mais antigo, de inícios da Idade do Ferro, data do primeiro milênio antes da nossa era e também os gregos "antigos", comprovadamente, tomaram suas primeiras terras somente entre 1.200 e 900 a.C. Com isto ficou invalidada a tese, segundo a qual a civilização ocidental atingiu a Europa, a partir do reino sumério, passando pelo Egito e a Babilônia, pois monumentos soberbos, em solo maltês, datam da Idade da Pedra!
Embora eu desconfie do método C-14, por basear-se no princípio da proporção constante de isótopos radioativos C-14, na atmosfera e, ainda, pelo fato de achados de madeira e ossos nada revelarem da época da construção de uma obra arqueológica importante, folgo em saber que o templo de Hagar Qim foi datado de depois de 4.000 a.C.. Com isto, pelo menos, ficou estabelecida uma "idade mínima". É lícito admitir que o templo não seria de data mais recente, mas antes, mais antiga, porquanto os restos de madeira agora datados nem remontariam aos construtores do templo.
Aliás, até hoje, "Hagar Qim" continua sendo uma palavra do dialeto maltês, cujo sentido original é "pedras veneradas". A Arqueologia insular admite que o templo de Hagar Qim era dedicado à divindade fenícia Hagar Qim. Por volta de 4.000 a.C.? É esquisito. Em todo caso, não há quaisquer indícios da existência de gente do "Reino de Púrpura da Antigüidade", em época tão antiga.
Se os "trilhos" estivessem relacionados com as obras dos templos, os seus traçados bizarros deveriam conduzir até lá. Mas, é justamente o que não acontece. Os trinta templos estão espalhados por todo o território insular e, da mesma forma, os "trilhos" passam por eles. Há as obras gigantescas de Tarxie, perto da localidade de Paola; Hagar Qim dista apenas umas poucas centenas de metros do grande templo, nas proximidades de Mnajdra, no litoral sul da ilha. Bem no meio da cidade, ergue-se ao céu o templo de Skorba ao passo que a monumental obra pré-histórica de Malta, o templo de Ggantija, fica em Gozo, na ilha vizinha, ao norte. Pergunta-se, então: o que esteve aqui primeiro - os templos megalíticos ou os "trilhos"? Dificilmente se acharia uma resposta, pois esta pergunta é tão intrincada como aquela que indaga o que veio primeiro: o ovo ou a galinha?
Eis, diante de nós, os enormes monólitos. Por eles passaram os milênios, que os deixaram corroídos, rachados. Tendo em vista os "trilhos", a gente pensa nas chuvas que os lavaram, no frio tremendo que os enrijou e no sol inclemente que os deixou em brasa. Será que, originalmente, os trilhos teriam adentrado o solo e chegado até uma camada mais funda? Teriam sido alçados pelo solo, para ficar na superfície? Uma só coisa é líquida e certa: eles estiveram ali, antes de o Mediterrâneo ter atingido o seu nível atual. Será que, por causa disso, os templos deveriam ser datados de antes da era do gelo? Nada se sabe, por certo; mas, esta seria uma das diversas opções que se oferecem para a explicação do fenômeno. Todavia, antes de expor as minhas especulações arriscadas em torno do assunto, cumpre falar ainda de outra singularidade que Malta tem a apresentar, além dos trilhos e templos.
A sudeste de La Valletta, em Saflieni, bem próximo de Paola, cidade de 12.000 habitantes, fica o sensacional Hal Saflieni Hypogeum. O termo hipogeu, do grego, quer dizer "recinto subterrâneo" (hypo = sub, gaia = terra). A literatura especializada costuma empregá-lo para túmulos e recintos de culto no subsolo.
A casa, que se atravessa para chegar aos recintos subterrâneos, distingue-se das demais na rua por um portão imponente, de quatro colunas quadradas, encimadas por pesadas lajes de pedra. Na parede há uma placa de mármore, com os seguintes dizeres: ''HAL-SAFLIENI PREHISTORIC HYPOGEUM" (= hipogeu pré-histórico de Hal-Saflieni).
Li descrições quase bombásticas a seu respeito. Quando, após prolongada marcha a pé, por aquela avenida, debaixo de um sol abrasador, cheguei, enfim, ao pórtico de pedra calcária, perguntei-me, a mim mesmo, se valeria a pena entrar lá, com as minhas duas malas de câmaras fotográficas, a tiracolo, cortando fundo nos meus ombros, com o seu peso de chumbo. Dias a fio, um Sol impiedoso castigou a ilha empoeirada e ressequida. Era justamente uma atmosfera de cercear a vontade de agir de qualquer pessoa, inclusive a minha. O suor fez a camisa e as calças grudar no corpo. Por fim, resolvi: vou entrar! Achei que uns 15 minutos na sombra e frescura daquela casa far-me-iam um bem enorme. E fiquei lá dentro, pelo resto do dia; e logo me esqueci de que momentos atrás a minha vontade estava titubeante.
A entrada fica ao rés do chão; de lá, três andares levam solo abaixo. Na penumbra, um maltês de estatura imponente, 2 m de altura, aproximou-se de mim e, com um gesto de discreta cortesia, livrou-me das minhas duas malas pesadas. O meu olhar surpreso e, certamente, um tanto agressivo, mereceu dele somente a resposta contundente: "No cameras!" (= é proibido levar câmaras), acrescentando ainda o rígido vocábulo francês "Défendu" (= proibido), para o caso de eu não compreender o inglês. As minhas câmaras ficaram sobre uma estante de madeira, diante da qual ele, em toda a sua imponência, montou guarda. "Voilà" (= eis ali!). E acabou-se a nossa conversa.
Até hoje. não compreendo bem por que, em certos museus, proíbem tirar fotos. É claro que poderiam cobrar determinada taxa, para cobrir as despesas de manutenção; porém, aparentemente, não se trata disso, pois, por exemplo no "Musée de l'Homme", em Paris, eu não me recusaria a pagar qualquer taxa; mas, nada feito. Vez ou outra, não posso livrar-me da suspeita de que a fraternidade dos arqueólogos não gosta que certos objetos sejam fotografados de um ângulo diferente daquele por eles sancionado.
Foi o que me passou pela cabeça naquela ocasião, quando, para mim, a proibição de tirar fotos fez ainda menos sentido do que em outras quaisquer. Conforme aprendi em experiências anteriores, vez ou outra uma boa gorjeta é capaz de fazer com que os guardas permitam que objetos sejam fotografados, e por isso coloquei duas libras maltesas na mão do gigante. Ele as aceitou, mas não esboçou o mínimo gesto no sentido de entregar-me as minhas câmaras.
Daquela altura de seus 2 m, o guarda abaixou a cabeça para a minha estatura de 1,68 m e murmurou, com um olhar ultra-significativo: "Sr., isto aqui é um recinto sagrado!". Pois bem, pensei eu, se isto aqui é um recinto sagrado, então, convém que me comporte de maneira condizente, para evitar dissabores; entrementes do fundo da minha mente surgiu, a idéia sobre qual a maneira de bater uma foto se, por aí, surgisse alguma coisa a ser fotografada.
O guarda do recinto sagrado e das minhas câmaras movimentou suas mãos gigantes, batendo palmas e, de um cubículo ao lado, saiu outra figura, realmente imponente, ultrapassando o seu colega em mais alguns centímetros de altura. Estava eu entre gigantes. O segundo gigante era bem mais moço do que o primeiro; usava um xale de seda vermelha, enrolado ao pescoço, e cobria-lhe a cabeça um boné basco. Solícito como todo bom guia turístico, dirigiu-se a mim, expressando-se numa mistura multilíngüe da qual depreende, primeiro, que o inglês era o seu forte e, segundo, que tinha duas atrações a me oferecer: o assim chamado museu, situado diretamente ao lado da escada para o hipogeu e por cuja causa eu lá me encontrava. Aliás, "museu" é um exagero, porquanto ali existem apenas quatro vitrinas embutidas na parede. Contudo, eu queria aproveitar ambas as ofertas do guia. Depois de ter dado uma gorjeta de 2 libras maltesas ao jovem gigante e de lhe pedir que desse as suas explicações em inglês, levou-me diante das pequenas vitrinas.
De um modo bem ordeiro, conforme costumam fazer nas farmácias, ali estão exibidas as preciosidades, encontradas por acaso, em 1902, quando se deu a construção da casa, na qual nos encontramos e sem o que, dificilmente, o hipogeu teria sido descoberto. Para mim, este é um raro acaso feliz.
Nas vitrinas estão expostos ferramentas de pedra, anéis e gargantilhas, pequenas estatuetas, jóias feitas de conchas e amuletos. O jovem gigante ficou atrás de mim, como uma sombra, e não se cansava de repetir que "esses objetos são mágicos". Tratava-se, pois, de objetos mágicos, encontrado: no hipogeu. Com um olhar todo compenetrado, ele explicou que por aquela escada, pela qual iríamos descer logo mais, desceram homens da Idade da Pedra, para dialogar com seus deuses, lá, bem fundo, na abóbada - era para impressionar-me ao ponto de eu ficar pasmado - mas que, sem a ajuda de amuletos, tal diálogo não se teria realizado.
Antes que o guia me empurrasse pela escada, cheguei a discernir aquele objeto, a "deusa-mãe", sobre o qual tinha lido bastante e que me interessava de maneira especial, e uma estatueta de terracota, de uns 10 cm de comprimento descrito em alguns livros como a "mulher adormecida". Ele repousa sobre uma taça, apoiada em quatro pés fixos; seu corpo atarracado está coberto de uma roupa que se assemelha à carapaça de uma tartaruga; sua cabeça pesada repousa sobre o braço dobrado; suas pernas são curtas e grossas.
Quando vejo uma deusa-mãe adormecida, mormente datando do Neolítico, fico todo atento. Por que motivo o artistas neolíticos revelaram uma tendência específica para as efígies das "deusas-mães"? Aliás, o que significa o termo "deusa-mãe"? Será que aquelas criaturas eram mães de divindades? Logicamente, isto é pura bobagem, pois, na visão do mundo dos artistas da Idade da Pedra, os deuses ainda não tinham parentes, nem família, nem mãe.
Deusas-mães neolíticas, iguais à réplica que acabei de apreciar (o original está no Museu Nacional, em Valletta) apareceram, por exemplo, em La Gravetta, Laussel e Lespugue, na França, em Cukurca, na Turquia, em Kostjenko na Ucrânia, em Willendorf, na Áustria, e em Petersfelds, na Alemanha.
É claro que o termo "deusa-mãe" data do nosso tempo Quem sabe, se, na mentalidade do homem da Idade da Pede; as figuras eram em geral "deusas"? Admito que a nossa terminologia técnica bem pode facilitar a classificação e catalogação das peças, mas, duvido que sempre acerte na definição do seu sentido correto. Tanto faz! Em todo caso, aquelas esculturas com seus atributos, expressamente femininos inequivocamente de mulher grávida, devem ter tido um significado especial, específico. Do contrário, não teriam sido criadas simultaneamente, em tantos lugares, pelo mundo afora. Vamos ver...
Ao levar-me para a escada de pedra, o meu guia gigante informou que aquilo que eu iria ver em seguida, fora achado casualmente pela virada do século. Já conhecia este detalhe, por informações da literatura especializada. Porém, não era do meu conhecimento que a entrada original para o mundo subterrâneo - uma laje de pedra com um furo quadrado situava-se no topo de uma colina, acima do porto marítimo; por ocasião de obras portuárias, a entrada fora fechada.
O meu cicerone, cuja verbosidade, até então, igualava a eloqüência do grande orador romano Cícero, desceu a escada em caracol, de maneira cautelosa e demonstrando profunda compenetração (apesar de já tê-Ia descido alguns milhares de vezes); quanto mais descíamos, tanto mais compenetrado e calado ele ficava. Enfim, limitava-se apenas a murmurar, para responder às minhas perguntas. No saguão principal do andar médio exclamei: "Mas, isto aqui é fantástico!" e perguntei: "Por que estou aqui, sozinho?" Em resposta, o gigante sussurrou ao meu ouvido: "Os malteses não descem até aqui, porque têm medo do oráculo. São apenas os turistas que vêm, por recomendação dos recepcionistas dos hotéis e, agora, estamos em época fora de temporada.”
Suposto que a datação seja correta, uns bons 6.500 anos atrás - assim fala o povo - os devotos vieram para esta sala dos oráculos, a fim de contarem seus sonhos ao sacerdote, que ficava de cócoras no contínuo recinto dos oráculos, para, por ele, serem interpretados. Já estava ali sobre a incrível acústica desta sala, mas, achei pouco provável que palavras pronunciadas em voz baixa pudessem aumentar de volume a ponto de ressoar na sala. Parecia como se o jovem gigante tivesse adivinhado estes meus pensamentos, pois levou-me para um nicho e lá emitiu sons distendidos, dirigidos para dentro de uma elipse, aberta na pedra.
"Ooooohhhaaaa" e "Uuuuuuhhhhiii!”
Como amplificados pela instalação de alta fidelidade de uma discoteca ruidosíssima, os sons emitidos pelo gigante ressoaram pela sala e ecoaram nas paredes. Mesmo quando a voz potente do jovem gigante baixou para um murmúrio suave, o eco respondeu, suavemente, de todos os nichos e cantos da sala.
Fiz questão de eu também experimentar aquilo. Enfiei a cabeça na "concha" elipsóide e lá soltei um "iaaaa!" bem esticado. Quando mais levantava a voz, tanto mais estranha se tornava a ressonância e, mesmo ao baixá-Ia para a sonoridade de um barítono, as vibrações e os ecos ressoavam em todos os cantos. Não me passou despercebido que, num determinado ponto da elipse, este efeito se tornou bem mais expressivo. Dirigi a minha voz para lá e tive a impressão de que detrás da "concha acústica" havia um vácuo na rocha, que agia como amplificador de som, igual à caixa acústica de uma guitarra. Suponho que, mesmo sem poderem ser vistos de fora, deve haver vácuos, ramificados através da rocha, formando uma rede que transmite o som que, depois, é liberado em outros locais da sala.
Como não tive companhia feminina, não pude pôr à prova o velho ditado popular, o qual diz que o miraculoso amplificador de som só funciona com voz masculina, e que deixa de funcionar com voz feminina, mesmo quando for de um sonoro meio-soprano. É lógico, hei de voltar a Malta e levar comigo uma dama, para, naquele recinto, murmurar algumas doces palavras ao seu ouvido, para ela responder.
Nas minhas viagens, vi instalações pré-históricas que me impressionaram sobremodo, tais como as pirâmides, os túmulos dos reis no Alto Egito, as obras megalíticas sobredimensionadas na Turquia, as fortificações em Sacsayhuaman, acima de Cusco, os "aquedutos" de Tiahuanaco, as estátuas colossais na ilha de Páscoa, para citar apenas alguns exemplos. No entanto, o hipogeu impressionou-me de uma maneira toda especial, por ser diferente de todo o resto.
Passagens nas cavernas, recintos e corredores comunicam com o saguão principal, a exemplo de nichos e câmaras, dos quais dois ostentam o teto pintado e todos são coordenados num plano básico, muito bem elaborado. Nichos e pilares, que suportam a cúpula do saguão, são trabalhados segundo as melhores normas da arquitetura megalítica, apresentando linhas bem definidas, cantos vivos e imponentes blocos de pedra. Até a cúpula é construída de monólitos curvos.
"E tudo isto teria sido feito pelo homem da idade da Pedra?" perguntei ao meu jovem gigante, cujos olhos redondos, pretos, registraram com satisfação o meu espanto diante daquelas maravilhas. Ele tirou o boné da cabeça, girou-o nas mãos e respondeu, depois de uma pausa bem calculada: "Eles dizem que tudo aquilo foi batido a martelo...”
Neste caso, "eles" são os arqueólogos. O jeito de responder do jovem era o de alguém que duvida; evidentemente, dia após dia, ali embaixo, ele deve ter meditado e especulado sobre a viabilidade de seus ancestrais mais remotos terem executado aquelas obras enormes, usando o martelo como única ferramenta disponível.
Como permitiram que eu ficasse com o meu farolete de mão, pude verificar facilmente as colunas, os nichos e elementos da cúpula, esculpidos em pedra, uma verdadeira obra-prima ciclópica. Sem fendas nem frestas, os monólitos, que formam os nichos, sobem do chão de pedra, da mesma pedra da qual foram cortados. Lembram "vigas transversais" numa construção executada segundo rigorosos cálculos estáticos; outros monólitos repousam sobre aqueles elementos que, por sua vez, suportam os monólitos curvos que formam a cúpula.
Quando é que se teriam celebrado os oráculos aqui embaixo? Há 3.000, 4.000 ou 5.000 anos atrás? Os gregos e fenícios não estiveram ali, pois, durante milênios, o santuário ficou fechado, enterrado, escondido daqueles que sobre ele passaram, na superfície da terra. Os túmulos ali achados datam de um milênio antes, por volta de 2.500 a.C., ao passo que a presença dos invasores fenícios e gregos em Malta foi comprovada apenas para os anos 1.400 e 800 a.C., respectivamente.
Em seguida, o meu guia gigante levou-me para um nicho, situado três degraus mais embaixo e no qual, outrora, poderiam ter sido colocadas estátuas de divindades. Ele apontou com a mão para um buraco no chão, fechado com uma laje de pedra. Informou, então, que por ali há toda uma série de tais aberturas e que nos respectivos poços de pedra os escavadores encontraram ossadas humanas e de animais; porém, ninguém sabe se ali teria sido praticado o sacrifício humano e/ou animal. Seja como for, mesmo alguns milênios depois, a idéia daquele holocausto ainda deixa a gente arrepiada; mas, o que estava por vir, era de natureza ainda mais sinistra.
O andar médio, onde nos encontramos, fica a uns 11 m abaixo do nível da rua. Descemos mais outros sete degraus e chegamos a 12 m da superfície, ao ponto mais baixo da construção pré-histórica, de três andares. Mais um último degrau... e paramos diante de um calabouço quadrado assim eu suponho - onde intrusos indesejáveis foram "liquidados", onde foi dado sumiço a inimigos mortos, onde se praticaram sacrifícios humanos, para onde desceram voluntários da morte e onde eventuais profanadores de túmulos caíram na armadilha fatal. Os mortos ali encontrados, cujas ossadas ultrapassam 7.000, sabem guardar segredo.
No meu prospecto turístico, eu li:
"O templo subterrâneo, com o recinto do oráculo, da população primitiva, desconhecida, abrange várias passagens e recintos, é de três andares, debaixo da superfície, cortados na rocha...”
Seria lícito acrescentar àquela constatação lacônica que a confecção, dos "martelos pneumáticos", a exemplo da dos trilhos; teria consumido quantidades enormes de pedra de fogo, inexistente no arquipélago.
Determinado período histórico é chamado de Idade da Pedra porque, no seu decorrer, as pessoas usaram ferramentas de pedra. Naquele tempo, os metais ainda não existiam.
Mas, tampouco existiu a pedra de fogo, mais dura do que a calcária. Por outro lado, nada, absolutamente nada consta de barcos, navios, jangadas ou de qualquer outro tipo de embarcação, que poderiam ter transportado a pedra de fogo do continente para Malta; àquela altura, ainda não havia meios de transporte marítimo.
Mesmo considerando como suscetível de solução o problema do abastecimento do material de construção - o que seria um contra-senso - ainda continua e persiste o seguinte enigma, de importância decisiva: por que motivo e com que finalidade o hipogeu foi cavado na terra, com três andares, da superfície para baixo? Continua, igualmente, a busca até agora inútil, da arquitetura tão arrojada, avançada! A partir da primeira martelada, deveria ter sido estabelecida a meta final, programada a seqüência da execução das obras e coordenado todo o serviço a ser prestado pelos pedreiros diligentes.
Por oferecer aspectos interessantes e até divertidos, vale a pena visualizar o trabalho de um arquiteto da Idade da Pedra. Ele começa rabiscando algumas centenas de projetos em folhas de palmeira, segundo um modelo que os deuses lhe mostraram, em sonho. De que outra forma ter-se-ia ele inspirado para a construção audaz de uma cúpula subterrânea, para a qual não existia modelo algum sobre a face da Terra?
O nosso arquiteto arrojado planeja as suas obras de três andares para baixo, adentrando o solo. De onde obteve suas noções de estática, necessárias para tanto?
Quais os moldes que forneceu aos canteiros, para os monólitos retos e curvos que tinham que suportar o seu próprio peso, mais aquele dos três andares de cima?
Quando o nosso arquiteto intrépido submeteu seus planos à apreciação do cliente, surgiu o problema angustiante das ferramentas. Pelo que se sabe, atualmente, das condições vigentes na Idade da Pedra, era insolúvel.
A obra de alvenaria recebeu acabamento ultra-sofisticado, com a introdução da acústica, já mencionada, e ainda de um sistema de ar condicionado, de alta perfeição! Pois é, o hipogeu é de uma categoria toda especial, foi construído com esmero.
A temperatura permanece praticamente estável, tanto faz se uma pessoa só, acompanhada de um guia gigante, conforme aconteceu comigo, ou se uma multidão de turistas passar por aqueles recintos. Por outro lado, todo mundo sabe como num recinto fechado a temperatura sobe rápida e proporcionalmente à radiação térmica, emitida pelas pessoas que nele se encontram. O sistema de areação e ventilação do hipogeu de Saflieni é tão sofisticado como aquele instalado nas cidades subterrâneas de Derinkuyu, na Turquia, onde, faça frio ou calor, no inverno ou no verão, a temperatura é constante em todos os 13 (!) andares, debaixo da superfície terrestre.
Quanto a Derinkuyu, para simplificar as coisas, convencionou-se datar dos inícios da era cristã essas cidades subterrâneas, construídas com requintes de sofisticação (como se, logo após o nascimento de Cristo, houvesse especialistas em instalações técnicas!). Sem dúvida, tal datação está errada, mas, essa fixação no tempo está sendo usada a título de explicação do sistema de ventilação tão bem elaborado. Esse obstáculo, mais que inconveniente, não pôde ser vencido no caso do hipogeu, porque, indiscutivelmente, a sua origem remonta à Idade da Pedra.
Considerando que a arquitetura e as obras de construção, representam um verdadeiro enigma e que a acústica constitui um fenômeno digno de toda a admiração, cumpre qualificar de simplesmente extraordinário o sistema de ar condicionado, lá instalado, na Idade da Pedra.
Supõe-se que as obras de construção do hipogeu foram concluídas em três etapas distintas, porque as salas e os nichos diferem em sua arquitetura. No plano superior, as protuberâncias da rocha foram apenas niveladas e ampliadas, ao passo que no saguão principal e suas dependências; no andar médio, sem dúvida, foi empregada uma técnica de construção megalítica (artificial), até hoje inexplicada e inexplicável.
Esta tese tem um ponto fraco; as diversas técnicas devem ter sido aplicadas concomitantemente, porque tanto o sistema acústico como o da ventilação abrangem todo o hipogeu. Logo, o primeiro arquiteto que iniciou as obras deve ter trabalhado de plena conformidade com seus sucessores, com uma visão clara das instalações prontas e concluídas. Outrossim, não teria sido possível a execução de posteriores "instalações" ou reformas de pedra, na pedra.
Para mim, os trilhos, templos e o hipogeu de Malta provam a "colaboração" dos deuses. Para quem compreendeu a minha teoria, é uma constatação supérflua, a qual, no entanto, sou obrigado a fazer, para invalidar, desde já, um argumento que meus críticos levantarão, a título de palavra final, do amém nas orações da Igreja. Portanto, não afirmo categoricamente que os "deuses" agiram ali, que instalaram os trilhos, que ergueram os templos e construíram o hipogeu. Mas, sim, conjeturo que os "deuses", respectivamente seus sucessores, usaram ferramentas e dominaram técnicas, que posteriormente foram aproveitadas pelo homem neolítico. Outrossim, é bem possível que, por ordem dos deuses, os primeiros insulanos trabalharam naquelas obras - mas, a finalidade a que se destinaram não lhes era revelada.
Será que existe um nexo entre todas essas aparentes contradições? Será que "deuses", homens, trilhos e templos encontrariam um denominador comum?
Homero descreveu as aventuras e viagens que Ulisses, rei de Ítaca, viveu ao longo de mais de dez anos. Tempestades levaram-no para o cabo Males, na ponta sudeste do Peloponeso (atualmente, península de Moréia) e, com seus barcos, ele visitou a ilha dos ciclopes, gigantes monstruosos de um só olho na testa; eles foram os construtores de muros megalíticos, até hoje denominados de ciclópicos.
Com freqüência, a literatura especializada especula que a ilha dos ciclopes seria a Sicília, da nossa atualidade. Pode ser, mas não necessariamente.
O arquipélago de Malta dista apenas 95 km da Sicília. Quem observar detidamente as obras megalíticas ali existentes, concordará comigo que os seus construtores deviam ser gigantes. Teriam sido eles os "inventores" das muralhas ciclópicas?
Um dos ciclopes, o gigante Polifemo, prendeu Ulisses e doze dos seus companheiros, no interior de uma caverna, cuja entrada fechou com um enorme bloco de pedra. Polifemo podia sair da caverna, sem mais nem menos, e para tanto bastava levantar a pedra; porém, Ulisses e seus doze homens não conseguiram removê-Ia, porque era pesada demais. Polifemo era filho do deus Posêidon, com um só olho no meio da testa. Aliás, também os outros gigantes na ilha dos ciclopes eram filhos de deuses! .
Haveria um relacionamento mitológico com a realidade de outrora? Será que, em épocas que se perdem na esteira dos tempos, Malta foi habitada por gigantes?
É indiscutível o fato de os gigantes terem existido. As tradições antigas falam deles expressa e bem realisticamente, da mesma forma que textos antigos teimam em garantir que os gigantes eram descendentes dos deuses, "filhos do céu".
No capítulo 14 do Livro de Henoc que, segundo Moisés (Gên. 5, 18 e seguintes), está em relação direta com Deus, se lê:
"Por que fizestes como os filhos da Terra e gerastes filhos de gigantes?” E o próprio Moisés deixou escrito:
"Ora, naquele tempo, havia gigantes sobre a terra. Porque depois que os filhos de Deus tiveram comércio com as filhas dos homens e elas geraram filhos, estes foram possantes e desde há muito afamados.”
(Gên 6, 4)
As tradições egípcias dizem textualmente, no capítulo 100 da KEBRA NEGEST:
"Aquelas filhas de Caim, que tiveram comércio com os anjos e engravidaram, não conseguiram dar à luz e morreram. E daqueles no seu útero, alguns morreram e outros vieram à luz; ao abrirem o ventre da sua mãe, saíram pelo umbigo. Depois, quando cresceram, ficaram gigantes...”
Por fim, um breve citado do "Book of Eskimos" = Livro dos Esquimós:
"Naqueles dias havia gigantes sobre a Terra ...”
Nos seus apócrifos, Baruc chega a indicar números:
"O Supremo mandou o dilúvio para a terra e destruiu toda a carne, inclusive os 4.090.000 gigantes.”
No meu livro "PROVAS DE DÄNIKEN" (Melhoramentos, 1977) publiquei fotos de achados fósseis de vestígios de gigantes, encontrados pela pesquisa moderna, a título de prova mais recente e atual, de fonte autorizada, que testemunham a presença outrora de gigantes na Terra. Não gosto de repetir o que já falei e escrevi, mas, achei por bem fazer pelo menos uma breve referência à documentada presença de gigantes pré-históricos no nosso planeta, pois, do contrário, os meus críticos falariam: "Mas - Sr. von Däniken, jamais houve gigantes aqui!" Por isso, julguei necessário, frisá-Ia mais uma vez e expressamente.
Soletremos a palavrinha SE, altamente significativa... Se Homero não tivesse dado apenas vazão à sua fantasia na Odisséia, mas, sim, nela transmitido o cerne duro de acontecimentos reais...
Se Malta fosse a ilha dos ciclopes...
Se os ciclopes fossem descendentes dos "anjos decaídos” e, assim sendo, dos extraterrestres... Então, os trilhos, os templos megalíticos e o hipogeu estariam em relação direta com os deuses ou seus descendentes.
Por quê?
Lembramos que alguns dos trilhos levam às profundezas do Mediterrâneo e, em vista disso, foram instalados antes da última etapa glacial, quando o nível das águas era mais baixo do que é, faz já milênios; então, segundo os ditames da Arqueologia Clássica, naquela época não existiu qualquer população com noções tecnológicas. Por conseguinte, se, pela lógica, o homem da Idade da Pedra não reunia condições para executar aquelas obras, que nos foram legadas como admiráveis monumentos arquitetônicos, quem as teria reunido, quem teria sido capaz de concebê-Ias e executá-Ias?
Será que deuses ou seus descendentes deixaram, em Malta, um lembrete da sua presença ali? Outrossim, para não falar somente em relíquias de natureza tecnológica, pergunto eu: teriam sido eles os organizadores dos bancos de sêmen, em lugares até agora não descobertos e cuja entrada, cujo acesso continuam ignorados... até que chegaram a ser encontrados por um acaso feliz, conforme aconteceu com o hipogeu? Será que as deusas-mães seriam a chave para a solução deste superenigma? Será que, algures, debaixo dos santuários megalíticos, células bem conservadas, removidas do organismo dos antigos donos do nosso planeta, estariam esperando para serem achadas? Chegará o dia em que sarcófagos, com múmias de gigantes, serão trazidos à luz do Sol?
Ninguém precisa comentar que estes meus pensamentos são arriscados, embora, basicamente, sejam defensáveis. Desde os tempos mais remotos, os faraós, os soberanos chineses, os incas e imperadores japoneses praticaram a arte da mumificação. Ora, por isso, especulo se tal arte eventualmente não teria sido praticada também pelos gigantes, "filhos de deus" e descendentes, em primeiro grau, dos extraterrestres. No caso de os primeiros homens inteligentes terem sido descendentes dos deuses, de terem dominado o vôo espacial, decerto seus pais celestes lhes transmitiram noções científicas suficientes para a sua grande jornada e até Ihes ordenaram: "Conservai e guardai as células do seu corpo. Em dias. futuros, poderão servir para gerar seres à vossa própria imagem!".
Ao arquivar as fotos da minha viagem a Malta, meu colaborador Willi Duennenberger chamou minha atenção para um traço característico das "deusas-mães" maltesas: todas as estatuetas são de mulheres grávidas. Além de apresentarem barriga do tamanho que sugere o breve nascimento de, no mínimo, trigêmeos, as estatuetas não têm coxas; a parte inferior do corpo feminino é atarracada, grossa, gordíssima e não se distingue mais uma barriga de perna; o corpo começa a avolumar-se, a partir dos pés.
Tal observação poderia ser explicada com a incapacidade dos escultores pré-históricos de revelar os traços do corpo, posto que, para tanto, eram primitivos demais. Porém, tal explicação não vinga, considerando que os ombros e os braços das estatuetas são de formas delicadas, que revelam plasticidade. Muitas estatuetas mostram uma mão de quatro dedos e um polegar estendido, dobrada sobre o coração, como se a mulher quisesse exprimir a sua dor, sua angústia, diante do parto. Será que essas esculturas indicariam, naqueles corpos disformes, que esses ventres encerravam mais de um embrião normal? Será que, devido ao peso anormal do feto, o corpo da gestante foi distendido para baixo? Os tecidos, a placenta, as gorduras acumuladas teriam envolvido as coxas e os joelhos a ponto de, semanas antes do parto, aquelas pobres criaturas se locomoverem tão-somente bamboleando?
Sob este aspecto, as "deusas-mães" atarracadas entrariam, igualmente, no rol das provas a favor da existência dos gigantes de outrora. A KEBRA NEGEST fala em corpos femininos abertos, rasgados pelo nascituro sobredimensionado, ao ser dado à luz. Uma escrita sumérica cuneiforme de Nippur conta como o deus dos ares, Enlil, violentou a filha da Terra, Ninlil, que implora ao libertino impiedoso:
"... A minha vagina é muito pequena, desconhece o coito. Meus lábios são muito pequenos, não sabem beijar...“
Não me animo a especular se o próprio Enlil seria um extraterrestre ou da primeira geração dos seus descendentes. O texto sumério diz apenas, e de maneira inequívoca, que os seus membros, o seu físico todo, eram demasiadamente grandes para a moça terrena, Ninlil, de estatura normal.
No âmbito do Ocidente, há ainda outro enigma, encoberto por véus milenares. Até os próprios arqueólogos, um tanto sem jeito, admitem que nada de plausível sabem dizer a respeito; um pronunciamento notável, vindo da parte de profissionais que - quase - sempre costumam saber tudo. Estou falando da Bretanha, na costa francesa do Atlântico, a 2.300 km de Malta em linha reta.
Além de gozar da preferência dos apreciadores dos prazeres culinários, dos seus excelentes pratos de peixe e vegetais, esta região oferece ainda uma atração cultural, de alta singularidade. Desde séculos, para lá se dirigem viajantes - na terminologia atual, turistas - para ver os muitos milhares de menires, que ainda ocupam a paisagem conforme a ocuparam desde os tempos mais remotos, imemoráveis, num desafio petrificado.
No último outono europeu, quando passei uns dias na Bretanha, passeei entre os menires, numa noite de luar, claríssima. Tive a sensação de encontrar-me numa outra estrela, no meio de uma paisagem primordial do nosso planeta Terra.
Os menires, "as pedras compridas" (a tradução do idioma celta) projetavam suas sombras verticais, sinistras. Meus passos ressoavam pelo gradeado formado por essas sombras. Aqueles colossos levaram-me a um fantástico jogo de adivinhar. Naquelas sombras vi coisas que não existiam. Ora surgiam rostos humanos, uma mãe segurando o filho no colo; ora, leões, panteras, caranguejos e aranhas enormes. Tudo isso passou por mim, na calada angustiante daquela noite de luar claro. Lá, longe, vi monstros antediluvianos, animais de fábula, prontos para o ataque e, quando deles me aproximava, não passavam de relíquias em pedra, enormes, com brilho prateado, sob os raios lunares, testemunhas de uma época perdida na penumbra dos tempos. Andei viajando no tempo, para o passado.
As pedras compridas erguem-se ali em disposição incrivelmente coordenada, ordeira. Logo, não são meros enjeitados, sobras de uma era glacial; nem aqui, nem alhures, foram colecionadas e montadas para uma exibição em museu. Aqueles monumentos, em fileiras de três a doze, lembram um exército petrificado, em posição de sentido. Desses "soldados" de pedra, o menor ainda tem um metro de altura e o maior, o gigante, o menir de Kerloas, perto de Plouarzel, mede 12 m de altura e pesa 150 toneladas. A mais comprida das "pedras compridas", o menir de Locmariaquer, caiu por terra e partiu-se; intacto, o seu comprimento era de 20 m e seu peso ultrapassava 350 toneladas.
Nas proximidades de Kermário, há 1.029 menires, dispostos em dez fileiras; ocupam uma área de uns 100 m de largura e 1,2 km de extensão. Perto de Ménec, 1.169 pedras compridas erguem-se em fileiras de onze unidades, cada; um grupo de 70 dessas pedras separou-se do grosso da tropa para formar um semicírculo. Essas disposições rígidas repetem-se, com números diferentes, em Kerlescan, onde, de 594 menires, 555 ficam em fileiras de 13 unidades cada, enquanto que 39 formam em semicírculo. Perto de Kerzehro, contam-se 1.119 pedras, em fileira de dez e, nas proximidades de Lagatjar, são 140, em fileiras de três, cada.
Apesar de incompletos, estes dados sugerem o trabalho insano, executado numa época remotíssima. Os menires na Bretanha têm um traço em comum com as obras megalíticas em Malta: tanto estes como aquelas devem datar de antes da última era glacial. Pois, da mesma forma que em Malta os trilhos conduzem Mediterrâneo adentro, na Bretanha as colunas de pedras compridas marcham diretamente para as profundezas do Atlântico!
Vez ou outra, o povo local sabe detalhes bastante elucidativos dos fenômenos com os quais convive, dia após dia.
Camponeses da Bretanha, aos quais perguntei o significado daquelas pedras colossais, ficaram com um ar de compenetrados, alçaram os ombros e confessaram: "Ninguém sabe de nada!". A confissão franca e sincera do camponês, admitindo que nada sabe, parece-me bem mais honesta do que a estória cristã; prontinha na ponta da língua de certas pessoas, às quais me dirigi e que me contaram o seguinte: São Cornélio, que viveu em meados do terceiro século da era cristã, foi perseguido por legionários romanos. Ao ver-se cercado por seus perseguidores, sem nenhuma chance de escapar, o santo implorou a ajuda de Cristo, que lhe deu forças para transformar os soldados romanos em pedras; as pedras mais altas teriam sido os oficiais. Destarte, a hierarquia militar sobreviveu até nos menires. Fabuloso!
Outra explicação, pouco plausível, é a seguinte: toda a área da atual Bretanha teria sido o santuário dos druidas. Pode ser; mas, os druidas, sacerdotes entre os povos celtas, viveram a sua época áurea no século de Júlio César, ou seja, no último século antes da era cristã. No caso de os druidas terem instalado seu santuário na área ocupada pelos menires, então já teriam encontrado uma instalação pronta e acabada, o que atestaria sua índole de homens práticos e econômicos.
Outra tese que não vinga diz que, na Europa primitiva, ainda não despertada para a realidade histórica, povos nômades teriam quebrado os blocos de pedra, para amontoá-Ias, a exemplo dos orientais que, no Egito e na Babilônia, ergueram seus monumentos em homenagem aos deuses. Quem rezar por esta cartilha deveria lembrar (e saber) que a era dos monumentos megalíticos antecedeu em muito aquela das obras faraônicas e babilônicas, das pirâmides, pois, no mínimo, remonta à última era glacial, ao tempo dos deuses e dos filhos dos deuses.
Aliás, o que, hoje em dia, pode ser visto e apreciado na Bretanha é tão-somente um pálido reflexo daquilo que lá existiu, há dez ou mais milênios atrás. No decorrer dos tempos, as grandes forças niveladoras, a Natureza e o homem, completaram a sua ação destruidora.
Em meados do século passado, espalharam-se rumores na França, dizendo que, no interior dos menires haveria ouro. Em massa, apareceram os caçadores de ouro, munidos de picaretas e martelos pesados; a febre do ouro nada respeitou, fosse o que fosse e, quais maníacos, os homens bateram nas "pedras compridas". As tristes sobras daquela grande batalha pelo ouro ficaram por ali, são menires partidos, rachados, outrora imponentes, e pedras menores, despedaçadas. Hoje em dia, o governo procura proteger os menires contra tais atos de vandalismo. Contudo, adultos e crianças que, diariamente, sobem naquelas pedras e continuam a depredá-Ias, nem tomam conhecimento das respectivas proibições. Para mim, são simplesmente de amargar os monogramas gravados na pedra, por uma gente estúpida que pensa eternizar, assim, o seu nome.
Quando, naqueles dias de um outono maravilhoso, minha filha Cornélia e eu passamos frente aos legionários petrificados, ela perguntou, como eu me perguntei: para que tudo isto?
Qual o significado das pedras dispostas em rigorosas fileiras de três, nove, dez e onze unidades? Seriam campas? Não. Apesar de todas as buscas intensas, não foram encontrados túmulos ao pé ou debaixo dos menires; mas, foram encontradas, em dólmens, tumbas megalíticas, debaixo de colinas de terra, dos quais há mais de 3.500 na França.
Será que, outrora, os menires suportaram um teto e a Bretanha toda era um saguão enorme, vastíssimo? Esta tese fica invalidada pelas alturas variáveis das pedras, bem como pelo resultado de pesquisas que revelaram a inexistência de quaisquer encaixes, orifícios ou protuberâncias, que permitissem juntar ou acoplar dois elementos de construção. Outrossim, a distância entre os menires ou é pequena ou grande demais, para servirem de pilares de um teto. No lugar em que os menires ficam muito perto um do outro, ninguém poderia ter passado debaixo de um teto, com tantas pedras barrando o caminho; e onde ficam muito distantes um do outro, não haveria nem vigas de madeira nem blocos de pedra recortados, de comprimento suficiente para ligar os menires entre si. Por outro lado, como os menires sobreviveram aos milênios - mesmo depredados - teria sido o caso de sobrarem igualmente, pelo menos, uns fragmentos dos tetos de outrora. No entanto, quanto a isto, nada foi encontrado, nem consta.
Tenho um conhecido com o qual me encontro raramente, vez ou outra. Ele gosta de contar piadas, mas, seu repertório é bastante restrito. Invariavelmente, depois dos cumprimentos de praxe, ele costuma perguntar: "Já conhece esta piada?" e, de pronto, eu respondo: "Sim, conheço!", pois, sem dúvida, devo tê-Ia ouvido uma infinidade de vezes. Da mesma forma, quando leio ou ouço que os menires faziam parte de um sistema calendário, digo prontamente "já sei", antes mesmo de ter tomado conhecimento da respectiva teoria.
Na Idade da Pedra, sacerdotes celtas e seus confrades mandavam suas ovelhas apanhar milhares de pedras e lavrá-Ias, segundo instruções específicas, a fim de, com base na "geometria" das pedras ou nas sombras por elas projetadas, determinar a estação do ano que se iniciaria. O astrônomo inglês Fred Hoyle é de parecer que os sacerdotes objetivavam impressionar ou amedrontar o povo com aquelas obras megalíticas. E tal impressão, depois de o próprio povo ter trazido todas aquelas quantidades de pedras, apanhadas de longe e de perto? Decerto, o povo teria ficado impressionado com a previsão de um eclipse solar ou lunar, feita pelos sacerdotes; porém, acontece que as obras não fornecem o menor indício sequer do prognóstico de tais fenômenos, como nada há que indique a sua suposta finalidade de observatório primitivo, um fim indiscutivelmente útil e prático, inclusive naqueles tempos remotos.
Contesto veementemente as usuais teorias de calendário, com base no fato simples e puro de as previsões do tempo e das estações do ano dispensarem obras daquele porte, pois, poderiam ter sido feitas com elementos bem mais modestos. Tais obras (em função de normas desconhecidas) teriam permitido a previsão de uma preamar - que bobagem! As marés cheias costumam ocorrer bimensalmente e são provocadas pela atração da massa, pela Lua; as estações do ano mudam em ritmo eterno. Recuso-me a considerar nossos ancestrais como idiotas que, para obter "previsões" de natureza tão banal, teriam apanhado e amontoado pedras, num trabalho insano, para a construção de "calendários". Chega!
O léxico Knaur, de locuções estrangeiras, "Knaurs Fremdwörter Lexikon", define, cientificamente, o termo axioma como "uma máxima fundamental e convincente, dispensando provas", ou seja, como proposição evidente, da qual podem ser derivadas "hipóteses em torno de noções teóricas", para, novamente, citar o léxico Knaur. Assim, de axioma em axioma, vão sendo estruturados modelos doutrinários, perfeitamente lógicos, em si; e, assim sendo, tomo a liberdade de elaborar o meu próprio modelo de pensamento, fundamentado em axiomas, conforme segue:
1ª. hipótese
Os menires na Bretanha não foram erguidos por pessoas de estatura considerada, hoje, normal. Exposição de motivos: o peso e o elevado número de pedras.
2ª. hipótese
Os menires foram construídos antes do término da última era glacial. Exposição de motivos: fileiras de pedras, em linha reta, desaparecem nas profundezas do golfo de Morbihan.
3ª. hipótese As obras de construção eram racionalmente planejadas e executadas. Exposição de motivos: os menires não foram dispostos a esmo, casualmente. Estes três axiomas suscitam novas perguntas e dão margem a conclusões. Quem, em fins da última era glacial, teria possuído as forças físicas e capacidades mentais para criar monumentos tão gigantescos, com milhares de menires?
Gigantes!
Tradições de tempos remotíssimos, pré-históricos, documentam a existência de gigantes na Terra, os quais, segundo as datações atuais, teriam vivido na última era glacial, em fins da fase do gelo. Eles teriam tido tanto as forças físicas como as faculdades mentais necessárias à construção daqueles monumentos.
Surge, então, a pergunta: de que raça e descendência eram os gigantes? As mitologias e tradições religiosas afirmam que os gigantes foram os descendentes dos deuses.
E ainda outra pergunta: eram os gigantes inteligentes ou simplórios? Se eram inteligentes, a sua inteligência poderia ser julgada pelas obras que nos legaram. Por outro lado, resta saber se os monumentos megalíticos, como aqueles na Bretanha, teriam servido para uma finalidade inteligente ou se eram tão-somente obras produzidas no decurso de uma terapia ocupacional, sem cunho especificamente inteligente.
Ora, o próprio padrão racional revelado pelos monumentos prova que sua construção obedeceu às linhas mestras de um plano específico. Ora, quem sabe planejar, é inteligente. Logo, este axioma permite a seguinte conclusão: gigantes inteligentes cortaram da rocha milhares de menires, carregaram as pedras pesadas até um determinado local e ali as ergueram em fileiras rígidas.
Qual teria sido a meta visada com este trabalho?
Rudolf Kutzer, engenheiro alemão de Kulmbach, Alemanha Federal, arriscou uma conjetura audaz. Para Kutzer, a disposição dos menires sugere uma antena de sinalização, em posição horizontal que, eventualmente, teria sido ligada a uma estação amplificadora de energia cósmica.
Será que existiriam pontos de referência, a favor de uma afirmação temerária como esta?
Em sua totalidade, os menires são de rocha contendo quartzo; alguns deles apresentam também traços de ferro. O quartzo, chamado também cristal de rocha, é um dos minérios mais duros, por ser um mineral trigonal, contendo o elemento químico do óxido de silício.
Quem, porventura, desconheceu as qualidades específicas do quartzo, delas deve ter ouvido falar, através da nova geração de relógios. Em 1880, Pierre e Jacques Curie pesquisaram o comportamento elétrico de cristais, a assim chamada piezeletricidade, que ocorre em cristais de quartzo, quando sujeitos a pressão, repuxamento ou rotação dirigidos. Essas energias mínimas garantem o funcionamento de um relógio, durante um ano ou mais.
Em criança, brincamos com pequenos cristais de quartzo, quando montamos os nossos receptores de rádio. Com agulhas de ponta finíssima tateamos a pedrinha de quartzo e quando tocamos em um certo ponto, ouvimos um zunido em nossos fones de cabeça; como se fosse de bem longe, captamos uma transmissora bem perto de nós. O que teria acontecido a nós, radioamador-mirins?
A exemplo de uma antena, o quartzo capta vibrações, para liberá-Ias, concentradas, em um determinado ponto. Após buscas intensas, nós, radioamador-mirins, encontramos o tal ponto, que, sem qualquer amplificação elétrica, levava as freqüências irradiadas. até os nossos ouvidos.
Esta qualidade específica dos quartzos levou o eng. Kotzer a perguntar: será que os menires, supostamente ligados entre si, estavam "carregados", de uma maneira ou de outra? Talvez "estimulados" por um tipo de energia desconhecida de nós? Teriam liberado vibrações? Ou captaram vibrações do cosmo? A esta altura, tais perguntas não têm resposta. Mas, o que é que nós, pobres mortais, sabemos agora das possibilidades de uma futura tecnologia que, para os extraterrestres, era do passado? Sempre prontos e dispostos a encarar e compreender as coisas do passado única e exclusivamente através da lógica atual, perdemos tudo quanto não se enquadra na imagem, frequentemente ilusória, dos axiomas herdados e arraigados em nossa mente.
Em todo o mundo e de uma maneira bem típica, os cabos telefônicos costumam ser presos a postes de madeira, embora se saiba que a madeira não é uma matéria-prima, de resistência suficiente para sobreviver aos séculos. A madeira se decompõe, apodrece, é altamente combustível, mas, apesar disso, em toda parte, postes telefônicos de madeira continuam sendo fincados no chão, em bases de concreto.
Daqui a cinco milênios - arqueólogos trabalhando. Por montes e vales, eles escavam da terra blocos de concreto, com depressões circulares. As respectivas análises revelam a presença de restos de madeira, nos poros do concreto.
A disposição bem ordenada e rigorosamente executada dos blocos de concreto leva-os a supor que nossos antepassados (por volta do segundo milênio d.C.) praticaram um culto, que atribuiu significado bastante expressivo àquelas fileiras de blocos de concreto. Do contrário, os contemporâneos não se teriam dado ao trabalho insano de colocar aqueles blocos pesados, por toda parte, atravessando países e continentes. Há outra tese, que contesta esta primeira, a qual diz que os blocos de concreto, dispostos em filas, teriam servido para a sinalização de estradas, ajudando na orientação e direção das migrações populacionais. Ademais, também no ano 7.000 d.C. acabará, surgindo, como não poderia deixar de ser, a eterna teoria do calendário.
No entanto, há um porém: os restos de madeira não se enquadram em nenhuma das teorias levantadas e deixam muitas dúvidas a seu respeito. Ouvem-se opiniões, segundo as quais nos blocos de concreto teriam sido presas tochas; que a madeira teria ficado imersa numa solução combustível e, depois, acesa. Contudo, antes que esta teoria passe para a literatura especializada, oficiosa, alguns espíritos críticos qualificam-na de pouco inteligente, visto que blocos de cimento se encontram muito perto um do outro, para servirem de base a sinais de fogo, como meio de comunicação. Quando um jovem arqueólogo opina que podem ter sido postes de telefone, todo mundo protesta. Alega-se que o homem de fins do segundo milênio já estava bastante avançado e que dominava uma tecnologia bem adiantada; em primeiro lugar, ele conheceu a telegrafia e a telefonia sem fio e, em segundo lugar, não poderia ter feito de madeira seus postes de telefone, considerando que, para aquela época, achados diversos comprovaram o uso de vários tipos de metal.
Com base nesta e em outras versões análogas, no ano 7000 d.C., comprova-se "inequivocamente" que os blocos de cimento na terra não podem ter servido para segurar postes de telefone, feitos de madeira, já que esses nem existiram, por volta de 2000 d.C.
E a nossa lógica hodierna é porventura mais concluente?
Ao escrever esta passagem, ouço, detrás da minha cadeira, uma voz que me sussurra ao. ouvido, com uma ponta de ironia: "Você não vai dizer que gigantes da era megalítica teriam amontoado pedras para a instalação de uma antena gigantesca! Se os gigantes, os seus gigantes, tivessem tido a menor idéia que fosse como funciona uma antena, decerto teriam empregado quaisquer metais, ao invés daquelas pedras compridas!" Quanta lógica encerra esta lógica?
É lógico, quando, hoje em dia, implantamos uma floresta de antenas, igual à planejada pela NASA, nos EUA, para o seu "project Cyclops", usamos metais. O Centro de Pesquisas Ames, da NASA, programou uma imensa área de estacionamento, com 1.500 antenas dirigíveis, de 100 m de antenas do "Project Cyclops" estará enferrujado, decomposto em seus átomos, lavado pelas chuvas e levado pelo vento. O que diâmetro cada uma. Essas antenas gigantescas estão fincadas em milhares de blocos de concreto, mas, daqui a milênios, até o metal das será que fica? Tão-somente os milhares de blocos de concreto, geometricamente dispostos no c de antena. Quem sabe? Será que a primeira geração dos filhos do hão. O próprio solo, de alta dureza, protegeu-os contra a corrosão.
Quem sabe se futuras gerações de técnicos não acabarão inventando um sistema que permita emissão e captação de sinais do universo, sem antenas metálicas. Talvez façam vibrar uma montanha de cristal de rocha e usem-na a título de antena. Quem sabe? Será que a primeira geração dos filhos dos deuses - após a presença dos extraterrestres na Terra, os construtores dos monumentais menires - chegou a conhecer tal processo? Ainda que fossem, então, muitíssimo adiantados no emprego da piezeletricidade dos quartzos, teriam eles dominado uma técnica muito superior àquela que nós praticamos, nesta nossa fase de progresso?
Quem sabe?
Sei que as minhas especulações são arriscadas e que as linhas de conexão entre os meus axiomas ainda carecem de estabilidade. Se todo mundo praticasse a modéstia intelectual e obedecesse ao ditame do velho Sócrates, aliás, de uma sabedoria insuperável: "Eu sei que nada sei e que dificilmente ..." todos nós estaríamos muito bem servidos. Em todo caso, como são ultrapassadas e sem lógica todas as teses até agora levantadas quanto ao significado e fim dos menires, acho que não pode haver mal algum em propor mais outros incentivos mentais, .recuando no passado e adentrando o futuro. Haveria mais outra opção utópica, além daquela que convida a refletir sobre a versão das antenas?
Por vezes, uma coisinha de nada pode estabelecer os nexos.
Quase todos os menires diminuem de diâmetro, acima do seu embasamento. Seria lícito pensar que os construtores adelgaçaram a ponta das pedras compridas, a ser fincada no solo. Esta conjetura parece plausível; porém, ela me impressiona como pouco lógica, por duas razões.
Consoante os ditames da Mecânica, tratando do equilíbrio dos corpos, os menires pesados têm maior estabilidade no solo, quando nele são colocados com a sua base quadrada, do que com uma ponta adelgaçada. Um estudioso da matéria explicou-me a respeito: os fatores solo plano, mais base plana da pedra, mais elevado peso próprio, garantem a estabilidade. Este princípio prevalece também no atual sistema de construção dos arranha-céus, que emprega pilares de concreto armado, fundido. As pirâmides vão se adelgaçando até a ponta e têm o seu diâmetro maior embaixo, na base enterrada no solo; do contrário, cairiam para o lado. O menir "comum" obedece ao princípio das pirâmides; o seu diâmetro maior fica embaixo; ele permanece de pé, no lugar em que for plantado, em solo plano. Se fosse adelgaçado em sua base, esta teria a sua área reduzida e, portanto, ficaria prejudicada a estabilidade do seu embasamento, dos seus alicerceres. Além de adelgaçados embaixo, os menires na Bretanha, apresentam, ainda, debaixo da terra, sulcos serpentiformes, considerados como adornos. Mas, por favor - adornos ornamentais, debaixo da terra, onde ninguém pode apreciá-Ios?
Será que, outrora, por aqueles sulcos ornamentais passou um metal que ligava os menires entre si? No contexto da especulação do eng. Kutzer, é possível que tais ligações fossem necessárias para o funcionamento de uma "floresta de antenas". Somente o enfeixamento da eletricidade em menires contendo quartzo é que teria produzido um efeito. Decerto, em sua ponta superior não estavam ligados um ao outro para tanto, falta todo e qualquer indício - embora aqueles adornos esquisitos dêem margem a tal hipótese. Apenas os entalhes conservaram-se até hoje. Não ficou o menor vestígio sequer de cobre (ou outro metal), nenhum sinal de suportes ou apoios. Será que, com isto, a idéia das antenas ficaria eliminada, tornar-se-ia sem efeito?
Pensemos em um pára-raios, cujos condutores metálicos, ligados à terra, para desviar as descargas elétricas atmosféricas, ficam muito mais sujeitos à corrosão do que aqueles ligados ao telhado, apesar de lá ficarem expostos às intempéries. Por que, solo adentro, as partes metálicas enferrujam e se decompõem bem mais depressa?
Duas peças metálicas, de metais distintos, ligados entre si, formam, com uma solução ácida, um assim chamado elemento galvânico. Por todo elemento galvânico (elétrico) passam correntes de íones, de maneira a decompor o metal menos nobre, no âmbito da tensão eletrolítica. Quanto maior a diferença entre o metal nobre e o menos nobre, com um agindo sobre o outro, em uma solução ácida, tanto mais radicalmente o metal menos nobre é agredido e decomposto.
Magnésio (símbolo Mg), alumínio (AI), manganês (Mn), zinco (Zn), cromo (Cr), ferro (Fe), níquel (Ni), estanho (Sn), chumbo (Pb), cobre (Cu) e prata (Ag) dariam uma série de metais que, numa solução ácida, invariavelmente destruiriam o metal menos nobre. Usando um símbolo negativo para os metais menos nobres e um positivo para os mais nobres, teríamos o seguinte quadro:
- Mg, AI, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, Cu, Ag +
Já que os metais, mais a solução ácida, produzem um campo galvânico, uma corrente de íones, na qual se decompõem os metais que se encontram no seu âmbito, no caso de metais enterrados no solo está faltando a "solução ácida", visto que a água das chuvas tem pouca acidez.
Outrossim, a corrente corrosiva origina-se com a ação de um eletrodo, misturado ao concreto e outro eletrodo, que termina solo adentro. O ferro no concreto transforma-se em catodo e o metal, debaixo da terra, em anodo. Com a decomposição dos íones, o anodo é destruído, diluído a longo prazo. Com base nas modernas medições das correntes corrosivas, é possível calcular a perda em gramas de um metal em decomposição, dentro de um determinado prazo.
Eis a conclusão lógica: se, outrora, os menires, de elevado teor de quartzo, estivessem ligados entre si por metais, no decorrer dos milênios o metal enterrado no solo, se teria dissolvido em nada, porque as pedras, contendo quartzo, teriam agido como cátodo. Resta ainda mencionar que, debaixo da terra, tais correntes de íons não passam apenas em linha reta, de um monólito para outro, mas evoluem também em círculos. Um único catodo potente, nas proximidades dos grupos de menires, teria sido o suficiente para dissolver os metais, ao longo dos milênios.
A tese, segundo a qual a finalidade dos menires seria de ordem tecnológica, nem se apresenta tão aberrante assim, no contexto dos dólmens. "Dólmen", termo celta, quer dizer mesa de pedra: doI = mesa; men = pedra.
Há grandes sortimentos de mesas de pedra. Ora dois blocos monolíticos suportam uma tampa enorme de granito; ora várias tampas repousam sobre blocos de pedras menores; ora mais de dez tampas formam verdadeiros corredores de dolmens; ora as mesas de pedra estão encobertas por outeiros de terra, artificialmente criados, a exemplo das câmaras sepulcrais.
Dado que os menires pouco revelaram do significado e finalidade da sua existência, ficamos longe de solucionar o enigma dos dólmens. Aliás, debaixo de muitos dólmens foram encontrados túmulos e ossadas, que não datam da era megalítica; aparentemente, na posterior Idade do Bronze, os habitantes da Bretanha teriam escolhido os dolmens, então já existentes, como sua última morada. Quando indagamos a respeito, os camponeses dizem que os dolmens eram "mesas para gigantes". Forçosamente" tal resposta evoca um novo paradoxo, considerando-se que os corredores de dólmens seriam muito baixos para gigantes e apropriados tão-somente para anões que, no entanto, não poderiam ter reunido as forças físicas necessárias para manejar aqueles blocos pesadíssimos. Por outro lado, os grandes dólmens, avulsos, de Rostudel, no Cap de Ia Chèvre, bem sugerem "móveis" para gigantes; quem sabe se outrora não eram cobertos de terra, que foi lavada no decorrer dos milênios. Não o sabemos. Porém, caso as fileiras de menires servissem para uma finalidade técnica, na era megalítica, devem ter sido relacionados com os dólmens; talvez, embaixo dos dólmens houvesse "algo" a ser protegido; ou, por outro lado, quem sabe se não serviram para proteger o ambiente contra "algo"?
Por fim, chegou aquele dia longínquo quando, por razões inexplicáveis (esta hipótese não é de minha autoria!) os planejadores e construtores das obras megalíticas desapareceram ou morreram. Para seus descendentes ficou tão-somente uma perplexidade absoluta, pois, até o dia de hoje, ninguém faz a menor idéia sequer daquilo que se passou milênios atrás. Será que os pósteros solucionarão o enigma, no dia de amanhã?
Notas
James Oberg, cientista norte-americano, especializado na tecnologia científica do vôo espacial, tem certeza absoluta de que, daqui a somente 15 anos, podemos contar com a existência de "colônias permanentes", soviéticas, no espaço sideral. Aquelas cidades satélites, em órbita espacial, seriam habitadas por famílias, cujo modo de vida diferiria muito pouco daquele que levaram aqui, na Terra. Oberg acha que os primeiros imigrantes, deslocando-se da Europa para as Américas, precisaram de muito mais ânimo e espírito pioneiro do que os futuros habitantes do cosmo.
James Oberg não é um sonhador qualquer, mas, sim, trabalha no Instituto de Astronáutica e Aeronáutica, como perito em vôo espacial soviético, e prevê:
"Naves espaciais, levando a bordo homens e mulheres, orbitarão a Terra, por um período de tempo suficientemente prolongado para muitos dentre eles chegarem a considerar-se como habitantes permanentes do espaço sideral, sem a menor vontade de voltar ao planeta Terra".
O astrônomo russo, de renome internacional, Josif Shklovskij dá mais um passo à frente, ao vaticinar que, nos próximos 250 anos, biosferas artificiais serão instaladas no espaço, em cujo âmbito poderão viver até dez bilhões de pessoas. E tampouco Shklovskij é um cientista qualquer, mas trata-se de chefe do Depto. de Radioastronomia do Instituto Sternberg, em Moscou, e é membro correspondente da Academia das Ciências. Este cientista, altamente qualificado, é de parecer que, na instalação das colônias siderais, serão empregadas matérias-primas, obtidas na Lua, em asteróides e outros planetas. Ele diz a este respeito:
"A instalação de mundos artificiais, no espaço, é inevitável. Uma vez iniciada a migração dos terrestres para o cosmo, ela tornar-se-á de igual modo irreversível, com a descoberta, colonização e exploração das terras novas, na época das grandes descobertas históricas.”
Shklovskij tem a certeza de que a humanidade colonizará todo o nosso sistema planetário e, inevitavelmente, começará a penetrar nas dimensões além da Via-Láctea, pois:
"Somente a colonização do espaço cósmico oferece a solução, a longo prazo, dos problemas da humanidade, considerando que já foi matematicamente comprovada a total impossibilidade de evitar uma crise mundial, mediante a adoção de uma estratégia, que vise estabelecer o equilíbrio global, através do crescimento populacional limitado.”
A HISTÓRIA SE REPETE
Garudah, o príncipe dos pássaros - Com a "Garuda” de Bali para Singapura - Xiva, salvador e destruidor - Tântalo e o segredo traído - A lâmpada maravilhosa de Aladim elucida os mistérios das partículas atômicas - Relâmpagos divinos, funcionando como arma secreta. Uma mensagem totalmente ininteligível? - O boné mágico, em vias de confecção - Um exemplo que, Deus queira continue utopia - A aventura magna dos sobreviventes - Pictogramas, inventados há eternidades atrás.
Quando destaquei da folhinha a folha de ontem, 7 de dezembro, li, impresso no verso, a seguinte sabedoria cotidiana:
"Necessitamos da utopia. Sem utopia o mundo jamais mudará.”
Esta frase é da autoria do poeta norte-americano Thornton Wilder, falecido alguns anos atrás.
A folhinha de hoje, marcando o dia 8 de dezembro, leva impressa, no verso, a seguinte máxima de Johann Wolfgang von Goethe:
"Tudo quanto tiver de inteligente, já foi pensado, em outra época anterior; é preciso tentar pensá-Io mais uma vez.”
Se uma editora de calendários e agendas me pedisse uma frase para ser impressa no verso das folhinhas, gostaria de escrever em letras garrafais:
TODA A HISTÓRIA SE REPETE.
Não importa a data em que esta frase for lida, pois ela é plenamente válida, em qualquer dia de mês ou ano.
A mitologia hindu destaca Garudah, como o príncipe de todas as aves. Era representado, por assim dizer, como um pássaro de finalidades múltiplas, pois aparece de asas e bico de águia, mas de corpo humano. Aliás, o seu físico deve ter sido bem forte, porquanto, do contrário, não poderia ter servido de montaria ao deus Vixnu.
A essa ave notável eram atribuídas qualidades extraordinárias: era altamente inteligente, agia de maneira autônoma, conduzia "guerras e ganhava batalhas. Até se conhecem os nomes dos seus genitores, Kasyilta e Vinata; a mãe, Vinata, botou o ovo do qual saiu Garudah. Logo, tudo começou normalmente. É o que parece.
O rosto de Garudah era branco, seu corpo vermelho e suas asas, da cor do ouro. Faria ótima figura em qualquer obra de ornitologia... só que lá não se enquadraria, de modo algum!
Pois:
Quando Garudah alçou as asas, a terra estremeceu, porque, então, ele levantou vôo rumo ao universo.
Ademais, tinha uma certa mania: não suportava serpentes e, para tanto, tinha razões de sobra e bem válidas.
A sua mãe Vinata ficou prisioneira de serpentes, por causa de uma aposta que perdeu. As serpentes prometeram soltar a mãe, quando o filho lhes oferecesse uma taça cheia de Ambrósia, o alimento dos deuses, que conferia imortalidade a quem dele comesse. A fim de comprar a liberdade da mãe, o filho valente não poupou esforços e não deixou de tentar tudo quanto era possível, para conseguir o tal alimento divino, dificílimo de obter, pois se encontrava no topo de uma montanha dos deuses, envolta num mar de chamas. Mas, Garudah teve uma idéia genial para contornar esta situação complicada. Contam as tradições que ele procurou os rios da sua terra e encheu de água o seu corpo dourado a ponto de lograr extinguir, parcialmente, as chamas e abrir uma brecha na cerca de fogo, que circundava a montanha dos deuses; e assim pôde aproximar-se dela. Porém, no topo daquela montanha havia um grande número de serpentes, que vomitavam fogo e queriam barrar a sua aterrissagem. E, novamente, Garudah teve uma idéia feliz: ele fez subir nuvens de poeira e as serpentes perderam-no de vista. Em seguida e que espetáculo! - jogou "ovos divinos" sobre as serpentes, que, com esse bombardeio, ficaram dilaceradas. Garudah deve ter cortado a língua de algumas serpentes, que chegaram perto demais dele. E compreensível tal atitude de fúria, tomada pelo herói.
Logo após ter libertado a mãe, essa ave milagrosa e muito empreendedora tornou a levantar vôo, desta vez, rumo à Lua. Mas a Lua era posse de deuses alienígenas que, em absoluto, não desejavam a presença de Garudah nos seus domínios e lhe deram combate violento. Acontece que Garudah tinha o corpo "fechado" e as armas dos deuses lunares nada podiam contra ele; ele era intocável. Logo que os deuses da Lua perceberam este detalhe, ofereceram um acordo a Garudah; ele deveria tornar-se imortal e servir de montaria ao deus Vixnu, o qual, por seu poder ilimitado, superava todas as demais divindades. Desde então, Vixnu "o que penetra em tudo", passou pelos mitos, montado em Garudah.
No outono, também eu voei com a GARUDA, de Bali a Singapura. GARUDA é o nome da companhia de aviação da Indonésia. Falaram-me que, conhecedores dos atributos gloriosos da ave Garudah, os indonésios procuraram granjear fama, dando o nome de GARUDA à sua companhia de transporte aéreo.
No elenco das qualificações desta ave mitológica, posso citar os seguintes dados específicos:
- Garudah era capaz de voar, seguindo uma rota inteligentemente planejada
- Garudah podia abastecer-se de água
- Garudah conseguia extinguir o fogo
- Garudah sabia nebulizar (mediante canhões de laser?), em serpentes que vomitavam fogo
- Garudah semeava a destruição, jogando "ovos divinos” (bombas?)
- Garudah voava fora e dentro da atmosfera (até a Lua)
- Garudah era imune a armas desconhecidas, mas poderosas.
Tudo isso é realmente muito esquisito.
A ave que levou para o cosmo Etana, o herói babilônico, também foi descrita como uma águia. E o primeiro módulo tripulado que tocou o solo da Lua se chamava "Eagle" = Águia!
Será que a história se repete?
Quem era Xiva? O que é Xiva? As respostas a estas duas perguntas vêm revelar panos de fundo inquietantes.
Xiva era um dos deuses principais, que os Vedas, o conjunto dos livros sagrados dos hindus descreviam com grande riqueza de detalhes. Sua morada fixa ficava no topo do monte Kailasa, na cordilheira do Himalaia. Seu nome, em sânscrito, quer dizer "o bondoso", "o amistoso". Essas qualidades devem ter prevalecido em sua índole, pois a tradição lhe atribui tanto qualidades de um deus da destruição, como de um salvador.
O aspecto externo de Xiva deve ter sido bastante sinistro. Em quase todas as efígies, ele aparece de corpo nu ou coberto de uma pele bem feia, lembrando um asceta, todo pintado de cinzas de cadáveres, com o cabelo enrolado na cabeça, em tranças, completamente descuidado. E, além do mais, nas imagens, Xiva é representado com cinco rostos, quatro braços e três olhos!
O terceiro olho fica bem no meio da testa. Rezam os Vedas que, com este olho, Xiva não só conseguia enxergar, mas também destruir: era só fixar o inimigo, que um jato de fogo jorrava deste seu perigoso terceiro olho!
Mas, não ficou somente nisto. Da mesma forma eram perigosas a sua língua e goela azuis. Quando deuses-serpentes contaminaram a água, Xiva, assistido por sua esposa Parwati, conseguiu filtrar a água contaminada, fazendo-a passar por sua boca; depois disso, sua língua e goela ficaram azuis.
Xiva era tido como invencível e, logo que passou a ser venerado, mostrou-se bondoso e meigo.
Certa vez, algumas divindades, chefiadas por Indra, foram atacadas pelos Asuras, outro grupo de deuses da antiga mitologia hindu. Apesar de o deus-herói Indra ter arremessado contra os inimigos a sua vadshra, uma clava respeitável, viu-se em tamanho apuro a ponto de ser obrigado a pedir socorro a Xiva. De vez que fora implorado com insistência, Xiva não pôde negar-se a prestar auxílio e então pôs a sua força imensa à disposição dos deuses chefiados por Indra.
Disse-Ihes que seriam capazes de 'vencer os Asuras com uma única flechada de fogo. Mas, nem Indra, nem seus combatentes reuniam condições que pudessem captar e armazenar ainda que fosse a metade da potência de Xiva. Ao verificar esta situação, Xiva propôs-Ihes que transferissem a ele a metade da sua própria força, o que fizeram;' e no mesmo instante Xiva venceu os Asuras. No entanto, após a vitória sobre o inimigo, Xiva negou-se a devolver aos deuses de Indra aquela parcela de potência, que havia tomado emprestado e, assim, daí por diante, passou a ser o mais forte de todos os deuses.
No arsenal de Xiva havia ainda o Pinaka, um tridente que, segundo os relatos, era um lança-chamas; ademais, havia uma espada, um arco ... e três serpentes que se enrolavam no seu corpo e protegiam-no em determinadas partes, como: a cabeça, os ombros e os quadris. É lógico, a parte dos quadris requeria cuidados especiais, pois o falo era o símbolo de Xiva, criador de vida nova - também chamado de lingam - repositório da força criadora.
Acentuando ora suas aptidões de gerador, ora de exterminador, Xiva apreciava a dança alegre e a dança triste, a dança do "eterno movimento do Universo". Quando Xiva, em pessoa, dançava a dança da "verdade cósmica", ficava envolto numa auréola e era acompanhado de fantasmas.
Tudo isto era Xiva; tudo isto e ainda mais pôde fazer o "deus do universo". Convém tomar conhecimento exato desses atributos e, também, ler nas entrelinhas.
O que é Xiva? - O mais potente canhão de laser do mundo!
Encontra-se em Livermore, um pequeno subúrbio de San Francisco, na Califórnia; Xiva custou mais do que seu antepassado divino, a saber, USS30 milhões! O XIVA em Livermore é capaz de disparar 20 raios laser na fração de um bilionésimo de segundo, para um alvo do tamanho de um grão de areia. A sua potência energética é de 26 milhões de megawatts. A título de comparação, é interessante frisar que uma usina atômica, de tipo normal, em funcionamento permanente, gera uns 1.000 mega-watts de energia.
A exemplo do Xiva mitológico, o XIVA moderno funciona como força destruidora e salvadora. O "nosso" XIVA pode dar ignição a bombas de hidrogênio e fazê-Ias explodir, mesmo antes de semearem a desgraça. O "nosso" XIVA pode chegar a solucionar todos os problemas energéticos, de uma só vez, mediante a fusão nuclear de hidrogênio e hélio. A meta sonhada e almejada por todos os físicos nucleares é o reator de fusão, que funde o hidrogênio e o hélio.
O que acontece em Livermore?
Os raios laser do XIVA hodierno visam uma minúscula bolinha de vidro, que encerra uma mistura gaseiforme de deutério e trítio, os isótopos. do hidrogênio. Quando 'toda a carga acumulada dos raios laser acerta. o seu alvo, aquela mistura desmorona com uma intensidade tão incrível que, no ato, libera milhões de graus de calor. O "X" da experiência é o fato de, a temperaturas tão elevadas, os átomos de hidrogênio se fundirem e formarem o hélio! O resto é simples, dizem os pesquisadores; conforme acontece com os atuais reatores nucleares, a energia liberada é transformada em vapor de água, que propulsiona as turbinas.
Os "criadores" do XIVA hodierno são os cientistas do Laboratório Lawrence Livermore, da Universidade da Califórnia. Desta maneira, eles têm a certeza de resolver o problema energético até fins deste nosso milênio. Então, dizem, bastarão alguns litros de água para abastecer de energia uma cidade toda, graças ao XIVA onipotente.
A história se repete.
Tântalo era filho de Zeus... e um traidor! Na sua qualidade de filho de um deus e rei da Lídia, Tântalo tinha o privilégio de sentar-se à mesa com os deuses, para comer ... e ouvir as suas conversas. Ao invés de usar de discrição, como era de se esperar de um favorito e confidente dos grandes e poderosos, ele revelou os segredos dos imortais a seus amigos mortais. Com isso, o seu prestígio com os terrenos não parou de aumentar; os humanos consideraram-no um eleito, fonte de notícias fora de série, alguém que podia ver claramente o que se passava por trás dos bastidores.
A fim de continuar nas boas graças dos seus mentores divinos, Tântalo serviu-Ihes em repasto os membros do seu próprio filho Pélope, para verificar e testar a sua divindade. No entanto, antes de terem provado a comida, os deuses perceberam o sacrilégio e ressuscitaram Pélope, fazendo-o voltar à companhia dos mortais. Tântalo, o pai desalmado, foi condenado ao Hades, onde deveria viver, doravante, para sofrer os suplícios mais atrozes. Lá embaixo, na escuridão e umidade, Tântalo viveu seus proverbiais suplícios; ele ficou bem dentro de uma água clara e límpida, que lhe fugia dos lábios, quando dela queria beber, e debaixo de árvores carregadas de frutos, que lhe escapavam, quando pretendia colhê-Ios; além disso, bem acima dele havia uma grande rocha, pronta a despencar a qualquer instante e soterrar o traidor. Sofrendo esses três suplícios - sede, fome, agonia - Tântalo pagou pelo seu crime de ter traído os segredos dos deuses. .
Por sua vez, o TÂNTALUS moderno está para desvendar segredos incríveis, por força da pesquisa. Cientistas da Universidade de Wisconsin, EUA, batizaram de TÂNTALUS uma máquina complicadíssima, sofisticadíssima, capaz de acelerar elétrons para a quase velocidade da luz. As partículas assim aceleradas emitem uma luz estranhamente azulada, que se convencionou chamar de radiação sincrótron, mais dura do que os raios X, em sua mais alta concentração; ela penetra e traspassa a estrutura de moléculas e átomos!
Com isso, está sendo arrancado ao universo um dos seus segredos máximos. O mundo atômico, até agora invisível ao olho humano, nos seus nexos e vínculos, está para tornar-se visível, a matéria vem sendo desnudada, revelada em toda a sua constituição, até seus átomos. TÂNTALUS, a máquina, está para desvendar segredos divinos; ela nos ensina a compreender a matéria na sua própria constituição e mostra-nos como multiplicá-Ia. Estamos olhando por cima dos ombros dos deuses.
Uma velha estória está se repetindo.
A esta altura, os guardiões dos segredos cósmicos já tiveram de desvendar mais outro dos seus mistérios. A máquina TÂNTALUS está superada!
Aquilo que interessa agora, já foi mencionado, muito tempo atrás, num dos "Contos de Mil e Uma Noites": é a lâmpada maravilhosa de Aladim. Naquela estória, conhecidíssima em todo o mundo, um mago manda Aladim descer para uma abóbada subterrânea, onde deve apanhar a lâmpada maravilhosa. Quem friccionasse a lâmpada, teria satisfeito todo e qualquer dos seus desejos. Quando Aladim, percebeu tudo aquilo de que a lâmpada era capaz, não a devolveu mais, fez com que todas as suas ambições fossem satisfeitas, casou-se com uma princesa e com ela viveu feliz, até morrer.
Há um objeto que leva o nome ALADDIN... e que, presentemente, está sendo elaborado no Laboratório Nacional de Brookhaven que, para isso, recebeu verbas generosas.
Dizem que a radiação emitida por ALADDIN seria cem vezes mais potente do que aquela de TÂNTALUS, em Wisconsin! A nova lâmpada maravilhosa está para revelar os segredos por trás das partículas atômicas. Talvez aqueles trabalhos cheguem a demonstrar como a matéria pode ser decomposta, como transferir a radiação para um outro local para lá, então, recompor o original anteriormente abandonado. Graças à sua lâmpada, Aladim conseguiu satisfazer seus desejos mais ambiciosos e fez surgir do nada palácios e pessoas. Eventualmente, o seu futuro sucessor, lá dos arredores de Nova York, também logrará tais feitos; para tanto, os primeiros passos já foram dados.
Num futuro longínquo, a matéria poderá ser transportada, sem meios de transporte; os atuais aviões, navios, estradas de ferro e automóveis ficarão obsoletos, cairão em desuso. Mediante truques de filmagem, o cinema de ficção científica já está mostrando aquilo que poderia tornar-se realidade, transportando pessoas para a superfície planetária, por meio de uma radiação dirigida.
Essa meta deverá ser alcançada, ao término daquelas pesquisas. A exemplo de uma câmara de TV, que vai tateando a imagem, decompondo-a em milhares de pontinhos minúsculos, que, depois, se recompõem, formando a imagem no vídeo, um feixe de raios duros tateará corpos sólidos, de qualquer espécie, que decomporá em suas moléculas e seus átomos, para, com a velocidade da luz, transportar estes últimos para um outro lugar, onde serão recompostos, segundo a imagem original tateada. A radiação de ALADIM, da lâmpada maravilhosa, cria as condições prévias para a concretização de tais maravilhas. Os contos de fada passam a ser relatos de acontecimentos reais, efetivos.
Quase todos os antigos povos civilizados praticaram o culto ao Sol. Na Suméria havia o deus do Sol, Utu, que passou o comando a seu colega Shamach, símbolo das forças benéficas do Sol. Os egípcios veneravam Rá, como o seu deus do sol, cujo nome até foi adotado por outros deuses, para legitimar-se como criadores, conforme aconteceu, por exemplo, com Âmon-Ra. A partir de Quéfren, da 4ª. dinastia, os próprios reis se consideravam "filhos de Rá". Em todos os maiores centros urbanos havia santuários dedicados ao Sol.
A veneração do Sol também caracterizava o culto dos incas, cujos soberanos eram considerados descendentes do rei do Sol, Inti, e foram chamados "filhos do Sol". Os antigos gregos cultuaram seu deus do sol, Hélio, em cuja homenagem ergueram santuários suntuosos, na ilha de Rodes. Para simplificar as coisas, os antigos romanos logo deram o nome latino - SOL - ao seu patrono da luz e da claridade.
A idéia do culto ao Sol, foi motivada pela força vital e criadora do astro máximo do nosso sistema planetário, que irradia luz e calor e promove o crescimento de todos os seres vivos, do homem, do animal e dos vegetais. Sabia-se perfeitamente bem que, sem o Sol, nada seria feito, sem a sua luz, o seu brilho, a Terra enrijaria no frio e gelo e toda vida se apagaria.
No ano da graça de 1979, nós nos encontramos no limiar de um novo culto ao Sol, envolvendo os quatro cantos do nosso globo. Novamente, erguem-se santuários para neles ser celebrado este culto abrangente, de molde a encher a nossa alma de esperança. Por toda a parte, no mundo inteiro, a energia solar deverá substituir a energia nuclear, tão injustamente condenada.
Há dez anos que está em pleno funcionamento o primeiro "templo do Sol", perto da cidadezinha de Odeillo, nos Pireneus franceses; com tempo bom, o Sol brilhando, pode gerar calor até 3.000 graus. As grandes multinacionais norte-americanas, como a Boeing, McDonnel, Douglas, Exxon; as firmas alemãs, como Dornier, Messerschmidt-Bölkow, as suíças, como a BBC ou o Instituto Holon, israelense, competem com os soviéticos no certame da elaboração da mais avançada tecnologia solar. Ao cabo dessas pesquisas intensas e contínuas, teremos satélites gigantescos, capazes de captar milhares de mega-watts de energia solar, a serem conduzidos para os "templos centrais", as usinas de energia solar e lá processados. Dizem que não tardará a chegar o dia em que as instalações industriais, bem como todas as utilidades domésticas serão propulsionadas pela energia solar.
Será que a aplicação da energia solar não implica em risco algum? Implica, sim, porque nenhuma geração de energia está isenta de riscos, só que os adeptos hodiernos do Sol não os mencionam, por conveniência. Por ora, empenham-se em condenar, por razões ideológicas, não materiais, a energia mais limpa, aquela gerada pelo átomo. Assim sendo, é só rezar: ó, Sol, continue mandando brasa em cima de nós!
No entanto, se, por um motivo qualquer, um jato de microondas deixasse de acertar as imensas antenas receptoras, na Terra, o efeito seria devastador. Como as microondas, em feixes, destroem a estrutura celular, toda vida orgânica terrestre, o homem, a fauna, a flora, estaria condenada à lenta extinção. Outrossim, quando, em caso de guerra, as partes combatentes recorressem ao bombardeio com satélites solares em órbita no céu, na Terra as luzes apagar-se-iam. De maneira análoga, se houver um cataclismo, até os menores dispositivos de adaptação da energia solar, instalados sobre os telhados das casas, transformar-se-ão em ferro velho.
Qual seria o cataclismo de que estou cogitando? Os novos templos do Sol estarão firmemente plantados em locais, onde não são necessários, como nos desertos, nas vertentes ensolaradas das montanhas, como células solares flutuando na superfície oceânica. A partir daquelas estações receptoras até os centros da civilização hodierna, onde a energia solar é consumida, há longas distâncias a percorrer. O menor deslocamento do eixo da Terra causa terremotos e inundações diluviais e, uma vez interrompidas as linhas transmissoras, à humanidade faltará a energia tão necessária na hora em que dela mais precisa.
Sem dúvida, vivemos atualmente uma fase de oscilações climáticas, do maior alcance. Possivelmente, o clima global mudará no sentido de, as regiões agora expostas à alta pressão atmosférica e, por conseguinte" agora, preferidas para a instalação dos modernos templos do Sol, passarão para a zona sob baixa pressão atmosférica, com intensa formação de nuvens espessas. Aí, então, os nossos templos solares estarão mal posicionados, situados nos lugares errados! A Ciência prevê anos da mais intensa atividade solar, com fortíssimas erupções no Sol e manchas solares; supõe-se que tais fenômenos poderiam concorrer para provocar e acelerar as oscilações climáticas.
Tanto faz. Em todo caso, os deuses do Sol, Utu e Shamach, Hélio e Rá e Sol e todos os demais desta nobre estirpe divina, estão recebendo novamente a homenagem submissa dos seus adeptos. Os templos que seus seguidores hodiernos Ihes erguem são incomparavelmente mais dispendiosos do que os antigos, cujas ruínas olhamos com admiração. Estamos resolvidos a venerar o Sol. Tudo quanto se faz leva a marca registrada HÉLIOS, a exemplo do que aconteceu em tempos remotíssimos. A história se repete...
Com muito carinho e até com certo pendor romântico, os tecnocratas do século XX escolhem nomes mitológicos para os seus projetos e invenções, preparando o futuro do homem terreno.
Por quê?
Estamos sendo alcançados pela mitologia? Estaríamos em vias de transformar a mitologia na realidade dos nossos dias de hoje?
Até poucos anos atrás, ter-se-ia exposto ao ridículo quem atribuísse aos relâmpagos dos deuses sentido além daquele, dado nas respectivas descrições mitológicas. Estou admirado que não se tenha dado nenhum nome mitológico ao objeto, (que representa a sua atual concretização, aqui na Terra!
Quem sabe se, para tanto, a descoberta surpreende, demais. LASER! Hoje em dia, todo mundo conhece este conceito, mas ainda são raras as pessoas, conhecedoras das palavras, cujos iniciais formam a sigla e dizem: Light amplification by stimulated emission of radiation (= amplificação da luz, pela emissão estimulada da radiação).
Em 1978, somente os EUA gastaram US$500 milhões para o desenvolvimento de canhões de laser. Se fossem somadas as verbas gastas em todo o mundo, obter-se-ia uma soma verdadeiramente astronômica.
Para que tantas verbas, tantos gastos? Os relâmpagos divinos têm a tarefa de fazer explodir foguetes que estão se aproximando, devem recolher do céu satélites "malignos". Tudo quanto, atualmente, está sendo construído aqui, na Terra, para ser lançado ao cosmo, pode voltar para cá, e agir em sentido inverso: a partir de plataformas espaciais, cidades inteiras podem ser exterminadas da face da Terra. De repente, os relâmpagos divinos da mitologia acabaram concretizando-se como mais outra realidade destes nossos dias. A história se repete...
Por outro lado, os raios laser servem também para fins pacíficos.
Em 24 de junho de 1978, o povo pôde apreciar um espetáculo fantasmagórico nos céus de Atlantic City, EUA. Sem qualquer foguete explodindo, sem bolas de fósforo estalando, a noite ficou iluminada com um fantástico show de luz. Raios laser projetaram imagens artificiais. Heinz R. Gisel, natural de Zurique, na Suíça, empresário internacional, que se dedica a promover espetáculos de luz celeste, afirma ser capaz de projetar no céu, com raios laser, cenários completos, legítimas fantasmagorias, visíveis à distância de até 20 km.
Sem dúvida, ainda estamos no começo do caminho. A um ponto qualquer, no futuro, deixarão de existir as delimitações atualmente vigentes. Será possível projetar no universo imagens e letreiros, a 1.000 km de distância. Quando isto acontecer, o lado iluminado da Lua mostrará à Terra os letreiros flamejantes do comercial: COCA COLA - COCA COLA - COCA COLA - e de outros mais. Em noites de Lua cheia, comunidades religiosas lançarão o seu apelo, em raios laser negros: o dia do Juízo Final está próximo!
Bem, nada tenho contra esta magia técnica. Caso ainda chegar a vivê-Ia, até darei um pequeno sorriso benevolente, por ter a certeza de que todas as coisas a nós reservadas para dias futuros, já aconteceram em tempos passados. Deuses, que apareceram com "grande poder e esplendor", projetaram imagens no firmamento e nossos antepassados, sem formação tecnológica, não souberam interpretá-Ias, porém as consideraram como sinais visíveis do seu poder divino. Ora viram mãos escrevendo, ora, rostos, ora - conforme reza o Velho Testamento - uma coluna luminosa, que brilhava de noite e que de dia emitia uma luz mais clara do que aquela do próprio Sol.
Os nossos técnicos espaciais gostam da mitologia. Seus satélites chamam-se MIDAS, SAMOS, COSMOS, PEGASUS, HELIOS e assim por diante. Os foguetes, conquistadores do espaço, são chamados de THOR, ATLAS, TITAN, CENTAURUS, ZEUS, JÚPITER, SATURNO, APOLLO. Nos pátios de manobras espaciais está reunida quase toda a grande família mitológica. Será para matar saudades do passado, ou para antecipar o futuro?
No ano 5.000 d.C. (caso naquela época o assim chamado tempo histórico ainda continuar sendo contado a partir do nascimento de Cristo), os etimólogos estarão empenhados em interpretar textos, tais como:
"O primeiro sinal veio de HELIOS. O sumo sacerdote chamou à sua presença os sábios de todo o país, para comunicar-Ihes: o inimigo ateu pretende o nosso extermínio. O Conselho dos sábios tomou a seguinte deliberação: SATURNO, o poderoso, deve levar SAMOS para o céu, a fim de fazer suas observações no próprio local e transmiti-Ias aos sacerdotes.
Atingido por um raio de luz, de incrível potência, SAMOS mergulhou nas profundezas dos oceanos. Lá, NETUNO, a divindade que domina os mares, fez ouvir a sua voz: "Dêem-me um terço da sua potência e chamarei NAUTILUS, o que habita debaixo do gelo eterno, para pedir a sua ajuda. Com ele estão os célebres filhos de ZEUS".
NAUTILUS, silencioso e imbuído do espírito de NETUNO, subiu das águas; sob a estrela do norte abriu a grossa camada de gelo e mandou os filhos de ZEUS penetrar nas terras do inimigo, montados em jatos de luz brilhante. A noite escura ficou clara como o dia. Foi horrível ver como os homens, em convulsões incríveis, viraram pó.
Enquanto as terras inimigas queimaram em brasa, PEGASUS, o vigia celeste, fez o seu comunicado, dizendo que os ateus imploravam o auxílio de XIVA, o destruidor total.
Ao tomar conhecimento desta mensagem, o sumo sacerdote não teve dúvidas de que somente NORA teria possibilidades de fazer valer a sua força contra XIVA. Munido do fascínio dos olhares de HELIOS e PEGASUS, ele dirigiu-se à assembléia e pediu a cada membro, em particular, que a partir daquele momento, concentrasse suas preces em NORA. As veias de NORA encheram-se de força; as habitações tornaram-se frias, desaquecidas. Todos os anjos ficaram parados. Com um sussurro bem baixo, os filhos dos deuses transmitiram a sua energia a NORA.
Em seguida, flamejou um brilhante RELÂMPAGO DE LUZ, iluminando a Terra, com força maior do que aquela do Sol e subindo até os céus mais distantes. Os olhos de XIVA, portadores da morte, ficaram ofuscados e quando o deus poderoso e forte nada mais enxergava, ele se foi, cambaleante, para a Lua...”
Ainda no ano 5.000 d.C. os nomes mitológicos se prestarão à confusão! E continuarão enigmáticos! No entanto, em texto inteligível, a mensagem torna-se simples e concisa, dizendo:
"O satélite HELIOS comunicou que o inimigo está para lançar a sua ofensiva. O chefe do Estado-Maior convoca os membros do EM para o exame da situação.
Ficou resolvido lançar em órbita terrestre um foguete SATURNO, apoiado por alguns satélites de SAMOS.
Durante esta sua missão de reconhecimento, SATURNO é atingido por um raio laser.
O comando supremo da Marinha considera viável lançar a contra-ofensiva, a partir do submarino atômico NAUTILUS, caso outras unidades navais consigam encobrir a sua posição, simulando ofensivas. O NAUTILUS leva a bordo 20 foguetes ZEUS.
Programado pelo computador NETUNO, encarregado de comandar a ação, NAUTILUS quebra o gelo e abre uma brecha na calota polar, para lançar seus foguetes ao alvo.
As forças inimigas respondem com raios laser, cuja ignição é dada diretamente pelo SOL. Toda a Terra está em brasas.
Satélites do tipo PEGASUS medem as cargas energéticas e transmitem os resultados da medição ao quartel general, na Terra.
Ali, o perigo é logo reconhecido. Só existe um raio laser mais potente do que aquele na plataforma em órbita do satélite, a saber, o laser do sistema NORA. Os canhões laser de NORA são alimentados por um reator nuclear, que ainda não entrou em fase operacional. Por conseguinte, toda a energia disponível no país é transferida e concentrada em NORA. Nas indústrias, as máquinas estão paradas e as casas residenciais estão sem iluminação.
Com esta potência concentrada, NORA consegue tirar XIVA da órbita terrestre. Ao ser atingida por aquela radiação ultra forte, a plataforma sideral despenca e cai na superfície da Lua, onde se desfaz em mil pedaços."
Basta imaginarmos uma pessoa da era pré-técnica - para este nosso caso, serviria alguém de meados do século XIX ressuscitar e deparar com o nosso atual progresso tecnológico! Ele observaria o movimento dos grandes aviões no céu, o aparecimento de imagens na tela do televisor e assim por diante. Como não dispõe de nenhuma explicação para aqueles "fenômenos", forçosamente deve considerá-Ios como magia pura.
Vice-versa, encontramo-nos diante dos "enigmas" que a mitologia nos transmitiu. Consoante o nosso tradicional método de observar as coisas, tudo evoluiu de uma maneira bem ordeira e conseqüente; a partir de uma fase primitiva, a evolução prossegue em ritmo sempre mais acelerado, até alcançar estágios progressivamente mais avançados. Evidentemente, neste modelo de pensamento não há lugar para a tecnologia do nosso passado remoto. E quando, naquele contexto, ainda surgem relatos de "máquinas voadoras", aparelhos emissores de radiação, armas mortíferas, são considerados pura fantasia, magia ou ideogramas. É de dar risada!
Outro dia, li no jornal que os EUA estão procurando um boné mágico para os seus porta-aviões, em alto mar. Boné mágico? Já ouvi falar nisto. Sempre foi um requisito bastante cobiçado, ora imaginado como uma capa, que torna invisível a quem a usar, ora como um capuz servindo para este mesmo fim. Os antigos germanos acreditaram firmemente que duendes e silfos podiam tornar-se invisíveis, trajando certa peça de roupa. Na epopéia dos Nibelungen, Siegfried, o herói, logrou tirar o boné mágico de Alberich, rei dos gnomos e, a partir de então, usava-o em duelos, nos quais se saía vitorioso.
Desde há muito, ataques inimigos, visando determinado alvo, não se fazem "a olho", com o telescópio, pois, com chuva e neblina, a vista humana deixa de ser um operador responsável. Há duas modalidades de visar o alvo; ou o foguete atacante é lançado, obedecendo ao comando nele programado, ou o foguete atinge o seu alvo, automaticamente, em função da emissão de raios, tais como radar, infravermelhos ou, ainda, microondas. A fixação do alvo sempre acontece automaticamente, por computador ou por comando eletrônico, calculado em frações de segundos. Se for possível iludir a eletrônica, o boné mágico, tecnológico, se tornaria realidade. Será que isto é viável?
O periódico "DIE WELT" comenta a respeito:
"Conforme comunicam as indústrias Hughes, as armas eletrônicas de ataque estão sendo despistadas, eletronicamente, a ponto de dirigir-se a "alvos fantasmas", das proporções de um porta-aviões e, com isto, literalmente caírem dentro da água. Dos poucos dados fornecidos a respeito, conclui-se, tão-somente, que antenas seriam instaladas de ambos os lados do porta-aviões e um minicomputador ficaria ainda no centro da sua área de combate. Esse sistema seria capaz de, concomitantemente, acompanhar algumas centenas de sinais.
No instante da captação de um sinal, o sistema mede, automaticamente, a freqüência emitida. O computador separa o amigo do inimigo; em seguida, seleciona o "boné mágico" eletrônico, feito sob medida, para o espectro de freqüência em questão. O inimigo ataca um alvo eletronicamente exposto, mas inexistente na realidade." (17-05-78)
É simplesmente fantástico, porém não é novidade, pois já existiu em tempos idos.
As epopéias nacionais da Índia, a Maabarata e a Ramaiana, mencionam armas e objetos voadores, que lograram tornar-se "invisíveis para o inimigo". Por sua vez, Xiva, o deus da destruição e da salvação, fez-se evaporar, diante dos olhos dos seus inimigos. A história se repete. Serve de modelo a ser igualado. Estamos no caminho que retrocede.
O noticiário comentando um foguete antitanque da NASA, que atinge o seu alvo tanto na escuridão da noite como com espessa neblina, já deixou de ser novidade; tampouco é notícia nova a invenção da bomba de nêutrons, que somente mata o homem, ao passo que deixa intacta a matéria anorgânica. Da mesma maneira, já se ouviu falar antes no cruzamento de seres humanos e o animal, da adaptação do homem e da máquina em unidades cibernéticas, que deverão entrar em fase operacional no século XXI. Aliás, a este respeito, ainda deverá haver muito debate.
Será que a história se repete inclusive no sentido funesto, negativo?
Já faz anos, um "exemplo", dos mais sinistros, está me deixando com uma sensação inquietante. Mas, já que estou expondo idéias arriscadas, valho-me do ensejo para citá-Io, neste contexto.
Admitamos a idéia sinistra, Deus queira que jamais se realize, de algumas minorias de loucos varridos desencadearem uma guerra de extermínio, neste nosso planeta.
Quais seriam os alvos visados pelas armas mortíferas?
O deserto do Saara, desabitado? Não, este ficaria fora de cogitação.
A cordilheira do Himalaia, de dificílimo acesso? Também não.
Os desertos glaciais, nos pólos norte e sul? Para quê?
As habitações humildes dos indígenas, nos Andes sul-americanos? Jamais.
Os atóis, repletos de palmeiras frondosas, nos Mares do Sul? De que adiantariam?
Os retiros e reservas dos aborígines, na Austrália? Nunca.
As malocas dos negros centro-africanos ou os mais pobres dos pobres, na República do Mali? Não faz sentido atacá-Ios.
Os índios norte-americanos, nos desertos do México e do Arizona? Certamente não.
Os pacatos camponeses russos, nas imensidões da tundra?
Não haveria motivo para tanto.
Tribos amazônicas? Que mal fizeram elas, e a quem?
Os descendentes dos maias, nas selvas do Iucatã? Dificilmente.
Decerto, os alvos preferidos pelas partes beligerantes serão os centros da civilização, lá onde vivem e labutam centenas de milhares, milhões de pessoas. Serão justamente essas as regiões a serem riscadas do mapa.
Acontece que, com ataques maciços, nucleares, o nosso planeta não ficaria contaminado, por toda a eternidade; mormente, nas áreas onde não caíram bombas atômicas, a vida ficaria conservada. Ademais, os seres vivos, incluindo o homem, reúnem condições de adaptabilidade em grau bem maior do que julgamos. Outrossim, a moderna e futura técnica de armamentos tende a desenvolver armas destrutivas com radiação "limpa", visando a expor tão-somente zonas limitadas à destruição mortífera, por sua vez igualmente limitada na duração dos seus efeitos. O interesse em possuir tais armas tanto é dos atacantes, quanto dos atacados. A quem adiantaria conquistar terras que nunca mais seriam habitáveis, lavráveis e às quais a vida jamais voltaria? Quem lucraria com a conquista de uma Europa totalmente contaminada por radiação radioativa, em cujo solo os conquistadores nem poderiam pisar?
Em todo caso, haverá sobreviventes, indivíduos isolados e grupos de indivíduos no deserto do Saara, nos planaltos tibetanos, no círculo polar e nos Andes, nos Mares do Sul e no interior da Austrália, na África, nos desertos mexicanos, na tundra russa, nas reservas indígenas do Iucatã e na Amazônia, bem como em terras das nações altamente industrializadas e tecnologicamente adiantadas.
Mesmo que sejam centenas de milhares a sobreviverem a catástrofe desencadeada ao redor do globo, eles estariam espalhados nos quatro cantos da Terra. Nada saberiam um do outro, todos sentiriam um só anseio, o de não serem os únicos sobreviventes; porém; inexistiria qualquer meio de comunicação, não haveria contato entre eles. Cada qual estaria só, absolutamente sozinho, ilhado.
Os sobreviventes falam diversos idiomas e dialetos. De que modo se entenderiam um com o outro, quando houvesse a possibilidade de um contato recíproco? O rádio, a televisão, o telex, todos os meios de comunicação estão destruídos. É o dia zero. Não há fábrica que ainda funcione, não há supermercado que ainda ofereça os seus produtos à venda, não há automóvel nas ruas, nem avião nos céus. Os sobreviventes dependem única e exclusivamente dos seus próprios esforços. Começa a magna aventura.
Aconteceu que, na época da eclosão da grande guerra de extermínio, um engenheiro ocidental estava passando suas férias no Tibet. Como ele conhece todos os horrores da guerra atômica, sabe que não existe meio de transporte, para levá-lo de volta, para casa, e que, tampouco existe aquela sua casa. O que faz ele?
O nosso engenheiro, de formação universitária, diplomado, possui vasta cultura tecnológica e, sob este aspecto, supera em muito os tibetanos. A exemplo do que fez Arquimedes (285-212 a.C.), o ilustre matemático e geômetra grego da Antigüidade, ele pode reproduzir as suas invenções, re-inventar o princípio da alavanca, provar aos indígenas a perda de peso de corpos flutuantes, tornar a calcular a área de corpos planos e curvos e fixar de novo o ponto de Arquimedes, fora da Terra. Os tibetanos admiram-no por tudo aquilo.
Com base na sua formação, o nosso engenheiro sabe que, a qualquer ponto ao redor do globo, outros grupos de indivíduos devem ter sobrevivido ao extermínio nuclear. Em todo caso, quer ter certeza a respeito daquilo que se passou alhures. Motivado pela curiosidade... assim como são motivados outros grupos, em cujo meio há inteligência tecnológica... mais dia, menos dia, o nosso engenheiro partirá em uma expedição de reconhecimento. Procedimento igual será adotado por outros grupos, pois, em toda parte, haverá indivíduos especulando em torno de eventuais sobreviventes.
Antes de partir para a grande jornada, certamente alguém pensará em deixar no local uma mensagem, para o eventual conhecimento daqueles que, porventura, vierem a passar por lá. Qual seria o idioma para tal mensagem? O seu conteúdo deveria ser sucinto e inequívoco, dizendo coisas, tais como:
- Estivemos aqui e pretendemos voltar.
- Aqui há água potável.
- Atenção! Perigo! Há pequenos animais mortíferos.
- Seguimos em direção norte (sul, oeste, leste).
- O nosso grupo está sendo chefiado por um engenheiro (sacerdote, arquiteto, comandante de avião, etc.).
- Atenção! a 40 milhas, em direção noroeste, há uma tribo guerreira, pronta para atacar. - Possuímos todo o saber conhecido antes da catástrofe. - Há um médico, na caverna norte, na montanha em forma de cone.
- Não comer bagos; são tóxicos!
- Em todos os lagos há peixes comestíveis.
- As regiões ao norte e oeste estão contaminadas.
O indivíduo vivendo em condições precaríssimas, deseja "oferecer" todas as suas noções e experiências aos demais sobreviventes, seus irmãos de infortúnio. O grupo deliberará quanto ao destino da expedição, esclarecerá por que o escolheu, se deverá levar mulheres e crianças, bem como pessoas imunes à radioatividade (mutadas).
Ainda resta a pergunta: em que idioma comunicamos tudo isto aos desconhecidos que, eventualmente, passassem por aquelas bandas?
Os tibetanos não compreendem o inglês; tampouco o nosso engenheiro compreende o russo e, para ele, as letras do alfabeto cirílico são símbolos surrealistas. O que devem fazer?
O turismo internacional pôs em marcha milhões de cidadãos, de toda as nações da Terra. Os grandes eventos esportivos, internacionais, misturaram os representantes dos povos mais diversos, que, igualmente, caíram vítimas da grande catástrofe. Logo, não seria o caso de supor que, em toda parte, haveria gente culta, inteligente, entre os sobreviventes? Os árabes que habitam o Saara não se podem comunicar com os insulanos dos mares do sul. Será que se fala o inglês? O russo? O chinês? O alemão? O espanhol? O português, ou o francês, a língua dos diplomatas? Ou ainda qualquer outro dos 3.900 idiomas existentes na época da pré-guerra de extermínio?
Contudo, até para a humanidade hodierna, ainda há um meio de comunicação, aliás, o único infalível, ou seja, a imagem.
É um fato líquido e patente, comprovado dia após dia. O cidadão hindu que se aproxima de Frankfurt-sobre-o-Meno, a bordo do avião, logo se orienta na turbulência da cidade grande, em função das imagens que lhe indicam o caminho. Sinais visuais lhe mostram os locais de saída, retirada de bagagem, alfândega, toaletes, telefone, táxi. Na estância de Baden-Baden o visitante da Austrália, sem a menor io do alemão, logo descobre onde ficam as fontes termais, o teatro, a piscina, o pronto-socorro, os pontos de atração turística que não deveria deixar de visitar. Nas Olimpíadas, que reúnem representantes de todos os povos da Terra, cada qual sabe, de pronto, onde trocar o seu dinheiro, encontrar um intérprete, para onde se dirigir, a fim de assistir a corrida de bicicleta, concertos sinfônicos e assim por diante.
E tudo isto, sem uma só palavra escrita ou falada! Mas, única e exclusivamente em função dos pictogramas.
Nos últimos 20 anos foram desenvolvidos mais de 500 poemas, cujo significado é acessível a todos e que, em linguagem rude, lapidar, permitem, até aos analfabetos viajar mundo afora, sem se preocupar com os diversos idiomas. Os folhetos turísticos da célebre cidade balneária de Baden-Baden, Alemanha Federal, relacionam nada menos 100 daqueles símbolos visuais, usados naquela estância, há muito tempo, funcionam como guias turísticos e sinalização, praticamente infalíveis. Aquilo que o esperanto jamais logrou, os pictogramas conseguem estabelecer: a comunicação visual entre os povos, rompendo a barreira da língua.
Os pictogramas podem ser muito mais do que simples sinais de sinalização ou de outras finalidades. Podem ser compostos em sentenças inteiras, formadas por desenhos, mostrando, por exemplo: um cacho de uvas = "vinho"; um homem defronte um castelo = "por aí o caminho leva até o castelo; um homem de espingarda na mão = "Esta é uma reserva de caça". Uma seqüência de três pictogramas pode transmitir ao turista informações claras e precisas, tais como: se você quiser tomar um copo de vinho (ou água), siga este caminho, até o castelo; lá, em cima, você também pode caçar (se, para tanto, estiver com a respectiva licença)".
Um matemático poderia informar o número de possíveis combinações, a partir de 500 pictogramas. Decerto, será um algarismo, em muitas vezes o múltiplo das chances quase incalculáveis de um grande prêmio da loteria federal.
Os sinais visuais são o idioma internacional da nossa época.
Todavia, voltemos aos sobreviventes do extermínio, em escala global. Mesmo admitindo a pouca probabilidade de ignorarem o expediente dos pictogramas, na situação em que se encontram, deveriam inventá-Ios. Todo indivíduo inteligente está perfeitamente cônscio da inutilidade absoluta de anotar uma mensagem na língua dele. O óbvio seria imaginar símbolos e gravar, riscar, cortá-Ios em paredes de rocha; sinais que seriam prontamente entendidos por eles próprios, quando os vissem.
Já faz doze anos que vivo viajando pelos continentes e países deste nosso mundo. Durante estas jornadas, bati fotos de desenhos rupestres, encontrados entre os índios hopi, nos EUA, no Parque Nacional de Sete Cidades, no Brasil, no Cachemire e na Turquia, na África do Sul e no Saara, na Europa setentrional e no sul da França, na Califórnia, na Itália do norte, nas praias dos mares do sul e nas Filipinas. Cheguei a conhecer pessoalmente Urso Branco, chefe dos índios hopi. Ele levou-me para um vale recluso da sua reserva, que os índios costumam proteger da curiosidade dos turistas e cujas paredes de rocha estão cobertas de "pictogramas", alto a baixo. Perguntei a Urso Branco se sabia ler aqueles símbolos. "Nem todos", respondeu, porém, "sei decifrar e interpretar, perfeitamente bem, a maioria daqueles sinais" .
E continuei indagando: "Para quem e para que os seus antepassados teriam deixado aqueles símbolos?".
O velho índio explicou-me que seus antepassados teriam migrado do sul para o norte - eles não vieram, conforme afirma a Ciência, pelo Estreito de Bering, do norte para o sul - e, durante aquela longa marcha, as diversas tribos sofreram separações e divisões freqüentes, resultando em novos agrupamentos. A fim de transmitir aos que viessem depois, as experiências acumuladas pelos grupos que iam na frente, foram riscados aqueles desenhos na rocha.
Por que - passou-me pela cabeça - haveria desenhos rupestres datando de épocas diversas?
Urso Branco sabia a resposta. Diversos grupos e seus descendentes voltaram sempre ao mesmo local, para riscar na pedra novas descobertas, notícias boas e más. Para os índios contemporâneos, os desenhos e riscos na rocha funcionam como, hoje em dia, os "jornais murais" funcionam para o povo na China continental.
Oswald O. Tobisch colecionou mais de 6.000 desenhos e riscos rupestres, para estudos comparativos. Em 20 tabelas, ele demonstrou os nexos indiscutivelmente estreitos, impossíveis de passarem despercebidos, entre os diversos grupos de pictogramas europeus, asiáticos e americanos. Nesses seus estudos comparativos, Tobisch chegou à conclusão de que todas as civilizações devem ter exercido uma influência recíproca uma sobre a outra e de que, ademais, em última análise a origem daqueles desenhos rupestres deve ser considerada como remontando a uma só fonte.
Sinais visuais continuam em uso entre os índios hodiernos, que jamais deixaram de empregar nas suas obras folclóricas antigos motivos estilizados, ou sejam, pictogramas. Da mesma maneira, os desenhos na areia dos índios norte-americanos transmitem mensagens e até os desenhos dos tapetes confeccionados pelos índios andinos mostram símbolos visuais, idênticos.
Será que o fenômeno dos milhões (!) de desenhos rupestres, ao redor do globo, encontraria a sua explicação em uma catástrofe, que teria envolvido os quatro cantos da Terra?
Será que nos tempos presentes, a História mudaria, em função de uma catástrofe global?
Será que hoje ou amanhã, sobreviventes de tal catástrofe procurariam o caminho para o futuro, para o contato com outros grupos de sobreviventes, por intermédio de desenhos rupestres?
Será que o passado está voltando a nós? Será que está nos ultrapassando?
Considerando que os mais modernos e sofisticados sistemas de defesa e ataque levam nomes mitológicos; considerando que estamos redescobrindo uma escrita visual, universalmente compreensível, e considerando, ainda, o refluxo para as profundezas insondáveis do poço sem fundo do passado, que se faz notar de uma maneira fora de série, será que o motivo de tudo aquilo deveria ser procurado na Antigüidade, na história remota ou em nós mesmos?
Será que a nossa consciência é um perpetuum mobile, um contínuo, um ciclo eterno, cujos caminhos levavam do passado para o futuro e do futuro para o passado? Por onde anda o seu começo, qual seria a causa, qual a mola propulsora de tudo isso?
Seria demasiada prepotência levantar a pergunta sobre a centelha que deu início a este ciclo.
Arnold Sommerfeld (1868-1951) já teria garantido a sua posição de destaque no rol dos grandes naturalistas, apenas pelo fato de três dos seus discípulos serem titulares de Prêmios Nobel; são eles: Werner Heisenberg (1932) Petrus Debye (1936), Wolfgang Pauli (1945). Outro discípulo de Sommerfeld, Hans Albrecht Bethe, coloca-se entre os mais renomados físicos nucleares, como chefe do Departamento de Física Teórica no Centro de Pesquisas Atômicas, em Los Alamos, EUA.
Na sua qualidade de mestre de celebridades, Sommerfeld trabalhou em silêncio, descobriu a maior parte dos princípios do algarismo, comprimento de onda e intensidade das linhas espectrais. Durante décadas, a sua obra principal, "CONSTRUÇÃO NUCLEAR E LINHAS ESPECTRAIS", foi a obra padrão da Física Nuclear.
Todavia, com uma das suas descobertas, Sommerfeld avançou muito (demais) além do seu tempo. E ainda, teve a infelicidade de torná-Ia pública, pouco antes de Einstein divulgar a sua Teoria da Relatividade, que surpreendeu as Ciências Naturais, como uma sensação sem par.
Sommerfeld levantou a teoria da existência de partículas mais velozes do que a luz e que possuem a qualidade de se tornarem tanto mais velozes, quanto maior for a sua perda de energia.
A teoria de Einstein simplesmente ofuscou a idéia audaz de Sommerfeld, pois ela postulava que, ao alcançarem os limites da velocidade da luz, as partículas adquirem uma massa infinitamente grande.
Uma vez divulgadas e de conhecimento público, as teorias especulativas com a menor parcela de probabilidade sequer costumam reter os seus atrativos, que jamais perdem. E, assim sendo, desde que, pela volta do século, Sommerfeld publicou esta sua tese, gerações de físicos ocuparam-se das partículas mais velozes do que a luz. No entanto, somente Gerald Feinberg, professor de Física Teórica da Universidade Columbia, em Nova York, conseguiu reanimar as discussões; quando, em 1967, realizou um trabalho sobre partículas que se movimentam a uma velocidade acima da luz. Ele deu também um nome a essas partículas, chamando-as de taquíons, termo derivado da palavra grega tachys = veloz.
E, novamente, a Ciência cerrou suas fileiras para afirmar, em uníssono, que - segundo Einstein - nada poderia haver de mais veloz do que a luz. Porém, alguns físicos de renome, especializados no estudo das partículas elementares, vieram a tratar daquela idéia fascinante e chegaram à conclusão de que deveriam existir partículas mais velozes do que a luz.
Será que esta idéia nova e audaz coadunar-se-ia com a teoria incontestável de Einstein?
A teoria da relatividade, de Einstein, postula que um corpo que não atinge a velocidade da luz dentro de um dado sistema inercial*, tampouco pode atingi-Ia em outro sistema inercial; portanto, quando uma partícula, nos limites da velocidade da luz, adquire uma massa infinitamente grande, não pode atingir e, muito menos, ultrapassar o limiar da velocidade da luz.
Está certo isto? Ao ser acesa ou apagada, a luz adota comportamento igual ao adotado por suas partículas, os fótons e neutrinos, que se movimentam à velocidade da luz. e jamais são aceleradas abaixo deste limite. Até agora, nos síncrotrons de certo porte, como, por exemplo, naquele instalado nos laboratórios do CERN (Centro Europeu de Física de Alta Energia), em Genebra, partículas elementares chegaram a ser aceleradas até uma velocidade equivalente a 99,4% da luz - sem massa infinita.
O que será que impulsiona fótons e neutrinos? Qual seria o seu "segredo"? Eles possuem somente energia de movimentação. No instante em que deixam de movimentar-se, desaparecem, sem deixar rasto.
Dietmar Kirch subdividiu, a grosso modo, as partículas elementares em três categorias, a saber:
1) partículas, tais como os núcleons e elétrons (que se movimentam abaixo da velocidade da luz);
2) partículas, tais como os fótons e neutrinos (que atingem a velocidade da luz, em seu movimento);
3) taquíons (superando a velocidade da luz, em seu movimento).
Por enquanto, os taquíons existem somente no âmbito de um sistema inercial ainda inacessível a nós; logo, não pode haver contradição à teoria de Einstein. A exemplo de como as partículas da categoria 1) se movimentam sempre abaixo da velocidade da luz e jamais podem passá-Ia, com energia finita, os taquíons, da categoria 3), sempre se movimentam acima da velocidade da luz e, em sua aceleração, não podem ser freados para descer ao nível desta última.
Os taquíons existem num outro sistema inercial e seu comportamento é exatamente o oposto ao das partículas elementares no sistema inercial que conhecemos e em cujo âmbito vivemos.
É este o eixo em torno do qual gira o carrossel do futuro e do passado!
"Um evento pode ser descrito, indicando-se o local no espaço, bem como o tempo da sua ocorrência. Logo, um evento é uma realidade em quatro dimensões. A indicação do tempo, que caracteriza um acontecimento, não independe das coordenadas, que descrevem o seu posicionamento no espaço. Pelo fato de a medição do espaço e a contagem do tempo mudarem, concomitantemente, no instante em que mudar o sistema de referência, falamos em espaço-tempo de quatro dimensões. Quando apreciados sob o aspecto de certos sistemas em movimento, os taquíons podem recuar no tempo."
Que propriedades desconcertantes! De vez que, no âmbito do nosso sistema, tudo se move do passado para o futuro, os taquíons podem viajar do futuro para o passado.
Será possível explicar este fenômeno, de maneira inteligível?
Imaginemos um flash (= fot.: lâmpada para instantâneos) acoplado a um receptor capaz de registrar taquíons. O flash está programado para lampejar no instante exato em que recebe um impulso de taquíons. Imaginemos ainda um satélite, que emita um impulso de taquíons, às 24h, em ponto. O que acontece?
Ainda não são 24h, mas o flash lampeja antes da emissão do impulso de taquíons pelo satélite. Como pode o flash, rigorosa e garantidamente programado para entrar em ação ao receber o impulso de taquíons, reagir antes de recebê-Io?
No sistema inercial dos taquíons, o "tempo" não é igual ao "tempo" neste nosso sistema. Vistos sob o ângulo deste nosso posicionamento, os taquíons retrocedem a uma velocidade superior à da luz. Aquilo que, nos limites do nosso sistema, é conhecido como princípio da causalidade - relações que unem a causa ao seu efeito - perde sua validade no âmbito do espaço-tempo de quatro dimensões, das partículas mais velozes do que a luz.
A contradição aparente ficaria anulada se e quando nos encontrássemos dentro do sistema dos taquíons; aí, então, as leis da Física tornariam a prevalecer. No entanto, como vivemos neste nosso sistema, é "lógico" pensarmos do passado para o futuro. Nós não podemos imaginar como é que um efeito poderia, posteriormente, chegar a ter a sua causa. No caso de existir vida inteligente num mundo de taquíons, presumivelmente aqueles seres não poderão imaginar como o passado sempre precede o futuro; para eles seria absolutamente normal e razoável, que o passado derivasse do futuro. Enquanto nós falamos em "passado remoto", no mundo dos taquíons se falaria em "futuro remoto". O tempo fica com as pernas para o ar! Mas, o seu sentido diz justamente o contrário daquilo que nós pensamos.
No mais tardar a esta altura, surge a pergunta: o que é o tempo, o que é o passado, o futuro?
No nosso entender, "tempo" é o decorrer do presente que se torna passado.
Esta definição deixou de ser válida, desde que ficou comprovado, em experiências, que todo sistema inercial possui o seu próprio tempo inercial. Mesmo relógios normais, idênticos, marcam horas diferentes, em sistemas diferentes. O "tempo" pode ser definido - e nisto concordam os cientistas - somente em relação a um determinado sistema de referência. E, ainda mais: "Como nenhum sistema de referência parece ser privilegiado pelas leis da Natureza, do ponto de vista da Física não faz sentido falar do tempo.”
É preciso que mudemos o nosso modo de pensar. Se um evento pode ocorrer antes de a sua ocorrência ter sido motivada por uma determinada causa, o que ainda nos resta a título de um ponto de referência seguro?
O cérebro humano funciona de modo químico-elétrico e desenvolve os dois imponderáveis, "mente" e "consciência", elementos fisicamente indefiníveis e inespecificáveis. Em experiências com a telepatia ficou comprovado, de maneira indiscutível, que a "consciência" tanto emite como recebe ondas; a "consciência" possui também a propriedade da previsão, que a pesquisa parapsicológica chama de "precognição". Ao que parece, a "mente" e a "consciência" estão fora do tempo; é como se uma forma energética desconhecida penetrasse no cérebro para segregar algo referente ao futuro, a respeito do que nada deveríamos saber. Neste contexto, não estou falando das previsões, nascidas de angústias e preocupações, como são experimentadas por todos nós, mas, sim, daquele legítimo conhecimento antecipado, do precógnito, conforme o compreende a pesquisa parapsicológica.
O que se passa dentro do nosso cérebro? Poderíamos conceber a idéia de que quaisquer partículas subatômicas, de ordem informativa, oriundas de outras dimensões, de um outro sistema inercial, fornecessem informações futuras à nossa consciência? Será que acontecimentos, que ocorreram no passado longínquo, já se teriam registrado no futuro? Procederia a seqüência do nosso pensar em via dupla, de duas mãos de direção, misturando dados do passado com os do futuro? Talvez nem seja por mero acaso, mas é possível até, que esteja além da nossa vontade, chamada de livre e espontânea, a atual tendência de darmos nomes mitológicos aos produtos do nosso mais recente progresso tecnológico.
Supondo que o tempo possa ser manipulado, tanto para o lado do futuro como para o do passado, onde ficaria, então, o efeito imediato do tempo? Mesmo arriscando uma especulação grotesca, perguntamos: seria possível viajar para o passado, a bordo de uma hipotética nave do tempo, dos taquíons, para lá fazer retroceder um acontecimento, registrado no presente? A fim de melhor elucidar esta idéia, formulamos a pergunta de maneira diferente, ou seja: seria possível alguém viajar a bordo de uma nave do tempo dos taquíons, com destino à Roma antiga, e lá advertir Júlio César de que seria assassinado, no Senado? Neste caso, insistiria o imperador em assistir àqueles debates no Senado e cair vítima de mão assassina, conforme caiu, ou deixaria ele de comparecer àquela sessão fatídica, imprimindo assim à História rumo totalmente diverso daquele por ela tomado? Será possível influir no passado longínquo, a partir de um futuro, igualmente longínquo? Será que em 10.000 d.C., os nossos descendentes dominariam tais "manipulações"? Sob um tal aspecto, impressionando como totalmente utópico, a História continuaria como irreversível, porque já foi "corrigida", a partir do futuro e, por conseguinte, por razões, que fogem à nossa compreensão, teve de tomar o rumo que tomou?
Suposto que, daqui a 50 anos, a tecnologia espacial consiga realizar vôos a velocidades que se aproximam daquela da luz - e ela conseguirá tal feito, conquanto a Ordem Negra dos Pessimistas não logre destruir o nosso futuro - o vôo espacial seria um acontecimento inédito para a humanidade, ou, por outro lado, o homem somente repetirá aquilo que seus antepassados remotos já realizaram? Será que eu estaria contradizendo minhas próprias palavras, com estes meus dizeres: "Nossos antepassados praticaram o vôo espacial", visto que jamais me cansei de repetir que os extraterrestres visitaram a humanidade jovem, na hora do seu despertar?
Talvez seja teimosia da minha parte, mas nisto não há contradição alguma e, assim sendo, tomo a liberdade de esclarecer a aparente contradição, expondo o seguinte modelo de pensamento:
Suponhamos que 50.000 anos atrás, tivesse existido, aqui na Terra, uma indústria de elevado nível tecnológico, bem avançada. Continuemos a supor que nossos antepassados, donos de uma tecnologia bastante adiantada, teriam lançado naves espaciais, a alta velocidade, com destino a outros sistemas solares. Pela duração daquelas viagens, os passageiros terrenos ficaram sujeitos às leis da dilatação do tempo. Como as diferenças de tempo dependem das velocidades desenvolvidas pelas naves espaciais, seria pensável que, enquanto na Terra se teriam passado 40.000 anos, a bordo das naves se passaram tão-somente dez anos.
Continuemos especulando que, nos 40.000 anos decorridos entre 50.000 e 10.000 a.C., a civilização terrestre tivesse sido exterminada. Houve guerras horríveis, cataclismos, deslocamento do pólo, provocando inundações globais e eventos cósmicos, com bactérias do universo invadindo o planeta Terra.
Os sobreviventes tiveram que recomeçar, partindo da estaca zero. Mesmo gerações após o grande golpe de extermínio, há pessoas que ainda moram em cavernas. Elas sabem escrever, acender o fogo, confeccionar ferramentas, organizar a sua vida em comunidades residenciais... mas, a história do seu grande passado, da sua própria estirpe, lhes é desconhecida, como fato concreto, pois dela tomaram conhecimento somente através das tradições dos seus ancestrais.
De repente, no meio daquele novo começo, surgem as tripulações das naves espaciais, lançadas ao cosmo em 50.000 a.C.; seus membros envelheceram apenas dez anos.
O que fariam os tripulantes daquelas naves espaciais? Pela lógica, tentariam salvar tudo quanto pudesse ser salvo. Com base em seu saber superior, iriam governar os sobreviventes terrenos e, graças aos seus conhecimentos tradicionais, tratariam de restabelecer as antigas normas e regras do jogo, que outrora regiam a vida coletiva dos indivíduos.
Este modelo de pensamento demonstra como os nossos antepassados recebem a visita dos seus ancestrais provenientes do cosmo. Também neste caso eles seriam "deuses", oriundos das imensidões do universo, mesmo que fossem os descendentes de uma família terrena qualquer. A História se repete.
Será que eu estaria desempenhando o papel de comentarista do passado ou do futuro, supondo que, dentro de um intervalo de tempo não muito extenso, mas perfeitamente previsível, em qualquer parte da Terra, será equipada uma nave espacial, de capacidade suficiente para levar a bordo uma tripulação mista, congregando homens e mulheres? O seu equipamento incluiria também uma geladeira esterilizada, conservando bactérias diversas. No seu compartimento de carga, teria recipientes plásticos contendo sementes de todas as espécies vegetais. Nos seus tanques, generosamente abastecidos de oxigênio, nadariam pequenos peixes. Nas suas cabinas, reservadas ao trabalho intelectual, encontrar-se-iam enciclopédias, com todo o saber do nosso tempo, inclusive microfilmes, registrando todos os nossos atuais conhecimentos tecnológicos e científicos. Nas suas oficinas estariam guardados utensílios simples e práticos, tais como pás, picaretas, tendas de acampamento, visando a auxiliar os tripulantes e a oferecer-Ihes algumas chances de sobreviverem, quando chegassem ao fim impenetrável do universo.
Chegará o dia em que os tripulantes de tal nave espacial conferirão, pela última vez, a relação de todos aqueles itens, checando-os, um por um... antes de decolar, rumo ao céu.
E, como a História se repete, presumivelmente o comandante daquela nave chamar-se-á NOÉ...
Notas
Anos atrás, um amigo meu chamou a minha atenção para algumas peças, exibidas no Museu Britânico, em Londres, que, obviamente, representam carros e tanques, que teriam sido empregados em batalhas travadas no âmbito sumério-babilônio.
Por ocasião de uma visita a Londres, pude verificar que, de fato, no andar térreo do Museu Britânico, estavam expostos grandes relevos, das épocas babilônia e assíria, mostrando veículos, parecidos com carros-tanques. Segundo o parecer dos arqueólogos, seriam aríetes, antigas máquinas de guerra, para derrubar muralhas.
Pode ser, mas, necessariamente, não precisa ser. Ao apreciar aqueles aríetes, reparei em diversos detalhes, tais como:
- Aríetes, fossem quais fossem, são manejados por soldados; não andam sozinhos e, muito menos, morro acima. Caso a equipe encarregada do seu manejo devesse ser protegida contra flechas e pedradas, seus pés deveriam ser visíveis. Mesmo tratando-se de aríetes, devem ser deslocados, de uma ou de outra forma... e, lá, naqueles relevos, nada de rodas. Portanto, de que modo a máquina de guerra era movimentada?
- A espora, a ponta na parte dianteira do "aríete", pode funcionar somente quando bate em ângulo reto contra a muralha do portão a ser derrubado. Pontas, dirigidas para cima, iguais àquelas que, nitidamente, aparecem nos relevos, não fazem sentido. A energia cinética não produz efeito. Com a ponta dirigida para cima e batendo contra a muralha, o aríete ou ficaria despedaçado ou levantado, como um cavalo que se ergue sobre as patas traseiras.
- Um dos relevos até mostra um aríete munido de duas pontas gêmeas, o que, em absoluto, não faz sentido. Quando duas pontas agudas batem contra a muralha, a sua força destrutiva fica reduzida à metade. Mas, pior ainda, duas pontas dirigidas para cima representariam falha gravíssima na construção da máquina.
- E, por fim, para que um "aríete" necessita de uma torre?
Estes dois modelos de "aríetes", dos quais há vários em exibição, para serem devidamente apreciados, levam-me a especular se, por ventura, com eles não se teria tratado de canhões sônicos, iguais àqueles empregados na tomada da antiga cidade de Jericó?
"Levantando, pois, todo o povo a grita e soando as trombetas, logo que a voz e o som chegaram aos ouvidos da multidão, caíram de repente os muros e cada um subiu pelo lugar que lhe ficava defronte; tomaram a cidade...”
Jos. 6,20
SINAIS DOS DEUSES?
SINAIS PARA OS DEUSES?
Um cavalheiro em Atenas - Os templos e centros culturais da Grécia, dispostos em rede geométrica - Quem deu o incentivo, Euclides ou Platão? - Centros de culto em seção aúrea - Localidades geográficas, dispostas na linha do círculo - O sistema geométrico estende-se para além da Grécia - Pesquisadores soviéticos descobrem sistemas geométricos, pelo mundo inteiro - O que falam os índios sioux - Cultos surgidos nos dias de hoje - Com os bantos, na África do Sul - Mas'udi nada sabia de Zimbabwe - "Não foi feito pela mão do homem" –Zimbabwe, levantado e pesquisado - As esquisitas aves de Zimbabwe - Plantas arquitetônicas, orientadas segundo o sistema da estrela Sírio?
Aconteceu, há alguns anos atrás, em Atenas. Entre os presentes a uma entrevista coletiva à imprensa, reparei em um cavalheiro, de cabelos grisalhos, que não fez pergunta alguma, apenas estava empenhado em tomar notas. Na saída, ele aproximou-se de mim e perguntou, muito cortesmente, se eu já sabia que todos os antigos templos gregos, incluindo os que datavam de tempos mitológicos, estariam em exata relação geométrica, um com o outro.
Devo ter dado um pequeno sorriso, pois o cavalheiro apressou-se em garantir que suas palavras correspondiam, rigorosamente, à verdade. Porém, como sei, por experiência própria, que a gente sempre se sente satisfeita, quando, durante a conversa, o interlocutor dá margem para o parceiro expor novas idéias em torno do "seu" assunto, respondi: "Não, jamais ouvi falar naquilo e tampouco acho provável que assim fosse, pois não posso imaginar como os "antigos gregos" podiam possuir noções geodéticas, que lhes permitissem enquadrar suas obras de culto num esquema geométrico." Acrescentei ainda que, além do mais, muitos dos templos ficam centenas de quilômetros distantes um do outro, separados por extensas serras, que tiram toda a vista e impossibilitam coordenar as obras da maneira por ele proposta. Por fim, lembrei ao cavalheiro o fato de, mesmo em ilhas pequenas, existirem obras de templos, dificilmente discerníveis a olho nu, a partir do continente. Em resumo, dei parecer negativo e comentei que não poderia imaginar qual seria o interesse dos construtores daquelas obras de estabelecer um nexo geométrico entre os templos e os centros de culto.
O cavalheiro alçou os ombros, em um gesto vago, como que a pedir desculpas, e foi-se embora; evidentemente, ficou decepcionado com o meu ceticismo... e, logo mais, me esqueci dele. No entanto, de repente, ele retornou à minha mente, quando apareceram sobre a minha mesa de trabalho duas publicações importantes, que apoiavam a opinião daquele cavalheiro grego. Uma delas era da autoria do Dr. Theophanis M. Manias, brigadeiro da Força Aérea Grega, e a outra da do prof. Dr. Fritz Rogovskj, da Universidade de Ciências Técnicas Cárolo-Wilhelmina, em Brunsvick, na Alemanha Oriental. Ambos os autores comprovam, de maneira indiscutível, que a construção de todos os antigos templos gregos obedeceu a um "padrão de triângulo geométrico-geodético". Após a leitura daqueles dois trabalhos, lembrei-me do meu interlocutor, em Atenas. Bem que eu gostaria de apresentar a ele minhas desculpas por aquele meu ceticismo, um tanto depreciativo; mas, não conheço o seu nome. Em todo caso, o distinto cavalheiro ficará sabendo desta minha intenção, quando a editora NOTOS lançar este livro, em Atenas.
O mero fato de as obras de culto serem executadas segundo princípios geométricos, ainda não se constituiria em "milagre", visto que a Antigüidade grega produziu Euclides, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele viveu em fins do século IV antes da era cristã, lecionou na universidade platônica de Alexandria e resumiu todo o vasto espectro da Matemática mormente da Geometria, nas 15 obras de sua autoria. Seria de Euclides a idéia de posicionar as obras de culto da maneira como estão posicionadas?
Euclides era contemporâneo de Platão, filósofo e político. Em Megara, sentava-se Platão aos pés de Euclides, assistindo ás suas aulas. Será que ele se fascinou com as idéias do mestre Euclides? Será que ele teria aproveitado as noções euclidianas quando, na sua qualidade de político, participou das deliberações sobre a concessão de contratos de construção? Será que, por esta via, os arquitetos eram instruídos a projetar e executar os templos, segundo o sistema triangular?
Esta especulação não vinga, está errada, pois, em sua maioria, os templos e centros de culto já existiam muito antes da época de Euclides.
No entanto, apesar disso, Platão deve ter tido conhecimento da enigmática rede geométrica formada pelas obras da Antigüidade grega, pois, nos capítulos VII e VIII da sua obra "Timeu", ele cita toda uma série de nexos geométricos. Platão, mestre no diálogo cristalinamente puro, teve a Geometria em elevadíssimo conceito; até hoje, muitos manuais de Geometria levam, como preâmbulo, a frase platônica:
"Não permitam que um ignorante em Geometria levante a sua voz. A Geometria é a ciência do ser eterno.“
Aliás, é bem possível que Euclides tenha segredado a Platão suas observações dos enigmas geométricos, já existentes naquele seu tempo. Neste caso, Euclides deveria ter possuído um antiqüíssimo saber geométrico, petrificado nos templos e centros de culto helênicos. Neste contexto, o Dr. Manias comenta: "Toda a geometria euclidiana é constituída com base num antiqüíssimo código religioso-científico."
Evidentemente, todos nós sabemos o que seja seção aúrea, já descrita por Euclides, no tomo II da sua obra padrão "Elementos". Porém, antes de citar alguns exemplos de nexos geométricos entre os centros de culto, projetados e executados segundo as regras da "seção aúrea", darei, a seguir, a sua definição, tirada de um manual usado por minha filha nos seus estudos:
Quando uma linha AB é secionada por um ponto E,
A _______________E___________ B
de, modo a deixar a linha em toda a sua extensão na seguinte proporção com a sua seção mais extensa:
em relação à sua seção menos extensa, tal linha é secionada em "seção áurea”
Ao prolongar uma linha secionada em "seção áurea", por sua seção mais extensa, a nova seção é secionada no ponto da interseção da seção original, secionada em "seção áurea". O prosseguimento de tal linha pode ser efetuado livremente.
A seguir, alguns exemplos, apenas:
- A distância entre os centros de culto de Delfos e Epidauro corresponde à seção mais extensa da "seção áurea" da distância entre Epidauro e Delos, ou seja, 62%.
- A distância entre Olímpia e Chalkis corresponde à seção mais extensa da "seção áurea" da distância entre Olímpia e Delos, a saber, 62%.
- A distância entre Delfos e Tebas corresponde à seção mais extensa da "seção áurea" da distância entre Delfos e Atenas, a saber, 62%.
- A distância entre Esparta e Olímpia corresponde à seção mais extensa da "seção áurea" da distância entre Esparta e Atenas, a saber, 62%.
- A distância entre Epidauro e Esparta corresponde à seção mais extensa da "seção áurea" da distância entre Epidauro e Olímpia, a saber, 62%.
- A distância entre Delos e Elêusis corresponde à seção mais extensa da "seção áurea" da distância entre Delos e Delfos, a saber, 62%.
- A distância entre Cnossos e Delos corresponde à seção mais extensa da "seção áurea" da distância entre Cnossos e Chalkis, a saber, 62 %.
- A distância entre Delfos e Dódoni corresponde à seção mais extensa da "seção áurea" da distância entre Delfos e Atenas, a saber, 62%37.
Outrossim, a disposição dos centros de culto em "seção áurea" não representa a única curiosidade de ordem geométrica. Colocando a ponta do compasso no centro de um local de culto e traçando o círculo que passa por um segundo centro de culto, a sua circunferência sempre tocará em um terceiro e freqüentemente, em um quarto local de culto. Por exemplo, com a ponta do compasso colocada em:
- Cnossos, ao longo da circunferência do círculo encontram-se Esparta e Epidauro;
- Taros, na circunferência estão Cnossos e Chalkis;
- Delos, na circunferência estão Tebas e Ismir;
- Delfos, Elêusis e Atenas situam-se a distâncias iguais; de Argos;
- Esparta, Elêusis e o oráculo de Trofônio situam-se a distâncias iguais de Micenas.
O Dr. Manias verificou também que cada templo, cada centro de culto, quando considerados como pontos isolados, situam-se ao longo de uma linha reta, demarcada em cada uma das suas pontas por mais outro local de culto.
O incrível em tudo isso é o fato de, em sua maioria, aqueles nexos geométricos remontarem a épocas muito mais recuadas no tempo do que aquela de Pitágoras (por volta de 570 a.C.) e Euclides, alcançando, assim, a mitologia grega da Idade da Pedra. Manias, brigadeiro-do-ar, observou ainda que, vistos de bordo de um avião, os locais de culto formam círculos gigantescos, pentágonos regulares, estrelas pitagóricas de cinco pontas, bem proporcionadas, pirâmides e até traçados geométricos da mitologia grega. Eis um só exemplo: diz a lenda que Apoio se teria transformado em um delfim e indicado aos sacerdotes de Creta o local para Delfos. Ao traçar linhas, ligando os centros de culto situados entre Creta e Delfos, surgem os contornos de um delfim de mais de 500 km de extensão!
Tudo aquilo é altamente desconcertante. As inúmeras regularidades geométricas apuradas excluem o fator acaso como autor do projeto daquelas obras. De que maneira pode ser explicado tal perfeccionismo matemático? De que modo tal perfeccionismo combinaria com as noções de Matemática, atribuídas aos povos pré-históricos? Como foi que eles vieram a conhecer o local exato, onde deveriam levantar suas obras de construção? Considerando que aqueles locais são discerníveis somente de grandes altitudes, é lícito perguntar se foram instruídos por "alguém" e, ainda, se "alguém" teria coberto as antigas terras helênicas com uma rede, prevendo destinos geométricos, para depois colocar bandeirinhas em determinados pontos e ordenar: "Aqui vocês tratem de levantar o centro de culto tal e tal !”
Ou, por outro lado e conforme sugere o prof. Rogovski, teriam os antigos gregos colocado pedra sobre pedra, em pequenas proporções, formando, assim, a grande rede geométrica? Se assim fosse, por que, então, Platão deixou expressamente manifesto no seu "Timeu" que, com os nexos geométricos, se trata da tradição multimilenar, de um sagrado patrimônio cultural? Pois bem; e quando, por volta de 400 a.C., Platão, o sábio, falou em "tradições multimilenares", isto nos leva em linha reta para a era dos deuses.
Tais enigmas sempre costumam evocar uma série de perguntas análogas e afins. Na hipótese de os templos e centros de culto datarem de antes da época euclidiana e de se enquadrarem no padrão geométrico, cumpre perguntar, por que foram construídos desta maneira? Sob este ponto de vista, é preciso procurar conhecer o motivo deste planejamento singular, bem como explicar de onde os construtores tiraram aquelas suas vastas noções de Matemática, em tempos tão remotos. Por fim, interessa saber, também, quem teria indicado às tribos helênicas as localidades certas, já que não podiam conhecê-Ias, tão-somente com base em seu próprio saber. A série de perguntas leva a um beco sem saída.
Mas, as coisas vão se complicando ainda mais.
Para sua própria surpresa, o Dr. Manias verificou que o sistema geométrico das antigas civilizações não está limitado apenas à Grécia, mas que os templos na ilha de Chipre, no Líbano (Baalbek), em Alexandria, bem como as pirâmides egípcias fazem, igualmente, parte desta rede.
Os pesquisadores soviéticos Gontsharov, Makarov e Morosov elaboraram um mapa-mundi, mostrando todos os grandes centros de culto. Quando Nicolai Gontsharov, da Universidade das Artes, de Moscou, apreciou o trabalho pronto, teve a impressão de ter diante dos olhos uma bola de futeboI; os pontos indicando os grandes centros de culto, do mundo antigo, marcavam no globo os contornos de uma bola de doze segmentos, com cada segmento formando um pentágono. Nicolai Bodnaruk, correspondente do periódico "Komsomolskaia Pravda" comentou a respeito: "Por conseguinte, a localização de muitos centros de culto, antiqüíssimos, não era casual, pois estavam situados exatamente nos pontos de interseção deste sistema. Assim aconteceu com os cultos hindus de Mohendsho-Daro, com os do Egito e da Mongólia setentrional, da Irlanda e da ilha de Páscoa, do Peru e de Kiev, a 'mãe das cidades russas'.
Ao longo da "costura", onde se encontram as "placas gigantescas", estendem-se os territórios petrolíferos da África do norte e do Golfo Pérsico. O mesmo pode ser observado na América do Norte, da Califórnia ao Texas. É interessante olhar de perto os pontos de interseção da rede dupla; vemos ali a riquíssima África do Sul, as minas de Cerro de Pasco, no Peru, bem como o Alasca e o Canadá, o oceano subterrâneo de petróleo e gás natural no oeste da Sibéria e muitos outros pontos relevantes.
Evidentemente, tal nexo não se verifica em toda parte; porém, a sua existência é freqüente demais para ser considerada como um fenômeno meramente casual. Outrossim, as aberrações do esquema rigorosamente. geométrico são perfeitamente compreensíveis, considerando o fato de o nosso planeta ficar sujeito a mudanças permanentes e de a formação de reservas naturais estar progredindo sem solução de continuidade.”
Aliás, em aditamento a estas novas descobertas podemos, novamente, citar Platão, o qual afirmou em "Timeu": "Vista de cima, a Terra assemelha-se a uma bola de couro, dividida em doze partes." Em última análise, nada de novo a respeito das rugas e cicatrizes no rosto da mãe Terra?
Conhecedor que sou dos gigantescos "monumentos de pedra" no mundo inteiro, não posso deixar de ter a impressão de uma comissão de obras, unificada, com jurisdição global, ter projetado e executado todos aqueles monumentos e antigos centros de civilização - e de terem sido escolhidos aqueles "locais sagrados" para ali erguer sinais a serem vistos por "deuses" aviadores! De memória, posso citar alguns desses indícios (os demais constam nos meus livros já publicados), a saber:
- Os desenhos enormes, riscados no solo, entre as "pistas", no planalto de Nasca, no Peru, que se tornaram célebres em todo o mundo.
- Os sobre dimensionados desenhos de xadrez, nas íngremes paredes de rocha, na província de Antofagasta, no Chile.
- O cavalo branco de 110 m de comprimento, em Uffington, perto de Berkshire Downs, na Inglaterra.
- O gigante, de 55 m de altura, de Cerne Abbas, no sul da Inglaterra.
- O "Homem comprido" de Wilmington, em Sussex, na Inglaterra.
- O cavalo de 13 m de comprimento e 9 m de altura, a mulher gigante de 28 m de altura e 21 m de largura, de braços estendidos, e o homem gigante de 51 m de altura, o trio existente nas proximidades de Blythe, na Califórnia, EUA.
- O gigante de 46 m de altura, em Sacaton, no Arizona, EUA.
- Os desenhos "Boulder Mosaics" no Parque de White Shell, na província de Manitoba, no Canadá.
- A colina "Silbury Hill", perto de Wiltshire, a 8 km do oeste de Marlborough, na Inglaterra.
- Os enormes octógonos, em número de seis, com o comprimento total de 17,5 km, perto de Poverty Point, na Louisiana, EUA.
- O dique "Serpent Mound" de mais de 400 m de comprimento, à beira do riacho de Bush Creek, em Ohio, EUA.
- Os gigantescos círculos ou rodas concêntricas, conforme existem perto de Ripon, Yorkshire, na Inglaterra, na ilha japonesa de Hokkaido, perto de Nonakado, e nos diversos Estados dos EUA, tais como a "Medicine Wheel" (= Roda do Remédio), nas montanhas Big Horn, no Estado de Wyoming, EUA.
- E, por fim, mas não o menos importante, o "tridente dos Andes", de uns 250 m de altura, perto de Pisco, na baía de Paracas, no Peru.
Esta pequena mas bem variada coleção pode servir de prova do fato de as civilizações precoces terem riscado nas paredes de rocha das montanhas e/ou gravado no solo sinais que, em sua totalidade, eram visíveis tão-somente de certas altitudes. Para que e para quem fizeram isso?
A literatura especializada em Arqueologia garante que tais práticas fizeram parte de um culto antiqüíssimo. Pode ser. Mas, que culto era esse? Esta pergunta, que está sendo levantada com toda a devida modéstia, jamais encontra resposta. Se era um culto, deveria ter sido de caráter universal, pois, teve um denominador comum, motivando atividades idênticas entre todos os povos da Terra. Do contrário, como, em todos os continentes, nos quatro cantos do globo, as pessoas ter-se-iam animado a escalar montanhas, para riscar sinais e símbolos nas paredes de rocha mais inacessíveis, bem como desenhar figuras no solo de uma planície, desenvolvendo assim um trabalho cujo resultado nem era discernível, a pouca distância.
Os sioux contam a seguinte lenda:
Há muitas luas atrás, no passado dos ancestrais, uma grande roda desceu do firmamento para a Terra. Brilhava como o fogo e o cubo da roda cintilava como as estrelas. Os ventos uivavam inquietantes, quando a roda pousou no topo do Monte do Remédio. Os habitantes da aldeia fugiram, amedrontados. Quando olharam para trás, de uma distância segura, observaram como a roda tornou a levantar-se - "como um pato selvagem, no mato" - e jamais tornou a ser vista. Os homens sábios da tribo reuniram-se e tomaram a deliberação de cercar, de pedras, o ponto exato do pouso da roda, a fim de que, por todos os tempos, as gerações futuras conservassem a lembrança da "matatu wakan'''', da roda celeste. Como os sioux acreditaram que a roda teria vindo do Sol, começaram a riscar no solo sinais gigantescos, somente discerníveis por uma águia, que voasse bem no alto.
Esta lenda, em absoluto, não é motivo de dar risada, considerando que neste nosso século XX, tão esclarecido, nascem "cultos" tais como os seguintes:
Muitos dos habitantes das ilhas da Melanésia, no sul do Pacífico, levam em sua pele uma tatuagem, que nem sabem ler e que diz: EUA. Afirmam que, muito tempo atrás, receberam a visita do rei de um país longínquo, chamado América; aquele deus atendia pelo nome de lohn Frum e prometeu voltar, um dia, com 50.000 acompanhantes celestes, saindo do vulcão Masur, para remediar a sua miséria e levar a felicidade para todos eles. Contudo - assim falam - o deus lohn Frum só voltará sob a condição de eles praticarem os ritos e venerarem os deuses. Destarte, eles alçaram nos ombros ripas compridas, murmuravam orações na abertura de primitivíssimas caixas de madeira, enfeitadas com folhas de palmeiras, e executavam movimentos rítmicos, andando em círculo. O que estava fazendo aquela gente? Nada mais e nada menos do que imitar os soldados norte-americanos que, em 1942, fizeram um pouso de emergência naquelas ilhas e lá permaneceram até que foram resgatados pela Força Aérea do seu país. A literatura especializada classifica este culto recente como sendo "de carga", significando carregamento de navio ou avião; mas é preciso ter em mente que tal classificação foi feita por intérpretes de culto, de origem ocidental.
Em 18 de outubro de 1978, a BBC de Londres, dando prosseguimento à sua série de documentários PANORAMA, transmitiu um filme, que mostrava o lançamento de um foguete, no Zaire, na África. Anos a fio, uma firma alemã, a OTRAG, estava realizando tais lançamentos. experimentais, nas terras de Mobutu, para desenvolver e testar um foguete de baixo custo. A câmara focalizou um grupo de indígenas assistindo, maravilhados, ao lançamento; um deles anunciou: "São os nossos amigos poderosos, mandando brasa para o céu!" Será que, após o término dessas experiências e a saída do pessoal da OTRAG, surgiria um “culto do foguete"?
Considerando que, nestes nossos dias de hoje, ainda nascem cultos, em função de acontecimentos reais e efetivos, é perfeitamente licito supor que, por sua vez, os cultos e mitos dos tempos remotos também tiveram como pano de fundo uma realidade, uma ocorrência verdadeira, tornando, assim, plausíveis os gigantescos "sinais de pedra", os sinais para os "deuses". Será que isto é tão difícil de compreender?
Em 1868, o alemão Adam Renders, aventureiro e comerciante de marfim, perdeu-se na selva espessa da África do Sul. Com a faca, abriu uma picada, através da vegetação densa, para reencontrar o caminho de volta, ao convívio dos homens. De repente, ele se viu diante de uma muralha de 10 m de altura!
No instante em que deparou com aquela muralha pensou ter voltado à civilização, pois onde há uma muralha também há gente. Correu ao longo da muralha, completando todo o seu trajeto quando, então, verificou que estava andando em círculo, pois sempre voltava ao ponto de onde partira. Enfim, debaixo da vegetação, Renders descobriu uma brecha na muralha. Presumivelmente, ele considerou-se como o primeiro homem branco a penetrar nas ruínas do Zimbabwe.
Em 1871, Renders levou para lá o geólogo alemão Karl Mauch, que fez uma planta das ruínas, voltou para a Alemanha e lá se apresentou como o descobridor de Zimbabwe. Mauch defendeu a teoria segundo a qual, no próprio local das ruínas e ao seu redor, ter-se-ia situado o país dos sonhos, Ofir, de onde Salomão tirou ouro, conforme reza a Bíblia:
"Eles, tendo chegado a Ofir, tomaram lá quatrocentos e vinte talentos de ouro e levaram-nos ao rei Salomão." 3Rs 9, 28
Esta foi uma das inúmeras interpretações usadas para elucidar o enigma do Zimbabwe.
Aconteceu, porém, que outros pesquisadores, igualmente certos dos seus achados, localizaram alhures Ofir, o país dos sonhos; imaginaram-no na Índia e no Elam, antigo Estado vizinho da Caldéia, na Arábia, bem como na África Oriental. Provavelmente, situara-se no trecho sul da costa ocidental do Mar Vermelho. Seja como for, Karl Mauch levantou mais uma teoria, engrossando assim o número das já existentes, sem saber que, desde muito tempo, o local enigmático constava nos autos. Outrossim, as ruínas exerceram um estranho e permanente fascínio sobre Adam Renders, que lá ficou até a sua morte.
As ruínas do Zimbabwe estão cobertas por um véu espesso, tecido com especulações românticas. O arqueólogo Marcel Brion41 coletou todas as teses referentes ao Zimbabwe e constatou, em resumo, que não passam de "especulações românticas" .
Não é de admirar que o Zimbabwe se tenha constituído numa espécie de segredo, devido à sua localização bem no coração das selvas africanas, pois, nem AbuI-Hasan Mas'udi, o viajante e escritor árabe, altamente escrupuloso, que viveu em Bagdá por volta de 895 d.C., a partir de onde empreendeu extensas. viagens de pesquisas, fez qualquer menção do Zimbabwe na sua obra principal "Mineração do ouro". E, nos tempos de Mas'udi, comprovadamente grandes quantidades de ouro foram extraídas naquela área.
Damião de Góis (1502-1574), historiógrafo português, muito viajado, mencionou Zimbabwe sem, no entanto, ter visitado pessoalmente as ruínas; delas soube por indígenas, orgulhosos da sua terra nativa, que lhe falaram daquelas obras grandiosas. Outro contemporâneo e conterrâneo de Damião, João de Barros (1496-1570), refere-se a Zimbabwe na sua obra "ÁSIA", em 4 tomos, onde escreve o seguinte, a respeito:
"Os indígenas chamam aquelas obras de Zimbabwe, o que quer dizer "residência real"... Ninguém sabe quem as edificou, nem quando foram edificadas, porque o povo local não sabe escrever e nem possui quaisquer tradições históricas. Contudo, afirma que aquelas obras foram levantadas pelo diabo, pois, no seu entender e considerando as suas próprias capacidades, àquela gente parece impossível que fossem erguidas pela mão do homem ...”
Duzentos anos depois, em 1721, o governador de Goa comentou:
"Está sendo relatado que na capital de Monomotopa existe uma torre, ou edificação de alvenaria que, evidentemente, não foi levantada pelos indígenas daquela região."
Em fins do outono europeu de 1976 estive em Zimbabwe, desde há muito grande ponto de atração turística. Saindo de Fort Victoria, o campo das ruínas pode ser alcançado por uma estrada asfaltada, relativamente estreita. A uns poucos quilômetros de Zimbabwe, fica o "Zimbabwe Ruins Hotel"; alguns chalés, com teto de palha, margeiam um pátio, em forma de ferradura; lá há mesas de pedra e' garçons solícitos, servindo comida e bebida; para assinalar o tipo de serviço que cada um presta, levam uma faixa de seda, na qual está escrito, em letras garrafais: "Garçom de Pratos Quentes", "Garçom de Pratos Frios", "Garçom de Vinhos", "Maitre". A vida ali seria bastante calma e agradável, se não fossem as salvas de espingarda e o fogo de metralhadora, a ressoarem de um vale vizinho; Moçambique fica a apenas uma hora e meia dali.
Nos hotéis e restaurantes na Rodésia que cheguei a conhecer, há garçons brancos e negros, arrumadeiras brancas e pretas; os motoristas de táxi e ônibus, brancos e negros, fazem parte integrante do movimento nas ruas. Há muitos brancos que não gostam dos negros e negros que não suportam os brancos. Será que na Alemanha Federal, com todos aqueles "operários imigrantes", as coisas seriam, basicamente, diferentes? Será que os alemães gostam dos operários turcos? Será que nós, os suíços, gostamos das centenas de milhares de sulistas que vêm para a nossa terra e ali constroem rodovias, usinas hidrelétricas e perfuram os nossos Alpes, abrindo túneis?
Com estes comentários não quero, em absoluto, diminuir a gravidade do problema racial, a ser solucionado, porém, cumpre fazê-Ios neste contexto, desde que até as ruínas de Zimbabwe entraram naquele jogo político. Até recentemente, na Rodésia, foi considerado chocante atribuir aquelas obras aos indígenas negróides. De fato, nem ao norte, nem ao sul, as inúmeras tribos locais ergueram obras daquelas proporções gigantescas. Os conceitos "organização" e "planejamento" Ihes eram totalmente estranhos e assim continuam, até o dia de hoje. Quem, uns 20 anos atrás, defendesse a tese de os bantos terem erguido Zimbabwe, teria cometido uma gafe enorme, sob o aspecto político, e arriscado à sua posição social. Os negros não deviam ser capazes de executar tais obras arquitetônicas!
Quem já esteve no Zimbabwe. não acha nada fora do comum os seus segredos e enigmas atraírem turistas de todo o mundo. Os mistérios sempre têm o seu atrativo e agem como um ímã.
Tive ocasião de conversar com um arqueólogo rodesiano, Paul Sinclair, aparentando uns 35 anos, funcionário do "National Museums and Monuments of Rhodesia", que há muito tempo trabalha para o Museu de Zimbabwe. Por iniciativa própria; Paul Sinclair organizou escavações nos vales vizinhos; cavou até as camadas mais fundas, de onde trouxe à luz do dia seda chinesa, peças de cerâmica árabe e numerosas jóias dos bantos, bem como estatuetas esquisitas.
Perguntei a Sinclair:
"Na sua opinião, quem teria levantado aquelas obras imponentes?”
"Foram os negros", respondeu. "No idioma shona, Zimbabwe significa "casa respeitada" ou "casa venerável". O conceito "casa venerável" tanto se aplica a um templo de culto, como a uma residência real. Lamentavelmente, até agora ainda não achamos a sepultura daquele ditador real, megalômano, que poderia ter ordenado a execução daquelas obras gigantescas. Assim sendo, por enquanto ficará sem resposta a pergunta: quem era ele?”
"O que lhe fez pensar que teriam sido os indígenas os construtores do Zimbabwe?" continuei indagando.
Sinclair levou-me .para um armário com muitas gavetas, as quais tirou, uma após outra:
"Está vendo? Todos estes objetos foram encontrados no "Vale das Ruínas". Na área compreendida entre aqui e os portos de Sofala e Quelimane, no Moçambique, há uma centena de ruínas, de proporções mais modestas do que aquelas de Zimbabwe, mas que obedecem a semelhantes padrões arquitetônicos. Blocos de granito foram dinamitados com energia térmica e empilhados, um sobre o outro, sem argamassa. Outrora, o reino de Zimbabwe estendia-se até o Oceano Índico. Presumivelmente, os desconhecidos reis de Zimbabwe exportavam ouro e importavam bens de consumo da Arábia e da China. Eis as provas apoiando tal hipótese! Olhe a seda chinesa, as peças de cerâmica chinesa encontradas aqui, no subsolo. Achamos ainda lenços árabes, braceletes, cacos de vidro e até algumas jóias da índia. Desses achados tiramos a conclusão de que, outrora, por aí passava uma rota comercial, que levava aos portos no Oceano índico (atualmente Moçambique). E quais foram os bens comercializados? Pela lógica, foi o ouro, pois sabemos da existência de minas de ouro na região e nas proximidades de Zimbabwe. Também o título dos reis, Monomotata, apóia esta tese, porque significa "dono das minas".
"Não seria antes o caso de supor que os árabes tivessem sido os construtores?" retruquei.
"Não. Tal tese é derrubada pelo fato de serem bem menos numerosos os achados de objetos de procedência árabe, do que aqueles, indiscutivelmente, locais, feitos pela gente da terra. Todas estas gavetas estão cheias de pequenos achados; relíquias dos operários negros, que, naqueles tempos idos, trabalharam na construção civil.”
E ali estavam, nas gavetas, aquelas estatuetas, talvez esculpidas nas horas vagas, em volta da fogueira; na maior parte, seus traços fisiognomônicos são negróides. Porém, descobri algumas que, espontaneamente, me lembraram os meus deuses-astronautas, de cabeça redonda e totalmente coberta pelo capacete. Passei a mão pelos braceletes de marfim, pelas gargantilhas de osso de animais africanos, bem como por trabalhos executados em madeira de lei, ostentando adornos de marfim.
"Sr. Sinclair, se é que o compreendi corretamente, foram os negros que construíram Zimbabwe. Mas, por que e para quê?”
O arqueólogo opinou que o Zimbabwe devia ter sido erguido a título de proteção, como praça forte contra assaltantes, pois já naqueles dias longínquos o ouro lá guardado era um metal altamente cobiçado.
A resposta não me satisfez, de maneira alguma.
O que foi que escreveu João de Barros, o historiógrafo português, muito viajado, a respeito daquilo que soube dos indígenas?
"Contudo, eles afirmam que aquelas obras foram levantadas pelo diabo, pois, no seu entender e considerando as suas próprias capacidades, Ihes parece impossível que fossem feitas pela mão do homem.”
Como andam as coisas, hoje, em Zimbabwe?
A parte central das ruínas é formada por uma muralha de 100 m de comprimento, em forma elíptica, que delimita a área interna, de uns 2.000 m2, o que corresponde à superfície de dois campos de futebol. Hoje em dia, a elipse é chamada de "residência real", aliás, uma denominação bastante absurda, à luz do fato conhecido de, provavelmente, jamais um rei ter residido naquele local, dentro daquelas muralhas. Lá não foram encontrados túmulos, símbolos gráficos, está tuas, esculturas, bem como qualquer vestígio de ferramentas.
Zimbabwe não tem história.
A muralha que cerca a "residência" tem 10 m de altura e 4,50 m de largura média, na base. Seu peso pode ser calculado em umas 100.000 toneladas; ela foi erguida sem argamassa. Restos de alvenaria dentro da elipse não permitem qualquer interpretação razoável. Ali há círculos, elipses menores, um muro mais baixo, em paralelo com a muralha grande ... e, no "canto direito" (lógico, a rigor uma elipse não tem "canto", e por isso as aspas) há uma torre de 10 m de altura e 6 m de largura, na base. A torre não sugere nenhuma finalidade imaginável; não há entrada, nem escadas, nem janelas, suas paredes externas estão forradas, internamente, de pedras compactas.
A arqueóloga inglesa Gertrude Caton-Thompson, que em 1929 estava encarregada das escavações no local, suspeitou da existência de um túmulo, embaixo daquela construção; ela cavou bem fundo, mas não encontrou coisa alguma. Ao que parece, a torre está ali, no meio das ruínas, sem finalidade aparente.
Ao redor da elipse estende-se um campo de ruínas pouco expressivo, chamado "Vale das Ruínas". Pelo menos, lá nada notei que justificasse o termo "vale". As ruínas estão espalhadas sobre a mesma planície na qual se situa a grande elipse. E, como nem poderia deixar de ser. entre as pedras brota uma vegetação abundante, multicor.
Acima da grande elipse e do Vale das Ruínas há ainda um terceiro complexo, localizado no topo de uma rocha bastante alcantilada, chamado" acrópole". Ali, naquelas alturas, as condições naturais do solo foram muito bem aproveitadas; as frestas entre as rochas foram fechadas com alvenaria, formando muralhas. A mais grossa dessas muralhas, a "fortificação externa", mede 7,50 m de altura, 6,70 m na base e vai se adelgaçando para cima, até uma largura de somente 4 m. Os operários que ergueram essas obras não devem ter sofrido de tontura, pois alguns setores da alvenaria da acrópole caem verticalmente no abismo. Esta parte da acrópole deve , ter sido fácil de defender, caso Zimbabwe fosse uma cidadela.
Lá em cima, foram achados pequenos braceletes de ouro, pérolas de vidro e oito aves de pedra-sabão, de saponita, o mineral que, em estado seco, lembra sabão, quando nele se toca. Essas "aves do Zimbabwe" concorrem para tornar aquela paisagem de ruínas ainda mais enigmática; sua altura é de 30 cm e, presumivelmente, outrora repousavam sobre colunas.
No chão da acrópole há alguns desenhos geométricos. É simplesmente grandiosa a vista panorâmica de lá de cima, descortinando o Vale das Ruínas e a muralha imponente.
Alguns blocos de rocha dão a impressão de terem sido lavrados pela mão do homem; a sua altura passa dos 15 m; outros poderiam ter sido trabalhados mecanicamente. No Peru, vi monólitos, que revelam vestígios de processamento análogo. Lá, acima das fortificações incas de Sacsayhuaman, o panorama lembra o de Zimbabwe, sugerindo a presença de gigantes, debaixo dos blocos rochosos. Hoje em dia, uma escada estreita leva, em ziguezague, até os monólitos. Quem lá subir, sem guia, debaixo do Sol escaldante do meio-dia, faria bem em prevenir-se contra mordidas de serpentes.
Cecil Rhodes (1853-1920), fundador da Rodésia, visitou Zimbabwe e interessou-se vivamente pelas inúmeras teorias que, naquele seu tempo, já tentaram explicar a origem da que Ias obras de alvenaria. A seu gosto, Rhodes escolheu, dentre as múltiplas versões existentes, a da Bíblia, segundo a qual Zimbabwe seria Ofir, o país do ouro e dos sonhos.
Mais ou menos àquela mesma época, o arqueólogo J. P. Went, opinou que Zimbabwe seria obra dos árabes. Este parecer continua sendo defendido até hoje, como, por exemplo, por R. Gayre of Gayre, o qual comenta: em parte alguma os bantos ergueram obras monolíticas e por que as teriam erguido justamente naquele local? Gayre motiva a sua hipótese com o comércio do ouro. Em tempos pré-islâmicos, os árabes mineraram o ouro ali e, para proteger seus tesouros, ergueram Zimbabwe; quanto à muralha elíptica, ele cita uma muralha idêntica, do século XVII, que se encontra no Iêmen.
Segundo algumas estimativas, no tempo áureo de Zimbabwe, a produção anual do ouro teria alcançado 600.000 toneladas. Atualmente, a produção de ouro, em toda a Rodésia, é de somente 16 toneladas anuais.
Todavia, tudo não passa de meras especulações, tudo está no ar. Ao que parece, de fato, Zimbabwe não tem história.
Como estou sempre pronto para admitir, com satisfação, que os nossos antepassados, fosse sua pele branca ou morena, souberam manejar o lado prático da vida com mentalidade não muito diferente daquela do homem hodierno, sinto-me um tanto oprimido e nada à vontade em Zimbabwe, diante daquelas obras monumentais, que levam a fama de terem sido Ofir, o país dos sonhos. Por quê?
Caso, a qualquer tempo, lá houvesse um destacamento militar encarregado de vigiar os transportes de ouro, seus membros, decerto, viveram numa acrópole inexpugnável, pois, de lá de cima se descortinava a planície inteira.
Por outro lado, a elipse da grande ruína, na planície, não faz sentido. Ela não permitiu vista alguma. Tampouco lá existiu qualquer coisa útil a um corpo de guarda, que, para o bom desempenho da sua tarefa, a qualquer época, necessitou, como continua necessitando, de elementos tais como torres, sete iras, ameias e parapeitos, para proteger os atiradores. E nem se pode subir, sem mais nem menos, os muros da elipse, pois não há escada ou degraus, que levem até a borda superior, nem ressaltos, que permitam tal escalada. Logo, a grande elipse não conta como peça da fortificação.
Pelo amor de Deus, por que é que tribos africanas teriam carregado centenas de milhares de toneladas de granito para aquele local específico, a fim de lá empilhar uma sobre a outra, as pedras quebradas, construindo uma edificação destas?
Esta pergunta ficou na minha mente e continuou a preocupar-me ao longo de todos aqueles dias em que andei pela paisagem de ruínas... até que, enfim, reparei em uma parede do Museu Zimbabwe, que expunha uma planta daquelas obras monumentais.
Muralhas, muros, alvenaria. No entanto, não há torres, ameias, parapeitos, escadas. Qual teria sido a finalidade desta dispendiosa obra de alvenaria?
Dentro da grande elipse, ao lado de outras ruínas indefiníveis, a torre maciça, cônica, no "canto direito", situa-se em um ponto significante! Será que a elipse e a torre não se assemelhariam, de uma ou de outra forma bastante esquisita, ao modelo Sírio, descoberto entre os dógons, na República do Mali, na África ocidental?
O pesquisador norte-americano Robert G. Temple comprovou, de maneira exata, que, desde tempos imemoráveis, a tribo indígena dos dógons possui noções detalhadas do sistema da estrela Sírio.
Sírio A, a estrela muito clara, astro principal da constelação do Grande Cão, tem uma acompanhante, a minúscula estrela de nêutrons, Sírio B, que gira em torno da primeira, numa órbita elíptica. Nos desenhos rupestres dos dógons, esta órbita elíptica, em torno da estrela clara de Sírio A, é nitidamente discernível, "embaixo, à direita".
Os dógons afirmam ter recebido de um deus, chamado Nommo, o seu imenso saber de Astronomia. Nommo revelou aos dógons a órbita da estrela invisível, Sírio B, em torno de Sírio A, e ainda lhes indicou os nomes e dados das respectivas órbitas de alguns outros planetas no sistema de Sírio. Ali há um planeta que chamam de Sapateiro, bem como uma Estrela das Mulheres; aliás, até hoje. A Astronomia moderna continua ignorando esses dados do sistema de Sírio. Ela sabe somente que, em sua órbita elíptica, Sírio B leva 50 anos para completar uma volta em torno de Sírio A.
Quando, então, me encontrei diante da planta de localização, no Museu de Zimbabwe, uma paralela óptica veio à minha mente. Será que a grande elipse de Zimbabwe, com a torre cônica, "embaixo, à direita" não lembraria as tradições dos dógons, do seu modelo do Sírio? Será que os inexplicáveis restos de alvenaria dentro da grande elipse não indicariam as órbitas do planeta Sapateiro e da Estrela das Mulheres? Por que outro motivo, então, um muro prosseguiria em paralelo com a grande muralha elíptica, ao longo de mais de um terço da sua extensão? Outrossim, aquele muro não pode ter servido para fins defensivos, como, tampouco, podem ter servido para essa mesma finalidade os demais muros redondos ou em espiral, dentro da elipse.
Aliás, somente a bordo de um avião, voando a certa altura, é possível observar como a grande elipse de Zimbabwe, com a maciça e pesada torre no canto "embaixo, à direita", confere quase que completamente com o modelo de Sírio, dos dógons.
E resta a pergunta: além da surpreendente semelhança óptica entre as obras de Zimbabwe e o modelo de Sírio dos dógons, haveria entre eles ainda um relacionamento abstrato, sem base material?
Em todos os tempos e em toda parte do mundo, motivos de culto inspiraram o homem para atividades extraordinárias, para a realização de obras fora do comum. Por toda parte do mundo, os sinais para os deuses eram de origem religiosa. Os templos megalíticos e as pirâmides nasceram de impulsos religiosos, bem como as mesquitas árabes e as catedrais cristãs. Os incas e os maias ergueram suas pirâmides em degraus e seus templos em homenagem aos deuses. Mesmo os mais humildes entre os humildes adeptos dos cultos que dominaram o mundo, coletaram ouro e pedras preciosas, para adornar as efígies dos seus deuses. Quanto a isto, não há diferença entre o pagão e o cristão; todos eles construíram e oferendaram o seu óbolo pela maior glória de um deus.
Seria o caso de indagar se os indígenas de Zimbabwe, adeptos do deus Nommo, teriam erguido um monumento gigantesco, comemorando a procedência do seu deus, oriundo do céu estrelado - um modelo do sistema de Sírio? Será que, no seu fervor religioso, empreenderam e executaram aquela obra enorme e, destarte, promulgaram um manifesto, em pedra, exprimindo a sua esperança no retorno de Nommo à Terra? Queriam eles mandar um sinal para o seu deus, dizendo: "É aqui que vivemos e aguardamos a sua volta ao nosso convívio!?”
As oito aves do Zimbabwe, na acrópole, revelam grande semelhança com os falcões sagrados do deus egípcio Hórus, primitivamente, uma divindade celeste. Seu símbolo era um falcão, de asas abertas.
Será que, conforme sugere Robert G. Temple, os dógons teriam recebido dos egípcios o seu saber antiqüíssimo? De fato, o mais antigo calendário egípcio é o calendário de Sírio e, inicialmente, Ísis, a deusa egípcia, era também a deusa de Sírio.
O que teriam que fazer aquelas oito aves do Zimbabwe, parecidas com falcões, lá, naquelas ruínas africanas?
Não se sabe quando nem por quem Zimbabwe foi construída. A ruína parece não ter história. Tampouco se sabe quando e de onde os dógons vieram para o Mali. Porém, aparentemente, tanto os dógons como os bantos conheceram o modelo da estrela de Sírio, Ambos veneravam o símbolo do deus egípcio Hórus, o falcão. Será que, através da sua lenda do sistema de Sírio, os dógons perpetuaram a lembrança de uma visita de deuses, enquanto os bantos fizeram o mesmo, ao fincar no solo um modelo daquele sistema, que jamais poderia passar despercebido?
Em absoluto, não pretendo que esta minha proposta de interpretar o enigma do Zimbabwe encerre a solução daquele mistério. S~i apenas que, até agora, nada de definitivo se sabe. Como a grande elipse de Zimbabwe não era um forte - este fica a uns 100 m acima da elipse, na acrópole - deve ter-se tratado de uma residência ou espécie de templo. Porém, a tese da residência fica excluída pelo fato de não terem sido encontrados quaisquer sinais, que indicassem tal finalidade, nem nomes de soberanos, nem um adorno qualquer, na alvenaria, de aspecto bruto, quase bárbaro. Nada foi achado que lembrasse um trono; nenhum recinto que testemunhasse que, outrora, ali residiram seres humanos. E, ademais, nenhum soberano, a qualquer tempo, poderia ter aproveitado a torre cônica, dentro da elipse, "embaixo", à direita, tampouco o segundo muro, em paralelo com a elipse, sem sentido aparente.
Na ausência de qualquer finalidade hipotética, seja cidadela ou residência, somente resta a tese que postula um culto religioso. Naqueles dias, passados em Zimbabwe, visualizei, em minha mente, uma procissão de bantos, cantando, avançando de muro para muro, através da vala, entre os muros em paralelo, dirigindo-se para a torre cônica e prestando homenagem ao deus Nommo, do sistema de Sírio.
As teses até agora propostas para a 'solução do enigma de Zimbabwe não passam de meras especulações. Assim sendo, a elas acrescento ainda esta minha opção de interpretar o mistério. Ela vale tanto quanto todas as demais especulações em torno de Zimbabwe. Aliás, após todos os meus estudos e minhas excursões, sempre me lembro do cavalheiro de cabelos grisalhos, que encontrei em Atenas. Cumpre-me apresentar-lhe as minhas desculpas.
Quando estive naquele local, bem pude imaginar uma procissão de bantos, cantando e prosseguindo pela vala entre as muralhas...
Notas
A lenda de "Rongomai", dos maoris, neozelandeses, conta:
"Houve uma guerra entre os antepassados de Nga-Ti-Hau e outra tribo. A tribo má enterrou-se em uma pa (= aldeia fortificada). Os sacerdotes da tribo Nga-Ti-Hau imploraram socorro do seu deus Rongomai, porque a tribo má roubara um objeto divino. Na hora do meio-dia, o deus Rongomai veio pelos ares. Sua aparência externa era a de uma estrela cintilante ou de um cometa ou uma chama de fogo. Ele veio voando, até encontrar-se diretamente sobre a pa e desceu, reto e muito velozmente, na maray (= praça da aldeia). A terra espalhou-se aos montes, para todos os lados, e o barulho era como o deus- trovão. Os guerreiros Nga-Ti-Hau deram vivas ao seu deus Rongomai e, logo a seguir, ocuparam a pa.”
RÓIS REAIS DE REIS
O banco de dados WB 444 - Um povo com passaporte de apátrida - O descobridor do minuto, inventor da roda do carro - Retrato falado de um desconhecido - Dez reis primitivos no WB 444 - Da idade bíblica e da imortalidade - Beberam da mesma fonte? - A erva da imortalidade - Três especulações
As grandes obras de referência, tais como os léxicos e as enciclopédias, oferecem ao consumidor ou consultor a grande vantagem de fornecer dados científicos garantidos, de uma forma exata e sucinta, e atualizados de acordo com o mais recente progresso da Ciência, sem qualquer senão.
Ao folhear esses livros doutos, encontrei o verbete "sumérios", que dizia:
"Sumérios, habitantes do país entre os Dois Rios (Mesopotâmia), situado entre a Bagdá atual e o Golfo Pérsico. Povo de raça ignorada, de existência comprovada, com base no seu idioma, desde inícios do terceiro milênio a.C. Até agora não foi averiguado de onde e quando os sumérios imigraram para a Babilônia, o país entre os rios Eufrates e Tigre.”
Ou:
"Sumérios - habitaram o centro e o sul da Mesopotâmia, do IV ao II milênio a.C.”
Ou ainda:
"É incerta a origem do povo sumério. Talvez tenham vindo das montanhas a Leste, talvez pelo mar. O certo é apenas o fato de eles já terem habitado a Mesopotâmia, nos inícios da História.”
Não resta dúvida, até agora não se sabe de onde veio aquele povo. Aliás, os sumérios, esse povo com passaporte de apátrida, devem à sua grande sabedoria a boa sorte de o seu nome ter sido conservado e não levado pelo vento dos milênios, pois inventaram os 42 caracteres cuneiformes, pelos quais fixaram a palavra falada, efêmera, transformando-a na palavra escrita, duradoura.
Em escavações ao sul de Bagdá, foram encontradas mais de 30.000 lápides de argila, que remontam ao tempo dos sumérios.
Aliás, é contingência tanto grotesca quanto sinistra a de, até pouco menos de cem anos atrás, o próprio nome sumério ter sido totalmente ignorado. Somente Jules Oppert, assiriólogo, nascido em 1825, em Hamburgo, e falecido em 1905, em Paris, logrou localizar o país dos sumérios, decifrando os textos em caracteres cuneiformes; isto se deu em 1869.
Por sua vez, o prof. Samuel Noah Kramer, assiriólogo na Universidade da Pensilvânia, EUA, depreendeu, de descrições registradas em lápides de argila, que a roda do carro (!) e o barco a vela fizeram parte do progresso técnico dos sumérios, que seus negócios públicos eram administrados por autoridades muito bem organizadas e que, até estes nossos dias, ainda continuamos a beneficiar-nos com as suas noções de Astronomia - de onde tê-Ias-iam obtido? - pois os sumérios dividiram o seu dia, "com base no minuto de 60 segundos, até o ano solar".
Enquanto a Europa estava vivendo a era neolítica, entre os sumérios já era praxe autenticar suas contas, seus documentos e assim por diante, carimbando-os. Para tanto, inventaram o sinete cilíndrico, carimbos de somente 2 a 6 cm de comprimento, que levavam, em uma correntinha, ao pescoço, para sempre tê-Ios à mão e deles se serviram os fiscais de impostos, para dar quitação ao contribuinte. No decorrer dos quatro milênios da sua existência, o carimbo granjeou reconhecimento universal, em escala insuperável. Ó, esses sumérios!
Quais os dados a serem acrescidos, hoje em dia, ao retrato falado daquele povo desconhecido?
Cor dos cabelos: bem escura. Algumas inscrições falam em "cabeças pretas". Raça: Antes de os sumérios surgirem entre os rios Eufrates e Tigre, lá existiam tribos semíticas; no entanto, os sumérios não eram semitas e tampouco de descendência negróide. Em relevos aparecem como descendentes de uma estirpe indo-européia que, evidentemente, se espalhou por vastas áreas, conforme comentou Sir Arthur Keith:
"Os traços fisiognomônicos dos antigos sumérios podem ser encontrados a leste, com os habitantes do Afeganistão e Beluchistão, até o vale do Indo, a uns 2.400 km de distância" (da Mesopotâmia).
Pelo que a pesquisa averiguou até agora, os sumérios, não obstante o país da sua origem, trouxeram à Mesopotâmia uma cultura e civilização muito superiores às das tribos lá existentes, que foram por eles absorvidas, sob o ponto de vista étnico.
Aliás, os sumérios estavam perfeitamente cônscios desta sua supremacia, pois, em numerosos mitos da criação, eles se apresentaram como "os verdadeiros fundadores da civilização", como seres criados para servirem aos seus divinos criadores. "Com a ajuda dos seus deuses, mormente Enlil, "rei do céu e da Terra", os sumérios transformaram terras planas, ressecadas, açoitadas pelos ventos, em um reino fértil, florescente" (Kramer).
Como é possível, que, no mínimo quatro milênios atrás, uma civilização avançada tivesse surgido do nada? De quem os sumérios receberam o seu saber?
Quem os instruiu (num cursinho especial?) na construção urbana?
Quem Ihes ensinou a maneira mais prática e eficiente de organizar as suas doze cidades-estados?
De onde tiraram os conhecimentos técnicos que Ihes permitiram abrir canais para a drenagem das suas terras? Aliás, foi assim que protegeram as suas safras contra a fúria das águas do rio Eufrates, que sempre saíram do seu leito e inundavam as margens.
De onde provieram - conforme atestam textos em caracteres cuneiformes - suas noções de Matemática, que Ihes facultaram operar com quadrados, cubos, valores recíprocos, raízes, potências e até o triplo numérico pitagórico? Com cálculos de planos e círculos? E tudo isto, no terceiro milênio antes da era cristã! Quem Ihes teria segredado que o círculo devia ser dividido em 360 graus? Quem Ihes deu esta unidade de medida?
Hoje em dia, estas provas, que documentam a história dos sumérios, podem ser vistas nos locais das escavações na Mesopotâmia, bem como no Museu Britânico, em Londres, ou no Louvre, em Paris, onde estão sendo exibidas, como peças raras, em vastas coleções. São de molde a deixar pasmado, sem fôlego, quem as contemplar. A meu ver, antes do seu surgimento na Mesopotâmia, os sumérios já deveriam ter deixado vestígios da sua tecnologia, cultura e religião, ao longo de uma passagem supostamente extensa. Porém, isto não foi o caso; se o fosse, iríamos saber de onde eles vieram.
Por outro lado, há arqueólogos opinando que os sumérios nem eram imigrantes, mas, que teriam vivido o seu enorme progresso no seu país de origem, entre Bagdá e o Golfo Pérsico. E, de fato, escavações realizadas em Uruk trouxeram à luz do dia documentos, que apresentam relações bastante esquisitas e indicam os nomes certos para coisas e eventos, tais como, casa, pássaro, fogo, templo, deus, céu, chuva e assim por diante, como se um mestre-escola estivesse ensinando os primitivos, falando-Ihes: "Vamos prestar atenção! Olhem, escutem, isto se chama assim e aquilo se chama assim!" Modernamente, nos dias de hoje, isto não se chamaria de ajuda ao desenvolvimento?
A rigor, o jogo de adivinhação já poderia estar terminado! Quando em Isin, antiga residência real, ao sul da Babilônia, reinou a primeira dinastia, de 1953 a 1730 a.C., já se organizavam os "róis dos reis", que representavam uma cronologia do passado. Existem réplicas desses róis, graças ao sacerdote babilônio Berossos, que os copiou, em grego, no século IV, respectivamente, III a.C. Embora aquela cópia seja um tanto fantasiosa, não deixa de ser um caminho viável para tempos perdidos nas penumbras da História.
No ano da graça de 1932 d.C., os sumerólogos ficaram surpresos, admirados, confusos. Em Corsabad, no Iraque, perto de Mossul, no vale do rio Tigre, foram encontrados os originais dos róis dos reis e, com isto, o mundo chegou a tomar conhecimento de nomes e dados autênticos.
A literatura especializada registra o mais antigo e exato daqueles róis sob o termo técnico de ROL DOS REIS DA ANTIGA BABILÔNIA WB 444. Este rol repousa sobre um bloco poligonal, de uns 20,5 m de altura, em dimensões suficientes para relacionar toda a série dos reis primitivos, enigmáticos, recuando até os tempos longínquos da criação do homem.
Outra lista, o ROL DOS REIS BABILÔNIOS A, dá seqüência ao WB 444. O seu início, com nomes e dados da primeira dinastia, é ilegível. Para tanto, o ROL DOS REIS B oferece uma compensação, pois relaciona também os nomes dos reis da primeira dinastia (1830-1530) da Babilônia. Na medida em que podem ser lidos - o tempo executou a sua obra destruidora! - esses dizeres informam sobre os soberanos sumérios e babilônios, bem como os períodos do seu reinado.
Será que, com o achado feliz dos róis dos reis, o enigma sumério chegou a ser solucionado? Não! Em absoluto! Pois, com este achado começaram os problemas.
Segundo este rol, os 10 reis primitivos reinaram a partir da criação da Terra até o dilúvio, 456.000 anos ao todo. Pois sim, é isto mesmo, não se trata de nenhum erro tipográfico! São quatrocentos e cinqüenta e seis mil anos e, após o dilúvio, "a realeza tornou a descer do céu". Os 23 reis seguintes, sucedendo-se no trono real, reinaram, ao todo, 24.510 anos, três meses e três dias e meio. Certamente, um reinado de duração respeitável.
Embora, segundo a interpretação oficial, os róis dos reis fossem "relações dos reis e seus reinados, organizadas em dinastias", houve a suspeita de alguma coisa estar errada. Somente Sir Woolley, o incansável escavador em solo sumério, considerou fidedignos os róis dos reis, mesmo sem entendê-los muito bem. Para os nossos astrônomos eram simplesmente astronômicos demais os algarismos indicativos dos dados cronológicos dos reinados.
Está certo, conforme os padrões convencionais, são pouco concludentes e ainda menos explícitos.
Contudo, antes de expor minhas especulações em torno dos períodos abstrusos daqueles reinados, acho bom apresentar aos meus leitores uma pequena seleção de exemplos daqueles róis reais. Para tanto, cito, a esmo, alguns nomes de reis e a duração do seu respectivo reinado; outrossim, a relação que recua até a criação do homem, encheria muitas páginas, o que, neste nosso contexto, se torna desnecessário e até intolerável.
Em parte, os róis dos reis são, também, róis dos deuses, pois citam reis que, além de venerados pelos sumérios como divindades, ainda eram conhecidos como grandes mestres do povo. Outrossim, Gilgamés, Etana e Enkidu são heróis de epopéias célebres, que levam o seu nome.
Aliás, nomes de soberanos constantes dos róis dos reis foram encontrados, igualmente, inscritos em pequenas lápides de argila e em tijolos, o que prova que os róis não eram produto da fantasia de um ou mais cronistas, mas, sim, que os reis existiram, efetivamente; a sua atuação no decorrer do dia-a-dia foi "autenticada" e carimbada!
No entanto, o que significa a duração fantasticamente longa dos reinados daqueles soberanos?
Friedrich Schmidtke revela a confusão reinante no seio dos sumerólogos:
"No entanto, à primeira vista, parece como se o reino tivesse passado de uma dinastia para a outra, o que, forçosamente, levaria a conseqüências impossíveis, quanto à duração da história suméria.”
Nos círculos especializados especula-se em torno do motivo pelo qual os cronistas, autores dos róis reais, teriam citado "números tão impossíveis". Antes de exibir a relação dos nomes e reinados dos reis sumérios e babilônios, o prof. Schmidtke manifesta a sua resignação, dizendo:
"Aquilo que o rol WB 444 cita antes, deve ser considerado como sendo do domínio da lenda e, neste contexto, nem vem ao caso, malgrado o interesse que, mormente, as dinastias antediluvianas possam oferecer à história das religiões.”
Será que, de fato, datações surpreendentes, fora de série, eram do domínio da lenda? Seria admissível optar pelo caminho mais curto e cômodo, declarando como fábula e lenda tudo quanto não encontra explicação, à primeira vista?
Será que tudo quanto não compreendemos foi obra do grande mágico, chamado ACASO?
O WB 444 registra dez reis primitivos, desde a criação do mundo até o dilúvio. Somados seus reinados individuais, eles governaram durante 456.000 anos, ao todo.
A Bíblia menciona dez patriarcas para o período entre a criação de Adão e o dilúvio; também eles alcançaram idade respeitável.
Pablo Picasso que, aos 68 anos, se tornou pai da sua filha Paloma, era um verdadeiro jovem, comparado com Adão, do qual se diz que o primeiro filho varão lhe nasceu quando ele estava com 130 anos de idade. E ainda, comparado com Adão, que ultrapassou os 900 anos de vida, Picasso faleceu jovem, aos 92 anos.
Por sua vez, Enoque, o profeta antediluviano e sétimo dos dez patriarcas, teve vida ainda muito mais longa, pois aos 365 anos foi "transferido para o céu" e nem chegou a falecer. Matusalém, seu filho, outro patriarca antediluviano, morreu aos 969 anos, aqui na Terra.
Ao serem consultados a respeito de expectativas sumamente otimistas da vida do homem, especialistas em geriatria, norte-americanos e soviéticos, informam que a idade máxima, concedida pela Natureza ao ser humano, seria de 110 a 120 anos. Para eles, as notícias atribuindo 150 anos aos lendários pastores em países balcânicos, que, vez ou outra, a imprensa teima em publicar, carecem de fundamento, pois, sempre que, num caso destes, a gente tenta averiguar a sua autenticidade, costumam faltar os dados mais primitivos, os documentos dando a data do nascimento. Então, foi a tataravó quem contou, que disse...
A nossa expectativa de vida é determinada pela função dos nossos 15 bilhões de células orgânicas. No decorrer da vida, as células dividem-se e sempre tornam a recompor e transformar o organismo. Desde os 20 anos de vida, com cada divisão celular, aproximamo-nos, paulatinamente, do fim, visto que a intensidade da renovação celular acaba com 30, no máximo 50 divisões.
Atualmente, a esperança e expectativa de uma "idade bíblica", da ordem de 110 a 120 anos, continua um sonho, um anseio... até a geriatria lograr reduzir ou refrear a decomposição celular. Aliás, pesquisadores, que examinaram tecidos mumificados de tempos remotos, dizem que as condições que regem a existência humana jamais foram diferentes daquelas atualmente em vigor.
Por conhecer perfeitamente estes fatos indiscutíveis, não me sai da cabeça a pergunta por que os cronistas sumérios e babilônios teriam atribuído aos seus antepassados reais aquela idade astronômica, superando em muito as mais otimistas expectativas de vida, idades que, segundo a pesquisa hodierna, eles jamais poderiam ter atingido.
Sir Charles Leonard Woolley encontrou uma lápide de argila, na colina de EI-Obeid, perto de Ur, na Caldéia, na qual estava escrito:
"Inaugurado por A-anni-tadda, rei de Ur, filho de Mes-anni-padda, rei de Ur". O nome de Mes-anni-padda aparece no rol dos reis, como fundador da 3ª. dinastia pós-diluviana.
É uma contingência estranha que os róis dos reis citem determinados nomes em diversas épocas, diversas dinastias, como se seus titulares tivessem reinado várias vezes e somente sumido em intervalos de alguns séculos ou milênios.
Eis um exemplo: numa lápide encontrada no santuário do Sol, em Sippar, o rei neobabilônio Nabu-na'id (555-538 a.C.) afirma:
"Em homenagem ao deus do Sol, o juiz dos céus e da Terra, ergui o templo ao Sol, sua morada em Sippar. Que fora construída por Nabucodomodsae, um rei anterior e cuja escritura eu mandei procurar, mas não consegui achar. No decorrer dos 45 anos, caíram os muros daquela casa; isto me deixou apavorado; eu caí por terra, entreguei-me ao pavor e meu rosto ficou transfigurado.
Enquanto removia a efígie do deus do interior do templo e a transferia para outro templo, derrubei aquela casa; procurei a sua antiga escritura, rebaixei o solo por 18 côvados e, pela graça do deus do Sol, grande senhor do templo ao Sol, pude ver com estes meus olhos a escritura, lavrada por Naram-sin, filho de Sargão, que, durante 3.200 anos, nenhum rei anterior logrou encontrar e avistar. Sobre a escritura lavrada por Naram-sin, filho de Sargão, coloquei as pedras de alvenaria, com os cantos dirigidos nem para dentro, nem para fora.”
O rei Nabu-na'id deixa bem claro como, daquela escritura tão insistentemente procurada e, por fim, achada a 18 côvados abaixo da superfície do solo, deduziu que seu antepassado real, Naram-sin, havia construído, primitivamente, o templo ao Sol, 3.200 anos antes do seu tempo, ou seja, por volta de 3.800 a.C..
Estranhamente, aquele mesmo Naram-sin, bem como o seu pai Sargão aparecem no rol dos reis em épocas totalmente diversas...
E eis outro exemplo: segundo o rol dos reis, A e B, Hamurabi reinou durante uns 700 anos, antes de Burnaburias I. Os sumerólogos acham isto absolutamente impossível:
"Da mesma forma, os dados que dizem que Hamurabi teria vivido 700 anos antes de Burnaburias, estão completamente fora de cogitação." Por que fora de cogitação? Pois, é assim que consta, textualmente, nos róis dos reis, redigidos com o máximo cuidado!
Lápides de argila, com inscrições em caracteres cuneiformes, encontradas em muitos lugares, eternizam os nomes dos diversos reis. Elas atestam, de maneira irrevogável, que esses soberanos governaram e bem efetivamente; as inscrições dos nomes têm caráter documentário, portanto, elas são autênticas.
Por outro lado, os róis dos reis indicam desde quando e até quando os respectivos soberanos existiram e exerceram os seus poderei reais.
É aqui que começa o jogo do enigma gráfico!
Os sumerólogos estão empenhados, de corpo e alma, em determinar a exata sucessão cronológica das dinastias, com os seus reis. Com base numa inscrição qualquer, achada em um lugar qualquer, torna-se possível determinar o período do reinado de um determinado rei. Fixa-se uma data e dela se deriva uma seqüência cronológica, tanto regressiva, quanto progressiva, a saber:
O rei X foi sucedido pelo rei Y. O rei Y foi morto, em guerra, pelo rei Z. Isto quer dizer que o rei X teria vivido antes do rei Z.
E aí, então, a história muito recuada no tempo zomba dos pesquisadores, tão empenhados no assunto! Os nomes dos reis X, Y e Z surgem em outras lápides de argila, noutra seqüência cronológica e completamente fora do contexto já apurado.
O que se deve fazer para evitar que a árvore genealógica, erguida com tanto zelo e trabalho penoso, não caia por terra, não apodreça!?
Faz-se o que os arqueólogos costumam fazer em tais casos; a culpa é atribuída aos antigos cronistas. Diz-se que eles não souberam contar o tempo; que registraram os reis com as datas, um ao lado do outro, ao invés de um atrás do outro. Aliás, eles não brilharam pela inteligência, é o comentário final, encerrando o assunto.
Todavia, mesmo assim, diante de tais evasivas, um tanto desastradas, resta o fato de os pobres, dos cronistas, impossibilitados de irem em sua defesa, terem anotado, com exatidão, um reinado após o outro, nos originais dos róis dos reis! E, neste contexto, se torna igualmente incompreensível o motivo pelo qual também o Velho Testamento foi escrito por historiadores tão pouco responsáveis, no que se refere aos dez patriarcas antediluvianos.
À primeira vista, nem me parece tão inverossímil a idéia de tanto os róis dos reis, como o Antigo Testamento serem da autoria dos mesmos cronistas. O relato bíblico confere com a pesquisa histórica, segundo a qual o jovem Moisés, posterior libertador de Israel e fundador da religião de Jeová, foi criado na corte de um faraó egípcio; sem dúvida, ele teve acesso às bibliotecas, muito bem cuidadas, do segundo milênio antes da nossa era.
Teria Moisés estudado os róis dos reis sumérios? Teria ele armazenado aqueles dados na sua memória proverbial, para, depois, transmiti-Ios oralmente? Porém, se assim foi, por que ele não adotou para os dez patriarcas do Antigo Testamento as mesmas datações que os cronistas sumérios colocaram ao lado dos nomes dos dez "reis primitivos"?
Mesmo especulando em torno da idéia de ter sido consultada uma mesma fonte, tanto para os ancestrais sumérios, quanto para os bíblicos, após reflexão madura resta somente um ponto em comum, a saber: os dados astronômicos e fantasiosos da idade dos reis primitivos e dos patriarcas. Contudo, isto não basta para elucidar o fenômeno.
Gostaria de introduzir nos debates três explicações especulativas, conforme seguem:
- I) - Em certos intervalos de tempo, os reis primitivos foram convidados por extraterrestres para vôos em outros sistemas solares. O Livro de Zohar, obra principal da tradição, judaica (Cabala), dá descrições detalhadas de tais vôos, que também são dadas no livro do patriarca Enoque, aprovado pelo cânone da primitiva Igreja abissínia.
Por sua vez, o historiador e tecnólogo prof. Richard Henning qualificou trechos da lenda suméria ETANA, como "a mais antiga lenda de vôo, do mundo". Entre 3.000 e 2.500 a.C., essa viagem aérea tanto foi descrita em caracteres cuneiformes, como foi representada em relevos, em sinetes cilíndricos. A epopéia suméria de Gilgamés descreve a viagem de sonhos do herói titular, para a morada dos deuses.
Vôos para mundos longínquos não representam contos de fadas, com os direitos reservados exclusivamente aos orientais. Tais excursões acham-se descritas com detalhes igualmente ricos e precisos, na epopéia nacional hindu, a Maabarata, bem como na Ramaiana, que data do século IV ou III a.C.; constam dos mitos nórdicos, tanto quanto das tradições dos índios. Não há direitos nacionais para relatos de viagens celestes, feitas em companhia de "deuses".
Desde que Albert Einstein (1879-1955) desenvolveu a sua "Teoria da Relatividade Especial", encontraram a sua explicação, seqüências numéricas monstruosas, para a evolução e extinção da "vida". Experiências físicas comprovaram a teoria de Einstein, com um fato das leis da Natureza.
A eterna lei da Natureza, que rege a dilatação do tempo, atesta nada mais e nada menos que, para os astronautas a bordo de uma nave espacial interestelar, que voe a velocidades próximas daquela da luz, o tempo passa em ritmo mais lento, do que aquele que passa para os que ficaram no solo terreno. Desde Einstein, o "tempo" deixou de ser uma grandeza fixa, de vez que pode ser manipulado, mediante os fatores energia = velocidade.
A luz deste saber, como se apresentam os dados incríveis dos róis dos reis sumérios?
As inscrições suméricas, que chegaram até nós, não falam somente em vagos processos da política externa, que, no meandro das datas, bem poderiam ter perdido a sua exata seqüência cronológica. Mas, sim, de uma maneira objetiva e sóbria, relatam acontecimentos reais, efetivos, como, por exemplo, a construção de palácios e templos, obras executadas para os "deuses" que, obviamente, se encontravam no seu meio. Aliás, tal modo de procedimento não é nada estranho, nem surpreendente, visto que os reis sumérios se consideravam tão-somente como lugares-tenentes dos deuses "legítimos". Esses" deuses" empossaram, pessoalmente, os reis e tornaram a empossá-Ios, depois de passado o grande dilúvio. Passadas as vagas que quase tornaram inabitável o nosso planeta, "a realeza tornou a descer do reino celeste". É assim que está escrito nos róis dos reis.
Uma vez admitida tal realidade, nem parece tão absurda assim a idéia de que os deuses-reis ou seriam os próprios extraterrestres, em pessoa, ou, pelo menos, teriam sido convidados pelos extraterrestres para acompanhá-los em um ou outro vôo, com destino a outros sistemas planetários.
Os algarismos "fora de cogitação" da duração dos reinados, mais a afirmação de a realeza ter descido dos céus, permitem supor que não se tratou, apenas, de coisas terrenas.
Para quem está familiarizado com a lei da Natureza que rege a dilatação do tempo, a soma total dos 456.000 anos do reinado dos dez reis primitivos nem parece mais tão absurda, assim. Até se tornou algo de corriqueiro, a provocar uma boa gargalhada com as cambaxirras eurásicas, da família dos trogloditídeos!
- II) - Unindo-se aos filhos e às filhas da Terra, os extraterrestres (deuses) geraram descendentes. É o que afirma o profeta Enoque. Assim também está escrito no rolo de Lameque, de mais de 2.000 anos, achado em 1947, em Quirbet Qumram, no litoral do Mar Morto. O deus sumério Enlil, que reinou em Nippur, seduziu e engravidou a encantadora Ninlil. Até o Gênesis fala em casamento de "filhos dos deuses" com "terrestres".
Sem dúvida, no consultório de um psiquiatra, os frutos de tais atos de criação, tão estrambóticos, poderiam ter revelado aspectos fora de série da sua vida íntima, necessariamente perturbada. Em sua qualidade de hermafroditas, esforçaram-se por imitar seus maiorais "celestes", presumivelmente com uma boa dose de inveja, pois todos os "deuses" eram imortais, ao passo que a eles, hermafroditas, esperava a morte, o destino dos terrenos.
Os descendentes divinos, gerados aqui na Terra, tornaram-se mortais, porque, com a partida definitiva dos extraterrestres, não tiveram mais chance alguma de acompanhá-Ios em vôos espaciais interestelares, a altíssimas velocidades. Destarte, ficaram sujeitos ao processo irreversível do envelhecimento natural.
É perfeitamente compreensível a aversão dos filhos dos deuses ao decurso das etapas normais, a serem percorridas pela vida terrena; é lógico que queriam reinar por mais tempo possível e gozar da submissão dos seus governados terrenos. Pois, também naqueles tempos remotíssimos, o poder já estava do lado de quem governava.
Estudando a literatura suméria, surgem as seguintes perguntas do meandro confuso dos enigmas, que aguardam solução:
O que foi Dilmun, o paraíso sumério, aquele jardim celeste "no qual não existiam nem a doença, nem a morte"?
O que foi "a erva da imortalidade" conhecida de Utnapishtim, um ancestral do herói Gilgamés, o qual habitara uma ilha "além do mar dos mortos" e era imortal? O que era aquela "planta da juventude eterna"?
Utnapishtim, um dos sobreviventes do dilúvio, conheceu-a e confiou o seu segredo a Gilgamés, dizendo que a imortalidade estaria numa planta do mar de águas doces. Gilgamés foi em busca da erva, que conseguiu e queria dar de comer a seus parentes mais próximos. Ao voltar para casa, o herói desceu no fundo de um poço, para lá tomar banho; entrementes, apareceu uma serpente que lhe roubou a erva preciosíssima. Gilgamés chorou a sua perda.
Será que os filhos dos deuses e/ou os reis primitivos conheceram drogas capazes de frear, radicalmente, o processo da decomposição celular, preparados capazes de conservar as funções vitais por tempo além do normal?
Até hoje, a erva da imortalidade não foi encontrada. A geriatria continua em sua busca, em benefício do homem hodierno.
III) - Será que os cadáveres dos filhos dos deuses e/ou dos reis primitivos foram mumificados, guardados em soluções que conservaram os tecidos e vigiados por sacerdotes, pelos quais foram ressuscitados, séculos após o seu falecimento?
Será que praticaram os métodos de congelação, a temperaturas baixíssimas, que, ao contrário do que revelaram todas as nossas experiências neste sentido, excluíram a cristalização das paredes e dos núcleos celulares? Seria esta a explicação da afirmação sempre renovada, segundo a qual os "deuses" teriam estado eternamente "presentes" no recinto do templo?
Os sacerdotes de casta superior sabiam que os deuses, em pessoa, continuavam sempre no seu meio, que eram eles os donos legítimos das cidades e que tão-somente encarregaram os reis, por eles empossados, dos negócios da sua administração. Os sacerdotes tanto recearam a volta dos deuses extraterrestres, como o despertar dos filhos dos deuses, adormecidos.
O templo primitivo era ideado como lugar efetivo do encontro dos legítimos deuses, corpóreos. Somente em época muito posterior, quando os deuses não voltaram mais e os filhos dos deuses, adormecidos, continuaram no seu sono, os sacerdotes procuraram, por meio de expedientes vários, subordinar à sua vontade, o povo e o rei. Nos templos foram erguidas estátuas, efígies, a título de substituir e representar os celestes.
Quem sabe se, mediante estas três especulações, não se chegaria à solução do enigma em torno dos róis dos reis, WB 444? Os elementos armazenados naquele banco de dados são demasiadamente precisos.
Notas
Em 5 de setembro de 1978, o Dr. Knut Oppenlaender, naturalista de Ludwigshafen sobre o Reno, RFA, escreveu-me uma carta. Ele chamou a minha atenção para uma curiosidade, na qual reparou, lendo um livro dos seus filhos, intitulado "FATOS - OS RECORDES MAIS ESTUPENDOS DO MUNDO". Ao inteirar-me do texto fora-de-série daquela sua missiva, julguei que, se fosse um "recorde mundial", deveria estar mencionado no "GUINNESS BOOK OF WORLD RECORDS" - Registro Guinness dos Recordes Mundiais. Fui para a minha biblioteca, tirei a edição de 1978 daquele registro e lá encontrei, à pág. 207: "O mais comprido nome do mundo”.
O texto era idêntico ao citado do livro em alemão e que me foi remetido pelo Dr. Knut Oppenlaender. Eis o nome mais comprido do mundo:
ADOLPH BLAINE CHARLES DAVID EARL FREDERICK GERALD HUBERT IRVIN JOHN KENNETH LLOYD MARTIN NERO OLlVER PAUL QUINCY RANDOLPH SHERMAN THOMAS UNCAS VICTOR WILLlAM XERXES YANCY ZEUS WOLFE-SCHLEGELSTEINHAUSEN-BERGER-DORFFVORAL TERNWARENGEWISSENHAFTSSCHAFERSWESSENSCHAFEWARENWOHLGEPFLEGTEUNDSORGFALTIGKEITBESCHUT ZENVONANGREIFEN DURCH IHRRAUBGIERIGFEINDEWELCHEVORAL TERNZWOLFTAUSENDJAHRESVORANDIEERSCHEINENDENVANDER ERSTEERDEMENSCHDERRAUMSCHIFFGEBRAUCHLlCHTALSSEINURSPRUNGVONKRAFTGESTARTSEINLANGEFAHRtHINZWISCHENSTERNARTIGRAUMAUFDERSUCH ENACH DIESTERNWELCHEGEHABTBEWOHN BAR PLANETENKREISEDREHENSICHUNDWOHINDERNEURASSEVONVERSTAN DIGMENSCHLlCH LEITKONNTEFORTPFLANZENUNDSICH ERFR EUENANLEBENSLANGLlCHFREUDEUN DRUH EMITN ICHTEIN FURCHTVORANGREIFENVONEINAN DERINTELLlGENTGESCHOEPFSVONHINZWISCHENSTERNARTIGRAUM, sênior, nascido em 29.02.1904, perto de Hamburgo.
Seria um 1º. de abril? Absolutamente não. Foram estes os dizeres registrados no passaporte do cavaIheiro que, em 29 de fevereiro de 1904, nasceu perto de Hamburgo e, posteriormente, emigrou para a América. Evidentemente, o nome completo não era praticável, não cabia em cartões de visita ou cabeçalho de papel de carta. Até pouco tempo atrás, o cavalheiro usou somente o segundo e o oitavo dos seus prenomes e as primeiras 35 letras do seu sobrenome; hoje em dia, ele vive em Filadélfia, EUA, escolheu o seu sobrenome, assinando: 'WOLFE+585, sênior". Com tal nome é possível conviver.
Os editores do "GUINNESS BOOK OF WORLD RECORDS", bem como os do livro alemão, copiaram letra por letra aquele monstro de palavra - conforme eu também o fiz - sem fazer idéia de que a mesma encerra uma mensagem, em alemão medieval. Traduzido, o texto diz o seguinte:
"Nos tempos antigos, viveram pastores conscienciosos, que cuidaram devidamente das suas ovelhas. Então, antes de surgirem os primeiros homens terrestres, apareceram inimigos rapaces; isto aconteceu há 12.000 anos atrás. As naves espaciais usaram a luz como fonte energética. Na busca de planetas habitáveis, fizeram uma longa viagem no espaço estelar. A nova raça multiplicou-se, unindo-se à humanidade sensata. Eles gozaram da sua vida, sem medo de agressores, de outros seres inteligentes, provenientes do cosmo.“
Destarte, um antepassado medieval do Sr. Wolfe, sênior, deve ter tido conhecimento do mais remoto passado humano e queria transmiti-Ia aos seus pósteros; para tanto, fê-Ia constar do sobrenome da sua família. Era sua intenção fazer alguém reparar naquela interminável seqüência alfabética!
Apesar da condensação para um nome tipo endereço telegráfico, o Sr. Wolfe ainda respeitou a vontade, do seu antepassado, acrescentando" “+585" pois cortou exatamente 585 letras do seu sobrenome.
PROFETA DO PASSADO
Repercussão mundial de uma teoria - Operação em três planos - Como a teoria dos deuses-astronautas cabe no passado pré-histórico - Uma escola internacional de alvenaria? - "Programa para a Reabilitação dos Chimpanzés" - Deuses prometeram voltar - Os dez Mandamentos - O que os extraterrestres esperam de nós?
Em fins da década dos anos 60, o meu primeiro livro "ERAM OS DEUSES ASTRONAUTAS?" (Melhoramentos, 1969) estava na lista dos "bestsellers" (= livros mais vendidos), em quase todos os países, no mundo inteiro. Após a surpresa inicial e a gozação obrigatória, um furacão de entusiasmo e indignação passou por todo o nosso planeta.
Quanta coisa foi escrita, desde 1968, sobre os deuses, vindos do cosmo!
Somente no mundo chamado livre, desde então até hoje, foram publicados 321 (!) livros a favor do "meu" assunto. Entre aquelas publicações há algumas, que tratam do tema de maneira generalizada, outras focalizam determinado país e ainda outras ressaltam certos aspectos parciais, conforme o fizeram os seguintes autores: "Josef Blumrich: "DA TAT SICH DER HIMMEL AUF" - E o céu abriu-se (As naves espaciais do profeta Ezequiel e a confirmação da sua existência de outrora, pela tecnologia mais atualizada); Robert G. Temple: "DAS SIRIUS-RAETSEL" - O Enigma de Sírio (A Mitologia dos dógons); Luís Navia: "DAS ABENTEUR UNIVERSUM" - A Aventura do Universo (Análises filosóficas).
Desde 1968, o correio entregou na minha casa, aproximadamente, 50.000 cartas que leitores. No meu arquivo estou guardando mais de 43.000 recortes de jornais, que tratam da minha obra e pessoa. Como a agência de recortes, da qual sou assinante, recorta somente de periódicos publicados no âmbito das línguas alemã e inglesa, o número global das respectivas notícias de imprensa deveria passar dos 100.000. O fato de nesse noticiário os comentários positivos superarem os negativos, evidentemente não pode desfazer a impressão deixada pela repercussão negativa, provocada por alguns artigos sensacionalistas, malévolos, na maioria dos casos recheados de citados a mim atribuídos e que jamais fiz. Vá lá que seja!
Em 1972, o renomado advogado Dr. Gene M. Phillips, de Chicago, fundou a ANCIENT ASTRONAUT SOCIETY, depois de assistir, na TV norte-americana, a uma versão condensada do meu filme "Eram os Deuses Astronautas?". A idéia de uma visita de deuses, na Terra, em tempos antes dos tempos, fascinou o jurista a ponto de resolver reunir alguns amigos e com eles fundar uma sociedade, de utilidade pública, para a troca de idéias sobre a respectiva teoria e pesquisa. Naquela época, o Dr. Phillips escreveu-me uma carta, solicitando a minha colaboração.
Em 1979, a Ancient Astronaut Society contava com 4.000 membros, em 42 países, um terço dos quais acadêmicos e quase todos autores de publicações, que versavam sobre a "minha" especialidade. A partir de 1974, a Sociedade realiza anualmente um congresso mundial, com sede em vários países, promovendo, nessa ocasião, conferência e discussões (nas quais tomam parte também os nossos críticos) e divulgando os mais recentes resultados de pesquisa. Tais congressos mundiais foram realizados em 1974, em Chicago, EUA; 1975, em Zurique, Suíça; 1976, em Crikvenica, Iugoslávia; 1977, no Rio de Janeiro, Brasil; 1978, em Chicago, EUA; 1979, em Munique, RFA; 1980, na Nova Zelândia.
A nossa teoria não seria tão boa quanto o é, se não tivesse encontrado crítica veemente. Desde 1968, vinte e cinco publicações foram lançadas contra a idéia da Ancient Astronaut Society; 19 desses trabalhos autoqualificam-se de "científicos", seja no seu título, seja no seu prefácio; de fato, somente nove desses 19 livros são da autoria de naturalistas. No entanto, embora todos se advoguem, expressamente, o adjetivo "científico", ainda estou para ver um só livro que, efetivamente, o mereça. Tudo aquilo é pura tapeação, obviamente, visando a exercer uma certa "pressão de consumo" sobre a imprensa. Por outro lado, e, não faço dúvidas em admiti-lo, o sistema dos críticos da nossa teoria é perfeito no seu funcionamento; todos eles escrevem, mais ou menos, a mesma coisa, com cada um copiando do outro e recorrendo a citações "científicas", é lógico e bem entendido. Destarte, no caso da emergência das provas, a título de "provas em contrário", as respectivas publicações costumam disparar sempre os mesmos tiros, saindo pela culatra.
É lícito descrever como "tiros saindo pela culatra" aquelas ditas provas em contrário, pois, na realidade, nada provam. Também o "método" aplicado é sempre o mesmo; logo que uma obra arqueológica - seja da autoria de Heyerdahl, Ceram, Brion ou Lhote - dê interpretação, diferente daquela por mim "pretendida", a achados feitos em qualquer local de escavações, pouco importa onde, eu sou "desmentido". Quando especialistas na Ciência das Religiões ou etimólogos interpretam mitos e tradições de forma diferente daquela minha interpretação, sou também eu "desmentido". Invariavelmente, estão erradas as minhas interpretações de textos antigos, sob o ponto de vista da pesquisa moderna e divergente da doutrina oficial. Coisa estranha! Aquilo que os outros apresentam a título de hipótese é tabu, é aceito como o sumo da sabedoria e da verdade, é considerado como saber objetivo, de "marca registrada". Porém, quando eu defendo uma tese hipotética, contrária, em aditamento ou prosseguimento de um parecer qualquer que seja, estou cometendo erros e enganos. Pois é; é neste pé que estão as coisas.
Em que pé estaria o nosso tão decantado progresso atual, se os nossos antepassados tivessem adotado tais métodos para bloquear todo pensamento novo, progressista? Como, no decorrer de toda a nossa História, sempre houve quem considerasse o seu saber definitivo, inabalável, os que se animaram a pôr em dúvida as doutrinas sacrossantas, sempre cometeram uma espécie de sacrilégio, de lesa-majestade. Com quanto gosto os "privilegiados", jamais dispostos a aceitar coisas difíceis de digerir, veriam os seus oponentes expostos à execração pública, queimados vivos na fogueira! Se fosse somente por eles, de fato, a humanidade não teria progredido em campo algum. Com determinadas figuras, o erro sempre está incluído. Aliás, em todas as épocas, o progresso se deu única e exclusivamente em função de idéias novas, inéditas, cujo despontar sempre foi, é e será indispensável para que a nossa evolução não venha a sofrer solução de continuidade. A esta necessidade de postular algo de novo é que agradecemos o nosso progresso, nosso desenvolvimento e a respectiva fase do nosso saber mais atualizado. No início está a utopia. Wernher von Braun (1912-1977) o qual, certamente, deveria sabê-Io, falou:
"Posteriormente, nada parece tão simples como uma utopia que se tornou realidade.”
Malgrado todas as minhas respectivas experiência, em 1977 tornei a acreditar em promessas, que jamais seriam cumpridas. Graham Massey, encenador, procurou e cantou-me, de tudo quanto era jeito, solicitando a minha colaboração em um "documentário objetivo", que focalizava o "meu" tema. Como ele se apresentou em nome da BBC, de Londres, que programaria o "meu" documentário para a sua série "NOVA DOCUMENTARY", concordei em colaborar. Porém, o que efetivamente foi ao ar, era uma produção manipulada, de maneira malevolentíssima, e a imparcialidade, que me fora garantida, virou uma grave difamação unilateral. Naquele programa apareceram, em fileira cerrada, todos os meus adversários, de Sagan a Heyerdahl. Está certo, nada posso dizer contra aquela presença maciça, porém, eu deveria ter sido avisado, previamente, e acareado com eles, a fim de poder defender o meu ponto de vista. Este seria o tão decantado "jogo limpo" britânico, mas, do jeito como o documentário foi programado, os pronunciamentos negativos estavam lá, no ar, respectivamente, no vídeo, sem qualquer argumento em contrário. Se naquele "documentário" houvesse, pelo menos, alguém a favor da minha teoria, debatendo com os meus adversários, ainda se poderia falar em "jogo limpo". Mas, não; única e exclusivamente os meus adversários tiveram vez e voz naquele "documentário" da BBC de Londres.
Um dos trechos menos elegantes daquele "documentário", produzido por Graham Massey, que se julga muito esperto, foi aquele que tratou das pedras gravadas peruanas, achadas perto de Ica, sobre as quais meu colega Robert Charroux, falecido em 1978, escreveu uma monografia. No meu livro "PROVAS DE DÄNIKEN" (Melhoramentos, 1977) relatei a minha visita em Ica e deixei bem claro, preto no branco, que, ao lado das pedras com gravuras legítimas, lá os índios fazem e vendem aos turistas centenas de pedras com gravuras falsificadas. Até procurei um daqueles falsificadores, o índio Basílio Uchuya, a quem falei que compraria uma de suas pedras, se me permitisse olhar como era feita. Aliás, para o meu filme "Mensagem dos Deuses" até rodamos umas cenas que mostravam Basílio confeccionando uma pedra gravada. Tudo isso contei ao Sr. Massey. E como foi que ele aproveitou estes dados no seu "documentário"? Sem o menor escrúpulo sequer, ele mostrou como a equipe dele descobriu o falsificador e, assim, desmascarou o Däniken. Seria este o "jogo limpo" dos ingleses?
Este episódio nem valeria a pena ser mencionado, se não fosse pelo fato de o "documentário" do Sr. Massey ter ido ao ar em toda uma série de países, onde, sem examinar o assunto, mas, sim, indiscriminadamente, os meus adversários aceitaram as distorções e, agora, usam-nas, sob pontos de vista "científicos", argumentando que Däniken foi enganado por um falsificador e o documentário da BBC mostrou como foi "desmascarado". Pouco importa que de todo aquele "documentário" nada, mas absolutamente nada, corresponda à verdade... vale, sim, que o programa apareceu no vídeo e foi assistido por um público internacional de telespectadores. Contra isto não há argumento. Em todo caso, este jogo da BBC não foi nada limpo.
Aliás, em matéria de autopromoção, o troféu foi conquistado pelo conhecido astrônomo norte-americano Carl Sagan! Esse professor comanda uma organização comercial, especializada em propaganda e encarregada de fazer com que periódicos de renome e repercussão, no mundo inteiro, publiquem e continuem publicando entrevistas, cheias de louvor, em homenagem a Sagan.
Por sua vez, a revista "NEWSWEEK" escreve, caçoando: "Sagan é nem tanto assim um cientista, mas, antes, um vendedor de ciências... Por intermédio da firma Carl Sagan Productions, ele lança o seu próprio seriado na TV. Nos intervalos entre as gravações, a sua equipe exibe-o em todo o país, de costa a costa, aproveitando as pouquíssimas vagas na agenda superlotada do superastro, como está sendo apresentado, e distribui o folheto, de 41 páginas, com a sua biografia, transbordando de elogios, que enaltecem a glória e a imagem de Sagan".
Em uma das suas entrevistas, este despretensioso pesquisador das esferas celestes qualificou o meu primeiro livro como "o mais ilógico do século". Sentindo-me elogiado e prestigiado com tais ataques de um superastro, achei que deveria responder à altura as suas críticas da hipótese dos Astronautas Antigos e, da mesma maneira sumária por ele adotada, qualifiquei-as como "as evasivas mais contraditórias do milênio". Com toda aquela sua vaidade, Sagan, o bom astrônomo, é um crítico polêmico, controvertido. Seus argumentos parecem ter fundamento e, por vezes, são convincentes e lógicos, mas, mesmo assim, carecem de substância, não foram pensados conseqüentemente até o fim, ficam à margem, na periferia das coisas. Sobrecarregado como Sagan está com seus assuntos estritamente pessoais, provavelmente ele não dispõe do tempo necessário para também estudar assuntos alheios e preparar-se para debates objetivos.
Outrossim, a bem da verdade, cumpre-me mencionar aqui que, desde fins de 1977, está operando uma entidade, cuja ação, empregando meios engenhosos, é, por assim dizer, a de contraponto. Ela se chama "COMMITTEE FOR THE SCIENTIFIC INVESTIGATION OF CLAIMS OF THE PARANORMAL" (= Comissão para a investigação científica de reivindicações do paranormal). Essa comissão congrega 43 cientistas, jornalistas e educadores, firmemente dispostos a acabar, de vez, nos EUA, com aquela "nova bobagem". O chefe da comissão é o professor de Filosofia, Paul Kurtz, da Universidade Estadual de Buffalo. Desnecessário é frisar que Carl Sagan é um dos seus membros. A exemplo da sua PR-SOCIETY (Sociedade do Paranormal), também a Comissão está empenhada em dotar a imprensa de munição para combater a idéia dos Astronautas Antigos. Sofrem os ataques os canais de TV que, a exemplo da NBC, uma das três grandes redes, adotam a política de dar a palavra inclusive aos "hereges". As redações de revistas populares sentem-se prestigiadas com a remessa de artigos e matérias, distribuídos pela Comissão e consagrados pelos ares acadêmicos, que levam e não fazem dúvidas em publicá-Ios, incontinenti.
Ótimo! Tudo isto está acontecendo desde 1968, por força de um só "best-seller". Como deve ser explosiva e potente uma teoria, capaz de deflagrar uma verdadeira "batalha" nos bastidores! Estou gostando disto. Não atestaria a favor da nossa sociedade atual o fato de bastar uma só idéia inspirada, para colocá-Ia em tal estado de efervescência? Não viria isto provar que, além de pensar tão-somente em automóveis, geladeiras e outros itens do conforto material, ela ainda continua interessada em questões, sem quaisquer proveitos materiais? Que ela se importa, sim, com a origem, a descendência do homem e que seu "sonho" do futuro não se resume, unicamente, no crescimento do produto social bruto?
Embora seja tarefa sempre gratificante, não cabe aqui, dissecar, expor em detalhes os argumentos dos meus amigos, do outro lado da linha de demarcação; isto já foi feito em "ERICH VON DÄNIKEN EM JULGAMENTO" (Melhoramentos, 1979). No entanto, há um só ponto a ser realçado em todos aqueles debates tão acalorados, pelo fato de ser pérfido e de carecer de toda objetividade. Mormente nas escolas (tenho conhecimento disto, pelo grande número de cartas que me são dirigidas por escolares) e nas publicações infanto-juvenis, afirma-se, aberta ou veladamente, que a teoria dos deuses-astronautas é prejudicial e até oferece um risco à humanidade. Como? De que maneira?
Opera-se em três planos, a saber:
- I) De acordo com a conceituação do mundo, aceita e reconhecida, não haveria qualquer necessidade de visitas extraterrestres, em tempos pré-históricos. Todos os fenômenos enigmáticos do passado encontrariam explicação bem mais natural, lógica e, sobretudo, mais simples, do que aquela que especula em torno da visita e assistência atuante de extraterrestres.
- II) Os defensores da teoria dos deuses-astronautas qualificariam nossos ancestrais primitivos de estúpidos e de capacidades muito limitadas, afirmando que não teriam sido capazes de pensar, por eles próprios, nem de erguer obras monumentais, sem o auxílio dos extraterrestres.
III) Tal teoria seria perigosa para o homem, porque a ele ensinaria acreditar em deuses extraterrestres, esperar por sua ajuda e, por conseguinte, deixar de agir por si só, por sua própria iniciativa, confiando aos extraterrestres a solução dos seus problemas.
Tais imputações exigem uma resposta clara e concisa. De fato, constituem-se nos pontos essenciais dos debates travados em torno do assunto, pelo mundo afora; agem como drogas que paralisam o cérebro e bloqueiam os pensamentos.
O que diz, na realidade, a teoria dos deuses-astronautas?
A seguir, os meus comentários referentes aos três pontos supra:
Ref.: I) Não conheço outra teoria a calhar em nosso passado pré-histórico com perfeição e lógica iguais à da em debate e que, com isto, viria explicar melhor fenômenos indecifráveis dos tempos primitivos, tais como:
- A origem da vida na Terra.
- A origem da inteligência na Terra.
- As diferenças entre as espécies símias e o homem inteligente (os elos faltantes).
- A identidade das estruturas de albumina do chimpanzé e do homem (o elemento desconhecido, agindo como motor da evolução).
- A origem primitiva dos cultos religiosos.
- O cerne primitivo das mitologias, dos quatro cantos da Terra.
- As descrições de Deus, dadas pelo Antigo Testamento, falando em "fogo, tremor, ruído, fumaça", bem como aquelas fornecidas por muitos outros textos antigos.
- A origem das raças e dos gigantes.
- A relação dos nomes dos "filhos do céu, renegados", conforme consta do livro do profeta Enoque.
- A pergunta referente a Deus e ao diabo, os antiqüíssimos símbolos do bem e do mal.
- As descrições dos castigos divinos, impostos à humanidade em tempos pré-históricos.
- O dilúvio global.
- Os lendários reis primitivos e os patriarcas bíblicos.
- A "ascensão ao céu" de personagens religiosos e mitológicos.
- A origem e/ou a motivação de monumentos, até agora inexplicáveis, erguidos em tempos pré-históricos (levantados em homenagem aos "deuses", por vezes com ferramentas oferecidas pelos "deuses", ou planejados e executados com base no saber que os sacerdotes conservaram de um passado "divino").
- A instalação de refúgios, oferecendo proteção contra os "deuses" (cidades subterrâneas, labirintos em cavernas habitadas, dolmens).
- Os efeitos da dilatação, do tempo, sempre mencionados em todos os textos (descritos no texto japonês Nihongi, no livro de Baruc, falando no desaparecimento temporário de Abimeleque, e assim por diante).
- As primeiras mumificações (o homem esperava ressuscitar, por ocasião da volta dos deuses).
- O receio, descrito muitas vezes, da volta dos deuses (como o homem transgrediu os preceitos "divinos", receou pelo castigo dos extraterrestres).
- A origem do trigo e do milho, alimentos citados nas mitologias.
- As primitivas oferendas, em homenagem aos deuses (freqüentemente, os extraterrestres aceitaram alimentos em recompensa da sua "assistência técnica").
- A origem de antiqüíssimos símbolos e cultos religiosos (culto ao Sol, culto às estrelas, barcos voadores no céu, rodas no firmamento, objetos tecnológicos, tais como a Arca da Aliança ou o carro voador de Salomão).
- A origem de tradições (tais como a luta do arcanjo Lúcifer, com a "espada de fogo", contra o arcanjo Gabriel).
- A origem de inúmeros desenhos rupestres, com motivos de culto, no mundo inteiro.
- A origem de estatuetas de culto e deuses, nos primórdios da Antigüidade (tais como deuses de capacete, trajando roupas parecidas com as dos astronautas hodiernos, deuses alados, ostentando acessórios tecnológicos, etc.).
- A origem das figuras superdimensionadas, gravadas no solo (dispostas de modo a serem visíveis para "deuses" voadores).
- A origem de cultos, praticados até hoje, em homenagem aos extraterrestres (tais como persistem no meio dos índios caiapós, no Brasil, e entre os índios hopis, no Arizona, EUA).
A relação supra não pretende ser completa; quero, tão-somente, lembrar alguns "pontos essenciais": Com um pouco de boa vontade e objetividade mediana, os meus críticos deveriam admitir que os elos da corrente "pegam" justamente naqueles pontos da nossa pré-história nos quais, até agora, havia lacunas a serem preenchidas.
Com um mínimo de disposição e boa vontade para a objetividade, cairá por terra o argumento lapidar, dizendo que não seria preciso recorrer aos "extraterrestres" para elucidar épocas obscuras do nosso passado, pois a teoria da sua presença, outrora, em nosso planeta, em nada contribui para a explicação de tais fenômenos. - A cabeça da Ciência estaria parcialmente calva, se não fosse coberta de cabelos postiços (que nada escondem e de nada adiantam).
Por onde andariam as respostas "mais simples", que explicam os enigmas indecifráveis do passado? Será que a teoria dos deuses-astronautas seria condenável, justamente pelo fato de ela oferecer as respostas efetivamente mais simples? Seria "mais simples" supor que a evolução do homem, até o homo sapiens, teria passado por um milhão de acasos, ocorridos no curso da evolução genética, ao invés de aceitar a idéia de extraterrestres terem criado os seres inteligentes "segundo a sua imagem", conforme rezam as tradições? Seria mesmo lícito, ao invés de dar uma resposta simples, afirmar que a origem das mitologias e religiões dos tempos primitivos (com seus dados técnicos, freqüentemente citados nos textos) pode ser explicada com um psicologismo submisso. Aceitando-se (por favor, vamos fazer uma só tentativa!) a presença de extraterrestres, no decorrer dos tempos antes dos tempos, não é preciso confinar nossos antepassados no consultório de um psiquiatra, a fim de atribuir explicações vagas e bem vagas, às declarações que, porventura, lá fizessem. Realmente, é mais fácil negar a existência dos gigantes, apesar dos nossos conhecimentos a respeito, do que tratar desse fenômeno, procurando esclarecê-lo. Os vestígios dos gigantes fazem-se notar de maneira bem clara e evidente, tanto nos textos antigos, como nas impressões, que deixaram no solo, quando por lá passaram, e que já foram documentados, em filme fotográfico. Em todo caso, tal método dificilmente pode ser considerado como respondendo uma pergunta enigmática, da maneira "mais simples".
A cegueira profissional é um fato, existente em toda parte e não somente no âmbito da Ciência e sempre está presente quando as pessoas tratam de rejeitar tudo quanto for novo. A fim de dedicar-se, sem impedimento, na área do saber herdado, à contemplação do próprio eu, prefere-se recorrer às explicações mais absurdas; ao invés de demonstrar um mínimo de disposição para ouvir e assimilar a mensagem a ser transmitida por algo de novo, inédito. Uns 2.500 anos atrás, os deuses falaram ao nosso ancestral, o profeta Ezequiel: "Vós, humanos, tendes olhos para ver, mas, nada vedes!". Hoje em dia, presumivelmente, acrescentariam: "vocês são dotados de raciocínio, mas, deixam de usá-lo !
Ref.: II) Jamais escrevi em parte alguma que nossos antepassados eram estúpidos e incapazes de levantar os monumentos pré-históricos. Jamais falei que os extraterrestres teriam construído os templos megalíticos, as pirâmides ou teriam gravado no solo as figuras existentes na planície de.Nasca. São imputações malévolas dos meus adversários, nada objetivos, com as quais pretendem confundir os ânimos.
Outrossim, sou de parecer que a causa e motivação da existência de alguns monumentos enigmáticos remontam a seres extraterrestres ou, por outro lado, que foram empregadas técnicas de trabalho, nas quais os nossos antepassados eram instruídos pelos "deuses". Há boas razões para esta minha suposição! De que outra maneira poderiam ser explicadas as obras magistrais, idênticas, existentes por todo o globo terrestre? Segundo os ditames oficiais, as diversas civilizações primitivas tiveram evolução autônoma, independente uma da outra, na ilha de Páscoa e na Bretanha, os povos pré-incaicos ou os habitantes de Stonehenge, na Inglaterra, bem como em outra parte qualquer. Porém, não pode ter sido assim.
Quando, na ilha de Páscoa, deparo com obras de alvenaria rigorosamente idênticas com aquelas das fortificações incaicas, situadas acima de Sacsayhuaman, no Peru, e quando encontro edificações desta mesma "marca registrada" em Malta, Catal Hüyük, na Turquia, em Baalbek, no Líbano, não posso deixar de indagar: onde teria funcionado uma escola de alvenaria, internacional, a despachar para os quatro cantos da Terra os seus alunos, formados segundo os mesmos princípios técnicos, para que, em toda parte, trabalhassem de maneira igual e aplicassem uma só tecnologia? Naqueles tempos ainda não existiam os meios de comunicação hodiernos, tais como, o avião e o navio, tampouco havia uma revista técnica, intitulada: "Obras megalíticas - hoje".
Eis a minha tese simples:
Se, sem mais nem menos, por este mundo afora, os nossos antepassados colocaram monólito sobre monólito, para edificar seus templos e suas pirâmides, sem que uns soubessem da existência dos demais, deve ter havido um motivo comum para aquele duríssimo trabalho de escravos. Não é?
Considerando que, página após página dos seus livros, o profeta Henoc nos serve petiscos astronômicos (de cujo significado, àquela época, ele não pode ter feito sequer a menor idéia, e, além do mais, afirma que tudo quanto escreveu lhe foi ditado pelos "guardas do céu", seria lícito perguntar: quem, afinal de contas, eram aqueles "guardas do céu"?
Com este meu modo (aliás, muito em voga!) de pesquisar tais tradições, querendo saber como teriam sido as coisas naqueles tempos remotíssimos, em absoluto, não classifiquei os nossos ancestrais de estúpidos! Pelo contrário, considero-os bem inteligentes e espertos, pois eles se adaptaram ao progresso (o que não se pode dizer de alguns céticos da nossa teoria).
Ultimamente, nas especulações em torno dos quocientes de inteligência dos nossos antepassados, ressurge a afirmação de que, conforme provaram experiências práticas, os símios, especialmente os chimpanzés, possuiriam uma inteligência criativa. Em diversas séries de testes, os símios eram ensinados a apertar botões específicos, para obter alimento e água, a acender a luz ou acionar um comutador, para estabelecer "contato" com seus congêneres, na jaula vizinha.
Em 11 de outubro de 1978, o diário "FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG" noticiou:
"Atualmente, uma cidade para 10.000 símios está sendo instalada nas proximidades de Águia, no litoral do Mar Negro. Os símios são do Instituto de Pesquisas Científicas para Patologia e Terapêutica Experimentais. Conforme comenta o semanário moscovita "NEDELIA", as plantas de construção, da autoria do arquiteto Vadim Adamovitch, prevêem um edifício de laboratório e várias casinhas individuais, para abrigar os animais, em uma área de 84 hectares. Cada casinha tem água encanada, camas de bambu e luz do dia. As paredes devem ser pintadas com tintas "epoxyd". Cada casinha terá a sua área privativa. Conforme comentou "NEDELIA", até agora ainda não existe uma reserva de símios, dessas proporções. Uma espécie de grade, de arcos de ferro zincado, em disposição diagonal, deverá isolar a cidade dos símios do resto do mundo." Logo, para daqui a alguns anos, podemos aguardar a divulgação dos resultados dessas pesquisas, anunciando a aquisição de um certo grau de inteligência por parte dos nossos parentes tão distantes e engraçadinhos. Seremos informados que nas camas de casal, de bambu, imitaram o comportamento dos humanos; deixaram de comer bananas da mão dos seus tratadores, passaram a acostumar-se a comê-Ias, educadamente, com o garfo e a faca; nas lições de higiene pessoal, aprenderam a usar o toalete e se comunicam, uns com os outros, de jaula para jaula, pelo telefone.
Por sua vez, a revista ilustrada "SCHWEIZER ILLUSTRIERTE" publicou uma reportagem sobre os adestramentos difíceis, necessários para civilizar os macacos:
"Em 4 de julho de 1971, nasceu no Zoológico de San Francisco, Califórnia, uma gorila fêmea, à qual deram o nome de Koko. Uma jovem, Petty Patterson, levou Koko para a casa dela e - eis a grande surpresa - no decorrer de sete anos de convívio diário, ela ensinou a Koko 350 palavras, que Koko consegue articular, para manifestar as suas vontades. A própria Petty até aprendeu os sinais dos surdos-mudos, a fim de poder comunicar-se com Koko. Agora, decorridos sete anos, Koko sabe empregar aqueles sinais. Recentemente, um gorila macho, Miguel, veio fazer companhia a Koko. Resta saber se os filhotes herdariam as aptidões da mãe... ou, se Petty deve levá-Ios para a escola dos macacos para lá serem ensinados. Pois, afinal de contas, ela adestrou um só exemplar símio, sem mudar coisa alguma no seu tronco genealógico.”
Em todo caso, a inteligência dos chimpanzés não pode ser grande coisa. Em uma reserva no Senegal, há uma "Escola de Macacos", com um "programa para a reabilitação dos chimpanzés". Desde 1968, Stella Brewers trata dos filhotes de chimpanzé que perderam os pais ou estiveram em um jardim zoológico ou no circo, onde ficaram expostos à influência do homem e desaprenderam o que precisam para a sua sobrevivência na selva. De volta à Natureza - com o ensinamento pelo homem.
Pois bem: macacos adquirem um baixo grau de inteligência, graças aos esforços e ensinamentos a eles ministrados pelo homem. O homem ensina-os a apertar certos botões, falar palavras, entender sinais, bem como viver no seu meio ambiente natural.
Nada disto ocorreria ao macaco, por si só. Suposto que aqueles chimpanzés e gorilas ensinados alcançassem um certo grau de autonomia, no decorrer de algumas gerações, e que até chegassem a falar e adquirissem uma determinada civilização; aí, então, nós, os humanos, teríamos desempenhado o papel dos "deuses" na sua existência! Nós transmitimos os ensinamentos a eles, nós fornecemos os elementos em cuja base eles chegaram a evoluir-se. Sob o ponto de vista de macacos "civilizados", somos nós os detentores da inteligência e do poder. Por isso, a meu ver, a experiência realizada neste sentido vem provar justamente o contrário daquilo que os seus mentores pretendem; em absoluto, não prova que, desde sempre, o macaco possuiu civilização autônoma, mas, sim, que pode adquiri-Ia, com o auxílio do homem!
Deixo a cargo do leitor pensante tirar as conclusões óbvias dessas exposições sobre os inícios da inteligência humana. Quem eram os nossos mestres?
Ref.: lII) Será que a teoria dos deuses-astronautas é perigosa? Poderia ela "seduzir" o homem a aguardar, passivamente, a decorrência dos acontecimentos, ficar na expectativa de os extraterrestres se encarregarem da solução dos seus problemas individuais?
Esta é a mais estúpida de todas as imputações estúpidas feitas a mim. Todos aqueles que espalham por aí esta mentira, deveriam, antes de mais nada, atacar os representantes das religiões oficiais, que prometem a "ajuda de lá de cima". Não é assim que se diz: "O Senhor dará"? O que está sendo ensinado às crianças, nas aulas de catecismo, no seio das grandes comunidades religiosas, nas seitas de culto? "Batei à minha porta e ela estará aberta!" - "Quem dá, recebe." - "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." No âmbito da hipótese dos astronautas inexiste qualquer perigo de negar o próprio destino, de menosprezar a própria força, deixar para um ser indefinido as decisões a serem tomadas pelo indivíduo. Nem se mencionando o fato de ela não se constituir em uma doutrina de salvação e, tampouco, nutrir tais pretensões. Mas, apesar de tudo, continuo afirmando: "os extraterrestres voltarão!".
Os adeptos do cristianismo esperam pela segunda vinda do Senhor à Terra. O Evangelho diz: "Ele voltará com grande poder e esplendor, fará seu trono nas nuvens e julgará." Esta esperança de uma segunda vinda de Deus à Terra já existiu, há dois milênios atrás, quando Jesus andava entre os judeus que, desde havia muito, esperavam pela vinda do seu messias. Porém, eles não reconheceram em Jesus o seu salvador.
No Antigo Testamento há personagens, tais como o profeta antediluviano Henoc, que desapareceu em companhia dos "guardas do céu", para jamais voltar, bem como o seu colega Elias, do qual se fala que ele teria desaparecido nas nuvens, viajando em "carro de fogo". Segundo a doutrina tradicional, Henoc e Elias deveriam voltar à Terra, para morrer aqui mesmo.
Bebgoróroti, o "guerreiro do cosmo", personagem das lendas dos índios caiapós, que habitam as margens do rio Fresco, na região do médio Xingu, no Brasil, e pelos quais é venerado como um deus, prometeu voltar, em um tempo perdido no futuro; ele fez tal promessa antes de partir para o universo. Da mesma forma, as katchinas, divindades dos índios hopis, no Arizona, nos EUA, anunciaram a sua partida deste mundo, quando prometeram voltar para cá.
Quando os conquistadores brancos invadiram o império dos incas (1524-25), tiveram recepção festiva, ao desembarcarem em terra, porque as tradições incaicas falavam que, um dia, os deuses voltariam. Crentes e muito ingênuos, o que para eles teve as conseqüências mais nefastas, os incas consideraram os espanhóis, comandados por Francisco Pizarro, sedento de ouro, como os seus deuses, tão ansiosamente e, desde muito, esperados. Os astecas, na América Central, cometeram idêntico equívoco trágico quando, em 1519, Hernando Cortez sitiou Tenochtitlán, na época a maior cidade da América, cuja conquista em muito foi facilitada pela falsa idéia dos astecas, pensando que o conquistador fosse o deus esperado, desde muito tempo. Por sua vez, James Cook, o grande navegador, que, em 1778, descobriu as ilhas do Havaí, beneficiou-se com a crença dos insulanos, que o tomaram por seu deus Lono, de cabelos loiros, que estaria retomando à sua terra.
Quais seriam esses "deuses", que faziam pronunciamentos tão solícitos como aqueles que, em série, costumam ser registrados nos textos antigos? Com eles não se pode ter tratado de fantasmas nebulosos, tampouco de seres produzidos pela fantasia; mas, sim, eram figuras bem corpóreas, que vieram do céu e viveram no meio dos nossos antepassados primitivos - os quais, a eles atribuíram poderes divinos, por causa da sua enorme superioridade em relação aos terrenos. E quando tais personagens resolveram partir para o céu, antes da sua partida tiveram de prometer que, um dia, voltariam. Pois é, uma palavra de Deus não volta atrás!
Teria sido uma promessa vã, a da segunda vinda dos extraterrestres? Não, não foi. Eles conheceram a lei física da dilatação do tempo, segundo a qual os astronautas, a bordo de uma nave espacial, fortissimamente acelerada, ficam sujeitos a regimes cronológicos diferentes daqueles vigentes na Terra. Eles sabiam perfeitamente bem que, para eles, a bordo das suas naves espaciais, passariam uns poucos anos apenas, enquanto na Terra passariam milênios. Os extraterrestres reuniram todas as condições de prometer a sua volta. E cumprirão esta sua promessa!
O que esperam os extraterrestres encontrar na sua volta à Terra?
Um planeta em cuja face os povos brigam por obstinação e estupidez? Uma humanidade passiva, levando vida cômoda, tranqüila, que negligenciou, esqueceu ou abusou da herança "divina", da inteligência? Será que os deuses esperariam encontrar um planeta, tecnologicamente avançado, com centrais nucleares e naves espaciais - ou vivendo uma civilização da Idade da Pedra, com o homem morando em cavernas frias e escuras, afiando a ponta da sua flecha à luz de azeite? Esperariam deparar com uma sociedade, cujos membros são todos uns hipócritas, cobiçando a propriedade alheia, ou uma comunidade, cultivando sólidos princípios éticos e morais, praticando os mandamentos a ela deixados?
Que mandamentos?
O Antigo Testamento dá as diretrizes mais claras e expressas para o caminho e o destino do homem na Terra, dizendo:
"E Deus os abençoou e disse: Crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra."
Gên 1, 28
A incumbência, definida de maneira inequívoca, está ali, nessas palavras. Logo, é nosso dever usar da inteligência humana para dominar os animais e a terra, que nos oferece as suas riquezas - oxigênio, água, minerais, petróleo, e assim por diante.
De uma forma ou de outra, pouco importa se o Deus do Antigo Testamento, emitindo tais preceitos, for considerado como um ser espiritual, todo-poderoso, inconcebível, ou um personagem extraterrestre; uma coisa é certa: o deus ou os deuses eram superiores aos humanos. Tanto um ser espiritual, quanto um extraterrestre conheceu, de antemão, o resultado a ser produzido pela forma imperativa da sua ordem "multiplicai-vos", a saber, a superpovoação e, por conseguinte, guerras pelo espaço vital, falta de alimentos, vestuário, enfim, estados de emergência a serem vencidos, tão-somente com base na inteligência. Por isso dotou ou dotaram os humanos de inteligência, permitindo a solução dos seus problemas. Sob este aspecto, deve ser compreendida a passagem cheia de promessas, a tese que postula:
“...e começaram a fazer esta obra e não desistirão do seu intento, até que a tenham de todo executado.” Gên 11,6
Dispomos de faculdades mentais para resolver os nossos problemas. Logo, não temos motivo algum de ficar inativos, cruzar os braços e esperar pela ajuda extraterrestre!
A Bíblia fala de um deus, no singular. Outrossim, seria um truque ilícito, eu falar em "deuses", no plural?
O texto original, hebreu, emprega o conceito plural.
"Elohim" para "deus"; contudo, o verbo que precede o conceito no plural está na forma singular. Por exemplo: "Elohim criou o homem segundo a sua imagem". Como o verbo está no singular, o tradutor achou por bem interpretar o conceito plural "Elohim", igualmente, no singular "Deus". Conforme garantiram teólogos, versados de fato, seria lícito adaptar o singular "criou" ao plural "Elohim". Neste caso, a tradução diria: "Os deuses criaram o homem segundo a sua imagem.”
Como os "deuses" podiam ordenar aos humanos de multiplicar-se, dominar a Terra, quando deveriam saber que a execução de tais ordens produziria conseqüências nefastas?
Antes da sua partida para o universo, os "deuses" deixaram com a humanidade recém-criada prescrições claras e bem definidas. A sua observação garantiria uma civilização perfeita, sem atritos, promissora de um futuro feliz e uma cultura de nível elevado. No Êxodo, 20,1-17, como no Deuteronômio, 5,1-21, estão enumerados os Dez Mandamentos dos deuses para os nossos antepassados. Nas traduções bíblicas, o decálogo sempre começa com as palavras "não terás", "não farás", e assim por diante; efetivamente, seria lícito também a forma "tu não deverás", pois os conceitos hebraicos abrangem ambas estas versões.
Considerados alguns desses mandamentos do ponto de vista de um profeta do passado, eles adquirem uma nova perspectiva, quanto à futura volta dos deuses.
O primeiro mandamento reza:
"Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima, no céu, e do que há embaixo, na terra, nem do que há nas águas debaixo da terra.”
Os extraterrestres sabiam perfeitamente bem que não eram deuses todo-poderosos e imortais. Também eles, por sua vez, veneraram o ser inconcebível que, em todas as religiões, é chamado "deus", por falta de um outro termo mais apropriado. Da mesma forma, eles sabiam que os nossos antepassados ingênuos consideraram-nos como "deuses", mas eles, fizeram questão de assinalar uma separação bem nítida entre, eles e o deus inconcebível. A fim de evitar que gerações posteriores fizessem ídolos de madeira, pedra e plástico, proibiram, sumariamente, fazer "imagens" de "deus"; E o que aconteceu? Logo, após a partida dos extraterrestres para as imensidões do universo, os homens transgredirem este mandamento. Os adeptos de todas as religiões e de todos os cultos apressaram-se em fazer ídolos, aos quais deram os nomes mais diversos. Eu conheço uma só religião que continua observando este preceito; é o Islã, que não tolera ídolos.
O quarto mandamento reza:
"Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará.“
Parece ser este o único dos dez mandamentos, observado por todos os homens civilizados.
Nele acho interessante o aspecto, que encerra a promessa de vida longa, por revelar algo de bem moderno. Por que a pessoa que honra os pais viverá por mais tempo? Anunciaria este mandamento, com grande sabedoria, noções reveladas e comprovadas tão-somente pela pesquisa hodierna? Por outras palavras, o calor humano no lar paterno assegura à psique do indivíduo uma sensação de tranqüilidade, aconchego e segurança, por quase todo o resto da vida, ao passo que, em caso contrário, uma psique desequilibrada nos primeiros anos de vida deixa a pessoa infeliz, frustrada pelo resto da vida. Segundo a pesquisa hodierna, pessoas, de certo modo. emocionalmente instáveis, são até mais propícias a contrair determinadas doenças, inclusive o câncer. Logo, a observação deste mandamento promete uma vida mais longa. Os quinto, sexto, sétimo e oitavo mandamentos são indiscutivelmente claros e precisos; se fossem observados, haveria o céu na Terra.
Não matarás.
Não cometerás adultério.
Não furtarás.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
De fato, eles representam as pré-condições elementares para a paz e a felicidade. Como seria inconcebivelmente bom, se os homens tivessem observado sempre os sábios mandamentos dos "deuses"! Viveríamos então num mundo sem matanças, a qualquer pretexto, por nenhum motivo; não haveria guerras, nem genocídio. O noticiário da imprensa escrita e falada somente daria notícias boas, alegres. Aliás, há milênios atrás, a paz já fora programada.
"Não cometerás adultério." ... a mim quer parecer que, jamais, em época alguma, nem da sua promulgação, este mandamento granjeou grande respeito; hoje em dia, quando o homem goza de liberdades plenas e totais, é lógico, ele pouco se importa com tal preceito. No entanto, quanta briga e miséria seriam evitadas, quantas lágrimas deixariam de ser choradas, se também este mandamento milenar, trazido de uma outra estrela, fosse observado!
Outrossim, deveríamos entoar o grande aleluia celeste, se e quando o imperativo "Não furtarás!" viesse a ser respeitado. As fechaduras nas portas dispensar-se-iam, os cofres fortes seriam vendidos como ferro velho, os policiais e vigias seriam aposentados e nos bolsos da nossa roupa não seriam mais costurados botões, nem colchetes... tudo isto, porque ninguém furtaria coisa alguma!
Mas, lamentavelmente, a realidade do dia-a-dia transforma em utopia este mandamento tão bom e válido.
"Não dirás falso testemunho contra o teu próximo" ...
Desde que o mundo é mundo, quantos milhões de indivíduos foram condenados com base em falso testemunho! Quantas vezes sem conta, uma pessoa tratou de enganar a outra, falou mentiras do vizinho? E um mandamento muito sábio, mas, totalmente desrespeitado pela ação cotidiana dos homens; nem por isso ele fica diminuído no seu valor intrínseco.
O nono mandamento parece-me de natureza altamente política e formulado com vasto conhecimento de causa:
"Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.”
Que visão ampla, ali revelada pelos "deuses"! Como conheciam a fundo as criaturas que tornaram inteligentes! Eles sabiam perfeitamente que a inveja destrói toda e qualquer coletividade. Eles deram forma jurídica ao conceito da propriedade, dizendo que aquilo que o indivíduo adquiriu não deve ser cobiçado por outrem.
Através de toda a História da Humanidade, a inveja e a cobiça se alastram, com potência progressivamente mais expressiva, contaminando todo o ambiente. Será que esses males não estariam sendo divulgados, obstinadamente, de maneira aberta ou velada, por certas entidades, organizações, e até por cátedras universitárias? Não haveria ideologias, proclamando a redistribuição daquilo que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, produziram a custo de zelo e sacrifício? E, em última análise, não seria a inveja o motivo derradeiro, a causa efetiva dos grandes conflitos entre os povos, descontando-se todos os demais elementos secundários? Conhecedores da evolução, os deuses sabiam muito bem quais os mandamentos a serem por eles promulgados e por quê.
Longe de pensar segundo os ditames e nos moldes de uma mentalidade arquiconservadora e distantíssima das pessoas que somente acham bom o que foi ontem, para os quais o passado é sempre melhor do que o presente e o futuro, insisto em afirmar que o nosso planeta seria um paraíso ou coisa semelhante, se o homem respeitasse e cumprisse os mandamentos, tão simples, baixados pelos "deuses". Aqueles preceitos antiqüíssimos abrangem tudo quanto se compreende como pré-condições da vida coletiva dos terrenos. São incontestáveis. Não há, no mundo, peça jurídica alguma, pouco importa quão sofisticada, que, de longe, possa pretender igualdade com a codificação concludente e abrangente daqueles poucos e sucintos preceitos, conforme nos foram legados com os Dez Mandamentos.
Espero, faço votos, que os deuses não voltem amanhã, para fazer o seu levantamento e verificar aquilo que foi feito dos seus projetos grandiosos.
O que esperariam os extraterrestres encontrar na sua volta? Qual seria a sua reação diante da nossa atual sociedade, com seus progressos problemáticos?
No computador a bordo da nave espacial, estão armazenadas as coordenadas do nosso sistema solar, está programa,do o destino, o planeta Terra. Tanto faz, voltar a tripulação original, primitiva, envelhecida em alguns anos ou vir uma nova geração, para cumprir com a promessa do retorno. Acontece mais ou menos a mesma coisa que se deu com os colonizadores dos tempos modernos; eles deram aos "selvagens" - assim se disse - instruções e assistência. Conferiram elogios e manifestaram gratidão àqueles que cumpriram suas ordens; por outro lado, tomaram drásticas medidas corretivas para consertar aquilo que, a seu ver, foi mal feito.
Posso provar que está enganado quem argumentar que, jamais, os extraterrestres adotaram o "estilo colonial", considerando tal tese produto de uma mentalidade "reacionária"! Os "deuses" criaram a inteligência humana "segundo a sua imagem". Por isso, a nossa mentalidade se assemelha e muito à dos nossos ancestrais divinos. Nas antigas tradições há relatos impressionantes da maneira como, em tempos pré-históricos, os "deuses" castigaram os terráqueos. Sem mais nem menos, exterminaram cidades inteiras, com fogo e enxofre chovendo dos céus; ou, desgostosos com suas criaturas, mandaram tremendas massas de água, para nelas afogar-se a maior parte da humanidade, conforme descreveram a epopéia suméria de Gilgamés ou a parábola bíblica do dilúvio de Noé. Seria o caso de perguntar se, nestes nossos tempos, os extraterrestres poderiam arriscar-se a tomar medidas igualmente drásticas e radicais.
O tempo pode ser manipulado mediante a energia. A quem dispuser de reservas energéticas inesgotáveis, tudo é permitido, porque o tempo está do seu lado. Se a tripulação de uma nave espacial extraterrestre erradicasse a atual civilização humana com uma chuva de bactérias, ela poderia ficar esperando até que a inteligência humana tornasse a alcançar, novamente, determinado grau de cultura. Os extraterrestres comandam gigantescas fontes energéticas; eles podem embarcar nas suas naves e decolar rumo a outros sistemas planetários. Enquanto eles envelhecem em alguns anos apenas - conforme a velocidade da sua nave - aqui, na Terra, podem passar-se dez milênios. No seu retorno, encontram uma nova civilização, entrementes evoluída. Por conseguinte, os extraterrestres bem podem arriscar-se a eliminar dos seus planos, temporariamente, um ou outro produto da sua "atividade colonizadora". O tempo está com eles.
O que poderíamos fazer, nós, os terráqueos, para aplacar a ira dos "deuses", quando voltarem? Já estaríamos bastante adiantados, para termos alguma chance em um jogo de equilíbrio de forças a ponto de não recearmos, não nos amedrontarmos mais com a sua tecnologia superior à nossa?
A ordem primordial era "enchei a terra e sujeitai-a". Foi ordenado "crescei e multiplicai-vos"! Neste contexto a palavra "multiplicar" tem o mesmo sentido de "aumentar". Outrossim, "crescer" e "aumentar" não têm sentido idêntico, mas, sim, representam duas ordens distintas. Compreendemos o verbo "crescer" no sentido de aumentar em tamanho e "aumentar", no sentido de multiplicar.
Suposto que os extraterrestres implantaram em nós a sua inteligência, o verbo "crescer" era referente ao crescimento da inteligência e a mola propulsora do crescimento de toda a inteligência é a curiosidade, a curiosidade científica, o querer saber. Inspirada pela inteligência dos extraterrestres, superiores a nós, a curiosidade científica realiza-se no descobrimento de fontes energéticas em nosso planeta.
Bem conheço o coro masculino, de vozes roucas, que, em sons agudos e graves, tocando o coração da gente, previne contra a exploração do nosso planeta. Sinto profundamente que seja tão pouco aquilo que possuem de inteligência, pois ela, a qualquer época, será bastante engenhosa para substituir as reservas de matérias-primas, em esgotamento, por outras, novas. A coisa é tão fácil e simples; matérias-primas, quando escasseiam, têm seus preços aumentados e se tornam tanto mais caras, quanto mais raras ficam, até chegar o dia em que ninguém pode mais pagar o seu preço. Ao mais tardar, a partir daquele momento, o homem inteligente pensa em alternativas, procura produzir o mesmo efeito com outra matéria, com outro material, ainda disponível. O homem sempre encontrará tais alternativas. Todos os motores, pelo mundo afora, hoje acionados com os produtos derivados do petróleo, desde já poderiam queimar o oxigênio. A necessidade premente que, proverbialmente, deixa o homem inventivo, já está promovendo a elaboração de novos métodos, tais como o processo de reciclagem, que está para ser posto em prática. Quase tudo pode ser reciclado, quase todo o lixo serve para ser reaproveitado em algo de novo.
O médico naval Dr. Robert Mayer (1814-1878) é o descobridor da "lei da manutenção da energia". Segundo esta descoberta do milênio, a energia total do universo é constante e todas as formas energéticas podem ser transformadas, uma na outra. A este respeito, Wernher von Braun escreveu:
- "A Ciência verificou que nada pode desaparecer sem deixar rasto. A Natureza não conhece o extermínio, mas, sim, somente a transformação.”
Fosse o Deus único, fossem os meus "deuses" extraterrestres, a missão do homem sempre era a de sujeitar a Terra ... de crescer, imitando Deus ou os "deuses". Portanto, equivaleria a cometer harakiri, desrespeitar a missão originária e converter o seu sentido, justamente, no contrário, ou seja, condenar o progresso da tecnologia, reprovar o aproveitamento das reservas naturais e abster-se de usar a energia do átomo. É outro o conteúdo da nossa incumbência divina.
A humanidade deveria preparar-se moral, ética e tecnologicamente para o retorno dos "deuses". Os Dez Mandamentos, expressão da suma sabedoria, deveriam tornar a ser respeitados e observados. A nossa inteligência curiosa deveria tornar a desempenhar o papel a ela atribuído pelos "deuses". Com este programa altamente atualizado, moderno, seria possível banir a fome do mundo, as guerras tornar-se-iam um fantasma miserável, de ontem, e o trabalho inteligente não seria utopia. Os extraterrestres aceitar-nos-ão como parceiros válidos, somente se e quando ficarmos, pelo menos, parecidos com a sua própria imagem. Será que diante deste credo, brotando do fundo de um coração sincero, ainda poderia persistir a tese, segundo a qual a teoria dos deuses-astronautas daria margem ao incentivo, ao convite absurdo para o homem esperar, inativo, pela ajuda dos "deuses"? Se esta teoria fosse compreendida sob seu aspecto construtivo, positivo, a humanidade poderia olhar, com imensa confiança para um futuro plácido, repleto de progresso pacífico. Nem precisaria recear pelo retorno dos "deuses". No entanto, o estado atual em que se encontra o nosso planeta é de meter medo; urge modificá-to.
Todavia, citando J. W. von Goethe, o olímpico:
"Estamos acostumados que os homens caçoem daquilo que não compreendem.”
Notas
No seu exemplar de fim de ano, No. 52/1978, o semanário "DER SPIEGEL" publicou uma matéria de 14 páginas, intitulada:
"ASTRONOMIA: UM NOVO ROTEIRO DO COSMO" Naquela exposição profunda e compacta, os leitores atentos dos meus livros devem ter encontrado algumas idéias, deles já bastante conhecidas e bem familiares.
Aliás, no exemplar No. 1/1979, "DER SPIEGEL" deu um artigo o qual, por seu conteúdo extremamente notável, eu gostaria de reproduzir aqui, a título de ponto final deste livro. Enche-me de novas esperanças, vendo, enfim, atendido o meu pedido insistente, repetido em cada um dos meus livros, em cada uma das minhas conferências, solicitando a colaboração de todas as disciplinas científicas na busca de inteligências extraterrestres. Eis o texto em apreço:
“BUSCA CÓSMICA”
"Não posso imaginar pesadelo pior do que aquele da comunicação com uma assim chamada... civilização superior, no cosmo." Este citado de George Wald, biólogo de Harvard e titular de Prêmio Nobel, encontra-se no primeiro exemplar de uma nova revista, dedicada à busca de inteligências alienígenas, intitulada "COSMIC SEARCH" (Busca Cósmica). (Assinatura, anual, ... US$16, fora dos EUA). Trata-se de um periódico bimensal, publicado a partir de janeiro e que merece ser tomado a sério. A redação da revista faz plantão permanente no Rádio Observatório da Universidade Estadual de Ohio e seu Depto. Editorial conta com pesquisadores responsáveis, da categoria do astrônomo britânico Martin Rees, da Universidade de Cambridge, Nicolai Kardashev, do Instituto de Pesquisas Espaciais da Academia Soviética de Ciências, e John Billingham, diretor do programa norte-americano "Search for Extraterrestrial Intelligence" (Busca de Inteligências Extraterrestres). Portanto, o periódico nada oferece aos fanáticos dos OVNl's, mas, sim, dirige-se aos simples mortais, dando pela falta de fantasia no âmbito da ciência".
Erich von Däniken
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















