



Biblio VT




Em "A Casa Assombrada" estão reunidos alguns dos mais inovadores contos originalmente escritos em inglês.
É certo que Virginia Woolf não é uma contista e que foi em romances como "Orlando" e "As Vagas" que sobretudo cumpriu o "insaciável desejo de escrever alguma coisa antes de morrer". Mas é em contos como "A Marca na Parede", "Lappin e Lapinova" e "O legado", que melhor nos revela o modo como soube captar a evanescente matéria da vida, um universo feminino que os homens desfazem revelando que a marca na parede é uma lesma, recusando-se a recriar a vida de coelhos no ribeiro ao fundo da floresta ou tornando-se apenas insensivelmente desatentos.
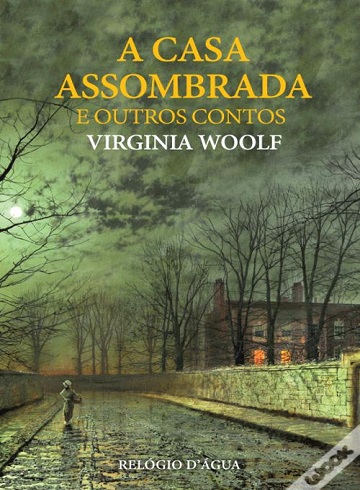
A MARCA NA PAREDE
Foi talvez por meados de Janeiro deste ano que vi pela primeira vez, ao olhar para cima, a marca na parede. Quando queremos fixar uma data precisamos de nos lembrar
do que vimos. Assim, lembro-me de o lume estar aceso, de uma faixa de luz amarela na página do meu livro, dos três crisântemos na jarra de vidro redonda na chaminé.
Sim, tenho a certeza de que foi no Inverno, e tínhamos acabado de tomar chá, porque me recordo de estar a fumar um cigarro quando olhei para cima e vi a marca na
parede pela primeira vez. Olhei para cima através do fumo do cigarro e o meu olhar demorou-se por um momento nos carvões em brasa do fogão e veio-me à ideia a velha
fantasia da bandeira escarlate tremulando no alto da torre do castelo, e pensei na cavalgada dos cavaleiros vermelhos subindo a encosta do rochedo negro. Foi com
certo alívio que a imagem da marca na parede interrompeu esta fantasia, porque se trata de uma velha fantasia, de uma fantasia automática, vinda talvez dos meus
tempos de criança. A marca era uma pequena mancha redonda, negra contra a parede branca, a cerca de seis ou sete polegadas do rebordo da chaminé.
É surpreendente a rapidez com que os nossos pensamentos se precipitam sobre um novo objecto, o transportam por um instante, do mesmo modo que as formigas se atiram
febrilmente a um pedaço de palha, que em seguida abandonam sem mais...
Se a marca tivesse sido feita por um prego, não podia ser para prender um quadro, apenas uma miniatura - a miniatura talvez de uma senhora com os anéis do cabelo
empoados, rosto coberto de pó-de-arroz e lábios vermelhos como cravos. Uma falsificação, é evidente, porque as pessoas que foram donas desta casa antes de nós deviam
gostar de ter pinturas desse género - um quadro velho para uma sala velha. Eram pessoas assim, pessoas muito interessantes, e penso nelas muitas vezes, quando me
vejo numa situação fora do vulgar, porque nunca voltarei a vê-las, nunca saberei o que lhes aconteceu a seguir. Queriam deixar a casa porque queriam mudar de estilo
de mobília, foi o que ele disse, numa altura em que estava a explicar que a arte devia ter sempre uma ideia por trás, e era como se fôssemos de comboio e víssemos
de passagem uma senhora de idade a servir chá e o jovem que bate a sua bola de ténis no jardim das traseiras da sua vivenda nos arredores.
Mas quanto à marca, não tinha a certeza do que pudesse ser; afinal de contas, não me parecia feita por um prego; é grande de mais, redonda de mais, para isso. Posso
levantar-me, mas se me levantar para a ver melhor, aposto dez contra um que continuarei a não saber o que é; porque, uma vez feita certa coisa ninguém sabe nunca
como é que tudo o que se segue aconteceu. Oh, meu Deus, o mistério da vida - a fraqueza do pensamento! A ignorância da humanidade! Vou contar algumas das coisas
que tenho perdido, o que basta para mostrar como controlamos poucos o que possuímos - como é precária a nossa vida após todos estes séculos de civilização; dessas
coisas perdidas misteriosamente - que gato as teria levado, que rato as terá roído? -, começarei por referir, por exemplo, três caixinhas azuis para guardar ferros
de encadernar, cujo desaparecimento é a perda mais misteriosa da minha vida. Depois há as gaiolas de pássaros, as argolas de ferro, os patins, a alcofa de carvão
Queen Anne, a caixa de jogos de cartão, o realejo - tudo isto desaparecido, além de algumas jóias também. Opalas e esmeraldas, que devem estar para aí enterradas
entre as raízes de um quintal. Uma complicação como não se pode imaginar, não haja dúvida! O que é de espantar, no fim de contas, é que eu esteja ainda vestida e
rodeada de móveis sólidos neste momento. Porque se quiséssemos um termo de comparação para a vida, o melhor seria o de um metropolitano, atravessando o túnel a cinquenta
milhas à hora - e deixando-nos do outro lado sem um gancho sequer no cabelo! Cuspidos aos pés de Deus, inteiramente nus! Rolando por campos de tojo como embrulhos
de papel pardo atirados para dentro de um marco de correio! E os cabelos puxados para trás pelo vento como a cauda de um cavalo nas corridas. Sim, são coisas destas
que podem dar uma ideia da rapidez da vida, a destruição e reconstrução perpétuas: tudo tão contingente, tão apenas por acaso...
Mas a vida. A lenta derrocada dos grandes caules verdes de tal modo que a flor acaba por se virar, ao cair, inundando-nos com uma luz de púrpura e vermelho. Porque
é que, bem vistas as coisas, não nascemos ali em vez de aqui, desamparados, incapazes de ajustarmos como deve ser a luz do olhar, rastejando na erva entre as raízes,
entre os calcanhares dos Gigantes? Porque dizer o que são as árvores, e o que são homens e o que são mulheres, ou sequer o que é haver coisas como árvores, homens
e mulheres, não será algo que estejamos em condições de fazer nos próximos cinquenta anos. Não há nada por vezes senão espaços de luz e de escuridão, intersectados
por grandes hastes densas e talvez bastante mais acima manchas em forma de rosa - rosa-pálido ou azul-pálido - de cor indecisa, e tudo isso, à medida que o tempo
passa, se vai tornando mais definido e se transforma - em não se pode saber o quê.
Mas a marca na parede não é, de maneira nenhuma, um buraco. Poderá ter sido o resultado de qualquer substância escura e arredondada, uma pequena folha de rosa, por
exemplo, deixada ali pelo Verão, uma vez que não sou uma dona de casa lá muito atenta a essas coisas - basta ver o pó que há na chaminé, o pó que dizem ter soterrado
Tróia por três vezes, destruindo tudo excepto os fragmentos de vasos que chegaram até nós.
Os ramos da árvore batem suavemente na vidraça.!. O que eu quero é pensar calmamente, com sossego e espaço, sem nunca ser interrompida, sem ter que me levantar nunca
da minha cadeira, deslizar com facilidade de uma coisa para a outra, sem qualquer sensação de contrariedade, qualquer obstáculo. Quero mergulhar fundo e mais fundo,
longe da superfície, com os seus factos e coisas quebrados por distinções e limites. Para me apoiar, vou seguir a primeira ideia que passar... Shakespeare... Bom,
serve tão bem como qualquer outra coisa. Um homem solidamente sentado numa cadeira de braços, a olhar o fogo, assim - enquanto uma torrente de ideias cai sem parar
de um céu muito alto, atravessando-lhe o pensamento. Apoia a fronte na mão, e as pessoas, espreitando pela porta aberta - porque é de supor que a cena se passe numa
noite de Verão. Mas como é estúpida esta ficção histórica! Não tem interesse absolutamente nenhum. O que eu quero é poder apanhar uma sequência de pensamentos agradáveis,
uma sucessão que possa reflectir indirectamente a minha própria capacidade, porque há pensamentos agradáveis, até muitas vezes no espírito cor de rato das pessoas
que menos gostam de ser elogiadas. Não são pensamentos que nos lisonjeiam directamente; mas são eles próprios que estão cheios de beleza; pensamentos como este:
"E depois entrei na sala. Eles estavam a discutir botânica. Eu disse-lhes que vira uma flor a crescer num monte de escombros de uma velha casa caída em Kingsway.
As sementes, disse eu, devem datar do reinado de Carlos I. Que flores havia no reinado de Carlos I?" Perguntei-lhes isso - mas não me lembro da resposta. Grandes
flores cor de púrpura, talvez. E assim por diante. A todo o momento vou construindo uma imagem de mim própria, apaixonadamente furtiva, que não posso adorar directamente,
porque se o fizesse, cairia imediatamente em mim e deitaria a mão a um livro num gesto de autodefesa. É curioso, com efeito, como uma pessoa protege a sua própria
imagem de toda a idolatria ou de qualquer outro sentimento que a possa tornar ridícula ou demasiado diferente do original para ser verosímil. Ou talvez não seja
assim tão curioso, afinal de contas? É uma questão da mais alta importância. Imagine-se que o espelho se partia, a imagem desaparece e a figura romântica rodeada
pela floresta profunda e verde desfaz-se; fica apenas essa concha exterior da pessoa que os outros habitualmente vêem - que insípido, oco, inútil e pesado se tornaria
o mundo! Um mundo onde não seria possível viver. Quando no autocarro ou sobre os carris do metropolitano encaramos os outros, estamos ao mesmo tempo a olhar para
o espelho; é por isso que se torna possível vermos então como os nossos olhos são vagos, vítreos. E os romancistas do futuro darão uma importância crescente a estes
reflexos, porque não há apenas um reflexo, mas um número quase infinito deste género de refracções; aí estão as profundidades que os romancistas do futuro terão
que explorar; esses os fantasmas que terão de perseguir, deixando cada vez mais de lado as descrições da realidade, pressupondo-a já suficientemente conhecida pelo
leitor, como fizeram também os Gregos e Shakespeare, talvez - mas estas generalizações começam a parecer-me inúteis. As ressonâncias militares da palavra "generalização"
são evidentes. Lembra-nos uma série de dispositivos destinados a conduzir as pessoas, gabinetes de ministros - toda uma quantidade de coisas que em crianças pensámos
serem as mais importantes, os modelos de tudo o que existe, e de que não poderíamos afastar-nos sem incorrermos no risco da condenação eterna. As generalizações
evocam os domingos em Londres, passeios de domingo, almoços de domingo, e também certas maneiras habituais de falar dos mortos, das roupas, das tradições - como
essa de nos sentarmos juntos à roda, na sala, até à hora do costume, embora ninguém goste de ali estar. Houve sempre uma regra para todas as coisas. A regra para
as toalhas de pôr em cima dos móveis, em certa época era que fossem de tapeçaria, com orlas amarelas em cima, como vemos nas fotografias das passadeiras dos corredores
dos palácios reais. Os panos de mesa diferentes não eram verdadeiros panos de mesa. Como era chocante e ao mesmo tempo maravilhoso descobrir que todas essas coisas
reais, almoços de do mingo, passeios de domingo, casas de campo e panos de mesa não eram inteiramente reais afinal e que a condenação que feria o descrente na sua
realidade era apenas uma sensação de liberdade ilegítima. O que é que ocupa hoje o lugar dessas coisas, pergunto-me, dessas coisas realmente modelares? Os homens
talvez, se se for uma mulher; o ponto de vista masculino que governa as nossas vidas, que fixa as regras de comportamento, estabelece a Mesa da Precedência segundo
o Whitaker, e que se tornou, parece-me, desde a guerra, apenas uma velha metade de fantasma para grande número de homens e mulheres, metade que, em breve, espero,
será posta no caixote do lixo, que é o fim dos fantasmas, dos armários de mogno e das publicações Landseer, dos Deuses e Demónios e o mais que se sabe, deixan-do-nos
por fim uma impressão tóxica de liberdade ilícita - se é que tal coisa existe, a liberdade...
Olhada de certo ângulo, a marca na parede parece tornar-se uma saliência. Também não é perfeitamente circular. Não posso ter a certeza, mas parece projectar uma
sombra, sugerindo que se eu percorresse a parede com o dedo, este subiria e desceria, num dado ponto, um pequeno túmulo, como essas elevações dos South Downs que
não sabemos se são tumbas ou acidentes do terreno. A minha preferência vai para os túmulos, são eles a minha alternativa, porque gosto da melancolia como a maioria
dos ingleses, e acho natural evocar no fim de um passeio os ossos enterrados por baixo da vegetação rasteira... Deve existir algum livro a esse respeito. Algum arqueólogo
deve já ter desenterrado os ossos e ter-lhes-á também posto nome... Que género de homem serão esses arqueólogos, pergunto-me. Coronéis aposentados, na sua maioria,
tenho a certeza, conduzindo lavradores idosos, examinando punhados de terra e algumas pedras e trocando correspondência com os padres da vizinhança, cujas cartas
de resposta, abertas ao pequeno-almoço, fazem os coronéis reformados sentir-se importantes, além de que as pesquisas têm ainda a vantagem de exigirem deslocações
pelo condado até à cidade local, necessidade tão agradável para eles como para as suas esposas envelhecidas, que gostam de fazer doce de ameixa ou tencionam limpar
o escritório e que por isso alimentam a incerteza acerca da alternativa entre campas e acidentes de terreno que faz sair os seus maridos, enquanto estes se sentem
cheios de um prazer filosófico à medida que acumulam provas nos dois sentidos do debate. É verdade que o coronel acaba por se inclinar para a hipótese dos acidentes
de terreno: e ao deparar com alguma oposição, edita um folheto que será lido numa sessão da assembleia local, altura em que uma apoplexia o deita por terra, e os
seus últimos pensamentos conscientes não são para a mulher ou para os filhos, mas para o campo que estava a ser discutido e para a ponta de flecha que lá se encontrou
e que aparece em seguida no museu da cidade, juntamente com o sapato de uma assassina chinesa, um punhado de pregos isabelinos, uma profusão de cachimbos de porcelana
Tudor, um vaso de cerâmica romana e o copo por onde Nelson bebeu - tudo isto provando que nunca será realmente possível saber que histórias.
Não, não, nada se encontra provado, nada se sabe. E se eu me levantasse neste preciso momento e me certificasse de que a marca na parede é realmente - o quê, por
exemplo? - a cabeça de um gigantesco prego, ali colocado há duzentos anos e que, graças à erosão pacientemente provocada por várias gerações de criadas, deita de
fora a cabeça, rompendo a camada de pintura da parede e observando as primeiras imagens da vida moderna nesta sala branca e com um fogão aceso, que ganharia com
isso? - Conhecimento? Tema para posteriores especulações? Posso pensar tão bem continuando sentada como se me levantasse. E o que é o conhecimento? O que são os
nossos homens instruídos senão os descendentes das feiticeiras e eremitas das grutas e florestas, que apanhavam plantas, interrogavam o voo do morcego e transcreviam
a linguagem das estrelas? E quanto menos os honrarmos, quanto menos crédito lhes der a nossa superstição, mais o nosso respeito pela saúde e pela beleza hão-de crescer...
Sim, é-nos possível imaginar um mundo muito mais agradável. Um mundo tranquilo, espaçoso, com um sem fim de flores vermelhas e azuis nos campos sem muros. Um mundo
sem professores nem especialistas nem donas de casa com perfil de polícias, um mundo por onde se poderá deslizar na companhia dos próprios pensamentos, tal como
um peixe desliza na água que passa, tocando de leve o manto de nenúfares da superfície, enquanto os ninhos entre as ramagens da vegetação que cobre as águas guardam
os seus ovos de pássaros aquáticos... Como se está em paz aqui, ao abrigo, no centro do mundo e olhando para cima através das águas cinzentas, com os seus lampejos
súbitos de luz e os seus reflexos - se não fosse o Whitaker's Almanack - se não fosse a Mesa da Presidência!
Preciso de me levantar daqui e de me inteirar do que será realmente aquela marca na parede - um prego, uma folha de roseira, uma racha na madeira?
Lá está a natureza, uma vez mais, no seu velho jogo de autodefesa. Esta corrente de pensamento, ela deu por isso já, é ameaçadora para mim, arrasta-me para um gasto
inútil de energia, talvez mesmo para algum choque com o mundo real, como é de esperar que aconteça a quem se mostra capaz de levantar um dedo contra a Mesa da Presidência
de Whitaker. O Arcebispo de Cantuária traz atrás de si o Lorde Chanceler; o Lorde Chanceler é seguido pelo Arcebispo de York. Toda a gente vem a seguir a alguém,
eis a filosofia de Whitaker: e é uma grande coisa saber-se quem segue quem. Whitaker sabe e deixemos, como a natureza recomenda, que isso nos conforte, em vez de
nos enfurecer: e se não pudermos ser confortados, se temos que estragar esta hora de harmonia, pensemos então na marca na parede.
Compreendi o jogo da Natureza - a sua rápida exigência de actividade que ponha fim a qualquer pensamento que ameace de excitação ou de dor. Daí, suponho eu, a nossa
pouca estima pelos homens de acção - homens que, de acordo com as nossas ideias, não pensam. No entanto, não há mal em uma pessoa deter decididamente os seus pensamentos
desagradáveis contemplando uma marca na parede.
Na verdade, agora que nela fixei melhor os olhos, tenho a impressão de ter lançado uma tábua ao mar: experimento uma agradável sensação de realidade, relegando imediatamente
os dois arcebispos e o lorde chanceler para o mundo das sombras. Eis uma coisa definida, uma coisa real. Do mesmo modo, ao acordarmos de um pesadelo à meia-noite,
apressamo-nos a acender a luz e ficamos descansados na cama, dando graças à cómoda, dando graças aos objectos sólidos em volta, dando graças à realidade, ao mundo
impessoal que nos rodeia e é uma prova de que algo mais existe para além de nós próprios. É isso que então precisamos de saber... A madeira é uma bela coisa para
se pensar nela. Vem de uma árvore: e as árvores crescem, e nós não sabemos porque é que elas crescem. Crescem durante anos e anos, sem nos prestarem atenção, crescem
nas colinas, nas florestas e à beira dos rios - tudo coisas em que é bom pensar. As vacas sacodem a cauda debaixo delas nas tardes quentes de Verão; e as suas folhas
tornam os ribeiros tão verdes que se uma galinhola aparece agora, quase esperamos que as suas penas se tenham tornado verdes também. Gosto de pensar no peixe que
balouça contra a corrente como as bandeiras tremulam ao vento; e nos insectos de água que abrem lentamente os seus túneis no fundo do regato. Gosto de pensar na
própria árvore: primeiro na sensação abrigada e seca de ser madeira: depois na agitação das tempestades; depois no lento e delicioso escorrer interior da seiva.
Gosto de imaginar também as noites de Inverno, ser então uma árvore de pé no campo raso cheio à volta de folhas desfeitas e caídas, sem nada em mim de vulnerável
que receie expor-se aos raios de aço da lua, um mastro nu cravado na terra que treme e treme durante a noite inteira. O canto dos pássaros deve parecer muito cheio
de força e estranho pelo mês de Junho; e os pés dos insectos devem sentir-se frios enquanto sobem penosamente pela casca rugosa e encontram as folhas verdes que
rebentam e as olham com os seus olhos vermelhos marchetados como diamantes... Uma a uma as fibras despertam sob a imensa pressão fria da terra, e depois chega a
última tempestade do ano e os ramos mais altos caem de novo no chão em redor. Mas a vida não se vai por tão pouco e há milhões de vidas pacientes por cada árvore,
espalhadas por todo o mundo, em quartos de dormir, em navios, nas ruas, salas onde homens e mulheres se sentam depois do chá e fumam os seus cigarros. Está cheia
de pensamentos pacíficos, de pensamentos felizes, esta árvore. Gostava de pegar agora em cada um deles separadamente - mas alguma coisa vem atravessar-se no caminho...
Onde ia eu? Era acerca de quê, tudo isto? Uma árvore? Um rio? As colinas? O Whitaker's Almanack? Os campos asfódelos? Não sou capaz de me lembrar de coisa nenhuma.
Tudo se move, cai, desliza e se esvai... As ideias sublevam-se com força e fogem. Alguém aparece de pé ao meu lado e diz:
"Vou sair para comprar o jornal."
"Sim?"
"Apesar de não valer a pena comprar os jornais... Não há nada de novo. A culpa é da guerra; maldita seja esta guerra!... E ainda por cima, aquela lesma na parede,
que não fazia cá falta nenhuma."
Ah! A marca na parede! Era uma lesma...
A CASA ASSOMBRADA
Fosse qual fosse a hora a que acordássemos, havia sempre uma porta que batia. De sala em sala ou de quarto em quarto, um par de fantasmas de mão dada ia mexendo
aqui, abrindo ali, fazendo isto ou aquilo.
"Foi aqui que o deixámos", dizia ele. E ela acrescentava: "Oh, ali também!" "É em cima", murmurava ela. "E no jardim", sussurrava ele. "Cuidado, devagar", diziam
ambos, "ou vamos acordá-los".
Mas não era isso que nos acordava. Oh, não! "Lá andam à procura; estão a levantar as cortinas", dizíamos, por exemplo, e continuávamos a leitura por mais uma ou
duas páginas. "Agora acharam", podíamos ter por fim a certeza, detendo o lápis na margem do livro. E depois, uma pessoa, já cansada de ler, podia pôr-se a procurar
por sua própria vez, levantando-se e andando pela casa vazia, com as portas deixadas abertas, e ouvindo apenas arrulhar os pombos no bosque ou a máquina de debulhar
ao longe na quinta. "O que é que eu estou aqui a fazer? Afinal andava à procura de quê?" As minhas mãos estão vazias. "Talvez seja então lá em cima?" As maçãs estão
no sótão. Já estou cá em baixo outra vez, o jardim continua tranquilo, apenas o livro escorregou e caiu na relva.
Mas eles acharam qualquer coisa na sala. Não que nos seja possível ver. Os vidros da janela reflectem maçãs, reflectem rosas; as folhas caídas na relva continuam
verdes. Quando eles se mexeram na sala, as maçãs viravam para nós apenas a sua parte amarela. No entanto, um momento depois, quando a porta da sala ficou aberta,
havia espalhada no chão, pendurada no tecto, qualquer coisa - o quê? As minhas mãos estavam vazias. Então a sombra de um pássaro cruzou o tapete; dos poços mais
profundos do silêncio, o pombo bravo soltou o seu arrulho. "Salvos, salvos, salvos", pulsa devagar o coração da casa. "O tesouro enterrado; a sala...", o pulsar
interrompeu-se de repente. Oh! Era então o tesouro enterrado?
Um instante mais tarde a luz pareceu embaciada. Talvez no jardim? Mas as árvores conservavam a sua escuridão frente a um raio luminoso que o sol lhes dirigia. Mas
bela, rara, friamente indiferente para além da superfície, a luz que eu procurava continuava a arder do outro lado da vidraça. A morte era o vidro; a morte estava
entre nós; vinha da mulher que pela primeira vez, centenas de anos antes, deixara para sempre aquela casa, calafetando as janelas; as salas estavam mergulhadas no
escuro. Ele fora-se embora, deixara-a; foi para o Norte, foi para o Leste, viu as estrelas do cruzeiro do Sul; depois, voltou em busca da casa e descobriu-a, mergulhada
ao fundo, por trás das colinas. "Salvos, salvos, salvos", começou a pulsar de novo alegremente o coração da casa. "O Tesouro pertence-te."
O vento assobia na álea maior do jardim. As árvores agitam-se de um lado para o outro. Os raios do luar rebentam e espalham-se desordenadamente na chuva. Mas a luz
da lâmpada desce a direito da janela. A candeia arde bem e tranquila. Vagueando pela casa, abrindo as janelas, segredando para não nos acordar, o par de fantasmas
procura a sua alegria.
"Dormimos aqui", diz ela. E ele acrescenta: "Beijos sem conto." "O acordar de manhã" - "Prata entre as árvores" - "Lá em cima" - "No jardim" - "Quando o Verão chegou"
- "Quando neva no Inverno"... As portas fecham-se num rumor à distância, batendo devagar como as pulsações de um coração.
E eles aproximam-se; param à porta. O vento cai, a chuva desliza, de prata, pela janela. Faz escuro nos nossos olhos; já não ouvimos outros passos para além dos
nossos; não vemos nenhum casaco de senhora a desdobrar-se. As mãos dele tapam o clarão da lâmpada. "Olha", murmura ele. "Sono sossegado. O amor nos lábios deles."
Inclinados, o candeeiro seguro por cima de nós, olham-nos profunda e longamente. Demoram-se imóveis. O vento ergue-se de leve; a chama inclina-se um pouco mais.
Raios de luar bravios atravessam o chão e as paredes e iluminam, ao encontrarem-nos, os rostos debruçados; os rostos que velam; os rostos que observam os adormecidos
e espreitam a sua alegria oculta.
"Salvos, salvos, salvos", o coração da casa pulsa cheio de orgulho. "Há tantos anos" - suspira ele. "Encontraste-me outra vez." "Aqui", murmura ela "a dormir; no
jardim a ler; a rir; a guardar maçãs no sótão. Aqui deixámos o nosso tesouro." - Inclina-se de novo; a leve claridade toca a pálpebra dos meus olhos. "Salvos, salvos,
salvos", pulsa vibrante agora o coração da casa. Ao acordar, exclamo: "Oh, é isto o vosso tesouro escondido? A luz no coração."
SEGUNDA OU TERÇA-FEIRA
Indiferente e ociosa, batendo sem esforço o espaço com as asas, segura do seu caminho, a garça passa por cima da igreja, atravessando o céu. Branco e distante, absorto
em si próprio, o céu abre-se e fecha-se sem fim, passa e fica sem fim. Um lago? As suas praias perdem os contornos. Uma montanha? Oh, como é perfeito o doirado do
sol nas suas encostas! Colunas que descem: depois a folhagem dos fetos, ou das plumas brancas, para sempre e sempre.
Deseja-se a verdade, fica-se à sua espera, enquanto se destilam laboriosamente algumas palavras - (um grito à esquerda, outro grito à direita. Rodas de engrenagem
divergentes. Uma concentração de autocarros em sentidos opostos) - porque se deseja sempre - (o relógio afiança com doze badaladas extremamente precisas que é meio-dia;
a luz desdobra-se numa escala de ouro: aparece um enxame de crianças) -, deseja-se para sempre a verdade. A cúpula é vermelha; há moedas suspensas nos ramos das
árvores: o fumo sai das chaminés; um grito rasgado e estridente de "Ferro para vender!" - e a verdade?
Há um ponto algures de onde irradiam passos de homem e passos de mulher, a negro ou a doirado - (Este tempo de neblina - Açúcar? - Não, obrigado - A comunidade do
futuro) -, o clarão do fogo a irromper, tornando vermelha a sala, as figuras negras e os seus olhos iluminados, enquanto lá fora está o furgão a fazer a descarga,
Miss Qualquer Coisa toma o seu chá à mesa de leitura e as muralhas de vidro protegem os casacos de peles.
Coisas que se mostram, pétalas de luz, flutuando nas esquinas, soprando entre as rodas, uma aspersão de prata, dentro ou fora de casa, coisas recolhidas ou que se
desdobram, dispersas por múltiplas dimensões, arrastando-se em cima, por baixo, rasgando-se, escoando-se e reunindo-se de novo - sim, mas a verdade?
Agora é a vez da recordação entreaberta à luz do fogo aceso no quadro de mármore branco. Das profundidades de marfim as palavras sobem e espalham a sua negra obscuridade,
florescem e penetram. O livro está caído; há as chamas, o fumo, as centelhas de um momento - depois, o início da viagem, com o relógio por cima da moldura de mármore,
os minaretes por baixo da torre do relógio e os mares do Oriente, enquanto o espaço é uma precipitação de azul e as estrelas esplendem - verdade? - ou tudo se recolhe
agora, fechando-se em redor.
Indiferente e ociosa, a garça regressa; o céu encobre e depois desnuda as suas estrelas.
LAPPIN E LAPINOVA
Tinham casado. Rebentara no ar a marcha nupcial. Os pombos esvoaçavam. Alguns rapazes com o uniforme de Eton atiraram-lhes arroz; um fox-terrier corria de um lado
para o outro; e Ernest Thorburn conduziu a sua noiva até ao carro através da pequena multidão curiosa de pessoas completamente desconhecidas que se junta sempre
nas ruas de Londres para desfrutar da felicidade ou da desgraça dos outros. Sem dúvida, tratava-se de um noivo elegante, e ela tinha um ar intimidado. O arroz foi
atirado uma vez mais e o carro partiu.
Fora na terça-feira. Era agora sábado. Rosalind precisava ainda de se habituar ao facto de ser agora Mrs. Ernest Thorburn. Talvez nunca lhe fosse possível, porém,
habituar-se ao facto de ser Mrs. Ernest Qualquer Coisa, pensou ela, enquanto se sentava junto da janela larga do hotel, contemplando o lago e as montanhas, e esperava
que o marido descesse para o pequeno-almoço. Era difícil uma pessoa habituar-se ao nome de Ernest. Não era de maneira nenhuma o nome que ela teria escolhido. Teria
preferido Timothy, Antony, ou Peter. O nome dele evocava coisas como o Albert Memorial, armários de mogno, gravuras metálicas do Príncipe Consorte em família - ou,
em suma, a sala de jantar da sogra em Porchester Terrace.
Mas ali estava ele. Graças a Deus não tinha cara de Ernest - nada mesmo. Mas teria ar de quê? Relanceou-o obliquamente por várias vezes. Bom, enquanto estava a comer
aquela torrada parecia um coelho. Não que qualquer outra pessoa fosse capaz de descobrir a mínima semelhança com um animal tão pequeno e tímido naquele jovem aprumado
e com bons músculos, nariz direito, olhos azuis, boca de traço firme. Mas era ainda mais engraçado por causa disso. O nariz dele franziu-se levemente ao trincar
a torrada. Era assim que o coelho de estimação dela também costumava fazer noutro tempo. Ficou a olhar aquele nariz que se franzia; e depois teve de explicar, quando
ele a surpreendeu a observá-lo, porque é que estava a rir.
"É que tu és como um coelho, Ernest", disse ela. "Como um coelho bravo", acrescentou, olhando-o de novo. "Um coelho de caça; um Rei Coelho; um coelho que faz a lei
dos outros coelhos."
Ernest não tinha qualquer objecção a ser um coelho de tal espécie, e como a divertia vê-lo franzir o nariz - embora ele nunca tivesse dado por que fazia semelhante
coisa -, franziu-o de propósito. Ela riu uma e outra vez e ele ria também, de tal modo que as duas senhoras solteironas e o pescador e o criado suíço com o seu lustroso
casaco preto, todos eles adivinharam certo; ele e ela eram muito felizes. Mas quanto tempo dura uma felicidade assim? - perguntaram-se as pessoas para consigo; e
cada uma delas respondeu de acordo com o que as suas experiências lhe lembravam.
À hora do almoço, sentados junto de uma moita de urze perto do lago: "Alface, coelho?" perguntou Rosalind, pegando numa folha de alface que acompanhava os ovos cozidos.
"Vem cá, comer à minha mão", acrescentou ela, e ele mordiscou e provou a alface, franzindo o nariz.
"Coelho bonito, coelho bom", disse ela, acariciando-o, como costumava acariciar outrora o seu coelho de estimação. Mas ele não era, apesar de tudo, um coelho; não
era um coelho. Então traduziu a palavra para francês. "Lapin", chamou-o. Mas ele era integralmente inglês - nascido em Porchester Terrace, educado em Rugby; agora
advogado dos Serviços Civis de Sua Majestade. Tentou, por isso, a seguir, chamar-lhe "Bunny"; mas era ainda pior. "Bunny" era uma coisa gorducha e macia e cómica;
ele era magro e decidido e sério. No entanto, franzia também o nariz. "Lappin", exclamou ela de súbito; e soltou um gritinho como se tivesse encontrado a palavra
exacta que desejava.
"Lappin, Lappin, Rei Lappin", repetiu ela. Parecia assentar-lhe na perfeição; o nome dele não era Ernest, era Rei Lappin. Porquê? Isso não sabia.
Quando não tinham nada de novo de que falarem ao longo dos seus grandes passeios solitários - e ainda por cima chovia, como toda a gente previra que ia acontecer:
ou quando estavam sentados junto ao lume à noite, porque estava frio, e as senhoras solteironas e o pescador se tinham ido embora, e o criado só viria se tocassem
a chamá-lo, ela deixava a sua fantasia ir criando a história da tribo Lappin. Nas suas mãos - enquanto cosia e ele lia - esta tribo tornava-se intensamente real,
intensamente viva, e cheia de graça também. Ernest poisou o livro e começou a ajudá-la. Havia coelhos negros e coelhos vermelhos; havia coelhos inimigos e coelhos
amigos. Havia o bosque onde viviam e os prados em volta e a charneca. Acima de todos en-contrava-se o Rei Lappin, que, muito longe de possuir apenas aquela arte
natural - de torcer o nariz -, se tornava à medida que o tempo ia correndo, um animal de nobilíssimo carácter; Rosalind estava sempre a descobrir-lhe novas qualidades.
Mas era, acima de tudo, um grande caçador.
"E como", disse Rosalind no último dia da lua-de-mel, "passou o Rei o seu dia?"
Na realidade, tinham andado a passear todo o dia; e ela ficara com uma bolha no calcanhar; mas não se importava com isso.
"Hoje", disse Ernest, franzindo o nariz, enquanto cortava a ponta do charuto, "o Rei caçou uma lebre". Interrompeu-se; riscou um fósforo, e voltou a franzir o nariz.
"Uma mulher lebre", acrescentou.
"Uma lebre branca!", exclamou Rosalind, como se fosse daquilo que estava à espera. "Uma lebre pequena; acinzentada de prata; com os olhos brilhantes?"
"Sim", disse Ernest, olhando-a como ela o olhava, "um animal minúsculo; com os olhos a saltarem-lhe do focinho e duas lindas patinhas da frente." Era exactamente
assim que ela estava sentada, com a costura segura nas mãos, e com os olhos que de tão grandes e brilhantes acabavam por ficar um pouco salientes no seu rosto.
"Ah, Lapinova", murmurou Rosalind.
"É assim que ela se chama?" perguntou Ernest - "a autêntica Rosalind?" E olhou para ela. Sentia-se intensamente apaixonado por ela.
"Sim; é assim que se chama", disse Rosalind. "Lapinova". E antes de irem para a cama nessa noite, ficou tudo assente. Ele era o Rei Lappin; ela era a Rainha Lapinova.
Eram o posto um do outro; ele era corajoso e determinado; ela, hesitante e insegura. Ele governava o mundo atarefado dos coelhos; o mundo dela era um lugar misterioso
e desolado, por onde ela vagueava sobretudo durante as noites de luar. De qualquer modo, os seus territórios acabavam por se encontrar; eram Rei e Rainha.
Assim, quando voltaram da lua-de-mel, viram-se na posse de um mundo privado habitado apenas, exceptuada a lebre branca, por coelhos. Ninguém suspeitava da existência
de semelhante lugar, e isso, é claro que o tornava ainda mais divertido. Aquilo fazia-os sentirem-se, mais ainda que a maioria dos casais recentes, coligados contra
o resto do mundo. Muitas vezes lhes acontecia fitarem-se de soslaio um ao outro quando as outras pessoas estavam a falar de coelhos e de bosques, de armadilhas e
tiros. Ou faziam sinal por cima da mesa quando a tia Mary dizia que nunca fora capaz de olhar para uma lebre na travessa - parecia mesmo um bebé: ou quando John,
o irmão desportista de Ernest, lhes falava do preço que os coelhos tinham atingido, nesse Outono, em Wiltshire, e como estavam as peles, e assim por diante... Por
vezes, quando queriam um ajudante de caça, um caçador furtivo ou um Senhor da Mansão, divertiam-se distribuindo esses papéis por este ou aquele dos seus amigos.
A mãe de Ernest, Mrs. Reginald Thorburn, por exemplo, desempenhava na perfeição o papel de Squire. Mas tudo isto era secreto - era esse o ponto essencial; ninguém,
para além deles, sabia da existência daquele mundo.
Sem esse mundo, perguntava Rosalind a si própria, como lhe teria sido possível viver durante aquele Inverno? Por exemplo, tinha havido o jantar das bodas de ouro,
e todos os Thor-burns se reuniram em Porchester Terrace para celebrar o quinquagésimo aniversário dessa união tão cheia de bênçãos - não produziram Ernest Thorburn?
- e tão fecunda - ou não era verdade também que produzira outros nove filhos e filhas, muitos deles já casados e também fecundos? Rosalind estava apavorada com a
festa. Mas era inevitável. Enquanto subia as escadas sentiu amargamente o facto de ser filha única e, ainda por cima, órfã; uma simples gota de água no meio de todos
aqueles Thorburn reunidos na grande sala com papel de parede acetinado e esplendorosos retratos de família. Os Thorburn vivos pare-ciam-se muito com os pintados
naqueles retratos, só que em vez de lábios de tinta e tela tinha lábios verdadeiros, dos quais saíam gracejos, histórias divertidas acerca de salas de aula e de
cadeiras puxadas por trás à governanta quando esta, uma vez, se ia sentar e também acerca de rãs metidas entre os lençóis virginais de velhas solteironas. Mas Rosalind
não se lembrava de ter sabido alguma vez o que fossem brincadeiras semelhantes. Com a sua prenda na mão, avançou em direcção à sogra, sumptuosamente coberta de seda
amarela, e em direcção ao sogro, enfeitado com um cravo amarelo vivo na lapela. A toda a volta por cima das cadeiras e das mesas, havia uma profusão de tributos
doirados, alguns colocados em ninhos de algodão; outros erguendo-se resplandecentes - candelabros, caixas de charutos, cadeiras metálicas; tudo marcado com o contraste
do artista, a comprovar que se tratava de ouro autêntico. Mas o presente dela era apenas uma caixinha com orifícios na tampa; uma caixa de areia para a tinta, uma
relíquia do século XVIII. Um presente bastante extravagante, pressentia-o ela, na época do mata-borrão, enquanto via de novo à sua frente a pesada secretária negra
a que estava sentada a sogra no dia em que tinha ficado noiva de Ernest, e a sogra dissera-lhe: "O meu filho há-de fazê-la feliz." Não, ela não era feliz. De maneira
nenhuma era feliz. Olhou para Ernest, muito aprumado e sólido, com um nariz igual a todos os narizes daquela família nos retratos; um nariz que parecia nunca ter
franzido.
Foram para a mesa. Rosalind estava meio escondida atrás dos crisântemos, cujas grandes pétalas vermelhas e doiradas se abriam em bola. Tudo era doirado. Uma ementa
marginada a ouro referia os pratos, com os nomes escritos com iniciais doiradas, que iam ser servidos. Rosalind mergulhou a colher num recipiente cheio de um líquido
doirado e claro. O nevoeiro alvacento lá de fora transformado, graças à iluminação, numa fosforescência doirada que esbatia os contornos das travessas e dava aos
ananases uma pele de ouro áspero. Só ela no seu vestido de noivado branco, com os olhos salientes abertos e observando, parecia ali, no meio de tanto ouro, um pingente
de gelo insolúvel.
À medida que o jantar avançava, contudo, a sala ia ficando cada vez mais quente. Gotas de suor salpicavam as testas dos homens. Rosalind sentia que o seu gelo estava
a liquefazer-se. Sentia que estava a ser derretida; dispersa; dissolvida no nada; em breve ia desmaiar. Depois, através do nevoeiro do seu cérebro e da zoada que
lhe afligia os ouvidos, ouviu uma voz de mulher exclamar: "Mas eles multiplicam-se tanto!"
Os Thorburn - sim; multiplicavam-se tanto, ecoou ela, olhando à volta da mesa os rostos avermelhados que lhe pareciam duplicar-se na atmosfera doirada que os envolvia
e na tontura que dela se apoderara. "Multiplicam-se tanto." Então, John bradou:
"São uns diabos pequenos!... Só a tiro! Só pisando-os com botas cardadas! É a única maneira de lidar com eles... os coelhos!"
Com esta palavra, a palavra mágica, Rosalind sentiu-se reviver. Espreitando por entre os crisântemos, viu o nariz de Ernest a franzir-se. O rosto enrugou-se-lhe
e ele franziu-o várias vezes seguidas. E então uma catástrofe misteriosa transformou os Thorburn. A mesa doirada tornou-se uma charneca de giesta em flor; o ruído
das vozes, no assobiar feliz de um melro que descia do céu. Era um céu azul - as nuvens passavam lentamente. E ei-los, todos os Thorburn, transformados. Rosalind
olhou para o sogro, um homenzinho pequeno de bigode caído. O seu passatempo era coleccionar coisas várias - selos, caixas de esmalte, pequenos objectos de enfeitar
mesas do século XVIII, que escondia nas gavetas do escritório da vigilância da. mulher. Agora ele parecia-lhe um caçador furtivo, escapando-se com a sua bolsa recheada
de faisões e perdizes que iria cozinhar na panela da sua casa escondida nos campos e cheia de fumo. Era isso o que o sogro realmente era - um caçador furtivo. E
Célia, a filha por casar, que estava sempre a meter o nariz nos segredos das outras pessoas, nas pequenas coisas que os outros gostariam de guardar para si próprios
- essa era um furão branco de olhos vermelhos e com o nariz todo sujo de terra por causa das horríveis pesquisas esconderijos em que andava sempre. Andar de um lado
para o outro pendurada dos ombros dos homens dentro de uma rede e viver numa toca - era uma vida desgraçada, essa vida de Célia; a culpa não era dela, porém. E era
assim que Rosalind agora a via. Depois, olhou para a sogra - a quem tinham dado o cognome de Squire. Corada, altaneira, cheia de si, era assim que ela se mostrava,
agradecendo à direita e à esquerda, mas agora Rosalind - ou melhor, Lapino-va - via-a de modo diferente; via-a contra o fundo da casa de família em decadência, com
o gesso a desprender-se das paredes, e ouvia-a, com a voz cortada por um soluço, a agradecer aos filhos (que a detestavam) um mundo que tinha já deixado de existir.
Fez-se um silêncio súbito. Levantaram-se todos de copo erguido na mão; a seguir beberam; tudo acabara.
"Oh, rei Lappin!", gritou Rosalind, enquanto voltavam os dois através do nevoeiro de Londres, "se o teu nariz não tivesse franzido naquele momento preciso, eu tinha
sido apanhada na armadilha!"
"Mas estás salva", disse o Rei Lappin, apertando-lhe a pata.
"E bem salva!", respondeu ela.
E continuaram ambos a atravessar o Parque, o Rei e a Rainha das charnecas, do campo enevoado e das giestas perfumadas.
E o tempo foi passando; um ano; dois anos. E numa noite de Inverno, que por coincidência sucedeu ser a do aniversário da festa das bodas de ouro - mas Mrs. Reginald
morrera; a casa estava para alugar e só vivia lá um guarda - Ernest chegou do escritório e entrou em casa. Tinham uma bela casinha, os dois; metade de um grande
edifício, por cima de uma loja de selas e arreios para cavalos, em South Kensington, não muito longe da estação do metropolitano. Estava frio, havia nevoeiro no
ar, e Rosalind estava sentada perto do lume, a coser.
"O que é que imaginas que me aconteceu hoje?", começou ela, mal ele se instalou de pernas estendidas para as brasas. "Ia a atravessar o ribeiro quando..."
"Mas que ribeiro?", interrompeu-a Ernest.
"O ribeiro que fica no fundo da floresta, onde o nosso bosque pega com a floresta negra", explicou ela.
Ernest ficou a olhar para ela, estupefacto por um momento.
"Mas que disparate é esse?", perguntou por fim.
"Oh, querido Ernest!" exclamou ela cheia de desânimo. "Rei Lappin", acrescentou, aquecendo as pequenas patas da frente no lume do fogão. Mas o nariz dele não franziu.
As mãos dela - agora eram mãos - crisparam-se no tecido que estava a coser, e os olhos ficaram muito fixos e abertos. Ele levou uns cinco minutos a transformar-se
de Ernest Thorburn em Rei Lappin; e enquanto esperava, ela sentia uma força a pesar-lhe na parte de trás do pescoço, como se alguém a estivesse a estrangular. Por
fim, ele lá se transformou em Rei Lappin; o nariz franziu-se-lhe; e passaram o serão a vagabundear pela floresta como de costume.
Mas Rosalind dormiu mal. A meio da noite acordou, sentin-do-se como se lhe tivesse acontecido qualquer coisa de estranho. Estava entorpecida e com frio. Acabou por
acender a luz e olhar para Ernest, deitado ao seu lado. Ele dormia profundamente. Ressonava. Mas embora estivesse a ressonar, o seu nariz continuava perfeitamente
imóvel. Parecia que nunca na vida se tinha franzido para ela. Seria possível que fosse realmente Ernest? E ela estaria realmente casada com Ernest? Surgiu-lhe uma
imagem da sala de jantar da sogra; e lá estavam ela e Ernest, envelhecidos, rodeados por grandes aparadores de madeira trabalhada... Eram as suas bodas de ouro.
Não aguentava mais.
"Lappin, Rei Lappin!" sussurrou ela, e por um instante o nariz pareceu franzir-se e deixar de novo tudo bem. Mas ele continuou a dormir. "Acorda, Lappin, acorda!"
gritou Rosalind.
Ernest acordou; e vendo-a sentada na cama, direita, ao seu lado, perguntou:
"O que foi?"
"Pensei que o meu coelho tinha morrido!" soluçou ela. Mas Ernest zangou-se.
"Não digas disparates, Rosalind", disse ele. "Deita-te e dorme".
Virou-se para o outro lado. No instante seguinte, dormia de novo profundamente: ressonava.
Ela é que não era capaz de adormecer. Ficou deitada, enroscada no seu lado da cama, como uma lebre encolhida. Apagara a luz, mas o candeeiro da rua iluminava fantasmagorica-mente
o tecto, e as árvores lá fora lançavam uma rede por cima da sua cabeça, como se ela estivesse no meio de ramagens sombrias, assustada, de um lado para o outro, retorcida,
às voltas, caçando, sendo caçada, ouvindo o ladrar dos cães de caça e as trompas dos caçadores; esgueirava-se, fugia... até que a criada abriu as cortinas e trouxe
o chá da manhã.
No dia seguinte, não conseguia pensar em nada. Parecia ter perdido qualquer coisa. Sentia-se com o corpo ressequido; como se tivesse encolhido, tornando-se negro
e escuro. Tinha as articulações também entorpecidas, e quando olhou para o espelho, o que fez várias vezes enquanto vagueava pela casa, os olhos pareciam querer
saltar-lhe da cara, como as passas de uva que cobrem um bolo. As salas também pareciam ter perdido toda a sua vida. Grandes móveis colocados de uma maneira estranha,
com ela a tropeçar neles a todo o momento. Por fim pôs o chapéu e saiu. Caminhou ao longo de Cromwell Road; e todas as casas por onde passava pareciam-lhe ser, ao
entrever-lhes o interior, salas de jantar onde as pessoas estavam sentadas, salas cheias de pesados aparadores, com cortinas de renda amarela e armários de mogno.
Acabou por se dirigir para o Museu de História Natural; costumava gostar de lá ir quando era pequena. Mas a primeira coisa que viu ao entrar foi uma lebre empalhada
em cima de neve fingida com olhos de vidro cor-de-rosa. Aquilo fê-la fugir. Talvez ficasse melhor com o lusco-fusco. Foi para casa e sentou-se ao lume, sem acender
uma única luz, e tentou imaginar que estava sozinha na charneca; e havia um ribeiro a correr; e do outro lado das águas uma floresta negra. Mas não foi capaz de
ir para além do ribeiro. Acabou por se aconchegar num alto de relva húmida, e ficou sentada na cadeira, com as mãos vazias a abanar e os olhos esgazeados, como olhos
de vidro, postos nas chamas. Depois, houve um tiro de espingarda... e ela estremeceu num sobressalto, como se tivesse sido atingida. Afinal era apenas Ernest que
metia a chave à porta. Rosalind esperou a tremer. Ele entrou e acendeu a luz. Ei-lo de pé, à sua frente, direito, alto, esfregando as mãos vermelhas de frio.
"Sentada às escuras?", perguntou.
"Oh, Ernest, Ernest!" gritou ela agitando-se na cadeira.
"Bom, que aconteceu agora?", perguntou ele alegremente, aquecendo as mãos nas chamas.
"Foi Lapinova..." balbuciou ela, olhando assustada para ele, com os seus grandes olhos fixos. "Acabou-se Ernest. Perdi-a!"
Ernest franziu o sobrolho, apertando os lábios com força.
"Oh, era isso então?", disse ele, sorrindo pouco à vontade para a mulher. Durante uns dez segundos, ficou ali de pé, silencioso; Rosalind esperava, sentindo um par
de mãos a apertar-lhe o pescoço.
"Sim", acabou ele por dizer. "Pobre Lapinova..." E começou a arranjar a gravata no espelho que havia por cima da chaminé.
"Foi apanhada numa armadilha", acrescentou Ernest, "morta", e sentou-se a ler o jornal.
Foi assim que o casamento deles acabou.
A DUQUESA E O JOALHEIRO
Oliver Bacon morava na parte superior de uma casa debruçada para Green park. Era o seu apartamento: as cadeiras encontravam-se harmoniosamente dispostas pelos cantos
da sala - cadeiras forradas de coiro. Os vãos envidraçados estavam guarnecidos por divãs - divãs cobertos com mantas de tapeçaria. As janelas, três grandes janelas,
encontravam-se resguardadas por uma renda discreta, nas cortinas pelo indispensável cetim bordado. O bojo dos aparadores de acaju estava recheado de aguardentes,
de whisky e de licores de primeira qualidade. E da janela central ele dominava os toldos lustrosos dos carros elegantes arrumados nos acessos estreitos de Picadilly.
Não se se podia imaginar localização mais central. Às oito horas da manhã, tomava o seu pequeno-almoço, que um criado lhe trazia numa bandeja: o criado estendia-lhe
o roupão de seda carmesim: Oliver Bacon, com as suas compridas unhas aparadas em ponta, abria o correio, extraindo dos sobrescritos espessas folhas de bristol, timbradas,
com as armas de Duquesas, Condessas, Viscondessas e Honorables Ladies várias. Depois, começava a fazer a toillete: depois, comia uma torrada: depois lia o seu jornal,
junto a um fogo crepitante de carvões eléctricos.
"Cá estás tu, Oliver, dizia para consigo. Tu que começaste a vida numa ruela escura e sórdida, que..." e contemplava as pernas bem cingidas pelas calças de um corte
irrepreensível, os sapatos, as polainas. Tudo elegante, cheio de brilho, cortado nas melhores peças pelas melhores tesouras de Savile Row. Mas muitas vezes acontecia-lhe
também sentir-se perturbado e voltava a ser então o rapazinho da ruela obscura de outrora. Tinha havido um tempo em que a sua maior ambição fora tornar-se um próspero
vendedor de cães roubados às senhoras elegantes de Whitechapel. Uma vez fora apanhado. "Oh! Oliver, lamentava-se a mãe. Oh! Oliver, quando é que ganhas juízo, meu
filho?...". Mais tarde, o seu trabalho fora estar atrás de um balcão; fizera-se vendedor de relógios baratos; depois levara, uma vez, um saco a Amsterdam... Essa
recordação fazia-o rir disfarçadamente - enquanto o velho Oliver cismava no Oliver jovem que tinha sido outrora. Sim, saíra-se bem com os três diamantes; tinha havido
também aquela comissão sobre a esmeralda. Depois disso, trabalhara no gabinete privado de uma loja de Hatton Garden; uma sala com balanças, um cofre-forte, grossas
lentes de aumentar; e depois... voltou a rir furtivamente. Quando passava pelos grupos de joalheiros que discutiam questões de preços nas noites quentes, que falavam
das minas de ouro, dos diamantes, das notícias da África do Sul, havia sempre um ou outro que punha o dedo numa das asas do nariz e murmurava "hummm..." à sua passagem.
Não era mais que um murmúrio; não passava de estremecer dos ombros, de um dedo na asa do nariz, um zumbido que percorria todo o grupo de joalheiros de Hatton Garden,
numa tarde de calor. Oh, tratava-se de uma história de outros tempos! Mas Oliver sentia-os ainda a ronronarem na sua coluna vertebral: sentia essa pressão, esse
sussurro que queria dizer: "Olhem para ele, o jovem Oliver, o joalheiro novo - olhem, lá vai ele." Sim, Oliver era um jovem nesse tempo. Ia-se vestindo cada vez
melhor: começou por dispor de um cab, mais tarde arranjou um automóvel. Começou por se sentar nas galerias das casas de espectáculos, depois desceu para as primeiras
filas, para junto da orquestra. Adquiriu uma casa de campo em Richmond, dando para o rio, cheia de canteiros de rosas vermelhas; e mademoiselle colhia uma rosa todas
as manhãs para lha pôr na botoeira.
"É assim, exclamou Oliver Bacon, erguendo-se e esticando as pernas. É assim..."
Estava agora por baixo do retrato de uma senhora de idade, pendurado por cima do fogão de sala; ergueu as mãos na sua direcção. "Cumpri a minha palavra, disse ele,
unindo as mãos, palma contra palma, como se lhe prestasse homenagem. Ganhei a minha aposta." Era verdade. Tornara-se o joalheiro mais rico de Inglaterra; e o seu
nariz, longo e flexível como uma tromba de elefante, parecia dizer num estranho frémito das narinas (dir-se-ia que era todo o nariz e não apenas as narinas que tremiam)
que não estava ainda satisfeito, que farejava ainda mais alguma coisa por baixo da terra, um pouco mais longe. Imagine-se um porco gigante num campo cheio de trufas;
o porco já desenterrou algumas trufas, mas está a farejar outra maior, mais escura, um pouco mais adiante, no meio da terra. Oliver farejava sempre um pouco mais
adiante no solo fértil de Mayfair, em busca de uma trufa ainda mais escura e maior.
Endireitou o alfinete da gravata, enfiou-se no seu magnífico sobretudo azul, pegou nas luvas cor de manteiga fresca e na bengala. Balançava-se e fungava levemente
ao descer as escadas, exalando meio suspiro através do grande nariz pontudo, enquanto saía para Piccadilly. Não era afinal um homem triste, um homem insatisfeito,
um homem que procura algo oculto, embora tivesse ganho a sua aposta?
Ao caminhar, vacilava de modo imperceptível, como o camelo do jardim zoológico quando avança pelas ruazinhas de asfalto cheias de merceeiros com as suas esposas,
que comem coisas tiradas de dentro dos embrulhos e semeiam no chão pedaços de papel de prata. O camelo despreza os comerciantes; o camelo sente-se descontente com
a sua sorte; o camelo vê um lago e um véu de palmares à sua frente. Assim o grande joalheiro, o maior joalheiro do mundo, descia Piccadilly com largas passadas,
perfeitamente composto com as suas luvas e a sua bengala, mas insatisfeito. Chegou à lojazinha escura que se tornara célebre em França, na Alemanha, na Áustria,
na Itália e por toda a América - a pequena loja escura numa rua vizinha de Bond Street. Como de costume, atravessou a loja, sem dizer uma palavra. Todavia, os quatro
homens, dois velhos: Marsall e Spen-cer, e dois jovens: Hammond e Wicks, ali estavam, numa postura rígida, perfilados à sua passagem com um olhar cheio de inveja.
Oliver não acusou a sua presença senão por meio de um sinal do dedo das suas luvas com tonalidade de âmbar, e entrou no seu gabinete privado, fechando a porta atrás
de si.
Retirou em seguida a protecção metálica da janela. Os ruídos de Bond Street, o ronronar do trânsito entraram na sala. Ao fundo da loja, a luminosidade dos reflectores
subia até ao tecto. Uma árvore balouçava as suas seis folhas verdes, porque era Junho. Mas mademoiselle casara com Mr. Pedder, o cervejeiro local - e ninguém punha
agora rosas na botoeira de Oliver.
"É assim, murmurou ele, meio suspirando, meio fungando, assim..."
Accionou uma mola na parede e o painel abriu-se lentamente: por trás ficavam cofres-fortes, cinco, não, seis cofres-fortes, todos eles de aço trabalhado. Deu a volta
a uma das chaves; abriu um dos cofres; depois outro. Cada um estava forrado na parte de dentro por um acolchoado de veludo, veludo carme-sim-escuro: cada um deles
cheio de jóias - braceletes, colares, anéis, tiaras, coroas ducais -, cheio de pedrarias acomodadas em conchas de vidro; rubis, esmeraldas, pérolas, diamantes. Tudo
em perfeita segurança, cintilante e frio e, contudo, ao mesmo tempo, ardente; era o ardor da própria luz que condensavam.
"Lágrimas", disse Oliver, contemplando as pérolas. "Sangue do coração", disse olhando os rubis. "Pólvora", acrescentou, remexendo os diamantes, e fazendo-os soltar
miríades de fogos.
"Pólvora suficiente para mandar Mayfair pelos ares, até ao céu, céu, céu!" E enquanto dizia estas palavras, Oliver lançou a cabeça para trás, fazendo ouvir uma espécie
de relincho.
O telefone tocou na mesa do seu gabinete, obsequiosamente, em voz surda e velada. Oliver voltou a fechar o cofre.
"Dentro de um minuto, antes disso não", disse para consigo. Sentou-se à sua mesa e contemplou os imperadores romanos cujas efígies adornam agora os seus botões de
punho. Ali estava de novo desarmado, voltara a ser o rapazinho que jogava ao berlinde na viela onde se vendem ao domingo cães roubados. Voltou a ser esse rapazinho
astucioso e matreiro, com lábios vermelhos cor de cereja. Metia os dedos em cordões de tripas; molhava-os nas caçarolas de peixe frito: passeava por entre a multidão;
era delgado, flexível, com os olhos de pedra húmida; e agora - agora - o tique-taque dos dedos do relógio de parede fazia um, dois, três, quatro.... A duquesa de
Lambourne esperava que ele se dispusesse a recebê-la; a duquesa de Lambourne descendente de centenas de Condes. Ia esperar dez minutos numa cadeira junto ao balcão
do mostruário. Ia esperar que ele se dispusesse a recebê-la. Consultou o seu relógio de bolso, tirando-o do estojo de pele. O ponteiro continuava a avançar. A cada
tique-taque, parecia-lhe que o relógio lhe punha à frente um pudim de fígado de aves, uma taça de cham-pagne, um cálice de aguardente fina, um charuto de guinéu.
O relógio de algibeira servia de tudo isso à sua mesa, enquanto os dez minutos iam passando. Depois ouviu passos abafados que se aproximavam; um fru-fru no corredor.
A porta abriu-se. Mr. Hammond comprimia-se contra a parede.
"Sua Graça", anunciou ele.
E ficou na mesma posição, comprimido contra a parede.
Levantando-se, Oliver podia ouvir o fru-fru do vestido da duquesa que atravessava o corredor. Desenhou-se, em seguida, na moldura da porta, enchendo a sala com as
suas armas, o seu prestígio, a arrogância, a vaidade, o orgulho de todos os duques e de todas as duquesas que nela se faziam uma só enorme vaga. E como uma onda
que se desfaz, desfez-se ela também por fim, sentando-se, espraiando-se, salpicando, inundado Oliver Bacon, o grande joalheiro. Cobria-o com o fogo das suas cores
resplandecentes: verde, rosa, violeta: inundava-o de perfume, de iridis-cências e dos raios luminosos que se despediam dos seus dedos, das suas plumas oscilantes
e da seda do seu vestido. Porque, de idade madura, a duquesa era vastíssima, imensa, revestida com os seus tafetás apertados. Como um guarda-sol de muitos panos
se fecha, como um pavão de mil penas encerra o seu leque, dei-xou-se cair e fechou-se na poltrona de couro onde encalhara.
"Bom dia, Mr. Bacon", disse a Duquesa. E estendia-lhe a mão espreitando por uma abertura das luvas. Oliver curvou-se para lha tomar. E enquanto as suas mãos se tocavam,
voltou a forjar-se entre eles o elo de uma corrente. Eram amigos e, ao mesmo tempo, inimigos: ele era o senhor, a senhora era ela: en-ganavam-se um ao outro, precisavam
um do outro, temiam-se reciprocamente, e ambos o sentiam e sabiam todas as vezes que as suas mãos se tocavam assim naquela saleta escura, com a luz branca lá fora,
a árvore com seis folhas, o ruído distante da rua e os cofres-fortes atrás.
"E hoje, Duquesa, em que posso ser-lhe útil hoje?", inquiriu Oliver com extremo cuidado.
A Duquesa abriu-lhe o coração, a intimidade do seu coração: abriu-lho de par em par. Com um suspiro, sem uma palavra, tirou da sua mala uma espécie de pequeno saco
de camurça - semelhante a uma doninha amarela, estreita e alongada - e de uma abertura a meio do corpo da doninha deixou cair as pérolas - dez pérolas -, que deslizaram
rolando da fenda aberta no ventre da doninha - uma, duas, três, quatro - como os ovos de algum pássaro divino.
"É tudo o que me resta, meu caro Mr. Bacon", disse ela com um queixume na voz. Cinco, seis, sete - as pérolas rolavam, rolavam ao longo da fenda rasgada nos vastos
flancos da montanha que se abriam entre os seus joelhos, formando um estreito vale ao fundo - oito, nove, dez. As pérolas estavam ali, poisadas no brilho do tafetá
cor de flor de pessegueiro. Dez pérolas.
"A cintura Appleby, disse ela tristemente. São as últimas... as últimas de todas."
Oliver estendeu o braço e segurou uma das pérolas entre o polegar e o indicador. Era redonda, brilhava. Mas - verdadeira ou falsa? Estaria a Duquesa a mentir uma
vez mais? Atrever-se-ia ela a continuar a mentir?
A Duquesa poisou o dedo rechonchudo na boca. "Se o Duque soubesse..., sussurrou ela a medo. Caro Mr. Bacon, foi outra vez um golpe de pouca sorte."
Teria voltado, então, a perder ao jogo?
"O traidor! O batoteiro!", disse a Duquesa numa voz sibilante.
Seria o homem com o maxilar partido? Um indivíduo pouco limpo. "E o Duque, que é generoso como o ouro para com os seus favoritos, ia privá-la de dinheiro, fechá-la
num lugar distante qualquer, se soubesse o que eu sei", pensava Oliver. Lançou um olhar em direcção ao cofre.
"Araminta, Daphne, Diana, gemeu a Duquesa, é por causa delas." As três filhas - Oliver conhecia-as: adorava-as. Mas Diana, essa amava-a deveras, amava-a do fundo
do coração.
"Conhece todos os meus segredos", disse a Duquesa com os olhos baixos. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Lágrimas que começaram a cair, lágrimas como diamantes,
arrastando o pó-de-arroz ao longo dos sulcos das suas faces cor de cerejeira em flor.
"Meu velho amigo, murmurou ela, meu velho amigo." Oliver repetiu essas palavras duas vezes, como se estivesse a lambê-las.
"Quanto?", perguntou depois. A Duquesa escondeu as pérolas com a mão. "Vinte mil", murmurou.
Mas seriam verdadeiras ou falsas, as pérolas que Oliver tinha na mão? A cintura Appleby - não fora já vendida? Ia tocar, mandando vir Spencer e Hammond, e dizer-lhes:
"Levem isto e verifiquem." Estendeu o braço na direcção da campainha. "Quero que você também venha amanhã, disse a Duquesa com uma voz pressurosa, detendo-o. O Primeiro-Ministro,
Sua Alteza Real..." Parou por um instante. "E Diana...", acrescentou ainda.
Oliver tirou a mão da campainha.
Para além da figura da Duquesa, contemplou as traseiras das casas de Bond Street, somente não eram já as casas de Bond Street o que estava a ver, mas uma água enrugada,
uma truta, um salmão que saltavam, o Primeiro-Ministro e ele próprio também, os coletes brancos, e depois, Diana. Contemplou de novo a pérola que tinha na mão. Mas
como havia de a avaliar agora - à luz do rio, à luz dos olhos de Diana? Os olhos da Duquesa não se desprendiam dele.
"Vinte mil, disse ela num gemido, é a minha honra!" A honra da mãe de Diana! Oliver pegou no seu livro de cheques e puxou da caneta. Escreveu "vinte", depois deteve-se.
Os olhos da velha senhora do retrato estavam poisados nele - os olhos da sua velha mãe.
"Oliver, avisou-o ela, tem juízo! Não sejas tolo!" "Oliver, suplicou a Duquesa - agora era apenas "Oliver", já não era "Mr. Bacon" - não quer passar connosco um
fim-de-semana prolongado?"
Sozinho nos bosques com Diana! Sozinho, a cavalo, nos bosques com Diana!
"Mil", escreveu, e assinou. "Aqui tem", disse por fim.
E todos os panos do guarda-sol, todas as penas do pavão se abriram. O esplendor da vaga, as espadas e as esporas de Azin- court fulguravam enquanto a Duquesa se
levantava da cadeira. Os dois empregados velhos e os dois mais novos, Spencer e Marshall, Wicks e Hammond, colaram-se à parede por trás do balcão, cheios de inveja,
enquanto Oliver a acompanhava à porta, agitando as suas luvas cor de manteiga fresca diante dos olhos deles, e a Duquesa ia levando a sua felicidade - um cheque
de 20 000 libras assinado por ele - bem segura na mão.
"Serão verdadeiras ou falsas?", perguntou-se Oliver, voltando a fechar a porta do gabinete particular. As dez pérolas ali estavam, poisadas no tampo coberto de mata-borrão,
em cima da mesa. Levou-as para mais perto da janela, observou-as à luz do dia com as suas lentes... Aquilo seria, afinal, a trufa que ele tinha desenterrado? Podre
até ao meio, completamente podre!
"Perdoa-me, ó minha mãe!", exclamou ele suspirando e levantando a mão, como que para pedir à velha mulher do retrato que lhe perdoasse. Voltara a ser o rapazinho
na viela onde se vendiam cães roubados ao domingo. "Porque, murmurou, unindo as palmas das mãos, o fim-de-semana vai ser prolongado!"
O LEGADO
"Para Sissy Miller", lia Gilbert Clandon, pegando no broche de pérolas deitado entre outros broches e anéis, em cima de uma mesinha da sala de estar de sua mulher
- "Para Sissy Miller, com o meu afecto."
Era mesmo de Angela ter-se lembrado de Sissy Miller, a sua secretária. E era muito estranho também, pensou Gilbert Clandon, uma vez mais, ela ter deixado todas as
coisas tão bem arrumadas - uma pequena prenda para cada um dos seus amigos. Era como se tivesse previsto que ia morrer. E, no entanto, estava de perfeita saúde quando
saíra de casa nessa manhã, havia agora seis semanas; quando, ao descer do passeio em Picca-dilly, o carro aparecera - e a matou.
Ele estava à espera de Sissy Miller. Pedira-lhe que viesse; devia-lhe, sentiu-o, depois de todos os anos que ela passara com eles, esse gesto de consideração. Sim,
continuou depois, enquanto se sentava à espera, era estranho que Angela tivesse deixado tudo tão em ordem. Cada um dos seus amigos receberia uma pequena prova do
afecto dela. Cada anel, cada colar, cada caixinha chinesa - ela tivera sempre uma paixão por caixinhas - tinha um nome escrito. E cada um desses objectos, para ele,
tinha também a sua memória. Este fora ele quem lho dera: aquele - o delfim de esmalte com olhos de rubi - tinha-o comprado ela um dia numa rua escura de Veneza.
Lembrava-se ainda do seu pequeno grito de alegria. A ele, é claro que não lhe deixara nada em particular, exceptuando o seu diário. Quinze pequenos volumes, encadernados
de verde, ali estavam, atrás dele, na mesa de escrever dela. Desde que se tinham casado que Angela conservara o diário. Algumas das suas pouquíssimas - não lhes
podia chamar zangas -, alguns dos seus pouquíssimos amuos tinham tido esse diário como causa. Quando ele entrava e a via a escrever, ela fechava sempre o caderno
ou escondia-o, pondo-lhe a mão em cima. "Não, não, não", era como se a estivesse ainda a ouvir. "Depois de eu morrer - talvez." E deixara-lho a ele, era o seu legado.
Era a única coisa que não tinha compartilhado em vida com Gilbert. Mas ele sempre considerara como garantido que seria Angela a sobreviver-lhe. Se ao menos ela tivesse
parado por um instante e pensasse no que estava a fazer, estaria agora ainda viva. Mas descera sem olhar do passeio, afirmara o dono do carro ao ser inquirido a
seguir à morte dela. Não lhe dera a menor possibilidade de tentar desviar-se... E aqui o som das vozes no hall interrompeu-o.
"Miss Miller, Sir", disse a criada.
Ela entrou. Gilbert nunca na sua vida a vira a sós, nem, é claro, a chorar. Vinha terrivelmente comovida, como não era de espantar. Angela fora muito mais para ela
do que a pessoa para quem se trabalha. Fora uma amiga. Mas para ele, pensou Gilbert Clandon, enquanto puxava uma cadeira e lhe pedia que se sentasse, aquela mulher
mal se distinguia das outras da mesma condição. Havia milhares de Sissy Millers - mulherzinhas insípidas, vestidas de preto, sempre com uma pasta atrás. Mas Angela,
com o seu dom de simpatia, descobrira toda a espécie de qualidades em Sissy Miller. Era a descrição em pessoa; tão silenciosa; tão cheia de lealdade que não havia
nada que não pudesse confiar-se-lhe, e assim por diante.
Miss Miller parecia de início incapaz de dizer uma palavra. Ficou sentada, enxugando os olhos com o lenço. Depois, fez um esforço.
"Desculpe-me, Mr. Clandon", disse ela.
Ele limitou-se a um murmúrio como resposta. Claro que compreendia muito bem. Podia adivinhar o que a mulher representara para ela.
"Fui tão feliz aqui", disse Miss Miller, olhando em redor. Os seus olhos ficaram presos à mesa de trabalho, que espreitava por trás de Mr. Clandon. Era ali que ambas
trabalhavam - ela própria e Angela. Porque Angela tinha a sua parte nas obrigações que cabem à esposa de um político em destaque. Fora uma auxiliar de primeira no
que se referia à carreira do marido. Ele vira-as muitas vezes, a mulher e Sissy, sentadas àquela mesa - Sissy à máquina de escrever, batendo as cartas que a mulher
lhe ditava. Sem dúvida que Miss Miller estava também a pensar nisso. Agora tudo o que lhe restava fazer era entregar-lhe o broche da mulher e deixá-la. Parecia,
realmente, uma prenda um tanto incongruente. Teria sido melhor deixar-lhe uma certa quantia de dinheiro, ou até a máquina de escrever. Mas o que estava escrito era
aquilo mesmo - "Para Sissy Miller, com o meu afecto." E, pegando na jóia, entregou-lha, acompanhada do pequeno discurso que tinha preparado. Sabia, disse-lhe, que
ela apreciaria aquela lembrança. A sua mulher tinha-a usado muitas vezes... Miss Miller, por sua vez, replicou-lhe, quase como se tivesse também o seu discurso preparado,
que o broche era um tesouro precioso para ela... Gilbert Clandon esperava que aquela mulher tivesse pelo menos outras roupas, com as quais o broche não ficasse tão
mal. Trazia vestido o saia-casaco preto que parecia ser um uniforme da sua profissão. Depois, Gilbert lembrou-se de que Miss Miller estava, evidentemente, de luto.
Também ela sofrera uma tragédia - um irmão, a quem fora muito dedicada, morrera apenas uma ou duas semanas antes de Angela. Um acidente também, ou não seria? Não
conseguia lembrar-se - mas lembrava-se de Angela lhe falar disso. Angela, com o seu dom de simpatia, ficara terrivelmente impressionada. Entretanto, Sissy Miller
levantara-se. Estava a pôr as luvas. Era evidente que sentia não dever tornar-se importuna. Mas ele não podia deixá-la ir-se embora assim, sem lhe dizer nada acerca
do futuro. Quais eram os planos dela? Havia alguma maneira de ele poder ajudá-la?
Ela estava de olhos fixos na mesa, onde costumava sentar-se à máquina de escrever e onde se via poisado o diário. E, perdida nas suas recordações de Angela, não
respondeu imediatamente à sugestão de auxílio que Mr. Gilbert Clandon lhe apresentara. Por um momento, pareceu não ter compreendido. Por isso, ele acabou por ter
que repetir:
"Quais são os seus planos, Miss Miller?" "Os meus planos? Oh, está tudo muito bem. Mr. Clandon", exclamou ela. "Por favor não se preocupe comigo."
Ele pensou que ela queria dizer com aquilo que não precisava de auxílio financeiro. Teria sido melhor, reflectiu ele depois, deixar uma sugestão desse género para
uma carta. Agora tudo o que podia fazer era acrescentar, ao apertar-lhe a mão, "Lembre-se, Miss Miller, se alguma vez lhe puder ser útil, terei todo o prazer..."
Em seguida, abriu a porta. Por um momento, no limiar, como se um pensamento súbito a tivesse ferido, Miss Miller deteve-se.
"Mr. Clandon", disse ela, olhando-o nos olhos pela primeira vez, e pela primeira vez ele sentia-se impressionado pela expressão, cheia de simpatia embora interrogativa,
dos olhos dela. "Se alguma vez", continuou Sissy Miller, "houver alguma coisa que eu possa fazer para o ajudar, lembre-se de que será para mim, em atenção à sua
mulher, um prazer..."
E com isto partiu. As suas palavras e o olhar que as acompanhara eram inesperados. Era quase como se ela acreditasse, ou esperasse, que ele viesse a precisar dela.
Uma ideia curiosa, talvez fantástica, ocorreu-lhe quando voltou à sua cadeira. Seria possível que, durante todos aqueles anos, enquanto ele mal dava pela existência
dela, Miss Miller alimentasse uma paixão secreta por ele, como as que nos contam os romances? Ao passar pelo espelho cruzou-se com a sua própria imagem. Tinha mais
de cinquenta anos; mas não podia deixar de reconhecer que continuava a ser ainda, conforme o espelho mostrava, um homem dotado de excelente aparência.
"Pobre Sissy Miller!", disse para consigo, meio a brincar. Como teria gostado de contar à mulher as coisas engraçadas em que estava agora a pensar! E instintivamente
olhou para o diário dela. "Gilbert", leu ele, abrindo-o ao acaso, "estava maravilhoso..." Era como se aquilo tivesse respondido às suas interrogações. Claro, parecia
ela dizer-lhe, és muito atraente para as mulheres. Claro, Sissy Miller também sente isso mesmo. Começou a ler. "Como me sinto orgulhosa de ser a mulher dele!" Também
ele se sentira sempre muito orgulhoso por ser marido dela. Quantas vezes, quando jantavam fora aqui ou ali, a olhara por cima da mesa, dizendo para consigo: ela
é a mulher mais bonita de todas as que aqui estão! Continuou a ler. Nesse primeiro ano, fora quando Gilbert se candidatara ao Parlamento. Tinham percorrido o seu
círculo eleitoral. "Quando Gilbert se sentou, os aplausos foram uma coisa tremenda. Todo o auditório se levantou e cantou: For he's ajolly goodfellow. Senti-me absolutamente
perturbada." Também ele se lembrava daquilo. Ela tinha ficado sentada no estrado, por trás dele. Ainda a podia ver, fitando-o de relance, com as lágrimas nos olhos.
E depois? Passou algumas páginas. Tinham ido a Veneza. Lembrava-se dessas férias felizes a seguir às eleições. "Comemos gelados no Florian." Sorriu - ela era ainda
como uma criança: adorava gelados. "Gilbert traçou-me um quadro muito interessante da história de Veneza. Disse-me que os Doges..." - tudo aquilo escrito com a sua
letra de rapariguinha de escola. Era uma delícia viajar com Angela por causa da sua ânsia de tudo saber. "Sou tão ignorante", costumava ela dizer, como se isso não
fosse um dos seus encantos. E agora - Gilbert abria outro volume - tinham voltado para Londres. "Queria tanto causar boa impressão. Vesti o meu vestido de casamento."
Podia ainda vê-la sentada ao lado do velho Sir Edward e conquistando por completo aquele velho formidável, seu chefe. Continuou a leitura rapidamente, revivendo
cena a cena por meio dos fragmentos que a mulher evocara. "Jantámos na Casa dos Comuns... Fomos a uma festa à noite em casa dos Lovegroves. Terei eu a noção das
minhas responsabilidades, conforme me perguntou Lady L., em virtude de ser mulher de Gilbert?" Depois, os anos tinham passado - o volume do diário era já outro,
tirado de cima da mesa de trabalho - e Gilbert fora sendo cada vez mais absorvido pelo seu trabalho. E ela, evidentemente, passou a ficar mais vezes sozinha... Aparentemente
fora para ela um grande desgosto não terem tido filhos. "Desejava tanto", leu noutra das entradas do caderno, "que Gilbert tivesse um filho." Talvez fosse um tanto
estranho que, pelo seu lado, ele nunca o tivesse lamentado muito. A vida fora tão rica, tão cheia, assim mesmo. Nesse ano, fora colocado num lugar secundário do
governo. Apenas um lugar secundário, mas o comentário dela fora: "Tenho a certeza que ele há-de chegar a Primeiro-Ministro!" Bom, se as coisas tivessem corrido de
outro modo, teria podido sê-lo. A política era um jogo, ponderou; mas o jogo ainda não acabara. Não acabava aos cinquenta anos. Passou os olhos rapidamente por outras
páginas, cheias dos pequenos pormenores, dos pormenores insignificantes, quotidianos e felizes, que formavam a vida dela.
Pegou noutro volume e abriu-o ao acaso. "Como sou cobarde! Deixei passar outra vez a ocasião! Mas podia-lhe parecer egoísmo da minha parte, ir incomodá-lo com as
minhas coisas quando ele já tem tanto em que pensar. E depois, é tão raro estarmos sozinhos os dois à noite." O que queria aquilo dizer? Oh, lá vinha a explicação
- referia-se ao trabalho dela no East End. "Ganhei coragem e falei finalmente a Gilbert. Ele foi tão compreensivo, tão bom. Não fez qualquer objecção." Também ele
se lembrava dessa conversa. A mulher dissera-lhe que se sentia muito vazia, demasiado inútil. Gostava de ter uma actividade dela, por si própria. Gostava de fazer
alguma coisa - e corara com tanta graça, lembrava-se ele, quando se sentara ali a falar-lhe daquilo, naquela mesma cadeira - para ajudar os outros. Gilbert metera-se
um pouco com ela. Não tinha já bastante que fazer tratando dele, da casa deles? Mas se isso a distraía, claro que não tinha nada a dizer contra. De que se tratava?
De uma associação? De uma organização de beneficência? Só tinha de prometer-lhe uma coisa, que não ia estragar a saúde com as novas tarefas. Assim, ela passou a
ir todas as quartas-feiras a Whitechapel. Gilbert lembrava-se de ter ódio às roupas que a mulher vestia nessas alturas. Mas ela levara aquilo muito a sério, ao que
parecia. O diário estava cheio de referências do género: "Vi Mrs. Jones... Tem dez filhos... O marido ficou sem o braço num acidente... Fiz o melhor que pude para
arranjar um trabalho para Lily." O nome de Gilbert, que continuava a leitura, aparecia agora menos vezes. O interesse dele diminuiu um pouco. Havia entradas inteiras
agora que não diziam nada a seu respeito. Por exemplo: "Tive uma discussão muito viva com B. M. acerca do socialismo." Quem era B. M.? Não conseguia completar aquelas
iniciais; alguma mulher, supôs, que Angela conhecera na sua organização. "B. M. atacou violentamente as classes mais elevadas... Depois da reunião, voltei a pé com
B. M. e tentei convencê-lo. Mas ele é tão estreito de ideias!" Então, B. M. era um homem - era com certeza um desses "intelectuais", como eles se chamam a si próprios,
tão cheios de violência e, como ela dizia, de ideias tão estreitas. Mas depois a mulher convidara-o para jantar e a visitá-la. "B. M. veio jantar. Apertou a mão
a Minnie!" Este ponto de exclamação deu um novo toque à imagem mental que dele Gilbert estava a formar entretanto. B. M., ao que parecia, não estava habituado a
encontrar criadas de fora; apertara a mão a Minnie. Provavelmente era um desses operários insípidos, que só pensam em entrar na sala de uma senhora de bem. Conhecia
o género, e não possuía qualquer simpatia por esse estilo de gente, quem quer que fosse B. M.. Lá aparecia ele de novo. "Fui com B. M. à Torre de Londres... Ele
diz que a revolução se aproxima... Disse que vivemos num Paraíso de Loucos." Era precisamente a espécie de coisas que B. M. devia dizer - Gil-bert era quase capaz
de o ouvir. Era também capaz de o imaginar com bastante precisão. Um homem atarracado, pequeno, mal escanhoado, gravata vermelha, sempre vestido de flanela, que
nunca fizera nada de útil em toda a sua vida. Com certeza que Angela teria tido o bom senso de o considerar do mesmo modo... Gilbert continuou a ler. "B. M. disse
algumas coisas muito desagradáveis acerca de..." O nome fora apagado cuidadosamente. "Disse-lhe que não queria ouvir nem mais uma palavra acerca de..." E de novo
a palavra seguinte fora riscada. Seria possível que se tratasse do próprio nome de Gilbert? Seria por isso que Angela tapava a página tão depressa quando ele entrava?
Este pensamento aumentava a sua antipatia crescente por B. M.. Aquele homem tivera a impertinência de falar a respeito dele, Gilbert, na sua própria casa? Porque
é que Angela nunca lhe dissera nada? Não era de todo em todo da maneira de ser dela esconder fosse o que fosse: sempre fora a imagem viva da lealdade. Gilbert virou
outra página, procurando novas referências a B. M.. "B. M. contou-me a história da sua infância. A mãe trabalhava a dias... Quando penso nisso, mal posso continuar
a viver em todo este luxo... Três guinéus por um chapéu!" Se ao menos a mulher tivesse discutido estes problemas com ele, Gilbert, em vez de atormentar a sua pobre
cabecita com coisas demasiado complicadas para o seu mundo mental! B. M. emprestara-lhe livros. Karl Marx, A Revolução Vai Chegar. As iniciais B. M., B. M., B. M.,
surgiam cada vez mais frequentemente. Mas porque não escrevera ela nunca o nome completo? Havia uma sugestão de inconveniência, de intimidade, no uso exclusivo destas
iniciais que não condizia de modo nenhum com a maneira de ser de Angela. Tratá-lo-ia também por B. M., quando estavam os dois frente a frente? Continuou a ler. "B.
M. apareceu inesperadamente depois do jantar. Felizmente, eu estava cá sozinha." Fora havia cerca de um ano. "Felizmente" - porquê felizmente? - "eu estava cá sozinha."
Onde teria estado ele próprio nessa noite? Verificou a data na sua agenda. Era a noite em que jantara na Mansion House. E B. M. e Angela tinham passado o serão a
sós, um com o outro! Gilbert tentava recordar-se dessa noite. Angela tinha, ou não, ficado à espera dele? A sala teria o mesmo ar que de costume? Havia copos na
mesa? As cadeiras tinham sido puxadas para mais perto uma da outra? Não conseguia lembrar-se de nada - de nada, excepto do seu discurso no jantar de Mansion House.
O conjunto da situação parecia-lhe cada vez mais inexplicável; a sua mulher que recebia a sós aquele homem desconhecido. Talvez o volume seguinte o elucidasse melhor.
Procurou precipitadamente no último caderno - o que ela tinha deixado incompleto quando morrera. Lá estava na primeira página aquele tipo maldito. "Jantei sozinha
com B. M. ... Ele estava muito agitado. Disse que já era tempo de nos explicarmos... Tentei fazê-lo ouvir-me. Mas ele não queria. Ameaçou que se eu não...", o resto
da página fora riscado. Angela escrevera "Egipto, Egipto, Egipto" por cima da página inteira. Gilbert não conseguia decifrar uma só palavra: mas havia uma única
interpretação possível: o patife pedira-lhe que se tornasse sua amante. Sós os dois naquela sala! O sangue subiu ao rosto de Gilbert Clandon. Virou as páginas rapidamente.
Que respondera ela? As iniciais desapareciam. O homem agora era "ele", simplesmente. "Ele voltou. Disse-lhe que não era capaz de tomar uma decisão... Implorei-lhe
que me deixasse." Então ele forçara-a ali mesmo em casa? Mas porque é que Angela nada lhe dissera? Como lhe fora possível hesitar sequer por um momento? O diário
continuava: "Escrevi-lhe uma carta." Depois, as páginas tinham ficado em branco. Mas adiante havia as seguintes palavras: "A minha carta continua sem resposta."
Mais algumas páginas deixadas em branco, e a seguir de novo: "Ele cumpriu a sua ameaça." Depois daquilo - que acontecera depois? - Gilbert passou uma página após
outra. Estavam todas em branco. Mas agora, exactamente no dia anterior ao da morte de Angela, havia a seguinte entrada: "Terei coragem para fazer a mesma coisa?"
Era o fim do diário.
Gilbert Clandon deixou o caderno escorregar para o chão. Podia vê-la como à sua frente. Estava de pé na borda do passeio de Piccadilly. Os olhos muito abertos, os
punhos fechados. O carro aproximava-se...
Não conseguia aguentar aquilo mais. Precisava de saber a verdade. Correu para o telefone.
"Miss Miller!" Um silêncio. Depois, o ruído de alguém que atravessava a sala do lado de lá da linha.
"Sim, sou Sissy Miller" - respondeu-lhe a voz dela por fim.
"Quem", gritou ele, "quem é B. M.?"
Ouviu ainda o relógio barato que ela devia ter em cima da chaminé do fogão de sala; depois um longo suspiro. E Miss Miller acabou por responder:
"Era o meu irmão."
Era o irmão dela: o irmão que se matara. "Haverá mais alguma coisa", ouviu-a ainda perguntar, "que eu possa esclarecer?"
"Nada!", gritou Gilbert Clandon, "Nada!"
Recebera o seu legado. Angela dissera-lhe a verdade. Descera do passeio para se juntar ao amante. Descera do passeio para lhe escapar.
RESUMO
Como lá dentro estava calor e cheio de gente, como numa noite assim não havia perigo de se apanhar humidade, como as lanternas chinesas pareciam suspender frutos
vermelhos e verdes ao fundo de uma floresta encantada, Mr. Bertram Prit-chard acompanhou Mrs. Latham ao jardim.
O ar puro e a sensação de estar cá fora despertaram Sasha Latham, aquela senhora alta, esbelta, de aparência um pouco indolente, cuja presença era de tal modo majestosa
que as pessoas nunca acreditariam que ela se sentia perfeitamente despropositada e sem jeito quando tinha que dizer alguma coisa a alguém que encontrava numa festa.
Mas era assim mesmo: e ela sentia-se satisfeita de a sua companhia de agora ser Bertram, em quem se podia confiar para, mesmo no jardim, ser capaz de falar sem interrupção.
Se se transcrevessem as coisas que ele dizia pareceriam incríveis - não só porque cada uma dessas coisas era em si própria insignificante, mas por não haver também
a mínima conexão entre as suas diferentes observações. Realmente, se uma pessoa pegasse num lápis e transcrevesse as palavras dele - e uma noite de conversa sua
encheria um livro inteiro - ninguém poderia deixar de pensar, ao ler, que o pobre homem era vítima de séria deficiência intelectual. Estava longe, porém, de ser
esse o caso, porque Mr. Pritchard era um funcionário público muito considerado e membro dos Companheiros de Bath; e, o que era ainda mais estranho, conseguia ser
quase invariavelmente agradável aos olhos de toda a gente. Havia uma tonalidade na sua voz, certa maneira enfática de pronunciar, certo brilho na incongruência das
suas ideias, certa expressão do seu desajeitado rosto moreno e redondo e do seu ar de tordo de peito vermelho, qualquer coisa de imaterial, de inlocalizável, que
florescendo e desenvolvendo-se nele, o tornava independente das suas palavras ou, muitas vezes, realmente, o perfeito oposto delas. Assim ia pensando Sasha Latham
enquanto ele tagarelava acerca de uma visita que fizera a Devonshire, acerca de tabernas e proprietárias de terras, acerca de Eddie e de Freddie, de vacas e viagens
nocturnas, de leite e de estrelas, de cami-nhos-de-ferro europeus e de Bradshaw, de como se apanha o bacalhau e de como se apanha frio, influenza, reumatismo, de
Keats - e ela pensava nele em abstracto, como uma pessoa cuja existência era boa, recriando-o, à medida que ele falava, em algo que era completamente diferente do
que ele dizia, e era esse ser, sem dúvida, o que ela recriava, o verdadeiro Bertram Pritchard, embora isso não pudesse ser demonstrado. Como poderia alguém provar
que ele era um amigo leal e cheio de simpatia e... mas neste ponto, como acontecia tantas vezes, quando se conversava com Bertram Pritchard, Sasha esqueceu-se da
existência dele e começou a pensar noutra coisa.
Era na noite que ela estava a pensar, talvez arrastando-se a si própria, enquanto o olhar se erguia em direcção ao céu. Fora o cheiro do campo que sentira de repente,
agora, a quietude sombria dos campos debaixo das estrelas, mas aqui, no jardim recuado de Mrs. Dalloway, em Westminster, o que nessa impressão de beleza mais surpreendia
alguém, nascida e criada no campo como ela, era presumivelmente um efeito de contraste: aqui um cheiro de feno no ar e ali as salas cheias de gente. Andou um pouco
com Bertram; caminhava como um veado, com leves movimentos de tornozelos, segura, grande e silenciosa, com os sentidos despertos, os ouvidos atentos, farejando o
ar da noite, como se fosse um animal selvagem, mas cheio de um equilíbrio próprio, extraindo daquelas horas tardias um prazer intenso.
Era essa, pensou ela, a maior das maravilhas; a realização máxima da espécie humana. Onde quer que houvesse um abrigo entre os salgueiros e barcos de madeira leve
numa região de lagoas, lá estava essa maravilha; e pôs-se a pensar na casa sólida, abrigada, bem construída, cheia de objectos preciosos, a formigar de gente apertada,
de pessoas que se separavam umas das outras, trocando pontos de vista, num contágio excitado. E Clarissa Dalloway abrira a sala para os ermos da noite, pusera pedras
que permitiam a passagem por cima dos pântanos, e, quando os dois chegaram ao extremo do jardim (que era, de facto, muitíssimo pequeno), sentando-se depois ela e
Bertram em cadeiras de lona, olhou para a casa cheia de veneração, entusiasticamente, como se um raio luminoso e doirado lhe atravessasse o olhar, enchendo-o de
lágrimas e fazendo-a sentir-se profundamente agradecida. Embora fosse tímida e quase incapaz, quando apresentada inesperadamente a alguém, de dizer fosse o que fosse,
tinha uma admiração imensa pelos outros. Ser o que eles eram seria maravilhoso, mas ela estava condenada a ser apenas ela própria e só podia, à sua maneira silenciosa
de entusiasmo, sentar-se cá fora num jardim, aplaudindo essa sociedade humana de que se encontrava excluída. Pedaços de poesia subiam numa prece de louvor dos seus
lábios: eram realmente adoráveis e bons os sobreviventes, e sobretudo corajosos, vencendo a noite e os pântanos, uma companhia de aventureiros que, arrostando os
perigos, continuava a sua viagem.
Por má vontade do destino ela era incapaz de ser como esses outros, mas podia estar ali sentada e dar graças enquanto Bertram tagarelava, ele que estava entre os
viajantes, como um grumete ou simples marinheiro - alguém que sobe aos mastros, assobiando alegremente. Enquanto pensava essas coisas, o ramo de uma árvore à sua
frente embebia-se e penetrava a sua admiração pelas pessoas daquela casa; derramava-se em gotas de ouro; ou permanecia erecto como uma sentinela. Fazia parte da
brilhante e animada equipagem, era o mastro de onde se desfraldava a bandeira. Havia um tonel qualquer encostado à parede, e também aquilo era uma dádiva aos seus
olhos.
De repente Bertram, que era fisicamente infatigável, teve vontade de explorar o terreno, e, saltando para cima de um pequeno alto de tijolos, espreitou por cima
do muro do jardim para o outro lado. Sasha espreitou também. Pareceu-lhe ver um balde ou talvez um sapato. Mas num segundo a ilusão se desfez. Era de novo Londres;
o vasto mundo impessoal e desatento; os motores dos autocarros; os negócios e ocupações; as luzes por cima dos estabelecimentos públicos; e os polícias que bocejavam.
Tendo satisfeito a sua curiosidade, e refeitas, por aquele momento de silêncio, as fontes gorgolejantes da sua conversa, Bertram convidou Mr. e Mrs. Qualquer Coisa
a sentarem-se junto a eles os dois, puxando duas cadeiras. Ficaram os quatro sentados, olhando para a mesma casa, para a mesma árvore, para o mesmo tonel; só que
tendo espreitado por cima do muro para dentro do balde, ou melhor tendo visto de relance Londres, do outro lado, continuando indiferentemente o seu caminho, Sasha
já não se sentia capaz de derramar por cima do mundo inteiro a sua nuvem de ouro. Bertram falava e os outros dois - nunca, durante toda a sua vida, ela seria capaz
de lembrar-se se se chamavam Wallace ou Freeman - respondiam, e todas as suas palavras depois de atravessarem uma delgada névoa de ouro, caíam de novo numa prosaica
luz de todos os dias. Sasha olhou para a sólida e segura casa construída no estilo da Rainha Ana; fez os possíveis por recordar qualquer coisa que tinha lido na
escola acerca da Ilha de Thorney e de homens em pequenos barcos, acerca de ostras, e de patos bravos e de nevoeiros, mas, mas parecia-lhe tudo um problema lógico
de carpintaria e de canais, e aquela festa não era mais que uma quantidade de gente em traje de cerimónia.
Então perguntou a si própria que perspectiva seria a verdadeira? E via à sua frente o balde de Londres e a casa meia acesa e meia apagada.
Interrogou-se também acerca da sua visão, humildemente composta, acerca da sabedoria e da força dos outros. A resposta muitas vezes chegava apenas por acidente -
mas se perguntasse alguma coisa ao seu spaniel, este responderia abanando a cauda.
Também a árvore agora, despojada do seu esplendor e grandeza, parecia suplicar-lhe uma resposta; tornara-se uma árvore do campo - a única árvore no meio de um descampado.
Vira-a muitas vezes; vira as nuvens avermelhadas entre os seus ramos, ou a lua a nascer, irradiando raios irregulares de luz prateada. Mas que responder? Bom, talvez
que a alma - porque tinha a consciência em si do movimento de alguma coisa que pulsava, fugidia, alguma coisa a que ela momentaneamente chamava alma - é por natureza
solitária, uma ave viúva; uma ave poisada e esquecida no ramo da árvore.
Mas foi então que Bertram, rodeando-a com o braço à sua maneira familiar, porque a conhecera desde sempre, observou que não estavam a cumprir a sua obrigação e que
tinham que voltar lá para dentro.
Nesse momento, nalguma rua escusa ou num estabelecimento público, a terrível voz sem sexo e inarticulada do costume irrompeu uma vez mais; um som agudo, um grito.
E a ave viúva de há pouco, estremeceu num frémito, partiu a voar, descrevendo círculos cada vez mais largos até se tornar (aquilo a que ela tinha chamado a sua alma)
distante como um corvo surpreendido lá no alto por uma pedra contra ele arremessada através dos ares.
O VESTIDO NOVO
Mabel teve a primeira suspeita de que havia alguma coisa que não estava bem quando despiu o casaco e Mrs. Barnet, enquanto segurava o espelho e pegava numa escova,
era como se lhe quisesse chamar a atenção, de forma talvez excessivamente acentuada, para os diversos apetrechos destinados a retocar o cabelo, a maquilhagem ou
os vestidos, que se viam em cima do toucador: não, havia alguma coisa que não estava bem, que não estava exactamente como devia estar, e essa impressão foi-se tornando
mais intensa, transformando-se em certeza, enquanto subia as escadas e ao cumprimentar depois Clarissa Dalloway, encaminhando-se a seguir para um recanto sombrio,
no outro extremo da sala, onde havia um espelho de parede pendurado, no qual se olhou. Não! Não estava como devia ser. E imediatamente a desgraça que andava sempre
a tentar esconder, a insatisfação profunda - a sensação que sempre tivera, desde criança, lembrava-se bem, de, ser inferior às outras pessoas - despertou dentro
de si, inexorável, impiedosa, com uma intensidade que Mabel não era capaz de dominar, como poderia, pelo contrário, ter feito se estivesse em casa e não ali, acordando,
por exemplo, a meio da noite, e valendo-se então de um pouco de leitura de Borrow ou Scott: porque - oh! - aqueles homens e - oh! - aquelas mulheres - ei-los que
à sua volta se juntavam todos a pensar: "O que é que Mabel traz vestido? Que aspecto horrível! Que vestido novo horroroso!", e as pálpebras es-tremeciam-lhe a tal
ponto que teve que ceder e fechar por um momento os olhos. Era a sua falta de à vontade de sempre, a sua cobardia, o seu sangue debilitado e aguado que a deprimia.
E de súbito o quarto onde, durante tantas horas, arranjara com a sua costureirinha o vestido que trazia, pareceu-Ihe completamente sórdido e repugnante; e a sua
sala de estar parecia-lhe agora igualmente repulsiva, e sentia-se a si própria horrível, porque, cheia de vaidade, tinha aberto o convite na mesa da sala exclamando
"Que estupidez!", só para se mostrar original, e tudo isso se lhe revelava agora mesquinho, insuportavelmente provinciano e falho de sentido. Toda a sua defesa fora
absolutamente destruída, desmascarada, feita em pedaços, quando entrava na sala de Mrs. Dalloway.
Tinha pensado, num primeiro momento, ao receber o convite para a festa, quando à tarde estava sentada com o tabuleiro do chá ainda a seu lado, que não podia aparecer
em casa de Mrs. Dalloway vestida de acordo com a última moda. Era absurdo sonhar sequer com isso - a moda significa alto corte, estilo, e pelo menos trinta guinéus
-, mas porque não mostrar-se então original? Porque não ser ela própria, de qualquer maneira? E, subindo ao andar de cima de sua casa, pegara naquele velho figurino
de outras eras que fora de sua mãe, uma colecção de modelos de Paris, do tempo do Império, e pensara que ficaria muito mais bem arranjada, muito mais dignificada
e feminina se levasse um vestido daqueles, resolvendo assim - uma loucura! - preparar um desses modelos, enfeitar-se com uma modéstia antiquada, sentindo-se encantadora
desse modo, numa orgia de vaidade, realmente merecedora de castigo. Tal era o motivo que a fizera aparecer ali arranjada de forma tão insólita.
Mas não se atrevia a olhar sequer para o espelho. Não era capaz de fazer frente a todo aquele horror - o vestido de seda, estupidamente fora de moda, amarelo pálido,
com a sua cintura subida e as suas mangas de balão, e tudo o resto, que no figurino da mãe lhe parecera tão elegante, mas que vestido por ela, no meio de todas aquelas
pessoas vulgares, não estava como devia ser, de maneira nenhuma. Sentia-se como um manequim de modista, ali especada, para ser picada com alfinetes pelos convidados
mais jovens.
"Mas, minha querida, é realmente um encanto!", disse Rosa Shaw, olhando-a de alto a baixo, com aquele breve trejeito dos lábios trocistas de que Mabel já estava
à espera - Rose que, pelo seu lado, estava vestida segundo todo o rigor da última moda, precisamente como todas as outras pessoas, como sempre se vestira.
Somos como moscas tentando andar no bordo de um pires de leite, pensou Mabel, e repetiu a frase como se estivesse doente e procurasse uma palavra que aliviasse o
seu mal-estar, tornasse suportável aquela agonia. Fragmentos de Shakespeare, linhas de livros que lera havia séculos, subitamente emergiam da sua memória agonizante,
e ela repetia-os uma e outra vez e outra ainda. "Moscas tentando arrastar-se", repetia Mabel, como se pudesse dizer aquilo até chegar ao ponto de ver as moscas,
tornando-se fria, gelada, dura e silenciosa. Agora estava já capaz de ver as moscas arrantando-se lentamente na borda de um pires de leite, com as asas a esfregarem-se
uma na outra: e esforçou-se, esforçou-se (de pé em frente do espelho, enquanto ouvia Rose Shaw) por ser capaz de ver também Rose Shaw e todas as outras pessoas à
sua volta como se fossem moscas, moscas procurando desprender-se de qualquer coisa pegajosa, ou mergulhar nessa mesma coisa - insignificantes, mirradas, moscas cheias
de afã. Mas não conseguia ver os outros assim, não era assim que os via por muito que por isso se esforçasse. Era a si própria que se via desse modo - era ela a
mosca, mas os outros eram borboletas, libélulas, esplêndidos insectos que dançavam, adejavam, pairavam, enquanto a mosca rastejava, na sua solidão, no rebordo pegajoso
do pires de leite. (Inveja e despeito, os mais detestáveis de todos os vícios, inveja e despeito eram, sem dúvida, os defeitos principais de Mabel.)
"Sinto-me uma espécie de velha mosca, decrépita, atrozmente moribunda, toda suja", disse ela, fazendo com que Robert Haydon parasse bruscamente à sua frente ao ouvir-lhe
aquilo e tentando encorajar-se com o som da sua própria pobre frase, demonstrar que era uma pessoa de espírito, cheia de desprendimento, e longe de sentir-se excluída
ou diminuída fosse em que caso fosse. E, é claro, Robert Haydon respondeu qualquer coisa bem educada, falha de sinceridade, como ela descobriu no mesmo instante,
repetindo de novo para consigo (citação de já não sabia que livro): "Mentiras, mentiras, mentiras!" Porque uma festa tornava as coisas muito mais reais, ou muito
menos reais, pensou Mabel; tinha acabado de atravessar com o olhar o fundo do coração de Robert Haydon; o seu olhar atravessava tudo de lado a lado. Sabia o que
era a verdade. Aquilo era a verdade, a sua sala de estar, o seu ser profundo - e os outros eram falsos. A sala de trabalho de Miss Milan era na realidade terrivelmente
quente, asfixiante, sórdida. Cheirava a roupas velhas e a comida ao lume; todavia, quando Miss Milan lhe pusera o espelho na mão e Mabel se olhara com o vestido
novo, finalmente pronto, uma felicidade extraordinária se derramara no seu coração. Afogada em luz, desabrochada na plenitude da existência. Livre de cuidados e
rugas, aquilo que sonhara ser encontrava-se então à sua frente - uma mulher cheia de beleza. Por um segundo apenas (não ousara olhar durante mais tempo: Miss Milan
queria que ela visse se a saia estava bem assim), teve diante dos olhos, enquadrada pela moldura de mogno do espelho, uma rapariga misteriosamente já grisalha e
a sorrir, encantadora, que era ela própria, que era a sua própria alma; e não se tratava apenas de vaidade, não se tratava apenas de amor próprio, nisso que a fazia
achar-se boa, cheia de doçura e de verdade. Miss Milan dissera-lhe que a saia não ficaria bem mais comprida; talvez pudesse até ser um bocadinho encurtada, acrescentara,
abanando a cabeça, e nesse momento, Mabel sentira-se fundamentalmente boa, transbordante de amor por Miss Milan, ligada a ela pela maior afeição de que era capaz
para com um outro ser e tendo quase vontade de se desfazer em lágrimas ao ver aquela mulher à sua frente, curvada no chão, com a boca cheia de alfinetes, o rosto
congestionado e os olhos cansados do trabalho da costura; sentiu vontade de chorar, sim, por ser possível que um ser humano fizesse tudo aquilo por causa de outro
ser humano, ao mesmo tempo que sentia também que ambas eram simplesmente seres humanos, e que todos os outros, agora, na sala de festa, à sua volta, eram igualmente
seres humanos: e Mabel via que a condição dos seres humanos era aquela: ela própria a pensar em ir a uma festa, Miss Milan a tapar com um pano todas as noites a
gaiola do canário, depois de lhe estender entre os lábios um grão de alpista; e enquanto meditava neste aspecto das criaturas, na paciência que possuem, na sua capacidade
de sofrimento, no modo como conseguem consolo por meio de pequenos prazeres tão miseráveis, tão mesquinhos e tão sórdidos, os olhos acabaram por se lhe encher realmente
de lágrimas.
Mas tudo voltara já a desaparecer. O vestido, a sala de costura, o amor, a piedade, o espelho emoldurado de mogno e a gaiola do canário - tudo se desvanecera, e
Mabel ali estava a um canto da sala, na festa de Mrs. Dalloway, entregue à sua tortura, de olhos bem abertos para a realidade.
Mas era tão vil, tão pusilânime e estúpido uma pessoa da sua idade, mãe já de dois filhos, preocupar-se tanto, sentir-se tão extremamente dependente da opinião das
outras pessoas, sem princípios nem convicções próprias suficientemente fortes, incapaz de ser também como os outros: "Shakespeare existe! Existe a morte! Não passamos
de bichos de farinha nas bolachas do capitão" - ou fosse lá o que fosse que os outros dissessem.
Olhou-se frontalmente no espelho: compôs um pouco o vestido no ombro esquerdo; entrou na outra sala como se chovessem dardos de todos os lados por cima do seu vestido
amarelo. Mas em vez de parecer altiva ou trágica, como Rose Shaw teria parecido - Rose no lugar dela havia de parecer Boadicea - tinha um ar de louca e de mulher
afectada, e sorria como uma colegial idiota, baixando os olhos ao atravessar a sala, positivamente em fuga como um rafeiro espancado, e pôs-se por fim a olhar para
um quadro, uma gravura pendurada na parede. Como se alguém pudesse estar numa festa a olhar para um quadro! Toda a gente ia perceber porque é que Mabel estava a
fazer aquilo - era porque se sentia cheia de vergonha, era porque se sentia humilhada.
"Agora a mosca caiu dentro do pires de leite", disse para consigo, "caiu mesmo no meio, e não é capaz de sair de lá, e o leite", pensou ainda, rigidamente pregada
diante do quadro, "colou-lhe as asas uma à outra".
"É tão fora de moda", disse a Charles Burt, fazendo-o parar (coisa que ele detestava que lhe fizessem) a meio do caminho que levava, direito a outra pessoa.
Mabel queria referir-se, ou esforçava-se por pensar que queria referir-se, com aquilo, ao quadro e não ao vestido. E uma palavra de elogio, uma palavra afectuosa
de Charles tê-la-iam feito mudar da noite para o dia no mesmo instante. Se ele se limitasse a dizer: "Mabel, estás encantadora esta noite!", isso teria transformado
toda a sua vida. Mas para isso, ela própria precisava de ter sido verdadeira e directa. Charles não disse nada de parecido com o que Mabel desejava: era inevitável.
Ele era a malícia em pessoa. Sempre soubera ver através dos outros, especialmente dos que se sentiam particularmente fracos, infelizes ou em baixo.
"Mabel arranjou um vestido novo!", disse ele, e a pobre mosca sentiu-se perfeitamente afogada dentro do pires de leite. A verdade é que ele quisera afogá-la de propósito,
pensou Mabel. Era um homem sem coração, sem sentimentos profundos; a sua amizade não passava de um verniz de superfície. Miss Mi-lan era muito mais real, muito mais
bondosa. Se ao menos uma pessoa fosse capaz de aceitar de vez essa verdade! "Porquê?", perguntou a si própria - respondendo a Charles depressa de mais, de tal modo
que ele se deu perfeitamente conta de que ela estava zangada, "picada" como era seu hábito dizer ("Muito picada?", inquiriu e afastou-se a rir, indo ter com uma
daquelas mulheres quaisquer que por ali andavam) - "Porquê?" - perguntou Mabel a si própria - "Porque é que não sou capaz de sentir sempre a mesma coisa, sentir
com segurança que Miss Milan tem razão, e que Charles não a tem, e assentar nisso de uma vez para sempre, sentir-me segura acerca do canário e da compaixão e do
amor e não girar de segundo em segundo mal entro numa sala cheia de gente?" Era uma vez mais o seu odioso carácter fraco e vacilante, sempre pronto a auto-acusar-se
nos momentos difíceis, o seu carácter que nunca se interessava deveras e seriamente por nada - concologia, etimologia, botânica, arqueologia, maneiras de plantar
batatas e vê-las depois crescer, como faziam Mary Dennis e Violet Searle.
Agora Mrs. Holman, vendo-a ali parada, encaminhou-se na sua direcção. Claro que reparar num vestido novo não era coisa de que Mrs. Holman fosse capaz, sempre em
cuidado com a sua numerosa família, que caía das escadas abaixo ou apanhava de súbito e colectivamente uma vaga de escarlatina. Mabel não poderia dizer-lhe se a
casa de Elmthorre estaria vaga em Agosto e Setembro? Oh, era uma sensaboria insuportável aquela conversa! Não havia nada pior para Mabel do que sen-tir-se a fazer
figura de agente imobiliário ou moço de recados. Nada disto vale nada, pensava, tentando agarrar-se a uma ideia importante, real, que não lhe ocorria enquanto ia
respondendo aplicadamente, com a sensatez de que era capaz, às perguntas da outra acerca do tamanho da casa de banho, do estado em que estava o edifício do lado
sul e da canalização da água quente para o andar superior; durante toda a conversa, não parou de ver pedaços de seda amarela a dançarem, reflectidos no espelho redondo
que estava à sua frente, e que ora pareciam botões pequenos, ora revestiam a forma de rãs. Como era estranho pensar na humilhação, na angústia, na agonia e no esforço,
nos apaixonantes altos e baixos de humor que cabiam, por exemplo, num pedaço de pano do tamanho de uma moeda de cobre!... E coisa ainda mais estranha, Mabel Waring
sentia-se completamente fora de tudo aquilo, ao mesmo tempo que era presa de sentimentos contraditórios que a dividiam, e que, por outro lado, Mrs. Holman (o botão
preto) se inclinava para ela contando-lhe que o filho mais velho tinha o coração cansado devido a correr de mais: Mabel via-se, entretanto, reflectida no espelho,
como um ponto saliente; só que ao contemplar os dois pontos não lhe era possível acreditar que o ponto preto, por muito que se debruçasse para diante e se agitasse
em gestos repetidos, conseguisse que o ponto amarelo, na sua solidão e ensi-mesmamento, sentisse fosse o que fosse, só por um momento embora, de semelhante ao que
o ponto preto sentia, por mais que as duas fingissem exactamente o contrário.
"É tão difícil fazer um rapaz estar sossegado!" disse o ponto preto.
E Mrs. Holman que achava que nunca era capaz de obter dos outros quantidade bastante de simpatia, guardava a que, apesar de tudo, conseguia arrancar da conversa,
segura do seu direito a que lha dessem (ainda que, realmente, fosse merecedora de uma dose muito maior, já que a sua filha mais nova lhe aparecera naquela manhã
com um inchaço no joelho). Mas continuava a aceitar a atenção que Mabel lhe proporcionava, com certa desconfiança e algum ressentimento, como se estivesse a receber
meio penny quando lhe era devida uma libra, mas que arrecadava apesar disso, porque os tempos estavam maus: e por fim, afastou-se, um pouco despeitada, ferida, a
pensar de novo no joelho da filha.
Mas Mabel no seu vestido de noite amarelo, não se sentia com forças para arrancar de dentro de si nem mais uma só pequena gota de simpatia: era ela quem estava a
precisar de atenções, queria-as todas para si própria. Sabia (continuando a olhar para o espelho, mergulhando naquele aterrador lago azul) que estava condenada,
sentia-se desprezada, relegada para segundo plano, por ser uma criatura tão fraca e vacilante; e parecia-lhe que o vestido amarelo era a pena a que merecera ser
condenada, e que se estivesse vestida como Rose Shaw, com um cativante vestido verde brilhante e uma pluma de cisne, seria a mesma coisa; sabia que não havia escapatória
possível para si - não, não havia. Mas, apesar de tudo, a culpa não era dela. O problema era ter nascido numa família de dez pessoas, sempre com falta de dinheiro,
sempre a poupar e a contar tudo: e a mãe transportava grandes recipientes de um lado para o outro, o linóleo estava roto nas arestas dos degraus da escada, a uma
sórdida tragédia doméstica sucedia-se outra - nada de catastrófico nunca: havia a criação de carneiros numa quinta que falhara, mas não por completo: o irmão mais
velho casara abaixo do seu meio mas não excessivamente abaixo - nada havia nunca de romanesco, nada de extremos, nunca. Veraneavam todos respeitavelmente numa praia
de recurso: e ainda agora, nalgumas dessas praias, uma ou outra das suas tias devia continuar a aparecer para fazer repouso em quartos que nunca davam de frente
para o mar. Era aquele o género de toda família - remediar-se com as coisas possíveis, e ela própria fazia como as tias, era exactamente como elas. Porque todos
os seus sonhos de viver na índia, casada com um herói como Sir Henry Law-rence, uma espécie de construtor de impérios (e ainda actualmente ver um indiano de turbante
a mergulhava numa atmosfera romanesca), todos esses sonhos tinham falhado amargamente. Casara com Hubert, com o seu emprego seguro e vitalício, mas de segundo plano,
nos Tribunais, e ambos administravam remediadamente uma casa onde se sentiam sempre algo apertados, sem criadas à altura, comendo carne picada e por vezes almoçando
ou jantando apenas pão com manteiga quando estavam os dois sozinhos. De longe em longe - Mrs. Holman afas-tara-se, achando com certeza Mabel a pessoa mais seca e
antipática que alguma vez conhecera, e ainda por cima com aquele vestido incrivelmente absurdo, coisas que não tardaria, sem dúvida, a comunicar a toda a gente que
lhe desse ouvidos - de longe em longe, pensava Mabel para consigo, esquecida num sofá azul, cujas almofadas ia arranjando para ter ar de estar ocupada, uma vez que
não se sentia nada inclinada a ir ter com Charles Burt ou com Rose Shaw que ali estavam, agora mesmo, a conversar e a rir perto do fogão, talvez troçando os dois
dela - de longe em longe, aconteciam certos instantes de maravilha na sua existência: por exemplo, estivera a ler na cama, na noite anterior, e durante as férias
da Páscoa deitara-se na praia - como gostava de se lembrar disso agora! - contemplando um grande maciço de liquens pálidos, recortados no céu semelhante a uma cúpula
de porcelana, macio e denso ao mesmo tempo, enquanto as vagas se faziam ouvir devagar, misturadas aos gritos de alegria das crianças que brincavam na areia - sim,
havia instantes divinos, em que ela se sentia descansada ao abrigo das mãos de uma divindade, e a divindade era o universo inteiro nesses instantes: uma divindade
com o coração algo duro, mas também cheia de beleza, que talvez fosse possível simbolizar por meio de um cordeiro deitado num altar (disparates que passam pela cabeça
de uma pessoa e que não chegam a ter a mínima importância, porque nunca se contam a mais ninguém). E também, de quando em quando, com Hubert havia momentos semelhantes,
no seu inesperado - ao cortar o carneiro do almoço de domingo, assim sem razão, ou ao abrir uma carta, ou ao entrar numa sala - instantes divinos em que ela dizia
para consigo (apenas para consigo, porque nunca o diria realmente a mais ninguém): "É isto. Sempre aconteceu! É isto!" E o outro lado das coisas era igualmente surpreendente
- quer dizer, quando tudo estava arranjado -, havia música, bom tempo, férias - e existiam todas as razões de felicidade à sua frente, nada acontecia afinal. Ela
não se sentia feliz. Tudo parecia vazio, apenas vazio, e era tudo.
Era aquela desgraçada maneira de ser, já não podia duvidar! Fora sempre uma mãe aborrecida, fraca, insatisfatória, uma esposa baça, deambulando ao acaso numa espécie
de existência crepuscular, nada era nunca muito claro ou forte, nunca havia coisa nenhuma que valesse mais que as outras; e ela era assim, como todos os seus irmãos
e irmãs, excepto talvez Her-bert - porque todos eles eram as mesmas criaturas com água nas veias e incapazes de fazer fosse o que fosse de sólido. Depois, no meio
desta vida rastejante e de verme, subitamente sintia-se na crista da vaga. A mosca náufraga - onde lera ela essa história que lhe lembrava a todo o momento da mosca
e do pires de leite? - ainda lutava. Sim, havia instantes diferentes. Mas agora Mabel estava com quarenta anos, e esses instantes tornavam-se cada vez mais raros.
A pouco e pouco deixaria de lutar. Tudo aquilo era deplorável! Não era possível aguentar mais! Sentia vergonha de si própria!
Havia de ir no dia seguinte à London Library. Já descobriu por lá um livro espantoso, maravilhoso, indispensável; era um livro assim, descoberto por acaso, escrito
por um pastor, por um americano talvez, de quem ninguém ouvira ainda falar; ou havia de ir pelo Strand e tropeçaria, acidentalmente, numa sala de conferências onde
um mineiro estivesse a descrever a vida nos poços das minas, e sentiria, ao ouvi-lo, que se trasformara numa pessoa diferente. Envergaria um uniforme; passaria a
ser a Irmã Fulana; nunca mais pensaria em vestidos, nunca mais. E para sempre sentiria uma certeza perfeita acerca de Charles Burt e de Miss Milan e desta sala e
da outra sala; e para sempre seria, hoje e amanhã, como se estivesse deitada ao sol ou a cortar a carne do almoço de domingo. Para sempre!
Levantou-se então do sofá azul, e o botão amarelo no espelho levantou-se também, e Mabel acenou com a mão a Charles e a Rose para lhes mostrar que em nada dependia
deles, e o botão amarelo desapareceu do espelho, e todos os dardos voltaram a atingi-la no peito enquanto se dirigia a Mrs. Dalloway e lhe dava as boas-noites.
"Mas é ainda tão cedo", disse Mrs. Dalloway, encantadora como de costume.
"Tenho mesmo que ir andando", respondeu Mabel Waring. "Mas", acrescentou na sua voz fraca e insegura, que se tornava ainda mais ridícula quando tentava erguê-la
um pouco, "gostei imenso de ter vindo."
"Gostei imenso", disse depois a Mr. Dalloway, quando o encontrou já nas escadas.
"Mentiras, mentiras, mentiras!", murmurou para consigo, finalmente, ao descer as escadas, e "mesmo no meio do pires de leite", repetiu ao agradecer a Mrs. Barnet,
que a ajudava a enfiar o casaco chinês que uma e outra, e outra, e outra vez ainda, voltara a vestir sempre que tinha que sair ao longo dos últimos vinte anos.
Virgínia Woolf: VIAJANTE SOLITÁRIA DE REGIÕES DESCONHECIDAS
Em "A Casa Assombrada" estão reunidos alguns dos mais inovadores contos originalmente escritos em inglês.
É certo que Virgínia Woolfnão é uma contista e que foi em romances como "Orlando" e "As Vagas" que sobretudo cumpriu o "insaciável desejo de escrever alguma coisa
antes de morrer". Mas é em contos como "A Marca na Parede", "Lappin e Lapinova" e "O Legado", que melhor nos revela o modo como soube captar a eva-nescente matéria
da vida, um universo feminino que os homens desfazem revelando que a marca na parede é uma lesma, recusan-do-se a recriar a vida de coelhos no ribeiro ao fundo da
floresta ou tornando-se apenas insensivelmente desatentos.
Talvez por isso tais contos permitam compreender um pouco da vida e da morte de Virgínia Woolf.
Numa manhã clara e fria de Março de 1941, Virgínia Woolf sai de sua casa em Rodmell, no vale do Ouse. Em tranquilo passo exausto caminha entre o pomar e o tanque,
em que se movimentam silenciosos peixes.
É uma saída sem regresso, esta.
Virgínia Woolf escrevera, antes, a seu marido Leonard:
"Tenho a certeza de que vou enlouquecer outra vez. Sinto-me incapaz de enfrentar de novo um desses terríveis períodos. Começo a ouvir vozes e não consigo concentrar-me
(...). Se alguém pudesse salvar-me serias tu (...). Não posso destruíra tua vida por mais tempo."
E, finalmente, uma frase inesperada, que retoma a que Terence diz a Rachel morta, em Voyage Out, seu primeiro romance.
"Não creio que dois seres pudessem ser mais felizes do que nós ofomos."
Virgínia Woolf passa junto da cabana aberta ao sol, onde habitualmente escreve. Olhada apenas pela manhã, dirige-se ao rio Ouse. Tal como os céus de Inglaterra invadidos
pela aviação nazi, o seu corpo é um campo de batalha devastado pelas emoções.
Perdidos estão os dias em que tudo era intenso e possível.
"Gosto de beber champanhe e de me excitar loucamente. Gosto de ir de carro a Rodmell numa sexta-feira de calor e comer presunto frio e ficar sentada numa esplanada
a fumar em companhia de um ou dois mochos."
Virgínia Woolf é agora assaltada pelas vozes que escrevendo procurou esconjurar. Ouve os seus mortos. O desaparecimento de sua mãe Julie, levara-a a escrever aos
13 anos que "estava perante o maior desastre que poderia acontecer". Depois foi a longa agonia de seu pai, Leslie Stephen. E a morte do irmão Thoby acompanhou-a
sempre.
Virgínia Woolf atravessa frequentes períodos depressivos. Um livro acabado, a expectativa de uma crítica desfavorável, a nostalgia dos filhos que não tem, o riso
provocado pelo seu gosto por uma pintura verde, podem transformá-la numa crisálida. Tais períodos são, em geral, criadores:
"Se pudesse ficar uns quinze dias de cama creio que poderia ver "As Ondas" integralmente.
Penso que estas doenças são, no meu caso, parcialmente místicas. Passa-se qualquer coisa no meu espírito. Ele recusa-se a continuar a registar impressões. Fecha-se
sobre si. Fico num estado de torpor, muitas vezes acompanhado de um agudo sofrimento físico. Depois, subitamente, qualquer coisa brota do meu interior."
Três vezes a depressão a levou a tentar o suicídio. Mas depois de cada crise "tinha desejo de saltar o muro e colher algumas flores".
Neste ano de 1941, em que a guerra adensa as sombras que a cercam, Virgínia Woolf parece esbarrar num muro invisível escrevendo Beetween theActs.
Mais que das outras vezes o seu corpo deve parecer-lhe "monstruoso e a boca sórdida" e os objectos com "aspectos sinistros e imprevisíveis, às vezes estranhamente belos".
O apelo das águas
A Virgínia Woolf que neste 28 de Março de 1941 caminha respondendo ao apelo das águas, já pouco tem de ave fantástica que levantava bruscamente a cabeça para captar
uma frase que a seduzia.
Tem agora quase sessenta anos, escreveu nove romances, sete volumes de ensaios, duas biografias, um diário e alguns contos.
O corpo frágil adquiriu uma elegância angulosa. No rosto oval, o tempo passou deixando as marcas do cansaço. A "boca parecia nunca ter sorrido", diz Marguerite Yourcenar
a sua tradutora francesa que meses antes a visitara. Até os olhos, de um azul quase verde, estão ausentes.
" Vogo sobre agitadas ondas e quando for ao fundo ninguém estará lá para me salvar."
Está junto ao rio. Enche os bolsos da capa com pedras e depõe a bengala e os óculos sobre a margem.
Olha as águas desfocadas que sempre fascinaram a sua imaginação e lhe inspiraram as palavras.
Em "Voyage Out" fizera Rachel desejar "ser lançada nas águas, balouçar nas ondas, ser arrastada para aqui e para ali, transportada até às raízes do mundo".
E em "As Ondas" Rhoda pensa, olhando a maré que sobe e agita os barcos: "Deixar-me ir, abandonar-me à minha dor, entregar-me completamente ao meu desejo sem cessar
recalcado, de me perder, de me consumir."
Agora todas as suas palavras, todos os fósforos que soubera riscar na escuridão, se revelavam excessivas. Bordejava de novo a loucura que recusa todas as recuperações.
A loucura que no livro Mrs. Dolloway projectara em Septimus que, como ela, amava Shakespeare, a luz e as árvores e se sentia, um "proscrito que olhava para trás,
para as terras habitadas, jazendo como um náufrago, na praia de um mundo deserto".
Virgínia Woolf mergulhou no rio. Todas as luzes do mundo se apagaram.
Era a morte desejada em Voyage Out:
"Tanto melhor. Era a morte. Não era nada. Ela tinha deixado de respirar - era tudo. A felicidade perfeita. Acabavam de obter o que sempre haviam desejado - a união
que não tinham conseguido realizar em vida. Nunca houve dois seres tão felizes como nós o fomos."
Era a morte desafiada em "As Ondas".
"A morte é o nosso inimigo. E contra a morte que eu cavalgo, espada nua e cabelos soltos ao vento como os de um jovem, como flutuavam os cabelos de Perceval galopando
nas índias."
O corpo foi durante semanas levado por essa torrente, que Virgínia Woolf "arrastava consigo como as estrelas arrastam a noite, e que a arrastou por fim, como a noite
arrasta uma estrela" (Cecília Meireles).
Cumprira, porém, o insaciável desejo de escrever alguma coisa antes de morrer.
As suas palavras subiram do vale de Ouse, voltearam sobre os campanários do Sussex, cada vez mais altas, cada vez mais longe, cada vez mais próximas.
Virgínia Woolf tivera, como Orlando, o selvagem impulso de acompanhar os pássaros até ao fim do mundo. Os pássaros abandonavam a metáforafazendo-se palavras.
Em "A Casa Assombrada" estão reunidos alguns dos mais inovadores contos originalmente escritos em inglês.
É certo que Virginia Woolf não é uma contista e que foi em romances como "Orlando" e "As Vagas" que sobretudo cumpriu o "insaciável desejo de escrever alguma coisa antes de morrer". Mas é em contos como "A Marca na Parede", "Lappin e Lapinova" e "O legado", que melhor nos revela o modo como soube captar a evanescente matéria da vida, um universo feminino que os homens desfazem revelando que a marca na parede é uma lesma, recusando-se a recriar a vida de coelhos no ribeiro ao fundo da floresta ou tornando-se apenas insensivelmente desatentos.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_CASA_ASSOMBRADA.jpg
A MARCA NA PAREDE
Foi talvez por meados de Janeiro deste ano que vi pela primeira vez, ao olhar para cima, a marca na parede. Quando queremos fixar uma data precisamos de nos lembrar
do que vimos. Assim, lembro-me de o lume estar aceso, de uma faixa de luz amarela na página do meu livro, dos três crisântemos na jarra de vidro redonda na chaminé.
Sim, tenho a certeza de que foi no Inverno, e tínhamos acabado de tomar chá, porque me recordo de estar a fumar um cigarro quando olhei para cima e vi a marca na
parede pela primeira vez. Olhei para cima através do fumo do cigarro e o meu olhar demorou-se por um momento nos carvões em brasa do fogão e veio-me à ideia a velha
fantasia da bandeira escarlate tremulando no alto da torre do castelo, e pensei na cavalgada dos cavaleiros vermelhos subindo a encosta do rochedo negro. Foi com
certo alívio que a imagem da marca na parede interrompeu esta fantasia, porque se trata de uma velha fantasia, de uma fantasia automática, vinda talvez dos meus
tempos de criança. A marca era uma pequena mancha redonda, negra contra a parede branca, a cerca de seis ou sete polegadas do rebordo da chaminé.
É surpreendente a rapidez com que os nossos pensamentos se precipitam sobre um novo objecto, o transportam por um instante, do mesmo modo que as formigas se atiram
febrilmente a um pedaço de palha, que em seguida abandonam sem mais...
Se a marca tivesse sido feita por um prego, não podia ser para prender um quadro, apenas uma miniatura - a miniatura talvez de uma senhora com os anéis do cabelo
empoados, rosto coberto de pó-de-arroz e lábios vermelhos como cravos. Uma falsificação, é evidente, porque as pessoas que foram donas desta casa antes de nós deviam
gostar de ter pinturas desse género - um quadro velho para uma sala velha. Eram pessoas assim, pessoas muito interessantes, e penso nelas muitas vezes, quando me
vejo numa situação fora do vulgar, porque nunca voltarei a vê-las, nunca saberei o que lhes aconteceu a seguir. Queriam deixar a casa porque queriam mudar de estilo
de mobília, foi o que ele disse, numa altura em que estava a explicar que a arte devia ter sempre uma ideia por trás, e era como se fôssemos de comboio e víssemos
de passagem uma senhora de idade a servir chá e o jovem que bate a sua bola de ténis no jardim das traseiras da sua vivenda nos arredores.
Mas quanto à marca, não tinha a certeza do que pudesse ser; afinal de contas, não me parecia feita por um prego; é grande de mais, redonda de mais, para isso. Posso
levantar-me, mas se me levantar para a ver melhor, aposto dez contra um que continuarei a não saber o que é; porque, uma vez feita certa coisa ninguém sabe nunca
como é que tudo o que se segue aconteceu. Oh, meu Deus, o mistério da vida - a fraqueza do pensamento! A ignorância da humanidade! Vou contar algumas das coisas
que tenho perdido, o que basta para mostrar como controlamos poucos o que possuímos - como é precária a nossa vida após todos estes séculos de civilização; dessas
coisas perdidas misteriosamente - que gato as teria levado, que rato as terá roído? -, começarei por referir, por exemplo, três caixinhas azuis para guardar ferros
de encadernar, cujo desaparecimento é a perda mais misteriosa da minha vida. Depois há as gaiolas de pássaros, as argolas de ferro, os patins, a alcofa de carvão
Queen Anne, a caixa de jogos de cartão, o realejo - tudo isto desaparecido, além de algumas jóias também. Opalas e esmeraldas, que devem estar para aí enterradas
entre as raízes de um quintal. Uma complicação como não se pode imaginar, não haja dúvida! O que é de espantar, no fim de contas, é que eu esteja ainda vestida e
rodeada de móveis sólidos neste momento. Porque se quiséssemos um termo de comparação para a vida, o melhor seria o de um metropolitano, atravessando o túnel a cinquenta
milhas à hora - e deixando-nos do outro lado sem um gancho sequer no cabelo! Cuspidos aos pés de Deus, inteiramente nus! Rolando por campos de tojo como embrulhos
de papel pardo atirados para dentro de um marco de correio! E os cabelos puxados para trás pelo vento como a cauda de um cavalo nas corridas. Sim, são coisas destas
que podem dar uma ideia da rapidez da vida, a destruição e reconstrução perpétuas: tudo tão contingente, tão apenas por acaso...
Mas a vida. A lenta derrocada dos grandes caules verdes de tal modo que a flor acaba por se virar, ao cair, inundando-nos com uma luz de púrpura e vermelho. Porque
é que, bem vistas as coisas, não nascemos ali em vez de aqui, desamparados, incapazes de ajustarmos como deve ser a luz do olhar, rastejando na erva entre as raízes,
entre os calcanhares dos Gigantes? Porque dizer o que são as árvores, e o que são homens e o que são mulheres, ou sequer o que é haver coisas como árvores, homens
e mulheres, não será algo que estejamos em condições de fazer nos próximos cinquenta anos. Não há nada por vezes senão espaços de luz e de escuridão, intersectados
por grandes hastes densas e talvez bastante mais acima manchas em forma de rosa - rosa-pálido ou azul-pálido - de cor indecisa, e tudo isso, à medida que o tempo
passa, se vai tornando mais definido e se transforma - em não se pode saber o quê.
Mas a marca na parede não é, de maneira nenhuma, um buraco. Poderá ter sido o resultado de qualquer substância escura e arredondada, uma pequena folha de rosa, por
exemplo, deixada ali pelo Verão, uma vez que não sou uma dona de casa lá muito atenta a essas coisas - basta ver o pó que há na chaminé, o pó que dizem ter soterrado
Tróia por três vezes, destruindo tudo excepto os fragmentos de vasos que chegaram até nós.
Os ramos da árvore batem suavemente na vidraça.!. O que eu quero é pensar calmamente, com sossego e espaço, sem nunca ser interrompida, sem ter que me levantar nunca
da minha cadeira, deslizar com facilidade de uma coisa para a outra, sem qualquer sensação de contrariedade, qualquer obstáculo. Quero mergulhar fundo e mais fundo,
longe da superfície, com os seus factos e coisas quebrados por distinções e limites. Para me apoiar, vou seguir a primeira ideia que passar... Shakespeare... Bom,
serve tão bem como qualquer outra coisa. Um homem solidamente sentado numa cadeira de braços, a olhar o fogo, assim - enquanto uma torrente de ideias cai sem parar
de um céu muito alto, atravessando-lhe o pensamento. Apoia a fronte na mão, e as pessoas, espreitando pela porta aberta - porque é de supor que a cena se passe numa
noite de Verão. Mas como é estúpida esta ficção histórica! Não tem interesse absolutamente nenhum. O que eu quero é poder apanhar uma sequência de pensamentos agradáveis,
uma sucessão que possa reflectir indirectamente a minha própria capacidade, porque há pensamentos agradáveis, até muitas vezes no espírito cor de rato das pessoas
que menos gostam de ser elogiadas. Não são pensamentos que nos lisonjeiam directamente; mas são eles próprios que estão cheios de beleza; pensamentos como este:
"E depois entrei na sala. Eles estavam a discutir botânica. Eu disse-lhes que vira uma flor a crescer num monte de escombros de uma velha casa caída em Kingsway.
As sementes, disse eu, devem datar do reinado de Carlos I. Que flores havia no reinado de Carlos I?" Perguntei-lhes isso - mas não me lembro da resposta. Grandes
flores cor de púrpura, talvez. E assim por diante. A todo o momento vou construindo uma imagem de mim própria, apaixonadamente furtiva, que não posso adorar directamente,
porque se o fizesse, cairia imediatamente em mim e deitaria a mão a um livro num gesto de autodefesa. É curioso, com efeito, como uma pessoa protege a sua própria
imagem de toda a idolatria ou de qualquer outro sentimento que a possa tornar ridícula ou demasiado diferente do original para ser verosímil. Ou talvez não seja
assim tão curioso, afinal de contas? É uma questão da mais alta importância. Imagine-se que o espelho se partia, a imagem desaparece e a figura romântica rodeada
pela floresta profunda e verde desfaz-se; fica apenas essa concha exterior da pessoa que os outros habitualmente vêem - que insípido, oco, inútil e pesado se tornaria
o mundo! Um mundo onde não seria possível viver. Quando no autocarro ou sobre os carris do metropolitano encaramos os outros, estamos ao mesmo tempo a olhar para
o espelho; é por isso que se torna possível vermos então como os nossos olhos são vagos, vítreos. E os romancistas do futuro darão uma importância crescente a estes
reflexos, porque não há apenas um reflexo, mas um número quase infinito deste género de refracções; aí estão as profundidades que os romancistas do futuro terão
que explorar; esses os fantasmas que terão de perseguir, deixando cada vez mais de lado as descrições da realidade, pressupondo-a já suficientemente conhecida pelo
leitor, como fizeram também os Gregos e Shakespeare, talvez - mas estas generalizações começam a parecer-me inúteis. As ressonâncias militares da palavra "generalização"
são evidentes. Lembra-nos uma série de dispositivos destinados a conduzir as pessoas, gabinetes de ministros - toda uma quantidade de coisas que em crianças pensámos
serem as mais importantes, os modelos de tudo o que existe, e de que não poderíamos afastar-nos sem incorrermos no risco da condenação eterna. As generalizações
evocam os domingos em Londres, passeios de domingo, almoços de domingo, e também certas maneiras habituais de falar dos mortos, das roupas, das tradições - como
essa de nos sentarmos juntos à roda, na sala, até à hora do costume, embora ninguém goste de ali estar. Houve sempre uma regra para todas as coisas. A regra para
as toalhas de pôr em cima dos móveis, em certa época era que fossem de tapeçaria, com orlas amarelas em cima, como vemos nas fotografias das passadeiras dos corredores
dos palácios reais. Os panos de mesa diferentes não eram verdadeiros panos de mesa. Como era chocante e ao mesmo tempo maravilhoso descobrir que todas essas coisas
reais, almoços de do mingo, passeios de domingo, casas de campo e panos de mesa não eram inteiramente reais afinal e que a condenação que feria o descrente na sua
realidade era apenas uma sensação de liberdade ilegítima. O que é que ocupa hoje o lugar dessas coisas, pergunto-me, dessas coisas realmente modelares? Os homens
talvez, se se for uma mulher; o ponto de vista masculino que governa as nossas vidas, que fixa as regras de comportamento, estabelece a Mesa da Precedência segundo
o Whitaker, e que se tornou, parece-me, desde a guerra, apenas uma velha metade de fantasma para grande número de homens e mulheres, metade que, em breve, espero,
será posta no caixote do lixo, que é o fim dos fantasmas, dos armários de mogno e das publicações Landseer, dos Deuses e Demónios e o mais que se sabe, deixan-do-nos
por fim uma impressão tóxica de liberdade ilícita - se é que tal coisa existe, a liberdade...
Olhada de certo ângulo, a marca na parede parece tornar-se uma saliência. Também não é perfeitamente circular. Não posso ter a certeza, mas parece projectar uma
sombra, sugerindo que se eu percorresse a parede com o dedo, este subiria e desceria, num dado ponto, um pequeno túmulo, como essas elevações dos South Downs que
não sabemos se são tumbas ou acidentes do terreno. A minha preferência vai para os túmulos, são eles a minha alternativa, porque gosto da melancolia como a maioria
dos ingleses, e acho natural evocar no fim de um passeio os ossos enterrados por baixo da vegetação rasteira... Deve existir algum livro a esse respeito. Algum arqueólogo
deve já ter desenterrado os ossos e ter-lhes-á também posto nome... Que género de homem serão esses arqueólogos, pergunto-me. Coronéis aposentados, na sua maioria,
tenho a certeza, conduzindo lavradores idosos, examinando punhados de terra e algumas pedras e trocando correspondência com os padres da vizinhança, cujas cartas
de resposta, abertas ao pequeno-almoço, fazem os coronéis reformados sentir-se importantes, além de que as pesquisas têm ainda a vantagem de exigirem deslocações
pelo condado até à cidade local, necessidade tão agradável para eles como para as suas esposas envelhecidas, que gostam de fazer doce de ameixa ou tencionam limpar
o escritório e que por isso alimentam a incerteza acerca da alternativa entre campas e acidentes de terreno que faz sair os seus maridos, enquanto estes se sentem
cheios de um prazer filosófico à medida que acumulam provas nos dois sentidos do debate. É verdade que o coronel acaba por se inclinar para a hipótese dos acidentes
de terreno: e ao deparar com alguma oposição, edita um folheto que será lido numa sessão da assembleia local, altura em que uma apoplexia o deita por terra, e os
seus últimos pensamentos conscientes não são para a mulher ou para os filhos, mas para o campo que estava a ser discutido e para a ponta de flecha que lá se encontrou
e que aparece em seguida no museu da cidade, juntamente com o sapato de uma assassina chinesa, um punhado de pregos isabelinos, uma profusão de cachimbos de porcelana
Tudor, um vaso de cerâmica romana e o copo por onde Nelson bebeu - tudo isto provando que nunca será realmente possível saber que histórias.
Não, não, nada se encontra provado, nada se sabe. E se eu me levantasse neste preciso momento e me certificasse de que a marca na parede é realmente - o quê, por
exemplo? - a cabeça de um gigantesco prego, ali colocado há duzentos anos e que, graças à erosão pacientemente provocada por várias gerações de criadas, deita de
fora a cabeça, rompendo a camada de pintura da parede e observando as primeiras imagens da vida moderna nesta sala branca e com um fogão aceso, que ganharia com
isso? - Conhecimento? Tema para posteriores especulações? Posso pensar tão bem continuando sentada como se me levantasse. E o que é o conhecimento? O que são os
nossos homens instruídos senão os descendentes das feiticeiras e eremitas das grutas e florestas, que apanhavam plantas, interrogavam o voo do morcego e transcreviam
a linguagem das estrelas? E quanto menos os honrarmos, quanto menos crédito lhes der a nossa superstição, mais o nosso respeito pela saúde e pela beleza hão-de crescer...
Sim, é-nos possível imaginar um mundo muito mais agradável. Um mundo tranquilo, espaçoso, com um sem fim de flores vermelhas e azuis nos campos sem muros. Um mundo
sem professores nem especialistas nem donas de casa com perfil de polícias, um mundo por onde se poderá deslizar na companhia dos próprios pensamentos, tal como
um peixe desliza na água que passa, tocando de leve o manto de nenúfares da superfície, enquanto os ninhos entre as ramagens da vegetação que cobre as águas guardam
os seus ovos de pássaros aquáticos... Como se está em paz aqui, ao abrigo, no centro do mundo e olhando para cima através das águas cinzentas, com os seus lampejos
súbitos de luz e os seus reflexos - se não fosse o Whitaker's Almanack - se não fosse a Mesa da Presidência!
Preciso de me levantar daqui e de me inteirar do que será realmente aquela marca na parede - um prego, uma folha de roseira, uma racha na madeira?
Lá está a natureza, uma vez mais, no seu velho jogo de autodefesa. Esta corrente de pensamento, ela deu por isso já, é ameaçadora para mim, arrasta-me para um gasto
inútil de energia, talvez mesmo para algum choque com o mundo real, como é de esperar que aconteça a quem se mostra capaz de levantar um dedo contra a Mesa da Presidência
de Whitaker. O Arcebispo de Cantuária traz atrás de si o Lorde Chanceler; o Lorde Chanceler é seguido pelo Arcebispo de York. Toda a gente vem a seguir a alguém,
eis a filosofia de Whitaker: e é uma grande coisa saber-se quem segue quem. Whitaker sabe e deixemos, como a natureza recomenda, que isso nos conforte, em vez de
nos enfurecer: e se não pudermos ser confortados, se temos que estragar esta hora de harmonia, pensemos então na marca na parede.
Compreendi o jogo da Natureza - a sua rápida exigência de actividade que ponha fim a qualquer pensamento que ameace de excitação ou de dor. Daí, suponho eu, a nossa
pouca estima pelos homens de acção - homens que, de acordo com as nossas ideias, não pensam. No entanto, não há mal em uma pessoa deter decididamente os seus pensamentos
desagradáveis contemplando uma marca na parede.
Na verdade, agora que nela fixei melhor os olhos, tenho a impressão de ter lançado uma tábua ao mar: experimento uma agradável sensação de realidade, relegando imediatamente
os dois arcebispos e o lorde chanceler para o mundo das sombras. Eis uma coisa definida, uma coisa real. Do mesmo modo, ao acordarmos de um pesadelo à meia-noite,
apressamo-nos a acender a luz e ficamos descansados na cama, dando graças à cómoda, dando graças aos objectos sólidos em volta, dando graças à realidade, ao mundo
impessoal que nos rodeia e é uma prova de que algo mais existe para além de nós próprios. É isso que então precisamos de saber... A madeira é uma bela coisa para
se pensar nela. Vem de uma árvore: e as árvores crescem, e nós não sabemos porque é que elas crescem. Crescem durante anos e anos, sem nos prestarem atenção, crescem
nas colinas, nas florestas e à beira dos rios - tudo coisas em que é bom pensar. As vacas sacodem a cauda debaixo delas nas tardes quentes de Verão; e as suas folhas
tornam os ribeiros tão verdes que se uma galinhola aparece agora, quase esperamos que as suas penas se tenham tornado verdes também. Gosto de pensar no peixe que
balouça contra a corrente como as bandeiras tremulam ao vento; e nos insectos de água que abrem lentamente os seus túneis no fundo do regato. Gosto de pensar na
própria árvore: primeiro na sensação abrigada e seca de ser madeira: depois na agitação das tempestades; depois no lento e delicioso escorrer interior da seiva.
Gosto de imaginar também as noites de Inverno, ser então uma árvore de pé no campo raso cheio à volta de folhas desfeitas e caídas, sem nada em mim de vulnerável
que receie expor-se aos raios de aço da lua, um mastro nu cravado na terra que treme e treme durante a noite inteira. O canto dos pássaros deve parecer muito cheio
de força e estranho pelo mês de Junho; e os pés dos insectos devem sentir-se frios enquanto sobem penosamente pela casca rugosa e encontram as folhas verdes que
rebentam e as olham com os seus olhos vermelhos marchetados como diamantes... Uma a uma as fibras despertam sob a imensa pressão fria da terra, e depois chega a
última tempestade do ano e os ramos mais altos caem de novo no chão em redor. Mas a vida não se vai por tão pouco e há milhões de vidas pacientes por cada árvore,
espalhadas por todo o mundo, em quartos de dormir, em navios, nas ruas, salas onde homens e mulheres se sentam depois do chá e fumam os seus cigarros. Está cheia
de pensamentos pacíficos, de pensamentos felizes, esta árvore. Gostava de pegar agora em cada um deles separadamente - mas alguma coisa vem atravessar-se no caminho...
Onde ia eu? Era acerca de quê, tudo isto? Uma árvore? Um rio? As colinas? O Whitaker's Almanack? Os campos asfódelos? Não sou capaz de me lembrar de coisa nenhuma.
Tudo se move, cai, desliza e se esvai... As ideias sublevam-se com força e fogem. Alguém aparece de pé ao meu lado e diz:
"Vou sair para comprar o jornal."
"Sim?"
"Apesar de não valer a pena comprar os jornais... Não há nada de novo. A culpa é da guerra; maldita seja esta guerra!... E ainda por cima, aquela lesma na parede,
que não fazia cá falta nenhuma."
Ah! A marca na parede! Era uma lesma...
A CASA ASSOMBRADA
Fosse qual fosse a hora a que acordássemos, havia sempre uma porta que batia. De sala em sala ou de quarto em quarto, um par de fantasmas de mão dada ia mexendo
aqui, abrindo ali, fazendo isto ou aquilo.
"Foi aqui que o deixámos", dizia ele. E ela acrescentava: "Oh, ali também!" "É em cima", murmurava ela. "E no jardim", sussurrava ele. "Cuidado, devagar", diziam
ambos, "ou vamos acordá-los".
Mas não era isso que nos acordava. Oh, não! "Lá andam à procura; estão a levantar as cortinas", dizíamos, por exemplo, e continuávamos a leitura por mais uma ou
duas páginas. "Agora acharam", podíamos ter por fim a certeza, detendo o lápis na margem do livro. E depois, uma pessoa, já cansada de ler, podia pôr-se a procurar
por sua própria vez, levantando-se e andando pela casa vazia, com as portas deixadas abertas, e ouvindo apenas arrulhar os pombos no bosque ou a máquina de debulhar
ao longe na quinta. "O que é que eu estou aqui a fazer? Afinal andava à procura de quê?" As minhas mãos estão vazias. "Talvez seja então lá em cima?" As maçãs estão
no sótão. Já estou cá em baixo outra vez, o jardim continua tranquilo, apenas o livro escorregou e caiu na relva.
Mas eles acharam qualquer coisa na sala. Não que nos seja possível ver. Os vidros da janela reflectem maçãs, reflectem rosas; as folhas caídas na relva continuam
verdes. Quando eles se mexeram na sala, as maçãs viravam para nós apenas a sua parte amarela. No entanto, um momento depois, quando a porta da sala ficou aberta,
havia espalhada no chão, pendurada no tecto, qualquer coisa - o quê? As minhas mãos estavam vazias. Então a sombra de um pássaro cruzou o tapete; dos poços mais
profundos do silêncio, o pombo bravo soltou o seu arrulho. "Salvos, salvos, salvos", pulsa devagar o coração da casa. "O tesouro enterrado; a sala...", o pulsar
interrompeu-se de repente. Oh! Era então o tesouro enterrado?
Um instante mais tarde a luz pareceu embaciada. Talvez no jardim? Mas as árvores conservavam a sua escuridão frente a um raio luminoso que o sol lhes dirigia. Mas
bela, rara, friamente indiferente para além da superfície, a luz que eu procurava continuava a arder do outro lado da vidraça. A morte era o vidro; a morte estava
entre nós; vinha da mulher que pela primeira vez, centenas de anos antes, deixara para sempre aquela casa, calafetando as janelas; as salas estavam mergulhadas no
escuro. Ele fora-se embora, deixara-a; foi para o Norte, foi para o Leste, viu as estrelas do cruzeiro do Sul; depois, voltou em busca da casa e descobriu-a, mergulhada
ao fundo, por trás das colinas. "Salvos, salvos, salvos", começou a pulsar de novo alegremente o coração da casa. "O Tesouro pertence-te."
O vento assobia na álea maior do jardim. As árvores agitam-se de um lado para o outro. Os raios do luar rebentam e espalham-se desordenadamente na chuva. Mas a luz
da lâmpada desce a direito da janela. A candeia arde bem e tranquila. Vagueando pela casa, abrindo as janelas, segredando para não nos acordar, o par de fantasmas
procura a sua alegria.
"Dormimos aqui", diz ela. E ele acrescenta: "Beijos sem conto." "O acordar de manhã" - "Prata entre as árvores" - "Lá em cima" - "No jardim" - "Quando o Verão chegou"
- "Quando neva no Inverno"... As portas fecham-se num rumor à distância, batendo devagar como as pulsações de um coração.
E eles aproximam-se; param à porta. O vento cai, a chuva desliza, de prata, pela janela. Faz escuro nos nossos olhos; já não ouvimos outros passos para além dos
nossos; não vemos nenhum casaco de senhora a desdobrar-se. As mãos dele tapam o clarão da lâmpada. "Olha", murmura ele. "Sono sossegado. O amor nos lábios deles."
Inclinados, o candeeiro seguro por cima de nós, olham-nos profunda e longamente. Demoram-se imóveis. O vento ergue-se de leve; a chama inclina-se um pouco mais.
Raios de luar bravios atravessam o chão e as paredes e iluminam, ao encontrarem-nos, os rostos debruçados; os rostos que velam; os rostos que observam os adormecidos
e espreitam a sua alegria oculta.
"Salvos, salvos, salvos", o coração da casa pulsa cheio de orgulho. "Há tantos anos" - suspira ele. "Encontraste-me outra vez." "Aqui", murmura ela "a dormir; no
jardim a ler; a rir; a guardar maçãs no sótão. Aqui deixámos o nosso tesouro." - Inclina-se de novo; a leve claridade toca a pálpebra dos meus olhos. "Salvos, salvos,
salvos", pulsa vibrante agora o coração da casa. Ao acordar, exclamo: "Oh, é isto o vosso tesouro escondido? A luz no coração."
SEGUNDA OU TERÇA-FEIRA
Indiferente e ociosa, batendo sem esforço o espaço com as asas, segura do seu caminho, a garça passa por cima da igreja, atravessando o céu. Branco e distante, absorto
em si próprio, o céu abre-se e fecha-se sem fim, passa e fica sem fim. Um lago? As suas praias perdem os contornos. Uma montanha? Oh, como é perfeito o doirado do
sol nas suas encostas! Colunas que descem: depois a folhagem dos fetos, ou das plumas brancas, para sempre e sempre.
Deseja-se a verdade, fica-se à sua espera, enquanto se destilam laboriosamente algumas palavras - (um grito à esquerda, outro grito à direita. Rodas de engrenagem
divergentes. Uma concentração de autocarros em sentidos opostos) - porque se deseja sempre - (o relógio afiança com doze badaladas extremamente precisas que é meio-dia;
a luz desdobra-se numa escala de ouro: aparece um enxame de crianças) -, deseja-se para sempre a verdade. A cúpula é vermelha; há moedas suspensas nos ramos das
árvores: o fumo sai das chaminés; um grito rasgado e estridente de "Ferro para vender!" - e a verdade?
Há um ponto algures de onde irradiam passos de homem e passos de mulher, a negro ou a doirado - (Este tempo de neblina - Açúcar? - Não, obrigado - A comunidade do
futuro) -, o clarão do fogo a irromper, tornando vermelha a sala, as figuras negras e os seus olhos iluminados, enquanto lá fora está o furgão a fazer a descarga,
Miss Qualquer Coisa toma o seu chá à mesa de leitura e as muralhas de vidro protegem os casacos de peles.
Coisas que se mostram, pétalas de luz, flutuando nas esquinas, soprando entre as rodas, uma aspersão de prata, dentro ou fora de casa, coisas recolhidas ou que se
desdobram, dispersas por múltiplas dimensões, arrastando-se em cima, por baixo, rasgando-se, escoando-se e reunindo-se de novo - sim, mas a verdade?
Agora é a vez da recordação entreaberta à luz do fogo aceso no quadro de mármore branco. Das profundidades de marfim as palavras sobem e espalham a sua negra obscuridade,
florescem e penetram. O livro está caído; há as chamas, o fumo, as centelhas de um momento - depois, o início da viagem, com o relógio por cima da moldura de mármore,
os minaretes por baixo da torre do relógio e os mares do Oriente, enquanto o espaço é uma precipitação de azul e as estrelas esplendem - verdade? - ou tudo se recolhe
agora, fechando-se em redor.
Indiferente e ociosa, a garça regressa; o céu encobre e depois desnuda as suas estrelas.
LAPPIN E LAPINOVA
Tinham casado. Rebentara no ar a marcha nupcial. Os pombos esvoaçavam. Alguns rapazes com o uniforme de Eton atiraram-lhes arroz; um fox-terrier corria de um lado
para o outro; e Ernest Thorburn conduziu a sua noiva até ao carro através da pequena multidão curiosa de pessoas completamente desconhecidas que se junta sempre
nas ruas de Londres para desfrutar da felicidade ou da desgraça dos outros. Sem dúvida, tratava-se de um noivo elegante, e ela tinha um ar intimidado. O arroz foi
atirado uma vez mais e o carro partiu.
Fora na terça-feira. Era agora sábado. Rosalind precisava ainda de se habituar ao facto de ser agora Mrs. Ernest Thorburn. Talvez nunca lhe fosse possível, porém,
habituar-se ao facto de ser Mrs. Ernest Qualquer Coisa, pensou ela, enquanto se sentava junto da janela larga do hotel, contemplando o lago e as montanhas, e esperava
que o marido descesse para o pequeno-almoço. Era difícil uma pessoa habituar-se ao nome de Ernest. Não era de maneira nenhuma o nome que ela teria escolhido. Teria
preferido Timothy, Antony, ou Peter. O nome dele evocava coisas como o Albert Memorial, armários de mogno, gravuras metálicas do Príncipe Consorte em família - ou,
em suma, a sala de jantar da sogra em Porchester Terrace.
Mas ali estava ele. Graças a Deus não tinha cara de Ernest - nada mesmo. Mas teria ar de quê? Relanceou-o obliquamente por várias vezes. Bom, enquanto estava a comer
aquela torrada parecia um coelho. Não que qualquer outra pessoa fosse capaz de descobrir a mínima semelhança com um animal tão pequeno e tímido naquele jovem aprumado
e com bons músculos, nariz direito, olhos azuis, boca de traço firme. Mas era ainda mais engraçado por causa disso. O nariz dele franziu-se levemente ao trincar
a torrada. Era assim que o coelho de estimação dela também costumava fazer noutro tempo. Ficou a olhar aquele nariz que se franzia; e depois teve de explicar, quando
ele a surpreendeu a observá-lo, porque é que estava a rir.
"É que tu és como um coelho, Ernest", disse ela. "Como um coelho bravo", acrescentou, olhando-o de novo. "Um coelho de caça; um Rei Coelho; um coelho que faz a lei
dos outros coelhos."
Ernest não tinha qualquer objecção a ser um coelho de tal espécie, e como a divertia vê-lo franzir o nariz - embora ele nunca tivesse dado por que fazia semelhante
coisa -, franziu-o de propósito. Ela riu uma e outra vez e ele ria também, de tal modo que as duas senhoras solteironas e o pescador e o criado suíço com o seu lustroso
casaco preto, todos eles adivinharam certo; ele e ela eram muito felizes. Mas quanto tempo dura uma felicidade assim? - perguntaram-se as pessoas para consigo; e
cada uma delas respondeu de acordo com o que as suas experiências lhe lembravam.
À hora do almoço, sentados junto de uma moita de urze perto do lago: "Alface, coelho?" perguntou Rosalind, pegando numa folha de alface que acompanhava os ovos cozidos.
"Vem cá, comer à minha mão", acrescentou ela, e ele mordiscou e provou a alface, franzindo o nariz.
"Coelho bonito, coelho bom", disse ela, acariciando-o, como costumava acariciar outrora o seu coelho de estimação. Mas ele não era, apesar de tudo, um coelho; não
era um coelho. Então traduziu a palavra para francês. "Lapin", chamou-o. Mas ele era integralmente inglês - nascido em Porchester Terrace, educado em Rugby; agora
advogado dos Serviços Civis de Sua Majestade. Tentou, por isso, a seguir, chamar-lhe "Bunny"; mas era ainda pior. "Bunny" era uma coisa gorducha e macia e cómica;
ele era magro e decidido e sério. No entanto, franzia também o nariz. "Lappin", exclamou ela de súbito; e soltou um gritinho como se tivesse encontrado a palavra
exacta que desejava.
"Lappin, Lappin, Rei Lappin", repetiu ela. Parecia assentar-lhe na perfeição; o nome dele não era Ernest, era Rei Lappin. Porquê? Isso não sabia.
Quando não tinham nada de novo de que falarem ao longo dos seus grandes passeios solitários - e ainda por cima chovia, como toda a gente previra que ia acontecer:
ou quando estavam sentados junto ao lume à noite, porque estava frio, e as senhoras solteironas e o pescador se tinham ido embora, e o criado só viria se tocassem
a chamá-lo, ela deixava a sua fantasia ir criando a história da tribo Lappin. Nas suas mãos - enquanto cosia e ele lia - esta tribo tornava-se intensamente real,
intensamente viva, e cheia de graça também. Ernest poisou o livro e começou a ajudá-la. Havia coelhos negros e coelhos vermelhos; havia coelhos inimigos e coelhos
amigos. Havia o bosque onde viviam e os prados em volta e a charneca. Acima de todos en-contrava-se o Rei Lappin, que, muito longe de possuir apenas aquela arte
natural - de torcer o nariz -, se tornava à medida que o tempo ia correndo, um animal de nobilíssimo carácter; Rosalind estava sempre a descobrir-lhe novas qualidades.
Mas era, acima de tudo, um grande caçador.
"E como", disse Rosalind no último dia da lua-de-mel, "passou o Rei o seu dia?"
Na realidade, tinham andado a passear todo o dia; e ela ficara com uma bolha no calcanhar; mas não se importava com isso.
"Hoje", disse Ernest, franzindo o nariz, enquanto cortava a ponta do charuto, "o Rei caçou uma lebre". Interrompeu-se; riscou um fósforo, e voltou a franzir o nariz.
"Uma mulher lebre", acrescentou.
"Uma lebre branca!", exclamou Rosalind, como se fosse daquilo que estava à espera. "Uma lebre pequena; acinzentada de prata; com os olhos brilhantes?"
"Sim", disse Ernest, olhando-a como ela o olhava, "um animal minúsculo; com os olhos a saltarem-lhe do focinho e duas lindas patinhas da frente." Era exactamente
assim que ela estava sentada, com a costura segura nas mãos, e com os olhos que de tão grandes e brilhantes acabavam por ficar um pouco salientes no seu rosto.
"Ah, Lapinova", murmurou Rosalind.
"É assim que ela se chama?" perguntou Ernest - "a autêntica Rosalind?" E olhou para ela. Sentia-se intensamente apaixonado por ela.
"Sim; é assim que se chama", disse Rosalind. "Lapinova". E antes de irem para a cama nessa noite, ficou tudo assente. Ele era o Rei Lappin; ela era a Rainha Lapinova.
Eram o posto um do outro; ele era corajoso e determinado; ela, hesitante e insegura. Ele governava o mundo atarefado dos coelhos; o mundo dela era um lugar misterioso
e desolado, por onde ela vagueava sobretudo durante as noites de luar. De qualquer modo, os seus territórios acabavam por se encontrar; eram Rei e Rainha.
Assim, quando voltaram da lua-de-mel, viram-se na posse de um mundo privado habitado apenas, exceptuada a lebre branca, por coelhos. Ninguém suspeitava da existência
de semelhante lugar, e isso, é claro que o tornava ainda mais divertido. Aquilo fazia-os sentirem-se, mais ainda que a maioria dos casais recentes, coligados contra
o resto do mundo. Muitas vezes lhes acontecia fitarem-se de soslaio um ao outro quando as outras pessoas estavam a falar de coelhos e de bosques, de armadilhas e
tiros. Ou faziam sinal por cima da mesa quando a tia Mary dizia que nunca fora capaz de olhar para uma lebre na travessa - parecia mesmo um bebé: ou quando John,
o irmão desportista de Ernest, lhes falava do preço que os coelhos tinham atingido, nesse Outono, em Wiltshire, e como estavam as peles, e assim por diante... Por
vezes, quando queriam um ajudante de caça, um caçador furtivo ou um Senhor da Mansão, divertiam-se distribuindo esses papéis por este ou aquele dos seus amigos.
A mãe de Ernest, Mrs. Reginald Thorburn, por exemplo, desempenhava na perfeição o papel de Squire. Mas tudo isto era secreto - era esse o ponto essencial; ninguém,
para além deles, sabia da existência daquele mundo.
Sem esse mundo, perguntava Rosalind a si própria, como lhe teria sido possível viver durante aquele Inverno? Por exemplo, tinha havido o jantar das bodas de ouro,
e todos os Thor-burns se reuniram em Porchester Terrace para celebrar o quinquagésimo aniversário dessa união tão cheia de bênçãos - não produziram Ernest Thorburn?
- e tão fecunda - ou não era verdade também que produzira outros nove filhos e filhas, muitos deles já casados e também fecundos? Rosalind estava apavorada com a
festa. Mas era inevitável. Enquanto subia as escadas sentiu amargamente o facto de ser filha única e, ainda por cima, órfã; uma simples gota de água no meio de todos
aqueles Thorburn reunidos na grande sala com papel de parede acetinado e esplendorosos retratos de família. Os Thorburn vivos pare-ciam-se muito com os pintados
naqueles retratos, só que em vez de lábios de tinta e tela tinha lábios verdadeiros, dos quais saíam gracejos, histórias divertidas acerca de salas de aula e de
cadeiras puxadas por trás à governanta quando esta, uma vez, se ia sentar e também acerca de rãs metidas entre os lençóis virginais de velhas solteironas. Mas Rosalind
não se lembrava de ter sabido alguma vez o que fossem brincadeiras semelhantes. Com a sua prenda na mão, avançou em direcção à sogra, sumptuosamente coberta de seda
amarela, e em direcção ao sogro, enfeitado com um cravo amarelo vivo na lapela. A toda a volta por cima das cadeiras e das mesas, havia uma profusão de tributos
doirados, alguns colocados em ninhos de algodão; outros erguendo-se resplandecentes - candelabros, caixas de charutos, cadeiras metálicas; tudo marcado com o contraste
do artista, a comprovar que se tratava de ouro autêntico. Mas o presente dela era apenas uma caixinha com orifícios na tampa; uma caixa de areia para a tinta, uma
relíquia do século XVIII. Um presente bastante extravagante, pressentia-o ela, na época do mata-borrão, enquanto via de novo à sua frente a pesada secretária negra
a que estava sentada a sogra no dia em que tinha ficado noiva de Ernest, e a sogra dissera-lhe: "O meu filho há-de fazê-la feliz." Não, ela não era feliz. De maneira
nenhuma era feliz. Olhou para Ernest, muito aprumado e sólido, com um nariz igual a todos os narizes daquela família nos retratos; um nariz que parecia nunca ter
franzido.
Foram para a mesa. Rosalind estava meio escondida atrás dos crisântemos, cujas grandes pétalas vermelhas e doiradas se abriam em bola. Tudo era doirado. Uma ementa
marginada a ouro referia os pratos, com os nomes escritos com iniciais doiradas, que iam ser servidos. Rosalind mergulhou a colher num recipiente cheio de um líquido
doirado e claro. O nevoeiro alvacento lá de fora transformado, graças à iluminação, numa fosforescência doirada que esbatia os contornos das travessas e dava aos
ananases uma pele de ouro áspero. Só ela no seu vestido de noivado branco, com os olhos salientes abertos e observando, parecia ali, no meio de tanto ouro, um pingente
de gelo insolúvel.
À medida que o jantar avançava, contudo, a sala ia ficando cada vez mais quente. Gotas de suor salpicavam as testas dos homens. Rosalind sentia que o seu gelo estava
a liquefazer-se. Sentia que estava a ser derretida; dispersa; dissolvida no nada; em breve ia desmaiar. Depois, através do nevoeiro do seu cérebro e da zoada que
lhe afligia os ouvidos, ouviu uma voz de mulher exclamar: "Mas eles multiplicam-se tanto!"
Os Thorburn - sim; multiplicavam-se tanto, ecoou ela, olhando à volta da mesa os rostos avermelhados que lhe pareciam duplicar-se na atmosfera doirada que os envolvia
e na tontura que dela se apoderara. "Multiplicam-se tanto." Então, John bradou:
"São uns diabos pequenos!... Só a tiro! Só pisando-os com botas cardadas! É a única maneira de lidar com eles... os coelhos!"
Com esta palavra, a palavra mágica, Rosalind sentiu-se reviver. Espreitando por entre os crisântemos, viu o nariz de Ernest a franzir-se. O rosto enrugou-se-lhe
e ele franziu-o várias vezes seguidas. E então uma catástrofe misteriosa transformou os Thorburn. A mesa doirada tornou-se uma charneca de giesta em flor; o ruído
das vozes, no assobiar feliz de um melro que descia do céu. Era um céu azul - as nuvens passavam lentamente. E ei-los, todos os Thorburn, transformados. Rosalind
olhou para o sogro, um homenzinho pequeno de bigode caído. O seu passatempo era coleccionar coisas várias - selos, caixas de esmalte, pequenos objectos de enfeitar
mesas do século XVIII, que escondia nas gavetas do escritório da vigilância da. mulher. Agora ele parecia-lhe um caçador furtivo, escapando-se com a sua bolsa recheada
de faisões e perdizes que iria cozinhar na panela da sua casa escondida nos campos e cheia de fumo. Era isso o que o sogro realmente era - um caçador furtivo. E
Célia, a filha por casar, que estava sempre a meter o nariz nos segredos das outras pessoas, nas pequenas coisas que os outros gostariam de guardar para si próprios
- essa era um furão branco de olhos vermelhos e com o nariz todo sujo de terra por causa das horríveis pesquisas esconderijos em que andava sempre. Andar de um lado
para o outro pendurada dos ombros dos homens dentro de uma rede e viver numa toca - era uma vida desgraçada, essa vida de Célia; a culpa não era dela, porém. E era
assim que Rosalind agora a via. Depois, olhou para a sogra - a quem tinham dado o cognome de Squire. Corada, altaneira, cheia de si, era assim que ela se mostrava,
agradecendo à direita e à esquerda, mas agora Rosalind - ou melhor, Lapino-va - via-a de modo diferente; via-a contra o fundo da casa de família em decadência, com
o gesso a desprender-se das paredes, e ouvia-a, com a voz cortada por um soluço, a agradecer aos filhos (que a detestavam) um mundo que tinha já deixado de existir.
Fez-se um silêncio súbito. Levantaram-se todos de copo erguido na mão; a seguir beberam; tudo acabara.
"Oh, rei Lappin!", gritou Rosalind, enquanto voltavam os dois através do nevoeiro de Londres, "se o teu nariz não tivesse franzido naquele momento preciso, eu tinha
sido apanhada na armadilha!"
"Mas estás salva", disse o Rei Lappin, apertando-lhe a pata.
"E bem salva!", respondeu ela.
E continuaram ambos a atravessar o Parque, o Rei e a Rainha das charnecas, do campo enevoado e das giestas perfumadas.
E o tempo foi passando; um ano; dois anos. E numa noite de Inverno, que por coincidência sucedeu ser a do aniversário da festa das bodas de ouro - mas Mrs. Reginald
morrera; a casa estava para alugar e só vivia lá um guarda - Ernest chegou do escritório e entrou em casa. Tinham uma bela casinha, os dois; metade de um grande
edifício, por cima de uma loja de selas e arreios para cavalos, em South Kensington, não muito longe da estação do metropolitano. Estava frio, havia nevoeiro no
ar, e Rosalind estava sentada perto do lume, a coser.
"O que é que imaginas que me aconteceu hoje?", começou ela, mal ele se instalou de pernas estendidas para as brasas. "Ia a atravessar o ribeiro quando..."
"Mas que ribeiro?", interrompeu-a Ernest.
"O ribeiro que fica no fundo da floresta, onde o nosso bosque pega com a floresta negra", explicou ela.
Ernest ficou a olhar para ela, estupefacto por um momento.
"Mas que disparate é esse?", perguntou por fim.
"Oh, querido Ernest!" exclamou ela cheia de desânimo. "Rei Lappin", acrescentou, aquecendo as pequenas patas da frente no lume do fogão. Mas o nariz dele não franziu.
As mãos dela - agora eram mãos - crisparam-se no tecido que estava a coser, e os olhos ficaram muito fixos e abertos. Ele levou uns cinco minutos a transformar-se
de Ernest Thorburn em Rei Lappin; e enquanto esperava, ela sentia uma força a pesar-lhe na parte de trás do pescoço, como se alguém a estivesse a estrangular. Por
fim, ele lá se transformou em Rei Lappin; o nariz franziu-se-lhe; e passaram o serão a vagabundear pela floresta como de costume.
Mas Rosalind dormiu mal. A meio da noite acordou, sentin-do-se como se lhe tivesse acontecido qualquer coisa de estranho. Estava entorpecida e com frio. Acabou por
acender a luz e olhar para Ernest, deitado ao seu lado. Ele dormia profundamente. Ressonava. Mas embora estivesse a ressonar, o seu nariz continuava perfeitamente
imóvel. Parecia que nunca na vida se tinha franzido para ela. Seria possível que fosse realmente Ernest? E ela estaria realmente casada com Ernest? Surgiu-lhe uma
imagem da sala de jantar da sogra; e lá estavam ela e Ernest, envelhecidos, rodeados por grandes aparadores de madeira trabalhada... Eram as suas bodas de ouro.
Não aguentava mais.
"Lappin, Rei Lappin!" sussurrou ela, e por um instante o nariz pareceu franzir-se e deixar de novo tudo bem. Mas ele continuou a dormir. "Acorda, Lappin, acorda!"
gritou Rosalind.
Ernest acordou; e vendo-a sentada na cama, direita, ao seu lado, perguntou:
"O que foi?"
"Pensei que o meu coelho tinha morrido!" soluçou ela. Mas Ernest zangou-se.
"Não digas disparates, Rosalind", disse ele. "Deita-te e dorme".
Virou-se para o outro lado. No instante seguinte, dormia de novo profundamente: ressonava.
Ela é que não era capaz de adormecer. Ficou deitada, enroscada no seu lado da cama, como uma lebre encolhida. Apagara a luz, mas o candeeiro da rua iluminava fantasmagorica-mente
o tecto, e as árvores lá fora lançavam uma rede por cima da sua cabeça, como se ela estivesse no meio de ramagens sombrias, assustada, de um lado para o outro, retorcida,
às voltas, caçando, sendo caçada, ouvindo o ladrar dos cães de caça e as trompas dos caçadores; esgueirava-se, fugia... até que a criada abriu as cortinas e trouxe
o chá da manhã.
No dia seguinte, não conseguia pensar em nada. Parecia ter perdido qualquer coisa. Sentia-se com o corpo ressequido; como se tivesse encolhido, tornando-se negro
e escuro. Tinha as articulações também entorpecidas, e quando olhou para o espelho, o que fez várias vezes enquanto vagueava pela casa, os olhos pareciam querer
saltar-lhe da cara, como as passas de uva que cobrem um bolo. As salas também pareciam ter perdido toda a sua vida. Grandes móveis colocados de uma maneira estranha,
com ela a tropeçar neles a todo o momento. Por fim pôs o chapéu e saiu. Caminhou ao longo de Cromwell Road; e todas as casas por onde passava pareciam-lhe ser, ao
entrever-lhes o interior, salas de jantar onde as pessoas estavam sentadas, salas cheias de pesados aparadores, com cortinas de renda amarela e armários de mogno.
Acabou por se dirigir para o Museu de História Natural; costumava gostar de lá ir quando era pequena. Mas a primeira coisa que viu ao entrar foi uma lebre empalhada
em cima de neve fingida com olhos de vidro cor-de-rosa. Aquilo fê-la fugir. Talvez ficasse melhor com o lusco-fusco. Foi para casa e sentou-se ao lume, sem acender
uma única luz, e tentou imaginar que estava sozinha na charneca; e havia um ribeiro a correr; e do outro lado das águas uma floresta negra. Mas não foi capaz de
ir para além do ribeiro. Acabou por se aconchegar num alto de relva húmida, e ficou sentada na cadeira, com as mãos vazias a abanar e os olhos esgazeados, como olhos
de vidro, postos nas chamas. Depois, houve um tiro de espingarda... e ela estremeceu num sobressalto, como se tivesse sido atingida. Afinal era apenas Ernest que
metia a chave à porta. Rosalind esperou a tremer. Ele entrou e acendeu a luz. Ei-lo de pé, à sua frente, direito, alto, esfregando as mãos vermelhas de frio.
"Sentada às escuras?", perguntou.
"Oh, Ernest, Ernest!" gritou ela agitando-se na cadeira.
"Bom, que aconteceu agora?", perguntou ele alegremente, aquecendo as mãos nas chamas.
"Foi Lapinova..." balbuciou ela, olhando assustada para ele, com os seus grandes olhos fixos. "Acabou-se Ernest. Perdi-a!"
Ernest franziu o sobrolho, apertando os lábios com força.
"Oh, era isso então?", disse ele, sorrindo pouco à vontade para a mulher. Durante uns dez segundos, ficou ali de pé, silencioso; Rosalind esperava, sentindo um par
de mãos a apertar-lhe o pescoço.
"Sim", acabou ele por dizer. "Pobre Lapinova..." E começou a arranjar a gravata no espelho que havia por cima da chaminé.
"Foi apanhada numa armadilha", acrescentou Ernest, "morta", e sentou-se a ler o jornal.
Foi assim que o casamento deles acabou.
A DUQUESA E O JOALHEIRO
Oliver Bacon morava na parte superior de uma casa debruçada para Green park. Era o seu apartamento: as cadeiras encontravam-se harmoniosamente dispostas pelos cantos
da sala - cadeiras forradas de coiro. Os vãos envidraçados estavam guarnecidos por divãs - divãs cobertos com mantas de tapeçaria. As janelas, três grandes janelas,
encontravam-se resguardadas por uma renda discreta, nas cortinas pelo indispensável cetim bordado. O bojo dos aparadores de acaju estava recheado de aguardentes,
de whisky e de licores de primeira qualidade. E da janela central ele dominava os toldos lustrosos dos carros elegantes arrumados nos acessos estreitos de Picadilly.
Não se se podia imaginar localização mais central. Às oito horas da manhã, tomava o seu pequeno-almoço, que um criado lhe trazia numa bandeja: o criado estendia-lhe
o roupão de seda carmesim: Oliver Bacon, com as suas compridas unhas aparadas em ponta, abria o correio, extraindo dos sobrescritos espessas folhas de bristol, timbradas,
com as armas de Duquesas, Condessas, Viscondessas e Honorables Ladies várias. Depois, começava a fazer a toillete: depois, comia uma torrada: depois lia o seu jornal,
junto a um fogo crepitante de carvões eléctricos.
"Cá estás tu, Oliver, dizia para consigo. Tu que começaste a vida numa ruela escura e sórdida, que..." e contemplava as pernas bem cingidas pelas calças de um corte
irrepreensível, os sapatos, as polainas. Tudo elegante, cheio de brilho, cortado nas melhores peças pelas melhores tesouras de Savile Row. Mas muitas vezes acontecia-lhe
também sentir-se perturbado e voltava a ser então o rapazinho da ruela obscura de outrora. Tinha havido um tempo em que a sua maior ambição fora tornar-se um próspero
vendedor de cães roubados às senhoras elegantes de Whitechapel. Uma vez fora apanhado. "Oh! Oliver, lamentava-se a mãe. Oh! Oliver, quando é que ganhas juízo, meu
filho?...". Mais tarde, o seu trabalho fora estar atrás de um balcão; fizera-se vendedor de relógios baratos; depois levara, uma vez, um saco a Amsterdam... Essa
recordação fazia-o rir disfarçadamente - enquanto o velho Oliver cismava no Oliver jovem que tinha sido outrora. Sim, saíra-se bem com os três diamantes; tinha havido
também aquela comissão sobre a esmeralda. Depois disso, trabalhara no gabinete privado de uma loja de Hatton Garden; uma sala com balanças, um cofre-forte, grossas
lentes de aumentar; e depois... voltou a rir furtivamente. Quando passava pelos grupos de joalheiros que discutiam questões de preços nas noites quentes, que falavam
das minas de ouro, dos diamantes, das notícias da África do Sul, havia sempre um ou outro que punha o dedo numa das asas do nariz e murmurava "hummm..." à sua passagem.
Não era mais que um murmúrio; não passava de estremecer dos ombros, de um dedo na asa do nariz, um zumbido que percorria todo o grupo de joalheiros de Hatton Garden,
numa tarde de calor. Oh, tratava-se de uma história de outros tempos! Mas Oliver sentia-os ainda a ronronarem na sua coluna vertebral: sentia essa pressão, esse
sussurro que queria dizer: "Olhem para ele, o jovem Oliver, o joalheiro novo - olhem, lá vai ele." Sim, Oliver era um jovem nesse tempo. Ia-se vestindo cada vez
melhor: começou por dispor de um cab, mais tarde arranjou um automóvel. Começou por se sentar nas galerias das casas de espectáculos, depois desceu para as primeiras
filas, para junto da orquestra. Adquiriu uma casa de campo em Richmond, dando para o rio, cheia de canteiros de rosas vermelhas; e mademoiselle colhia uma rosa todas
as manhãs para lha pôr na botoeira.
"É assim, exclamou Oliver Bacon, erguendo-se e esticando as pernas. É assim..."
Estava agora por baixo do retrato de uma senhora de idade, pendurado por cima do fogão de sala; ergueu as mãos na sua direcção. "Cumpri a minha palavra, disse ele,
unindo as mãos, palma contra palma, como se lhe prestasse homenagem. Ganhei a minha aposta." Era verdade. Tornara-se o joalheiro mais rico de Inglaterra; e o seu
nariz, longo e flexível como uma tromba de elefante, parecia dizer num estranho frémito das narinas (dir-se-ia que era todo o nariz e não apenas as narinas que tremiam)
que não estava ainda satisfeito, que farejava ainda mais alguma coisa por baixo da terra, um pouco mais longe. Imagine-se um porco gigante num campo cheio de trufas;
o porco já desenterrou algumas trufas, mas está a farejar outra maior, mais escura, um pouco mais adiante, no meio da terra. Oliver farejava sempre um pouco mais
adiante no solo fértil de Mayfair, em busca de uma trufa ainda mais escura e maior.
Endireitou o alfinete da gravata, enfiou-se no seu magnífico sobretudo azul, pegou nas luvas cor de manteiga fresca e na bengala. Balançava-se e fungava levemente
ao descer as escadas, exalando meio suspiro através do grande nariz pontudo, enquanto saía para Piccadilly. Não era afinal um homem triste, um homem insatisfeito,
um homem que procura algo oculto, embora tivesse ganho a sua aposta?
Ao caminhar, vacilava de modo imperceptível, como o camelo do jardim zoológico quando avança pelas ruazinhas de asfalto cheias de merceeiros com as suas esposas,
que comem coisas tiradas de dentro dos embrulhos e semeiam no chão pedaços de papel de prata. O camelo despreza os comerciantes; o camelo sente-se descontente com
a sua sorte; o camelo vê um lago e um véu de palmares à sua frente. Assim o grande joalheiro, o maior joalheiro do mundo, descia Piccadilly com largas passadas,
perfeitamente composto com as suas luvas e a sua bengala, mas insatisfeito. Chegou à lojazinha escura que se tornara célebre em França, na Alemanha, na Áustria,
na Itália e por toda a América - a pequena loja escura numa rua vizinha de Bond Street. Como de costume, atravessou a loja, sem dizer uma palavra. Todavia, os quatro
homens, dois velhos: Marsall e Spen-cer, e dois jovens: Hammond e Wicks, ali estavam, numa postura rígida, perfilados à sua passagem com um olhar cheio de inveja.
Oliver não acusou a sua presença senão por meio de um sinal do dedo das suas luvas com tonalidade de âmbar, e entrou no seu gabinete privado, fechando a porta atrás
de si.
Retirou em seguida a protecção metálica da janela. Os ruídos de Bond Street, o ronronar do trânsito entraram na sala. Ao fundo da loja, a luminosidade dos reflectores
subia até ao tecto. Uma árvore balouçava as suas seis folhas verdes, porque era Junho. Mas mademoiselle casara com Mr. Pedder, o cervejeiro local - e ninguém punha
agora rosas na botoeira de Oliver.
"É assim, murmurou ele, meio suspirando, meio fungando, assim..."
Accionou uma mola na parede e o painel abriu-se lentamente: por trás ficavam cofres-fortes, cinco, não, seis cofres-fortes, todos eles de aço trabalhado. Deu a volta
a uma das chaves; abriu um dos cofres; depois outro. Cada um estava forrado na parte de dentro por um acolchoado de veludo, veludo carme-sim-escuro: cada um deles
cheio de jóias - braceletes, colares, anéis, tiaras, coroas ducais -, cheio de pedrarias acomodadas em conchas de vidro; rubis, esmeraldas, pérolas, diamantes. Tudo
em perfeita segurança, cintilante e frio e, contudo, ao mesmo tempo, ardente; era o ardor da própria luz que condensavam.
"Lágrimas", disse Oliver, contemplando as pérolas. "Sangue do coração", disse olhando os rubis. "Pólvora", acrescentou, remexendo os diamantes, e fazendo-os soltar
miríades de fogos.
"Pólvora suficiente para mandar Mayfair pelos ares, até ao céu, céu, céu!" E enquanto dizia estas palavras, Oliver lançou a cabeça para trás, fazendo ouvir uma espécie
de relincho.
O telefone tocou na mesa do seu gabinete, obsequiosamente, em voz surda e velada. Oliver voltou a fechar o cofre.
"Dentro de um minuto, antes disso não", disse para consigo. Sentou-se à sua mesa e contemplou os imperadores romanos cujas efígies adornam agora os seus botões de
punho. Ali estava de novo desarmado, voltara a ser o rapazinho que jogava ao berlinde na viela onde se vendem ao domingo cães roubados. Voltou a ser esse rapazinho
astucioso e matreiro, com lábios vermelhos cor de cereja. Metia os dedos em cordões de tripas; molhava-os nas caçarolas de peixe frito: passeava por entre a multidão;
era delgado, flexível, com os olhos de pedra húmida; e agora - agora - o tique-taque dos dedos do relógio de parede fazia um, dois, três, quatro.... A duquesa de
Lambourne esperava que ele se dispusesse a recebê-la; a duquesa de Lambourne descendente de centenas de Condes. Ia esperar dez minutos numa cadeira junto ao balcão
do mostruário. Ia esperar que ele se dispusesse a recebê-la. Consultou o seu relógio de bolso, tirando-o do estojo de pele. O ponteiro continuava a avançar. A cada
tique-taque, parecia-lhe que o relógio lhe punha à frente um pudim de fígado de aves, uma taça de cham-pagne, um cálice de aguardente fina, um charuto de guinéu.
O relógio de algibeira servia de tudo isso à sua mesa, enquanto os dez minutos iam passando. Depois ouviu passos abafados que se aproximavam; um fru-fru no corredor.
A porta abriu-se. Mr. Hammond comprimia-se contra a parede.
"Sua Graça", anunciou ele.
E ficou na mesma posição, comprimido contra a parede.
Levantando-se, Oliver podia ouvir o fru-fru do vestido da duquesa que atravessava o corredor. Desenhou-se, em seguida, na moldura da porta, enchendo a sala com as
suas armas, o seu prestígio, a arrogância, a vaidade, o orgulho de todos os duques e de todas as duquesas que nela se faziam uma só enorme vaga. E como uma onda
que se desfaz, desfez-se ela também por fim, sentando-se, espraiando-se, salpicando, inundado Oliver Bacon, o grande joalheiro. Cobria-o com o fogo das suas cores
resplandecentes: verde, rosa, violeta: inundava-o de perfume, de iridis-cências e dos raios luminosos que se despediam dos seus dedos, das suas plumas oscilantes
e da seda do seu vestido. Porque, de idade madura, a duquesa era vastíssima, imensa, revestida com os seus tafetás apertados. Como um guarda-sol de muitos panos
se fecha, como um pavão de mil penas encerra o seu leque, dei-xou-se cair e fechou-se na poltrona de couro onde encalhara.
"Bom dia, Mr. Bacon", disse a Duquesa. E estendia-lhe a mão espreitando por uma abertura das luvas. Oliver curvou-se para lha tomar. E enquanto as suas mãos se tocavam,
voltou a forjar-se entre eles o elo de uma corrente. Eram amigos e, ao mesmo tempo, inimigos: ele era o senhor, a senhora era ela: en-ganavam-se um ao outro, precisavam
um do outro, temiam-se reciprocamente, e ambos o sentiam e sabiam todas as vezes que as suas mãos se tocavam assim naquela saleta escura, com a luz branca lá fora,
a árvore com seis folhas, o ruído distante da rua e os cofres-fortes atrás.
"E hoje, Duquesa, em que posso ser-lhe útil hoje?", inquiriu Oliver com extremo cuidado.
A Duquesa abriu-lhe o coração, a intimidade do seu coração: abriu-lho de par em par. Com um suspiro, sem uma palavra, tirou da sua mala uma espécie de pequeno saco
de camurça - semelhante a uma doninha amarela, estreita e alongada - e de uma abertura a meio do corpo da doninha deixou cair as pérolas - dez pérolas -, que deslizaram
rolando da fenda aberta no ventre da doninha - uma, duas, três, quatro - como os ovos de algum pássaro divino.
"É tudo o que me resta, meu caro Mr. Bacon", disse ela com um queixume na voz. Cinco, seis, sete - as pérolas rolavam, rolavam ao longo da fenda rasgada nos vastos
flancos da montanha que se abriam entre os seus joelhos, formando um estreito vale ao fundo - oito, nove, dez. As pérolas estavam ali, poisadas no brilho do tafetá
cor de flor de pessegueiro. Dez pérolas.
"A cintura Appleby, disse ela tristemente. São as últimas... as últimas de todas."
Oliver estendeu o braço e segurou uma das pérolas entre o polegar e o indicador. Era redonda, brilhava. Mas - verdadeira ou falsa? Estaria a Duquesa a mentir uma
vez mais? Atrever-se-ia ela a continuar a mentir?
A Duquesa poisou o dedo rechonchudo na boca. "Se o Duque soubesse..., sussurrou ela a medo. Caro Mr. Bacon, foi outra vez um golpe de pouca sorte."
Teria voltado, então, a perder ao jogo?
"O traidor! O batoteiro!", disse a Duquesa numa voz sibilante.
Seria o homem com o maxilar partido? Um indivíduo pouco limpo. "E o Duque, que é generoso como o ouro para com os seus favoritos, ia privá-la de dinheiro, fechá-la
num lugar distante qualquer, se soubesse o que eu sei", pensava Oliver. Lançou um olhar em direcção ao cofre.
"Araminta, Daphne, Diana, gemeu a Duquesa, é por causa delas." As três filhas - Oliver conhecia-as: adorava-as. Mas Diana, essa amava-a deveras, amava-a do fundo
do coração.
"Conhece todos os meus segredos", disse a Duquesa com os olhos baixos. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Lágrimas que começaram a cair, lágrimas como diamantes,
arrastando o pó-de-arroz ao longo dos sulcos das suas faces cor de cerejeira em flor.
"Meu velho amigo, murmurou ela, meu velho amigo." Oliver repetiu essas palavras duas vezes, como se estivesse a lambê-las.
"Quanto?", perguntou depois. A Duquesa escondeu as pérolas com a mão. "Vinte mil", murmurou.
Mas seriam verdadeiras ou falsas, as pérolas que Oliver tinha na mão? A cintura Appleby - não fora já vendida? Ia tocar, mandando vir Spencer e Hammond, e dizer-lhes:
"Levem isto e verifiquem." Estendeu o braço na direcção da campainha. "Quero que você também venha amanhã, disse a Duquesa com uma voz pressurosa, detendo-o. O Primeiro-Ministro,
Sua Alteza Real..." Parou por um instante. "E Diana...", acrescentou ainda.
Oliver tirou a mão da campainha.
Para além da figura da Duquesa, contemplou as traseiras das casas de Bond Street, somente não eram já as casas de Bond Street o que estava a ver, mas uma água enrugada,
uma truta, um salmão que saltavam, o Primeiro-Ministro e ele próprio também, os coletes brancos, e depois, Diana. Contemplou de novo a pérola que tinha na mão. Mas
como havia de a avaliar agora - à luz do rio, à luz dos olhos de Diana? Os olhos da Duquesa não se desprendiam dele.
"Vinte mil, disse ela num gemido, é a minha honra!" A honra da mãe de Diana! Oliver pegou no seu livro de cheques e puxou da caneta. Escreveu "vinte", depois deteve-se.
Os olhos da velha senhora do retrato estavam poisados nele - os olhos da sua velha mãe.
"Oliver, avisou-o ela, tem juízo! Não sejas tolo!" "Oliver, suplicou a Duquesa - agora era apenas "Oliver", já não era "Mr. Bacon" - não quer passar connosco um
fim-de-semana prolongado?"
Sozinho nos bosques com Diana! Sozinho, a cavalo, nos bosques com Diana!
"Mil", escreveu, e assinou. "Aqui tem", disse por fim.
E todos os panos do guarda-sol, todas as penas do pavão se abriram. O esplendor da vaga, as espadas e as esporas de Azin- court fulguravam enquanto a Duquesa se
levantava da cadeira. Os dois empregados velhos e os dois mais novos, Spencer e Marshall, Wicks e Hammond, colaram-se à parede por trás do balcão, cheios de inveja,
enquanto Oliver a acompanhava à porta, agitando as suas luvas cor de manteiga fresca diante dos olhos deles, e a Duquesa ia levando a sua felicidade - um cheque
de 20 000 libras assinado por ele - bem segura na mão.
"Serão verdadeiras ou falsas?", perguntou-se Oliver, voltando a fechar a porta do gabinete particular. As dez pérolas ali estavam, poisadas no tampo coberto de mata-borrão,
em cima da mesa. Levou-as para mais perto da janela, observou-as à luz do dia com as suas lentes... Aquilo seria, afinal, a trufa que ele tinha desenterrado? Podre
até ao meio, completamente podre!
"Perdoa-me, ó minha mãe!", exclamou ele suspirando e levantando a mão, como que para pedir à velha mulher do retrato que lhe perdoasse. Voltara a ser o rapazinho
na viela onde se vendiam cães roubados ao domingo. "Porque, murmurou, unindo as palmas das mãos, o fim-de-semana vai ser prolongado!"
O LEGADO
"Para Sissy Miller", lia Gilbert Clandon, pegando no broche de pérolas deitado entre outros broches e anéis, em cima de uma mesinha da sala de estar de sua mulher
- "Para Sissy Miller, com o meu afecto."
Era mesmo de Angela ter-se lembrado de Sissy Miller, a sua secretária. E era muito estranho também, pensou Gilbert Clandon, uma vez mais, ela ter deixado todas as
coisas tão bem arrumadas - uma pequena prenda para cada um dos seus amigos. Era como se tivesse previsto que ia morrer. E, no entanto, estava de perfeita saúde quando
saíra de casa nessa manhã, havia agora seis semanas; quando, ao descer do passeio em Picca-dilly, o carro aparecera - e a matou.
Ele estava à espera de Sissy Miller. Pedira-lhe que viesse; devia-lhe, sentiu-o, depois de todos os anos que ela passara com eles, esse gesto de consideração. Sim,
continuou depois, enquanto se sentava à espera, era estranho que Angela tivesse deixado tudo tão em ordem. Cada um dos seus amigos receberia uma pequena prova do
afecto dela. Cada anel, cada colar, cada caixinha chinesa - ela tivera sempre uma paixão por caixinhas - tinha um nome escrito. E cada um desses objectos, para ele,
tinha também a sua memória. Este fora ele quem lho dera: aquele - o delfim de esmalte com olhos de rubi - tinha-o comprado ela um dia numa rua escura de Veneza.
Lembrava-se ainda do seu pequeno grito de alegria. A ele, é claro que não lhe deixara nada em particular, exceptuando o seu diário. Quinze pequenos volumes, encadernados
de verde, ali estavam, atrás dele, na mesa de escrever dela. Desde que se tinham casado que Angela conservara o diário. Algumas das suas pouquíssimas - não lhes
podia chamar zangas -, alguns dos seus pouquíssimos amuos tinham tido esse diário como causa. Quando ele entrava e a via a escrever, ela fechava sempre o caderno
ou escondia-o, pondo-lhe a mão em cima. "Não, não, não", era como se a estivesse ainda a ouvir. "Depois de eu morrer - talvez." E deixara-lho a ele, era o seu legado.
Era a única coisa que não tinha compartilhado em vida com Gilbert. Mas ele sempre considerara como garantido que seria Angela a sobreviver-lhe. Se ao menos ela tivesse
parado por um instante e pensasse no que estava a fazer, estaria agora ainda viva. Mas descera sem olhar do passeio, afirmara o dono do carro ao ser inquirido a
seguir à morte dela. Não lhe dera a menor possibilidade de tentar desviar-se... E aqui o som das vozes no hall interrompeu-o.
"Miss Miller, Sir", disse a criada.
Ela entrou. Gilbert nunca na sua vida a vira a sós, nem, é claro, a chorar. Vinha terrivelmente comovida, como não era de espantar. Angela fora muito mais para ela
do que a pessoa para quem se trabalha. Fora uma amiga. Mas para ele, pensou Gilbert Clandon, enquanto puxava uma cadeira e lhe pedia que se sentasse, aquela mulher
mal se distinguia das outras da mesma condição. Havia milhares de Sissy Millers - mulherzinhas insípidas, vestidas de preto, sempre com uma pasta atrás. Mas Angela,
com o seu dom de simpatia, descobrira toda a espécie de qualidades em Sissy Miller. Era a descrição em pessoa; tão silenciosa; tão cheia de lealdade que não havia
nada que não pudesse confiar-se-lhe, e assim por diante.
Miss Miller parecia de início incapaz de dizer uma palavra. Ficou sentada, enxugando os olhos com o lenço. Depois, fez um esforço.
"Desculpe-me, Mr. Clandon", disse ela.
Ele limitou-se a um murmúrio como resposta. Claro que compreendia muito bem. Podia adivinhar o que a mulher representara para ela.
"Fui tão feliz aqui", disse Miss Miller, olhando em redor. Os seus olhos ficaram presos à mesa de trabalho, que espreitava por trás de Mr. Clandon. Era ali que ambas
trabalhavam - ela própria e Angela. Porque Angela tinha a sua parte nas obrigações que cabem à esposa de um político em destaque. Fora uma auxiliar de primeira no
que se referia à carreira do marido. Ele vira-as muitas vezes, a mulher e Sissy, sentadas àquela mesa - Sissy à máquina de escrever, batendo as cartas que a mulher
lhe ditava. Sem dúvida que Miss Miller estava também a pensar nisso. Agora tudo o que lhe restava fazer era entregar-lhe o broche da mulher e deixá-la. Parecia,
realmente, uma prenda um tanto incongruente. Teria sido melhor deixar-lhe uma certa quantia de dinheiro, ou até a máquina de escrever. Mas o que estava escrito era
aquilo mesmo - "Para Sissy Miller, com o meu afecto." E, pegando na jóia, entregou-lha, acompanhada do pequeno discurso que tinha preparado. Sabia, disse-lhe, que
ela apreciaria aquela lembrança. A sua mulher tinha-a usado muitas vezes... Miss Miller, por sua vez, replicou-lhe, quase como se tivesse também o seu discurso preparado,
que o broche era um tesouro precioso para ela... Gilbert Clandon esperava que aquela mulher tivesse pelo menos outras roupas, com as quais o broche não ficasse tão
mal. Trazia vestido o saia-casaco preto que parecia ser um uniforme da sua profissão. Depois, Gilbert lembrou-se de que Miss Miller estava, evidentemente, de luto.
Também ela sofrera uma tragédia - um irmão, a quem fora muito dedicada, morrera apenas uma ou duas semanas antes de Angela. Um acidente também, ou não seria? Não
conseguia lembrar-se - mas lembrava-se de Angela lhe falar disso. Angela, com o seu dom de simpatia, ficara terrivelmente impressionada. Entretanto, Sissy Miller
levantara-se. Estava a pôr as luvas. Era evidente que sentia não dever tornar-se importuna. Mas ele não podia deixá-la ir-se embora assim, sem lhe dizer nada acerca
do futuro. Quais eram os planos dela? Havia alguma maneira de ele poder ajudá-la?
Ela estava de olhos fixos na mesa, onde costumava sentar-se à máquina de escrever e onde se via poisado o diário. E, perdida nas suas recordações de Angela, não
respondeu imediatamente à sugestão de auxílio que Mr. Gilbert Clandon lhe apresentara. Por um momento, pareceu não ter compreendido. Por isso, ele acabou por ter
que repetir:
"Quais são os seus planos, Miss Miller?" "Os meus planos? Oh, está tudo muito bem. Mr. Clandon", exclamou ela. "Por favor não se preocupe comigo."
Ele pensou que ela queria dizer com aquilo que não precisava de auxílio financeiro. Teria sido melhor, reflectiu ele depois, deixar uma sugestão desse género para
uma carta. Agora tudo o que podia fazer era acrescentar, ao apertar-lhe a mão, "Lembre-se, Miss Miller, se alguma vez lhe puder ser útil, terei todo o prazer..."
Em seguida, abriu a porta. Por um momento, no limiar, como se um pensamento súbito a tivesse ferido, Miss Miller deteve-se.
"Mr. Clandon", disse ela, olhando-o nos olhos pela primeira vez, e pela primeira vez ele sentia-se impressionado pela expressão, cheia de simpatia embora interrogativa,
dos olhos dela. "Se alguma vez", continuou Sissy Miller, "houver alguma coisa que eu possa fazer para o ajudar, lembre-se de que será para mim, em atenção à sua
mulher, um prazer..."
E com isto partiu. As suas palavras e o olhar que as acompanhara eram inesperados. Era quase como se ela acreditasse, ou esperasse, que ele viesse a precisar dela.
Uma ideia curiosa, talvez fantástica, ocorreu-lhe quando voltou à sua cadeira. Seria possível que, durante todos aqueles anos, enquanto ele mal dava pela existência
dela, Miss Miller alimentasse uma paixão secreta por ele, como as que nos contam os romances? Ao passar pelo espelho cruzou-se com a sua própria imagem. Tinha mais
de cinquenta anos; mas não podia deixar de reconhecer que continuava a ser ainda, conforme o espelho mostrava, um homem dotado de excelente aparência.
"Pobre Sissy Miller!", disse para consigo, meio a brincar. Como teria gostado de contar à mulher as coisas engraçadas em que estava agora a pensar! E instintivamente
olhou para o diário dela. "Gilbert", leu ele, abrindo-o ao acaso, "estava maravilhoso..." Era como se aquilo tivesse respondido às suas interrogações. Claro, parecia
ela dizer-lhe, és muito atraente para as mulheres. Claro, Sissy Miller também sente isso mesmo. Começou a ler. "Como me sinto orgulhosa de ser a mulher dele!" Também
ele se sentira sempre muito orgulhoso por ser marido dela. Quantas vezes, quando jantavam fora aqui ou ali, a olhara por cima da mesa, dizendo para consigo: ela
é a mulher mais bonita de todas as que aqui estão! Continuou a ler. Nesse primeiro ano, fora quando Gilbert se candidatara ao Parlamento. Tinham percorrido o seu
círculo eleitoral. "Quando Gilbert se sentou, os aplausos foram uma coisa tremenda. Todo o auditório se levantou e cantou: For he's ajolly goodfellow. Senti-me absolutamente
perturbada." Também ele se lembrava daquilo. Ela tinha ficado sentada no estrado, por trás dele. Ainda a podia ver, fitando-o de relance, com as lágrimas nos olhos.
E depois? Passou algumas páginas. Tinham ido a Veneza. Lembrava-se dessas férias felizes a seguir às eleições. "Comemos gelados no Florian." Sorriu - ela era ainda
como uma criança: adorava gelados. "Gilbert traçou-me um quadro muito interessante da história de Veneza. Disse-me que os Doges..." - tudo aquilo escrito com a sua
letra de rapariguinha de escola. Era uma delícia viajar com Angela por causa da sua ânsia de tudo saber. "Sou tão ignorante", costumava ela dizer, como se isso não
fosse um dos seus encantos. E agora - Gilbert abria outro volume - tinham voltado para Londres. "Queria tanto causar boa impressão. Vesti o meu vestido de casamento."
Podia ainda vê-la sentada ao lado do velho Sir Edward e conquistando por completo aquele velho formidável, seu chefe. Continuou a leitura rapidamente, revivendo
cena a cena por meio dos fragmentos que a mulher evocara. "Jantámos na Casa dos Comuns... Fomos a uma festa à noite em casa dos Lovegroves. Terei eu a noção das
minhas responsabilidades, conforme me perguntou Lady L., em virtude de ser mulher de Gilbert?" Depois, os anos tinham passado - o volume do diário era já outro,
tirado de cima da mesa de trabalho - e Gilbert fora sendo cada vez mais absorvido pelo seu trabalho. E ela, evidentemente, passou a ficar mais vezes sozinha... Aparentemente
fora para ela um grande desgosto não terem tido filhos. "Desejava tanto", leu noutra das entradas do caderno, "que Gilbert tivesse um filho." Talvez fosse um tanto
estranho que, pelo seu lado, ele nunca o tivesse lamentado muito. A vida fora tão rica, tão cheia, assim mesmo. Nesse ano, fora colocado num lugar secundário do
governo. Apenas um lugar secundário, mas o comentário dela fora: "Tenho a certeza que ele há-de chegar a Primeiro-Ministro!" Bom, se as coisas tivessem corrido de
outro modo, teria podido sê-lo. A política era um jogo, ponderou; mas o jogo ainda não acabara. Não acabava aos cinquenta anos. Passou os olhos rapidamente por outras
páginas, cheias dos pequenos pormenores, dos pormenores insignificantes, quotidianos e felizes, que formavam a vida dela.
Pegou noutro volume e abriu-o ao acaso. "Como sou cobarde! Deixei passar outra vez a ocasião! Mas podia-lhe parecer egoísmo da minha parte, ir incomodá-lo com as
minhas coisas quando ele já tem tanto em que pensar. E depois, é tão raro estarmos sozinhos os dois à noite." O que queria aquilo dizer? Oh, lá vinha a explicação
- referia-se ao trabalho dela no East End. "Ganhei coragem e falei finalmente a Gilbert. Ele foi tão compreensivo, tão bom. Não fez qualquer objecção." Também ele
se lembrava dessa conversa. A mulher dissera-lhe que se sentia muito vazia, demasiado inútil. Gostava de ter uma actividade dela, por si própria. Gostava de fazer
alguma coisa - e corara com tanta graça, lembrava-se ele, quando se sentara ali a falar-lhe daquilo, naquela mesma cadeira - para ajudar os outros. Gilbert metera-se
um pouco com ela. Não tinha já bastante que fazer tratando dele, da casa deles? Mas se isso a distraía, claro que não tinha nada a dizer contra. De que se tratava?
De uma associação? De uma organização de beneficência? Só tinha de prometer-lhe uma coisa, que não ia estragar a saúde com as novas tarefas. Assim, ela passou a
ir todas as quartas-feiras a Whitechapel. Gilbert lembrava-se de ter ódio às roupas que a mulher vestia nessas alturas. Mas ela levara aquilo muito a sério, ao que
parecia. O diário estava cheio de referências do género: "Vi Mrs. Jones... Tem dez filhos... O marido ficou sem o braço num acidente... Fiz o melhor que pude para
arranjar um trabalho para Lily." O nome de Gilbert, que continuava a leitura, aparecia agora menos vezes. O interesse dele diminuiu um pouco. Havia entradas inteiras
agora que não diziam nada a seu respeito. Por exemplo: "Tive uma discussão muito viva com B. M. acerca do socialismo." Quem era B. M.? Não conseguia completar aquelas
iniciais; alguma mulher, supôs, que Angela conhecera na sua organização. "B. M. atacou violentamente as classes mais elevadas... Depois da reunião, voltei a pé com
B. M. e tentei convencê-lo. Mas ele é tão estreito de ideias!" Então, B. M. era um homem - era com certeza um desses "intelectuais", como eles se chamam a si próprios,
tão cheios de violência e, como ela dizia, de ideias tão estreitas. Mas depois a mulher convidara-o para jantar e a visitá-la. "B. M. veio jantar. Apertou a mão
a Minnie!" Este ponto de exclamação deu um novo toque à imagem mental que dele Gilbert estava a formar entretanto. B. M., ao que parecia, não estava habituado a
encontrar criadas de fora; apertara a mão a Minnie. Provavelmente era um desses operários insípidos, que só pensam em entrar na sala de uma senhora de bem. Conhecia
o género, e não possuía qualquer simpatia por esse estilo de gente, quem quer que fosse B. M.. Lá aparecia ele de novo. "Fui com B. M. à Torre de Londres... Ele
diz que a revolução se aproxima... Disse que vivemos num Paraíso de Loucos." Era precisamente a espécie de coisas que B. M. devia dizer - Gil-bert era quase capaz
de o ouvir. Era também capaz de o imaginar com bastante precisão. Um homem atarracado, pequeno, mal escanhoado, gravata vermelha, sempre vestido de flanela, que
nunca fizera nada de útil em toda a sua vida. Com certeza que Angela teria tido o bom senso de o considerar do mesmo modo... Gilbert continuou a ler. "B. M. disse
algumas coisas muito desagradáveis acerca de..." O nome fora apagado cuidadosamente. "Disse-lhe que não queria ouvir nem mais uma palavra acerca de..." E de novo
a palavra seguinte fora riscada. Seria possível que se tratasse do próprio nome de Gilbert? Seria por isso que Angela tapava a página tão depressa quando ele entrava?
Este pensamento aumentava a sua antipatia crescente por B. M.. Aquele homem tivera a impertinência de falar a respeito dele, Gilbert, na sua própria casa? Porque
é que Angela nunca lhe dissera nada? Não era de todo em todo da maneira de ser dela esconder fosse o que fosse: sempre fora a imagem viva da lealdade. Gilbert virou
outra página, procurando novas referências a B. M.. "B. M. contou-me a história da sua infância. A mãe trabalhava a dias... Quando penso nisso, mal posso continuar
a viver em todo este luxo... Três guinéus por um chapéu!" Se ao menos a mulher tivesse discutido estes problemas com ele, Gilbert, em vez de atormentar a sua pobre
cabecita com coisas demasiado complicadas para o seu mundo mental! B. M. emprestara-lhe livros. Karl Marx, A Revolução Vai Chegar. As iniciais B. M., B. M., B. M.,
surgiam cada vez mais frequentemente. Mas porque não escrevera ela nunca o nome completo? Havia uma sugestão de inconveniência, de intimidade, no uso exclusivo destas
iniciais que não condizia de modo nenhum com a maneira de ser de Angela. Tratá-lo-ia também por B. M., quando estavam os dois frente a frente? Continuou a ler. "B.
M. apareceu inesperadamente depois do jantar. Felizmente, eu estava cá sozinha." Fora havia cerca de um ano. "Felizmente" - porquê felizmente? - "eu estava cá sozinha."
Onde teria estado ele próprio nessa noite? Verificou a data na sua agenda. Era a noite em que jantara na Mansion House. E B. M. e Angela tinham passado o serão a
sós, um com o outro! Gilbert tentava recordar-se dessa noite. Angela tinha, ou não, ficado à espera dele? A sala teria o mesmo ar que de costume? Havia copos na
mesa? As cadeiras tinham sido puxadas para mais perto uma da outra? Não conseguia lembrar-se de nada - de nada, excepto do seu discurso no jantar de Mansion House.
O conjunto da situação parecia-lhe cada vez mais inexplicável; a sua mulher que recebia a sós aquele homem desconhecido. Talvez o volume seguinte o elucidasse melhor.
Procurou precipitadamente no último caderno - o que ela tinha deixado incompleto quando morrera. Lá estava na primeira página aquele tipo maldito. "Jantei sozinha
com B. M. ... Ele estava muito agitado. Disse que já era tempo de nos explicarmos... Tentei fazê-lo ouvir-me. Mas ele não queria. Ameaçou que se eu não...", o resto
da página fora riscado. Angela escrevera "Egipto, Egipto, Egipto" por cima da página inteira. Gilbert não conseguia decifrar uma só palavra: mas havia uma única
interpretação possível: o patife pedira-lhe que se tornasse sua amante. Sós os dois naquela sala! O sangue subiu ao rosto de Gilbert Clandon. Virou as páginas rapidamente.
Que respondera ela? As iniciais desapareciam. O homem agora era "ele", simplesmente. "Ele voltou. Disse-lhe que não era capaz de tomar uma decisão... Implorei-lhe
que me deixasse." Então ele forçara-a ali mesmo em casa? Mas porque é que Angela nada lhe dissera? Como lhe fora possível hesitar sequer por um momento? O diário
continuava: "Escrevi-lhe uma carta." Depois, as páginas tinham ficado em branco. Mas adiante havia as seguintes palavras: "A minha carta continua sem resposta."
Mais algumas páginas deixadas em branco, e a seguir de novo: "Ele cumpriu a sua ameaça." Depois daquilo - que acontecera depois? - Gilbert passou uma página após
outra. Estavam todas em branco. Mas agora, exactamente no dia anterior ao da morte de Angela, havia a seguinte entrada: "Terei coragem para fazer a mesma coisa?"
Era o fim do diário.
Gilbert Clandon deixou o caderno escorregar para o chão. Podia vê-la como à sua frente. Estava de pé na borda do passeio de Piccadilly. Os olhos muito abertos, os
punhos fechados. O carro aproximava-se...
Não conseguia aguentar aquilo mais. Precisava de saber a verdade. Correu para o telefone.
"Miss Miller!" Um silêncio. Depois, o ruído de alguém que atravessava a sala do lado de lá da linha.
"Sim, sou Sissy Miller" - respondeu-lhe a voz dela por fim.
"Quem", gritou ele, "quem é B. M.?"
Ouviu ainda o relógio barato que ela devia ter em cima da chaminé do fogão de sala; depois um longo suspiro. E Miss Miller acabou por responder:
"Era o meu irmão."
Era o irmão dela: o irmão que se matara. "Haverá mais alguma coisa", ouviu-a ainda perguntar, "que eu possa esclarecer?"
"Nada!", gritou Gilbert Clandon, "Nada!"
Recebera o seu legado. Angela dissera-lhe a verdade. Descera do passeio para se juntar ao amante. Descera do passeio para lhe escapar.
RESUMO
Como lá dentro estava calor e cheio de gente, como numa noite assim não havia perigo de se apanhar humidade, como as lanternas chinesas pareciam suspender frutos
vermelhos e verdes ao fundo de uma floresta encantada, Mr. Bertram Prit-chard acompanhou Mrs. Latham ao jardim.
O ar puro e a sensação de estar cá fora despertaram Sasha Latham, aquela senhora alta, esbelta, de aparência um pouco indolente, cuja presença era de tal modo majestosa
que as pessoas nunca acreditariam que ela se sentia perfeitamente despropositada e sem jeito quando tinha que dizer alguma coisa a alguém que encontrava numa festa.
Mas era assim mesmo: e ela sentia-se satisfeita de a sua companhia de agora ser Bertram, em quem se podia confiar para, mesmo no jardim, ser capaz de falar sem interrupção.
Se se transcrevessem as coisas que ele dizia pareceriam incríveis - não só porque cada uma dessas coisas era em si própria insignificante, mas por não haver também
a mínima conexão entre as suas diferentes observações. Realmente, se uma pessoa pegasse num lápis e transcrevesse as palavras dele - e uma noite de conversa sua
encheria um livro inteiro - ninguém poderia deixar de pensar, ao ler, que o pobre homem era vítima de séria deficiência intelectual. Estava longe, porém, de ser
esse o caso, porque Mr. Pritchard era um funcionário público muito considerado e membro dos Companheiros de Bath; e, o que era ainda mais estranho, conseguia ser
quase invariavelmente agradável aos olhos de toda a gente. Havia uma tonalidade na sua voz, certa maneira enfática de pronunciar, certo brilho na incongruência das
suas ideias, certa expressão do seu desajeitado rosto moreno e redondo e do seu ar de tordo de peito vermelho, qualquer coisa de imaterial, de inlocalizável, que
florescendo e desenvolvendo-se nele, o tornava independente das suas palavras ou, muitas vezes, realmente, o perfeito oposto delas. Assim ia pensando Sasha Latham
enquanto ele tagarelava acerca de uma visita que fizera a Devonshire, acerca de tabernas e proprietárias de terras, acerca de Eddie e de Freddie, de vacas e viagens
nocturnas, de leite e de estrelas, de cami-nhos-de-ferro europeus e de Bradshaw, de como se apanha o bacalhau e de como se apanha frio, influenza, reumatismo, de
Keats - e ela pensava nele em abstracto, como uma pessoa cuja existência era boa, recriando-o, à medida que ele falava, em algo que era completamente diferente do
que ele dizia, e era esse ser, sem dúvida, o que ela recriava, o verdadeiro Bertram Pritchard, embora isso não pudesse ser demonstrado. Como poderia alguém provar
que ele era um amigo leal e cheio de simpatia e... mas neste ponto, como acontecia tantas vezes, quando se conversava com Bertram Pritchard, Sasha esqueceu-se da
existência dele e começou a pensar noutra coisa.
Era na noite que ela estava a pensar, talvez arrastando-se a si própria, enquanto o olhar se erguia em direcção ao céu. Fora o cheiro do campo que sentira de repente,
agora, a quietude sombria dos campos debaixo das estrelas, mas aqui, no jardim recuado de Mrs. Dalloway, em Westminster, o que nessa impressão de beleza mais surpreendia
alguém, nascida e criada no campo como ela, era presumivelmente um efeito de contraste: aqui um cheiro de feno no ar e ali as salas cheias de gente. Andou um pouco
com Bertram; caminhava como um veado, com leves movimentos de tornozelos, segura, grande e silenciosa, com os sentidos despertos, os ouvidos atentos, farejando o
ar da noite, como se fosse um animal selvagem, mas cheio de um equilíbrio próprio, extraindo daquelas horas tardias um prazer intenso.
Era essa, pensou ela, a maior das maravilhas; a realização máxima da espécie humana. Onde quer que houvesse um abrigo entre os salgueiros e barcos de madeira leve
numa região de lagoas, lá estava essa maravilha; e pôs-se a pensar na casa sólida, abrigada, bem construída, cheia de objectos preciosos, a formigar de gente apertada,
de pessoas que se separavam umas das outras, trocando pontos de vista, num contágio excitado. E Clarissa Dalloway abrira a sala para os ermos da noite, pusera pedras
que permitiam a passagem por cima dos pântanos, e, quando os dois chegaram ao extremo do jardim (que era, de facto, muitíssimo pequeno), sentando-se depois ela e
Bertram em cadeiras de lona, olhou para a casa cheia de veneração, entusiasticamente, como se um raio luminoso e doirado lhe atravessasse o olhar, enchendo-o de
lágrimas e fazendo-a sentir-se profundamente agradecida. Embora fosse tímida e quase incapaz, quando apresentada inesperadamente a alguém, de dizer fosse o que fosse,
tinha uma admiração imensa pelos outros. Ser o que eles eram seria maravilhoso, mas ela estava condenada a ser apenas ela própria e só podia, à sua maneira silenciosa
de entusiasmo, sentar-se cá fora num jardim, aplaudindo essa sociedade humana de que se encontrava excluída. Pedaços de poesia subiam numa prece de louvor dos seus
lábios: eram realmente adoráveis e bons os sobreviventes, e sobretudo corajosos, vencendo a noite e os pântanos, uma companhia de aventureiros que, arrostando os
perigos, continuava a sua viagem.
Por má vontade do destino ela era incapaz de ser como esses outros, mas podia estar ali sentada e dar graças enquanto Bertram tagarelava, ele que estava entre os
viajantes, como um grumete ou simples marinheiro - alguém que sobe aos mastros, assobiando alegremente. Enquanto pensava essas coisas, o ramo de uma árvore à sua
frente embebia-se e penetrava a sua admiração pelas pessoas daquela casa; derramava-se em gotas de ouro; ou permanecia erecto como uma sentinela. Fazia parte da
brilhante e animada equipagem, era o mastro de onde se desfraldava a bandeira. Havia um tonel qualquer encostado à parede, e também aquilo era uma dádiva aos seus
olhos.
De repente Bertram, que era fisicamente infatigável, teve vontade de explorar o terreno, e, saltando para cima de um pequeno alto de tijolos, espreitou por cima
do muro do jardim para o outro lado. Sasha espreitou também. Pareceu-lhe ver um balde ou talvez um sapato. Mas num segundo a ilusão se desfez. Era de novo Londres;
o vasto mundo impessoal e desatento; os motores dos autocarros; os negócios e ocupações; as luzes por cima dos estabelecimentos públicos; e os polícias que bocejavam.
Tendo satisfeito a sua curiosidade, e refeitas, por aquele momento de silêncio, as fontes gorgolejantes da sua conversa, Bertram convidou Mr. e Mrs. Qualquer Coisa
a sentarem-se junto a eles os dois, puxando duas cadeiras. Ficaram os quatro sentados, olhando para a mesma casa, para a mesma árvore, para o mesmo tonel; só que
tendo espreitado por cima do muro para dentro do balde, ou melhor tendo visto de relance Londres, do outro lado, continuando indiferentemente o seu caminho, Sasha
já não se sentia capaz de derramar por cima do mundo inteiro a sua nuvem de ouro. Bertram falava e os outros dois - nunca, durante toda a sua vida, ela seria capaz
de lembrar-se se se chamavam Wallace ou Freeman - respondiam, e todas as suas palavras depois de atravessarem uma delgada névoa de ouro, caíam de novo numa prosaica
luz de todos os dias. Sasha olhou para a sólida e segura casa construída no estilo da Rainha Ana; fez os possíveis por recordar qualquer coisa que tinha lido na
escola acerca da Ilha de Thorney e de homens em pequenos barcos, acerca de ostras, e de patos bravos e de nevoeiros, mas, mas parecia-lhe tudo um problema lógico
de carpintaria e de canais, e aquela festa não era mais que uma quantidade de gente em traje de cerimónia.
Então perguntou a si própria que perspectiva seria a verdadeira? E via à sua frente o balde de Londres e a casa meia acesa e meia apagada.
Interrogou-se também acerca da sua visão, humildemente composta, acerca da sabedoria e da força dos outros. A resposta muitas vezes chegava apenas por acidente -
mas se perguntasse alguma coisa ao seu spaniel, este responderia abanando a cauda.
Também a árvore agora, despojada do seu esplendor e grandeza, parecia suplicar-lhe uma resposta; tornara-se uma árvore do campo - a única árvore no meio de um descampado.
Vira-a muitas vezes; vira as nuvens avermelhadas entre os seus ramos, ou a lua a nascer, irradiando raios irregulares de luz prateada. Mas que responder? Bom, talvez
que a alma - porque tinha a consciência em si do movimento de alguma coisa que pulsava, fugidia, alguma coisa a que ela momentaneamente chamava alma - é por natureza
solitária, uma ave viúva; uma ave poisada e esquecida no ramo da árvore.
Mas foi então que Bertram, rodeando-a com o braço à sua maneira familiar, porque a conhecera desde sempre, observou que não estavam a cumprir a sua obrigação e que
tinham que voltar lá para dentro.
Nesse momento, nalguma rua escusa ou num estabelecimento público, a terrível voz sem sexo e inarticulada do costume irrompeu uma vez mais; um som agudo, um grito.
E a ave viúva de há pouco, estremeceu num frémito, partiu a voar, descrevendo círculos cada vez mais largos até se tornar (aquilo a que ela tinha chamado a sua alma)
distante como um corvo surpreendido lá no alto por uma pedra contra ele arremessada através dos ares.
O VESTIDO NOVO
Mabel teve a primeira suspeita de que havia alguma coisa que não estava bem quando despiu o casaco e Mrs. Barnet, enquanto segurava o espelho e pegava numa escova,
era como se lhe quisesse chamar a atenção, de forma talvez excessivamente acentuada, para os diversos apetrechos destinados a retocar o cabelo, a maquilhagem ou
os vestidos, que se viam em cima do toucador: não, havia alguma coisa que não estava bem, que não estava exactamente como devia estar, e essa impressão foi-se tornando
mais intensa, transformando-se em certeza, enquanto subia as escadas e ao cumprimentar depois Clarissa Dalloway, encaminhando-se a seguir para um recanto sombrio,
no outro extremo da sala, onde havia um espelho de parede pendurado, no qual se olhou. Não! Não estava como devia ser. E imediatamente a desgraça que andava sempre
a tentar esconder, a insatisfação profunda - a sensação que sempre tivera, desde criança, lembrava-se bem, de, ser inferior às outras pessoas - despertou dentro
de si, inexorável, impiedosa, com uma intensidade que Mabel não era capaz de dominar, como poderia, pelo contrário, ter feito se estivesse em casa e não ali, acordando,
por exemplo, a meio da noite, e valendo-se então de um pouco de leitura de Borrow ou Scott: porque - oh! - aqueles homens e - oh! - aquelas mulheres - ei-los que
à sua volta se juntavam todos a pensar: "O que é que Mabel traz vestido? Que aspecto horrível! Que vestido novo horroroso!", e as pálpebras es-tremeciam-lhe a tal
ponto que teve que ceder e fechar por um momento os olhos. Era a sua falta de à vontade de sempre, a sua cobardia, o seu sangue debilitado e aguado que a deprimia.
E de súbito o quarto onde, durante tantas horas, arranjara com a sua costureirinha o vestido que trazia, pareceu-Ihe completamente sórdido e repugnante; e a sua
sala de estar parecia-lhe agora igualmente repulsiva, e sentia-se a si própria horrível, porque, cheia de vaidade, tinha aberto o convite na mesa da sala exclamando
"Que estupidez!", só para se mostrar original, e tudo isso se lhe revelava agora mesquinho, insuportavelmente provinciano e falho de sentido. Toda a sua defesa fora
absolutamente destruída, desmascarada, feita em pedaços, quando entrava na sala de Mrs. Dalloway.
Tinha pensado, num primeiro momento, ao receber o convite para a festa, quando à tarde estava sentada com o tabuleiro do chá ainda a seu lado, que não podia aparecer
em casa de Mrs. Dalloway vestida de acordo com a última moda. Era absurdo sonhar sequer com isso - a moda significa alto corte, estilo, e pelo menos trinta guinéus
-, mas porque não mostrar-se então original? Porque não ser ela própria, de qualquer maneira? E, subindo ao andar de cima de sua casa, pegara naquele velho figurino
de outras eras que fora de sua mãe, uma colecção de modelos de Paris, do tempo do Império, e pensara que ficaria muito mais bem arranjada, muito mais dignificada
e feminina se levasse um vestido daqueles, resolvendo assim - uma loucura! - preparar um desses modelos, enfeitar-se com uma modéstia antiquada, sentindo-se encantadora
desse modo, numa orgia de vaidade, realmente merecedora de castigo. Tal era o motivo que a fizera aparecer ali arranjada de forma tão insólita.
Mas não se atrevia a olhar sequer para o espelho. Não era capaz de fazer frente a todo aquele horror - o vestido de seda, estupidamente fora de moda, amarelo pálido,
com a sua cintura subida e as suas mangas de balão, e tudo o resto, que no figurino da mãe lhe parecera tão elegante, mas que vestido por ela, no meio de todas aquelas
pessoas vulgares, não estava como devia ser, de maneira nenhuma. Sentia-se como um manequim de modista, ali especada, para ser picada com alfinetes pelos convidados
mais jovens.
"Mas, minha querida, é realmente um encanto!", disse Rosa Shaw, olhando-a de alto a baixo, com aquele breve trejeito dos lábios trocistas de que Mabel já estava
à espera - Rose que, pelo seu lado, estava vestida segundo todo o rigor da última moda, precisamente como todas as outras pessoas, como sempre se vestira.
Somos como moscas tentando andar no bordo de um pires de leite, pensou Mabel, e repetiu a frase como se estivesse doente e procurasse uma palavra que aliviasse o
seu mal-estar, tornasse suportável aquela agonia. Fragmentos de Shakespeare, linhas de livros que lera havia séculos, subitamente emergiam da sua memória agonizante,
e ela repetia-os uma e outra vez e outra ainda. "Moscas tentando arrastar-se", repetia Mabel, como se pudesse dizer aquilo até chegar ao ponto de ver as moscas,
tornando-se fria, gelada, dura e silenciosa. Agora estava já capaz de ver as moscas arrantando-se lentamente na borda de um pires de leite, com as asas a esfregarem-se
uma na outra: e esforçou-se, esforçou-se (de pé em frente do espelho, enquanto ouvia Rose Shaw) por ser capaz de ver também Rose Shaw e todas as outras pessoas à
sua volta como se fossem moscas, moscas procurando desprender-se de qualquer coisa pegajosa, ou mergulhar nessa mesma coisa - insignificantes, mirradas, moscas cheias
de afã. Mas não conseguia ver os outros assim, não era assim que os via por muito que por isso se esforçasse. Era a si própria que se via desse modo - era ela a
mosca, mas os outros eram borboletas, libélulas, esplêndidos insectos que dançavam, adejavam, pairavam, enquanto a mosca rastejava, na sua solidão, no rebordo pegajoso
do pires de leite. (Inveja e despeito, os mais detestáveis de todos os vícios, inveja e despeito eram, sem dúvida, os defeitos principais de Mabel.)
"Sinto-me uma espécie de velha mosca, decrépita, atrozmente moribunda, toda suja", disse ela, fazendo com que Robert Haydon parasse bruscamente à sua frente ao ouvir-lhe
aquilo e tentando encorajar-se com o som da sua própria pobre frase, demonstrar que era uma pessoa de espírito, cheia de desprendimento, e longe de sentir-se excluída
ou diminuída fosse em que caso fosse. E, é claro, Robert Haydon respondeu qualquer coisa bem educada, falha de sinceridade, como ela descobriu no mesmo instante,
repetindo de novo para consigo (citação de já não sabia que livro): "Mentiras, mentiras, mentiras!" Porque uma festa tornava as coisas muito mais reais, ou muito
menos reais, pensou Mabel; tinha acabado de atravessar com o olhar o fundo do coração de Robert Haydon; o seu olhar atravessava tudo de lado a lado. Sabia o que
era a verdade. Aquilo era a verdade, a sua sala de estar, o seu ser profundo - e os outros eram falsos. A sala de trabalho de Miss Milan era na realidade terrivelmente
quente, asfixiante, sórdida. Cheirava a roupas velhas e a comida ao lume; todavia, quando Miss Milan lhe pusera o espelho na mão e Mabel se olhara com o vestido
novo, finalmente pronto, uma felicidade extraordinária se derramara no seu coração. Afogada em luz, desabrochada na plenitude da existência. Livre de cuidados e
rugas, aquilo que sonhara ser encontrava-se então à sua frente - uma mulher cheia de beleza. Por um segundo apenas (não ousara olhar durante mais tempo: Miss Milan
queria que ela visse se a saia estava bem assim), teve diante dos olhos, enquadrada pela moldura de mogno do espelho, uma rapariga misteriosamente já grisalha e
a sorrir, encantadora, que era ela própria, que era a sua própria alma; e não se tratava apenas de vaidade, não se tratava apenas de amor próprio, nisso que a fazia
achar-se boa, cheia de doçura e de verdade. Miss Milan dissera-lhe que a saia não ficaria bem mais comprida; talvez pudesse até ser um bocadinho encurtada, acrescentara,
abanando a cabeça, e nesse momento, Mabel sentira-se fundamentalmente boa, transbordante de amor por Miss Milan, ligada a ela pela maior afeição de que era capaz
para com um outro ser e tendo quase vontade de se desfazer em lágrimas ao ver aquela mulher à sua frente, curvada no chão, com a boca cheia de alfinetes, o rosto
congestionado e os olhos cansados do trabalho da costura; sentiu vontade de chorar, sim, por ser possível que um ser humano fizesse tudo aquilo por causa de outro
ser humano, ao mesmo tempo que sentia também que ambas eram simplesmente seres humanos, e que todos os outros, agora, na sala de festa, à sua volta, eram igualmente
seres humanos: e Mabel via que a condição dos seres humanos era aquela: ela própria a pensar em ir a uma festa, Miss Milan a tapar com um pano todas as noites a
gaiola do canário, depois de lhe estender entre os lábios um grão de alpista; e enquanto meditava neste aspecto das criaturas, na paciência que possuem, na sua capacidade
de sofrimento, no modo como conseguem consolo por meio de pequenos prazeres tão miseráveis, tão mesquinhos e tão sórdidos, os olhos acabaram por se lhe encher realmente
de lágrimas.
Mas tudo voltara já a desaparecer. O vestido, a sala de costura, o amor, a piedade, o espelho emoldurado de mogno e a gaiola do canário - tudo se desvanecera, e
Mabel ali estava a um canto da sala, na festa de Mrs. Dalloway, entregue à sua tortura, de olhos bem abertos para a realidade.
Mas era tão vil, tão pusilânime e estúpido uma pessoa da sua idade, mãe já de dois filhos, preocupar-se tanto, sentir-se tão extremamente dependente da opinião das
outras pessoas, sem princípios nem convicções próprias suficientemente fortes, incapaz de ser também como os outros: "Shakespeare existe! Existe a morte! Não passamos
de bichos de farinha nas bolachas do capitão" - ou fosse lá o que fosse que os outros dissessem.
Olhou-se frontalmente no espelho: compôs um pouco o vestido no ombro esquerdo; entrou na outra sala como se chovessem dardos de todos os lados por cima do seu vestido
amarelo. Mas em vez de parecer altiva ou trágica, como Rose Shaw teria parecido - Rose no lugar dela havia de parecer Boadicea - tinha um ar de louca e de mulher
afectada, e sorria como uma colegial idiota, baixando os olhos ao atravessar a sala, positivamente em fuga como um rafeiro espancado, e pôs-se por fim a olhar para
um quadro, uma gravura pendurada na parede. Como se alguém pudesse estar numa festa a olhar para um quadro! Toda a gente ia perceber porque é que Mabel estava a
fazer aquilo - era porque se sentia cheia de vergonha, era porque se sentia humilhada.
"Agora a mosca caiu dentro do pires de leite", disse para consigo, "caiu mesmo no meio, e não é capaz de sair de lá, e o leite", pensou ainda, rigidamente pregada
diante do quadro, "colou-lhe as asas uma à outra".
"É tão fora de moda", disse a Charles Burt, fazendo-o parar (coisa que ele detestava que lhe fizessem) a meio do caminho que levava, direito a outra pessoa.
Mabel queria referir-se, ou esforçava-se por pensar que queria referir-se, com aquilo, ao quadro e não ao vestido. E uma palavra de elogio, uma palavra afectuosa
de Charles tê-la-iam feito mudar da noite para o dia no mesmo instante. Se ele se limitasse a dizer: "Mabel, estás encantadora esta noite!", isso teria transformado
toda a sua vida. Mas para isso, ela própria precisava de ter sido verdadeira e directa. Charles não disse nada de parecido com o que Mabel desejava: era inevitável.
Ele era a malícia em pessoa. Sempre soubera ver através dos outros, especialmente dos que se sentiam particularmente fracos, infelizes ou em baixo.
"Mabel arranjou um vestido novo!", disse ele, e a pobre mosca sentiu-se perfeitamente afogada dentro do pires de leite. A verdade é que ele quisera afogá-la de propósito,
pensou Mabel. Era um homem sem coração, sem sentimentos profundos; a sua amizade não passava de um verniz de superfície. Miss Mi-lan era muito mais real, muito mais
bondosa. Se ao menos uma pessoa fosse capaz de aceitar de vez essa verdade! "Porquê?", perguntou a si própria - respondendo a Charles depressa de mais, de tal modo
que ele se deu perfeitamente conta de que ela estava zangada, "picada" como era seu hábito dizer ("Muito picada?", inquiriu e afastou-se a rir, indo ter com uma
daquelas mulheres quaisquer que por ali andavam) - "Porquê?" - perguntou Mabel a si própria - "Porque é que não sou capaz de sentir sempre a mesma coisa, sentir
com segurança que Miss Milan tem razão, e que Charles não a tem, e assentar nisso de uma vez para sempre, sentir-me segura acerca do canário e da compaixão e do
amor e não girar de segundo em segundo mal entro numa sala cheia de gente?" Era uma vez mais o seu odioso carácter fraco e vacilante, sempre pronto a auto-acusar-se
nos momentos difíceis, o seu carácter que nunca se interessava deveras e seriamente por nada - concologia, etimologia, botânica, arqueologia, maneiras de plantar
batatas e vê-las depois crescer, como faziam Mary Dennis e Violet Searle.
Agora Mrs. Holman, vendo-a ali parada, encaminhou-se na sua direcção. Claro que reparar num vestido novo não era coisa de que Mrs. Holman fosse capaz, sempre em
cuidado com a sua numerosa família, que caía das escadas abaixo ou apanhava de súbito e colectivamente uma vaga de escarlatina. Mabel não poderia dizer-lhe se a
casa de Elmthorre estaria vaga em Agosto e Setembro? Oh, era uma sensaboria insuportável aquela conversa! Não havia nada pior para Mabel do que sen-tir-se a fazer
figura de agente imobiliário ou moço de recados. Nada disto vale nada, pensava, tentando agarrar-se a uma ideia importante, real, que não lhe ocorria enquanto ia
respondendo aplicadamente, com a sensatez de que era capaz, às perguntas da outra acerca do tamanho da casa de banho, do estado em que estava o edifício do lado
sul e da canalização da água quente para o andar superior; durante toda a conversa, não parou de ver pedaços de seda amarela a dançarem, reflectidos no espelho redondo
que estava à sua frente, e que ora pareciam botões pequenos, ora revestiam a forma de rãs. Como era estranho pensar na humilhação, na angústia, na agonia e no esforço,
nos apaixonantes altos e baixos de humor que cabiam, por exemplo, num pedaço de pano do tamanho de uma moeda de cobre!... E coisa ainda mais estranha, Mabel Waring
sentia-se completamente fora de tudo aquilo, ao mesmo tempo que era presa de sentimentos contraditórios que a dividiam, e que, por outro lado, Mrs. Holman (o botão
preto) se inclinava para ela contando-lhe que o filho mais velho tinha o coração cansado devido a correr de mais: Mabel via-se, entretanto, reflectida no espelho,
como um ponto saliente; só que ao contemplar os dois pontos não lhe era possível acreditar que o ponto preto, por muito que se debruçasse para diante e se agitasse
em gestos repetidos, conseguisse que o ponto amarelo, na sua solidão e ensi-mesmamento, sentisse fosse o que fosse, só por um momento embora, de semelhante ao que
o ponto preto sentia, por mais que as duas fingissem exactamente o contrário.
"É tão difícil fazer um rapaz estar sossegado!" disse o ponto preto.
E Mrs. Holman que achava que nunca era capaz de obter dos outros quantidade bastante de simpatia, guardava a que, apesar de tudo, conseguia arrancar da conversa,
segura do seu direito a que lha dessem (ainda que, realmente, fosse merecedora de uma dose muito maior, já que a sua filha mais nova lhe aparecera naquela manhã
com um inchaço no joelho). Mas continuava a aceitar a atenção que Mabel lhe proporcionava, com certa desconfiança e algum ressentimento, como se estivesse a receber
meio penny quando lhe era devida uma libra, mas que arrecadava apesar disso, porque os tempos estavam maus: e por fim, afastou-se, um pouco despeitada, ferida, a
pensar de novo no joelho da filha.
Mas Mabel no seu vestido de noite amarelo, não se sentia com forças para arrancar de dentro de si nem mais uma só pequena gota de simpatia: era ela quem estava a
precisar de atenções, queria-as todas para si própria. Sabia (continuando a olhar para o espelho, mergulhando naquele aterrador lago azul) que estava condenada,
sentia-se desprezada, relegada para segundo plano, por ser uma criatura tão fraca e vacilante; e parecia-lhe que o vestido amarelo era a pena a que merecera ser
condenada, e que se estivesse vestida como Rose Shaw, com um cativante vestido verde brilhante e uma pluma de cisne, seria a mesma coisa; sabia que não havia escapatória
possível para si - não, não havia. Mas, apesar de tudo, a culpa não era dela. O problema era ter nascido numa família de dez pessoas, sempre com falta de dinheiro,
sempre a poupar e a contar tudo: e a mãe transportava grandes recipientes de um lado para o outro, o linóleo estava roto nas arestas dos degraus da escada, a uma
sórdida tragédia doméstica sucedia-se outra - nada de catastrófico nunca: havia a criação de carneiros numa quinta que falhara, mas não por completo: o irmão mais
velho casara abaixo do seu meio mas não excessivamente abaixo - nada havia nunca de romanesco, nada de extremos, nunca. Veraneavam todos respeitavelmente numa praia
de recurso: e ainda agora, nalgumas dessas praias, uma ou outra das suas tias devia continuar a aparecer para fazer repouso em quartos que nunca davam de frente
para o mar. Era aquele o género de toda família - remediar-se com as coisas possíveis, e ela própria fazia como as tias, era exactamente como elas. Porque todos
os seus sonhos de viver na índia, casada com um herói como Sir Henry Law-rence, uma espécie de construtor de impérios (e ainda actualmente ver um indiano de turbante
a mergulhava numa atmosfera romanesca), todos esses sonhos tinham falhado amargamente. Casara com Hubert, com o seu emprego seguro e vitalício, mas de segundo plano,
nos Tribunais, e ambos administravam remediadamente uma casa onde se sentiam sempre algo apertados, sem criadas à altura, comendo carne picada e por vezes almoçando
ou jantando apenas pão com manteiga quando estavam os dois sozinhos. De longe em longe - Mrs. Holman afas-tara-se, achando com certeza Mabel a pessoa mais seca e
antipática que alguma vez conhecera, e ainda por cima com aquele vestido incrivelmente absurdo, coisas que não tardaria, sem dúvida, a comunicar a toda a gente que
lhe desse ouvidos - de longe em longe, pensava Mabel para consigo, esquecida num sofá azul, cujas almofadas ia arranjando para ter ar de estar ocupada, uma vez que
não se sentia nada inclinada a ir ter com Charles Burt ou com Rose Shaw que ali estavam, agora mesmo, a conversar e a rir perto do fogão, talvez troçando os dois
dela - de longe em longe, aconteciam certos instantes de maravilha na sua existência: por exemplo, estivera a ler na cama, na noite anterior, e durante as férias
da Páscoa deitara-se na praia - como gostava de se lembrar disso agora! - contemplando um grande maciço de liquens pálidos, recortados no céu semelhante a uma cúpula
de porcelana, macio e denso ao mesmo tempo, enquanto as vagas se faziam ouvir devagar, misturadas aos gritos de alegria das crianças que brincavam na areia - sim,
havia instantes divinos, em que ela se sentia descansada ao abrigo das mãos de uma divindade, e a divindade era o universo inteiro nesses instantes: uma divindade
com o coração algo duro, mas também cheia de beleza, que talvez fosse possível simbolizar por meio de um cordeiro deitado num altar (disparates que passam pela cabeça
de uma pessoa e que não chegam a ter a mínima importância, porque nunca se contam a mais ninguém). E também, de quando em quando, com Hubert havia momentos semelhantes,
no seu inesperado - ao cortar o carneiro do almoço de domingo, assim sem razão, ou ao abrir uma carta, ou ao entrar numa sala - instantes divinos em que ela dizia
para consigo (apenas para consigo, porque nunca o diria realmente a mais ninguém): "É isto. Sempre aconteceu! É isto!" E o outro lado das coisas era igualmente surpreendente
- quer dizer, quando tudo estava arranjado -, havia música, bom tempo, férias - e existiam todas as razões de felicidade à sua frente, nada acontecia afinal. Ela
não se sentia feliz. Tudo parecia vazio, apenas vazio, e era tudo.
Era aquela desgraçada maneira de ser, já não podia duvidar! Fora sempre uma mãe aborrecida, fraca, insatisfatória, uma esposa baça, deambulando ao acaso numa espécie
de existência crepuscular, nada era nunca muito claro ou forte, nunca havia coisa nenhuma que valesse mais que as outras; e ela era assim, como todos os seus irmãos
e irmãs, excepto talvez Her-bert - porque todos eles eram as mesmas criaturas com água nas veias e incapazes de fazer fosse o que fosse de sólido. Depois, no meio
desta vida rastejante e de verme, subitamente sintia-se na crista da vaga. A mosca náufraga - onde lera ela essa história que lhe lembrava a todo o momento da mosca
e do pires de leite? - ainda lutava. Sim, havia instantes diferentes. Mas agora Mabel estava com quarenta anos, e esses instantes tornavam-se cada vez mais raros.
A pouco e pouco deixaria de lutar. Tudo aquilo era deplorável! Não era possível aguentar mais! Sentia vergonha de si própria!
Havia de ir no dia seguinte à London Library. Já descobriu por lá um livro espantoso, maravilhoso, indispensável; era um livro assim, descoberto por acaso, escrito
por um pastor, por um americano talvez, de quem ninguém ouvira ainda falar; ou havia de ir pelo Strand e tropeçaria, acidentalmente, numa sala de conferências onde
um mineiro estivesse a descrever a vida nos poços das minas, e sentiria, ao ouvi-lo, que se trasformara numa pessoa diferente. Envergaria um uniforme; passaria a
ser a Irmã Fulana; nunca mais pensaria em vestidos, nunca mais. E para sempre sentiria uma certeza perfeita acerca de Charles Burt e de Miss Milan e desta sala e
da outra sala; e para sempre seria, hoje e amanhã, como se estivesse deitada ao sol ou a cortar a carne do almoço de domingo. Para sempre!
Levantou-se então do sofá azul, e o botão amarelo no espelho levantou-se também, e Mabel acenou com a mão a Charles e a Rose para lhes mostrar que em nada dependia
deles, e o botão amarelo desapareceu do espelho, e todos os dardos voltaram a atingi-la no peito enquanto se dirigia a Mrs. Dalloway e lhe dava as boas-noites.
"Mas é ainda tão cedo", disse Mrs. Dalloway, encantadora como de costume.
"Tenho mesmo que ir andando", respondeu Mabel Waring. "Mas", acrescentou na sua voz fraca e insegura, que se tornava ainda mais ridícula quando tentava erguê-la
um pouco, "gostei imenso de ter vindo."
"Gostei imenso", disse depois a Mr. Dalloway, quando o encontrou já nas escadas.
"Mentiras, mentiras, mentiras!", murmurou para consigo, finalmente, ao descer as escadas, e "mesmo no meio do pires de leite", repetiu ao agradecer a Mrs. Barnet,
que a ajudava a enfiar o casaco chinês que uma e outra, e outra, e outra vez ainda, voltara a vestir sempre que tinha que sair ao longo dos últimos vinte anos.
Virgínia Woolf: VIAJANTE SOLITÁRIA DE REGIÕES DESCONHECIDAS
Em "A Casa Assombrada" estão reunidos alguns dos mais inovadores contos originalmente escritos em inglês.
É certo que Virgínia Woolfnão é uma contista e que foi em romances como "Orlando" e "As Vagas" que sobretudo cumpriu o "insaciável desejo de escrever alguma coisa
antes de morrer". Mas é em contos como "A Marca na Parede", "Lappin e Lapinova" e "O Legado", que melhor nos revela o modo como soube captar a eva-nescente matéria
da vida, um universo feminino que os homens desfazem revelando que a marca na parede é uma lesma, recusan-do-se a recriar a vida de coelhos no ribeiro ao fundo da
floresta ou tornando-se apenas insensivelmente desatentos.
Talvez por isso tais contos permitam compreender um pouco da vida e da morte de Virgínia Woolf.
Numa manhã clara e fria de Março de 1941, Virgínia Woolf sai de sua casa em Rodmell, no vale do Ouse. Em tranquilo passo exausto caminha entre o pomar e o tanque,
em que se movimentam silenciosos peixes.
É uma saída sem regresso, esta.
Virgínia Woolf escrevera, antes, a seu marido Leonard:
"Tenho a certeza de que vou enlouquecer outra vez. Sinto-me incapaz de enfrentar de novo um desses terríveis períodos. Começo a ouvir vozes e não consigo concentrar-me
(...). Se alguém pudesse salvar-me serias tu (...). Não posso destruíra tua vida por mais tempo."
E, finalmente, uma frase inesperada, que retoma a que Terence diz a Rachel morta, em Voyage Out, seu primeiro romance.
"Não creio que dois seres pudessem ser mais felizes do que nós ofomos."
Virgínia Woolf passa junto da cabana aberta ao sol, onde habitualmente escreve. Olhada apenas pela manhã, dirige-se ao rio Ouse. Tal como os céus de Inglaterra invadidos
pela aviação nazi, o seu corpo é um campo de batalha devastado pelas emoções.
Perdidos estão os dias em que tudo era intenso e possível.
"Gosto de beber champanhe e de me excitar loucamente. Gosto de ir de carro a Rodmell numa sexta-feira de calor e comer presunto frio e ficar sentada numa esplanada
a fumar em companhia de um ou dois mochos."
Virgínia Woolf é agora assaltada pelas vozes que escrevendo procurou esconjurar. Ouve os seus mortos. O desaparecimento de sua mãe Julie, levara-a a escrever aos
13 anos que "estava perante o maior desastre que poderia acontecer". Depois foi a longa agonia de seu pai, Leslie Stephen. E a morte do irmão Thoby acompanhou-a
sempre.
Virgínia Woolf atravessa frequentes períodos depressivos. Um livro acabado, a expectativa de uma crítica desfavorável, a nostalgia dos filhos que não tem, o riso
provocado pelo seu gosto por uma pintura verde, podem transformá-la numa crisálida. Tais períodos são, em geral, criadores:
"Se pudesse ficar uns quinze dias de cama creio que poderia ver "As Ondas" integralmente.
Penso que estas doenças são, no meu caso, parcialmente místicas. Passa-se qualquer coisa no meu espírito. Ele recusa-se a continuar a registar impressões. Fecha-se
sobre si. Fico num estado de torpor, muitas vezes acompanhado de um agudo sofrimento físico. Depois, subitamente, qualquer coisa brota do meu interior."
Três vezes a depressão a levou a tentar o suicídio. Mas depois de cada crise "tinha desejo de saltar o muro e colher algumas flores".
Neste ano de 1941, em que a guerra adensa as sombras que a cercam, Virgínia Woolf parece esbarrar num muro invisível escrevendo Beetween theActs.
Mais que das outras vezes o seu corpo deve parecer-lhe "monstruoso e a boca sórdida" e os objectos com "aspectos sinistros e imprevisíveis, às vezes estranhamente belos".
O apelo das águas
A Virgínia Woolf que neste 28 de Março de 1941 caminha respondendo ao apelo das águas, já pouco tem de ave fantástica que levantava bruscamente a cabeça para captar
uma frase que a seduzia.
Tem agora quase sessenta anos, escreveu nove romances, sete volumes de ensaios, duas biografias, um diário e alguns contos.
O corpo frágil adquiriu uma elegância angulosa. No rosto oval, o tempo passou deixando as marcas do cansaço. A "boca parecia nunca ter sorrido", diz Marguerite Yourcenar
a sua tradutora francesa que meses antes a visitara. Até os olhos, de um azul quase verde, estão ausentes.
" Vogo sobre agitadas ondas e quando for ao fundo ninguém estará lá para me salvar."
Está junto ao rio. Enche os bolsos da capa com pedras e depõe a bengala e os óculos sobre a margem.
Olha as águas desfocadas que sempre fascinaram a sua imaginação e lhe inspiraram as palavras.
Em "Voyage Out" fizera Rachel desejar "ser lançada nas águas, balouçar nas ondas, ser arrastada para aqui e para ali, transportada até às raízes do mundo".
E em "As Ondas" Rhoda pensa, olhando a maré que sobe e agita os barcos: "Deixar-me ir, abandonar-me à minha dor, entregar-me completamente ao meu desejo sem cessar
recalcado, de me perder, de me consumir."
Agora todas as suas palavras, todos os fósforos que soubera riscar na escuridão, se revelavam excessivas. Bordejava de novo a loucura que recusa todas as recuperações.
A loucura que no livro Mrs. Dolloway projectara em Septimus que, como ela, amava Shakespeare, a luz e as árvores e se sentia, um "proscrito que olhava para trás,
para as terras habitadas, jazendo como um náufrago, na praia de um mundo deserto".
Virgínia Woolf mergulhou no rio. Todas as luzes do mundo se apagaram.
Era a morte desejada em Voyage Out:
"Tanto melhor. Era a morte. Não era nada. Ela tinha deixado de respirar - era tudo. A felicidade perfeita. Acabavam de obter o que sempre haviam desejado - a união
que não tinham conseguido realizar em vida. Nunca houve dois seres tão felizes como nós o fomos."
Era a morte desafiada em "As Ondas".
"A morte é o nosso inimigo. E contra a morte que eu cavalgo, espada nua e cabelos soltos ao vento como os de um jovem, como flutuavam os cabelos de Perceval galopando
nas índias."
O corpo foi durante semanas levado por essa torrente, que Virgínia Woolf "arrastava consigo como as estrelas arrastam a noite, e que a arrastou por fim, como a noite
arrasta uma estrela" (Cecília Meireles).
Cumprira, porém, o insaciável desejo de escrever alguma coisa antes de morrer.
As suas palavras subiram do vale de Ouse, voltearam sobre os campanários do Sussex, cada vez mais altas, cada vez mais longe, cada vez mais próximas.
Virgínia Woolf tivera, como Orlando, o selvagem impulso de acompanhar os pássaros até ao fim do mundo. Os pássaros abandonavam a metáforafazendo-se palavras.
Em "A Casa Assombrada" estão reunidos alguns dos mais inovadores contos originalmente escritos em inglês.
É certo que Virginia Woolf não é uma contista e que foi em romances como "Orlando" e "As Vagas" que sobretudo cumpriu o "insaciável desejo de escrever alguma coisa antes de morrer". Mas é em contos como "A Marca na Parede", "Lappin e Lapinova" e "O legado", que melhor nos revela o modo como soube captar a evanescente matéria da vida, um universo feminino que os homens desfazem revelando que a marca na parede é uma lesma, recusando-se a recriar a vida de coelhos no ribeiro ao fundo da floresta ou tornando-se apenas insensivelmente desatentos.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_CASA_ASSOMBRADA.jpg
A MARCA NA PAREDE
Foi talvez por meados de Janeiro deste ano que vi pela primeira vez, ao olhar para cima, a marca na parede. Quando queremos fixar uma data precisamos de nos lembrar
do que vimos. Assim, lembro-me de o lume estar aceso, de uma faixa de luz amarela na página do meu livro, dos três crisântemos na jarra de vidro redonda na chaminé.
Sim, tenho a certeza de que foi no Inverno, e tínhamos acabado de tomar chá, porque me recordo de estar a fumar um cigarro quando olhei para cima e vi a marca na
parede pela primeira vez. Olhei para cima através do fumo do cigarro e o meu olhar demorou-se por um momento nos carvões em brasa do fogão e veio-me à ideia a velha
fantasia da bandeira escarlate tremulando no alto da torre do castelo, e pensei na cavalgada dos cavaleiros vermelhos subindo a encosta do rochedo negro. Foi com
certo alívio que a imagem da marca na parede interrompeu esta fantasia, porque se trata de uma velha fantasia, de uma fantasia automática, vinda talvez dos meus
tempos de criança. A marca era uma pequena mancha redonda, negra contra a parede branca, a cerca de seis ou sete polegadas do rebordo da chaminé.
É surpreendente a rapidez com que os nossos pensamentos se precipitam sobre um novo objecto, o transportam por um instante, do mesmo modo que as formigas se atiram
febrilmente a um pedaço de palha, que em seguida abandonam sem mais...
Se a marca tivesse sido feita por um prego, não podia ser para prender um quadro, apenas uma miniatura - a miniatura talvez de uma senhora com os anéis do cabelo
empoados, rosto coberto de pó-de-arroz e lábios vermelhos como cravos. Uma falsificação, é evidente, porque as pessoas que foram donas desta casa antes de nós deviam
gostar de ter pinturas desse género - um quadro velho para uma sala velha. Eram pessoas assim, pessoas muito interessantes, e penso nelas muitas vezes, quando me
vejo numa situação fora do vulgar, porque nunca voltarei a vê-las, nunca saberei o que lhes aconteceu a seguir. Queriam deixar a casa porque queriam mudar de estilo
de mobília, foi o que ele disse, numa altura em que estava a explicar que a arte devia ter sempre uma ideia por trás, e era como se fôssemos de comboio e víssemos
de passagem uma senhora de idade a servir chá e o jovem que bate a sua bola de ténis no jardim das traseiras da sua vivenda nos arredores.
Mas quanto à marca, não tinha a certeza do que pudesse ser; afinal de contas, não me parecia feita por um prego; é grande de mais, redonda de mais, para isso. Posso
levantar-me, mas se me levantar para a ver melhor, aposto dez contra um que continuarei a não saber o que é; porque, uma vez feita certa coisa ninguém sabe nunca
como é que tudo o que se segue aconteceu. Oh, meu Deus, o mistério da vida - a fraqueza do pensamento! A ignorância da humanidade! Vou contar algumas das coisas
que tenho perdido, o que basta para mostrar como controlamos poucos o que possuímos - como é precária a nossa vida após todos estes séculos de civilização; dessas
coisas perdidas misteriosamente - que gato as teria levado, que rato as terá roído? -, começarei por referir, por exemplo, três caixinhas azuis para guardar ferros
de encadernar, cujo desaparecimento é a perda mais misteriosa da minha vida. Depois há as gaiolas de pássaros, as argolas de ferro, os patins, a alcofa de carvão
Queen Anne, a caixa de jogos de cartão, o realejo - tudo isto desaparecido, além de algumas jóias também. Opalas e esmeraldas, que devem estar para aí enterradas
entre as raízes de um quintal. Uma complicação como não se pode imaginar, não haja dúvida! O que é de espantar, no fim de contas, é que eu esteja ainda vestida e
rodeada de móveis sólidos neste momento. Porque se quiséssemos um termo de comparação para a vida, o melhor seria o de um metropolitano, atravessando o túnel a cinquenta
milhas à hora - e deixando-nos do outro lado sem um gancho sequer no cabelo! Cuspidos aos pés de Deus, inteiramente nus! Rolando por campos de tojo como embrulhos
de papel pardo atirados para dentro de um marco de correio! E os cabelos puxados para trás pelo vento como a cauda de um cavalo nas corridas. Sim, são coisas destas
que podem dar uma ideia da rapidez da vida, a destruição e reconstrução perpétuas: tudo tão contingente, tão apenas por acaso...
Mas a vida. A lenta derrocada dos grandes caules verdes de tal modo que a flor acaba por se virar, ao cair, inundando-nos com uma luz de púrpura e vermelho. Porque
é que, bem vistas as coisas, não nascemos ali em vez de aqui, desamparados, incapazes de ajustarmos como deve ser a luz do olhar, rastejando na erva entre as raízes,
entre os calcanhares dos Gigantes? Porque dizer o que são as árvores, e o que são homens e o que são mulheres, ou sequer o que é haver coisas como árvores, homens
e mulheres, não será algo que estejamos em condições de fazer nos próximos cinquenta anos. Não há nada por vezes senão espaços de luz e de escuridão, intersectados
por grandes hastes densas e talvez bastante mais acima manchas em forma de rosa - rosa-pálido ou azul-pálido - de cor indecisa, e tudo isso, à medida que o tempo
passa, se vai tornando mais definido e se transforma - em não se pode saber o quê.
Mas a marca na parede não é, de maneira nenhuma, um buraco. Poderá ter sido o resultado de qualquer substância escura e arredondada, uma pequena folha de rosa, por
exemplo, deixada ali pelo Verão, uma vez que não sou uma dona de casa lá muito atenta a essas coisas - basta ver o pó que há na chaminé, o pó que dizem ter soterrado
Tróia por três vezes, destruindo tudo excepto os fragmentos de vasos que chegaram até nós.
Os ramos da árvore batem suavemente na vidraça.!. O que eu quero é pensar calmamente, com sossego e espaço, sem nunca ser interrompida, sem ter que me levantar nunca
da minha cadeira, deslizar com facilidade de uma coisa para a outra, sem qualquer sensação de contrariedade, qualquer obstáculo. Quero mergulhar fundo e mais fundo,
longe da superfície, com os seus factos e coisas quebrados por distinções e limites. Para me apoiar, vou seguir a primeira ideia que passar... Shakespeare... Bom,
serve tão bem como qualquer outra coisa. Um homem solidamente sentado numa cadeira de braços, a olhar o fogo, assim - enquanto uma torrente de ideias cai sem parar
de um céu muito alto, atravessando-lhe o pensamento. Apoia a fronte na mão, e as pessoas, espreitando pela porta aberta - porque é de supor que a cena se passe numa
noite de Verão. Mas como é estúpida esta ficção histórica! Não tem interesse absolutamente nenhum. O que eu quero é poder apanhar uma sequência de pensamentos agradáveis,
uma sucessão que possa reflectir indirectamente a minha própria capacidade, porque há pensamentos agradáveis, até muitas vezes no espírito cor de rato das pessoas
que menos gostam de ser elogiadas. Não são pensamentos que nos lisonjeiam directamente; mas são eles próprios que estão cheios de beleza; pensamentos como este:
"E depois entrei na sala. Eles estavam a discutir botânica. Eu disse-lhes que vira uma flor a crescer num monte de escombros de uma velha casa caída em Kingsway.
As sementes, disse eu, devem datar do reinado de Carlos I. Que flores havia no reinado de Carlos I?" Perguntei-lhes isso - mas não me lembro da resposta. Grandes
flores cor de púrpura, talvez. E assim por diante. A todo o momento vou construindo uma imagem de mim própria, apaixonadamente furtiva, que não posso adorar directamente,
porque se o fizesse, cairia imediatamente em mim e deitaria a mão a um livro num gesto de autodefesa. É curioso, com efeito, como uma pessoa protege a sua própria
imagem de toda a idolatria ou de qualquer outro sentimento que a possa tornar ridícula ou demasiado diferente do original para ser verosímil. Ou talvez não seja
assim tão curioso, afinal de contas? É uma questão da mais alta importância. Imagine-se que o espelho se partia, a imagem desaparece e a figura romântica rodeada
pela floresta profunda e verde desfaz-se; fica apenas essa concha exterior da pessoa que os outros habitualmente vêem - que insípido, oco, inútil e pesado se tornaria
o mundo! Um mundo onde não seria possível viver. Quando no autocarro ou sobre os carris do metropolitano encaramos os outros, estamos ao mesmo tempo a olhar para
o espelho; é por isso que se torna possível vermos então como os nossos olhos são vagos, vítreos. E os romancistas do futuro darão uma importância crescente a estes
reflexos, porque não há apenas um reflexo, mas um número quase infinito deste género de refracções; aí estão as profundidades que os romancistas do futuro terão
que explorar; esses os fantasmas que terão de perseguir, deixando cada vez mais de lado as descrições da realidade, pressupondo-a já suficientemente conhecida pelo
leitor, como fizeram também os Gregos e Shakespeare, talvez - mas estas generalizações começam a parecer-me inúteis. As ressonâncias militares da palavra "generalização"
são evidentes. Lembra-nos uma série de dispositivos destinados a conduzir as pessoas, gabinetes de ministros - toda uma quantidade de coisas que em crianças pensámos
serem as mais importantes, os modelos de tudo o que existe, e de que não poderíamos afastar-nos sem incorrermos no risco da condenação eterna. As generalizações
evocam os domingos em Londres, passeios de domingo, almoços de domingo, e também certas maneiras habituais de falar dos mortos, das roupas, das tradições - como
essa de nos sentarmos juntos à roda, na sala, até à hora do costume, embora ninguém goste de ali estar. Houve sempre uma regra para todas as coisas. A regra para
as toalhas de pôr em cima dos móveis, em certa época era que fossem de tapeçaria, com orlas amarelas em cima, como vemos nas fotografias das passadeiras dos corredores
dos palácios reais. Os panos de mesa diferentes não eram verdadeiros panos de mesa. Como era chocante e ao mesmo tempo maravilhoso descobrir que todas essas coisas
reais, almoços de do mingo, passeios de domingo, casas de campo e panos de mesa não eram inteiramente reais afinal e que a condenação que feria o descrente na sua
realidade era apenas uma sensação de liberdade ilegítima. O que é que ocupa hoje o lugar dessas coisas, pergunto-me, dessas coisas realmente modelares? Os homens
talvez, se se for uma mulher; o ponto de vista masculino que governa as nossas vidas, que fixa as regras de comportamento, estabelece a Mesa da Precedência segundo
o Whitaker, e que se tornou, parece-me, desde a guerra, apenas uma velha metade de fantasma para grande número de homens e mulheres, metade que, em breve, espero,
será posta no caixote do lixo, que é o fim dos fantasmas, dos armários de mogno e das publicações Landseer, dos Deuses e Demónios e o mais que se sabe, deixan-do-nos
por fim uma impressão tóxica de liberdade ilícita - se é que tal coisa existe, a liberdade...
Olhada de certo ângulo, a marca na parede parece tornar-se uma saliência. Também não é perfeitamente circular. Não posso ter a certeza, mas parece projectar uma
sombra, sugerindo que se eu percorresse a parede com o dedo, este subiria e desceria, num dado ponto, um pequeno túmulo, como essas elevações dos South Downs que
não sabemos se são tumbas ou acidentes do terreno. A minha preferência vai para os túmulos, são eles a minha alternativa, porque gosto da melancolia como a maioria
dos ingleses, e acho natural evocar no fim de um passeio os ossos enterrados por baixo da vegetação rasteira... Deve existir algum livro a esse respeito. Algum arqueólogo
deve já ter desenterrado os ossos e ter-lhes-á também posto nome... Que género de homem serão esses arqueólogos, pergunto-me. Coronéis aposentados, na sua maioria,
tenho a certeza, conduzindo lavradores idosos, examinando punhados de terra e algumas pedras e trocando correspondência com os padres da vizinhança, cujas cartas
de resposta, abertas ao pequeno-almoço, fazem os coronéis reformados sentir-se importantes, além de que as pesquisas têm ainda a vantagem de exigirem deslocações
pelo condado até à cidade local, necessidade tão agradável para eles como para as suas esposas envelhecidas, que gostam de fazer doce de ameixa ou tencionam limpar
o escritório e que por isso alimentam a incerteza acerca da alternativa entre campas e acidentes de terreno que faz sair os seus maridos, enquanto estes se sentem
cheios de um prazer filosófico à medida que acumulam provas nos dois sentidos do debate. É verdade que o coronel acaba por se inclinar para a hipótese dos acidentes
de terreno: e ao deparar com alguma oposição, edita um folheto que será lido numa sessão da assembleia local, altura em que uma apoplexia o deita por terra, e os
seus últimos pensamentos conscientes não são para a mulher ou para os filhos, mas para o campo que estava a ser discutido e para a ponta de flecha que lá se encontrou
e que aparece em seguida no museu da cidade, juntamente com o sapato de uma assassina chinesa, um punhado de pregos isabelinos, uma profusão de cachimbos de porcelana
Tudor, um vaso de cerâmica romana e o copo por onde Nelson bebeu - tudo isto provando que nunca será realmente possível saber que histórias.
Não, não, nada se encontra provado, nada se sabe. E se eu me levantasse neste preciso momento e me certificasse de que a marca na parede é realmente - o quê, por
exemplo? - a cabeça de um gigantesco prego, ali colocado há duzentos anos e que, graças à erosão pacientemente provocada por várias gerações de criadas, deita de
fora a cabeça, rompendo a camada de pintura da parede e observando as primeiras imagens da vida moderna nesta sala branca e com um fogão aceso, que ganharia com
isso? - Conhecimento? Tema para posteriores especulações? Posso pensar tão bem continuando sentada como se me levantasse. E o que é o conhecimento? O que são os
nossos homens instruídos senão os descendentes das feiticeiras e eremitas das grutas e florestas, que apanhavam plantas, interrogavam o voo do morcego e transcreviam
a linguagem das estrelas? E quanto menos os honrarmos, quanto menos crédito lhes der a nossa superstição, mais o nosso respeito pela saúde e pela beleza hão-de crescer...
Sim, é-nos possível imaginar um mundo muito mais agradável. Um mundo tranquilo, espaçoso, com um sem fim de flores vermelhas e azuis nos campos sem muros. Um mundo
sem professores nem especialistas nem donas de casa com perfil de polícias, um mundo por onde se poderá deslizar na companhia dos próprios pensamentos, tal como
um peixe desliza na água que passa, tocando de leve o manto de nenúfares da superfície, enquanto os ninhos entre as ramagens da vegetação que cobre as águas guardam
os seus ovos de pássaros aquáticos... Como se está em paz aqui, ao abrigo, no centro do mundo e olhando para cima através das águas cinzentas, com os seus lampejos
súbitos de luz e os seus reflexos - se não fosse o Whitaker's Almanack - se não fosse a Mesa da Presidência!
Preciso de me levantar daqui e de me inteirar do que será realmente aquela marca na parede - um prego, uma folha de roseira, uma racha na madeira?
Lá está a natureza, uma vez mais, no seu velho jogo de autodefesa. Esta corrente de pensamento, ela deu por isso já, é ameaçadora para mim, arrasta-me para um gasto
inútil de energia, talvez mesmo para algum choque com o mundo real, como é de esperar que aconteça a quem se mostra capaz de levantar um dedo contra a Mesa da Presidência
de Whitaker. O Arcebispo de Cantuária traz atrás de si o Lorde Chanceler; o Lorde Chanceler é seguido pelo Arcebispo de York. Toda a gente vem a seguir a alguém,
eis a filosofia de Whitaker: e é uma grande coisa saber-se quem segue quem. Whitaker sabe e deixemos, como a natureza recomenda, que isso nos conforte, em vez de
nos enfurecer: e se não pudermos ser confortados, se temos que estragar esta hora de harmonia, pensemos então na marca na parede.
Compreendi o jogo da Natureza - a sua rápida exigência de actividade que ponha fim a qualquer pensamento que ameace de excitação ou de dor. Daí, suponho eu, a nossa
pouca estima pelos homens de acção - homens que, de acordo com as nossas ideias, não pensam. No entanto, não há mal em uma pessoa deter decididamente os seus pensamentos
desagradáveis contemplando uma marca na parede.
Na verdade, agora que nela fixei melhor os olhos, tenho a impressão de ter lançado uma tábua ao mar: experimento uma agradável sensação de realidade, relegando imediatamente
os dois arcebispos e o lorde chanceler para o mundo das sombras. Eis uma coisa definida, uma coisa real. Do mesmo modo, ao acordarmos de um pesadelo à meia-noite,
apressamo-nos a acender a luz e ficamos descansados na cama, dando graças à cómoda, dando graças aos objectos sólidos em volta, dando graças à realidade, ao mundo
impessoal que nos rodeia e é uma prova de que algo mais existe para além de nós próprios. É isso que então precisamos de saber... A madeira é uma bela coisa para
se pensar nela. Vem de uma árvore: e as árvores crescem, e nós não sabemos porque é que elas crescem. Crescem durante anos e anos, sem nos prestarem atenção, crescem
nas colinas, nas florestas e à beira dos rios - tudo coisas em que é bom pensar. As vacas sacodem a cauda debaixo delas nas tardes quentes de Verão; e as suas folhas
tornam os ribeiros tão verdes que se uma galinhola aparece agora, quase esperamos que as suas penas se tenham tornado verdes também. Gosto de pensar no peixe que
balouça contra a corrente como as bandeiras tremulam ao vento; e nos insectos de água que abrem lentamente os seus túneis no fundo do regato. Gosto de pensar na
própria árvore: primeiro na sensação abrigada e seca de ser madeira: depois na agitação das tempestades; depois no lento e delicioso escorrer interior da seiva.
Gosto de imaginar também as noites de Inverno, ser então uma árvore de pé no campo raso cheio à volta de folhas desfeitas e caídas, sem nada em mim de vulnerável
que receie expor-se aos raios de aço da lua, um mastro nu cravado na terra que treme e treme durante a noite inteira. O canto dos pássaros deve parecer muito cheio
de força e estranho pelo mês de Junho; e os pés dos insectos devem sentir-se frios enquanto sobem penosamente pela casca rugosa e encontram as folhas verdes que
rebentam e as olham com os seus olhos vermelhos marchetados como diamantes... Uma a uma as fibras despertam sob a imensa pressão fria da terra, e depois chega a
última tempestade do ano e os ramos mais altos caem de novo no chão em redor. Mas a vida não se vai por tão pouco e há milhões de vidas pacientes por cada árvore,
espalhadas por todo o mundo, em quartos de dormir, em navios, nas ruas, salas onde homens e mulheres se sentam depois do chá e fumam os seus cigarros. Está cheia
de pensamentos pacíficos, de pensamentos felizes, esta árvore. Gostava de pegar agora em cada um deles separadamente - mas alguma coisa vem atravessar-se no caminho...
Onde ia eu? Era acerca de quê, tudo isto? Uma árvore? Um rio? As colinas? O Whitaker's Almanack? Os campos asfódelos? Não sou capaz de me lembrar de coisa nenhuma.
Tudo se move, cai, desliza e se esvai... As ideias sublevam-se com força e fogem. Alguém aparece de pé ao meu lado e diz:
"Vou sair para comprar o jornal."
"Sim?"
"Apesar de não valer a pena comprar os jornais... Não há nada de novo. A culpa é da guerra; maldita seja esta guerra!... E ainda por cima, aquela lesma na parede,
que não fazia cá falta nenhuma."
Ah! A marca na parede! Era uma lesma...
A CASA ASSOMBRADA
Fosse qual fosse a hora a que acordássemos, havia sempre uma porta que batia. De sala em sala ou de quarto em quarto, um par de fantasmas de mão dada ia mexendo
aqui, abrindo ali, fazendo isto ou aquilo.
"Foi aqui que o deixámos", dizia ele. E ela acrescentava: "Oh, ali também!" "É em cima", murmurava ela. "E no jardim", sussurrava ele. "Cuidado, devagar", diziam
ambos, "ou vamos acordá-los".
Mas não era isso que nos acordava. Oh, não! "Lá andam à procura; estão a levantar as cortinas", dizíamos, por exemplo, e continuávamos a leitura por mais uma ou
duas páginas. "Agora acharam", podíamos ter por fim a certeza, detendo o lápis na margem do livro. E depois, uma pessoa, já cansada de ler, podia pôr-se a procurar
por sua própria vez, levantando-se e andando pela casa vazia, com as portas deixadas abertas, e ouvindo apenas arrulhar os pombos no bosque ou a máquina de debulhar
ao longe na quinta. "O que é que eu estou aqui a fazer? Afinal andava à procura de quê?" As minhas mãos estão vazias. "Talvez seja então lá em cima?" As maçãs estão
no sótão. Já estou cá em baixo outra vez, o jardim continua tranquilo, apenas o livro escorregou e caiu na relva.
Mas eles acharam qualquer coisa na sala. Não que nos seja possível ver. Os vidros da janela reflectem maçãs, reflectem rosas; as folhas caídas na relva continuam
verdes. Quando eles se mexeram na sala, as maçãs viravam para nós apenas a sua parte amarela. No entanto, um momento depois, quando a porta da sala ficou aberta,
havia espalhada no chão, pendurada no tecto, qualquer coisa - o quê? As minhas mãos estavam vazias. Então a sombra de um pássaro cruzou o tapete; dos poços mais
profundos do silêncio, o pombo bravo soltou o seu arrulho. "Salvos, salvos, salvos", pulsa devagar o coração da casa. "O tesouro enterrado; a sala...", o pulsar
interrompeu-se de repente. Oh! Era então o tesouro enterrado?
Um instante mais tarde a luz pareceu embaciada. Talvez no jardim? Mas as árvores conservavam a sua escuridão frente a um raio luminoso que o sol lhes dirigia. Mas
bela, rara, friamente indiferente para além da superfície, a luz que eu procurava continuava a arder do outro lado da vidraça. A morte era o vidro; a morte estava
entre nós; vinha da mulher que pela primeira vez, centenas de anos antes, deixara para sempre aquela casa, calafetando as janelas; as salas estavam mergulhadas no
escuro. Ele fora-se embora, deixara-a; foi para o Norte, foi para o Leste, viu as estrelas do cruzeiro do Sul; depois, voltou em busca da casa e descobriu-a, mergulhada
ao fundo, por trás das colinas. "Salvos, salvos, salvos", começou a pulsar de novo alegremente o coração da casa. "O Tesouro pertence-te."
O vento assobia na álea maior do jardim. As árvores agitam-se de um lado para o outro. Os raios do luar rebentam e espalham-se desordenadamente na chuva. Mas a luz
da lâmpada desce a direito da janela. A candeia arde bem e tranquila. Vagueando pela casa, abrindo as janelas, segredando para não nos acordar, o par de fantasmas
procura a sua alegria.
"Dormimos aqui", diz ela. E ele acrescenta: "Beijos sem conto." "O acordar de manhã" - "Prata entre as árvores" - "Lá em cima" - "No jardim" - "Quando o Verão chegou"
- "Quando neva no Inverno"... As portas fecham-se num rumor à distância, batendo devagar como as pulsações de um coração.
E eles aproximam-se; param à porta. O vento cai, a chuva desliza, de prata, pela janela. Faz escuro nos nossos olhos; já não ouvimos outros passos para além dos
nossos; não vemos nenhum casaco de senhora a desdobrar-se. As mãos dele tapam o clarão da lâmpada. "Olha", murmura ele. "Sono sossegado. O amor nos lábios deles."
Inclinados, o candeeiro seguro por cima de nós, olham-nos profunda e longamente. Demoram-se imóveis. O vento ergue-se de leve; a chama inclina-se um pouco mais.
Raios de luar bravios atravessam o chão e as paredes e iluminam, ao encontrarem-nos, os rostos debruçados; os rostos que velam; os rostos que observam os adormecidos
e espreitam a sua alegria oculta.
"Salvos, salvos, salvos", o coração da casa pulsa cheio de orgulho. "Há tantos anos" - suspira ele. "Encontraste-me outra vez." "Aqui", murmura ela "a dormir; no
jardim a ler; a rir; a guardar maçãs no sótão. Aqui deixámos o nosso tesouro." - Inclina-se de novo; a leve claridade toca a pálpebra dos meus olhos. "Salvos, salvos,
salvos", pulsa vibrante agora o coração da casa. Ao acordar, exclamo: "Oh, é isto o vosso tesouro escondido? A luz no coração."
SEGUNDA OU TERÇA-FEIRA
Indiferente e ociosa, batendo sem esforço o espaço com as asas, segura do seu caminho, a garça passa por cima da igreja, atravessando o céu. Branco e distante, absorto
em si próprio, o céu abre-se e fecha-se sem fim, passa e fica sem fim. Um lago? As suas praias perdem os contornos. Uma montanha? Oh, como é perfeito o doirado do
sol nas suas encostas! Colunas que descem: depois a folhagem dos fetos, ou das plumas brancas, para sempre e sempre.
Deseja-se a verdade, fica-se à sua espera, enquanto se destilam laboriosamente algumas palavras - (um grito à esquerda, outro grito à direita. Rodas de engrenagem
divergentes. Uma concentração de autocarros em sentidos opostos) - porque se deseja sempre - (o relógio afiança com doze badaladas extremamente precisas que é meio-dia;
a luz desdobra-se numa escala de ouro: aparece um enxame de crianças) -, deseja-se para sempre a verdade. A cúpula é vermelha; há moedas suspensas nos ramos das
árvores: o fumo sai das chaminés; um grito rasgado e estridente de "Ferro para vender!" - e a verdade?
Há um ponto algures de onde irradiam passos de homem e passos de mulher, a negro ou a doirado - (Este tempo de neblina - Açúcar? - Não, obrigado - A comunidade do
futuro) -, o clarão do fogo a irromper, tornando vermelha a sala, as figuras negras e os seus olhos iluminados, enquanto lá fora está o furgão a fazer a descarga,
Miss Qualquer Coisa toma o seu chá à mesa de leitura e as muralhas de vidro protegem os casacos de peles.
Coisas que se mostram, pétalas de luz, flutuando nas esquinas, soprando entre as rodas, uma aspersão de prata, dentro ou fora de casa, coisas recolhidas ou que se
desdobram, dispersas por múltiplas dimensões, arrastando-se em cima, por baixo, rasgando-se, escoando-se e reunindo-se de novo - sim, mas a verdade?
Agora é a vez da recordação entreaberta à luz do fogo aceso no quadro de mármore branco. Das profundidades de marfim as palavras sobem e espalham a sua negra obscuridade,
florescem e penetram. O livro está caído; há as chamas, o fumo, as centelhas de um momento - depois, o início da viagem, com o relógio por cima da moldura de mármore,
os minaretes por baixo da torre do relógio e os mares do Oriente, enquanto o espaço é uma precipitação de azul e as estrelas esplendem - verdade? - ou tudo se recolhe
agora, fechando-se em redor.
Indiferente e ociosa, a garça regressa; o céu encobre e depois desnuda as suas estrelas.
LAPPIN E LAPINOVA
Tinham casado. Rebentara no ar a marcha nupcial. Os pombos esvoaçavam. Alguns rapazes com o uniforme de Eton atiraram-lhes arroz; um fox-terrier corria de um lado
para o outro; e Ernest Thorburn conduziu a sua noiva até ao carro através da pequena multidão curiosa de pessoas completamente desconhecidas que se junta sempre
nas ruas de Londres para desfrutar da felicidade ou da desgraça dos outros. Sem dúvida, tratava-se de um noivo elegante, e ela tinha um ar intimidado. O arroz foi
atirado uma vez mais e o carro partiu.
Fora na terça-feira. Era agora sábado. Rosalind precisava ainda de se habituar ao facto de ser agora Mrs. Ernest Thorburn. Talvez nunca lhe fosse possível, porém,
habituar-se ao facto de ser Mrs. Ernest Qualquer Coisa, pensou ela, enquanto se sentava junto da janela larga do hotel, contemplando o lago e as montanhas, e esperava
que o marido descesse para o pequeno-almoço. Era difícil uma pessoa habituar-se ao nome de Ernest. Não era de maneira nenhuma o nome que ela teria escolhido. Teria
preferido Timothy, Antony, ou Peter. O nome dele evocava coisas como o Albert Memorial, armários de mogno, gravuras metálicas do Príncipe Consorte em família - ou,
em suma, a sala de jantar da sogra em Porchester Terrace.
Mas ali estava ele. Graças a Deus não tinha cara de Ernest - nada mesmo. Mas teria ar de quê? Relanceou-o obliquamente por várias vezes. Bom, enquanto estava a comer
aquela torrada parecia um coelho. Não que qualquer outra pessoa fosse capaz de descobrir a mínima semelhança com um animal tão pequeno e tímido naquele jovem aprumado
e com bons músculos, nariz direito, olhos azuis, boca de traço firme. Mas era ainda mais engraçado por causa disso. O nariz dele franziu-se levemente ao trincar
a torrada. Era assim que o coelho de estimação dela também costumava fazer noutro tempo. Ficou a olhar aquele nariz que se franzia; e depois teve de explicar, quando
ele a surpreendeu a observá-lo, porque é que estava a rir.
"É que tu és como um coelho, Ernest", disse ela. "Como um coelho bravo", acrescentou, olhando-o de novo. "Um coelho de caça; um Rei Coelho; um coelho que faz a lei
dos outros coelhos."
Ernest não tinha qualquer objecção a ser um coelho de tal espécie, e como a divertia vê-lo franzir o nariz - embora ele nunca tivesse dado por que fazia semelhante
coisa -, franziu-o de propósito. Ela riu uma e outra vez e ele ria também, de tal modo que as duas senhoras solteironas e o pescador e o criado suíço com o seu lustroso
casaco preto, todos eles adivinharam certo; ele e ela eram muito felizes. Mas quanto tempo dura uma felicidade assim? - perguntaram-se as pessoas para consigo; e
cada uma delas respondeu de acordo com o que as suas experiências lhe lembravam.
À hora do almoço, sentados junto de uma moita de urze perto do lago: "Alface, coelho?" perguntou Rosalind, pegando numa folha de alface que acompanhava os ovos cozidos.
"Vem cá, comer à minha mão", acrescentou ela, e ele mordiscou e provou a alface, franzindo o nariz.
"Coelho bonito, coelho bom", disse ela, acariciando-o, como costumava acariciar outrora o seu coelho de estimação. Mas ele não era, apesar de tudo, um coelho; não
era um coelho. Então traduziu a palavra para francês. "Lapin", chamou-o. Mas ele era integralmente inglês - nascido em Porchester Terrace, educado em Rugby; agora
advogado dos Serviços Civis de Sua Majestade. Tentou, por isso, a seguir, chamar-lhe "Bunny"; mas era ainda pior. "Bunny" era uma coisa gorducha e macia e cómica;
ele era magro e decidido e sério. No entanto, franzia também o nariz. "Lappin", exclamou ela de súbito; e soltou um gritinho como se tivesse encontrado a palavra
exacta que desejava.
"Lappin, Lappin, Rei Lappin", repetiu ela. Parecia assentar-lhe na perfeição; o nome dele não era Ernest, era Rei Lappin. Porquê? Isso não sabia.
Quando não tinham nada de novo de que falarem ao longo dos seus grandes passeios solitários - e ainda por cima chovia, como toda a gente previra que ia acontecer:
ou quando estavam sentados junto ao lume à noite, porque estava frio, e as senhoras solteironas e o pescador se tinham ido embora, e o criado só viria se tocassem
a chamá-lo, ela deixava a sua fantasia ir criando a história da tribo Lappin. Nas suas mãos - enquanto cosia e ele lia - esta tribo tornava-se intensamente real,
intensamente viva, e cheia de graça também. Ernest poisou o livro e começou a ajudá-la. Havia coelhos negros e coelhos vermelhos; havia coelhos inimigos e coelhos
amigos. Havia o bosque onde viviam e os prados em volta e a charneca. Acima de todos en-contrava-se o Rei Lappin, que, muito longe de possuir apenas aquela arte
natural - de torcer o nariz -, se tornava à medida que o tempo ia correndo, um animal de nobilíssimo carácter; Rosalind estava sempre a descobrir-lhe novas qualidades.
Mas era, acima de tudo, um grande caçador.
"E como", disse Rosalind no último dia da lua-de-mel, "passou o Rei o seu dia?"
Na realidade, tinham andado a passear todo o dia; e ela ficara com uma bolha no calcanhar; mas não se importava com isso.
"Hoje", disse Ernest, franzindo o nariz, enquanto cortava a ponta do charuto, "o Rei caçou uma lebre". Interrompeu-se; riscou um fósforo, e voltou a franzir o nariz.
"Uma mulher lebre", acrescentou.
"Uma lebre branca!", exclamou Rosalind, como se fosse daquilo que estava à espera. "Uma lebre pequena; acinzentada de prata; com os olhos brilhantes?"
"Sim", disse Ernest, olhando-a como ela o olhava, "um animal minúsculo; com os olhos a saltarem-lhe do focinho e duas lindas patinhas da frente." Era exactamente
assim que ela estava sentada, com a costura segura nas mãos, e com os olhos que de tão grandes e brilhantes acabavam por ficar um pouco salientes no seu rosto.
"Ah, Lapinova", murmurou Rosalind.
"É assim que ela se chama?" perguntou Ernest - "a autêntica Rosalind?" E olhou para ela. Sentia-se intensamente apaixonado por ela.
"Sim; é assim que se chama", disse Rosalind. "Lapinova". E antes de irem para a cama nessa noite, ficou tudo assente. Ele era o Rei Lappin; ela era a Rainha Lapinova.
Eram o posto um do outro; ele era corajoso e determinado; ela, hesitante e insegura. Ele governava o mundo atarefado dos coelhos; o mundo dela era um lugar misterioso
e desolado, por onde ela vagueava sobretudo durante as noites de luar. De qualquer modo, os seus territórios acabavam por se encontrar; eram Rei e Rainha.
Assim, quando voltaram da lua-de-mel, viram-se na posse de um mundo privado habitado apenas, exceptuada a lebre branca, por coelhos. Ninguém suspeitava da existência
de semelhante lugar, e isso, é claro que o tornava ainda mais divertido. Aquilo fazia-os sentirem-se, mais ainda que a maioria dos casais recentes, coligados contra
o resto do mundo. Muitas vezes lhes acontecia fitarem-se de soslaio um ao outro quando as outras pessoas estavam a falar de coelhos e de bosques, de armadilhas e
tiros. Ou faziam sinal por cima da mesa quando a tia Mary dizia que nunca fora capaz de olhar para uma lebre na travessa - parecia mesmo um bebé: ou quando John,
o irmão desportista de Ernest, lhes falava do preço que os coelhos tinham atingido, nesse Outono, em Wiltshire, e como estavam as peles, e assim por diante... Por
vezes, quando queriam um ajudante de caça, um caçador furtivo ou um Senhor da Mansão, divertiam-se distribuindo esses papéis por este ou aquele dos seus amigos.
A mãe de Ernest, Mrs. Reginald Thorburn, por exemplo, desempenhava na perfeição o papel de Squire. Mas tudo isto era secreto - era esse o ponto essencial; ninguém,
para além deles, sabia da existência daquele mundo.
Sem esse mundo, perguntava Rosalind a si própria, como lhe teria sido possível viver durante aquele Inverno? Por exemplo, tinha havido o jantar das bodas de ouro,
e todos os Thor-burns se reuniram em Porchester Terrace para celebrar o quinquagésimo aniversário dessa união tão cheia de bênçãos - não produziram Ernest Thorburn?
- e tão fecunda - ou não era verdade também que produzira outros nove filhos e filhas, muitos deles já casados e também fecundos? Rosalind estava apavorada com a
festa. Mas era inevitável. Enquanto subia as escadas sentiu amargamente o facto de ser filha única e, ainda por cima, órfã; uma simples gota de água no meio de todos
aqueles Thorburn reunidos na grande sala com papel de parede acetinado e esplendorosos retratos de família. Os Thorburn vivos pare-ciam-se muito com os pintados
naqueles retratos, só que em vez de lábios de tinta e tela tinha lábios verdadeiros, dos quais saíam gracejos, histórias divertidas acerca de salas de aula e de
cadeiras puxadas por trás à governanta quando esta, uma vez, se ia sentar e também acerca de rãs metidas entre os lençóis virginais de velhas solteironas. Mas Rosalind
não se lembrava de ter sabido alguma vez o que fossem brincadeiras semelhantes. Com a sua prenda na mão, avançou em direcção à sogra, sumptuosamente coberta de seda
amarela, e em direcção ao sogro, enfeitado com um cravo amarelo vivo na lapela. A toda a volta por cima das cadeiras e das mesas, havia uma profusão de tributos
doirados, alguns colocados em ninhos de algodão; outros erguendo-se resplandecentes - candelabros, caixas de charutos, cadeiras metálicas; tudo marcado com o contraste
do artista, a comprovar que se tratava de ouro autêntico. Mas o presente dela era apenas uma caixinha com orifícios na tampa; uma caixa de areia para a tinta, uma
relíquia do século XVIII. Um presente bastante extravagante, pressentia-o ela, na época do mata-borrão, enquanto via de novo à sua frente a pesada secretária negra
a que estava sentada a sogra no dia em que tinha ficado noiva de Ernest, e a sogra dissera-lhe: "O meu filho há-de fazê-la feliz." Não, ela não era feliz. De maneira
nenhuma era feliz. Olhou para Ernest, muito aprumado e sólido, com um nariz igual a todos os narizes daquela família nos retratos; um nariz que parecia nunca ter
franzido.
Foram para a mesa. Rosalind estava meio escondida atrás dos crisântemos, cujas grandes pétalas vermelhas e doiradas se abriam em bola. Tudo era doirado. Uma ementa
marginada a ouro referia os pratos, com os nomes escritos com iniciais doiradas, que iam ser servidos. Rosalind mergulhou a colher num recipiente cheio de um líquido
doirado e claro. O nevoeiro alvacento lá de fora transformado, graças à iluminação, numa fosforescência doirada que esbatia os contornos das travessas e dava aos
ananases uma pele de ouro áspero. Só ela no seu vestido de noivado branco, com os olhos salientes abertos e observando, parecia ali, no meio de tanto ouro, um pingente
de gelo insolúvel.
À medida que o jantar avançava, contudo, a sala ia ficando cada vez mais quente. Gotas de suor salpicavam as testas dos homens. Rosalind sentia que o seu gelo estava
a liquefazer-se. Sentia que estava a ser derretida; dispersa; dissolvida no nada; em breve ia desmaiar. Depois, através do nevoeiro do seu cérebro e da zoada que
lhe afligia os ouvidos, ouviu uma voz de mulher exclamar: "Mas eles multiplicam-se tanto!"
Os Thorburn - sim; multiplicavam-se tanto, ecoou ela, olhando à volta da mesa os rostos avermelhados que lhe pareciam duplicar-se na atmosfera doirada que os envolvia
e na tontura que dela se apoderara. "Multiplicam-se tanto." Então, John bradou:
"São uns diabos pequenos!... Só a tiro! Só pisando-os com botas cardadas! É a única maneira de lidar com eles... os coelhos!"
Com esta palavra, a palavra mágica, Rosalind sentiu-se reviver. Espreitando por entre os crisântemos, viu o nariz de Ernest a franzir-se. O rosto enrugou-se-lhe
e ele franziu-o várias vezes seguidas. E então uma catástrofe misteriosa transformou os Thorburn. A mesa doirada tornou-se uma charneca de giesta em flor; o ruído
das vozes, no assobiar feliz de um melro que descia do céu. Era um céu azul - as nuvens passavam lentamente. E ei-los, todos os Thorburn, transformados. Rosalind
olhou para o sogro, um homenzinho pequeno de bigode caído. O seu passatempo era coleccionar coisas várias - selos, caixas de esmalte, pequenos objectos de enfeitar
mesas do século XVIII, que escondia nas gavetas do escritório da vigilância da. mulher. Agora ele parecia-lhe um caçador furtivo, escapando-se com a sua bolsa recheada
de faisões e perdizes que iria cozinhar na panela da sua casa escondida nos campos e cheia de fumo. Era isso o que o sogro realmente era - um caçador furtivo. E
Célia, a filha por casar, que estava sempre a meter o nariz nos segredos das outras pessoas, nas pequenas coisas que os outros gostariam de guardar para si próprios
- essa era um furão branco de olhos vermelhos e com o nariz todo sujo de terra por causa das horríveis pesquisas esconderijos em que andava sempre. Andar de um lado
para o outro pendurada dos ombros dos homens dentro de uma rede e viver numa toca - era uma vida desgraçada, essa vida de Célia; a culpa não era dela, porém. E era
assim que Rosalind agora a via. Depois, olhou para a sogra - a quem tinham dado o cognome de Squire. Corada, altaneira, cheia de si, era assim que ela se mostrava,
agradecendo à direita e à esquerda, mas agora Rosalind - ou melhor, Lapino-va - via-a de modo diferente; via-a contra o fundo da casa de família em decadência, com
o gesso a desprender-se das paredes, e ouvia-a, com a voz cortada por um soluço, a agradecer aos filhos (que a detestavam) um mundo que tinha já deixado de existir.
Fez-se um silêncio súbito. Levantaram-se todos de copo erguido na mão; a seguir beberam; tudo acabara.
"Oh, rei Lappin!", gritou Rosalind, enquanto voltavam os dois através do nevoeiro de Londres, "se o teu nariz não tivesse franzido naquele momento preciso, eu tinha
sido apanhada na armadilha!"
"Mas estás salva", disse o Rei Lappin, apertando-lhe a pata.
"E bem salva!", respondeu ela.
E continuaram ambos a atravessar o Parque, o Rei e a Rainha das charnecas, do campo enevoado e das giestas perfumadas.
E o tempo foi passando; um ano; dois anos. E numa noite de Inverno, que por coincidência sucedeu ser a do aniversário da festa das bodas de ouro - mas Mrs. Reginald
morrera; a casa estava para alugar e só vivia lá um guarda - Ernest chegou do escritório e entrou em casa. Tinham uma bela casinha, os dois; metade de um grande
edifício, por cima de uma loja de selas e arreios para cavalos, em South Kensington, não muito longe da estação do metropolitano. Estava frio, havia nevoeiro no
ar, e Rosalind estava sentada perto do lume, a coser.
"O que é que imaginas que me aconteceu hoje?", começou ela, mal ele se instalou de pernas estendidas para as brasas. "Ia a atravessar o ribeiro quando..."
"Mas que ribeiro?", interrompeu-a Ernest.
"O ribeiro que fica no fundo da floresta, onde o nosso bosque pega com a floresta negra", explicou ela.
Ernest ficou a olhar para ela, estupefacto por um momento.
"Mas que disparate é esse?", perguntou por fim.
"Oh, querido Ernest!" exclamou ela cheia de desânimo. "Rei Lappin", acrescentou, aquecendo as pequenas patas da frente no lume do fogão. Mas o nariz dele não franziu.
As mãos dela - agora eram mãos - crisparam-se no tecido que estava a coser, e os olhos ficaram muito fixos e abertos. Ele levou uns cinco minutos a transformar-se
de Ernest Thorburn em Rei Lappin; e enquanto esperava, ela sentia uma força a pesar-lhe na parte de trás do pescoço, como se alguém a estivesse a estrangular. Por
fim, ele lá se transformou em Rei Lappin; o nariz franziu-se-lhe; e passaram o serão a vagabundear pela floresta como de costume.
Mas Rosalind dormiu mal. A meio da noite acordou, sentin-do-se como se lhe tivesse acontecido qualquer coisa de estranho. Estava entorpecida e com frio. Acabou por
acender a luz e olhar para Ernest, deitado ao seu lado. Ele dormia profundamente. Ressonava. Mas embora estivesse a ressonar, o seu nariz continuava perfeitamente
imóvel. Parecia que nunca na vida se tinha franzido para ela. Seria possível que fosse realmente Ernest? E ela estaria realmente casada com Ernest? Surgiu-lhe uma
imagem da sala de jantar da sogra; e lá estavam ela e Ernest, envelhecidos, rodeados por grandes aparadores de madeira trabalhada... Eram as suas bodas de ouro.
Não aguentava mais.
"Lappin, Rei Lappin!" sussurrou ela, e por um instante o nariz pareceu franzir-se e deixar de novo tudo bem. Mas ele continuou a dormir. "Acorda, Lappin, acorda!"
gritou Rosalind.
Ernest acordou; e vendo-a sentada na cama, direita, ao seu lado, perguntou:
"O que foi?"
"Pensei que o meu coelho tinha morrido!" soluçou ela. Mas Ernest zangou-se.
"Não digas disparates, Rosalind", disse ele. "Deita-te e dorme".
Virou-se para o outro lado. No instante seguinte, dormia de novo profundamente: ressonava.
Ela é que não era capaz de adormecer. Ficou deitada, enroscada no seu lado da cama, como uma lebre encolhida. Apagara a luz, mas o candeeiro da rua iluminava fantasmagorica-mente
o tecto, e as árvores lá fora lançavam uma rede por cima da sua cabeça, como se ela estivesse no meio de ramagens sombrias, assustada, de um lado para o outro, retorcida,
às voltas, caçando, sendo caçada, ouvindo o ladrar dos cães de caça e as trompas dos caçadores; esgueirava-se, fugia... até que a criada abriu as cortinas e trouxe
o chá da manhã.
No dia seguinte, não conseguia pensar em nada. Parecia ter perdido qualquer coisa. Sentia-se com o corpo ressequido; como se tivesse encolhido, tornando-se negro
e escuro. Tinha as articulações também entorpecidas, e quando olhou para o espelho, o que fez várias vezes enquanto vagueava pela casa, os olhos pareciam querer
saltar-lhe da cara, como as passas de uva que cobrem um bolo. As salas também pareciam ter perdido toda a sua vida. Grandes móveis colocados de uma maneira estranha,
com ela a tropeçar neles a todo o momento. Por fim pôs o chapéu e saiu. Caminhou ao longo de Cromwell Road; e todas as casas por onde passava pareciam-lhe ser, ao
entrever-lhes o interior, salas de jantar onde as pessoas estavam sentadas, salas cheias de pesados aparadores, com cortinas de renda amarela e armários de mogno.
Acabou por se dirigir para o Museu de História Natural; costumava gostar de lá ir quando era pequena. Mas a primeira coisa que viu ao entrar foi uma lebre empalhada
em cima de neve fingida com olhos de vidro cor-de-rosa. Aquilo fê-la fugir. Talvez ficasse melhor com o lusco-fusco. Foi para casa e sentou-se ao lume, sem acender
uma única luz, e tentou imaginar que estava sozinha na charneca; e havia um ribeiro a correr; e do outro lado das águas uma floresta negra. Mas não foi capaz de
ir para além do ribeiro. Acabou por se aconchegar num alto de relva húmida, e ficou sentada na cadeira, com as mãos vazias a abanar e os olhos esgazeados, como olhos
de vidro, postos nas chamas. Depois, houve um tiro de espingarda... e ela estremeceu num sobressalto, como se tivesse sido atingida. Afinal era apenas Ernest que
metia a chave à porta. Rosalind esperou a tremer. Ele entrou e acendeu a luz. Ei-lo de pé, à sua frente, direito, alto, esfregando as mãos vermelhas de frio.
"Sentada às escuras?", perguntou.
"Oh, Ernest, Ernest!" gritou ela agitando-se na cadeira.
"Bom, que aconteceu agora?", perguntou ele alegremente, aquecendo as mãos nas chamas.
"Foi Lapinova..." balbuciou ela, olhando assustada para ele, com os seus grandes olhos fixos. "Acabou-se Ernest. Perdi-a!"
Ernest franziu o sobrolho, apertando os lábios com força.
"Oh, era isso então?", disse ele, sorrindo pouco à vontade para a mulher. Durante uns dez segundos, ficou ali de pé, silencioso; Rosalind esperava, sentindo um par
de mãos a apertar-lhe o pescoço.
"Sim", acabou ele por dizer. "Pobre Lapinova..." E começou a arranjar a gravata no espelho que havia por cima da chaminé.
"Foi apanhada numa armadilha", acrescentou Ernest, "morta", e sentou-se a ler o jornal.
Foi assim que o casamento deles acabou.
A DUQUESA E O JOALHEIRO
Oliver Bacon morava na parte superior de uma casa debruçada para Green park. Era o seu apartamento: as cadeiras encontravam-se harmoniosamente dispostas pelos cantos
da sala - cadeiras forradas de coiro. Os vãos envidraçados estavam guarnecidos por divãs - divãs cobertos com mantas de tapeçaria. As janelas, três grandes janelas,
encontravam-se resguardadas por uma renda discreta, nas cortinas pelo indispensável cetim bordado. O bojo dos aparadores de acaju estava recheado de aguardentes,
de whisky e de licores de primeira qualidade. E da janela central ele dominava os toldos lustrosos dos carros elegantes arrumados nos acessos estreitos de Picadilly.
Não se se podia imaginar localização mais central. Às oito horas da manhã, tomava o seu pequeno-almoço, que um criado lhe trazia numa bandeja: o criado estendia-lhe
o roupão de seda carmesim: Oliver Bacon, com as suas compridas unhas aparadas em ponta, abria o correio, extraindo dos sobrescritos espessas folhas de bristol, timbradas,
com as armas de Duquesas, Condessas, Viscondessas e Honorables Ladies várias. Depois, começava a fazer a toillete: depois, comia uma torrada: depois lia o seu jornal,
junto a um fogo crepitante de carvões eléctricos.
"Cá estás tu, Oliver, dizia para consigo. Tu que começaste a vida numa ruela escura e sórdida, que..." e contemplava as pernas bem cingidas pelas calças de um corte
irrepreensível, os sapatos, as polainas. Tudo elegante, cheio de brilho, cortado nas melhores peças pelas melhores tesouras de Savile Row. Mas muitas vezes acontecia-lhe
também sentir-se perturbado e voltava a ser então o rapazinho da ruela obscura de outrora. Tinha havido um tempo em que a sua maior ambição fora tornar-se um próspero
vendedor de cães roubados às senhoras elegantes de Whitechapel. Uma vez fora apanhado. "Oh! Oliver, lamentava-se a mãe. Oh! Oliver, quando é que ganhas juízo, meu
filho?...". Mais tarde, o seu trabalho fora estar atrás de um balcão; fizera-se vendedor de relógios baratos; depois levara, uma vez, um saco a Amsterdam... Essa
recordação fazia-o rir disfarçadamente - enquanto o velho Oliver cismava no Oliver jovem que tinha sido outrora. Sim, saíra-se bem com os três diamantes; tinha havido
também aquela comissão sobre a esmeralda. Depois disso, trabalhara no gabinete privado de uma loja de Hatton Garden; uma sala com balanças, um cofre-forte, grossas
lentes de aumentar; e depois... voltou a rir furtivamente. Quando passava pelos grupos de joalheiros que discutiam questões de preços nas noites quentes, que falavam
das minas de ouro, dos diamantes, das notícias da África do Sul, havia sempre um ou outro que punha o dedo numa das asas do nariz e murmurava "hummm..." à sua passagem.
Não era mais que um murmúrio; não passava de estremecer dos ombros, de um dedo na asa do nariz, um zumbido que percorria todo o grupo de joalheiros de Hatton Garden,
numa tarde de calor. Oh, tratava-se de uma história de outros tempos! Mas Oliver sentia-os ainda a ronronarem na sua coluna vertebral: sentia essa pressão, esse
sussurro que queria dizer: "Olhem para ele, o jovem Oliver, o joalheiro novo - olhem, lá vai ele." Sim, Oliver era um jovem nesse tempo. Ia-se vestindo cada vez
melhor: começou por dispor de um cab, mais tarde arranjou um automóvel. Começou por se sentar nas galerias das casas de espectáculos, depois desceu para as primeiras
filas, para junto da orquestra. Adquiriu uma casa de campo em Richmond, dando para o rio, cheia de canteiros de rosas vermelhas; e mademoiselle colhia uma rosa todas
as manhãs para lha pôr na botoeira.
"É assim, exclamou Oliver Bacon, erguendo-se e esticando as pernas. É assim..."
Estava agora por baixo do retrato de uma senhora de idade, pendurado por cima do fogão de sala; ergueu as mãos na sua direcção. "Cumpri a minha palavra, disse ele,
unindo as mãos, palma contra palma, como se lhe prestasse homenagem. Ganhei a minha aposta." Era verdade. Tornara-se o joalheiro mais rico de Inglaterra; e o seu
nariz, longo e flexível como uma tromba de elefante, parecia dizer num estranho frémito das narinas (dir-se-ia que era todo o nariz e não apenas as narinas que tremiam)
que não estava ainda satisfeito, que farejava ainda mais alguma coisa por baixo da terra, um pouco mais longe. Imagine-se um porco gigante num campo cheio de trufas;
o porco já desenterrou algumas trufas, mas está a farejar outra maior, mais escura, um pouco mais adiante, no meio da terra. Oliver farejava sempre um pouco mais
adiante no solo fértil de Mayfair, em busca de uma trufa ainda mais escura e maior.
Endireitou o alfinete da gravata, enfiou-se no seu magnífico sobretudo azul, pegou nas luvas cor de manteiga fresca e na bengala. Balançava-se e fungava levemente
ao descer as escadas, exalando meio suspiro através do grande nariz pontudo, enquanto saía para Piccadilly. Não era afinal um homem triste, um homem insatisfeito,
um homem que procura algo oculto, embora tivesse ganho a sua aposta?
Ao caminhar, vacilava de modo imperceptível, como o camelo do jardim zoológico quando avança pelas ruazinhas de asfalto cheias de merceeiros com as suas esposas,
que comem coisas tiradas de dentro dos embrulhos e semeiam no chão pedaços de papel de prata. O camelo despreza os comerciantes; o camelo sente-se descontente com
a sua sorte; o camelo vê um lago e um véu de palmares à sua frente. Assim o grande joalheiro, o maior joalheiro do mundo, descia Piccadilly com largas passadas,
perfeitamente composto com as suas luvas e a sua bengala, mas insatisfeito. Chegou à lojazinha escura que se tornara célebre em França, na Alemanha, na Áustria,
na Itália e por toda a América - a pequena loja escura numa rua vizinha de Bond Street. Como de costume, atravessou a loja, sem dizer uma palavra. Todavia, os quatro
homens, dois velhos: Marsall e Spen-cer, e dois jovens: Hammond e Wicks, ali estavam, numa postura rígida, perfilados à sua passagem com um olhar cheio de inveja.
Oliver não acusou a sua presença senão por meio de um sinal do dedo das suas luvas com tonalidade de âmbar, e entrou no seu gabinete privado, fechando a porta atrás
de si.
Retirou em seguida a protecção metálica da janela. Os ruídos de Bond Street, o ronronar do trânsito entraram na sala. Ao fundo da loja, a luminosidade dos reflectores
subia até ao tecto. Uma árvore balouçava as suas seis folhas verdes, porque era Junho. Mas mademoiselle casara com Mr. Pedder, o cervejeiro local - e ninguém punha
agora rosas na botoeira de Oliver.
"É assim, murmurou ele, meio suspirando, meio fungando, assim..."
Accionou uma mola na parede e o painel abriu-se lentamente: por trás ficavam cofres-fortes, cinco, não, seis cofres-fortes, todos eles de aço trabalhado. Deu a volta
a uma das chaves; abriu um dos cofres; depois outro. Cada um estava forrado na parte de dentro por um acolchoado de veludo, veludo carme-sim-escuro: cada um deles
cheio de jóias - braceletes, colares, anéis, tiaras, coroas ducais -, cheio de pedrarias acomodadas em conchas de vidro; rubis, esmeraldas, pérolas, diamantes. Tudo
em perfeita segurança, cintilante e frio e, contudo, ao mesmo tempo, ardente; era o ardor da própria luz que condensavam.
"Lágrimas", disse Oliver, contemplando as pérolas. "Sangue do coração", disse olhando os rubis. "Pólvora", acrescentou, remexendo os diamantes, e fazendo-os soltar
miríades de fogos.
"Pólvora suficiente para mandar Mayfair pelos ares, até ao céu, céu, céu!" E enquanto dizia estas palavras, Oliver lançou a cabeça para trás, fazendo ouvir uma espécie
de relincho.
O telefone tocou na mesa do seu gabinete, obsequiosamente, em voz surda e velada. Oliver voltou a fechar o cofre.
"Dentro de um minuto, antes disso não", disse para consigo. Sentou-se à sua mesa e contemplou os imperadores romanos cujas efígies adornam agora os seus botões de
punho. Ali estava de novo desarmado, voltara a ser o rapazinho que jogava ao berlinde na viela onde se vendem ao domingo cães roubados. Voltou a ser esse rapazinho
astucioso e matreiro, com lábios vermelhos cor de cereja. Metia os dedos em cordões de tripas; molhava-os nas caçarolas de peixe frito: passeava por entre a multidão;
era delgado, flexível, com os olhos de pedra húmida; e agora - agora - o tique-taque dos dedos do relógio de parede fazia um, dois, três, quatro.... A duquesa de
Lambourne esperava que ele se dispusesse a recebê-la; a duquesa de Lambourne descendente de centenas de Condes. Ia esperar dez minutos numa cadeira junto ao balcão
do mostruário. Ia esperar que ele se dispusesse a recebê-la. Consultou o seu relógio de bolso, tirando-o do estojo de pele. O ponteiro continuava a avançar. A cada
tique-taque, parecia-lhe que o relógio lhe punha à frente um pudim de fígado de aves, uma taça de cham-pagne, um cálice de aguardente fina, um charuto de guinéu.
O relógio de algibeira servia de tudo isso à sua mesa, enquanto os dez minutos iam passando. Depois ouviu passos abafados que se aproximavam; um fru-fru no corredor.
A porta abriu-se. Mr. Hammond comprimia-se contra a parede.
"Sua Graça", anunciou ele.
E ficou na mesma posição, comprimido contra a parede.
Levantando-se, Oliver podia ouvir o fru-fru do vestido da duquesa que atravessava o corredor. Desenhou-se, em seguida, na moldura da porta, enchendo a sala com as
suas armas, o seu prestígio, a arrogância, a vaidade, o orgulho de todos os duques e de todas as duquesas que nela se faziam uma só enorme vaga. E como uma onda
que se desfaz, desfez-se ela também por fim, sentando-se, espraiando-se, salpicando, inundado Oliver Bacon, o grande joalheiro. Cobria-o com o fogo das suas cores
resplandecentes: verde, rosa, violeta: inundava-o de perfume, de iridis-cências e dos raios luminosos que se despediam dos seus dedos, das suas plumas oscilantes
e da seda do seu vestido. Porque, de idade madura, a duquesa era vastíssima, imensa, revestida com os seus tafetás apertados. Como um guarda-sol de muitos panos
se fecha, como um pavão de mil penas encerra o seu leque, dei-xou-se cair e fechou-se na poltrona de couro onde encalhara.
"Bom dia, Mr. Bacon", disse a Duquesa. E estendia-lhe a mão espreitando por uma abertura das luvas. Oliver curvou-se para lha tomar. E enquanto as suas mãos se tocavam,
voltou a forjar-se entre eles o elo de uma corrente. Eram amigos e, ao mesmo tempo, inimigos: ele era o senhor, a senhora era ela: en-ganavam-se um ao outro, precisavam
um do outro, temiam-se reciprocamente, e ambos o sentiam e sabiam todas as vezes que as suas mãos se tocavam assim naquela saleta escura, com a luz branca lá fora,
a árvore com seis folhas, o ruído distante da rua e os cofres-fortes atrás.
"E hoje, Duquesa, em que posso ser-lhe útil hoje?", inquiriu Oliver com extremo cuidado.
A Duquesa abriu-lhe o coração, a intimidade do seu coração: abriu-lho de par em par. Com um suspiro, sem uma palavra, tirou da sua mala uma espécie de pequeno saco
de camurça - semelhante a uma doninha amarela, estreita e alongada - e de uma abertura a meio do corpo da doninha deixou cair as pérolas - dez pérolas -, que deslizaram
rolando da fenda aberta no ventre da doninha - uma, duas, três, quatro - como os ovos de algum pássaro divino.
"É tudo o que me resta, meu caro Mr. Bacon", disse ela com um queixume na voz. Cinco, seis, sete - as pérolas rolavam, rolavam ao longo da fenda rasgada nos vastos
flancos da montanha que se abriam entre os seus joelhos, formando um estreito vale ao fundo - oito, nove, dez. As pérolas estavam ali, poisadas no brilho do tafetá
cor de flor de pessegueiro. Dez pérolas.
"A cintura Appleby, disse ela tristemente. São as últimas... as últimas de todas."
Oliver estendeu o braço e segurou uma das pérolas entre o polegar e o indicador. Era redonda, brilhava. Mas - verdadeira ou falsa? Estaria a Duquesa a mentir uma
vez mais? Atrever-se-ia ela a continuar a mentir?
A Duquesa poisou o dedo rechonchudo na boca. "Se o Duque soubesse..., sussurrou ela a medo. Caro Mr. Bacon, foi outra vez um golpe de pouca sorte."
Teria voltado, então, a perder ao jogo?
"O traidor! O batoteiro!", disse a Duquesa numa voz sibilante.
Seria o homem com o maxilar partido? Um indivíduo pouco limpo. "E o Duque, que é generoso como o ouro para com os seus favoritos, ia privá-la de dinheiro, fechá-la
num lugar distante qualquer, se soubesse o que eu sei", pensava Oliver. Lançou um olhar em direcção ao cofre.
"Araminta, Daphne, Diana, gemeu a Duquesa, é por causa delas." As três filhas - Oliver conhecia-as: adorava-as. Mas Diana, essa amava-a deveras, amava-a do fundo
do coração.
"Conhece todos os meus segredos", disse a Duquesa com os olhos baixos. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Lágrimas que começaram a cair, lágrimas como diamantes,
arrastando o pó-de-arroz ao longo dos sulcos das suas faces cor de cerejeira em flor.
"Meu velho amigo, murmurou ela, meu velho amigo." Oliver repetiu essas palavras duas vezes, como se estivesse a lambê-las.
"Quanto?", perguntou depois. A Duquesa escondeu as pérolas com a mão. "Vinte mil", murmurou.
Mas seriam verdadeiras ou falsas, as pérolas que Oliver tinha na mão? A cintura Appleby - não fora já vendida? Ia tocar, mandando vir Spencer e Hammond, e dizer-lhes:
"Levem isto e verifiquem." Estendeu o braço na direcção da campainha. "Quero que você também venha amanhã, disse a Duquesa com uma voz pressurosa, detendo-o. O Primeiro-Ministro,
Sua Alteza Real..." Parou por um instante. "E Diana...", acrescentou ainda.
Oliver tirou a mão da campainha.
Para além da figura da Duquesa, contemplou as traseiras das casas de Bond Street, somente não eram já as casas de Bond Street o que estava a ver, mas uma água enrugada,
uma truta, um salmão que saltavam, o Primeiro-Ministro e ele próprio também, os coletes brancos, e depois, Diana. Contemplou de novo a pérola que tinha na mão. Mas
como havia de a avaliar agora - à luz do rio, à luz dos olhos de Diana? Os olhos da Duquesa não se desprendiam dele.
"Vinte mil, disse ela num gemido, é a minha honra!" A honra da mãe de Diana! Oliver pegou no seu livro de cheques e puxou da caneta. Escreveu "vinte", depois deteve-se.
Os olhos da velha senhora do retrato estavam poisados nele - os olhos da sua velha mãe.
"Oliver, avisou-o ela, tem juízo! Não sejas tolo!" "Oliver, suplicou a Duquesa - agora era apenas "Oliver", já não era "Mr. Bacon" - não quer passar connosco um
fim-de-semana prolongado?"
Sozinho nos bosques com Diana! Sozinho, a cavalo, nos bosques com Diana!
"Mil", escreveu, e assinou. "Aqui tem", disse por fim.
E todos os panos do guarda-sol, todas as penas do pavão se abriram. O esplendor da vaga, as espadas e as esporas de Azin- court fulguravam enquanto a Duquesa se
levantava da cadeira. Os dois empregados velhos e os dois mais novos, Spencer e Marshall, Wicks e Hammond, colaram-se à parede por trás do balcão, cheios de inveja,
enquanto Oliver a acompanhava à porta, agitando as suas luvas cor de manteiga fresca diante dos olhos deles, e a Duquesa ia levando a sua felicidade - um cheque
de 20 000 libras assinado por ele - bem segura na mão.
"Serão verdadeiras ou falsas?", perguntou-se Oliver, voltando a fechar a porta do gabinete particular. As dez pérolas ali estavam, poisadas no tampo coberto de mata-borrão,
em cima da mesa. Levou-as para mais perto da janela, observou-as à luz do dia com as suas lentes... Aquilo seria, afinal, a trufa que ele tinha desenterrado? Podre
até ao meio, completamente podre!
"Perdoa-me, ó minha mãe!", exclamou ele suspirando e levantando a mão, como que para pedir à velha mulher do retrato que lhe perdoasse. Voltara a ser o rapazinho
na viela onde se vendiam cães roubados ao domingo. "Porque, murmurou, unindo as palmas das mãos, o fim-de-semana vai ser prolongado!"
O LEGADO
"Para Sissy Miller", lia Gilbert Clandon, pegando no broche de pérolas deitado entre outros broches e anéis, em cima de uma mesinha da sala de estar de sua mulher
- "Para Sissy Miller, com o meu afecto."
Era mesmo de Angela ter-se lembrado de Sissy Miller, a sua secretária. E era muito estranho também, pensou Gilbert Clandon, uma vez mais, ela ter deixado todas as
coisas tão bem arrumadas - uma pequena prenda para cada um dos seus amigos. Era como se tivesse previsto que ia morrer. E, no entanto, estava de perfeita saúde quando
saíra de casa nessa manhã, havia agora seis semanas; quando, ao descer do passeio em Picca-dilly, o carro aparecera - e a matou.
Ele estava à espera de Sissy Miller. Pedira-lhe que viesse; devia-lhe, sentiu-o, depois de todos os anos que ela passara com eles, esse gesto de consideração. Sim,
continuou depois, enquanto se sentava à espera, era estranho que Angela tivesse deixado tudo tão em ordem. Cada um dos seus amigos receberia uma pequena prova do
afecto dela. Cada anel, cada colar, cada caixinha chinesa - ela tivera sempre uma paixão por caixinhas - tinha um nome escrito. E cada um desses objectos, para ele,
tinha também a sua memória. Este fora ele quem lho dera: aquele - o delfim de esmalte com olhos de rubi - tinha-o comprado ela um dia numa rua escura de Veneza.
Lembrava-se ainda do seu pequeno grito de alegria. A ele, é claro que não lhe deixara nada em particular, exceptuando o seu diário. Quinze pequenos volumes, encadernados
de verde, ali estavam, atrás dele, na mesa de escrever dela. Desde que se tinham casado que Angela conservara o diário. Algumas das suas pouquíssimas - não lhes
podia chamar zangas -, alguns dos seus pouquíssimos amuos tinham tido esse diário como causa. Quando ele entrava e a via a escrever, ela fechava sempre o caderno
ou escondia-o, pondo-lhe a mão em cima. "Não, não, não", era como se a estivesse ainda a ouvir. "Depois de eu morrer - talvez." E deixara-lho a ele, era o seu legado.
Era a única coisa que não tinha compartilhado em vida com Gilbert. Mas ele sempre considerara como garantido que seria Angela a sobreviver-lhe. Se ao menos ela tivesse
parado por um instante e pensasse no que estava a fazer, estaria agora ainda viva. Mas descera sem olhar do passeio, afirmara o dono do carro ao ser inquirido a
seguir à morte dela. Não lhe dera a menor possibilidade de tentar desviar-se... E aqui o som das vozes no hall interrompeu-o.
"Miss Miller, Sir", disse a criada.
Ela entrou. Gilbert nunca na sua vida a vira a sós, nem, é claro, a chorar. Vinha terrivelmente comovida, como não era de espantar. Angela fora muito mais para ela
do que a pessoa para quem se trabalha. Fora uma amiga. Mas para ele, pensou Gilbert Clandon, enquanto puxava uma cadeira e lhe pedia que se sentasse, aquela mulher
mal se distinguia das outras da mesma condição. Havia milhares de Sissy Millers - mulherzinhas insípidas, vestidas de preto, sempre com uma pasta atrás. Mas Angela,
com o seu dom de simpatia, descobrira toda a espécie de qualidades em Sissy Miller. Era a descrição em pessoa; tão silenciosa; tão cheia de lealdade que não havia
nada que não pudesse confiar-se-lhe, e assim por diante.
Miss Miller parecia de início incapaz de dizer uma palavra. Ficou sentada, enxugando os olhos com o lenço. Depois, fez um esforço.
"Desculpe-me, Mr. Clandon", disse ela.
Ele limitou-se a um murmúrio como resposta. Claro que compreendia muito bem. Podia adivinhar o que a mulher representara para ela.
"Fui tão feliz aqui", disse Miss Miller, olhando em redor. Os seus olhos ficaram presos à mesa de trabalho, que espreitava por trás de Mr. Clandon. Era ali que ambas
trabalhavam - ela própria e Angela. Porque Angela tinha a sua parte nas obrigações que cabem à esposa de um político em destaque. Fora uma auxiliar de primeira no
que se referia à carreira do marido. Ele vira-as muitas vezes, a mulher e Sissy, sentadas àquela mesa - Sissy à máquina de escrever, batendo as cartas que a mulher
lhe ditava. Sem dúvida que Miss Miller estava também a pensar nisso. Agora tudo o que lhe restava fazer era entregar-lhe o broche da mulher e deixá-la. Parecia,
realmente, uma prenda um tanto incongruente. Teria sido melhor deixar-lhe uma certa quantia de dinheiro, ou até a máquina de escrever. Mas o que estava escrito era
aquilo mesmo - "Para Sissy Miller, com o meu afecto." E, pegando na jóia, entregou-lha, acompanhada do pequeno discurso que tinha preparado. Sabia, disse-lhe, que
ela apreciaria aquela lembrança. A sua mulher tinha-a usado muitas vezes... Miss Miller, por sua vez, replicou-lhe, quase como se tivesse também o seu discurso preparado,
que o broche era um tesouro precioso para ela... Gilbert Clandon esperava que aquela mulher tivesse pelo menos outras roupas, com as quais o broche não ficasse tão
mal. Trazia vestido o saia-casaco preto que parecia ser um uniforme da sua profissão. Depois, Gilbert lembrou-se de que Miss Miller estava, evidentemente, de luto.
Também ela sofrera uma tragédia - um irmão, a quem fora muito dedicada, morrera apenas uma ou duas semanas antes de Angela. Um acidente também, ou não seria? Não
conseguia lembrar-se - mas lembrava-se de Angela lhe falar disso. Angela, com o seu dom de simpatia, ficara terrivelmente impressionada. Entretanto, Sissy Miller
levantara-se. Estava a pôr as luvas. Era evidente que sentia não dever tornar-se importuna. Mas ele não podia deixá-la ir-se embora assim, sem lhe dizer nada acerca
do futuro. Quais eram os planos dela? Havia alguma maneira de ele poder ajudá-la?
Ela estava de olhos fixos na mesa, onde costumava sentar-se à máquina de escrever e onde se via poisado o diário. E, perdida nas suas recordações de Angela, não
respondeu imediatamente à sugestão de auxílio que Mr. Gilbert Clandon lhe apresentara. Por um momento, pareceu não ter compreendido. Por isso, ele acabou por ter
que repetir:
"Quais são os seus planos, Miss Miller?" "Os meus planos? Oh, está tudo muito bem. Mr. Clandon", exclamou ela. "Por favor não se preocupe comigo."
Ele pensou que ela queria dizer com aquilo que não precisava de auxílio financeiro. Teria sido melhor, reflectiu ele depois, deixar uma sugestão desse género para
uma carta. Agora tudo o que podia fazer era acrescentar, ao apertar-lhe a mão, "Lembre-se, Miss Miller, se alguma vez lhe puder ser útil, terei todo o prazer..."
Em seguida, abriu a porta. Por um momento, no limiar, como se um pensamento súbito a tivesse ferido, Miss Miller deteve-se.
"Mr. Clandon", disse ela, olhando-o nos olhos pela primeira vez, e pela primeira vez ele sentia-se impressionado pela expressão, cheia de simpatia embora interrogativa,
dos olhos dela. "Se alguma vez", continuou Sissy Miller, "houver alguma coisa que eu possa fazer para o ajudar, lembre-se de que será para mim, em atenção à sua
mulher, um prazer..."
E com isto partiu. As suas palavras e o olhar que as acompanhara eram inesperados. Era quase como se ela acreditasse, ou esperasse, que ele viesse a precisar dela.
Uma ideia curiosa, talvez fantástica, ocorreu-lhe quando voltou à sua cadeira. Seria possível que, durante todos aqueles anos, enquanto ele mal dava pela existência
dela, Miss Miller alimentasse uma paixão secreta por ele, como as que nos contam os romances? Ao passar pelo espelho cruzou-se com a sua própria imagem. Tinha mais
de cinquenta anos; mas não podia deixar de reconhecer que continuava a ser ainda, conforme o espelho mostrava, um homem dotado de excelente aparência.
"Pobre Sissy Miller!", disse para consigo, meio a brincar. Como teria gostado de contar à mulher as coisas engraçadas em que estava agora a pensar! E instintivamente
olhou para o diário dela. "Gilbert", leu ele, abrindo-o ao acaso, "estava maravilhoso..." Era como se aquilo tivesse respondido às suas interrogações. Claro, parecia
ela dizer-lhe, és muito atraente para as mulheres. Claro, Sissy Miller também sente isso mesmo. Começou a ler. "Como me sinto orgulhosa de ser a mulher dele!" Também
ele se sentira sempre muito orgulhoso por ser marido dela. Quantas vezes, quando jantavam fora aqui ou ali, a olhara por cima da mesa, dizendo para consigo: ela
é a mulher mais bonita de todas as que aqui estão! Continuou a ler. Nesse primeiro ano, fora quando Gilbert se candidatara ao Parlamento. Tinham percorrido o seu
círculo eleitoral. "Quando Gilbert se sentou, os aplausos foram uma coisa tremenda. Todo o auditório se levantou e cantou: For he's ajolly goodfellow. Senti-me absolutamente
perturbada." Também ele se lembrava daquilo. Ela tinha ficado sentada no estrado, por trás dele. Ainda a podia ver, fitando-o de relance, com as lágrimas nos olhos.
E depois? Passou algumas páginas. Tinham ido a Veneza. Lembrava-se dessas férias felizes a seguir às eleições. "Comemos gelados no Florian." Sorriu - ela era ainda
como uma criança: adorava gelados. "Gilbert traçou-me um quadro muito interessante da história de Veneza. Disse-me que os Doges..." - tudo aquilo escrito com a sua
letra de rapariguinha de escola. Era uma delícia viajar com Angela por causa da sua ânsia de tudo saber. "Sou tão ignorante", costumava ela dizer, como se isso não
fosse um dos seus encantos. E agora - Gilbert abria outro volume - tinham voltado para Londres. "Queria tanto causar boa impressão. Vesti o meu vestido de casamento."
Podia ainda vê-la sentada ao lado do velho Sir Edward e conquistando por completo aquele velho formidável, seu chefe. Continuou a leitura rapidamente, revivendo
cena a cena por meio dos fragmentos que a mulher evocara. "Jantámos na Casa dos Comuns... Fomos a uma festa à noite em casa dos Lovegroves. Terei eu a noção das
minhas responsabilidades, conforme me perguntou Lady L., em virtude de ser mulher de Gilbert?" Depois, os anos tinham passado - o volume do diário era já outro,
tirado de cima da mesa de trabalho - e Gilbert fora sendo cada vez mais absorvido pelo seu trabalho. E ela, evidentemente, passou a ficar mais vezes sozinha... Aparentemente
fora para ela um grande desgosto não terem tido filhos. "Desejava tanto", leu noutra das entradas do caderno, "que Gilbert tivesse um filho." Talvez fosse um tanto
estranho que, pelo seu lado, ele nunca o tivesse lamentado muito. A vida fora tão rica, tão cheia, assim mesmo. Nesse ano, fora colocado num lugar secundário do
governo. Apenas um lugar secundário, mas o comentário dela fora: "Tenho a certeza que ele há-de chegar a Primeiro-Ministro!" Bom, se as coisas tivessem corrido de
outro modo, teria podido sê-lo. A política era um jogo, ponderou; mas o jogo ainda não acabara. Não acabava aos cinquenta anos. Passou os olhos rapidamente por outras
páginas, cheias dos pequenos pormenores, dos pormenores insignificantes, quotidianos e felizes, que formavam a vida dela.
Pegou noutro volume e abriu-o ao acaso. "Como sou cobarde! Deixei passar outra vez a ocasião! Mas podia-lhe parecer egoísmo da minha parte, ir incomodá-lo com as
minhas coisas quando ele já tem tanto em que pensar. E depois, é tão raro estarmos sozinhos os dois à noite." O que queria aquilo dizer? Oh, lá vinha a explicação
- referia-se ao trabalho dela no East End. "Ganhei coragem e falei finalmente a Gilbert. Ele foi tão compreensivo, tão bom. Não fez qualquer objecção." Também ele
se lembrava dessa conversa. A mulher dissera-lhe que se sentia muito vazia, demasiado inútil. Gostava de ter uma actividade dela, por si própria. Gostava de fazer
alguma coisa - e corara com tanta graça, lembrava-se ele, quando se sentara ali a falar-lhe daquilo, naquela mesma cadeira - para ajudar os outros. Gilbert metera-se
um pouco com ela. Não tinha já bastante que fazer tratando dele, da casa deles? Mas se isso a distraía, claro que não tinha nada a dizer contra. De que se tratava?
De uma associação? De uma organização de beneficência? Só tinha de prometer-lhe uma coisa, que não ia estragar a saúde com as novas tarefas. Assim, ela passou a
ir todas as quartas-feiras a Whitechapel. Gilbert lembrava-se de ter ódio às roupas que a mulher vestia nessas alturas. Mas ela levara aquilo muito a sério, ao que
parecia. O diário estava cheio de referências do género: "Vi Mrs. Jones... Tem dez filhos... O marido ficou sem o braço num acidente... Fiz o melhor que pude para
arranjar um trabalho para Lily." O nome de Gilbert, que continuava a leitura, aparecia agora menos vezes. O interesse dele diminuiu um pouco. Havia entradas inteiras
agora que não diziam nada a seu respeito. Por exemplo: "Tive uma discussão muito viva com B. M. acerca do socialismo." Quem era B. M.? Não conseguia completar aquelas
iniciais; alguma mulher, supôs, que Angela conhecera na sua organização. "B. M. atacou violentamente as classes mais elevadas... Depois da reunião, voltei a pé com
B. M. e tentei convencê-lo. Mas ele é tão estreito de ideias!" Então, B. M. era um homem - era com certeza um desses "intelectuais", como eles se chamam a si próprios,
tão cheios de violência e, como ela dizia, de ideias tão estreitas. Mas depois a mulher convidara-o para jantar e a visitá-la. "B. M. veio jantar. Apertou a mão
a Minnie!" Este ponto de exclamação deu um novo toque à imagem mental que dele Gilbert estava a formar entretanto. B. M., ao que parecia, não estava habituado a
encontrar criadas de fora; apertara a mão a Minnie. Provavelmente era um desses operários insípidos, que só pensam em entrar na sala de uma senhora de bem. Conhecia
o género, e não possuía qualquer simpatia por esse estilo de gente, quem quer que fosse B. M.. Lá aparecia ele de novo. "Fui com B. M. à Torre de Londres... Ele
diz que a revolução se aproxima... Disse que vivemos num Paraíso de Loucos." Era precisamente a espécie de coisas que B. M. devia dizer - Gil-bert era quase capaz
de o ouvir. Era também capaz de o imaginar com bastante precisão. Um homem atarracado, pequeno, mal escanhoado, gravata vermelha, sempre vestido de flanela, que
nunca fizera nada de útil em toda a sua vida. Com certeza que Angela teria tido o bom senso de o considerar do mesmo modo... Gilbert continuou a ler. "B. M. disse
algumas coisas muito desagradáveis acerca de..." O nome fora apagado cuidadosamente. "Disse-lhe que não queria ouvir nem mais uma palavra acerca de..." E de novo
a palavra seguinte fora riscada. Seria possível que se tratasse do próprio nome de Gilbert? Seria por isso que Angela tapava a página tão depressa quando ele entrava?
Este pensamento aumentava a sua antipatia crescente por B. M.. Aquele homem tivera a impertinência de falar a respeito dele, Gilbert, na sua própria casa? Porque
é que Angela nunca lhe dissera nada? Não era de todo em todo da maneira de ser dela esconder fosse o que fosse: sempre fora a imagem viva da lealdade. Gilbert virou
outra página, procurando novas referências a B. M.. "B. M. contou-me a história da sua infância. A mãe trabalhava a dias... Quando penso nisso, mal posso continuar
a viver em todo este luxo... Três guinéus por um chapéu!" Se ao menos a mulher tivesse discutido estes problemas com ele, Gilbert, em vez de atormentar a sua pobre
cabecita com coisas demasiado complicadas para o seu mundo mental! B. M. emprestara-lhe livros. Karl Marx, A Revolução Vai Chegar. As iniciais B. M., B. M., B. M.,
surgiam cada vez mais frequentemente. Mas porque não escrevera ela nunca o nome completo? Havia uma sugestão de inconveniência, de intimidade, no uso exclusivo destas
iniciais que não condizia de modo nenhum com a maneira de ser de Angela. Tratá-lo-ia também por B. M., quando estavam os dois frente a frente? Continuou a ler. "B.
M. apareceu inesperadamente depois do jantar. Felizmente, eu estava cá sozinha." Fora havia cerca de um ano. "Felizmente" - porquê felizmente? - "eu estava cá sozinha."
Onde teria estado ele próprio nessa noite? Verificou a data na sua agenda. Era a noite em que jantara na Mansion House. E B. M. e Angela tinham passado o serão a
sós, um com o outro! Gilbert tentava recordar-se dessa noite. Angela tinha, ou não, ficado à espera dele? A sala teria o mesmo ar que de costume? Havia copos na
mesa? As cadeiras tinham sido puxadas para mais perto uma da outra? Não conseguia lembrar-se de nada - de nada, excepto do seu discurso no jantar de Mansion House.
O conjunto da situação parecia-lhe cada vez mais inexplicável; a sua mulher que recebia a sós aquele homem desconhecido. Talvez o volume seguinte o elucidasse melhor.
Procurou precipitadamente no último caderno - o que ela tinha deixado incompleto quando morrera. Lá estava na primeira página aquele tipo maldito. "Jantei sozinha
com B. M. ... Ele estava muito agitado. Disse que já era tempo de nos explicarmos... Tentei fazê-lo ouvir-me. Mas ele não queria. Ameaçou que se eu não...", o resto
da página fora riscado. Angela escrevera "Egipto, Egipto, Egipto" por cima da página inteira. Gilbert não conseguia decifrar uma só palavra: mas havia uma única
interpretação possível: o patife pedira-lhe que se tornasse sua amante. Sós os dois naquela sala! O sangue subiu ao rosto de Gilbert Clandon. Virou as páginas rapidamente.
Que respondera ela? As iniciais desapareciam. O homem agora era "ele", simplesmente. "Ele voltou. Disse-lhe que não era capaz de tomar uma decisão... Implorei-lhe
que me deixasse." Então ele forçara-a ali mesmo em casa? Mas porque é que Angela nada lhe dissera? Como lhe fora possível hesitar sequer por um momento? O diário
continuava: "Escrevi-lhe uma carta." Depois, as páginas tinham ficado em branco. Mas adiante havia as seguintes palavras: "A minha carta continua sem resposta."
Mais algumas páginas deixadas em branco, e a seguir de novo: "Ele cumpriu a sua ameaça." Depois daquilo - que acontecera depois? - Gilbert passou uma página após
outra. Estavam todas em branco. Mas agora, exactamente no dia anterior ao da morte de Angela, havia a seguinte entrada: "Terei coragem para fazer a mesma coisa?"
Era o fim do diário.
Gilbert Clandon deixou o caderno escorregar para o chão. Podia vê-la como à sua frente. Estava de pé na borda do passeio de Piccadilly. Os olhos muito abertos, os
punhos fechados. O carro aproximava-se...
Não conseguia aguentar aquilo mais. Precisava de saber a verdade. Correu para o telefone.
"Miss Miller!" Um silêncio. Depois, o ruído de alguém que atravessava a sala do lado de lá da linha.
"Sim, sou Sissy Miller" - respondeu-lhe a voz dela por fim.
"Quem", gritou ele, "quem é B. M.?"
Ouviu ainda o relógio barato que ela devia ter em cima da chaminé do fogão de sala; depois um longo suspiro. E Miss Miller acabou por responder:
"Era o meu irmão."
Era o irmão dela: o irmão que se matara. "Haverá mais alguma coisa", ouviu-a ainda perguntar, "que eu possa esclarecer?"
"Nada!", gritou Gilbert Clandon, "Nada!"
Recebera o seu legado. Angela dissera-lhe a verdade. Descera do passeio para se juntar ao amante. Descera do passeio para lhe escapar.
RESUMO
Como lá dentro estava calor e cheio de gente, como numa noite assim não havia perigo de se apanhar humidade, como as lanternas chinesas pareciam suspender frutos
vermelhos e verdes ao fundo de uma floresta encantada, Mr. Bertram Prit-chard acompanhou Mrs. Latham ao jardim.
O ar puro e a sensação de estar cá fora despertaram Sasha Latham, aquela senhora alta, esbelta, de aparência um pouco indolente, cuja presença era de tal modo majestosa
que as pessoas nunca acreditariam que ela se sentia perfeitamente despropositada e sem jeito quando tinha que dizer alguma coisa a alguém que encontrava numa festa.
Mas era assim mesmo: e ela sentia-se satisfeita de a sua companhia de agora ser Bertram, em quem se podia confiar para, mesmo no jardim, ser capaz de falar sem interrupção.
Se se transcrevessem as coisas que ele dizia pareceriam incríveis - não só porque cada uma dessas coisas era em si própria insignificante, mas por não haver também
a mínima conexão entre as suas diferentes observações. Realmente, se uma pessoa pegasse num lápis e transcrevesse as palavras dele - e uma noite de conversa sua
encheria um livro inteiro - ninguém poderia deixar de pensar, ao ler, que o pobre homem era vítima de séria deficiência intelectual. Estava longe, porém, de ser
esse o caso, porque Mr. Pritchard era um funcionário público muito considerado e membro dos Companheiros de Bath; e, o que era ainda mais estranho, conseguia ser
quase invariavelmente agradável aos olhos de toda a gente. Havia uma tonalidade na sua voz, certa maneira enfática de pronunciar, certo brilho na incongruência das
suas ideias, certa expressão do seu desajeitado rosto moreno e redondo e do seu ar de tordo de peito vermelho, qualquer coisa de imaterial, de inlocalizável, que
florescendo e desenvolvendo-se nele, o tornava independente das suas palavras ou, muitas vezes, realmente, o perfeito oposto delas. Assim ia pensando Sasha Latham
enquanto ele tagarelava acerca de uma visita que fizera a Devonshire, acerca de tabernas e proprietárias de terras, acerca de Eddie e de Freddie, de vacas e viagens
nocturnas, de leite e de estrelas, de cami-nhos-de-ferro europeus e de Bradshaw, de como se apanha o bacalhau e de como se apanha frio, influenza, reumatismo, de
Keats - e ela pensava nele em abstracto, como uma pessoa cuja existência era boa, recriando-o, à medida que ele falava, em algo que era completamente diferente do
que ele dizia, e era esse ser, sem dúvida, o que ela recriava, o verdadeiro Bertram Pritchard, embora isso não pudesse ser demonstrado. Como poderia alguém provar
que ele era um amigo leal e cheio de simpatia e... mas neste ponto, como acontecia tantas vezes, quando se conversava com Bertram Pritchard, Sasha esqueceu-se da
existência dele e começou a pensar noutra coisa.
Era na noite que ela estava a pensar, talvez arrastando-se a si própria, enquanto o olhar se erguia em direcção ao céu. Fora o cheiro do campo que sentira de repente,
agora, a quietude sombria dos campos debaixo das estrelas, mas aqui, no jardim recuado de Mrs. Dalloway, em Westminster, o que nessa impressão de beleza mais surpreendia
alguém, nascida e criada no campo como ela, era presumivelmente um efeito de contraste: aqui um cheiro de feno no ar e ali as salas cheias de gente. Andou um pouco
com Bertram; caminhava como um veado, com leves movimentos de tornozelos, segura, grande e silenciosa, com os sentidos despertos, os ouvidos atentos, farejando o
ar da noite, como se fosse um animal selvagem, mas cheio de um equilíbrio próprio, extraindo daquelas horas tardias um prazer intenso.
Era essa, pensou ela, a maior das maravilhas; a realização máxima da espécie humana. Onde quer que houvesse um abrigo entre os salgueiros e barcos de madeira leve
numa região de lagoas, lá estava essa maravilha; e pôs-se a pensar na casa sólida, abrigada, bem construída, cheia de objectos preciosos, a formigar de gente apertada,
de pessoas que se separavam umas das outras, trocando pontos de vista, num contágio excitado. E Clarissa Dalloway abrira a sala para os ermos da noite, pusera pedras
que permitiam a passagem por cima dos pântanos, e, quando os dois chegaram ao extremo do jardim (que era, de facto, muitíssimo pequeno), sentando-se depois ela e
Bertram em cadeiras de lona, olhou para a casa cheia de veneração, entusiasticamente, como se um raio luminoso e doirado lhe atravessasse o olhar, enchendo-o de
lágrimas e fazendo-a sentir-se profundamente agradecida. Embora fosse tímida e quase incapaz, quando apresentada inesperadamente a alguém, de dizer fosse o que fosse,
tinha uma admiração imensa pelos outros. Ser o que eles eram seria maravilhoso, mas ela estava condenada a ser apenas ela própria e só podia, à sua maneira silenciosa
de entusiasmo, sentar-se cá fora num jardim, aplaudindo essa sociedade humana de que se encontrava excluída. Pedaços de poesia subiam numa prece de louvor dos seus
lábios: eram realmente adoráveis e bons os sobreviventes, e sobretudo corajosos, vencendo a noite e os pântanos, uma companhia de aventureiros que, arrostando os
perigos, continuava a sua viagem.
Por má vontade do destino ela era incapaz de ser como esses outros, mas podia estar ali sentada e dar graças enquanto Bertram tagarelava, ele que estava entre os
viajantes, como um grumete ou simples marinheiro - alguém que sobe aos mastros, assobiando alegremente. Enquanto pensava essas coisas, o ramo de uma árvore à sua
frente embebia-se e penetrava a sua admiração pelas pessoas daquela casa; derramava-se em gotas de ouro; ou permanecia erecto como uma sentinela. Fazia parte da
brilhante e animada equipagem, era o mastro de onde se desfraldava a bandeira. Havia um tonel qualquer encostado à parede, e também aquilo era uma dádiva aos seus
olhos.
De repente Bertram, que era fisicamente infatigável, teve vontade de explorar o terreno, e, saltando para cima de um pequeno alto de tijolos, espreitou por cima
do muro do jardim para o outro lado. Sasha espreitou também. Pareceu-lhe ver um balde ou talvez um sapato. Mas num segundo a ilusão se desfez. Era de novo Londres;
o vasto mundo impessoal e desatento; os motores dos autocarros; os negócios e ocupações; as luzes por cima dos estabelecimentos públicos; e os polícias que bocejavam.
Tendo satisfeito a sua curiosidade, e refeitas, por aquele momento de silêncio, as fontes gorgolejantes da sua conversa, Bertram convidou Mr. e Mrs. Qualquer Coisa
a sentarem-se junto a eles os dois, puxando duas cadeiras. Ficaram os quatro sentados, olhando para a mesma casa, para a mesma árvore, para o mesmo tonel; só que
tendo espreitado por cima do muro para dentro do balde, ou melhor tendo visto de relance Londres, do outro lado, continuando indiferentemente o seu caminho, Sasha
já não se sentia capaz de derramar por cima do mundo inteiro a sua nuvem de ouro. Bertram falava e os outros dois - nunca, durante toda a sua vida, ela seria capaz
de lembrar-se se se chamavam Wallace ou Freeman - respondiam, e todas as suas palavras depois de atravessarem uma delgada névoa de ouro, caíam de novo numa prosaica
luz de todos os dias. Sasha olhou para a sólida e segura casa construída no estilo da Rainha Ana; fez os possíveis por recordar qualquer coisa que tinha lido na
escola acerca da Ilha de Thorney e de homens em pequenos barcos, acerca de ostras, e de patos bravos e de nevoeiros, mas, mas parecia-lhe tudo um problema lógico
de carpintaria e de canais, e aquela festa não era mais que uma quantidade de gente em traje de cerimónia.
Então perguntou a si própria que perspectiva seria a verdadeira? E via à sua frente o balde de Londres e a casa meia acesa e meia apagada.
Interrogou-se também acerca da sua visão, humildemente composta, acerca da sabedoria e da força dos outros. A resposta muitas vezes chegava apenas por acidente -
mas se perguntasse alguma coisa ao seu spaniel, este responderia abanando a cauda.
Também a árvore agora, despojada do seu esplendor e grandeza, parecia suplicar-lhe uma resposta; tornara-se uma árvore do campo - a única árvore no meio de um descampado.
Vira-a muitas vezes; vira as nuvens avermelhadas entre os seus ramos, ou a lua a nascer, irradiando raios irregulares de luz prateada. Mas que responder? Bom, talvez
que a alma - porque tinha a consciência em si do movimento de alguma coisa que pulsava, fugidia, alguma coisa a que ela momentaneamente chamava alma - é por natureza
solitária, uma ave viúva; uma ave poisada e esquecida no ramo da árvore.
Mas foi então que Bertram, rodeando-a com o braço à sua maneira familiar, porque a conhecera desde sempre, observou que não estavam a cumprir a sua obrigação e que
tinham que voltar lá para dentro.
Nesse momento, nalguma rua escusa ou num estabelecimento público, a terrível voz sem sexo e inarticulada do costume irrompeu uma vez mais; um som agudo, um grito.
E a ave viúva de há pouco, estremeceu num frémito, partiu a voar, descrevendo círculos cada vez mais largos até se tornar (aquilo a que ela tinha chamado a sua alma)
distante como um corvo surpreendido lá no alto por uma pedra contra ele arremessada através dos ares.
O VESTIDO NOVO
Mabel teve a primeira suspeita de que havia alguma coisa que não estava bem quando despiu o casaco e Mrs. Barnet, enquanto segurava o espelho e pegava numa escova,
era como se lhe quisesse chamar a atenção, de forma talvez excessivamente acentuada, para os diversos apetrechos destinados a retocar o cabelo, a maquilhagem ou
os vestidos, que se viam em cima do toucador: não, havia alguma coisa que não estava bem, que não estava exactamente como devia estar, e essa impressão foi-se tornando
mais intensa, transformando-se em certeza, enquanto subia as escadas e ao cumprimentar depois Clarissa Dalloway, encaminhando-se a seguir para um recanto sombrio,
no outro extremo da sala, onde havia um espelho de parede pendurado, no qual se olhou. Não! Não estava como devia ser. E imediatamente a desgraça que andava sempre
a tentar esconder, a insatisfação profunda - a sensação que sempre tivera, desde criança, lembrava-se bem, de, ser inferior às outras pessoas - despertou dentro
de si, inexorável, impiedosa, com uma intensidade que Mabel não era capaz de dominar, como poderia, pelo contrário, ter feito se estivesse em casa e não ali, acordando,
por exemplo, a meio da noite, e valendo-se então de um pouco de leitura de Borrow ou Scott: porque - oh! - aqueles homens e - oh! - aquelas mulheres - ei-los que
à sua volta se juntavam todos a pensar: "O que é que Mabel traz vestido? Que aspecto horrível! Que vestido novo horroroso!", e as pálpebras es-tremeciam-lhe a tal
ponto que teve que ceder e fechar por um momento os olhos. Era a sua falta de à vontade de sempre, a sua cobardia, o seu sangue debilitado e aguado que a deprimia.
E de súbito o quarto onde, durante tantas horas, arranjara com a sua costureirinha o vestido que trazia, pareceu-Ihe completamente sórdido e repugnante; e a sua
sala de estar parecia-lhe agora igualmente repulsiva, e sentia-se a si própria horrível, porque, cheia de vaidade, tinha aberto o convite na mesa da sala exclamando
"Que estupidez!", só para se mostrar original, e tudo isso se lhe revelava agora mesquinho, insuportavelmente provinciano e falho de sentido. Toda a sua defesa fora
absolutamente destruída, desmascarada, feita em pedaços, quando entrava na sala de Mrs. Dalloway.
Tinha pensado, num primeiro momento, ao receber o convite para a festa, quando à tarde estava sentada com o tabuleiro do chá ainda a seu lado, que não podia aparecer
em casa de Mrs. Dalloway vestida de acordo com a última moda. Era absurdo sonhar sequer com isso - a moda significa alto corte, estilo, e pelo menos trinta guinéus
-, mas porque não mostrar-se então original? Porque não ser ela própria, de qualquer maneira? E, subindo ao andar de cima de sua casa, pegara naquele velho figurino
de outras eras que fora de sua mãe, uma colecção de modelos de Paris, do tempo do Império, e pensara que ficaria muito mais bem arranjada, muito mais dignificada
e feminina se levasse um vestido daqueles, resolvendo assim - uma loucura! - preparar um desses modelos, enfeitar-se com uma modéstia antiquada, sentindo-se encantadora
desse modo, numa orgia de vaidade, realmente merecedora de castigo. Tal era o motivo que a fizera aparecer ali arranjada de forma tão insólita.
Mas não se atrevia a olhar sequer para o espelho. Não era capaz de fazer frente a todo aquele horror - o vestido de seda, estupidamente fora de moda, amarelo pálido,
com a sua cintura subida e as suas mangas de balão, e tudo o resto, que no figurino da mãe lhe parecera tão elegante, mas que vestido por ela, no meio de todas aquelas
pessoas vulgares, não estava como devia ser, de maneira nenhuma. Sentia-se como um manequim de modista, ali especada, para ser picada com alfinetes pelos convidados
mais jovens.
"Mas, minha querida, é realmente um encanto!", disse Rosa Shaw, olhando-a de alto a baixo, com aquele breve trejeito dos lábios trocistas de que Mabel já estava
à espera - Rose que, pelo seu lado, estava vestida segundo todo o rigor da última moda, precisamente como todas as outras pessoas, como sempre se vestira.
Somos como moscas tentando andar no bordo de um pires de leite, pensou Mabel, e repetiu a frase como se estivesse doente e procurasse uma palavra que aliviasse o
seu mal-estar, tornasse suportável aquela agonia. Fragmentos de Shakespeare, linhas de livros que lera havia séculos, subitamente emergiam da sua memória agonizante,
e ela repetia-os uma e outra vez e outra ainda. "Moscas tentando arrastar-se", repetia Mabel, como se pudesse dizer aquilo até chegar ao ponto de ver as moscas,
tornando-se fria, gelada, dura e silenciosa. Agora estava já capaz de ver as moscas arrantando-se lentamente na borda de um pires de leite, com as asas a esfregarem-se
uma na outra: e esforçou-se, esforçou-se (de pé em frente do espelho, enquanto ouvia Rose Shaw) por ser capaz de ver também Rose Shaw e todas as outras pessoas à
sua volta como se fossem moscas, moscas procurando desprender-se de qualquer coisa pegajosa, ou mergulhar nessa mesma coisa - insignificantes, mirradas, moscas cheias
de afã. Mas não conseguia ver os outros assim, não era assim que os via por muito que por isso se esforçasse. Era a si própria que se via desse modo - era ela a
mosca, mas os outros eram borboletas, libélulas, esplêndidos insectos que dançavam, adejavam, pairavam, enquanto a mosca rastejava, na sua solidão, no rebordo pegajoso
do pires de leite. (Inveja e despeito, os mais detestáveis de todos os vícios, inveja e despeito eram, sem dúvida, os defeitos principais de Mabel.)
"Sinto-me uma espécie de velha mosca, decrépita, atrozmente moribunda, toda suja", disse ela, fazendo com que Robert Haydon parasse bruscamente à sua frente ao ouvir-lhe
aquilo e tentando encorajar-se com o som da sua própria pobre frase, demonstrar que era uma pessoa de espírito, cheia de desprendimento, e longe de sentir-se excluída
ou diminuída fosse em que caso fosse. E, é claro, Robert Haydon respondeu qualquer coisa bem educada, falha de sinceridade, como ela descobriu no mesmo instante,
repetindo de novo para consigo (citação de já não sabia que livro): "Mentiras, mentiras, mentiras!" Porque uma festa tornava as coisas muito mais reais, ou muito
menos reais, pensou Mabel; tinha acabado de atravessar com o olhar o fundo do coração de Robert Haydon; o seu olhar atravessava tudo de lado a lado. Sabia o que
era a verdade. Aquilo era a verdade, a sua sala de estar, o seu ser profundo - e os outros eram falsos. A sala de trabalho de Miss Milan era na realidade terrivelmente
quente, asfixiante, sórdida. Cheirava a roupas velhas e a comida ao lume; todavia, quando Miss Milan lhe pusera o espelho na mão e Mabel se olhara com o vestido
novo, finalmente pronto, uma felicidade extraordinária se derramara no seu coração. Afogada em luz, desabrochada na plenitude da existência. Livre de cuidados e
rugas, aquilo que sonhara ser encontrava-se então à sua frente - uma mulher cheia de beleza. Por um segundo apenas (não ousara olhar durante mais tempo: Miss Milan
queria que ela visse se a saia estava bem assim), teve diante dos olhos, enquadrada pela moldura de mogno do espelho, uma rapariga misteriosamente já grisalha e
a sorrir, encantadora, que era ela própria, que era a sua própria alma; e não se tratava apenas de vaidade, não se tratava apenas de amor próprio, nisso que a fazia
achar-se boa, cheia de doçura e de verdade. Miss Milan dissera-lhe que a saia não ficaria bem mais comprida; talvez pudesse até ser um bocadinho encurtada, acrescentara,
abanando a cabeça, e nesse momento, Mabel sentira-se fundamentalmente boa, transbordante de amor por Miss Milan, ligada a ela pela maior afeição de que era capaz
para com um outro ser e tendo quase vontade de se desfazer em lágrimas ao ver aquela mulher à sua frente, curvada no chão, com a boca cheia de alfinetes, o rosto
congestionado e os olhos cansados do trabalho da costura; sentiu vontade de chorar, sim, por ser possível que um ser humano fizesse tudo aquilo por causa de outro
ser humano, ao mesmo tempo que sentia também que ambas eram simplesmente seres humanos, e que todos os outros, agora, na sala de festa, à sua volta, eram igualmente
seres humanos: e Mabel via que a condição dos seres humanos era aquela: ela própria a pensar em ir a uma festa, Miss Milan a tapar com um pano todas as noites a
gaiola do canário, depois de lhe estender entre os lábios um grão de alpista; e enquanto meditava neste aspecto das criaturas, na paciência que possuem, na sua capacidade
de sofrimento, no modo como conseguem consolo por meio de pequenos prazeres tão miseráveis, tão mesquinhos e tão sórdidos, os olhos acabaram por se lhe encher realmente
de lágrimas.
Mas tudo voltara já a desaparecer. O vestido, a sala de costura, o amor, a piedade, o espelho emoldurado de mogno e a gaiola do canário - tudo se desvanecera, e
Mabel ali estava a um canto da sala, na festa de Mrs. Dalloway, entregue à sua tortura, de olhos bem abertos para a realidade.
Mas era tão vil, tão pusilânime e estúpido uma pessoa da sua idade, mãe já de dois filhos, preocupar-se tanto, sentir-se tão extremamente dependente da opinião das
outras pessoas, sem princípios nem convicções próprias suficientemente fortes, incapaz de ser também como os outros: "Shakespeare existe! Existe a morte! Não passamos
de bichos de farinha nas bolachas do capitão" - ou fosse lá o que fosse que os outros dissessem.
Olhou-se frontalmente no espelho: compôs um pouco o vestido no ombro esquerdo; entrou na outra sala como se chovessem dardos de todos os lados por cima do seu vestido
amarelo. Mas em vez de parecer altiva ou trágica, como Rose Shaw teria parecido - Rose no lugar dela havia de parecer Boadicea - tinha um ar de louca e de mulher
afectada, e sorria como uma colegial idiota, baixando os olhos ao atravessar a sala, positivamente em fuga como um rafeiro espancado, e pôs-se por fim a olhar para
um quadro, uma gravura pendurada na parede. Como se alguém pudesse estar numa festa a olhar para um quadro! Toda a gente ia perceber porque é que Mabel estava a
fazer aquilo - era porque se sentia cheia de vergonha, era porque se sentia humilhada.
"Agora a mosca caiu dentro do pires de leite", disse para consigo, "caiu mesmo no meio, e não é capaz de sair de lá, e o leite", pensou ainda, rigidamente pregada
diante do quadro, "colou-lhe as asas uma à outra".
"É tão fora de moda", disse a Charles Burt, fazendo-o parar (coisa que ele detestava que lhe fizessem) a meio do caminho que levava, direito a outra pessoa.
Mabel queria referir-se, ou esforçava-se por pensar que queria referir-se, com aquilo, ao quadro e não ao vestido. E uma palavra de elogio, uma palavra afectuosa
de Charles tê-la-iam feito mudar da noite para o dia no mesmo instante. Se ele se limitasse a dizer: "Mabel, estás encantadora esta noite!", isso teria transformado
toda a sua vida. Mas para isso, ela própria precisava de ter sido verdadeira e directa. Charles não disse nada de parecido com o que Mabel desejava: era inevitável.
Ele era a malícia em pessoa. Sempre soubera ver através dos outros, especialmente dos que se sentiam particularmente fracos, infelizes ou em baixo.
"Mabel arranjou um vestido novo!", disse ele, e a pobre mosca sentiu-se perfeitamente afogada dentro do pires de leite. A verdade é que ele quisera afogá-la de propósito,
pensou Mabel. Era um homem sem coração, sem sentimentos profundos; a sua amizade não passava de um verniz de superfície. Miss Mi-lan era muito mais real, muito mais
bondosa. Se ao menos uma pessoa fosse capaz de aceitar de vez essa verdade! "Porquê?", perguntou a si própria - respondendo a Charles depressa de mais, de tal modo
que ele se deu perfeitamente conta de que ela estava zangada, "picada" como era seu hábito dizer ("Muito picada?", inquiriu e afastou-se a rir, indo ter com uma
daquelas mulheres quaisquer que por ali andavam) - "Porquê?" - perguntou Mabel a si própria - "Porque é que não sou capaz de sentir sempre a mesma coisa, sentir
com segurança que Miss Milan tem razão, e que Charles não a tem, e assentar nisso de uma vez para sempre, sentir-me segura acerca do canário e da compaixão e do
amor e não girar de segundo em segundo mal entro numa sala cheia de gente?" Era uma vez mais o seu odioso carácter fraco e vacilante, sempre pronto a auto-acusar-se
nos momentos difíceis, o seu carácter que nunca se interessava deveras e seriamente por nada - concologia, etimologia, botânica, arqueologia, maneiras de plantar
batatas e vê-las depois crescer, como faziam Mary Dennis e Violet Searle.
Agora Mrs. Holman, vendo-a ali parada, encaminhou-se na sua direcção. Claro que reparar num vestido novo não era coisa de que Mrs. Holman fosse capaz, sempre em
cuidado com a sua numerosa família, que caía das escadas abaixo ou apanhava de súbito e colectivamente uma vaga de escarlatina. Mabel não poderia dizer-lhe se a
casa de Elmthorre estaria vaga em Agosto e Setembro? Oh, era uma sensaboria insuportável aquela conversa! Não havia nada pior para Mabel do que sen-tir-se a fazer
figura de agente imobiliário ou moço de recados. Nada disto vale nada, pensava, tentando agarrar-se a uma ideia importante, real, que não lhe ocorria enquanto ia
respondendo aplicadamente, com a sensatez de que era capaz, às perguntas da outra acerca do tamanho da casa de banho, do estado em que estava o edifício do lado
sul e da canalização da água quente para o andar superior; durante toda a conversa, não parou de ver pedaços de seda amarela a dançarem, reflectidos no espelho redondo
que estava à sua frente, e que ora pareciam botões pequenos, ora revestiam a forma de rãs. Como era estranho pensar na humilhação, na angústia, na agonia e no esforço,
nos apaixonantes altos e baixos de humor que cabiam, por exemplo, num pedaço de pano do tamanho de uma moeda de cobre!... E coisa ainda mais estranha, Mabel Waring
sentia-se completamente fora de tudo aquilo, ao mesmo tempo que era presa de sentimentos contraditórios que a dividiam, e que, por outro lado, Mrs. Holman (o botão
preto) se inclinava para ela contando-lhe que o filho mais velho tinha o coração cansado devido a correr de mais: Mabel via-se, entretanto, reflectida no espelho,
como um ponto saliente; só que ao contemplar os dois pontos não lhe era possível acreditar que o ponto preto, por muito que se debruçasse para diante e se agitasse
em gestos repetidos, conseguisse que o ponto amarelo, na sua solidão e ensi-mesmamento, sentisse fosse o que fosse, só por um momento embora, de semelhante ao que
o ponto preto sentia, por mais que as duas fingissem exactamente o contrário.
"É tão difícil fazer um rapaz estar sossegado!" disse o ponto preto.
E Mrs. Holman que achava que nunca era capaz de obter dos outros quantidade bastante de simpatia, guardava a que, apesar de tudo, conseguia arrancar da conversa,
segura do seu direito a que lha dessem (ainda que, realmente, fosse merecedora de uma dose muito maior, já que a sua filha mais nova lhe aparecera naquela manhã
com um inchaço no joelho). Mas continuava a aceitar a atenção que Mabel lhe proporcionava, com certa desconfiança e algum ressentimento, como se estivesse a receber
meio penny quando lhe era devida uma libra, mas que arrecadava apesar disso, porque os tempos estavam maus: e por fim, afastou-se, um pouco despeitada, ferida, a
pensar de novo no joelho da filha.
Mas Mabel no seu vestido de noite amarelo, não se sentia com forças para arrancar de dentro de si nem mais uma só pequena gota de simpatia: era ela quem estava a
precisar de atenções, queria-as todas para si própria. Sabia (continuando a olhar para o espelho, mergulhando naquele aterrador lago azul) que estava condenada,
sentia-se desprezada, relegada para segundo plano, por ser uma criatura tão fraca e vacilante; e parecia-lhe que o vestido amarelo era a pena a que merecera ser
condenada, e que se estivesse vestida como Rose Shaw, com um cativante vestido verde brilhante e uma pluma de cisne, seria a mesma coisa; sabia que não havia escapatória
possível para si - não, não havia. Mas, apesar de tudo, a culpa não era dela. O problema era ter nascido numa família de dez pessoas, sempre com falta de dinheiro,
sempre a poupar e a contar tudo: e a mãe transportava grandes recipientes de um lado para o outro, o linóleo estava roto nas arestas dos degraus da escada, a uma
sórdida tragédia doméstica sucedia-se outra - nada de catastrófico nunca: havia a criação de carneiros numa quinta que falhara, mas não por completo: o irmão mais
velho casara abaixo do seu meio mas não excessivamente abaixo - nada havia nunca de romanesco, nada de extremos, nunca. Veraneavam todos respeitavelmente numa praia
de recurso: e ainda agora, nalgumas dessas praias, uma ou outra das suas tias devia continuar a aparecer para fazer repouso em quartos que nunca davam de frente
para o mar. Era aquele o género de toda família - remediar-se com as coisas possíveis, e ela própria fazia como as tias, era exactamente como elas. Porque todos
os seus sonhos de viver na índia, casada com um herói como Sir Henry Law-rence, uma espécie de construtor de impérios (e ainda actualmente ver um indiano de turbante
a mergulhava numa atmosfera romanesca), todos esses sonhos tinham falhado amargamente. Casara com Hubert, com o seu emprego seguro e vitalício, mas de segundo plano,
nos Tribunais, e ambos administravam remediadamente uma casa onde se sentiam sempre algo apertados, sem criadas à altura, comendo carne picada e por vezes almoçando
ou jantando apenas pão com manteiga quando estavam os dois sozinhos. De longe em longe - Mrs. Holman afas-tara-se, achando com certeza Mabel a pessoa mais seca e
antipática que alguma vez conhecera, e ainda por cima com aquele vestido incrivelmente absurdo, coisas que não tardaria, sem dúvida, a comunicar a toda a gente que
lhe desse ouvidos - de longe em longe, pensava Mabel para consigo, esquecida num sofá azul, cujas almofadas ia arranjando para ter ar de estar ocupada, uma vez que
não se sentia nada inclinada a ir ter com Charles Burt ou com Rose Shaw que ali estavam, agora mesmo, a conversar e a rir perto do fogão, talvez troçando os dois
dela - de longe em longe, aconteciam certos instantes de maravilha na sua existência: por exemplo, estivera a ler na cama, na noite anterior, e durante as férias
da Páscoa deitara-se na praia - como gostava de se lembrar disso agora! - contemplando um grande maciço de liquens pálidos, recortados no céu semelhante a uma cúpula
de porcelana, macio e denso ao mesmo tempo, enquanto as vagas se faziam ouvir devagar, misturadas aos gritos de alegria das crianças que brincavam na areia - sim,
havia instantes divinos, em que ela se sentia descansada ao abrigo das mãos de uma divindade, e a divindade era o universo inteiro nesses instantes: uma divindade
com o coração algo duro, mas também cheia de beleza, que talvez fosse possível simbolizar por meio de um cordeiro deitado num altar (disparates que passam pela cabeça
de uma pessoa e que não chegam a ter a mínima importância, porque nunca se contam a mais ninguém). E também, de quando em quando, com Hubert havia momentos semelhantes,
no seu inesperado - ao cortar o carneiro do almoço de domingo, assim sem razão, ou ao abrir uma carta, ou ao entrar numa sala - instantes divinos em que ela dizia
para consigo (apenas para consigo, porque nunca o diria realmente a mais ninguém): "É isto. Sempre aconteceu! É isto!" E o outro lado das coisas era igualmente surpreendente
- quer dizer, quando tudo estava arranjado -, havia música, bom tempo, férias - e existiam todas as razões de felicidade à sua frente, nada acontecia afinal. Ela
não se sentia feliz. Tudo parecia vazio, apenas vazio, e era tudo.
Era aquela desgraçada maneira de ser, já não podia duvidar! Fora sempre uma mãe aborrecida, fraca, insatisfatória, uma esposa baça, deambulando ao acaso numa espécie
de existência crepuscular, nada era nunca muito claro ou forte, nunca havia coisa nenhuma que valesse mais que as outras; e ela era assim, como todos os seus irmãos
e irmãs, excepto talvez Her-bert - porque todos eles eram as mesmas criaturas com água nas veias e incapazes de fazer fosse o que fosse de sólido. Depois, no meio
desta vida rastejante e de verme, subitamente sintia-se na crista da vaga. A mosca náufraga - onde lera ela essa história que lhe lembrava a todo o momento da mosca
e do pires de leite? - ainda lutava. Sim, havia instantes diferentes. Mas agora Mabel estava com quarenta anos, e esses instantes tornavam-se cada vez mais raros.
A pouco e pouco deixaria de lutar. Tudo aquilo era deplorável! Não era possível aguentar mais! Sentia vergonha de si própria!
Havia de ir no dia seguinte à London Library. Já descobriu por lá um livro espantoso, maravilhoso, indispensável; era um livro assim, descoberto por acaso, escrito
por um pastor, por um americano talvez, de quem ninguém ouvira ainda falar; ou havia de ir pelo Strand e tropeçaria, acidentalmente, numa sala de conferências onde
um mineiro estivesse a descrever a vida nos poços das minas, e sentiria, ao ouvi-lo, que se trasformara numa pessoa diferente. Envergaria um uniforme; passaria a
ser a Irmã Fulana; nunca mais pensaria em vestidos, nunca mais. E para sempre sentiria uma certeza perfeita acerca de Charles Burt e de Miss Milan e desta sala e
da outra sala; e para sempre seria, hoje e amanhã, como se estivesse deitada ao sol ou a cortar a carne do almoço de domingo. Para sempre!
Levantou-se então do sofá azul, e o botão amarelo no espelho levantou-se também, e Mabel acenou com a mão a Charles e a Rose para lhes mostrar que em nada dependia
deles, e o botão amarelo desapareceu do espelho, e todos os dardos voltaram a atingi-la no peito enquanto se dirigia a Mrs. Dalloway e lhe dava as boas-noites.
"Mas é ainda tão cedo", disse Mrs. Dalloway, encantadora como de costume.
"Tenho mesmo que ir andando", respondeu Mabel Waring. "Mas", acrescentou na sua voz fraca e insegura, que se tornava ainda mais ridícula quando tentava erguê-la
um pouco, "gostei imenso de ter vindo."
"Gostei imenso", disse depois a Mr. Dalloway, quando o encontrou já nas escadas.
"Mentiras, mentiras, mentiras!", murmurou para consigo, finalmente, ao descer as escadas, e "mesmo no meio do pires de leite", repetiu ao agradecer a Mrs. Barnet,
que a ajudava a enfiar o casaco chinês que uma e outra, e outra, e outra vez ainda, voltara a vestir sempre que tinha que sair ao longo dos últimos vinte anos.
Virgínia Woolf: VIAJANTE SOLITÁRIA DE REGIÕES DESCONHECIDAS
Em "A Casa Assombrada" estão reunidos alguns dos mais inovadores contos originalmente escritos em inglês.
É certo que Virgínia Woolfnão é uma contista e que foi em romances como "Orlando" e "As Vagas" que sobretudo cumpriu o "insaciável desejo de escrever alguma coisa
antes de morrer". Mas é em contos como "A Marca na Parede", "Lappin e Lapinova" e "O Legado", que melhor nos revela o modo como soube captar a eva-nescente matéria
da vida, um universo feminino que os homens desfazem revelando que a marca na parede é uma lesma, recusan-do-se a recriar a vida de coelhos no ribeiro ao fundo da
floresta ou tornando-se apenas insensivelmente desatentos.
Talvez por isso tais contos permitam compreender um pouco da vida e da morte de Virgínia Woolf.
Numa manhã clara e fria de Março de 1941, Virgínia Woolf sai de sua casa em Rodmell, no vale do Ouse. Em tranquilo passo exausto caminha entre o pomar e o tanque,
em que se movimentam silenciosos peixes.
É uma saída sem regresso, esta.
Virgínia Woolf escrevera, antes, a seu marido Leonard:
"Tenho a certeza de que vou enlouquecer outra vez. Sinto-me incapaz de enfrentar de novo um desses terríveis períodos. Começo a ouvir vozes e não consigo concentrar-me
(...). Se alguém pudesse salvar-me serias tu (...). Não posso destruíra tua vida por mais tempo."
E, finalmente, uma frase inesperada, que retoma a que Terence diz a Rachel morta, em Voyage Out, seu primeiro romance.
"Não creio que dois seres pudessem ser mais felizes do que nós ofomos."
Virgínia Woolf passa junto da cabana aberta ao sol, onde habitualmente escreve. Olhada apenas pela manhã, dirige-se ao rio Ouse. Tal como os céus de Inglaterra invadidos
pela aviação nazi, o seu corpo é um campo de batalha devastado pelas emoções.
Perdidos estão os dias em que tudo era intenso e possível.
"Gosto de beber champanhe e de me excitar loucamente. Gosto de ir de carro a Rodmell numa sexta-feira de calor e comer presunto frio e ficar sentada numa esplanada
a fumar em companhia de um ou dois mochos."
Virgínia Woolf é agora assaltada pelas vozes que escrevendo procurou esconjurar. Ouve os seus mortos. O desaparecimento de sua mãe Julie, levara-a a escrever aos
13 anos que "estava perante o maior desastre que poderia acontecer". Depois foi a longa agonia de seu pai, Leslie Stephen. E a morte do irmão Thoby acompanhou-a
sempre.
Virgínia Woolf atravessa frequentes períodos depressivos. Um livro acabado, a expectativa de uma crítica desfavorável, a nostalgia dos filhos que não tem, o riso
provocado pelo seu gosto por uma pintura verde, podem transformá-la numa crisálida. Tais períodos são, em geral, criadores:
"Se pudesse ficar uns quinze dias de cama creio que poderia ver "As Ondas" integralmente.
Penso que estas doenças são, no meu caso, parcialmente místicas. Passa-se qualquer coisa no meu espírito. Ele recusa-se a continuar a registar impressões. Fecha-se
sobre si. Fico num estado de torpor, muitas vezes acompanhado de um agudo sofrimento físico. Depois, subitamente, qualquer coisa brota do meu interior."
Três vezes a depressão a levou a tentar o suicídio. Mas depois de cada crise "tinha desejo de saltar o muro e colher algumas flores".
Neste ano de 1941, em que a guerra adensa as sombras que a cercam, Virgínia Woolf parece esbarrar num muro invisível escrevendo Beetween theActs.
Mais que das outras vezes o seu corpo deve parecer-lhe "monstruoso e a boca sórdida" e os objectos com "aspectos sinistros e imprevisíveis, às vezes estranhamente belos".
O apelo das águas
A Virgínia Woolf que neste 28 de Março de 1941 caminha respondendo ao apelo das águas, já pouco tem de ave fantástica que levantava bruscamente a cabeça para captar
uma frase que a seduzia.
Tem agora quase sessenta anos, escreveu nove romances, sete volumes de ensaios, duas biografias, um diário e alguns contos.
O corpo frágil adquiriu uma elegância angulosa. No rosto oval, o tempo passou deixando as marcas do cansaço. A "boca parecia nunca ter sorrido", diz Marguerite Yourcenar
a sua tradutora francesa que meses antes a visitara. Até os olhos, de um azul quase verde, estão ausentes.
" Vogo sobre agitadas ondas e quando for ao fundo ninguém estará lá para me salvar."
Está junto ao rio. Enche os bolsos da capa com pedras e depõe a bengala e os óculos sobre a margem.
Olha as águas desfocadas que sempre fascinaram a sua imaginação e lhe inspiraram as palavras.
Em "Voyage Out" fizera Rachel desejar "ser lançada nas águas, balouçar nas ondas, ser arrastada para aqui e para ali, transportada até às raízes do mundo".
E em "As Ondas" Rhoda pensa, olhando a maré que sobe e agita os barcos: "Deixar-me ir, abandonar-me à minha dor, entregar-me completamente ao meu desejo sem cessar
recalcado, de me perder, de me consumir."
Agora todas as suas palavras, todos os fósforos que soubera riscar na escuridão, se revelavam excessivas. Bordejava de novo a loucura que recusa todas as recuperações.
A loucura que no livro Mrs. Dolloway projectara em Septimus que, como ela, amava Shakespeare, a luz e as árvores e se sentia, um "proscrito que olhava para trás,
para as terras habitadas, jazendo como um náufrago, na praia de um mundo deserto".
Virgínia Woolf mergulhou no rio. Todas as luzes do mundo se apagaram.
Era a morte desejada em Voyage Out:
"Tanto melhor. Era a morte. Não era nada. Ela tinha deixado de respirar - era tudo. A felicidade perfeita. Acabavam de obter o que sempre haviam desejado - a união
que não tinham conseguido realizar em vida. Nunca houve dois seres tão felizes como nós o fomos."
Era a morte desafiada em "As Ondas".
"A morte é o nosso inimigo. E contra a morte que eu cavalgo, espada nua e cabelos soltos ao vento como os de um jovem, como flutuavam os cabelos de Perceval galopando
nas índias."
O corpo foi durante semanas levado por essa torrente, que Virgínia Woolf "arrastava consigo como as estrelas arrastam a noite, e que a arrastou por fim, como a noite
arrasta uma estrela" (Cecília Meireles).
Cumprira, porém, o insaciável desejo de escrever alguma coisa antes de morrer.
As suas palavras subiram do vale de Ouse, voltearam sobre os campanários do Sussex, cada vez mais altas, cada vez mais longe, cada vez mais próximas.
Virgínia Woolf tivera, como Orlando, o selvagem impulso de acompanhar os pássaros até ao fim do mundo. Os pássaros abandonavam a metáforafazendo-se palavras.
Em "A Casa Assombrada" estão reunidos alguns dos mais inovadores contos originalmente escritos em inglês.
É certo que Virginia Woolf não é uma contista e que foi em romances como "Orlando" e "As Vagas" que sobretudo cumpriu o "insaciável desejo de escrever alguma coisa antes de morrer". Mas é em contos como "A Marca na Parede", "Lappin e Lapinova" e "O legado", que melhor nos revela o modo como soube captar a evanescente matéria da vida, um universo feminino que os homens desfazem revelando que a marca na parede é uma lesma, recusando-se a recriar a vida de coelhos no ribeiro ao fundo da floresta ou tornando-se apenas insensivelmente desatentos.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_CASA_ASSOMBRADA.jpg
A MARCA NA PAREDE
Foi talvez por meados de Janeiro deste ano que vi pela primeira vez, ao olhar para cima, a marca na parede. Quando queremos fixar uma data precisamos de nos lembrar
do que vimos. Assim, lembro-me de o lume estar aceso, de uma faixa de luz amarela na página do meu livro, dos três crisântemos na jarra de vidro redonda na chaminé.
Sim, tenho a certeza de que foi no Inverno, e tínhamos acabado de tomar chá, porque me recordo de estar a fumar um cigarro quando olhei para cima e vi a marca na
parede pela primeira vez. Olhei para cima através do fumo do cigarro e o meu olhar demorou-se por um momento nos carvões em brasa do fogão e veio-me à ideia a velha
fantasia da bandeira escarlate tremulando no alto da torre do castelo, e pensei na cavalgada dos cavaleiros vermelhos subindo a encosta do rochedo negro. Foi com
certo alívio que a imagem da marca na parede interrompeu esta fantasia, porque se trata de uma velha fantasia, de uma fantasia automática, vinda talvez dos meus
tempos de criança. A marca era uma pequena mancha redonda, negra contra a parede branca, a cerca de seis ou sete polegadas do rebordo da chaminé.
É surpreendente a rapidez com que os nossos pensamentos se precipitam sobre um novo objecto, o transportam por um instante, do mesmo modo que as formigas se atiram
febrilmente a um pedaço de palha, que em seguida abandonam sem mais...
Se a marca tivesse sido feita por um prego, não podia ser para prender um quadro, apenas uma miniatura - a miniatura talvez de uma senhora com os anéis do cabelo
empoados, rosto coberto de pó-de-arroz e lábios vermelhos como cravos. Uma falsificação, é evidente, porque as pessoas que foram donas desta casa antes de nós deviam
gostar de ter pinturas desse género - um quadro velho para uma sala velha. Eram pessoas assim, pessoas muito interessantes, e penso nelas muitas vezes, quando me
vejo numa situação fora do vulgar, porque nunca voltarei a vê-las, nunca saberei o que lhes aconteceu a seguir. Queriam deixar a casa porque queriam mudar de estilo
de mobília, foi o que ele disse, numa altura em que estava a explicar que a arte devia ter sempre uma ideia por trás, e era como se fôssemos de comboio e víssemos
de passagem uma senhora de idade a servir chá e o jovem que bate a sua bola de ténis no jardim das traseiras da sua vivenda nos arredores.
Mas quanto à marca, não tinha a certeza do que pudesse ser; afinal de contas, não me parecia feita por um prego; é grande de mais, redonda de mais, para isso. Posso
levantar-me, mas se me levantar para a ver melhor, aposto dez contra um que continuarei a não saber o que é; porque, uma vez feita certa coisa ninguém sabe nunca
como é que tudo o que se segue aconteceu. Oh, meu Deus, o mistério da vida - a fraqueza do pensamento! A ignorância da humanidade! Vou contar algumas das coisas
que tenho perdido, o que basta para mostrar como controlamos poucos o que possuímos - como é precária a nossa vida após todos estes séculos de civilização; dessas
coisas perdidas misteriosamente - que gato as teria levado, que rato as terá roído? -, começarei por referir, por exemplo, três caixinhas azuis para guardar ferros
de encadernar, cujo desaparecimento é a perda mais misteriosa da minha vida. Depois há as gaiolas de pássaros, as argolas de ferro, os patins, a alcofa de carvão
Queen Anne, a caixa de jogos de cartão, o realejo - tudo isto desaparecido, além de algumas jóias também. Opalas e esmeraldas, que devem estar para aí enterradas
entre as raízes de um quintal. Uma complicação como não se pode imaginar, não haja dúvida! O que é de espantar, no fim de contas, é que eu esteja ainda vestida e
rodeada de móveis sólidos neste momento. Porque se quiséssemos um termo de comparação para a vida, o melhor seria o de um metropolitano, atravessando o túnel a cinquenta
milhas à hora - e deixando-nos do outro lado sem um gancho sequer no cabelo! Cuspidos aos pés de Deus, inteiramente nus! Rolando por campos de tojo como embrulhos
de papel pardo atirados para dentro de um marco de correio! E os cabelos puxados para trás pelo vento como a cauda de um cavalo nas corridas. Sim, são coisas destas
que podem dar uma ideia da rapidez da vida, a destruição e reconstrução perpétuas: tudo tão contingente, tão apenas por acaso...
Mas a vida. A lenta derrocada dos grandes caules verdes de tal modo que a flor acaba por se virar, ao cair, inundando-nos com uma luz de púrpura e vermelho. Porque
é que, bem vistas as coisas, não nascemos ali em vez de aqui, desamparados, incapazes de ajustarmos como deve ser a luz do olhar, rastejando na erva entre as raízes,
entre os calcanhares dos Gigantes? Porque dizer o que são as árvores, e o que são homens e o que são mulheres, ou sequer o que é haver coisas como árvores, homens
e mulheres, não será algo que estejamos em condições de fazer nos próximos cinquenta anos. Não há nada por vezes senão espaços de luz e de escuridão, intersectados
por grandes hastes densas e talvez bastante mais acima manchas em forma de rosa - rosa-pálido ou azul-pálido - de cor indecisa, e tudo isso, à medida que o tempo
passa, se vai tornando mais definido e se transforma - em não se pode saber o quê.
Mas a marca na parede não é, de maneira nenhuma, um buraco. Poderá ter sido o resultado de qualquer substância escura e arredondada, uma pequena folha de rosa, por
exemplo, deixada ali pelo Verão, uma vez que não sou uma dona de casa lá muito atenta a essas coisas - basta ver o pó que há na chaminé, o pó que dizem ter soterrado
Tróia por três vezes, destruindo tudo excepto os fragmentos de vasos que chegaram até nós.
Os ramos da árvore batem suavemente na vidraça.!. O que eu quero é pensar calmamente, com sossego e espaço, sem nunca ser interrompida, sem ter que me levantar nunca
da minha cadeira, deslizar com facilidade de uma coisa para a outra, sem qualquer sensação de contrariedade, qualquer obstáculo. Quero mergulhar fundo e mais fundo,
longe da superfície, com os seus factos e coisas quebrados por distinções e limites. Para me apoiar, vou seguir a primeira ideia que passar... Shakespeare... Bom,
serve tão bem como qualquer outra coisa. Um homem solidamente sentado numa cadeira de braços, a olhar o fogo, assim - enquanto uma torrente de ideias cai sem parar
de um céu muito alto, atravessando-lhe o pensamento. Apoia a fronte na mão, e as pessoas, espreitando pela porta aberta - porque é de supor que a cena se passe numa
noite de Verão. Mas como é estúpida esta ficção histórica! Não tem interesse absolutamente nenhum. O que eu quero é poder apanhar uma sequência de pensamentos agradáveis,
uma sucessão que possa reflectir indirectamente a minha própria capacidade, porque há pensamentos agradáveis, até muitas vezes no espírito cor de rato das pessoas
que menos gostam de ser elogiadas. Não são pensamentos que nos lisonjeiam directamente; mas são eles próprios que estão cheios de beleza; pensamentos como este:
"E depois entrei na sala. Eles estavam a discutir botânica. Eu disse-lhes que vira uma flor a crescer num monte de escombros de uma velha casa caída em Kingsway.
As sementes, disse eu, devem datar do reinado de Carlos I. Que flores havia no reinado de Carlos I?" Perguntei-lhes isso - mas não me lembro da resposta. Grandes
flores cor de púrpura, talvez. E assim por diante. A todo o momento vou construindo uma imagem de mim própria, apaixonadamente furtiva, que não posso adorar directamente,
porque se o fizesse, cairia imediatamente em mim e deitaria a mão a um livro num gesto de autodefesa. É curioso, com efeito, como uma pessoa protege a sua própria
imagem de toda a idolatria ou de qualquer outro sentimento que a possa tornar ridícula ou demasiado diferente do original para ser verosímil. Ou talvez não seja
assim tão curioso, afinal de contas? É uma questão da mais alta importância. Imagine-se que o espelho se partia, a imagem desaparece e a figura romântica rodeada
pela floresta profunda e verde desfaz-se; fica apenas essa concha exterior da pessoa que os outros habitualmente vêem - que insípido, oco, inútil e pesado se tornaria
o mundo! Um mundo onde não seria possível viver. Quando no autocarro ou sobre os carris do metropolitano encaramos os outros, estamos ao mesmo tempo a olhar para
o espelho; é por isso que se torna possível vermos então como os nossos olhos são vagos, vítreos. E os romancistas do futuro darão uma importância crescente a estes
reflexos, porque não há apenas um reflexo, mas um número quase infinito deste género de refracções; aí estão as profundidades que os romancistas do futuro terão
que explorar; esses os fantasmas que terão de perseguir, deixando cada vez mais de lado as descrições da realidade, pressupondo-a já suficientemente conhecida pelo
leitor, como fizeram também os Gregos e Shakespeare, talvez - mas estas generalizações começam a parecer-me inúteis. As ressonâncias militares da palavra "generalização"
são evidentes. Lembra-nos uma série de dispositivos destinados a conduzir as pessoas, gabinetes de ministros - toda uma quantidade de coisas que em crianças pensámos
serem as mais importantes, os modelos de tudo o que existe, e de que não poderíamos afastar-nos sem incorrermos no risco da condenação eterna. As generalizações
evocam os domingos em Londres, passeios de domingo, almoços de domingo, e também certas maneiras habituais de falar dos mortos, das roupas, das tradições - como
essa de nos sentarmos juntos à roda, na sala, até à hora do costume, embora ninguém goste de ali estar. Houve sempre uma regra para todas as coisas. A regra para
as toalhas de pôr em cima dos móveis, em certa época era que fossem de tapeçaria, com orlas amarelas em cima, como vemos nas fotografias das passadeiras dos corredores
dos palácios reais. Os panos de mesa diferentes não eram verdadeiros panos de mesa. Como era chocante e ao mesmo tempo maravilhoso descobrir que todas essas coisas
reais, almoços de do mingo, passeios de domingo, casas de campo e panos de mesa não eram inteiramente reais afinal e que a condenação que feria o descrente na sua
realidade era apenas uma sensação de liberdade ilegítima. O que é que ocupa hoje o lugar dessas coisas, pergunto-me, dessas coisas realmente modelares? Os homens
talvez, se se for uma mulher; o ponto de vista masculino que governa as nossas vidas, que fixa as regras de comportamento, estabelece a Mesa da Precedência segundo
o Whitaker, e que se tornou, parece-me, desde a guerra, apenas uma velha metade de fantasma para grande número de homens e mulheres, metade que, em breve, espero,
será posta no caixote do lixo, que é o fim dos fantasmas, dos armários de mogno e das publicações Landseer, dos Deuses e Demónios e o mais que se sabe, deixan-do-nos
por fim uma impressão tóxica de liberdade ilícita - se é que tal coisa existe, a liberdade...
Olhada de certo ângulo, a marca na parede parece tornar-se uma saliência. Também não é perfeitamente circular. Não posso ter a certeza, mas parece projectar uma
sombra, sugerindo que se eu percorresse a parede com o dedo, este subiria e desceria, num dado ponto, um pequeno túmulo, como essas elevações dos South Downs que
não sabemos se são tumbas ou acidentes do terreno. A minha preferência vai para os túmulos, são eles a minha alternativa, porque gosto da melancolia como a maioria
dos ingleses, e acho natural evocar no fim de um passeio os ossos enterrados por baixo da vegetação rasteira... Deve existir algum livro a esse respeito. Algum arqueólogo
deve já ter desenterrado os ossos e ter-lhes-á também posto nome... Que género de homem serão esses arqueólogos, pergunto-me. Coronéis aposentados, na sua maioria,
tenho a certeza, conduzindo lavradores idosos, examinando punhados de terra e algumas pedras e trocando correspondência com os padres da vizinhança, cujas cartas
de resposta, abertas ao pequeno-almoço, fazem os coronéis reformados sentir-se importantes, além de que as pesquisas têm ainda a vantagem de exigirem deslocações
pelo condado até à cidade local, necessidade tão agradável para eles como para as suas esposas envelhecidas, que gostam de fazer doce de ameixa ou tencionam limpar
o escritório e que por isso alimentam a incerteza acerca da alternativa entre campas e acidentes de terreno que faz sair os seus maridos, enquanto estes se sentem
cheios de um prazer filosófico à medida que acumulam provas nos dois sentidos do debate. É verdade que o coronel acaba por se inclinar para a hipótese dos acidentes
de terreno: e ao deparar com alguma oposição, edita um folheto que será lido numa sessão da assembleia local, altura em que uma apoplexia o deita por terra, e os
seus últimos pensamentos conscientes não são para a mulher ou para os filhos, mas para o campo que estava a ser discutido e para a ponta de flecha que lá se encontrou
e que aparece em seguida no museu da cidade, juntamente com o sapato de uma assassina chinesa, um punhado de pregos isabelinos, uma profusão de cachimbos de porcelana
Tudor, um vaso de cerâmica romana e o copo por onde Nelson bebeu - tudo isto provando que nunca será realmente possível saber que histórias.
Não, não, nada se encontra provado, nada se sabe. E se eu me levantasse neste preciso momento e me certificasse de que a marca na parede é realmente - o quê, por
exemplo? - a cabeça de um gigantesco prego, ali colocado há duzentos anos e que, graças à erosão pacientemente provocada por várias gerações de criadas, deita de
fora a cabeça, rompendo a camada de pintura da parede e observando as primeiras imagens da vida moderna nesta sala branca e com um fogão aceso, que ganharia com
isso? - Conhecimento? Tema para posteriores especulações? Posso pensar tão bem continuando sentada como se me levantasse. E o que é o conhecimento? O que são os
nossos homens instruídos senão os descendentes das feiticeiras e eremitas das grutas e florestas, que apanhavam plantas, interrogavam o voo do morcego e transcreviam
a linguagem das estrelas? E quanto menos os honrarmos, quanto menos crédito lhes der a nossa superstição, mais o nosso respeito pela saúde e pela beleza hão-de crescer...
Sim, é-nos possível imaginar um mundo muito mais agradável. Um mundo tranquilo, espaçoso, com um sem fim de flores vermelhas e azuis nos campos sem muros. Um mundo
sem professores nem especialistas nem donas de casa com perfil de polícias, um mundo por onde se poderá deslizar na companhia dos próprios pensamentos, tal como
um peixe desliza na água que passa, tocando de leve o manto de nenúfares da superfície, enquanto os ninhos entre as ramagens da vegetação que cobre as águas guardam
os seus ovos de pássaros aquáticos... Como se está em paz aqui, ao abrigo, no centro do mundo e olhando para cima através das águas cinzentas, com os seus lampejos
súbitos de luz e os seus reflexos - se não fosse o Whitaker's Almanack - se não fosse a Mesa da Presidência!
Preciso de me levantar daqui e de me inteirar do que será realmente aquela marca na parede - um prego, uma folha de roseira, uma racha na madeira?
Lá está a natureza, uma vez mais, no seu velho jogo de autodefesa. Esta corrente de pensamento, ela deu por isso já, é ameaçadora para mim, arrasta-me para um gasto
inútil de energia, talvez mesmo para algum choque com o mundo real, como é de esperar que aconteça a quem se mostra capaz de levantar um dedo contra a Mesa da Presidência
de Whitaker. O Arcebispo de Cantuária traz atrás de si o Lorde Chanceler; o Lorde Chanceler é seguido pelo Arcebispo de York. Toda a gente vem a seguir a alguém,
eis a filosofia de Whitaker: e é uma grande coisa saber-se quem segue quem. Whitaker sabe e deixemos, como a natureza recomenda, que isso nos conforte, em vez de
nos enfurecer: e se não pudermos ser confortados, se temos que estragar esta hora de harmonia, pensemos então na marca na parede.
Compreendi o jogo da Natureza - a sua rápida exigência de actividade que ponha fim a qualquer pensamento que ameace de excitação ou de dor. Daí, suponho eu, a nossa
pouca estima pelos homens de acção - homens que, de acordo com as nossas ideias, não pensam. No entanto, não há mal em uma pessoa deter decididamente os seus pensamentos
desagradáveis contemplando uma marca na parede.
Na verdade, agora que nela fixei melhor os olhos, tenho a impressão de ter lançado uma tábua ao mar: experimento uma agradável sensação de realidade, relegando imediatamente
os dois arcebispos e o lorde chanceler para o mundo das sombras. Eis uma coisa definida, uma coisa real. Do mesmo modo, ao acordarmos de um pesadelo à meia-noite,
apressamo-nos a acender a luz e ficamos descansados na cama, dando graças à cómoda, dando graças aos objectos sólidos em volta, dando graças à realidade, ao mundo
impessoal que nos rodeia e é uma prova de que algo mais existe para além de nós próprios. É isso que então precisamos de saber... A madeira é uma bela coisa para
se pensar nela. Vem de uma árvore: e as árvores crescem, e nós não sabemos porque é que elas crescem. Crescem durante anos e anos, sem nos prestarem atenção, crescem
nas colinas, nas florestas e à beira dos rios - tudo coisas em que é bom pensar. As vacas sacodem a cauda debaixo delas nas tardes quentes de Verão; e as suas folhas
tornam os ribeiros tão verdes que se uma galinhola aparece agora, quase esperamos que as suas penas se tenham tornado verdes também. Gosto de pensar no peixe que
balouça contra a corrente como as bandeiras tremulam ao vento; e nos insectos de água que abrem lentamente os seus túneis no fundo do regato. Gosto de pensar na
própria árvore: primeiro na sensação abrigada e seca de ser madeira: depois na agitação das tempestades; depois no lento e delicioso escorrer interior da seiva.
Gosto de imaginar também as noites de Inverno, ser então uma árvore de pé no campo raso cheio à volta de folhas desfeitas e caídas, sem nada em mim de vulnerável
que receie expor-se aos raios de aço da lua, um mastro nu cravado na terra que treme e treme durante a noite inteira. O canto dos pássaros deve parecer muito cheio
de força e estranho pelo mês de Junho; e os pés dos insectos devem sentir-se frios enquanto sobem penosamente pela casca rugosa e encontram as folhas verdes que
rebentam e as olham com os seus olhos vermelhos marchetados como diamantes... Uma a uma as fibras despertam sob a imensa pressão fria da terra, e depois chega a
última tempestade do ano e os ramos mais altos caem de novo no chão em redor. Mas a vida não se vai por tão pouco e há milhões de vidas pacientes por cada árvore,
espalhadas por todo o mundo, em quartos de dormir, em navios, nas ruas, salas onde homens e mulheres se sentam depois do chá e fumam os seus cigarros. Está cheia
de pensamentos pacíficos, de pensamentos felizes, esta árvore. Gostava de pegar agora em cada um deles separadamente - mas alguma coisa vem atravessar-se no caminho...
Onde ia eu? Era acerca de quê, tudo isto? Uma árvore? Um rio? As colinas? O Whitaker's Almanack? Os campos asfódelos? Não sou capaz de me lembrar de coisa nenhuma.
Tudo se move, cai, desliza e se esvai... As ideias sublevam-se com força e fogem. Alguém aparece de pé ao meu lado e diz:
"Vou sair para comprar o jornal."
"Sim?"
"Apesar de não valer a pena comprar os jornais... Não há nada de novo. A culpa é da guerra; maldita seja esta guerra!... E ainda por cima, aquela lesma na parede,
que não fazia cá falta nenhuma."
Ah! A marca na parede! Era uma lesma...
A CASA ASSOMBRADA
Fosse qual fosse a hora a que acordássemos, havia sempre uma porta que batia. De sala em sala ou de quarto em quarto, um par de fantasmas de mão dada ia mexendo
aqui, abrindo ali, fazendo isto ou aquilo.
"Foi aqui que o deixámos", dizia ele. E ela acrescentava: "Oh, ali também!" "É em cima", murmurava ela. "E no jardim", sussurrava ele. "Cuidado, devagar", diziam
ambos, "ou vamos acordá-los".
Mas não era isso que nos acordava. Oh, não! "Lá andam à procura; estão a levantar as cortinas", dizíamos, por exemplo, e continuávamos a leitura por mais uma ou
duas páginas. "Agora acharam", podíamos ter por fim a certeza, detendo o lápis na margem do livro. E depois, uma pessoa, já cansada de ler, podia pôr-se a procurar
por sua própria vez, levantando-se e andando pela casa vazia, com as portas deixadas abertas, e ouvindo apenas arrulhar os pombos no bosque ou a máquina de debulhar
ao longe na quinta. "O que é que eu estou aqui a fazer? Afinal andava à procura de quê?" As minhas mãos estão vazias. "Talvez seja então lá em cima?" As maçãs estão
no sótão. Já estou cá em baixo outra vez, o jardim continua tranquilo, apenas o livro escorregou e caiu na relva.
Mas eles acharam qualquer coisa na sala. Não que nos seja possível ver. Os vidros da janela reflectem maçãs, reflectem rosas; as folhas caídas na relva continuam
verdes. Quando eles se mexeram na sala, as maçãs viravam para nós apenas a sua parte amarela. No entanto, um momento depois, quando a porta da sala ficou aberta,
havia espalhada no chão, pendurada no tecto, qualquer coisa - o quê? As minhas mãos estavam vazias. Então a sombra de um pássaro cruzou o tapete; dos poços mais
profundos do silêncio, o pombo bravo soltou o seu arrulho. "Salvos, salvos, salvos", pulsa devagar o coração da casa. "O tesouro enterrado; a sala...", o pulsar
interrompeu-se de repente. Oh! Era então o tesouro enterrado?
Um instante mais tarde a luz pareceu embaciada. Talvez no jardim? Mas as árvores conservavam a sua escuridão frente a um raio luminoso que o sol lhes dirigia. Mas
bela, rara, friamente indiferente para além da superfície, a luz que eu procurava continuava a arder do outro lado da vidraça. A morte era o vidro; a morte estava
entre nós; vinha da mulher que pela primeira vez, centenas de anos antes, deixara para sempre aquela casa, calafetando as janelas; as salas estavam mergulhadas no
escuro. Ele fora-se embora, deixara-a; foi para o Norte, foi para o Leste, viu as estrelas do cruzeiro do Sul; depois, voltou em busca da casa e descobriu-a, mergulhada
ao fundo, por trás das colinas. "Salvos, salvos, salvos", começou a pulsar de novo alegremente o coração da casa. "O Tesouro pertence-te."
O vento assobia na álea maior do jardim. As árvores agitam-se de um lado para o outro. Os raios do luar rebentam e espalham-se desordenadamente na chuva. Mas a luz
da lâmpada desce a direito da janela. A candeia arde bem e tranquila. Vagueando pela casa, abrindo as janelas, segredando para não nos acordar, o par de fantasmas
procura a sua alegria.
"Dormimos aqui", diz ela. E ele acrescenta: "Beijos sem conto." "O acordar de manhã" - "Prata entre as árvores" - "Lá em cima" - "No jardim" - "Quando o Verão chegou"
- "Quando neva no Inverno"... As portas fecham-se num rumor à distância, batendo devagar como as pulsações de um coração.
E eles aproximam-se; param à porta. O vento cai, a chuva desliza, de prata, pela janela. Faz escuro nos nossos olhos; já não ouvimos outros passos para além dos
nossos; não vemos nenhum casaco de senhora a desdobrar-se. As mãos dele tapam o clarão da lâmpada. "Olha", murmura ele. "Sono sossegado. O amor nos lábios deles."
Inclinados, o candeeiro seguro por cima de nós, olham-nos profunda e longamente. Demoram-se imóveis. O vento ergue-se de leve; a chama inclina-se um pouco mais.
Raios de luar bravios atravessam o chão e as paredes e iluminam, ao encontrarem-nos, os rostos debruçados; os rostos que velam; os rostos que observam os adormecidos
e espreitam a sua alegria oculta.
"Salvos, salvos, salvos", o coração da casa pulsa cheio de orgulho. "Há tantos anos" - suspira ele. "Encontraste-me outra vez." "Aqui", murmura ela "a dormir; no
jardim a ler; a rir; a guardar maçãs no sótão. Aqui deixámos o nosso tesouro." - Inclina-se de novo; a leve claridade toca a pálpebra dos meus olhos. "Salvos, salvos,
salvos", pulsa vibrante agora o coração da casa. Ao acordar, exclamo: "Oh, é isto o vosso tesouro escondido? A luz no coração."
SEGUNDA OU TERÇA-FEIRA
Indiferente e ociosa, batendo sem esforço o espaço com as asas, segura do seu caminho, a garça passa por cima da igreja, atravessando o céu. Branco e distante, absorto
em si próprio, o céu abre-se e fecha-se sem fim, passa e fica sem fim. Um lago? As suas praias perdem os contornos. Uma montanha? Oh, como é perfeito o doirado do
sol nas suas encostas! Colunas que descem: depois a folhagem dos fetos, ou das plumas brancas, para sempre e sempre.
Deseja-se a verdade, fica-se à sua espera, enquanto se destilam laboriosamente algumas palavras - (um grito à esquerda, outro grito à direita. Rodas de engrenagem
divergentes. Uma concentração de autocarros em sentidos opostos) - porque se deseja sempre - (o relógio afiança com doze badaladas extremamente precisas que é meio-dia;
a luz desdobra-se numa escala de ouro: aparece um enxame de crianças) -, deseja-se para sempre a verdade. A cúpula é vermelha; há moedas suspensas nos ramos das
árvores: o fumo sai das chaminés; um grito rasgado e estridente de "Ferro para vender!" - e a verdade?
Há um ponto algures de onde irradiam passos de homem e passos de mulher, a negro ou a doirado - (Este tempo de neblina - Açúcar? - Não, obrigado - A comunidade do
futuro) -, o clarão do fogo a irromper, tornando vermelha a sala, as figuras negras e os seus olhos iluminados, enquanto lá fora está o furgão a fazer a descarga,
Miss Qualquer Coisa toma o seu chá à mesa de leitura e as muralhas de vidro protegem os casacos de peles.
Coisas que se mostram, pétalas de luz, flutuando nas esquinas, soprando entre as rodas, uma aspersão de prata, dentro ou fora de casa, coisas recolhidas ou que se
desdobram, dispersas por múltiplas dimensões, arrastando-se em cima, por baixo, rasgando-se, escoando-se e reunindo-se de novo - sim, mas a verdade?
Agora é a vez da recordação entreaberta à luz do fogo aceso no quadro de mármore branco. Das profundidades de marfim as palavras sobem e espalham a sua negra obscuridade,
florescem e penetram. O livro está caído; há as chamas, o fumo, as centelhas de um momento - depois, o início da viagem, com o relógio por cima da moldura de mármore,
os minaretes por baixo da torre do relógio e os mares do Oriente, enquanto o espaço é uma precipitação de azul e as estrelas esplendem - verdade? - ou tudo se recolhe
agora, fechando-se em redor.
Indiferente e ociosa, a garça regressa; o céu encobre e depois desnuda as suas estrelas.
LAPPIN E LAPINOVA
Tinham casado. Rebentara no ar a marcha nupcial. Os pombos esvoaçavam. Alguns rapazes com o uniforme de Eton atiraram-lhes arroz; um fox-terrier corria de um lado
para o outro; e Ernest Thorburn conduziu a sua noiva até ao carro através da pequena multidão curiosa de pessoas completamente desconhecidas que se junta sempre
nas ruas de Londres para desfrutar da felicidade ou da desgraça dos outros. Sem dúvida, tratava-se de um noivo elegante, e ela tinha um ar intimidado. O arroz foi
atirado uma vez mais e o carro partiu.
Fora na terça-feira. Era agora sábado. Rosalind precisava ainda de se habituar ao facto de ser agora Mrs. Ernest Thorburn. Talvez nunca lhe fosse possível, porém,
habituar-se ao facto de ser Mrs. Ernest Qualquer Coisa, pensou ela, enquanto se sentava junto da janela larga do hotel, contemplando o lago e as montanhas, e esperava
que o marido descesse para o pequeno-almoço. Era difícil uma pessoa habituar-se ao nome de Ernest. Não era de maneira nenhuma o nome que ela teria escolhido. Teria
preferido Timothy, Antony, ou Peter. O nome dele evocava coisas como o Albert Memorial, armários de mogno, gravuras metálicas do Príncipe Consorte em família - ou,
em suma, a sala de jantar da sogra em Porchester Terrace.
Mas ali estava ele. Graças a Deus não tinha cara de Ernest - nada mesmo. Mas teria ar de quê? Relanceou-o obliquamente por várias vezes. Bom, enquanto estava a comer
aquela torrada parecia um coelho. Não que qualquer outra pessoa fosse capaz de descobrir a mínima semelhança com um animal tão pequeno e tímido naquele jovem aprumado
e com bons músculos, nariz direito, olhos azuis, boca de traço firme. Mas era ainda mais engraçado por causa disso. O nariz dele franziu-se levemente ao trincar
a torrada. Era assim que o coelho de estimação dela também costumava fazer noutro tempo. Ficou a olhar aquele nariz que se franzia; e depois teve de explicar, quando
ele a surpreendeu a observá-lo, porque é que estava a rir.
"É que tu és como um coelho, Ernest", disse ela. "Como um coelho bravo", acrescentou, olhando-o de novo. "Um coelho de caça; um Rei Coelho; um coelho que faz a lei
dos outros coelhos."
Ernest não tinha qualquer objecção a ser um coelho de tal espécie, e como a divertia vê-lo franzir o nariz - embora ele nunca tivesse dado por que fazia semelhante
coisa -, franziu-o de propósito. Ela riu uma e outra vez e ele ria também, de tal modo que as duas senhoras solteironas e o pescador e o criado suíço com o seu lustroso
casaco preto, todos eles adivinharam certo; ele e ela eram muito felizes. Mas quanto tempo dura uma felicidade assim? - perguntaram-se as pessoas para consigo; e
cada uma delas respondeu de acordo com o que as suas experiências lhe lembravam.
À hora do almoço, sentados junto de uma moita de urze perto do lago: "Alface, coelho?" perguntou Rosalind, pegando numa folha de alface que acompanhava os ovos cozidos.
"Vem cá, comer à minha mão", acrescentou ela, e ele mordiscou e provou a alface, franzindo o nariz.
"Coelho bonito, coelho bom", disse ela, acariciando-o, como costumava acariciar outrora o seu coelho de estimação. Mas ele não era, apesar de tudo, um coelho; não
era um coelho. Então traduziu a palavra para francês. "Lapin", chamou-o. Mas ele era integralmente inglês - nascido em Porchester Terrace, educado em Rugby; agora
advogado dos Serviços Civis de Sua Majestade. Tentou, por isso, a seguir, chamar-lhe "Bunny"; mas era ainda pior. "Bunny" era uma coisa gorducha e macia e cómica;
ele era magro e decidido e sério. No entanto, franzia também o nariz. "Lappin", exclamou ela de súbito; e soltou um gritinho como se tivesse encontrado a palavra
exacta que desejava.
"Lappin, Lappin, Rei Lappin", repetiu ela. Parecia assentar-lhe na perfeição; o nome dele não era Ernest, era Rei Lappin. Porquê? Isso não sabia.
Quando não tinham nada de novo de que falarem ao longo dos seus grandes passeios solitários - e ainda por cima chovia, como toda a gente previra que ia acontecer:
ou quando estavam sentados junto ao lume à noite, porque estava frio, e as senhoras solteironas e o pescador se tinham ido embora, e o criado só viria se tocassem
a chamá-lo, ela deixava a sua fantasia ir criando a história da tribo Lappin. Nas suas mãos - enquanto cosia e ele lia - esta tribo tornava-se intensamente real,
intensamente viva, e cheia de graça também. Ernest poisou o livro e começou a ajudá-la. Havia coelhos negros e coelhos vermelhos; havia coelhos inimigos e coelhos
amigos. Havia o bosque onde viviam e os prados em volta e a charneca. Acima de todos en-contrava-se o Rei Lappin, que, muito longe de possuir apenas aquela arte
natural - de torcer o nariz -, se tornava à medida que o tempo ia correndo, um animal de nobilíssimo carácter; Rosalind estava sempre a descobrir-lhe novas qualidades.
Mas era, acima de tudo, um grande caçador.
"E como", disse Rosalind no último dia da lua-de-mel, "passou o Rei o seu dia?"
Na realidade, tinham andado a passear todo o dia; e ela ficara com uma bolha no calcanhar; mas não se importava com isso.
"Hoje", disse Ernest, franzindo o nariz, enquanto cortava a ponta do charuto, "o Rei caçou uma lebre". Interrompeu-se; riscou um fósforo, e voltou a franzir o nariz.
"Uma mulher lebre", acrescentou.
"Uma lebre branca!", exclamou Rosalind, como se fosse daquilo que estava à espera. "Uma lebre pequena; acinzentada de prata; com os olhos brilhantes?"
"Sim", disse Ernest, olhando-a como ela o olhava, "um animal minúsculo; com os olhos a saltarem-lhe do focinho e duas lindas patinhas da frente." Era exactamente
assim que ela estava sentada, com a costura segura nas mãos, e com os olhos que de tão grandes e brilhantes acabavam por ficar um pouco salientes no seu rosto.
"Ah, Lapinova", murmurou Rosalind.
"É assim que ela se chama?" perguntou Ernest - "a autêntica Rosalind?" E olhou para ela. Sentia-se intensamente apaixonado por ela.
"Sim; é assim que se chama", disse Rosalind. "Lapinova". E antes de irem para a cama nessa noite, ficou tudo assente. Ele era o Rei Lappin; ela era a Rainha Lapinova.
Eram o posto um do outro; ele era corajoso e determinado; ela, hesitante e insegura. Ele governava o mundo atarefado dos coelhos; o mundo dela era um lugar misterioso
e desolado, por onde ela vagueava sobretudo durante as noites de luar. De qualquer modo, os seus territórios acabavam por se encontrar; eram Rei e Rainha.
Assim, quando voltaram da lua-de-mel, viram-se na posse de um mundo privado habitado apenas, exceptuada a lebre branca, por coelhos. Ninguém suspeitava da existência
de semelhante lugar, e isso, é claro que o tornava ainda mais divertido. Aquilo fazia-os sentirem-se, mais ainda que a maioria dos casais recentes, coligados contra
o resto do mundo. Muitas vezes lhes acontecia fitarem-se de soslaio um ao outro quando as outras pessoas estavam a falar de coelhos e de bosques, de armadilhas e
tiros. Ou faziam sinal por cima da mesa quando a tia Mary dizia que nunca fora capaz de olhar para uma lebre na travessa - parecia mesmo um bebé: ou quando John,
o irmão desportista de Ernest, lhes falava do preço que os coelhos tinham atingido, nesse Outono, em Wiltshire, e como estavam as peles, e assim por diante... Por
vezes, quando queriam um ajudante de caça, um caçador furtivo ou um Senhor da Mansão, divertiam-se distribuindo esses papéis por este ou aquele dos seus amigos.
A mãe de Ernest, Mrs. Reginald Thorburn, por exemplo, desempenhava na perfeição o papel de Squire. Mas tudo isto era secreto - era esse o ponto essencial; ninguém,
para além deles, sabia da existência daquele mundo.
Sem esse mundo, perguntava Rosalind a si própria, como lhe teria sido possível viver durante aquele Inverno? Por exemplo, tinha havido o jantar das bodas de ouro,
e todos os Thor-burns se reuniram em Porchester Terrace para celebrar o quinquagésimo aniversário dessa união tão cheia de bênçãos - não produziram Ernest Thorburn?
- e tão fecunda - ou não era verdade também que produzira outros nove filhos e filhas, muitos deles já casados e também fecundos? Rosalind estava apavorada com a
festa. Mas era inevitável. Enquanto subia as escadas sentiu amargamente o facto de ser filha única e, ainda por cima, órfã; uma simples gota de água no meio de todos
aqueles Thorburn reunidos na grande sala com papel de parede acetinado e esplendorosos retratos de família. Os Thorburn vivos pare-ciam-se muito com os pintados
naqueles retratos, só que em vez de lábios de tinta e tela tinha lábios verdadeiros, dos quais saíam gracejos, histórias divertidas acerca de salas de aula e de
cadeiras puxadas por trás à governanta quando esta, uma vez, se ia sentar e também acerca de rãs metidas entre os lençóis virginais de velhas solteironas. Mas Rosalind
não se lembrava de ter sabido alguma vez o que fossem brincadeiras semelhantes. Com a sua prenda na mão, avançou em direcção à sogra, sumptuosamente coberta de seda
amarela, e em direcção ao sogro, enfeitado com um cravo amarelo vivo na lapela. A toda a volta por cima das cadeiras e das mesas, havia uma profusão de tributos
doirados, alguns colocados em ninhos de algodão; outros erguendo-se resplandecentes - candelabros, caixas de charutos, cadeiras metálicas; tudo marcado com o contraste
do artista, a comprovar que se tratava de ouro autêntico. Mas o presente dela era apenas uma caixinha com orifícios na tampa; uma caixa de areia para a tinta, uma
relíquia do século XVIII. Um presente bastante extravagante, pressentia-o ela, na época do mata-borrão, enquanto via de novo à sua frente a pesada secretária negra
a que estava sentada a sogra no dia em que tinha ficado noiva de Ernest, e a sogra dissera-lhe: "O meu filho há-de fazê-la feliz." Não, ela não era feliz. De maneira
nenhuma era feliz. Olhou para Ernest, muito aprumado e sólido, com um nariz igual a todos os narizes daquela família nos retratos; um nariz que parecia nunca ter
franzido.
Foram para a mesa. Rosalind estava meio escondida atrás dos crisântemos, cujas grandes pétalas vermelhas e doiradas se abriam em bola. Tudo era doirado. Uma ementa
marginada a ouro referia os pratos, com os nomes escritos com iniciais doiradas, que iam ser servidos. Rosalind mergulhou a colher num recipiente cheio de um líquido
doirado e claro. O nevoeiro alvacento lá de fora transformado, graças à iluminação, numa fosforescência doirada que esbatia os contornos das travessas e dava aos
ananases uma pele de ouro áspero. Só ela no seu vestido de noivado branco, com os olhos salientes abertos e observando, parecia ali, no meio de tanto ouro, um pingente
de gelo insolúvel.
À medida que o jantar avançava, contudo, a sala ia ficando cada vez mais quente. Gotas de suor salpicavam as testas dos homens. Rosalind sentia que o seu gelo estava
a liquefazer-se. Sentia que estava a ser derretida; dispersa; dissolvida no nada; em breve ia desmaiar. Depois, através do nevoeiro do seu cérebro e da zoada que
lhe afligia os ouvidos, ouviu uma voz de mulher exclamar: "Mas eles multiplicam-se tanto!"
Os Thorburn - sim; multiplicavam-se tanto, ecoou ela, olhando à volta da mesa os rostos avermelhados que lhe pareciam duplicar-se na atmosfera doirada que os envolvia
e na tontura que dela se apoderara. "Multiplicam-se tanto." Então, John bradou:
"São uns diabos pequenos!... Só a tiro! Só pisando-os com botas cardadas! É a única maneira de lidar com eles... os coelhos!"
Com esta palavra, a palavra mágica, Rosalind sentiu-se reviver. Espreitando por entre os crisântemos, viu o nariz de Ernest a franzir-se. O rosto enrugou-se-lhe
e ele franziu-o várias vezes seguidas. E então uma catástrofe misteriosa transformou os Thorburn. A mesa doirada tornou-se uma charneca de giesta em flor; o ruído
das vozes, no assobiar feliz de um melro que descia do céu. Era um céu azul - as nuvens passavam lentamente. E ei-los, todos os Thorburn, transformados. Rosalind
olhou para o sogro, um homenzinho pequeno de bigode caído. O seu passatempo era coleccionar coisas várias - selos, caixas de esmalte, pequenos objectos de enfeitar
mesas do século XVIII, que escondia nas gavetas do escritório da vigilância da. mulher. Agora ele parecia-lhe um caçador furtivo, escapando-se com a sua bolsa recheada
de faisões e perdizes que iria cozinhar na panela da sua casa escondida nos campos e cheia de fumo. Era isso o que o sogro realmente era - um caçador furtivo. E
Célia, a filha por casar, que estava sempre a meter o nariz nos segredos das outras pessoas, nas pequenas coisas que os outros gostariam de guardar para si próprios
- essa era um furão branco de olhos vermelhos e com o nariz todo sujo de terra por causa das horríveis pesquisas esconderijos em que andava sempre. Andar de um lado
para o outro pendurada dos ombros dos homens dentro de uma rede e viver numa toca - era uma vida desgraçada, essa vida de Célia; a culpa não era dela, porém. E era
assim que Rosalind agora a via. Depois, olhou para a sogra - a quem tinham dado o cognome de Squire. Corada, altaneira, cheia de si, era assim que ela se mostrava,
agradecendo à direita e à esquerda, mas agora Rosalind - ou melhor, Lapino-va - via-a de modo diferente; via-a contra o fundo da casa de família em decadência, com
o gesso a desprender-se das paredes, e ouvia-a, com a voz cortada por um soluço, a agradecer aos filhos (que a detestavam) um mundo que tinha já deixado de existir.
Fez-se um silêncio súbito. Levantaram-se todos de copo erguido na mão; a seguir beberam; tudo acabara.
"Oh, rei Lappin!", gritou Rosalind, enquanto voltavam os dois através do nevoeiro de Londres, "se o teu nariz não tivesse franzido naquele momento preciso, eu tinha
sido apanhada na armadilha!"
"Mas estás salva", disse o Rei Lappin, apertando-lhe a pata.
"E bem salva!", respondeu ela.
E continuaram ambos a atravessar o Parque, o Rei e a Rainha das charnecas, do campo enevoado e das giestas perfumadas.
E o tempo foi passando; um ano; dois anos. E numa noite de Inverno, que por coincidência sucedeu ser a do aniversário da festa das bodas de ouro - mas Mrs. Reginald
morrera; a casa estava para alugar e só vivia lá um guarda - Ernest chegou do escritório e entrou em casa. Tinham uma bela casinha, os dois; metade de um grande
edifício, por cima de uma loja de selas e arreios para cavalos, em South Kensington, não muito longe da estação do metropolitano. Estava frio, havia nevoeiro no
ar, e Rosalind estava sentada perto do lume, a coser.
"O que é que imaginas que me aconteceu hoje?", começou ela, mal ele se instalou de pernas estendidas para as brasas. "Ia a atravessar o ribeiro quando..."
"Mas que ribeiro?", interrompeu-a Ernest.
"O ribeiro que fica no fundo da floresta, onde o nosso bosque pega com a floresta negra", explicou ela.
Ernest ficou a olhar para ela, estupefacto por um momento.
"Mas que disparate é esse?", perguntou por fim.
"Oh, querido Ernest!" exclamou ela cheia de desânimo. "Rei Lappin", acrescentou, aquecendo as pequenas patas da frente no lume do fogão. Mas o nariz dele não franziu.
As mãos dela - agora eram mãos - crisparam-se no tecido que estava a coser, e os olhos ficaram muito fixos e abertos. Ele levou uns cinco minutos a transformar-se
de Ernest Thorburn em Rei Lappin; e enquanto esperava, ela sentia uma força a pesar-lhe na parte de trás do pescoço, como se alguém a estivesse a estrangular. Por
fim, ele lá se transformou em Rei Lappin; o nariz franziu-se-lhe; e passaram o serão a vagabundear pela floresta como de costume.
Mas Rosalind dormiu mal. A meio da noite acordou, sentin-do-se como se lhe tivesse acontecido qualquer coisa de estranho. Estava entorpecida e com frio. Acabou por
acender a luz e olhar para Ernest, deitado ao seu lado. Ele dormia profundamente. Ressonava. Mas embora estivesse a ressonar, o seu nariz continuava perfeitamente
imóvel. Parecia que nunca na vida se tinha franzido para ela. Seria possível que fosse realmente Ernest? E ela estaria realmente casada com Ernest? Surgiu-lhe uma
imagem da sala de jantar da sogra; e lá estavam ela e Ernest, envelhecidos, rodeados por grandes aparadores de madeira trabalhada... Eram as suas bodas de ouro.
Não aguentava mais.
"Lappin, Rei Lappin!" sussurrou ela, e por um instante o nariz pareceu franzir-se e deixar de novo tudo bem. Mas ele continuou a dormir. "Acorda, Lappin, acorda!"
gritou Rosalind.
Ernest acordou; e vendo-a sentada na cama, direita, ao seu lado, perguntou:
"O que foi?"
"Pensei que o meu coelho tinha morrido!" soluçou ela. Mas Ernest zangou-se.
"Não digas disparates, Rosalind", disse ele. "Deita-te e dorme".
Virou-se para o outro lado. No instante seguinte, dormia de novo profundamente: ressonava.
Ela é que não era capaz de adormecer. Ficou deitada, enroscada no seu lado da cama, como uma lebre encolhida. Apagara a luz, mas o candeeiro da rua iluminava fantasmagorica-mente
o tecto, e as árvores lá fora lançavam uma rede por cima da sua cabeça, como se ela estivesse no meio de ramagens sombrias, assustada, de um lado para o outro, retorcida,
às voltas, caçando, sendo caçada, ouvindo o ladrar dos cães de caça e as trompas dos caçadores; esgueirava-se, fugia... até que a criada abriu as cortinas e trouxe
o chá da manhã.
No dia seguinte, não conseguia pensar em nada. Parecia ter perdido qualquer coisa. Sentia-se com o corpo ressequido; como se tivesse encolhido, tornando-se negro
e escuro. Tinha as articulações também entorpecidas, e quando olhou para o espelho, o que fez várias vezes enquanto vagueava pela casa, os olhos pareciam querer
saltar-lhe da cara, como as passas de uva que cobrem um bolo. As salas também pareciam ter perdido toda a sua vida. Grandes móveis colocados de uma maneira estranha,
com ela a tropeçar neles a todo o momento. Por fim pôs o chapéu e saiu. Caminhou ao longo de Cromwell Road; e todas as casas por onde passava pareciam-lhe ser, ao
entrever-lhes o interior, salas de jantar onde as pessoas estavam sentadas, salas cheias de pesados aparadores, com cortinas de renda amarela e armários de mogno.
Acabou por se dirigir para o Museu de História Natural; costumava gostar de lá ir quando era pequena. Mas a primeira coisa que viu ao entrar foi uma lebre empalhada
em cima de neve fingida com olhos de vidro cor-de-rosa. Aquilo fê-la fugir. Talvez ficasse melhor com o lusco-fusco. Foi para casa e sentou-se ao lume, sem acender
uma única luz, e tentou imaginar que estava sozinha na charneca; e havia um ribeiro a correr; e do outro lado das águas uma floresta negra. Mas não foi capaz de
ir para além do ribeiro. Acabou por se aconchegar num alto de relva húmida, e ficou sentada na cadeira, com as mãos vazias a abanar e os olhos esgazeados, como olhos
de vidro, postos nas chamas. Depois, houve um tiro de espingarda... e ela estremeceu num sobressalto, como se tivesse sido atingida. Afinal era apenas Ernest que
metia a chave à porta. Rosalind esperou a tremer. Ele entrou e acendeu a luz. Ei-lo de pé, à sua frente, direito, alto, esfregando as mãos vermelhas de frio.
"Sentada às escuras?", perguntou.
"Oh, Ernest, Ernest!" gritou ela agitando-se na cadeira.
"Bom, que aconteceu agora?", perguntou ele alegremente, aquecendo as mãos nas chamas.
"Foi Lapinova..." balbuciou ela, olhando assustada para ele, com os seus grandes olhos fixos. "Acabou-se Ernest. Perdi-a!"
Ernest franziu o sobrolho, apertando os lábios com força.
"Oh, era isso então?", disse ele, sorrindo pouco à vontade para a mulher. Durante uns dez segundos, ficou ali de pé, silencioso; Rosalind esperava, sentindo um par
de mãos a apertar-lhe o pescoço.
"Sim", acabou ele por dizer. "Pobre Lapinova..." E começou a arranjar a gravata no espelho que havia por cima da chaminé.
"Foi apanhada numa armadilha", acrescentou Ernest, "morta", e sentou-se a ler o jornal.
Foi assim que o casamento deles acabou.
A DUQUESA E O JOALHEIRO
Oliver Bacon morava na parte superior de uma casa debruçada para Green park. Era o seu apartamento: as cadeiras encontravam-se harmoniosamente dispostas pelos cantos
da sala - cadeiras forradas de coiro. Os vãos envidraçados estavam guarnecidos por divãs - divãs cobertos com mantas de tapeçaria. As janelas, três grandes janelas,
encontravam-se resguardadas por uma renda discreta, nas cortinas pelo indispensável cetim bordado. O bojo dos aparadores de acaju estava recheado de aguardentes,
de whisky e de licores de primeira qualidade. E da janela central ele dominava os toldos lustrosos dos carros elegantes arrumados nos acessos estreitos de Picadilly.
Não se se podia imaginar localização mais central. Às oito horas da manhã, tomava o seu pequeno-almoço, que um criado lhe trazia numa bandeja: o criado estendia-lhe
o roupão de seda carmesim: Oliver Bacon, com as suas compridas unhas aparadas em ponta, abria o correio, extraindo dos sobrescritos espessas folhas de bristol, timbradas,
com as armas de Duquesas, Condessas, Viscondessas e Honorables Ladies várias. Depois, começava a fazer a toillete: depois, comia uma torrada: depois lia o seu jornal,
junto a um fogo crepitante de carvões eléctricos.
"Cá estás tu, Oliver, dizia para consigo. Tu que começaste a vida numa ruela escura e sórdida, que..." e contemplava as pernas bem cingidas pelas calças de um corte
irrepreensível, os sapatos, as polainas. Tudo elegante, cheio de brilho, cortado nas melhores peças pelas melhores tesouras de Savile Row. Mas muitas vezes acontecia-lhe
também sentir-se perturbado e voltava a ser então o rapazinho da ruela obscura de outrora. Tinha havido um tempo em que a sua maior ambição fora tornar-se um próspero
vendedor de cães roubados às senhoras elegantes de Whitechapel. Uma vez fora apanhado. "Oh! Oliver, lamentava-se a mãe. Oh! Oliver, quando é que ganhas juízo, meu
filho?...". Mais tarde, o seu trabalho fora estar atrás de um balcão; fizera-se vendedor de relógios baratos; depois levara, uma vez, um saco a Amsterdam... Essa
recordação fazia-o rir disfarçadamente - enquanto o velho Oliver cismava no Oliver jovem que tinha sido outrora. Sim, saíra-se bem com os três diamantes; tinha havido
também aquela comissão sobre a esmeralda. Depois disso, trabalhara no gabinete privado de uma loja de Hatton Garden; uma sala com balanças, um cofre-forte, grossas
lentes de aumentar; e depois... voltou a rir furtivamente. Quando passava pelos grupos de joalheiros que discutiam questões de preços nas noites quentes, que falavam
das minas de ouro, dos diamantes, das notícias da África do Sul, havia sempre um ou outro que punha o dedo numa das asas do nariz e murmurava "hummm..." à sua passagem.
Não era mais que um murmúrio; não passava de estremecer dos ombros, de um dedo na asa do nariz, um zumbido que percorria todo o grupo de joalheiros de Hatton Garden,
numa tarde de calor. Oh, tratava-se de uma história de outros tempos! Mas Oliver sentia-os ainda a ronronarem na sua coluna vertebral: sentia essa pressão, esse
sussurro que queria dizer: "Olhem para ele, o jovem Oliver, o joalheiro novo - olhem, lá vai ele." Sim, Oliver era um jovem nesse tempo. Ia-se vestindo cada vez
melhor: começou por dispor de um cab, mais tarde arranjou um automóvel. Começou por se sentar nas galerias das casas de espectáculos, depois desceu para as primeiras
filas, para junto da orquestra. Adquiriu uma casa de campo em Richmond, dando para o rio, cheia de canteiros de rosas vermelhas; e mademoiselle colhia uma rosa todas
as manhãs para lha pôr na botoeira.
"É assim, exclamou Oliver Bacon, erguendo-se e esticando as pernas. É assim..."
Estava agora por baixo do retrato de uma senhora de idade, pendurado por cima do fogão de sala; ergueu as mãos na sua direcção. "Cumpri a minha palavra, disse ele,
unindo as mãos, palma contra palma, como se lhe prestasse homenagem. Ganhei a minha aposta." Era verdade. Tornara-se o joalheiro mais rico de Inglaterra; e o seu
nariz, longo e flexível como uma tromba de elefante, parecia dizer num estranho frémito das narinas (dir-se-ia que era todo o nariz e não apenas as narinas que tremiam)
que não estava ainda satisfeito, que farejava ainda mais alguma coisa por baixo da terra, um pouco mais longe. Imagine-se um porco gigante num campo cheio de trufas;
o porco já desenterrou algumas trufas, mas está a farejar outra maior, mais escura, um pouco mais adiante, no meio da terra. Oliver farejava sempre um pouco mais
adiante no solo fértil de Mayfair, em busca de uma trufa ainda mais escura e maior.
Endireitou o alfinete da gravata, enfiou-se no seu magnífico sobretudo azul, pegou nas luvas cor de manteiga fresca e na bengala. Balançava-se e fungava levemente
ao descer as escadas, exalando meio suspiro através do grande nariz pontudo, enquanto saía para Piccadilly. Não era afinal um homem triste, um homem insatisfeito,
um homem que procura algo oculto, embora tivesse ganho a sua aposta?
Ao caminhar, vacilava de modo imperceptível, como o camelo do jardim zoológico quando avança pelas ruazinhas de asfalto cheias de merceeiros com as suas esposas,
que comem coisas tiradas de dentro dos embrulhos e semeiam no chão pedaços de papel de prata. O camelo despreza os comerciantes; o camelo sente-se descontente com
a sua sorte; o camelo vê um lago e um véu de palmares à sua frente. Assim o grande joalheiro, o maior joalheiro do mundo, descia Piccadilly com largas passadas,
perfeitamente composto com as suas luvas e a sua bengala, mas insatisfeito. Chegou à lojazinha escura que se tornara célebre em França, na Alemanha, na Áustria,
na Itália e por toda a América - a pequena loja escura numa rua vizinha de Bond Street. Como de costume, atravessou a loja, sem dizer uma palavra. Todavia, os quatro
homens, dois velhos: Marsall e Spen-cer, e dois jovens: Hammond e Wicks, ali estavam, numa postura rígida, perfilados à sua passagem com um olhar cheio de inveja.
Oliver não acusou a sua presença senão por meio de um sinal do dedo das suas luvas com tonalidade de âmbar, e entrou no seu gabinete privado, fechando a porta atrás
de si.
Retirou em seguida a protecção metálica da janela. Os ruídos de Bond Street, o ronronar do trânsito entraram na sala. Ao fundo da loja, a luminosidade dos reflectores
subia até ao tecto. Uma árvore balouçava as suas seis folhas verdes, porque era Junho. Mas mademoiselle casara com Mr. Pedder, o cervejeiro local - e ninguém punha
agora rosas na botoeira de Oliver.
"É assim, murmurou ele, meio suspirando, meio fungando, assim..."
Accionou uma mola na parede e o painel abriu-se lentamente: por trás ficavam cofres-fortes, cinco, não, seis cofres-fortes, todos eles de aço trabalhado. Deu a volta
a uma das chaves; abriu um dos cofres; depois outro. Cada um estava forrado na parte de dentro por um acolchoado de veludo, veludo carme-sim-escuro: cada um deles
cheio de jóias - braceletes, colares, anéis, tiaras, coroas ducais -, cheio de pedrarias acomodadas em conchas de vidro; rubis, esmeraldas, pérolas, diamantes. Tudo
em perfeita segurança, cintilante e frio e, contudo, ao mesmo tempo, ardente; era o ardor da própria luz que condensavam.
"Lágrimas", disse Oliver, contemplando as pérolas. "Sangue do coração", disse olhando os rubis. "Pólvora", acrescentou, remexendo os diamantes, e fazendo-os soltar
miríades de fogos.
"Pólvora suficiente para mandar Mayfair pelos ares, até ao céu, céu, céu!" E enquanto dizia estas palavras, Oliver lançou a cabeça para trás, fazendo ouvir uma espécie
de relincho.
O telefone tocou na mesa do seu gabinete, obsequiosamente, em voz surda e velada. Oliver voltou a fechar o cofre.
"Dentro de um minuto, antes disso não", disse para consigo. Sentou-se à sua mesa e contemplou os imperadores romanos cujas efígies adornam agora os seus botões de
punho. Ali estava de novo desarmado, voltara a ser o rapazinho que jogava ao berlinde na viela onde se vendem ao domingo cães roubados. Voltou a ser esse rapazinho
astucioso e matreiro, com lábios vermelhos cor de cereja. Metia os dedos em cordões de tripas; molhava-os nas caçarolas de peixe frito: passeava por entre a multidão;
era delgado, flexível, com os olhos de pedra húmida; e agora - agora - o tique-taque dos dedos do relógio de parede fazia um, dois, três, quatro.... A duquesa de
Lambourne esperava que ele se dispusesse a recebê-la; a duquesa de Lambourne descendente de centenas de Condes. Ia esperar dez minutos numa cadeira junto ao balcão
do mostruário. Ia esperar que ele se dispusesse a recebê-la. Consultou o seu relógio de bolso, tirando-o do estojo de pele. O ponteiro continuava a avançar. A cada
tique-taque, parecia-lhe que o relógio lhe punha à frente um pudim de fígado de aves, uma taça de cham-pagne, um cálice de aguardente fina, um charuto de guinéu.
O relógio de algibeira servia de tudo isso à sua mesa, enquanto os dez minutos iam passando. Depois ouviu passos abafados que se aproximavam; um fru-fru no corredor.
A porta abriu-se. Mr. Hammond comprimia-se contra a parede.
"Sua Graça", anunciou ele.
E ficou na mesma posição, comprimido contra a parede.
Levantando-se, Oliver podia ouvir o fru-fru do vestido da duquesa que atravessava o corredor. Desenhou-se, em seguida, na moldura da porta, enchendo a sala com as
suas armas, o seu prestígio, a arrogância, a vaidade, o orgulho de todos os duques e de todas as duquesas que nela se faziam uma só enorme vaga. E como uma onda
que se desfaz, desfez-se ela também por fim, sentando-se, espraiando-se, salpicando, inundado Oliver Bacon, o grande joalheiro. Cobria-o com o fogo das suas cores
resplandecentes: verde, rosa, violeta: inundava-o de perfume, de iridis-cências e dos raios luminosos que se despediam dos seus dedos, das suas plumas oscilantes
e da seda do seu vestido. Porque, de idade madura, a duquesa era vastíssima, imensa, revestida com os seus tafetás apertados. Como um guarda-sol de muitos panos
se fecha, como um pavão de mil penas encerra o seu leque, dei-xou-se cair e fechou-se na poltrona de couro onde encalhara.
"Bom dia, Mr. Bacon", disse a Duquesa. E estendia-lhe a mão espreitando por uma abertura das luvas. Oliver curvou-se para lha tomar. E enquanto as suas mãos se tocavam,
voltou a forjar-se entre eles o elo de uma corrente. Eram amigos e, ao mesmo tempo, inimigos: ele era o senhor, a senhora era ela: en-ganavam-se um ao outro, precisavam
um do outro, temiam-se reciprocamente, e ambos o sentiam e sabiam todas as vezes que as suas mãos se tocavam assim naquela saleta escura, com a luz branca lá fora,
a árvore com seis folhas, o ruído distante da rua e os cofres-fortes atrás.
"E hoje, Duquesa, em que posso ser-lhe útil hoje?", inquiriu Oliver com extremo cuidado.
A Duquesa abriu-lhe o coração, a intimidade do seu coração: abriu-lho de par em par. Com um suspiro, sem uma palavra, tirou da sua mala uma espécie de pequeno saco
de camurça - semelhante a uma doninha amarela, estreita e alongada - e de uma abertura a meio do corpo da doninha deixou cair as pérolas - dez pérolas -, que deslizaram
rolando da fenda aberta no ventre da doninha - uma, duas, três, quatro - como os ovos de algum pássaro divino.
"É tudo o que me resta, meu caro Mr. Bacon", disse ela com um queixume na voz. Cinco, seis, sete - as pérolas rolavam, rolavam ao longo da fenda rasgada nos vastos
flancos da montanha que se abriam entre os seus joelhos, formando um estreito vale ao fundo - oito, nove, dez. As pérolas estavam ali, poisadas no brilho do tafetá
cor de flor de pessegueiro. Dez pérolas.
"A cintura Appleby, disse ela tristemente. São as últimas... as últimas de todas."
Oliver estendeu o braço e segurou uma das pérolas entre o polegar e o indicador. Era redonda, brilhava. Mas - verdadeira ou falsa? Estaria a Duquesa a mentir uma
vez mais? Atrever-se-ia ela a continuar a mentir?
A Duquesa poisou o dedo rechonchudo na boca. "Se o Duque soubesse..., sussurrou ela a medo. Caro Mr. Bacon, foi outra vez um golpe de pouca sorte."
Teria voltado, então, a perder ao jogo?
"O traidor! O batoteiro!", disse a Duquesa numa voz sibilante.
Seria o homem com o maxilar partido? Um indivíduo pouco limpo. "E o Duque, que é generoso como o ouro para com os seus favoritos, ia privá-la de dinheiro, fechá-la
num lugar distante qualquer, se soubesse o que eu sei", pensava Oliver. Lançou um olhar em direcção ao cofre.
"Araminta, Daphne, Diana, gemeu a Duquesa, é por causa delas." As três filhas - Oliver conhecia-as: adorava-as. Mas Diana, essa amava-a deveras, amava-a do fundo
do coração.
"Conhece todos os meus segredos", disse a Duquesa com os olhos baixos. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Lágrimas que começaram a cair, lágrimas como diamantes,
arrastando o pó-de-arroz ao longo dos sulcos das suas faces cor de cerejeira em flor.
"Meu velho amigo, murmurou ela, meu velho amigo." Oliver repetiu essas palavras duas vezes, como se estivesse a lambê-las.
"Quanto?", perguntou depois. A Duquesa escondeu as pérolas com a mão. "Vinte mil", murmurou.
Mas seriam verdadeiras ou falsas, as pérolas que Oliver tinha na mão? A cintura Appleby - não fora já vendida? Ia tocar, mandando vir Spencer e Hammond, e dizer-lhes:
"Levem isto e verifiquem." Estendeu o braço na direcção da campainha. "Quero que você também venha amanhã, disse a Duquesa com uma voz pressurosa, detendo-o. O Primeiro-Ministro,
Sua Alteza Real..." Parou por um instante. "E Diana...", acrescentou ainda.
Oliver tirou a mão da campainha.
Para além da figura da Duquesa, contemplou as traseiras das casas de Bond Street, somente não eram já as casas de Bond Street o que estava a ver, mas uma água enrugada,
uma truta, um salmão que saltavam, o Primeiro-Ministro e ele próprio também, os coletes brancos, e depois, Diana. Contemplou de novo a pérola que tinha na mão. Mas
como havia de a avaliar agora - à luz do rio, à luz dos olhos de Diana? Os olhos da Duquesa não se desprendiam dele.
"Vinte mil, disse ela num gemido, é a minha honra!" A honra da mãe de Diana! Oliver pegou no seu livro de cheques e puxou da caneta. Escreveu "vinte", depois deteve-se.
Os olhos da velha senhora do retrato estavam poisados nele - os olhos da sua velha mãe.
"Oliver, avisou-o ela, tem juízo! Não sejas tolo!" "Oliver, suplicou a Duquesa - agora era apenas "Oliver", já não era "Mr. Bacon" - não quer passar connosco um
fim-de-semana prolongado?"
Sozinho nos bosques com Diana! Sozinho, a cavalo, nos bosques com Diana!
"Mil", escreveu, e assinou. "Aqui tem", disse por fim.
E todos os panos do guarda-sol, todas as penas do pavão se abriram. O esplendor da vaga, as espadas e as esporas de Azin- court fulguravam enquanto a Duquesa se
levantava da cadeira. Os dois empregados velhos e os dois mais novos, Spencer e Marshall, Wicks e Hammond, colaram-se à parede por trás do balcão, cheios de inveja,
enquanto Oliver a acompanhava à porta, agitando as suas luvas cor de manteiga fresca diante dos olhos deles, e a Duquesa ia levando a sua felicidade - um cheque
de 20 000 libras assinado por ele - bem segura na mão.
"Serão verdadeiras ou falsas?", perguntou-se Oliver, voltando a fechar a porta do gabinete particular. As dez pérolas ali estavam, poisadas no tampo coberto de mata-borrão,
em cima da mesa. Levou-as para mais perto da janela, observou-as à luz do dia com as suas lentes... Aquilo seria, afinal, a trufa que ele tinha desenterrado? Podre
até ao meio, completamente podre!
"Perdoa-me, ó minha mãe!", exclamou ele suspirando e levantando a mão, como que para pedir à velha mulher do retrato que lhe perdoasse. Voltara a ser o rapazinho
na viela onde se vendiam cães roubados ao domingo. "Porque, murmurou, unindo as palmas das mãos, o fim-de-semana vai ser prolongado!"
O LEGADO
"Para Sissy Miller", lia Gilbert Clandon, pegando no broche de pérolas deitado entre outros broches e anéis, em cima de uma mesinha da sala de estar de sua mulher
- "Para Sissy Miller, com o meu afecto."
Era mesmo de Angela ter-se lembrado de Sissy Miller, a sua secretária. E era muito estranho também, pensou Gilbert Clandon, uma vez mais, ela ter deixado todas as
coisas tão bem arrumadas - uma pequena prenda para cada um dos seus amigos. Era como se tivesse previsto que ia morrer. E, no entanto, estava de perfeita saúde quando
saíra de casa nessa manhã, havia agora seis semanas; quando, ao descer do passeio em Picca-dilly, o carro aparecera - e a matou.
Ele estava à espera de Sissy Miller. Pedira-lhe que viesse; devia-lhe, sentiu-o, depois de todos os anos que ela passara com eles, esse gesto de consideração. Sim,
continuou depois, enquanto se sentava à espera, era estranho que Angela tivesse deixado tudo tão em ordem. Cada um dos seus amigos receberia uma pequena prova do
afecto dela. Cada anel, cada colar, cada caixinha chinesa - ela tivera sempre uma paixão por caixinhas - tinha um nome escrito. E cada um desses objectos, para ele,
tinha também a sua memória. Este fora ele quem lho dera: aquele - o delfim de esmalte com olhos de rubi - tinha-o comprado ela um dia numa rua escura de Veneza.
Lembrava-se ainda do seu pequeno grito de alegria. A ele, é claro que não lhe deixara nada em particular, exceptuando o seu diário. Quinze pequenos volumes, encadernados
de verde, ali estavam, atrás dele, na mesa de escrever dela. Desde que se tinham casado que Angela conservara o diário. Algumas das suas pouquíssimas - não lhes
podia chamar zangas -, alguns dos seus pouquíssimos amuos tinham tido esse diário como causa. Quando ele entrava e a via a escrever, ela fechava sempre o caderno
ou escondia-o, pondo-lhe a mão em cima. "Não, não, não", era como se a estivesse ainda a ouvir. "Depois de eu morrer - talvez." E deixara-lho a ele, era o seu legado.
Era a única coisa que não tinha compartilhado em vida com Gilbert. Mas ele sempre considerara como garantido que seria Angela a sobreviver-lhe. Se ao menos ela tivesse
parado por um instante e pensasse no que estava a fazer, estaria agora ainda viva. Mas descera sem olhar do passeio, afirmara o dono do carro ao ser inquirido a
seguir à morte dela. Não lhe dera a menor possibilidade de tentar desviar-se... E aqui o som das vozes no hall interrompeu-o.
"Miss Miller, Sir", disse a criada.
Ela entrou. Gilbert nunca na sua vida a vira a sós, nem, é claro, a chorar. Vinha terrivelmente comovida, como não era de espantar. Angela fora muito mais para ela
do que a pessoa para quem se trabalha. Fora uma amiga. Mas para ele, pensou Gilbert Clandon, enquanto puxava uma cadeira e lhe pedia que se sentasse, aquela mulher
mal se distinguia das outras da mesma condição. Havia milhares de Sissy Millers - mulherzinhas insípidas, vestidas de preto, sempre com uma pasta atrás. Mas Angela,
com o seu dom de simpatia, descobrira toda a espécie de qualidades em Sissy Miller. Era a descrição em pessoa; tão silenciosa; tão cheia de lealdade que não havia
nada que não pudesse confiar-se-lhe, e assim por diante.
Miss Miller parecia de início incapaz de dizer uma palavra. Ficou sentada, enxugando os olhos com o lenço. Depois, fez um esforço.
"Desculpe-me, Mr. Clandon", disse ela.
Ele limitou-se a um murmúrio como resposta. Claro que compreendia muito bem. Podia adivinhar o que a mulher representara para ela.
"Fui tão feliz aqui", disse Miss Miller, olhando em redor. Os seus olhos ficaram presos à mesa de trabalho, que espreitava por trás de Mr. Clandon. Era ali que ambas
trabalhavam - ela própria e Angela. Porque Angela tinha a sua parte nas obrigações que cabem à esposa de um político em destaque. Fora uma auxiliar de primeira no
que se referia à carreira do marido. Ele vira-as muitas vezes, a mulher e Sissy, sentadas àquela mesa - Sissy à máquina de escrever, batendo as cartas que a mulher
lhe ditava. Sem dúvida que Miss Miller estava também a pensar nisso. Agora tudo o que lhe restava fazer era entregar-lhe o broche da mulher e deixá-la. Parecia,
realmente, uma prenda um tanto incongruente. Teria sido melhor deixar-lhe uma certa quantia de dinheiro, ou até a máquina de escrever. Mas o que estava escrito era
aquilo mesmo - "Para Sissy Miller, com o meu afecto." E, pegando na jóia, entregou-lha, acompanhada do pequeno discurso que tinha preparado. Sabia, disse-lhe, que
ela apreciaria aquela lembrança. A sua mulher tinha-a usado muitas vezes... Miss Miller, por sua vez, replicou-lhe, quase como se tivesse também o seu discurso preparado,
que o broche era um tesouro precioso para ela... Gilbert Clandon esperava que aquela mulher tivesse pelo menos outras roupas, com as quais o broche não ficasse tão
mal. Trazia vestido o saia-casaco preto que parecia ser um uniforme da sua profissão. Depois, Gilbert lembrou-se de que Miss Miller estava, evidentemente, de luto.
Também ela sofrera uma tragédia - um irmão, a quem fora muito dedicada, morrera apenas uma ou duas semanas antes de Angela. Um acidente também, ou não seria? Não
conseguia lembrar-se - mas lembrava-se de Angela lhe falar disso. Angela, com o seu dom de simpatia, ficara terrivelmente impressionada. Entretanto, Sissy Miller
levantara-se. Estava a pôr as luvas. Era evidente que sentia não dever tornar-se importuna. Mas ele não podia deixá-la ir-se embora assim, sem lhe dizer nada acerca
do futuro. Quais eram os planos dela? Havia alguma maneira de ele poder ajudá-la?
Ela estava de olhos fixos na mesa, onde costumava sentar-se à máquina de escrever e onde se via poisado o diário. E, perdida nas suas recordações de Angela, não
respondeu imediatamente à sugestão de auxílio que Mr. Gilbert Clandon lhe apresentara. Por um momento, pareceu não ter compreendido. Por isso, ele acabou por ter
que repetir:
"Quais são os seus planos, Miss Miller?" "Os meus planos? Oh, está tudo muito bem. Mr. Clandon", exclamou ela. "Por favor não se preocupe comigo."
Ele pensou que ela queria dizer com aquilo que não precisava de auxílio financeiro. Teria sido melhor, reflectiu ele depois, deixar uma sugestão desse género para
uma carta. Agora tudo o que podia fazer era acrescentar, ao apertar-lhe a mão, "Lembre-se, Miss Miller, se alguma vez lhe puder ser útil, terei todo o prazer..."
Em seguida, abriu a porta. Por um momento, no limiar, como se um pensamento súbito a tivesse ferido, Miss Miller deteve-se.
"Mr. Clandon", disse ela, olhando-o nos olhos pela primeira vez, e pela primeira vez ele sentia-se impressionado pela expressão, cheia de simpatia embora interrogativa,
dos olhos dela. "Se alguma vez", continuou Sissy Miller, "houver alguma coisa que eu possa fazer para o ajudar, lembre-se de que será para mim, em atenção à sua
mulher, um prazer..."
E com isto partiu. As suas palavras e o olhar que as acompanhara eram inesperados. Era quase como se ela acreditasse, ou esperasse, que ele viesse a precisar dela.
Uma ideia curiosa, talvez fantástica, ocorreu-lhe quando voltou à sua cadeira. Seria possível que, durante todos aqueles anos, enquanto ele mal dava pela existência
dela, Miss Miller alimentasse uma paixão secreta por ele, como as que nos contam os romances? Ao passar pelo espelho cruzou-se com a sua própria imagem. Tinha mais
de cinquenta anos; mas não podia deixar de reconhecer que continuava a ser ainda, conforme o espelho mostrava, um homem dotado de excelente aparência.
"Pobre Sissy Miller!", disse para consigo, meio a brincar. Como teria gostado de contar à mulher as coisas engraçadas em que estava agora a pensar! E instintivamente
olhou para o diário dela. "Gilbert", leu ele, abrindo-o ao acaso, "estava maravilhoso..." Era como se aquilo tivesse respondido às suas interrogações. Claro, parecia
ela dizer-lhe, és muito atraente para as mulheres. Claro, Sissy Miller também sente isso mesmo. Começou a ler. "Como me sinto orgulhosa de ser a mulher dele!" Também
ele se sentira sempre muito orgulhoso por ser marido dela. Quantas vezes, quando jantavam fora aqui ou ali, a olhara por cima da mesa, dizendo para consigo: ela
é a mulher mais bonita de todas as que aqui estão! Continuou a ler. Nesse primeiro ano, fora quando Gilbert se candidatara ao Parlamento. Tinham percorrido o seu
círculo eleitoral. "Quando Gilbert se sentou, os aplausos foram uma coisa tremenda. Todo o auditório se levantou e cantou: For he's ajolly goodfellow. Senti-me absolutamente
perturbada." Também ele se lembrava daquilo. Ela tinha ficado sentada no estrado, por trás dele. Ainda a podia ver, fitando-o de relance, com as lágrimas nos olhos.
E depois? Passou algumas páginas. Tinham ido a Veneza. Lembrava-se dessas férias felizes a seguir às eleições. "Comemos gelados no Florian." Sorriu - ela era ainda
como uma criança: adorava gelados. "Gilbert traçou-me um quadro muito interessante da história de Veneza. Disse-me que os Doges..." - tudo aquilo escrito com a sua
letra de rapariguinha de escola. Era uma delícia viajar com Angela por causa da sua ânsia de tudo saber. "Sou tão ignorante", costumava ela dizer, como se isso não
fosse um dos seus encantos. E agora - Gilbert abria outro volume - tinham voltado para Londres. "Queria tanto causar boa impressão. Vesti o meu vestido de casamento."
Podia ainda vê-la sentada ao lado do velho Sir Edward e conquistando por completo aquele velho formidável, seu chefe. Continuou a leitura rapidamente, revivendo
cena a cena por meio dos fragmentos que a mulher evocara. "Jantámos na Casa dos Comuns... Fomos a uma festa à noite em casa dos Lovegroves. Terei eu a noção das
minhas responsabilidades, conforme me perguntou Lady L., em virtude de ser mulher de Gilbert?" Depois, os anos tinham passado - o volume do diário era já outro,
tirado de cima da mesa de trabalho - e Gilbert fora sendo cada vez mais absorvido pelo seu trabalho. E ela, evidentemente, passou a ficar mais vezes sozinha... Aparentemente
fora para ela um grande desgosto não terem tido filhos. "Desejava tanto", leu noutra das entradas do caderno, "que Gilbert tivesse um filho." Talvez fosse um tanto
estranho que, pelo seu lado, ele nunca o tivesse lamentado muito. A vida fora tão rica, tão cheia, assim mesmo. Nesse ano, fora colocado num lugar secundário do
governo. Apenas um lugar secundário, mas o comentário dela fora: "Tenho a certeza que ele há-de chegar a Primeiro-Ministro!" Bom, se as coisas tivessem corrido de
outro modo, teria podido sê-lo. A política era um jogo, ponderou; mas o jogo ainda não acabara. Não acabava aos cinquenta anos. Passou os olhos rapidamente por outras
páginas, cheias dos pequenos pormenores, dos pormenores insignificantes, quotidianos e felizes, que formavam a vida dela.
Pegou noutro volume e abriu-o ao acaso. "Como sou cobarde! Deixei passar outra vez a ocasião! Mas podia-lhe parecer egoísmo da minha parte, ir incomodá-lo com as
minhas coisas quando ele já tem tanto em que pensar. E depois, é tão raro estarmos sozinhos os dois à noite." O que queria aquilo dizer? Oh, lá vinha a explicação
- referia-se ao trabalho dela no East End. "Ganhei coragem e falei finalmente a Gilbert. Ele foi tão compreensivo, tão bom. Não fez qualquer objecção." Também ele
se lembrava dessa conversa. A mulher dissera-lhe que se sentia muito vazia, demasiado inútil. Gostava de ter uma actividade dela, por si própria. Gostava de fazer
alguma coisa - e corara com tanta graça, lembrava-se ele, quando se sentara ali a falar-lhe daquilo, naquela mesma cadeira - para ajudar os outros. Gilbert metera-se
um pouco com ela. Não tinha já bastante que fazer tratando dele, da casa deles? Mas se isso a distraía, claro que não tinha nada a dizer contra. De que se tratava?
De uma associação? De uma organização de beneficência? Só tinha de prometer-lhe uma coisa, que não ia estragar a saúde com as novas tarefas. Assim, ela passou a
ir todas as quartas-feiras a Whitechapel. Gilbert lembrava-se de ter ódio às roupas que a mulher vestia nessas alturas. Mas ela levara aquilo muito a sério, ao que
parecia. O diário estava cheio de referências do género: "Vi Mrs. Jones... Tem dez filhos... O marido ficou sem o braço num acidente... Fiz o melhor que pude para
arranjar um trabalho para Lily." O nome de Gilbert, que continuava a leitura, aparecia agora menos vezes. O interesse dele diminuiu um pouco. Havia entradas inteiras
agora que não diziam nada a seu respeito. Por exemplo: "Tive uma discussão muito viva com B. M. acerca do socialismo." Quem era B. M.? Não conseguia completar aquelas
iniciais; alguma mulher, supôs, que Angela conhecera na sua organização. "B. M. atacou violentamente as classes mais elevadas... Depois da reunião, voltei a pé com
B. M. e tentei convencê-lo. Mas ele é tão estreito de ideias!" Então, B. M. era um homem - era com certeza um desses "intelectuais", como eles se chamam a si próprios,
tão cheios de violência e, como ela dizia, de ideias tão estreitas. Mas depois a mulher convidara-o para jantar e a visitá-la. "B. M. veio jantar. Apertou a mão
a Minnie!" Este ponto de exclamação deu um novo toque à imagem mental que dele Gilbert estava a formar entretanto. B. M., ao que parecia, não estava habituado a
encontrar criadas de fora; apertara a mão a Minnie. Provavelmente era um desses operários insípidos, que só pensam em entrar na sala de uma senhora de bem. Conhecia
o género, e não possuía qualquer simpatia por esse estilo de gente, quem quer que fosse B. M.. Lá aparecia ele de novo. "Fui com B. M. à Torre de Londres... Ele
diz que a revolução se aproxima... Disse que vivemos num Paraíso de Loucos." Era precisamente a espécie de coisas que B. M. devia dizer - Gil-bert era quase capaz
de o ouvir. Era também capaz de o imaginar com bastante precisão. Um homem atarracado, pequeno, mal escanhoado, gravata vermelha, sempre vestido de flanela, que
nunca fizera nada de útil em toda a sua vida. Com certeza que Angela teria tido o bom senso de o considerar do mesmo modo... Gilbert continuou a ler. "B. M. disse
algumas coisas muito desagradáveis acerca de..." O nome fora apagado cuidadosamente. "Disse-lhe que não queria ouvir nem mais uma palavra acerca de..." E de novo
a palavra seguinte fora riscada. Seria possível que se tratasse do próprio nome de Gilbert? Seria por isso que Angela tapava a página tão depressa quando ele entrava?
Este pensamento aumentava a sua antipatia crescente por B. M.. Aquele homem tivera a impertinência de falar a respeito dele, Gilbert, na sua própria casa? Porque
é que Angela nunca lhe dissera nada? Não era de todo em todo da maneira de ser dela esconder fosse o que fosse: sempre fora a imagem viva da lealdade. Gilbert virou
outra página, procurando novas referências a B. M.. "B. M. contou-me a história da sua infância. A mãe trabalhava a dias... Quando penso nisso, mal posso continuar
a viver em todo este luxo... Três guinéus por um chapéu!" Se ao menos a mulher tivesse discutido estes problemas com ele, Gilbert, em vez de atormentar a sua pobre
cabecita com coisas demasiado complicadas para o seu mundo mental! B. M. emprestara-lhe livros. Karl Marx, A Revolução Vai Chegar. As iniciais B. M., B. M., B. M.,
surgiam cada vez mais frequentemente. Mas porque não escrevera ela nunca o nome completo? Havia uma sugestão de inconveniência, de intimidade, no uso exclusivo destas
iniciais que não condizia de modo nenhum com a maneira de ser de Angela. Tratá-lo-ia também por B. M., quando estavam os dois frente a frente? Continuou a ler. "B.
M. apareceu inesperadamente depois do jantar. Felizmente, eu estava cá sozinha." Fora havia cerca de um ano. "Felizmente" - porquê felizmente? - "eu estava cá sozinha."
Onde teria estado ele próprio nessa noite? Verificou a data na sua agenda. Era a noite em que jantara na Mansion House. E B. M. e Angela tinham passado o serão a
sós, um com o outro! Gilbert tentava recordar-se dessa noite. Angela tinha, ou não, ficado à espera dele? A sala teria o mesmo ar que de costume? Havia copos na
mesa? As cadeiras tinham sido puxadas para mais perto uma da outra? Não conseguia lembrar-se de nada - de nada, excepto do seu discurso no jantar de Mansion House.
O conjunto da situação parecia-lhe cada vez mais inexplicável; a sua mulher que recebia a sós aquele homem desconhecido. Talvez o volume seguinte o elucidasse melhor.
Procurou precipitadamente no último caderno - o que ela tinha deixado incompleto quando morrera. Lá estava na primeira página aquele tipo maldito. "Jantei sozinha
com B. M. ... Ele estava muito agitado. Disse que já era tempo de nos explicarmos... Tentei fazê-lo ouvir-me. Mas ele não queria. Ameaçou que se eu não...", o resto
da página fora riscado. Angela escrevera "Egipto, Egipto, Egipto" por cima da página inteira. Gilbert não conseguia decifrar uma só palavra: mas havia uma única
interpretação possível: o patife pedira-lhe que se tornasse sua amante. Sós os dois naquela sala! O sangue subiu ao rosto de Gilbert Clandon. Virou as páginas rapidamente.
Que respondera ela? As iniciais desapareciam. O homem agora era "ele", simplesmente. "Ele voltou. Disse-lhe que não era capaz de tomar uma decisão... Implorei-lhe
que me deixasse." Então ele forçara-a ali mesmo em casa? Mas porque é que Angela nada lhe dissera? Como lhe fora possível hesitar sequer por um momento? O diário
continuava: "Escrevi-lhe uma carta." Depois, as páginas tinham ficado em branco. Mas adiante havia as seguintes palavras: "A minha carta continua sem resposta."
Mais algumas páginas deixadas em branco, e a seguir de novo: "Ele cumpriu a sua ameaça." Depois daquilo - que acontecera depois? - Gilbert passou uma página após
outra. Estavam todas em branco. Mas agora, exactamente no dia anterior ao da morte de Angela, havia a seguinte entrada: "Terei coragem para fazer a mesma coisa?"
Era o fim do diário.
Gilbert Clandon deixou o caderno escorregar para o chão. Podia vê-la como à sua frente. Estava de pé na borda do passeio de Piccadilly. Os olhos muito abertos, os
punhos fechados. O carro aproximava-se...
Não conseguia aguentar aquilo mais. Precisava de saber a verdade. Correu para o telefone.
"Miss Miller!" Um silêncio. Depois, o ruído de alguém que atravessava a sala do lado de lá da linha.
"Sim, sou Sissy Miller" - respondeu-lhe a voz dela por fim.
"Quem", gritou ele, "quem é B. M.?"
Ouviu ainda o relógio barato que ela devia ter em cima da chaminé do fogão de sala; depois um longo suspiro. E Miss Miller acabou por responder:
"Era o meu irmão."
Era o irmão dela: o irmão que se matara. "Haverá mais alguma coisa", ouviu-a ainda perguntar, "que eu possa esclarecer?"
"Nada!", gritou Gilbert Clandon, "Nada!"
Recebera o seu legado. Angela dissera-lhe a verdade. Descera do passeio para se juntar ao amante. Descera do passeio para lhe escapar.
RESUMO
Como lá dentro estava calor e cheio de gente, como numa noite assim não havia perigo de se apanhar humidade, como as lanternas chinesas pareciam suspender frutos
vermelhos e verdes ao fundo de uma floresta encantada, Mr. Bertram Prit-chard acompanhou Mrs. Latham ao jardim.
O ar puro e a sensação de estar cá fora despertaram Sasha Latham, aquela senhora alta, esbelta, de aparência um pouco indolente, cuja presença era de tal modo majestosa
que as pessoas nunca acreditariam que ela se sentia perfeitamente despropositada e sem jeito quando tinha que dizer alguma coisa a alguém que encontrava numa festa.
Mas era assim mesmo: e ela sentia-se satisfeita de a sua companhia de agora ser Bertram, em quem se podia confiar para, mesmo no jardim, ser capaz de falar sem interrupção.
Se se transcrevessem as coisas que ele dizia pareceriam incríveis - não só porque cada uma dessas coisas era em si própria insignificante, mas por não haver também
a mínima conexão entre as suas diferentes observações. Realmente, se uma pessoa pegasse num lápis e transcrevesse as palavras dele - e uma noite de conversa sua
encheria um livro inteiro - ninguém poderia deixar de pensar, ao ler, que o pobre homem era vítima de séria deficiência intelectual. Estava longe, porém, de ser
esse o caso, porque Mr. Pritchard era um funcionário público muito considerado e membro dos Companheiros de Bath; e, o que era ainda mais estranho, conseguia ser
quase invariavelmente agradável aos olhos de toda a gente. Havia uma tonalidade na sua voz, certa maneira enfática de pronunciar, certo brilho na incongruência das
suas ideias, certa expressão do seu desajeitado rosto moreno e redondo e do seu ar de tordo de peito vermelho, qualquer coisa de imaterial, de inlocalizável, que
florescendo e desenvolvendo-se nele, o tornava independente das suas palavras ou, muitas vezes, realmente, o perfeito oposto delas. Assim ia pensando Sasha Latham
enquanto ele tagarelava acerca de uma visita que fizera a Devonshire, acerca de tabernas e proprietárias de terras, acerca de Eddie e de Freddie, de vacas e viagens
nocturnas, de leite e de estrelas, de cami-nhos-de-ferro europeus e de Bradshaw, de como se apanha o bacalhau e de como se apanha frio, influenza, reumatismo, de
Keats - e ela pensava nele em abstracto, como uma pessoa cuja existência era boa, recriando-o, à medida que ele falava, em algo que era completamente diferente do
que ele dizia, e era esse ser, sem dúvida, o que ela recriava, o verdadeiro Bertram Pritchard, embora isso não pudesse ser demonstrado. Como poderia alguém provar
que ele era um amigo leal e cheio de simpatia e... mas neste ponto, como acontecia tantas vezes, quando se conversava com Bertram Pritchard, Sasha esqueceu-se da
existência dele e começou a pensar noutra coisa.
Era na noite que ela estava a pensar, talvez arrastando-se a si própria, enquanto o olhar se erguia em direcção ao céu. Fora o cheiro do campo que sentira de repente,
agora, a quietude sombria dos campos debaixo das estrelas, mas aqui, no jardim recuado de Mrs. Dalloway, em Westminster, o que nessa impressão de beleza mais surpreendia
alguém, nascida e criada no campo como ela, era presumivelmente um efeito de contraste: aqui um cheiro de feno no ar e ali as salas cheias de gente. Andou um pouco
com Bertram; caminhava como um veado, com leves movimentos de tornozelos, segura, grande e silenciosa, com os sentidos despertos, os ouvidos atentos, farejando o
ar da noite, como se fosse um animal selvagem, mas cheio de um equilíbrio próprio, extraindo daquelas horas tardias um prazer intenso.
Era essa, pensou ela, a maior das maravilhas; a realização máxima da espécie humana. Onde quer que houvesse um abrigo entre os salgueiros e barcos de madeira leve
numa região de lagoas, lá estava essa maravilha; e pôs-se a pensar na casa sólida, abrigada, bem construída, cheia de objectos preciosos, a formigar de gente apertada,
de pessoas que se separavam umas das outras, trocando pontos de vista, num contágio excitado. E Clarissa Dalloway abrira a sala para os ermos da noite, pusera pedras
que permitiam a passagem por cima dos pântanos, e, quando os dois chegaram ao extremo do jardim (que era, de facto, muitíssimo pequeno), sentando-se depois ela e
Bertram em cadeiras de lona, olhou para a casa cheia de veneração, entusiasticamente, como se um raio luminoso e doirado lhe atravessasse o olhar, enchendo-o de
lágrimas e fazendo-a sentir-se profundamente agradecida. Embora fosse tímida e quase incapaz, quando apresentada inesperadamente a alguém, de dizer fosse o que fosse,
tinha uma admiração imensa pelos outros. Ser o que eles eram seria maravilhoso, mas ela estava condenada a ser apenas ela própria e só podia, à sua maneira silenciosa
de entusiasmo, sentar-se cá fora num jardim, aplaudindo essa sociedade humana de que se encontrava excluída. Pedaços de poesia subiam numa prece de louvor dos seus
lábios: eram realmente adoráveis e bons os sobreviventes, e sobretudo corajosos, vencendo a noite e os pântanos, uma companhia de aventureiros que, arrostando os
perigos, continuava a sua viagem.
Por má vontade do destino ela era incapaz de ser como esses outros, mas podia estar ali sentada e dar graças enquanto Bertram tagarelava, ele que estava entre os
viajantes, como um grumete ou simples marinheiro - alguém que sobe aos mastros, assobiando alegremente. Enquanto pensava essas coisas, o ramo de uma árvore à sua
frente embebia-se e penetrava a sua admiração pelas pessoas daquela casa; derramava-se em gotas de ouro; ou permanecia erecto como uma sentinela. Fazia parte da
brilhante e animada equipagem, era o mastro de onde se desfraldava a bandeira. Havia um tonel qualquer encostado à parede, e também aquilo era uma dádiva aos seus
olhos.
De repente Bertram, que era fisicamente infatigável, teve vontade de explorar o terreno, e, saltando para cima de um pequeno alto de tijolos, espreitou por cima
do muro do jardim para o outro lado. Sasha espreitou também. Pareceu-lhe ver um balde ou talvez um sapato. Mas num segundo a ilusão se desfez. Era de novo Londres;
o vasto mundo impessoal e desatento; os motores dos autocarros; os negócios e ocupações; as luzes por cima dos estabelecimentos públicos; e os polícias que bocejavam.
Tendo satisfeito a sua curiosidade, e refeitas, por aquele momento de silêncio, as fontes gorgolejantes da sua conversa, Bertram convidou Mr. e Mrs. Qualquer Coisa
a sentarem-se junto a eles os dois, puxando duas cadeiras. Ficaram os quatro sentados, olhando para a mesma casa, para a mesma árvore, para o mesmo tonel; só que
tendo espreitado por cima do muro para dentro do balde, ou melhor tendo visto de relance Londres, do outro lado, continuando indiferentemente o seu caminho, Sasha
já não se sentia capaz de derramar por cima do mundo inteiro a sua nuvem de ouro. Bertram falava e os outros dois - nunca, durante toda a sua vida, ela seria capaz
de lembrar-se se se chamavam Wallace ou Freeman - respondiam, e todas as suas palavras depois de atravessarem uma delgada névoa de ouro, caíam de novo numa prosaica
luz de todos os dias. Sasha olhou para a sólida e segura casa construída no estilo da Rainha Ana; fez os possíveis por recordar qualquer coisa que tinha lido na
escola acerca da Ilha de Thorney e de homens em pequenos barcos, acerca de ostras, e de patos bravos e de nevoeiros, mas, mas parecia-lhe tudo um problema lógico
de carpintaria e de canais, e aquela festa não era mais que uma quantidade de gente em traje de cerimónia.
Então perguntou a si própria que perspectiva seria a verdadeira? E via à sua frente o balde de Londres e a casa meia acesa e meia apagada.
Interrogou-se também acerca da sua visão, humildemente composta, acerca da sabedoria e da força dos outros. A resposta muitas vezes chegava apenas por acidente -
mas se perguntasse alguma coisa ao seu spaniel, este responderia abanando a cauda.
Também a árvore agora, despojada do seu esplendor e grandeza, parecia suplicar-lhe uma resposta; tornara-se uma árvore do campo - a única árvore no meio de um descampado.
Vira-a muitas vezes; vira as nuvens avermelhadas entre os seus ramos, ou a lua a nascer, irradiando raios irregulares de luz prateada. Mas que responder? Bom, talvez
que a alma - porque tinha a consciência em si do movimento de alguma coisa que pulsava, fugidia, alguma coisa a que ela momentaneamente chamava alma - é por natureza
solitária, uma ave viúva; uma ave poisada e esquecida no ramo da árvore.
Mas foi então que Bertram, rodeando-a com o braço à sua maneira familiar, porque a conhecera desde sempre, observou que não estavam a cumprir a sua obrigação e que
tinham que voltar lá para dentro.
Nesse momento, nalguma rua escusa ou num estabelecimento público, a terrível voz sem sexo e inarticulada do costume irrompeu uma vez mais; um som agudo, um grito.
E a ave viúva de há pouco, estremeceu num frémito, partiu a voar, descrevendo círculos cada vez mais largos até se tornar (aquilo a que ela tinha chamado a sua alma)
distante como um corvo surpreendido lá no alto por uma pedra contra ele arremessada através dos ares.
O VESTIDO NOVO
Mabel teve a primeira suspeita de que havia alguma coisa que não estava bem quando despiu o casaco e Mrs. Barnet, enquanto segurava o espelho e pegava numa escova,
era como se lhe quisesse chamar a atenção, de forma talvez excessivamente acentuada, para os diversos apetrechos destinados a retocar o cabelo, a maquilhagem ou
os vestidos, que se viam em cima do toucador: não, havia alguma coisa que não estava bem, que não estava exactamente como devia estar, e essa impressão foi-se tornando
mais intensa, transformando-se em certeza, enquanto subia as escadas e ao cumprimentar depois Clarissa Dalloway, encaminhando-se a seguir para um recanto sombrio,
no outro extremo da sala, onde havia um espelho de parede pendurado, no qual se olhou. Não! Não estava como devia ser. E imediatamente a desgraça que andava sempre
a tentar esconder, a insatisfação profunda - a sensação que sempre tivera, desde criança, lembrava-se bem, de, ser inferior às outras pessoas - despertou dentro
de si, inexorável, impiedosa, com uma intensidade que Mabel não era capaz de dominar, como poderia, pelo contrário, ter feito se estivesse em casa e não ali, acordando,
por exemplo, a meio da noite, e valendo-se então de um pouco de leitura de Borrow ou Scott: porque - oh! - aqueles homens e - oh! - aquelas mulheres - ei-los que
à sua volta se juntavam todos a pensar: "O que é que Mabel traz vestido? Que aspecto horrível! Que vestido novo horroroso!", e as pálpebras es-tremeciam-lhe a tal
ponto que teve que ceder e fechar por um momento os olhos. Era a sua falta de à vontade de sempre, a sua cobardia, o seu sangue debilitado e aguado que a deprimia.
E de súbito o quarto onde, durante tantas horas, arranjara com a sua costureirinha o vestido que trazia, pareceu-Ihe completamente sórdido e repugnante; e a sua
sala de estar parecia-lhe agora igualmente repulsiva, e sentia-se a si própria horrível, porque, cheia de vaidade, tinha aberto o convite na mesa da sala exclamando
"Que estupidez!", só para se mostrar original, e tudo isso se lhe revelava agora mesquinho, insuportavelmente provinciano e falho de sentido. Toda a sua defesa fora
absolutamente destruída, desmascarada, feita em pedaços, quando entrava na sala de Mrs. Dalloway.
Tinha pensado, num primeiro momento, ao receber o convite para a festa, quando à tarde estava sentada com o tabuleiro do chá ainda a seu lado, que não podia aparecer
em casa de Mrs. Dalloway vestida de acordo com a última moda. Era absurdo sonhar sequer com isso - a moda significa alto corte, estilo, e pelo menos trinta guinéus
-, mas porque não mostrar-se então original? Porque não ser ela própria, de qualquer maneira? E, subindo ao andar de cima de sua casa, pegara naquele velho figurino
de outras eras que fora de sua mãe, uma colecção de modelos de Paris, do tempo do Império, e pensara que ficaria muito mais bem arranjada, muito mais dignificada
e feminina se levasse um vestido daqueles, resolvendo assim - uma loucura! - preparar um desses modelos, enfeitar-se com uma modéstia antiquada, sentindo-se encantadora
desse modo, numa orgia de vaidade, realmente merecedora de castigo. Tal era o motivo que a fizera aparecer ali arranjada de forma tão insólita.
Mas não se atrevia a olhar sequer para o espelho. Não era capaz de fazer frente a todo aquele horror - o vestido de seda, estupidamente fora de moda, amarelo pálido,
com a sua cintura subida e as suas mangas de balão, e tudo o resto, que no figurino da mãe lhe parecera tão elegante, mas que vestido por ela, no meio de todas aquelas
pessoas vulgares, não estava como devia ser, de maneira nenhuma. Sentia-se como um manequim de modista, ali especada, para ser picada com alfinetes pelos convidados
mais jovens.
"Mas, minha querida, é realmente um encanto!", disse Rosa Shaw, olhando-a de alto a baixo, com aquele breve trejeito dos lábios trocistas de que Mabel já estava
à espera - Rose que, pelo seu lado, estava vestida segundo todo o rigor da última moda, precisamente como todas as outras pessoas, como sempre se vestira.
Somos como moscas tentando andar no bordo de um pires de leite, pensou Mabel, e repetiu a frase como se estivesse doente e procurasse uma palavra que aliviasse o
seu mal-estar, tornasse suportável aquela agonia. Fragmentos de Shakespeare, linhas de livros que lera havia séculos, subitamente emergiam da sua memória agonizante,
e ela repetia-os uma e outra vez e outra ainda. "Moscas tentando arrastar-se", repetia Mabel, como se pudesse dizer aquilo até chegar ao ponto de ver as moscas,
tornando-se fria, gelada, dura e silenciosa. Agora estava já capaz de ver as moscas arrantando-se lentamente na borda de um pires de leite, com as asas a esfregarem-se
uma na outra: e esforçou-se, esforçou-se (de pé em frente do espelho, enquanto ouvia Rose Shaw) por ser capaz de ver também Rose Shaw e todas as outras pessoas à
sua volta como se fossem moscas, moscas procurando desprender-se de qualquer coisa pegajosa, ou mergulhar nessa mesma coisa - insignificantes, mirradas, moscas cheias
de afã. Mas não conseguia ver os outros assim, não era assim que os via por muito que por isso se esforçasse. Era a si própria que se via desse modo - era ela a
mosca, mas os outros eram borboletas, libélulas, esplêndidos insectos que dançavam, adejavam, pairavam, enquanto a mosca rastejava, na sua solidão, no rebordo pegajoso
do pires de leite. (Inveja e despeito, os mais detestáveis de todos os vícios, inveja e despeito eram, sem dúvida, os defeitos principais de Mabel.)
"Sinto-me uma espécie de velha mosca, decrépita, atrozmente moribunda, toda suja", disse ela, fazendo com que Robert Haydon parasse bruscamente à sua frente ao ouvir-lhe
aquilo e tentando encorajar-se com o som da sua própria pobre frase, demonstrar que era uma pessoa de espírito, cheia de desprendimento, e longe de sentir-se excluída
ou diminuída fosse em que caso fosse. E, é claro, Robert Haydon respondeu qualquer coisa bem educada, falha de sinceridade, como ela descobriu no mesmo instante,
repetindo de novo para consigo (citação de já não sabia que livro): "Mentiras, mentiras, mentiras!" Porque uma festa tornava as coisas muito mais reais, ou muito
menos reais, pensou Mabel; tinha acabado de atravessar com o olhar o fundo do coração de Robert Haydon; o seu olhar atravessava tudo de lado a lado. Sabia o que
era a verdade. Aquilo era a verdade, a sua sala de estar, o seu ser profundo - e os outros eram falsos. A sala de trabalho de Miss Milan era na realidade terrivelmente
quente, asfixiante, sórdida. Cheirava a roupas velhas e a comida ao lume; todavia, quando Miss Milan lhe pusera o espelho na mão e Mabel se olhara com o vestido
novo, finalmente pronto, uma felicidade extraordinária se derramara no seu coração. Afogada em luz, desabrochada na plenitude da existência. Livre de cuidados e
rugas, aquilo que sonhara ser encontrava-se então à sua frente - uma mulher cheia de beleza. Por um segundo apenas (não ousara olhar durante mais tempo: Miss Milan
queria que ela visse se a saia estava bem assim), teve diante dos olhos, enquadrada pela moldura de mogno do espelho, uma rapariga misteriosamente já grisalha e
a sorrir, encantadora, que era ela própria, que era a sua própria alma; e não se tratava apenas de vaidade, não se tratava apenas de amor próprio, nisso que a fazia
achar-se boa, cheia de doçura e de verdade. Miss Milan dissera-lhe que a saia não ficaria bem mais comprida; talvez pudesse até ser um bocadinho encurtada, acrescentara,
abanando a cabeça, e nesse momento, Mabel sentira-se fundamentalmente boa, transbordante de amor por Miss Milan, ligada a ela pela maior afeição de que era capaz
para com um outro ser e tendo quase vontade de se desfazer em lágrimas ao ver aquela mulher à sua frente, curvada no chão, com a boca cheia de alfinetes, o rosto
congestionado e os olhos cansados do trabalho da costura; sentiu vontade de chorar, sim, por ser possível que um ser humano fizesse tudo aquilo por causa de outro
ser humano, ao mesmo tempo que sentia também que ambas eram simplesmente seres humanos, e que todos os outros, agora, na sala de festa, à sua volta, eram igualmente
seres humanos: e Mabel via que a condição dos seres humanos era aquela: ela própria a pensar em ir a uma festa, Miss Milan a tapar com um pano todas as noites a
gaiola do canário, depois de lhe estender entre os lábios um grão de alpista; e enquanto meditava neste aspecto das criaturas, na paciência que possuem, na sua capacidade
de sofrimento, no modo como conseguem consolo por meio de pequenos prazeres tão miseráveis, tão mesquinhos e tão sórdidos, os olhos acabaram por se lhe encher realmente
de lágrimas.
Mas tudo voltara já a desaparecer. O vestido, a sala de costura, o amor, a piedade, o espelho emoldurado de mogno e a gaiola do canário - tudo se desvanecera, e
Mabel ali estava a um canto da sala, na festa de Mrs. Dalloway, entregue à sua tortura, de olhos bem abertos para a realidade.
Mas era tão vil, tão pusilânime e estúpido uma pessoa da sua idade, mãe já de dois filhos, preocupar-se tanto, sentir-se tão extremamente dependente da opinião das
outras pessoas, sem princípios nem convicções próprias suficientemente fortes, incapaz de ser também como os outros: "Shakespeare existe! Existe a morte! Não passamos
de bichos de farinha nas bolachas do capitão" - ou fosse lá o que fosse que os outros dissessem.
Olhou-se frontalmente no espelho: compôs um pouco o vestido no ombro esquerdo; entrou na outra sala como se chovessem dardos de todos os lados por cima do seu vestido
amarelo. Mas em vez de parecer altiva ou trágica, como Rose Shaw teria parecido - Rose no lugar dela havia de parecer Boadicea - tinha um ar de louca e de mulher
afectada, e sorria como uma colegial idiota, baixando os olhos ao atravessar a sala, positivamente em fuga como um rafeiro espancado, e pôs-se por fim a olhar para
um quadro, uma gravura pendurada na parede. Como se alguém pudesse estar numa festa a olhar para um quadro! Toda a gente ia perceber porque é que Mabel estava a
fazer aquilo - era porque se sentia cheia de vergonha, era porque se sentia humilhada.
"Agora a mosca caiu dentro do pires de leite", disse para consigo, "caiu mesmo no meio, e não é capaz de sair de lá, e o leite", pensou ainda, rigidamente pregada
diante do quadro, "colou-lhe as asas uma à outra".
"É tão fora de moda", disse a Charles Burt, fazendo-o parar (coisa que ele detestava que lhe fizessem) a meio do caminho que levava, direito a outra pessoa.
Mabel queria referir-se, ou esforçava-se por pensar que queria referir-se, com aquilo, ao quadro e não ao vestido. E uma palavra de elogio, uma palavra afectuosa
de Charles tê-la-iam feito mudar da noite para o dia no mesmo instante. Se ele se limitasse a dizer: "Mabel, estás encantadora esta noite!", isso teria transformado
toda a sua vida. Mas para isso, ela própria precisava de ter sido verdadeira e directa. Charles não disse nada de parecido com o que Mabel desejava: era inevitável.
Ele era a malícia em pessoa. Sempre soubera ver através dos outros, especialmente dos que se sentiam particularmente fracos, infelizes ou em baixo.
"Mabel arranjou um vestido novo!", disse ele, e a pobre mosca sentiu-se perfeitamente afogada dentro do pires de leite. A verdade é que ele quisera afogá-la de propósito,
pensou Mabel. Era um homem sem coração, sem sentimentos profundos; a sua amizade não passava de um verniz de superfície. Miss Mi-lan era muito mais real, muito mais
bondosa. Se ao menos uma pessoa fosse capaz de aceitar de vez essa verdade! "Porquê?", perguntou a si própria - respondendo a Charles depressa de mais, de tal modo
que ele se deu perfeitamente conta de que ela estava zangada, "picada" como era seu hábito dizer ("Muito picada?", inquiriu e afastou-se a rir, indo ter com uma
daquelas mulheres quaisquer que por ali andavam) - "Porquê?" - perguntou Mabel a si própria - "Porque é que não sou capaz de sentir sempre a mesma coisa, sentir
com segurança que Miss Milan tem razão, e que Charles não a tem, e assentar nisso de uma vez para sempre, sentir-me segura acerca do canário e da compaixão e do
amor e não girar de segundo em segundo mal entro numa sala cheia de gente?" Era uma vez mais o seu odioso carácter fraco e vacilante, sempre pronto a auto-acusar-se
nos momentos difíceis, o seu carácter que nunca se interessava deveras e seriamente por nada - concologia, etimologia, botânica, arqueologia, maneiras de plantar
batatas e vê-las depois crescer, como faziam Mary Dennis e Violet Searle.
Agora Mrs. Holman, vendo-a ali parada, encaminhou-se na sua direcção. Claro que reparar num vestido novo não era coisa de que Mrs. Holman fosse capaz, sempre em
cuidado com a sua numerosa família, que caía das escadas abaixo ou apanhava de súbito e colectivamente uma vaga de escarlatina. Mabel não poderia dizer-lhe se a
casa de Elmthorre estaria vaga em Agosto e Setembro? Oh, era uma sensaboria insuportável aquela conversa! Não havia nada pior para Mabel do que sen-tir-se a fazer
figura de agente imobiliário ou moço de recados. Nada disto vale nada, pensava, tentando agarrar-se a uma ideia importante, real, que não lhe ocorria enquanto ia
respondendo aplicadamente, com a sensatez de que era capaz, às perguntas da outra acerca do tamanho da casa de banho, do estado em que estava o edifício do lado
sul e da canalização da água quente para o andar superior; durante toda a conversa, não parou de ver pedaços de seda amarela a dançarem, reflectidos no espelho redondo
que estava à sua frente, e que ora pareciam botões pequenos, ora revestiam a forma de rãs. Como era estranho pensar na humilhação, na angústia, na agonia e no esforço,
nos apaixonantes altos e baixos de humor que cabiam, por exemplo, num pedaço de pano do tamanho de uma moeda de cobre!... E coisa ainda mais estranha, Mabel Waring
sentia-se completamente fora de tudo aquilo, ao mesmo tempo que era presa de sentimentos contraditórios que a dividiam, e que, por outro lado, Mrs. Holman (o botão
preto) se inclinava para ela contando-lhe que o filho mais velho tinha o coração cansado devido a correr de mais: Mabel via-se, entretanto, reflectida no espelho,
como um ponto saliente; só que ao contemplar os dois pontos não lhe era possível acreditar que o ponto preto, por muito que se debruçasse para diante e se agitasse
em gestos repetidos, conseguisse que o ponto amarelo, na sua solidão e ensi-mesmamento, sentisse fosse o que fosse, só por um momento embora, de semelhante ao que
o ponto preto sentia, por mais que as duas fingissem exactamente o contrário.
"É tão difícil fazer um rapaz estar sossegado!" disse o ponto preto.
E Mrs. Holman que achava que nunca era capaz de obter dos outros quantidade bastante de simpatia, guardava a que, apesar de tudo, conseguia arrancar da conversa,
segura do seu direito a que lha dessem (ainda que, realmente, fosse merecedora de uma dose muito maior, já que a sua filha mais nova lhe aparecera naquela manhã
com um inchaço no joelho). Mas continuava a aceitar a atenção que Mabel lhe proporcionava, com certa desconfiança e algum ressentimento, como se estivesse a receber
meio penny quando lhe era devida uma libra, mas que arrecadava apesar disso, porque os tempos estavam maus: e por fim, afastou-se, um pouco despeitada, ferida, a
pensar de novo no joelho da filha.
Mas Mabel no seu vestido de noite amarelo, não se sentia com forças para arrancar de dentro de si nem mais uma só pequena gota de simpatia: era ela quem estava a
precisar de atenções, queria-as todas para si própria. Sabia (continuando a olhar para o espelho, mergulhando naquele aterrador lago azul) que estava condenada,
sentia-se desprezada, relegada para segundo plano, por ser uma criatura tão fraca e vacilante; e parecia-lhe que o vestido amarelo era a pena a que merecera ser
condenada, e que se estivesse vestida como Rose Shaw, com um cativante vestido verde brilhante e uma pluma de cisne, seria a mesma coisa; sabia que não havia escapatória
possível para si - não, não havia. Mas, apesar de tudo, a culpa não era dela. O problema era ter nascido numa família de dez pessoas, sempre com falta de dinheiro,
sempre a poupar e a contar tudo: e a mãe transportava grandes recipientes de um lado para o outro, o linóleo estava roto nas arestas dos degraus da escada, a uma
sórdida tragédia doméstica sucedia-se outra - nada de catastrófico nunca: havia a criação de carneiros numa quinta que falhara, mas não por completo: o irmão mais
velho casara abaixo do seu meio mas não excessivamente abaixo - nada havia nunca de romanesco, nada de extremos, nunca. Veraneavam todos respeitavelmente numa praia
de recurso: e ainda agora, nalgumas dessas praias, uma ou outra das suas tias devia continuar a aparecer para fazer repouso em quartos que nunca davam de frente
para o mar. Era aquele o género de toda família - remediar-se com as coisas possíveis, e ela própria fazia como as tias, era exactamente como elas. Porque todos
os seus sonhos de viver na índia, casada com um herói como Sir Henry Law-rence, uma espécie de construtor de impérios (e ainda actualmente ver um indiano de turbante
a mergulhava numa atmosfera romanesca), todos esses sonhos tinham falhado amargamente. Casara com Hubert, com o seu emprego seguro e vitalício, mas de segundo plano,
nos Tribunais, e ambos administravam remediadamente uma casa onde se sentiam sempre algo apertados, sem criadas à altura, comendo carne picada e por vezes almoçando
ou jantando apenas pão com manteiga quando estavam os dois sozinhos. De longe em longe - Mrs. Holman afas-tara-se, achando com certeza Mabel a pessoa mais seca e
antipática que alguma vez conhecera, e ainda por cima com aquele vestido incrivelmente absurdo, coisas que não tardaria, sem dúvida, a comunicar a toda a gente que
lhe desse ouvidos - de longe em longe, pensava Mabel para consigo, esquecida num sofá azul, cujas almofadas ia arranjando para ter ar de estar ocupada, uma vez que
não se sentia nada inclinada a ir ter com Charles Burt ou com Rose Shaw que ali estavam, agora mesmo, a conversar e a rir perto do fogão, talvez troçando os dois
dela - de longe em longe, aconteciam certos instantes de maravilha na sua existência: por exemplo, estivera a ler na cama, na noite anterior, e durante as férias
da Páscoa deitara-se na praia - como gostava de se lembrar disso agora! - contemplando um grande maciço de liquens pálidos, recortados no céu semelhante a uma cúpula
de porcelana, macio e denso ao mesmo tempo, enquanto as vagas se faziam ouvir devagar, misturadas aos gritos de alegria das crianças que brincavam na areia - sim,
havia instantes divinos, em que ela se sentia descansada ao abrigo das mãos de uma divindade, e a divindade era o universo inteiro nesses instantes: uma divindade
com o coração algo duro, mas também cheia de beleza, que talvez fosse possível simbolizar por meio de um cordeiro deitado num altar (disparates que passam pela cabeça
de uma pessoa e que não chegam a ter a mínima importância, porque nunca se contam a mais ninguém). E também, de quando em quando, com Hubert havia momentos semelhantes,
no seu inesperado - ao cortar o carneiro do almoço de domingo, assim sem razão, ou ao abrir uma carta, ou ao entrar numa sala - instantes divinos em que ela dizia
para consigo (apenas para consigo, porque nunca o diria realmente a mais ninguém): "É isto. Sempre aconteceu! É isto!" E o outro lado das coisas era igualmente surpreendente
- quer dizer, quando tudo estava arranjado -, havia música, bom tempo, férias - e existiam todas as razões de felicidade à sua frente, nada acontecia afinal. Ela
não se sentia feliz. Tudo parecia vazio, apenas vazio, e era tudo.
Era aquela desgraçada maneira de ser, já não podia duvidar! Fora sempre uma mãe aborrecida, fraca, insatisfatória, uma esposa baça, deambulando ao acaso numa espécie
de existência crepuscular, nada era nunca muito claro ou forte, nunca havia coisa nenhuma que valesse mais que as outras; e ela era assim, como todos os seus irmãos
e irmãs, excepto talvez Her-bert - porque todos eles eram as mesmas criaturas com água nas veias e incapazes de fazer fosse o que fosse de sólido. Depois, no meio
desta vida rastejante e de verme, subitamente sintia-se na crista da vaga. A mosca náufraga - onde lera ela essa história que lhe lembrava a todo o momento da mosca
e do pires de leite? - ainda lutava. Sim, havia instantes diferentes. Mas agora Mabel estava com quarenta anos, e esses instantes tornavam-se cada vez mais raros.
A pouco e pouco deixaria de lutar. Tudo aquilo era deplorável! Não era possível aguentar mais! Sentia vergonha de si própria!
Havia de ir no dia seguinte à London Library. Já descobriu por lá um livro espantoso, maravilhoso, indispensável; era um livro assim, descoberto por acaso, escrito
por um pastor, por um americano talvez, de quem ninguém ouvira ainda falar; ou havia de ir pelo Strand e tropeçaria, acidentalmente, numa sala de conferências onde
um mineiro estivesse a descrever a vida nos poços das minas, e sentiria, ao ouvi-lo, que se trasformara numa pessoa diferente. Envergaria um uniforme; passaria a
ser a Irmã Fulana; nunca mais pensaria em vestidos, nunca mais. E para sempre sentiria uma certeza perfeita acerca de Charles Burt e de Miss Milan e desta sala e
da outra sala; e para sempre seria, hoje e amanhã, como se estivesse deitada ao sol ou a cortar a carne do almoço de domingo. Para sempre!
Levantou-se então do sofá azul, e o botão amarelo no espelho levantou-se também, e Mabel acenou com a mão a Charles e a Rose para lhes mostrar que em nada dependia
deles, e o botão amarelo desapareceu do espelho, e todos os dardos voltaram a atingi-la no peito enquanto se dirigia a Mrs. Dalloway e lhe dava as boas-noites.
"Mas é ainda tão cedo", disse Mrs. Dalloway, encantadora como de costume.
"Tenho mesmo que ir andando", respondeu Mabel Waring. "Mas", acrescentou na sua voz fraca e insegura, que se tornava ainda mais ridícula quando tentava erguê-la
um pouco, "gostei imenso de ter vindo."
"Gostei imenso", disse depois a Mr. Dalloway, quando o encontrou já nas escadas.
"Mentiras, mentiras, mentiras!", murmurou para consigo, finalmente, ao descer as escadas, e "mesmo no meio do pires de leite", repetiu ao agradecer a Mrs. Barnet,
que a ajudava a enfiar o casaco chinês que uma e outra, e outra, e outra vez ainda, voltara a vestir sempre que tinha que sair ao longo dos últimos vinte anos.
Virgínia Woolf: VIAJANTE SOLITÁRIA DE REGIÕES DESCONHECIDAS
Em "A Casa Assombrada" estão reunidos alguns dos mais inovadores contos originalmente escritos em inglês.
É certo que Virgínia Woolfnão é uma contista e que foi em romances como "Orlando" e "As Vagas" que sobretudo cumpriu o "insaciável desejo de escrever alguma coisa
antes de morrer". Mas é em contos como "A Marca na Parede", "Lappin e Lapinova" e "O Legado", que melhor nos revela o modo como soube captar a eva-nescente matéria
da vida, um universo feminino que os homens desfazem revelando que a marca na parede é uma lesma, recusan-do-se a recriar a vida de coelhos no ribeiro ao fundo da
floresta ou tornando-se apenas insensivelmente desatentos.
Talvez por isso tais contos permitam compreender um pouco da vida e da morte de Virgínia Woolf.
Numa manhã clara e fria de Março de 1941, Virgínia Woolf sai de sua casa em Rodmell, no vale do Ouse. Em tranquilo passo exausto caminha entre o pomar e o tanque,
em que se movimentam silenciosos peixes.
É uma saída sem regresso, esta.
Virgínia Woolf escrevera, antes, a seu marido Leonard:
"Tenho a certeza de que vou enlouquecer outra vez. Sinto-me incapaz de enfrentar de novo um desses terríveis períodos. Começo a ouvir vozes e não consigo concentrar-me
(...). Se alguém pudesse salvar-me serias tu (...). Não posso destruíra tua vida por mais tempo."
E, finalmente, uma frase inesperada, que retoma a que Terence diz a Rachel morta, em Voyage Out, seu primeiro romance.
"Não creio que dois seres pudessem ser mais felizes do que nós ofomos."
Virgínia Woolf passa junto da cabana aberta ao sol, onde habitualmente escreve. Olhada apenas pela manhã, dirige-se ao rio Ouse. Tal como os céus de Inglaterra invadidos
pela aviação nazi, o seu corpo é um campo de batalha devastado pelas emoções.
Perdidos estão os dias em que tudo era intenso e possível.
"Gosto de beber champanhe e de me excitar loucamente. Gosto de ir de carro a Rodmell numa sexta-feira de calor e comer presunto frio e ficar sentada numa esplanada
a fumar em companhia de um ou dois mochos."
Virgínia Woolf é agora assaltada pelas vozes que escrevendo procurou esconjurar. Ouve os seus mortos. O desaparecimento de sua mãe Julie, levara-a a escrever aos
13 anos que "estava perante o maior desastre que poderia acontecer". Depois foi a longa agonia de seu pai, Leslie Stephen. E a morte do irmão Thoby acompanhou-a
sempre.
Virgínia Woolf atravessa frequentes períodos depressivos. Um livro acabado, a expectativa de uma crítica desfavorável, a nostalgia dos filhos que não tem, o riso
provocado pelo seu gosto por uma pintura verde, podem transformá-la numa crisálida. Tais períodos são, em geral, criadores:
"Se pudesse ficar uns quinze dias de cama creio que poderia ver "As Ondas" integralmente.
Penso que estas doenças são, no meu caso, parcialmente místicas. Passa-se qualquer coisa no meu espírito. Ele recusa-se a continuar a registar impressões. Fecha-se
sobre si. Fico num estado de torpor, muitas vezes acompanhado de um agudo sofrimento físico. Depois, subitamente, qualquer coisa brota do meu interior."
Três vezes a depressão a levou a tentar o suicídio. Mas depois de cada crise "tinha desejo de saltar o muro e colher algumas flores".
Neste ano de 1941, em que a guerra adensa as sombras que a cercam, Virgínia Woolf parece esbarrar num muro invisível escrevendo Beetween theActs.
Mais que das outras vezes o seu corpo deve parecer-lhe "monstruoso e a boca sórdida" e os objectos com "aspectos sinistros e imprevisíveis, às vezes estranhamente belos".
O apelo das águas
A Virgínia Woolf que neste 28 de Março de 1941 caminha respondendo ao apelo das águas, já pouco tem de ave fantástica que levantava bruscamente a cabeça para captar
uma frase que a seduzia.
Tem agora quase sessenta anos, escreveu nove romances, sete volumes de ensaios, duas biografias, um diário e alguns contos.
O corpo frágil adquiriu uma elegância angulosa. No rosto oval, o tempo passou deixando as marcas do cansaço. A "boca parecia nunca ter sorrido", diz Marguerite Yourcenar
a sua tradutora francesa que meses antes a visitara. Até os olhos, de um azul quase verde, estão ausentes.
" Vogo sobre agitadas ondas e quando for ao fundo ninguém estará lá para me salvar."
Está junto ao rio. Enche os bolsos da capa com pedras e depõe a bengala e os óculos sobre a margem.
Olha as águas desfocadas que sempre fascinaram a sua imaginação e lhe inspiraram as palavras.
Em "Voyage Out" fizera Rachel desejar "ser lançada nas águas, balouçar nas ondas, ser arrastada para aqui e para ali, transportada até às raízes do mundo".
E em "As Ondas" Rhoda pensa, olhando a maré que sobe e agita os barcos: "Deixar-me ir, abandonar-me à minha dor, entregar-me completamente ao meu desejo sem cessar
recalcado, de me perder, de me consumir."
Agora todas as suas palavras, todos os fósforos que soubera riscar na escuridão, se revelavam excessivas. Bordejava de novo a loucura que recusa todas as recuperações.
A loucura que no livro Mrs. Dolloway projectara em Septimus que, como ela, amava Shakespeare, a luz e as árvores e se sentia, um "proscrito que olhava para trás,
para as terras habitadas, jazendo como um náufrago, na praia de um mundo deserto".
Virgínia Woolf mergulhou no rio. Todas as luzes do mundo se apagaram.
Era a morte desejada em Voyage Out:
"Tanto melhor. Era a morte. Não era nada. Ela tinha deixado de respirar - era tudo. A felicidade perfeita. Acabavam de obter o que sempre haviam desejado - a união
que não tinham conseguido realizar em vida. Nunca houve dois seres tão felizes como nós o fomos."
Era a morte desafiada em "As Ondas".
"A morte é o nosso inimigo. E contra a morte que eu cavalgo, espada nua e cabelos soltos ao vento como os de um jovem, como flutuavam os cabelos de Perceval galopando
nas índias."
O corpo foi durante semanas levado por essa torrente, que Virgínia Woolf "arrastava consigo como as estrelas arrastam a noite, e que a arrastou por fim, como a noite
arrasta uma estrela" (Cecília Meireles).
Cumprira, porém, o insaciável desejo de escrever alguma coisa antes de morrer.
As suas palavras subiram do vale de Ouse, voltearam sobre os campanários do Sussex, cada vez mais altas, cada vez mais longe, cada vez mais próximas.
Virgínia Woolf tivera, como Orlando, o selvagem impulso de acompanhar os pássaros até ao fim do mundo. Os pássaros abandonavam a metáforafazendo-se palavras.
Em "A Casa Assombrada" estão reunidos alguns dos mais inovadores contos originalmente escritos em inglês.
É certo que Virginia Woolf não é uma contista e que foi em romances como "Orlando" e "As Vagas" que sobretudo cumpriu o "insaciável desejo de escrever alguma coisa antes de morrer". Mas é em contos como "A Marca na Parede", "Lappin e Lapinova" e "O legado", que melhor nos revela o modo como soube captar a evanescente matéria da vida, um universo feminino que os homens desfazem revelando que a marca na parede é uma lesma, recusando-se a recriar a vida de coelhos no ribeiro ao fundo da floresta ou tornando-se apenas insensivelmente desatentos.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_CASA_ASSOMBRADA.jpg
A MARCA NA PAREDE
Foi talvez por meados de Janeiro deste ano que vi pela primeira vez, ao olhar para cima, a marca na parede. Quando queremos fixar uma data precisamos de nos lembrar
do que vimos. Assim, lembro-me de o lume estar aceso, de uma faixa de luz amarela na página do meu livro, dos três crisântemos na jarra de vidro redonda na chaminé.
Sim, tenho a certeza de que foi no Inverno, e tínhamos acabado de tomar chá, porque me recordo de estar a fumar um cigarro quando olhei para cima e vi a marca na
parede pela primeira vez. Olhei para cima através do fumo do cigarro e o meu olhar demorou-se por um momento nos carvões em brasa do fogão e veio-me à ideia a velha
fantasia da bandeira escarlate tremulando no alto da torre do castelo, e pensei na cavalgada dos cavaleiros vermelhos subindo a encosta do rochedo negro. Foi com
certo alívio que a imagem da marca na parede interrompeu esta fantasia, porque se trata de uma velha fantasia, de uma fantasia automática, vinda talvez dos meus
tempos de criança. A marca era uma pequena mancha redonda, negra contra a parede branca, a cerca de seis ou sete polegadas do rebordo da chaminé.
É surpreendente a rapidez com que os nossos pensamentos se precipitam sobre um novo objecto, o transportam por um instante, do mesmo modo que as formigas se atiram
febrilmente a um pedaço de palha, que em seguida abandonam sem mais...
Se a marca tivesse sido feita por um prego, não podia ser para prender um quadro, apenas uma miniatura - a miniatura talvez de uma senhora com os anéis do cabelo
empoados, rosto coberto de pó-de-arroz e lábios vermelhos como cravos. Uma falsificação, é evidente, porque as pessoas que foram donas desta casa antes de nós deviam
gostar de ter pinturas desse género - um quadro velho para uma sala velha. Eram pessoas assim, pessoas muito interessantes, e penso nelas muitas vezes, quando me
vejo numa situação fora do vulgar, porque nunca voltarei a vê-las, nunca saberei o que lhes aconteceu a seguir. Queriam deixar a casa porque queriam mudar de estilo
de mobília, foi o que ele disse, numa altura em que estava a explicar que a arte devia ter sempre uma ideia por trás, e era como se fôssemos de comboio e víssemos
de passagem uma senhora de idade a servir chá e o jovem que bate a sua bola de ténis no jardim das traseiras da sua vivenda nos arredores.
Mas quanto à marca, não tinha a certeza do que pudesse ser; afinal de contas, não me parecia feita por um prego; é grande de mais, redonda de mais, para isso. Posso
levantar-me, mas se me levantar para a ver melhor, aposto dez contra um que continuarei a não saber o que é; porque, uma vez feita certa coisa ninguém sabe nunca
como é que tudo o que se segue aconteceu. Oh, meu Deus, o mistério da vida - a fraqueza do pensamento! A ignorância da humanidade! Vou contar algumas das coisas
que tenho perdido, o que basta para mostrar como controlamos poucos o que possuímos - como é precária a nossa vida após todos estes séculos de civilização; dessas
coisas perdidas misteriosamente - que gato as teria levado, que rato as terá roído? -, começarei por referir, por exemplo, três caixinhas azuis para guardar ferros
de encadernar, cujo desaparecimento é a perda mais misteriosa da minha vida. Depois há as gaiolas de pássaros, as argolas de ferro, os patins, a alcofa de carvão
Queen Anne, a caixa de jogos de cartão, o realejo - tudo isto desaparecido, além de algumas jóias também. Opalas e esmeraldas, que devem estar para aí enterradas
entre as raízes de um quintal. Uma complicação como não se pode imaginar, não haja dúvida! O que é de espantar, no fim de contas, é que eu esteja ainda vestida e
rodeada de móveis sólidos neste momento. Porque se quiséssemos um termo de comparação para a vida, o melhor seria o de um metropolitano, atravessando o túnel a cinquenta
milhas à hora - e deixando-nos do outro lado sem um gancho sequer no cabelo! Cuspidos aos pés de Deus, inteiramente nus! Rolando por campos de tojo como embrulhos
de papel pardo atirados para dentro de um marco de correio! E os cabelos puxados para trás pelo vento como a cauda de um cavalo nas corridas. Sim, são coisas destas
que podem dar uma ideia da rapidez da vida, a destruição e reconstrução perpétuas: tudo tão contingente, tão apenas por acaso...
Mas a vida. A lenta derrocada dos grandes caules verdes de tal modo que a flor acaba por se virar, ao cair, inundando-nos com uma luz de púrpura e vermelho. Porque
é que, bem vistas as coisas, não nascemos ali em vez de aqui, desamparados, incapazes de ajustarmos como deve ser a luz do olhar, rastejando na erva entre as raízes,
entre os calcanhares dos Gigantes? Porque dizer o que são as árvores, e o que são homens e o que são mulheres, ou sequer o que é haver coisas como árvores, homens
e mulheres, não será algo que estejamos em condições de fazer nos próximos cinquenta anos. Não há nada por vezes senão espaços de luz e de escuridão, intersectados
por grandes hastes densas e talvez bastante mais acima manchas em forma de rosa - rosa-pálido ou azul-pálido - de cor indecisa, e tudo isso, à medida que o tempo
passa, se vai tornando mais definido e se transforma - em não se pode saber o quê.
Mas a marca na parede não é, de maneira nenhuma, um buraco. Poderá ter sido o resultado de qualquer substância escura e arredondada, uma pequena folha de rosa, por
exemplo, deixada ali pelo Verão, uma vez que não sou uma dona de casa lá muito atenta a essas coisas - basta ver o pó que há na chaminé, o pó que dizem ter soterrado
Tróia por três vezes, destruindo tudo excepto os fragmentos de vasos que chegaram até nós.
Os ramos da árvore batem suavemente na vidraça.!. O que eu quero é pensar calmamente, com sossego e espaço, sem nunca ser interrompida, sem ter que me levantar nunca
da minha cadeira, deslizar com facilidade de uma coisa para a outra, sem qualquer sensação de contrariedade, qualquer obstáculo. Quero mergulhar fundo e mais fundo,
longe da superfície, com os seus factos e coisas quebrados por distinções e limites. Para me apoiar, vou seguir a primeira ideia que passar... Shakespeare... Bom,
serve tão bem como qualquer outra coisa. Um homem solidamente sentado numa cadeira de braços, a olhar o fogo, assim - enquanto uma torrente de ideias cai sem parar
de um céu muito alto, atravessando-lhe o pensamento. Apoia a fronte na mão, e as pessoas, espreitando pela porta aberta - porque é de supor que a cena se passe numa
noite de Verão. Mas como é estúpida esta ficção histórica! Não tem interesse absolutamente nenhum. O que eu quero é poder apanhar uma sequência de pensamentos agradáveis,
uma sucessão que possa reflectir indirectamente a minha própria capacidade, porque há pensamentos agradáveis, até muitas vezes no espírito cor de rato das pessoas
que menos gostam de ser elogiadas. Não são pensamentos que nos lisonjeiam directamente; mas são eles próprios que estão cheios de beleza; pensamentos como este:
"E depois entrei na sala. Eles estavam a discutir botânica. Eu disse-lhes que vira uma flor a crescer num monte de escombros de uma velha casa caída em Kingsway.
As sementes, disse eu, devem datar do reinado de Carlos I. Que flores havia no reinado de Carlos I?" Perguntei-lhes isso - mas não me lembro da resposta. Grandes
flores cor de púrpura, talvez. E assim por diante. A todo o momento vou construindo uma imagem de mim própria, apaixonadamente furtiva, que não posso adorar directamente,
porque se o fizesse, cairia imediatamente em mim e deitaria a mão a um livro num gesto de autodefesa. É curioso, com efeito, como uma pessoa protege a sua própria
imagem de toda a idolatria ou de qualquer outro sentimento que a possa tornar ridícula ou demasiado diferente do original para ser verosímil. Ou talvez não seja
assim tão curioso, afinal de contas? É uma questão da mais alta importância. Imagine-se que o espelho se partia, a imagem desaparece e a figura romântica rodeada
pela floresta profunda e verde desfaz-se; fica apenas essa concha exterior da pessoa que os outros habitualmente vêem - que insípido, oco, inútil e pesado se tornaria
o mundo! Um mundo onde não seria possível viver. Quando no autocarro ou sobre os carris do metropolitano encaramos os outros, estamos ao mesmo tempo a olhar para
o espelho; é por isso que se torna possível vermos então como os nossos olhos são vagos, vítreos. E os romancistas do futuro darão uma importância crescente a estes
reflexos, porque não há apenas um reflexo, mas um número quase infinito deste género de refracções; aí estão as profundidades que os romancistas do futuro terão
que explorar; esses os fantasmas que terão de perseguir, deixando cada vez mais de lado as descrições da realidade, pressupondo-a já suficientemente conhecida pelo
leitor, como fizeram também os Gregos e Shakespeare, talvez - mas estas generalizações começam a parecer-me inúteis. As ressonâncias militares da palavra "generalização"
são evidentes. Lembra-nos uma série de dispositivos destinados a conduzir as pessoas, gabinetes de ministros - toda uma quantidade de coisas que em crianças pensámos
serem as mais importantes, os modelos de tudo o que existe, e de que não poderíamos afastar-nos sem incorrermos no risco da condenação eterna. As generalizações
evocam os domingos em Londres, passeios de domingo, almoços de domingo, e também certas maneiras habituais de falar dos mortos, das roupas, das tradições - como
essa de nos sentarmos juntos à roda, na sala, até à hora do costume, embora ninguém goste de ali estar. Houve sempre uma regra para todas as coisas. A regra para
as toalhas de pôr em cima dos móveis, em certa época era que fossem de tapeçaria, com orlas amarelas em cima, como vemos nas fotografias das passadeiras dos corredores
dos palácios reais. Os panos de mesa diferentes não eram verdadeiros panos de mesa. Como era chocante e ao mesmo tempo maravilhoso descobrir que todas essas coisas
reais, almoços de do mingo, passeios de domingo, casas de campo e panos de mesa não eram inteiramente reais afinal e que a condenação que feria o descrente na sua
realidade era apenas uma sensação de liberdade ilegítima. O que é que ocupa hoje o lugar dessas coisas, pergunto-me, dessas coisas realmente modelares? Os homens
talvez, se se for uma mulher; o ponto de vista masculino que governa as nossas vidas, que fixa as regras de comportamento, estabelece a Mesa da Precedência segundo
o Whitaker, e que se tornou, parece-me, desde a guerra, apenas uma velha metade de fantasma para grande número de homens e mulheres, metade que, em breve, espero,
será posta no caixote do lixo, que é o fim dos fantasmas, dos armários de mogno e das publicações Landseer, dos Deuses e Demónios e o mais que se sabe, deixan-do-nos
por fim uma impressão tóxica de liberdade ilícita - se é que tal coisa existe, a liberdade...
Olhada de certo ângulo, a marca na parede parece tornar-se uma saliência. Também não é perfeitamente circular. Não posso ter a certeza, mas parece projectar uma
sombra, sugerindo que se eu percorresse a parede com o dedo, este subiria e desceria, num dado ponto, um pequeno túmulo, como essas elevações dos South Downs que
não sabemos se são tumbas ou acidentes do terreno. A minha preferência vai para os túmulos, são eles a minha alternativa, porque gosto da melancolia como a maioria
dos ingleses, e acho natural evocar no fim de um passeio os ossos enterrados por baixo da vegetação rasteira... Deve existir algum livro a esse respeito. Algum arqueólogo
deve já ter desenterrado os ossos e ter-lhes-á também posto nome... Que género de homem serão esses arqueólogos, pergunto-me. Coronéis aposentados, na sua maioria,
tenho a certeza, conduzindo lavradores idosos, examinando punhados de terra e algumas pedras e trocando correspondência com os padres da vizinhança, cujas cartas
de resposta, abertas ao pequeno-almoço, fazem os coronéis reformados sentir-se importantes, além de que as pesquisas têm ainda a vantagem de exigirem deslocações
pelo condado até à cidade local, necessidade tão agradável para eles como para as suas esposas envelhecidas, que gostam de fazer doce de ameixa ou tencionam limpar
o escritório e que por isso alimentam a incerteza acerca da alternativa entre campas e acidentes de terreno que faz sair os seus maridos, enquanto estes se sentem
cheios de um prazer filosófico à medida que acumulam provas nos dois sentidos do debate. É verdade que o coronel acaba por se inclinar para a hipótese dos acidentes
de terreno: e ao deparar com alguma oposição, edita um folheto que será lido numa sessão da assembleia local, altura em que uma apoplexia o deita por terra, e os
seus últimos pensamentos conscientes não são para a mulher ou para os filhos, mas para o campo que estava a ser discutido e para a ponta de flecha que lá se encontrou
e que aparece em seguida no museu da cidade, juntamente com o sapato de uma assassina chinesa, um punhado de pregos isabelinos, uma profusão de cachimbos de porcelana
Tudor, um vaso de cerâmica romana e o copo por onde Nelson bebeu - tudo isto provando que nunca será realmente possível saber que histórias.
Não, não, nada se encontra provado, nada se sabe. E se eu me levantasse neste preciso momento e me certificasse de que a marca na parede é realmente - o quê, por
exemplo? - a cabeça de um gigantesco prego, ali colocado há duzentos anos e que, graças à erosão pacientemente provocada por várias gerações de criadas, deita de
fora a cabeça, rompendo a camada de pintura da parede e observando as primeiras imagens da vida moderna nesta sala branca e com um fogão aceso, que ganharia com
isso? - Conhecimento? Tema para posteriores especulações? Posso pensar tão bem continuando sentada como se me levantasse. E o que é o conhecimento? O que são os
nossos homens instruídos senão os descendentes das feiticeiras e eremitas das grutas e florestas, que apanhavam plantas, interrogavam o voo do morcego e transcreviam
a linguagem das estrelas? E quanto menos os honrarmos, quanto menos crédito lhes der a nossa superstição, mais o nosso respeito pela saúde e pela beleza hão-de crescer...
Sim, é-nos possível imaginar um mundo muito mais agradável. Um mundo tranquilo, espaçoso, com um sem fim de flores vermelhas e azuis nos campos sem muros. Um mundo
sem professores nem especialistas nem donas de casa com perfil de polícias, um mundo por onde se poderá deslizar na companhia dos próprios pensamentos, tal como
um peixe desliza na água que passa, tocando de leve o manto de nenúfares da superfície, enquanto os ninhos entre as ramagens da vegetação que cobre as águas guardam
os seus ovos de pássaros aquáticos... Como se está em paz aqui, ao abrigo, no centro do mundo e olhando para cima através das águas cinzentas, com os seus lampejos
súbitos de luz e os seus reflexos - se não fosse o Whitaker's Almanack - se não fosse a Mesa da Presidência!
Preciso de me levantar daqui e de me inteirar do que será realmente aquela marca na parede - um prego, uma folha de roseira, uma racha na madeira?
Lá está a natureza, uma vez mais, no seu velho jogo de autodefesa. Esta corrente de pensamento, ela deu por isso já, é ameaçadora para mim, arrasta-me para um gasto
inútil de energia, talvez mesmo para algum choque com o mundo real, como é de esperar que aconteça a quem se mostra capaz de levantar um dedo contra a Mesa da Presidência
de Whitaker. O Arcebispo de Cantuária traz atrás de si o Lorde Chanceler; o Lorde Chanceler é seguido pelo Arcebispo de York. Toda a gente vem a seguir a alguém,
eis a filosofia de Whitaker: e é uma grande coisa saber-se quem segue quem. Whitaker sabe e deixemos, como a natureza recomenda, que isso nos conforte, em vez de
nos enfurecer: e se não pudermos ser confortados, se temos que estragar esta hora de harmonia, pensemos então na marca na parede.
Compreendi o jogo da Natureza - a sua rápida exigência de actividade que ponha fim a qualquer pensamento que ameace de excitação ou de dor. Daí, suponho eu, a nossa
pouca estima pelos homens de acção - homens que, de acordo com as nossas ideias, não pensam. No entanto, não há mal em uma pessoa deter decididamente os seus pensamentos
desagradáveis contemplando uma marca na parede.
Na verdade, agora que nela fixei melhor os olhos, tenho a impressão de ter lançado uma tábua ao mar: experimento uma agradável sensação de realidade, relegando imediatamente
os dois arcebispos e o lorde chanceler para o mundo das sombras. Eis uma coisa definida, uma coisa real. Do mesmo modo, ao acordarmos de um pesadelo à meia-noite,
apressamo-nos a acender a luz e ficamos descansados na cama, dando graças à cómoda, dando graças aos objectos sólidos em volta, dando graças à realidade, ao mundo
impessoal que nos rodeia e é uma prova de que algo mais existe para além de nós próprios. É isso que então precisamos de saber... A madeira é uma bela coisa para
se pensar nela. Vem de uma árvore: e as árvores crescem, e nós não sabemos porque é que elas crescem. Crescem durante anos e anos, sem nos prestarem atenção, crescem
nas colinas, nas florestas e à beira dos rios - tudo coisas em que é bom pensar. As vacas sacodem a cauda debaixo delas nas tardes quentes de Verão; e as suas folhas
tornam os ribeiros tão verdes que se uma galinhola aparece agora, quase esperamos que as suas penas se tenham tornado verdes também. Gosto de pensar no peixe que
balouça contra a corrente como as bandeiras tremulam ao vento; e nos insectos de água que abrem lentamente os seus túneis no fundo do regato. Gosto de pensar na
própria árvore: primeiro na sensação abrigada e seca de ser madeira: depois na agitação das tempestades; depois no lento e delicioso escorrer interior da seiva.
Gosto de imaginar também as noites de Inverno, ser então uma árvore de pé no campo raso cheio à volta de folhas desfeitas e caídas, sem nada em mim de vulnerável
que receie expor-se aos raios de aço da lua, um mastro nu cravado na terra que treme e treme durante a noite inteira. O canto dos pássaros deve parecer muito cheio
de força e estranho pelo mês de Junho; e os pés dos insectos devem sentir-se frios enquanto sobem penosamente pela casca rugosa e encontram as folhas verdes que
rebentam e as olham com os seus olhos vermelhos marchetados como diamantes... Uma a uma as fibras despertam sob a imensa pressão fria da terra, e depois chega a
última tempestade do ano e os ramos mais altos caem de novo no chão em redor. Mas a vida não se vai por tão pouco e há milhões de vidas pacientes por cada árvore,
espalhadas por todo o mundo, em quartos de dormir, em navios, nas ruas, salas onde homens e mulheres se sentam depois do chá e fumam os seus cigarros. Está cheia
de pensamentos pacíficos, de pensamentos felizes, esta árvore. Gostava de pegar agora em cada um deles separadamente - mas alguma coisa vem atravessar-se no caminho...
Onde ia eu? Era acerca de quê, tudo isto? Uma árvore? Um rio? As colinas? O Whitaker's Almanack? Os campos asfódelos? Não sou capaz de me lembrar de coisa nenhuma.
Tudo se move, cai, desliza e se esvai... As ideias sublevam-se com força e fogem. Alguém aparece de pé ao meu lado e diz:
"Vou sair para comprar o jornal."
"Sim?"
"Apesar de não valer a pena comprar os jornais... Não há nada de novo. A culpa é da guerra; maldita seja esta guerra!... E ainda por cima, aquela lesma na parede,
que não fazia cá falta nenhuma."
Ah! A marca na parede! Era uma lesma...
A CASA ASSOMBRADA
Fosse qual fosse a hora a que acordássemos, havia sempre uma porta que batia. De sala em sala ou de quarto em quarto, um par de fantasmas de mão dada ia mexendo
aqui, abrindo ali, fazendo isto ou aquilo.
"Foi aqui que o deixámos", dizia ele. E ela acrescentava: "Oh, ali também!" "É em cima", murmurava ela. "E no jardim", sussurrava ele. "Cuidado, devagar", diziam
ambos, "ou vamos acordá-los".
Mas não era isso que nos acordava. Oh, não! "Lá andam à procura; estão a levantar as cortinas", dizíamos, por exemplo, e continuávamos a leitura por mais uma ou
duas páginas. "Agora acharam", podíamos ter por fim a certeza, detendo o lápis na margem do livro. E depois, uma pessoa, já cansada de ler, podia pôr-se a procurar
por sua própria vez, levantando-se e andando pela casa vazia, com as portas deixadas abertas, e ouvindo apenas arrulhar os pombos no bosque ou a máquina de debulhar
ao longe na quinta. "O que é que eu estou aqui a fazer? Afinal andava à procura de quê?" As minhas mãos estão vazias. "Talvez seja então lá em cima?" As maçãs estão
no sótão. Já estou cá em baixo outra vez, o jardim continua tranquilo, apenas o livro escorregou e caiu na relva.
Mas eles acharam qualquer coisa na sala. Não que nos seja possível ver. Os vidros da janela reflectem maçãs, reflectem rosas; as folhas caídas na relva continuam
verdes. Quando eles se mexeram na sala, as maçãs viravam para nós apenas a sua parte amarela. No entanto, um momento depois, quando a porta da sala ficou aberta,
havia espalhada no chão, pendurada no tecto, qualquer coisa - o quê? As minhas mãos estavam vazias. Então a sombra de um pássaro cruzou o tapete; dos poços mais
profundos do silêncio, o pombo bravo soltou o seu arrulho. "Salvos, salvos, salvos", pulsa devagar o coração da casa. "O tesouro enterrado; a sala...", o pulsar
interrompeu-se de repente. Oh! Era então o tesouro enterrado?
Um instante mais tarde a luz pareceu embaciada. Talvez no jardim? Mas as árvores conservavam a sua escuridão frente a um raio luminoso que o sol lhes dirigia. Mas
bela, rara, friamente indiferente para além da superfície, a luz que eu procurava continuava a arder do outro lado da vidraça. A morte era o vidro; a morte estava
entre nós; vinha da mulher que pela primeira vez, centenas de anos antes, deixara para sempre aquela casa, calafetando as janelas; as salas estavam mergulhadas no
escuro. Ele fora-se embora, deixara-a; foi para o Norte, foi para o Leste, viu as estrelas do cruzeiro do Sul; depois, voltou em busca da casa e descobriu-a, mergulhada
ao fundo, por trás das colinas. "Salvos, salvos, salvos", começou a pulsar de novo alegremente o coração da casa. "O Tesouro pertence-te."
O vento assobia na álea maior do jardim. As árvores agitam-se de um lado para o outro. Os raios do luar rebentam e espalham-se desordenadamente na chuva. Mas a luz
da lâmpada desce a direito da janela. A candeia arde bem e tranquila. Vagueando pela casa, abrindo as janelas, segredando para não nos acordar, o par de fantasmas
procura a sua alegria.
"Dormimos aqui", diz ela. E ele acrescenta: "Beijos sem conto." "O acordar de manhã" - "Prata entre as árvores" - "Lá em cima" - "No jardim" - "Quando o Verão chegou"
- "Quando neva no Inverno"... As portas fecham-se num rumor à distância, batendo devagar como as pulsações de um coração.
E eles aproximam-se; param à porta. O vento cai, a chuva desliza, de prata, pela janela. Faz escuro nos nossos olhos; já não ouvimos outros passos para além dos
nossos; não vemos nenhum casaco de senhora a desdobrar-se. As mãos dele tapam o clarão da lâmpada. "Olha", murmura ele. "Sono sossegado. O amor nos lábios deles."
Inclinados, o candeeiro seguro por cima de nós, olham-nos profunda e longamente. Demoram-se imóveis. O vento ergue-se de leve; a chama inclina-se um pouco mais.
Raios de luar bravios atravessam o chão e as paredes e iluminam, ao encontrarem-nos, os rostos debruçados; os rostos que velam; os rostos que observam os adormecidos
e espreitam a sua alegria oculta.
"Salvos, salvos, salvos", o coração da casa pulsa cheio de orgulho. "Há tantos anos" - suspira ele. "Encontraste-me outra vez." "Aqui", murmura ela "a dormir; no
jardim a ler; a rir; a guardar maçãs no sótão. Aqui deixámos o nosso tesouro." - Inclina-se de novo; a leve claridade toca a pálpebra dos meus olhos. "Salvos, salvos,
salvos", pulsa vibrante agora o coração da casa. Ao acordar, exclamo: "Oh, é isto o vosso tesouro escondido? A luz no coração."
SEGUNDA OU TERÇA-FEIRA
Indiferente e ociosa, batendo sem esforço o espaço com as asas, segura do seu caminho, a garça passa por cima da igreja, atravessando o céu. Branco e distante, absorto
em si próprio, o céu abre-se e fecha-se sem fim, passa e fica sem fim. Um lago? As suas praias perdem os contornos. Uma montanha? Oh, como é perfeito o doirado do
sol nas suas encostas! Colunas que descem: depois a folhagem dos fetos, ou das plumas brancas, para sempre e sempre.
Deseja-se a verdade, fica-se à sua espera, enquanto se destilam laboriosamente algumas palavras - (um grito à esquerda, outro grito à direita. Rodas de engrenagem
divergentes. Uma concentração de autocarros em sentidos opostos) - porque se deseja sempre - (o relógio afiança com doze badaladas extremamente precisas que é meio-dia;
a luz desdobra-se numa escala de ouro: aparece um enxame de crianças) -, deseja-se para sempre a verdade. A cúpula é vermelha; há moedas suspensas nos ramos das
árvores: o fumo sai das chaminés; um grito rasgado e estridente de "Ferro para vender!" - e a verdade?
Há um ponto algures de onde irradiam passos de homem e passos de mulher, a negro ou a doirado - (Este tempo de neblina - Açúcar? - Não, obrigado - A comunidade do
futuro) -, o clarão do fogo a irromper, tornando vermelha a sala, as figuras negras e os seus olhos iluminados, enquanto lá fora está o furgão a fazer a descarga,
Miss Qualquer Coisa toma o seu chá à mesa de leitura e as muralhas de vidro protegem os casacos de peles.
Coisas que se mostram, pétalas de luz, flutuando nas esquinas, soprando entre as rodas, uma aspersão de prata, dentro ou fora de casa, coisas recolhidas ou que se
desdobram, dispersas por múltiplas dimensões, arrastando-se em cima, por baixo, rasgando-se, escoando-se e reunindo-se de novo - sim, mas a verdade?
Agora é a vez da recordação entreaberta à luz do fogo aceso no quadro de mármore branco. Das profundidades de marfim as palavras sobem e espalham a sua negra obscuridade,
florescem e penetram. O livro está caído; há as chamas, o fumo, as centelhas de um momento - depois, o início da viagem, com o relógio por cima da moldura de mármore,
os minaretes por baixo da torre do relógio e os mares do Oriente, enquanto o espaço é uma precipitação de azul e as estrelas esplendem - verdade? - ou tudo se recolhe
agora, fechando-se em redor.
Indiferente e ociosa, a garça regressa; o céu encobre e depois desnuda as suas estrelas.
LAPPIN E LAPINOVA
Tinham casado. Rebentara no ar a marcha nupcial. Os pombos esvoaçavam. Alguns rapazes com o uniforme de Eton atiraram-lhes arroz; um fox-terrier corria de um lado
para o outro; e Ernest Thorburn conduziu a sua noiva até ao carro através da pequena multidão curiosa de pessoas completamente desconhecidas que se junta sempre
nas ruas de Londres para desfrutar da felicidade ou da desgraça dos outros. Sem dúvida, tratava-se de um noivo elegante, e ela tinha um ar intimidado. O arroz foi
atirado uma vez mais e o carro partiu.
Fora na terça-feira. Era agora sábado. Rosalind precisava ainda de se habituar ao facto de ser agora Mrs. Ernest Thorburn. Talvez nunca lhe fosse possível, porém,
habituar-se ao facto de ser Mrs. Ernest Qualquer Coisa, pensou ela, enquanto se sentava junto da janela larga do hotel, contemplando o lago e as montanhas, e esperava
que o marido descesse para o pequeno-almoço. Era difícil uma pessoa habituar-se ao nome de Ernest. Não era de maneira nenhuma o nome que ela teria escolhido. Teria
preferido Timothy, Antony, ou Peter. O nome dele evocava coisas como o Albert Memorial, armários de mogno, gravuras metálicas do Príncipe Consorte em família - ou,
em suma, a sala de jantar da sogra em Porchester Terrace.
Mas ali estava ele. Graças a Deus não tinha cara de Ernest - nada mesmo. Mas teria ar de quê? Relanceou-o obliquamente por várias vezes. Bom, enquanto estava a comer
aquela torrada parecia um coelho. Não que qualquer outra pessoa fosse capaz de descobrir a mínima semelhança com um animal tão pequeno e tímido naquele jovem aprumado
e com bons músculos, nariz direito, olhos azuis, boca de traço firme. Mas era ainda mais engraçado por causa disso. O nariz dele franziu-se levemente ao trincar
a torrada. Era assim que o coelho de estimação dela também costumava fazer noutro tempo. Ficou a olhar aquele nariz que se franzia; e depois teve de explicar, quando
ele a surpreendeu a observá-lo, porque é que estava a rir.
"É que tu és como um coelho, Ernest", disse ela. "Como um coelho bravo", acrescentou, olhando-o de novo. "Um coelho de caça; um Rei Coelho; um coelho que faz a lei
dos outros coelhos."
Ernest não tinha qualquer objecção a ser um coelho de tal espécie, e como a divertia vê-lo franzir o nariz - embora ele nunca tivesse dado por que fazia semelhante
coisa -, franziu-o de propósito. Ela riu uma e outra vez e ele ria também, de tal modo que as duas senhoras solteironas e o pescador e o criado suíço com o seu lustroso
casaco preto, todos eles adivinharam certo; ele e ela eram muito felizes. Mas quanto tempo dura uma felicidade assim? - perguntaram-se as pessoas para consigo; e
cada uma delas respondeu de acordo com o que as suas experiências lhe lembravam.
À hora do almoço, sentados junto de uma moita de urze perto do lago: "Alface, coelho?" perguntou Rosalind, pegando numa folha de alface que acompanhava os ovos cozidos.
"Vem cá, comer à minha mão", acrescentou ela, e ele mordiscou e provou a alface, franzindo o nariz.
"Coelho bonito, coelho bom", disse ela, acariciando-o, como costumava acariciar outrora o seu coelho de estimação. Mas ele não era, apesar de tudo, um coelho; não
era um coelho. Então traduziu a palavra para francês. "Lapin", chamou-o. Mas ele era integralmente inglês - nascido em Porchester Terrace, educado em Rugby; agora
advogado dos Serviços Civis de Sua Majestade. Tentou, por isso, a seguir, chamar-lhe "Bunny"; mas era ainda pior. "Bunny" era uma coisa gorducha e macia e cómica;
ele era magro e decidido e sério. No entanto, franzia também o nariz. "Lappin", exclamou ela de súbito; e soltou um gritinho como se tivesse encontrado a palavra
exacta que desejava.
"Lappin, Lappin, Rei Lappin", repetiu ela. Parecia assentar-lhe na perfeição; o nome dele não era Ernest, era Rei Lappin. Porquê? Isso não sabia.
Quando não tinham nada de novo de que falarem ao longo dos seus grandes passeios solitários - e ainda por cima chovia, como toda a gente previra que ia acontecer:
ou quando estavam sentados junto ao lume à noite, porque estava frio, e as senhoras solteironas e o pescador se tinham ido embora, e o criado só viria se tocassem
a chamá-lo, ela deixava a sua fantasia ir criando a história da tribo Lappin. Nas suas mãos - enquanto cosia e ele lia - esta tribo tornava-se intensamente real,
intensamente viva, e cheia de graça também. Ernest poisou o livro e começou a ajudá-la. Havia coelhos negros e coelhos vermelhos; havia coelhos inimigos e coelhos
amigos. Havia o bosque onde viviam e os prados em volta e a charneca. Acima de todos en-contrava-se o Rei Lappin, que, muito longe de possuir apenas aquela arte
natural - de torcer o nariz -, se tornava à medida que o tempo ia correndo, um animal de nobilíssimo carácter; Rosalind estava sempre a descobrir-lhe novas qualidades.
Mas era, acima de tudo, um grande caçador.
"E como", disse Rosalind no último dia da lua-de-mel, "passou o Rei o seu dia?"
Na realidade, tinham andado a passear todo o dia; e ela ficara com uma bolha no calcanhar; mas não se importava com isso.
"Hoje", disse Ernest, franzindo o nariz, enquanto cortava a ponta do charuto, "o Rei caçou uma lebre". Interrompeu-se; riscou um fósforo, e voltou a franzir o nariz.
"Uma mulher lebre", acrescentou.
"Uma lebre branca!", exclamou Rosalind, como se fosse daquilo que estava à espera. "Uma lebre pequena; acinzentada de prata; com os olhos brilhantes?"
"Sim", disse Ernest, olhando-a como ela o olhava, "um animal minúsculo; com os olhos a saltarem-lhe do focinho e duas lindas patinhas da frente." Era exactamente
assim que ela estava sentada, com a costura segura nas mãos, e com os olhos que de tão grandes e brilhantes acabavam por ficar um pouco salientes no seu rosto.
"Ah, Lapinova", murmurou Rosalind.
"É assim que ela se chama?" perguntou Ernest - "a autêntica Rosalind?" E olhou para ela. Sentia-se intensamente apaixonado por ela.
"Sim; é assim que se chama", disse Rosalind. "Lapinova". E antes de irem para a cama nessa noite, ficou tudo assente. Ele era o Rei Lappin; ela era a Rainha Lapinova.
Eram o posto um do outro; ele era corajoso e determinado; ela, hesitante e insegura. Ele governava o mundo atarefado dos coelhos; o mundo dela era um lugar misterioso
e desolado, por onde ela vagueava sobretudo durante as noites de luar. De qualquer modo, os seus territórios acabavam por se encontrar; eram Rei e Rainha.
Assim, quando voltaram da lua-de-mel, viram-se na posse de um mundo privado habitado apenas, exceptuada a lebre branca, por coelhos. Ninguém suspeitava da existência
de semelhante lugar, e isso, é claro que o tornava ainda mais divertido. Aquilo fazia-os sentirem-se, mais ainda que a maioria dos casais recentes, coligados contra
o resto do mundo. Muitas vezes lhes acontecia fitarem-se de soslaio um ao outro quando as outras pessoas estavam a falar de coelhos e de bosques, de armadilhas e
tiros. Ou faziam sinal por cima da mesa quando a tia Mary dizia que nunca fora capaz de olhar para uma lebre na travessa - parecia mesmo um bebé: ou quando John,
o irmão desportista de Ernest, lhes falava do preço que os coelhos tinham atingido, nesse Outono, em Wiltshire, e como estavam as peles, e assim por diante... Por
vezes, quando queriam um ajudante de caça, um caçador furtivo ou um Senhor da Mansão, divertiam-se distribuindo esses papéis por este ou aquele dos seus amigos.
A mãe de Ernest, Mrs. Reginald Thorburn, por exemplo, desempenhava na perfeição o papel de Squire. Mas tudo isto era secreto - era esse o ponto essencial; ninguém,
para além deles, sabia da existência daquele mundo.
Sem esse mundo, perguntava Rosalind a si própria, como lhe teria sido possível viver durante aquele Inverno? Por exemplo, tinha havido o jantar das bodas de ouro,
e todos os Thor-burns se reuniram em Porchester Terrace para celebrar o quinquagésimo aniversário dessa união tão cheia de bênçãos - não produziram Ernest Thorburn?
- e tão fecunda - ou não era verdade também que produzira outros nove filhos e filhas, muitos deles já casados e também fecundos? Rosalind estava apavorada com a
festa. Mas era inevitável. Enquanto subia as escadas sentiu amargamente o facto de ser filha única e, ainda por cima, órfã; uma simples gota de água no meio de todos
aqueles Thorburn reunidos na grande sala com papel de parede acetinado e esplendorosos retratos de família. Os Thorburn vivos pare-ciam-se muito com os pintados
naqueles retratos, só que em vez de lábios de tinta e tela tinha lábios verdadeiros, dos quais saíam gracejos, histórias divertidas acerca de salas de aula e de
cadeiras puxadas por trás à governanta quando esta, uma vez, se ia sentar e também acerca de rãs metidas entre os lençóis virginais de velhas solteironas. Mas Rosalind
não se lembrava de ter sabido alguma vez o que fossem brincadeiras semelhantes. Com a sua prenda na mão, avançou em direcção à sogra, sumptuosamente coberta de seda
amarela, e em direcção ao sogro, enfeitado com um cravo amarelo vivo na lapela. A toda a volta por cima das cadeiras e das mesas, havia uma profusão de tributos
doirados, alguns colocados em ninhos de algodão; outros erguendo-se resplandecentes - candelabros, caixas de charutos, cadeiras metálicas; tudo marcado com o contraste
do artista, a comprovar que se tratava de ouro autêntico. Mas o presente dela era apenas uma caixinha com orifícios na tampa; uma caixa de areia para a tinta, uma
relíquia do século XVIII. Um presente bastante extravagante, pressentia-o ela, na época do mata-borrão, enquanto via de novo à sua frente a pesada secretária negra
a que estava sentada a sogra no dia em que tinha ficado noiva de Ernest, e a sogra dissera-lhe: "O meu filho há-de fazê-la feliz." Não, ela não era feliz. De maneira
nenhuma era feliz. Olhou para Ernest, muito aprumado e sólido, com um nariz igual a todos os narizes daquela família nos retratos; um nariz que parecia nunca ter
franzido.
Foram para a mesa. Rosalind estava meio escondida atrás dos crisântemos, cujas grandes pétalas vermelhas e doiradas se abriam em bola. Tudo era doirado. Uma ementa
marginada a ouro referia os pratos, com os nomes escritos com iniciais doiradas, que iam ser servidos. Rosalind mergulhou a colher num recipiente cheio de um líquido
doirado e claro. O nevoeiro alvacento lá de fora transformado, graças à iluminação, numa fosforescência doirada que esbatia os contornos das travessas e dava aos
ananases uma pele de ouro áspero. Só ela no seu vestido de noivado branco, com os olhos salientes abertos e observando, parecia ali, no meio de tanto ouro, um pingente
de gelo insolúvel.
À medida que o jantar avançava, contudo, a sala ia ficando cada vez mais quente. Gotas de suor salpicavam as testas dos homens. Rosalind sentia que o seu gelo estava
a liquefazer-se. Sentia que estava a ser derretida; dispersa; dissolvida no nada; em breve ia desmaiar. Depois, através do nevoeiro do seu cérebro e da zoada que
lhe afligia os ouvidos, ouviu uma voz de mulher exclamar: "Mas eles multiplicam-se tanto!"
Os Thorburn - sim; multiplicavam-se tanto, ecoou ela, olhando à volta da mesa os rostos avermelhados que lhe pareciam duplicar-se na atmosfera doirada que os envolvia
e na tontura que dela se apoderara. "Multiplicam-se tanto." Então, John bradou:
"São uns diabos pequenos!... Só a tiro! Só pisando-os com botas cardadas! É a única maneira de lidar com eles... os coelhos!"
Com esta palavra, a palavra mágica, Rosalind sentiu-se reviver. Espreitando por entre os crisântemos, viu o nariz de Ernest a franzir-se. O rosto enrugou-se-lhe
e ele franziu-o várias vezes seguidas. E então uma catástrofe misteriosa transformou os Thorburn. A mesa doirada tornou-se uma charneca de giesta em flor; o ruído
das vozes, no assobiar feliz de um melro que descia do céu. Era um céu azul - as nuvens passavam lentamente. E ei-los, todos os Thorburn, transformados. Rosalind
olhou para o sogro, um homenzinho pequeno de bigode caído. O seu passatempo era coleccionar coisas várias - selos, caixas de esmalte, pequenos objectos de enfeitar
mesas do século XVIII, que escondia nas gavetas do escritório da vigilância da. mulher. Agora ele parecia-lhe um caçador furtivo, escapando-se com a sua bolsa recheada
de faisões e perdizes que iria cozinhar na panela da sua casa escondida nos campos e cheia de fumo. Era isso o que o sogro realmente era - um caçador furtivo. E
Célia, a filha por casar, que estava sempre a meter o nariz nos segredos das outras pessoas, nas pequenas coisas que os outros gostariam de guardar para si próprios
- essa era um furão branco de olhos vermelhos e com o nariz todo sujo de terra por causa das horríveis pesquisas esconderijos em que andava sempre. Andar de um lado
para o outro pendurada dos ombros dos homens dentro de uma rede e viver numa toca - era uma vida desgraçada, essa vida de Célia; a culpa não era dela, porém. E era
assim que Rosalind agora a via. Depois, olhou para a sogra - a quem tinham dado o cognome de Squire. Corada, altaneira, cheia de si, era assim que ela se mostrava,
agradecendo à direita e à esquerda, mas agora Rosalind - ou melhor, Lapino-va - via-a de modo diferente; via-a contra o fundo da casa de família em decadência, com
o gesso a desprender-se das paredes, e ouvia-a, com a voz cortada por um soluço, a agradecer aos filhos (que a detestavam) um mundo que tinha já deixado de existir.
Fez-se um silêncio súbito. Levantaram-se todos de copo erguido na mão; a seguir beberam; tudo acabara.
"Oh, rei Lappin!", gritou Rosalind, enquanto voltavam os dois através do nevoeiro de Londres, "se o teu nariz não tivesse franzido naquele momento preciso, eu tinha
sido apanhada na armadilha!"
"Mas estás salva", disse o Rei Lappin, apertando-lhe a pata.
"E bem salva!", respondeu ela.
E continuaram ambos a atravessar o Parque, o Rei e a Rainha das charnecas, do campo enevoado e das giestas perfumadas.
E o tempo foi passando; um ano; dois anos. E numa noite de Inverno, que por coincidência sucedeu ser a do aniversário da festa das bodas de ouro - mas Mrs. Reginald
morrera; a casa estava para alugar e só vivia lá um guarda - Ernest chegou do escritório e entrou em casa. Tinham uma bela casinha, os dois; metade de um grande
edifício, por cima de uma loja de selas e arreios para cavalos, em South Kensington, não muito longe da estação do metropolitano. Estava frio, havia nevoeiro no
ar, e Rosalind estava sentada perto do lume, a coser.
"O que é que imaginas que me aconteceu hoje?", começou ela, mal ele se instalou de pernas estendidas para as brasas. "Ia a atravessar o ribeiro quando..."
"Mas que ribeiro?", interrompeu-a Ernest.
"O ribeiro que fica no fundo da floresta, onde o nosso bosque pega com a floresta negra", explicou ela.
Ernest ficou a olhar para ela, estupefacto por um momento.
"Mas que disparate é esse?", perguntou por fim.
"Oh, querido Ernest!" exclamou ela cheia de desânimo. "Rei Lappin", acrescentou, aquecendo as pequenas patas da frente no lume do fogão. Mas o nariz dele não franziu.
As mãos dela - agora eram mãos - crisparam-se no tecido que estava a coser, e os olhos ficaram muito fixos e abertos. Ele levou uns cinco minutos a transformar-se
de Ernest Thorburn em Rei Lappin; e enquanto esperava, ela sentia uma força a pesar-lhe na parte de trás do pescoço, como se alguém a estivesse a estrangular. Por
fim, ele lá se transformou em Rei Lappin; o nariz franziu-se-lhe; e passaram o serão a vagabundear pela floresta como de costume.
Mas Rosalind dormiu mal. A meio da noite acordou, sentin-do-se como se lhe tivesse acontecido qualquer coisa de estranho. Estava entorpecida e com frio. Acabou por
acender a luz e olhar para Ernest, deitado ao seu lado. Ele dormia profundamente. Ressonava. Mas embora estivesse a ressonar, o seu nariz continuava perfeitamente
imóvel. Parecia que nunca na vida se tinha franzido para ela. Seria possível que fosse realmente Ernest? E ela estaria realmente casada com Ernest? Surgiu-lhe uma
imagem da sala de jantar da sogra; e lá estavam ela e Ernest, envelhecidos, rodeados por grandes aparadores de madeira trabalhada... Eram as suas bodas de ouro.
Não aguentava mais.
"Lappin, Rei Lappin!" sussurrou ela, e por um instante o nariz pareceu franzir-se e deixar de novo tudo bem. Mas ele continuou a dormir. "Acorda, Lappin, acorda!"
gritou Rosalind.
Ernest acordou; e vendo-a sentada na cama, direita, ao seu lado, perguntou:
"O que foi?"
"Pensei que o meu coelho tinha morrido!" soluçou ela. Mas Ernest zangou-se.
"Não digas disparates, Rosalind", disse ele. "Deita-te e dorme".
Virou-se para o outro lado. No instante seguinte, dormia de novo profundamente: ressonava.
Ela é que não era capaz de adormecer. Ficou deitada, enroscada no seu lado da cama, como uma lebre encolhida. Apagara a luz, mas o candeeiro da rua iluminava fantasmagorica-mente
o tecto, e as árvores lá fora lançavam uma rede por cima da sua cabeça, como se ela estivesse no meio de ramagens sombrias, assustada, de um lado para o outro, retorcida,
às voltas, caçando, sendo caçada, ouvindo o ladrar dos cães de caça e as trompas dos caçadores; esgueirava-se, fugia... até que a criada abriu as cortinas e trouxe
o chá da manhã.
No dia seguinte, não conseguia pensar em nada. Parecia ter perdido qualquer coisa. Sentia-se com o corpo ressequido; como se tivesse encolhido, tornando-se negro
e escuro. Tinha as articulações também entorpecidas, e quando olhou para o espelho, o que fez várias vezes enquanto vagueava pela casa, os olhos pareciam querer
saltar-lhe da cara, como as passas de uva que cobrem um bolo. As salas também pareciam ter perdido toda a sua vida. Grandes móveis colocados de uma maneira estranha,
com ela a tropeçar neles a todo o momento. Por fim pôs o chapéu e saiu. Caminhou ao longo de Cromwell Road; e todas as casas por onde passava pareciam-lhe ser, ao
entrever-lhes o interior, salas de jantar onde as pessoas estavam sentadas, salas cheias de pesados aparadores, com cortinas de renda amarela e armários de mogno.
Acabou por se dirigir para o Museu de História Natural; costumava gostar de lá ir quando era pequena. Mas a primeira coisa que viu ao entrar foi uma lebre empalhada
em cima de neve fingida com olhos de vidro cor-de-rosa. Aquilo fê-la fugir. Talvez ficasse melhor com o lusco-fusco. Foi para casa e sentou-se ao lume, sem acender
uma única luz, e tentou imaginar que estava sozinha na charneca; e havia um ribeiro a correr; e do outro lado das águas uma floresta negra. Mas não foi capaz de
ir para além do ribeiro. Acabou por se aconchegar num alto de relva húmida, e ficou sentada na cadeira, com as mãos vazias a abanar e os olhos esgazeados, como olhos
de vidro, postos nas chamas. Depois, houve um tiro de espingarda... e ela estremeceu num sobressalto, como se tivesse sido atingida. Afinal era apenas Ernest que
metia a chave à porta. Rosalind esperou a tremer. Ele entrou e acendeu a luz. Ei-lo de pé, à sua frente, direito, alto, esfregando as mãos vermelhas de frio.
"Sentada às escuras?", perguntou.
"Oh, Ernest, Ernest!" gritou ela agitando-se na cadeira.
"Bom, que aconteceu agora?", perguntou ele alegremente, aquecendo as mãos nas chamas.
"Foi Lapinova..." balbuciou ela, olhando assustada para ele, com os seus grandes olhos fixos. "Acabou-se Ernest. Perdi-a!"
Ernest franziu o sobrolho, apertando os lábios com força.
"Oh, era isso então?", disse ele, sorrindo pouco à vontade para a mulher. Durante uns dez segundos, ficou ali de pé, silencioso; Rosalind esperava, sentindo um par
de mãos a apertar-lhe o pescoço.
"Sim", acabou ele por dizer. "Pobre Lapinova..." E começou a arranjar a gravata no espelho que havia por cima da chaminé.
"Foi apanhada numa armadilha", acrescentou Ernest, "morta", e sentou-se a ler o jornal.
Foi assim que o casamento deles acabou.
A DUQUESA E O JOALHEIRO
Oliver Bacon morava na parte superior de uma casa debruçada para Green park. Era o seu apartamento: as cadeiras encontravam-se harmoniosamente dispostas pelos cantos
da sala - cadeiras forradas de coiro. Os vãos envidraçados estavam guarnecidos por divãs - divãs cobertos com mantas de tapeçaria. As janelas, três grandes janelas,
encontravam-se resguardadas por uma renda discreta, nas cortinas pelo indispensável cetim bordado. O bojo dos aparadores de acaju estava recheado de aguardentes,
de whisky e de licores de primeira qualidade. E da janela central ele dominava os toldos lustrosos dos carros elegantes arrumados nos acessos estreitos de Picadilly.
Não se se podia imaginar localização mais central. Às oito horas da manhã, tomava o seu pequeno-almoço, que um criado lhe trazia numa bandeja: o criado estendia-lhe
o roupão de seda carmesim: Oliver Bacon, com as suas compridas unhas aparadas em ponta, abria o correio, extraindo dos sobrescritos espessas folhas de bristol, timbradas,
com as armas de Duquesas, Condessas, Viscondessas e Honorables Ladies várias. Depois, começava a fazer a toillete: depois, comia uma torrada: depois lia o seu jornal,
junto a um fogo crepitante de carvões eléctricos.
"Cá estás tu, Oliver, dizia para consigo. Tu que começaste a vida numa ruela escura e sórdida, que..." e contemplava as pernas bem cingidas pelas calças de um corte
irrepreensível, os sapatos, as polainas. Tudo elegante, cheio de brilho, cortado nas melhores peças pelas melhores tesouras de Savile Row. Mas muitas vezes acontecia-lhe
também sentir-se perturbado e voltava a ser então o rapazinho da ruela obscura de outrora. Tinha havido um tempo em que a sua maior ambição fora tornar-se um próspero
vendedor de cães roubados às senhoras elegantes de Whitechapel. Uma vez fora apanhado. "Oh! Oliver, lamentava-se a mãe. Oh! Oliver, quando é que ganhas juízo, meu
filho?...". Mais tarde, o seu trabalho fora estar atrás de um balcão; fizera-se vendedor de relógios baratos; depois levara, uma vez, um saco a Amsterdam... Essa
recordação fazia-o rir disfarçadamente - enquanto o velho Oliver cismava no Oliver jovem que tinha sido outrora. Sim, saíra-se bem com os três diamantes; tinha havido
também aquela comissão sobre a esmeralda. Depois disso, trabalhara no gabinete privado de uma loja de Hatton Garden; uma sala com balanças, um cofre-forte, grossas
lentes de aumentar; e depois... voltou a rir furtivamente. Quando passava pelos grupos de joalheiros que discutiam questões de preços nas noites quentes, que falavam
das minas de ouro, dos diamantes, das notícias da África do Sul, havia sempre um ou outro que punha o dedo numa das asas do nariz e murmurava "hummm..." à sua passagem.
Não era mais que um murmúrio; não passava de estremecer dos ombros, de um dedo na asa do nariz, um zumbido que percorria todo o grupo de joalheiros de Hatton Garden,
numa tarde de calor. Oh, tratava-se de uma história de outros tempos! Mas Oliver sentia-os ainda a ronronarem na sua coluna vertebral: sentia essa pressão, esse
sussurro que queria dizer: "Olhem para ele, o jovem Oliver, o joalheiro novo - olhem, lá vai ele." Sim, Oliver era um jovem nesse tempo. Ia-se vestindo cada vez
melhor: começou por dispor de um cab, mais tarde arranjou um automóvel. Começou por se sentar nas galerias das casas de espectáculos, depois desceu para as primeiras
filas, para junto da orquestra. Adquiriu uma casa de campo em Richmond, dando para o rio, cheia de canteiros de rosas vermelhas; e mademoiselle colhia uma rosa todas
as manhãs para lha pôr na botoeira.
"É assim, exclamou Oliver Bacon, erguendo-se e esticando as pernas. É assim..."
Estava agora por baixo do retrato de uma senhora de idade, pendurado por cima do fogão de sala; ergueu as mãos na sua direcção. "Cumpri a minha palavra, disse ele,
unindo as mãos, palma contra palma, como se lhe prestasse homenagem. Ganhei a minha aposta." Era verdade. Tornara-se o joalheiro mais rico de Inglaterra; e o seu
nariz, longo e flexível como uma tromba de elefante, parecia dizer num estranho frémito das narinas (dir-se-ia que era todo o nariz e não apenas as narinas que tremiam)
que não estava ainda satisfeito, que farejava ainda mais alguma coisa por baixo da terra, um pouco mais longe. Imagine-se um porco gigante num campo cheio de trufas;
o porco já desenterrou algumas trufas, mas está a farejar outra maior, mais escura, um pouco mais adiante, no meio da terra. Oliver farejava sempre um pouco mais
adiante no solo fértil de Mayfair, em busca de uma trufa ainda mais escura e maior.
Endireitou o alfinete da gravata, enfiou-se no seu magnífico sobretudo azul, pegou nas luvas cor de manteiga fresca e na bengala. Balançava-se e fungava levemente
ao descer as escadas, exalando meio suspiro através do grande nariz pontudo, enquanto saía para Piccadilly. Não era afinal um homem triste, um homem insatisfeito,
um homem que procura algo oculto, embora tivesse ganho a sua aposta?
Ao caminhar, vacilava de modo imperceptível, como o camelo do jardim zoológico quando avança pelas ruazinhas de asfalto cheias de merceeiros com as suas esposas,
que comem coisas tiradas de dentro dos embrulhos e semeiam no chão pedaços de papel de prata. O camelo despreza os comerciantes; o camelo sente-se descontente com
a sua sorte; o camelo vê um lago e um véu de palmares à sua frente. Assim o grande joalheiro, o maior joalheiro do mundo, descia Piccadilly com largas passadas,
perfeitamente composto com as suas luvas e a sua bengala, mas insatisfeito. Chegou à lojazinha escura que se tornara célebre em França, na Alemanha, na Áustria,
na Itália e por toda a América - a pequena loja escura numa rua vizinha de Bond Street. Como de costume, atravessou a loja, sem dizer uma palavra. Todavia, os quatro
homens, dois velhos: Marsall e Spen-cer, e dois jovens: Hammond e Wicks, ali estavam, numa postura rígida, perfilados à sua passagem com um olhar cheio de inveja.
Oliver não acusou a sua presença senão por meio de um sinal do dedo das suas luvas com tonalidade de âmbar, e entrou no seu gabinete privado, fechando a porta atrás
de si.
Retirou em seguida a protecção metálica da janela. Os ruídos de Bond Street, o ronronar do trânsito entraram na sala. Ao fundo da loja, a luminosidade dos reflectores
subia até ao tecto. Uma árvore balouçava as suas seis folhas verdes, porque era Junho. Mas mademoiselle casara com Mr. Pedder, o cervejeiro local - e ninguém punha
agora rosas na botoeira de Oliver.
"É assim, murmurou ele, meio suspirando, meio fungando, assim..."
Accionou uma mola na parede e o painel abriu-se lentamente: por trás ficavam cofres-fortes, cinco, não, seis cofres-fortes, todos eles de aço trabalhado. Deu a volta
a uma das chaves; abriu um dos cofres; depois outro. Cada um estava forrado na parte de dentro por um acolchoado de veludo, veludo carme-sim-escuro: cada um deles
cheio de jóias - braceletes, colares, anéis, tiaras, coroas ducais -, cheio de pedrarias acomodadas em conchas de vidro; rubis, esmeraldas, pérolas, diamantes. Tudo
em perfeita segurança, cintilante e frio e, contudo, ao mesmo tempo, ardente; era o ardor da própria luz que condensavam.
"Lágrimas", disse Oliver, contemplando as pérolas. "Sangue do coração", disse olhando os rubis. "Pólvora", acrescentou, remexendo os diamantes, e fazendo-os soltar
miríades de fogos.
"Pólvora suficiente para mandar Mayfair pelos ares, até ao céu, céu, céu!" E enquanto dizia estas palavras, Oliver lançou a cabeça para trás, fazendo ouvir uma espécie
de relincho.
O telefone tocou na mesa do seu gabinete, obsequiosamente, em voz surda e velada. Oliver voltou a fechar o cofre.
"Dentro de um minuto, antes disso não", disse para consigo. Sentou-se à sua mesa e contemplou os imperadores romanos cujas efígies adornam agora os seus botões de
punho. Ali estava de novo desarmado, voltara a ser o rapazinho que jogava ao berlinde na viela onde se vendem ao domingo cães roubados. Voltou a ser esse rapazinho
astucioso e matreiro, com lábios vermelhos cor de cereja. Metia os dedos em cordões de tripas; molhava-os nas caçarolas de peixe frito: passeava por entre a multidão;
era delgado, flexível, com os olhos de pedra húmida; e agora - agora - o tique-taque dos dedos do relógio de parede fazia um, dois, três, quatro.... A duquesa de
Lambourne esperava que ele se dispusesse a recebê-la; a duquesa de Lambourne descendente de centenas de Condes. Ia esperar dez minutos numa cadeira junto ao balcão
do mostruário. Ia esperar que ele se dispusesse a recebê-la. Consultou o seu relógio de bolso, tirando-o do estojo de pele. O ponteiro continuava a avançar. A cada
tique-taque, parecia-lhe que o relógio lhe punha à frente um pudim de fígado de aves, uma taça de cham-pagne, um cálice de aguardente fina, um charuto de guinéu.
O relógio de algibeira servia de tudo isso à sua mesa, enquanto os dez minutos iam passando. Depois ouviu passos abafados que se aproximavam; um fru-fru no corredor.
A porta abriu-se. Mr. Hammond comprimia-se contra a parede.
"Sua Graça", anunciou ele.
E ficou na mesma posição, comprimido contra a parede.
Levantando-se, Oliver podia ouvir o fru-fru do vestido da duquesa que atravessava o corredor. Desenhou-se, em seguida, na moldura da porta, enchendo a sala com as
suas armas, o seu prestígio, a arrogância, a vaidade, o orgulho de todos os duques e de todas as duquesas que nela se faziam uma só enorme vaga. E como uma onda
que se desfaz, desfez-se ela também por fim, sentando-se, espraiando-se, salpicando, inundado Oliver Bacon, o grande joalheiro. Cobria-o com o fogo das suas cores
resplandecentes: verde, rosa, violeta: inundava-o de perfume, de iridis-cências e dos raios luminosos que se despediam dos seus dedos, das suas plumas oscilantes
e da seda do seu vestido. Porque, de idade madura, a duquesa era vastíssima, imensa, revestida com os seus tafetás apertados. Como um guarda-sol de muitos panos
se fecha, como um pavão de mil penas encerra o seu leque, dei-xou-se cair e fechou-se na poltrona de couro onde encalhara.
"Bom dia, Mr. Bacon", disse a Duquesa. E estendia-lhe a mão espreitando por uma abertura das luvas. Oliver curvou-se para lha tomar. E enquanto as suas mãos se tocavam,
voltou a forjar-se entre eles o elo de uma corrente. Eram amigos e, ao mesmo tempo, inimigos: ele era o senhor, a senhora era ela: en-ganavam-se um ao outro, precisavam
um do outro, temiam-se reciprocamente, e ambos o sentiam e sabiam todas as vezes que as suas mãos se tocavam assim naquela saleta escura, com a luz branca lá fora,
a árvore com seis folhas, o ruído distante da rua e os cofres-fortes atrás.
"E hoje, Duquesa, em que posso ser-lhe útil hoje?", inquiriu Oliver com extremo cuidado.
A Duquesa abriu-lhe o coração, a intimidade do seu coração: abriu-lho de par em par. Com um suspiro, sem uma palavra, tirou da sua mala uma espécie de pequeno saco
de camurça - semelhante a uma doninha amarela, estreita e alongada - e de uma abertura a meio do corpo da doninha deixou cair as pérolas - dez pérolas -, que deslizaram
rolando da fenda aberta no ventre da doninha - uma, duas, três, quatro - como os ovos de algum pássaro divino.
"É tudo o que me resta, meu caro Mr. Bacon", disse ela com um queixume na voz. Cinco, seis, sete - as pérolas rolavam, rolavam ao longo da fenda rasgada nos vastos
flancos da montanha que se abriam entre os seus joelhos, formando um estreito vale ao fundo - oito, nove, dez. As pérolas estavam ali, poisadas no brilho do tafetá
cor de flor de pessegueiro. Dez pérolas.
"A cintura Appleby, disse ela tristemente. São as últimas... as últimas de todas."
Oliver estendeu o braço e segurou uma das pérolas entre o polegar e o indicador. Era redonda, brilhava. Mas - verdadeira ou falsa? Estaria a Duquesa a mentir uma
vez mais? Atrever-se-ia ela a continuar a mentir?
A Duquesa poisou o dedo rechonchudo na boca. "Se o Duque soubesse..., sussurrou ela a medo. Caro Mr. Bacon, foi outra vez um golpe de pouca sorte."
Teria voltado, então, a perder ao jogo?
"O traidor! O batoteiro!", disse a Duquesa numa voz sibilante.
Seria o homem com o maxilar partido? Um indivíduo pouco limpo. "E o Duque, que é generoso como o ouro para com os seus favoritos, ia privá-la de dinheiro, fechá-la
num lugar distante qualquer, se soubesse o que eu sei", pensava Oliver. Lançou um olhar em direcção ao cofre.
"Araminta, Daphne, Diana, gemeu a Duquesa, é por causa delas." As três filhas - Oliver conhecia-as: adorava-as. Mas Diana, essa amava-a deveras, amava-a do fundo
do coração.
"Conhece todos os meus segredos", disse a Duquesa com os olhos baixos. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Lágrimas que começaram a cair, lágrimas como diamantes,
arrastando o pó-de-arroz ao longo dos sulcos das suas faces cor de cerejeira em flor.
"Meu velho amigo, murmurou ela, meu velho amigo." Oliver repetiu essas palavras duas vezes, como se estivesse a lambê-las.
"Quanto?", perguntou depois. A Duquesa escondeu as pérolas com a mão. "Vinte mil", murmurou.
Mas seriam verdadeiras ou falsas, as pérolas que Oliver tinha na mão? A cintura Appleby - não fora já vendida? Ia tocar, mandando vir Spencer e Hammond, e dizer-lhes:
"Levem isto e verifiquem." Estendeu o braço na direcção da campainha. "Quero que você também venha amanhã, disse a Duquesa com uma voz pressurosa, detendo-o. O Primeiro-Ministro,
Sua Alteza Real..." Parou por um instante. "E Diana...", acrescentou ainda.
Oliver tirou a mão da campainha.
Para além da figura da Duquesa, contemplou as traseiras das casas de Bond Street, somente não eram já as casas de Bond Street o que estava a ver, mas uma água enrugada,
uma truta, um salmão que saltavam, o Primeiro-Ministro e ele próprio também, os coletes brancos, e depois, Diana. Contemplou de novo a pérola que tinha na mão. Mas
como havia de a avaliar agora - à luz do rio, à luz dos olhos de Diana? Os olhos da Duquesa não se desprendiam dele.
"Vinte mil, disse ela num gemido, é a minha honra!" A honra da mãe de Diana! Oliver pegou no seu livro de cheques e puxou da caneta. Escreveu "vinte", depois deteve-se.
Os olhos da velha senhora do retrato estavam poisados nele - os olhos da sua velha mãe.
"Oliver, avisou-o ela, tem juízo! Não sejas tolo!" "Oliver, suplicou a Duquesa - agora era apenas "Oliver", já não era "Mr. Bacon" - não quer passar connosco um
fim-de-semana prolongado?"
Sozinho nos bosques com Diana! Sozinho, a cavalo, nos bosques com Diana!
"Mil", escreveu, e assinou. "Aqui tem", disse por fim.
E todos os panos do guarda-sol, todas as penas do pavão se abriram. O esplendor da vaga, as espadas e as esporas de Azin- court fulguravam enquanto a Duquesa se
levantava da cadeira. Os dois empregados velhos e os dois mais novos, Spencer e Marshall, Wicks e Hammond, colaram-se à parede por trás do balcão, cheios de inveja,
enquanto Oliver a acompanhava à porta, agitando as suas luvas cor de manteiga fresca diante dos olhos deles, e a Duquesa ia levando a sua felicidade - um cheque
de 20 000 libras assinado por ele - bem segura na mão.
"Serão verdadeiras ou falsas?", perguntou-se Oliver, voltando a fechar a porta do gabinete particular. As dez pérolas ali estavam, poisadas no tampo coberto de mata-borrão,
em cima da mesa. Levou-as para mais perto da janela, observou-as à luz do dia com as suas lentes... Aquilo seria, afinal, a trufa que ele tinha desenterrado? Podre
até ao meio, completamente podre!
"Perdoa-me, ó minha mãe!", exclamou ele suspirando e levantando a mão, como que para pedir à velha mulher do retrato que lhe perdoasse. Voltara a ser o rapazinho
na viela onde se vendiam cães roubados ao domingo. "Porque, murmurou, unindo as palmas das mãos, o fim-de-semana vai ser prolongado!"
O LEGADO
"Para Sissy Miller", lia Gilbert Clandon, pegando no broche de pérolas deitado entre outros broches e anéis, em cima de uma mesinha da sala de estar de sua mulher
- "Para Sissy Miller, com o meu afecto."
Era mesmo de Angela ter-se lembrado de Sissy Miller, a sua secretária. E era muito estranho também, pensou Gilbert Clandon, uma vez mais, ela ter deixado todas as
coisas tão bem arrumadas - uma pequena prenda para cada um dos seus amigos. Era como se tivesse previsto que ia morrer. E, no entanto, estava de perfeita saúde quando
saíra de casa nessa manhã, havia agora seis semanas; quando, ao descer do passeio em Picca-dilly, o carro aparecera - e a matou.
Ele estava à espera de Sissy Miller. Pedira-lhe que viesse; devia-lhe, sentiu-o, depois de todos os anos que ela passara com eles, esse gesto de consideração. Sim,
continuou depois, enquanto se sentava à espera, era estranho que Angela tivesse deixado tudo tão em ordem. Cada um dos seus amigos receberia uma pequena prova do
afecto dela. Cada anel, cada colar, cada caixinha chinesa - ela tivera sempre uma paixão por caixinhas - tinha um nome escrito. E cada um desses objectos, para ele,
tinha também a sua memória. Este fora ele quem lho dera: aquele - o delfim de esmalte com olhos de rubi - tinha-o comprado ela um dia numa rua escura de Veneza.
Lembrava-se ainda do seu pequeno grito de alegria. A ele, é claro que não lhe deixara nada em particular, exceptuando o seu diário. Quinze pequenos volumes, encadernados
de verde, ali estavam, atrás dele, na mesa de escrever dela. Desde que se tinham casado que Angela conservara o diário. Algumas das suas pouquíssimas - não lhes
podia chamar zangas -, alguns dos seus pouquíssimos amuos tinham tido esse diário como causa. Quando ele entrava e a via a escrever, ela fechava sempre o caderno
ou escondia-o, pondo-lhe a mão em cima. "Não, não, não", era como se a estivesse ainda a ouvir. "Depois de eu morrer - talvez." E deixara-lho a ele, era o seu legado.
Era a única coisa que não tinha compartilhado em vida com Gilbert. Mas ele sempre considerara como garantido que seria Angela a sobreviver-lhe. Se ao menos ela tivesse
parado por um instante e pensasse no que estava a fazer, estaria agora ainda viva. Mas descera sem olhar do passeio, afirmara o dono do carro ao ser inquirido a
seguir à morte dela. Não lhe dera a menor possibilidade de tentar desviar-se... E aqui o som das vozes no hall interrompeu-o.
"Miss Miller, Sir", disse a criada.
Ela entrou. Gilbert nunca na sua vida a vira a sós, nem, é claro, a chorar. Vinha terrivelmente comovida, como não era de espantar. Angela fora muito mais para ela
do que a pessoa para quem se trabalha. Fora uma amiga. Mas para ele, pensou Gilbert Clandon, enquanto puxava uma cadeira e lhe pedia que se sentasse, aquela mulher
mal se distinguia das outras da mesma condição. Havia milhares de Sissy Millers - mulherzinhas insípidas, vestidas de preto, sempre com uma pasta atrás. Mas Angela,
com o seu dom de simpatia, descobrira toda a espécie de qualidades em Sissy Miller. Era a descrição em pessoa; tão silenciosa; tão cheia de lealdade que não havia
nada que não pudesse confiar-se-lhe, e assim por diante.
Miss Miller parecia de início incapaz de dizer uma palavra. Ficou sentada, enxugando os olhos com o lenço. Depois, fez um esforço.
"Desculpe-me, Mr. Clandon", disse ela.
Ele limitou-se a um murmúrio como resposta. Claro que compreendia muito bem. Podia adivinhar o que a mulher representara para ela.
"Fui tão feliz aqui", disse Miss Miller, olhando em redor. Os seus olhos ficaram presos à mesa de trabalho, que espreitava por trás de Mr. Clandon. Era ali que ambas
trabalhavam - ela própria e Angela. Porque Angela tinha a sua parte nas obrigações que cabem à esposa de um político em destaque. Fora uma auxiliar de primeira no
que se referia à carreira do marido. Ele vira-as muitas vezes, a mulher e Sissy, sentadas àquela mesa - Sissy à máquina de escrever, batendo as cartas que a mulher
lhe ditava. Sem dúvida que Miss Miller estava também a pensar nisso. Agora tudo o que lhe restava fazer era entregar-lhe o broche da mulher e deixá-la. Parecia,
realmente, uma prenda um tanto incongruente. Teria sido melhor deixar-lhe uma certa quantia de dinheiro, ou até a máquina de escrever. Mas o que estava escrito era
aquilo mesmo - "Para Sissy Miller, com o meu afecto." E, pegando na jóia, entregou-lha, acompanhada do pequeno discurso que tinha preparado. Sabia, disse-lhe, que
ela apreciaria aquela lembrança. A sua mulher tinha-a usado muitas vezes... Miss Miller, por sua vez, replicou-lhe, quase como se tivesse também o seu discurso preparado,
que o broche era um tesouro precioso para ela... Gilbert Clandon esperava que aquela mulher tivesse pelo menos outras roupas, com as quais o broche não ficasse tão
mal. Trazia vestido o saia-casaco preto que parecia ser um uniforme da sua profissão. Depois, Gilbert lembrou-se de que Miss Miller estava, evidentemente, de luto.
Também ela sofrera uma tragédia - um irmão, a quem fora muito dedicada, morrera apenas uma ou duas semanas antes de Angela. Um acidente também, ou não seria? Não
conseguia lembrar-se - mas lembrava-se de Angela lhe falar disso. Angela, com o seu dom de simpatia, ficara terrivelmente impressionada. Entretanto, Sissy Miller
levantara-se. Estava a pôr as luvas. Era evidente que sentia não dever tornar-se importuna. Mas ele não podia deixá-la ir-se embora assim, sem lhe dizer nada acerca
do futuro. Quais eram os planos dela? Havia alguma maneira de ele poder ajudá-la?
Ela estava de olhos fixos na mesa, onde costumava sentar-se à máquina de escrever e onde se via poisado o diário. E, perdida nas suas recordações de Angela, não
respondeu imediatamente à sugestão de auxílio que Mr. Gilbert Clandon lhe apresentara. Por um momento, pareceu não ter compreendido. Por isso, ele acabou por ter
que repetir:
"Quais são os seus planos, Miss Miller?" "Os meus planos? Oh, está tudo muito bem. Mr. Clandon", exclamou ela. "Por favor não se preocupe comigo."
Ele pensou que ela queria dizer com aquilo que não precisava de auxílio financeiro. Teria sido melhor, reflectiu ele depois, deixar uma sugestão desse género para
uma carta. Agora tudo o que podia fazer era acrescentar, ao apertar-lhe a mão, "Lembre-se, Miss Miller, se alguma vez lhe puder ser útil, terei todo o prazer..."
Em seguida, abriu a porta. Por um momento, no limiar, como se um pensamento súbito a tivesse ferido, Miss Miller deteve-se.
"Mr. Clandon", disse ela, olhando-o nos olhos pela primeira vez, e pela primeira vez ele sentia-se impressionado pela expressão, cheia de simpatia embora interrogativa,
dos olhos dela. "Se alguma vez", continuou Sissy Miller, "houver alguma coisa que eu possa fazer para o ajudar, lembre-se de que será para mim, em atenção à sua
mulher, um prazer..."
E com isto partiu. As suas palavras e o olhar que as acompanhara eram inesperados. Era quase como se ela acreditasse, ou esperasse, que ele viesse a precisar dela.
Uma ideia curiosa, talvez fantástica, ocorreu-lhe quando voltou à sua cadeira. Seria possível que, durante todos aqueles anos, enquanto ele mal dava pela existência
dela, Miss Miller alimentasse uma paixão secreta por ele, como as que nos contam os romances? Ao passar pelo espelho cruzou-se com a sua própria imagem. Tinha mais
de cinquenta anos; mas não podia deixar de reconhecer que continuava a ser ainda, conforme o espelho mostrava, um homem dotado de excelente aparência.
"Pobre Sissy Miller!", disse para consigo, meio a brincar. Como teria gostado de contar à mulher as coisas engraçadas em que estava agora a pensar! E instintivamente
olhou para o diário dela. "Gilbert", leu ele, abrindo-o ao acaso, "estava maravilhoso..." Era como se aquilo tivesse respondido às suas interrogações. Claro, parecia
ela dizer-lhe, és muito atraente para as mulheres. Claro, Sissy Miller também sente isso mesmo. Começou a ler. "Como me sinto orgulhosa de ser a mulher dele!" Também
ele se sentira sempre muito orgulhoso por ser marido dela. Quantas vezes, quando jantavam fora aqui ou ali, a olhara por cima da mesa, dizendo para consigo: ela
é a mulher mais bonita de todas as que aqui estão! Continuou a ler. Nesse primeiro ano, fora quando Gilbert se candidatara ao Parlamento. Tinham percorrido o seu
círculo eleitoral. "Quando Gilbert se sentou, os aplausos foram uma coisa tremenda. Todo o auditório se levantou e cantou: For he's ajolly goodfellow. Senti-me absolutamente
perturbada." Também ele se lembrava daquilo. Ela tinha ficado sentada no estrado, por trás dele. Ainda a podia ver, fitando-o de relance, com as lágrimas nos olhos.
E depois? Passou algumas páginas. Tinham ido a Veneza. Lembrava-se dessas férias felizes a seguir às eleições. "Comemos gelados no Florian." Sorriu - ela era ainda
como uma criança: adorava gelados. "Gilbert traçou-me um quadro muito interessante da história de Veneza. Disse-me que os Doges..." - tudo aquilo escrito com a sua
letra de rapariguinha de escola. Era uma delícia viajar com Angela por causa da sua ânsia de tudo saber. "Sou tão ignorante", costumava ela dizer, como se isso não
fosse um dos seus encantos. E agora - Gilbert abria outro volume - tinham voltado para Londres. "Queria tanto causar boa impressão. Vesti o meu vestido de casamento."
Podia ainda vê-la sentada ao lado do velho Sir Edward e conquistando por completo aquele velho formidável, seu chefe. Continuou a leitura rapidamente, revivendo
cena a cena por meio dos fragmentos que a mulher evocara. "Jantámos na Casa dos Comuns... Fomos a uma festa à noite em casa dos Lovegroves. Terei eu a noção das
minhas responsabilidades, conforme me perguntou Lady L., em virtude de ser mulher de Gilbert?" Depois, os anos tinham passado - o volume do diário era já outro,
tirado de cima da mesa de trabalho - e Gilbert fora sendo cada vez mais absorvido pelo seu trabalho. E ela, evidentemente, passou a ficar mais vezes sozinha... Aparentemente
fora para ela um grande desgosto não terem tido filhos. "Desejava tanto", leu noutra das entradas do caderno, "que Gilbert tivesse um filho." Talvez fosse um tanto
estranho que, pelo seu lado, ele nunca o tivesse lamentado muito. A vida fora tão rica, tão cheia, assim mesmo. Nesse ano, fora colocado num lugar secundário do
governo. Apenas um lugar secundário, mas o comentário dela fora: "Tenho a certeza que ele há-de chegar a Primeiro-Ministro!" Bom, se as coisas tivessem corrido de
outro modo, teria podido sê-lo. A política era um jogo, ponderou; mas o jogo ainda não acabara. Não acabava aos cinquenta anos. Passou os olhos rapidamente por outras
páginas, cheias dos pequenos pormenores, dos pormenores insignificantes, quotidianos e felizes, que formavam a vida dela.
Pegou noutro volume e abriu-o ao acaso. "Como sou cobarde! Deixei passar outra vez a ocasião! Mas podia-lhe parecer egoísmo da minha parte, ir incomodá-lo com as
minhas coisas quando ele já tem tanto em que pensar. E depois, é tão raro estarmos sozinhos os dois à noite." O que queria aquilo dizer? Oh, lá vinha a explicação
- referia-se ao trabalho dela no East End. "Ganhei coragem e falei finalmente a Gilbert. Ele foi tão compreensivo, tão bom. Não fez qualquer objecção." Também ele
se lembrava dessa conversa. A mulher dissera-lhe que se sentia muito vazia, demasiado inútil. Gostava de ter uma actividade dela, por si própria. Gostava de fazer
alguma coisa - e corara com tanta graça, lembrava-se ele, quando se sentara ali a falar-lhe daquilo, naquela mesma cadeira - para ajudar os outros. Gilbert metera-se
um pouco com ela. Não tinha já bastante que fazer tratando dele, da casa deles? Mas se isso a distraía, claro que não tinha nada a dizer contra. De que se tratava?
De uma associação? De uma organização de beneficência? Só tinha de prometer-lhe uma coisa, que não ia estragar a saúde com as novas tarefas. Assim, ela passou a
ir todas as quartas-feiras a Whitechapel. Gilbert lembrava-se de ter ódio às roupas que a mulher vestia nessas alturas. Mas ela levara aquilo muito a sério, ao que
parecia. O diário estava cheio de referências do género: "Vi Mrs. Jones... Tem dez filhos... O marido ficou sem o braço num acidente... Fiz o melhor que pude para
arranjar um trabalho para Lily." O nome de Gilbert, que continuava a leitura, aparecia agora menos vezes. O interesse dele diminuiu um pouco. Havia entradas inteiras
agora que não diziam nada a seu respeito. Por exemplo: "Tive uma discussão muito viva com B. M. acerca do socialismo." Quem era B. M.? Não conseguia completar aquelas
iniciais; alguma mulher, supôs, que Angela conhecera na sua organização. "B. M. atacou violentamente as classes mais elevadas... Depois da reunião, voltei a pé com
B. M. e tentei convencê-lo. Mas ele é tão estreito de ideias!" Então, B. M. era um homem - era com certeza um desses "intelectuais", como eles se chamam a si próprios,
tão cheios de violência e, como ela dizia, de ideias tão estreitas. Mas depois a mulher convidara-o para jantar e a visitá-la. "B. M. veio jantar. Apertou a mão
a Minnie!" Este ponto de exclamação deu um novo toque à imagem mental que dele Gilbert estava a formar entretanto. B. M., ao que parecia, não estava habituado a
encontrar criadas de fora; apertara a mão a Minnie. Provavelmente era um desses operários insípidos, que só pensam em entrar na sala de uma senhora de bem. Conhecia
o género, e não possuía qualquer simpatia por esse estilo de gente, quem quer que fosse B. M.. Lá aparecia ele de novo. "Fui com B. M. à Torre de Londres... Ele
diz que a revolução se aproxima... Disse que vivemos num Paraíso de Loucos." Era precisamente a espécie de coisas que B. M. devia dizer - Gil-bert era quase capaz
de o ouvir. Era também capaz de o imaginar com bastante precisão. Um homem atarracado, pequeno, mal escanhoado, gravata vermelha, sempre vestido de flanela, que
nunca fizera nada de útil em toda a sua vida. Com certeza que Angela teria tido o bom senso de o considerar do mesmo modo... Gilbert continuou a ler. "B. M. disse
algumas coisas muito desagradáveis acerca de..." O nome fora apagado cuidadosamente. "Disse-lhe que não queria ouvir nem mais uma palavra acerca de..." E de novo
a palavra seguinte fora riscada. Seria possível que se tratasse do próprio nome de Gilbert? Seria por isso que Angela tapava a página tão depressa quando ele entrava?
Este pensamento aumentava a sua antipatia crescente por B. M.. Aquele homem tivera a impertinência de falar a respeito dele, Gilbert, na sua própria casa? Porque
é que Angela nunca lhe dissera nada? Não era de todo em todo da maneira de ser dela esconder fosse o que fosse: sempre fora a imagem viva da lealdade. Gilbert virou
outra página, procurando novas referências a B. M.. "B. M. contou-me a história da sua infância. A mãe trabalhava a dias... Quando penso nisso, mal posso continuar
a viver em todo este luxo... Três guinéus por um chapéu!" Se ao menos a mulher tivesse discutido estes problemas com ele, Gilbert, em vez de atormentar a sua pobre
cabecita com coisas demasiado complicadas para o seu mundo mental! B. M. emprestara-lhe livros. Karl Marx, A Revolução Vai Chegar. As iniciais B. M., B. M., B. M.,
surgiam cada vez mais frequentemente. Mas porque não escrevera ela nunca o nome completo? Havia uma sugestão de inconveniência, de intimidade, no uso exclusivo destas
iniciais que não condizia de modo nenhum com a maneira de ser de Angela. Tratá-lo-ia também por B. M., quando estavam os dois frente a frente? Continuou a ler. "B.
M. apareceu inesperadamente depois do jantar. Felizmente, eu estava cá sozinha." Fora havia cerca de um ano. "Felizmente" - porquê felizmente? - "eu estava cá sozinha."
Onde teria estado ele próprio nessa noite? Verificou a data na sua agenda. Era a noite em que jantara na Mansion House. E B. M. e Angela tinham passado o serão a
sós, um com o outro! Gilbert tentava recordar-se dessa noite. Angela tinha, ou não, ficado à espera dele? A sala teria o mesmo ar que de costume? Havia copos na
mesa? As cadeiras tinham sido puxadas para mais perto uma da outra? Não conseguia lembrar-se de nada - de nada, excepto do seu discurso no jantar de Mansion House.
O conjunto da situação parecia-lhe cada vez mais inexplicável; a sua mulher que recebia a sós aquele homem desconhecido. Talvez o volume seguinte o elucidasse melhor.
Procurou precipitadamente no último caderno - o que ela tinha deixado incompleto quando morrera. Lá estava na primeira página aquele tipo maldito. "Jantei sozinha
com B. M. ... Ele estava muito agitado. Disse que já era tempo de nos explicarmos... Tentei fazê-lo ouvir-me. Mas ele não queria. Ameaçou que se eu não...", o resto
da página fora riscado. Angela escrevera "Egipto, Egipto, Egipto" por cima da página inteira. Gilbert não conseguia decifrar uma só palavra: mas havia uma única
interpretação possível: o patife pedira-lhe que se tornasse sua amante. Sós os dois naquela sala! O sangue subiu ao rosto de Gilbert Clandon. Virou as páginas rapidamente.
Que respondera ela? As iniciais desapareciam. O homem agora era "ele", simplesmente. "Ele voltou. Disse-lhe que não era capaz de tomar uma decisão... Implorei-lhe
que me deixasse." Então ele forçara-a ali mesmo em casa? Mas porque é que Angela nada lhe dissera? Como lhe fora possível hesitar sequer por um momento? O diário
continuava: "Escrevi-lhe uma carta." Depois, as páginas tinham ficado em branco. Mas adiante havia as seguintes palavras: "A minha carta continua sem resposta."
Mais algumas páginas deixadas em branco, e a seguir de novo: "Ele cumpriu a sua ameaça." Depois daquilo - que acontecera depois? - Gilbert passou uma página após
outra. Estavam todas em branco. Mas agora, exactamente no dia anterior ao da morte de Angela, havia a seguinte entrada: "Terei coragem para fazer a mesma coisa?"
Era o fim do diário.
Gilbert Clandon deixou o caderno escorregar para o chão. Podia vê-la como à sua frente. Estava de pé na borda do passeio de Piccadilly. Os olhos muito abertos, os
punhos fechados. O carro aproximava-se...
Não conseguia aguentar aquilo mais. Precisava de saber a verdade. Correu para o telefone.
"Miss Miller!" Um silêncio. Depois, o ruído de alguém que atravessava a sala do lado de lá da linha.
"Sim, sou Sissy Miller" - respondeu-lhe a voz dela por fim.
"Quem", gritou ele, "quem é B. M.?"
Ouviu ainda o relógio barato que ela devia ter em cima da chaminé do fogão de sala; depois um longo suspiro. E Miss Miller acabou por responder:
"Era o meu irmão."
Era o irmão dela: o irmão que se matara. "Haverá mais alguma coisa", ouviu-a ainda perguntar, "que eu possa esclarecer?"
"Nada!", gritou Gilbert Clandon, "Nada!"
Recebera o seu legado. Angela dissera-lhe a verdade. Descera do passeio para se juntar ao amante. Descera do passeio para lhe escapar.
RESUMO
Como lá dentro estava calor e cheio de gente, como numa noite assim não havia perigo de se apanhar humidade, como as lanternas chinesas pareciam suspender frutos
vermelhos e verdes ao fundo de uma floresta encantada, Mr. Bertram Prit-chard acompanhou Mrs. Latham ao jardim.
O ar puro e a sensação de estar cá fora despertaram Sasha Latham, aquela senhora alta, esbelta, de aparência um pouco indolente, cuja presença era de tal modo majestosa
que as pessoas nunca acreditariam que ela se sentia perfeitamente despropositada e sem jeito quando tinha que dizer alguma coisa a alguém que encontrava numa festa.
Mas era assim mesmo: e ela sentia-se satisfeita de a sua companhia de agora ser Bertram, em quem se podia confiar para, mesmo no jardim, ser capaz de falar sem interrupção.
Se se transcrevessem as coisas que ele dizia pareceriam incríveis - não só porque cada uma dessas coisas era em si própria insignificante, mas por não haver também
a mínima conexão entre as suas diferentes observações. Realmente, se uma pessoa pegasse num lápis e transcrevesse as palavras dele - e uma noite de conversa sua
encheria um livro inteiro - ninguém poderia deixar de pensar, ao ler, que o pobre homem era vítima de séria deficiência intelectual. Estava longe, porém, de ser
esse o caso, porque Mr. Pritchard era um funcionário público muito considerado e membro dos Companheiros de Bath; e, o que era ainda mais estranho, conseguia ser
quase invariavelmente agradável aos olhos de toda a gente. Havia uma tonalidade na sua voz, certa maneira enfática de pronunciar, certo brilho na incongruência das
suas ideias, certa expressão do seu desajeitado rosto moreno e redondo e do seu ar de tordo de peito vermelho, qualquer coisa de imaterial, de inlocalizável, que
florescendo e desenvolvendo-se nele, o tornava independente das suas palavras ou, muitas vezes, realmente, o perfeito oposto delas. Assim ia pensando Sasha Latham
enquanto ele tagarelava acerca de uma visita que fizera a Devonshire, acerca de tabernas e proprietárias de terras, acerca de Eddie e de Freddie, de vacas e viagens
nocturnas, de leite e de estrelas, de cami-nhos-de-ferro europeus e de Bradshaw, de como se apanha o bacalhau e de como se apanha frio, influenza, reumatismo, de
Keats - e ela pensava nele em abstracto, como uma pessoa cuja existência era boa, recriando-o, à medida que ele falava, em algo que era completamente diferente do
que ele dizia, e era esse ser, sem dúvida, o que ela recriava, o verdadeiro Bertram Pritchard, embora isso não pudesse ser demonstrado. Como poderia alguém provar
que ele era um amigo leal e cheio de simpatia e... mas neste ponto, como acontecia tantas vezes, quando se conversava com Bertram Pritchard, Sasha esqueceu-se da
existência dele e começou a pensar noutra coisa.
Era na noite que ela estava a pensar, talvez arrastando-se a si própria, enquanto o olhar se erguia em direcção ao céu. Fora o cheiro do campo que sentira de repente,
agora, a quietude sombria dos campos debaixo das estrelas, mas aqui, no jardim recuado de Mrs. Dalloway, em Westminster, o que nessa impressão de beleza mais surpreendia
alguém, nascida e criada no campo como ela, era presumivelmente um efeito de contraste: aqui um cheiro de feno no ar e ali as salas cheias de gente. Andou um pouco
com Bertram; caminhava como um veado, com leves movimentos de tornozelos, segura, grande e silenciosa, com os sentidos despertos, os ouvidos atentos, farejando o
ar da noite, como se fosse um animal selvagem, mas cheio de um equilíbrio próprio, extraindo daquelas horas tardias um prazer intenso.
Era essa, pensou ela, a maior das maravilhas; a realização máxima da espécie humana. Onde quer que houvesse um abrigo entre os salgueiros e barcos de madeira leve
numa região de lagoas, lá estava essa maravilha; e pôs-se a pensar na casa sólida, abrigada, bem construída, cheia de objectos preciosos, a formigar de gente apertada,
de pessoas que se separavam umas das outras, trocando pontos de vista, num contágio excitado. E Clarissa Dalloway abrira a sala para os ermos da noite, pusera pedras
que permitiam a passagem por cima dos pântanos, e, quando os dois chegaram ao extremo do jardim (que era, de facto, muitíssimo pequeno), sentando-se depois ela e
Bertram em cadeiras de lona, olhou para a casa cheia de veneração, entusiasticamente, como se um raio luminoso e doirado lhe atravessasse o olhar, enchendo-o de
lágrimas e fazendo-a sentir-se profundamente agradecida. Embora fosse tímida e quase incapaz, quando apresentada inesperadamente a alguém, de dizer fosse o que fosse,
tinha uma admiração imensa pelos outros. Ser o que eles eram seria maravilhoso, mas ela estava condenada a ser apenas ela própria e só podia, à sua maneira silenciosa
de entusiasmo, sentar-se cá fora num jardim, aplaudindo essa sociedade humana de que se encontrava excluída. Pedaços de poesia subiam numa prece de louvor dos seus
lábios: eram realmente adoráveis e bons os sobreviventes, e sobretudo corajosos, vencendo a noite e os pântanos, uma companhia de aventureiros que, arrostando os
perigos, continuava a sua viagem.
Por má vontade do destino ela era incapaz de ser como esses outros, mas podia estar ali sentada e dar graças enquanto Bertram tagarelava, ele que estava entre os
viajantes, como um grumete ou simples marinheiro - alguém que sobe aos mastros, assobiando alegremente. Enquanto pensava essas coisas, o ramo de uma árvore à sua
frente embebia-se e penetrava a sua admiração pelas pessoas daquela casa; derramava-se em gotas de ouro; ou permanecia erecto como uma sentinela. Fazia parte da
brilhante e animada equipagem, era o mastro de onde se desfraldava a bandeira. Havia um tonel qualquer encostado à parede, e também aquilo era uma dádiva aos seus
olhos.
De repente Bertram, que era fisicamente infatigável, teve vontade de explorar o terreno, e, saltando para cima de um pequeno alto de tijolos, espreitou por cima
do muro do jardim para o outro lado. Sasha espreitou também. Pareceu-lhe ver um balde ou talvez um sapato. Mas num segundo a ilusão se desfez. Era de novo Londres;
o vasto mundo impessoal e desatento; os motores dos autocarros; os negócios e ocupações; as luzes por cima dos estabelecimentos públicos; e os polícias que bocejavam.
Tendo satisfeito a sua curiosidade, e refeitas, por aquele momento de silêncio, as fontes gorgolejantes da sua conversa, Bertram convidou Mr. e Mrs. Qualquer Coisa
a sentarem-se junto a eles os dois, puxando duas cadeiras. Ficaram os quatro sentados, olhando para a mesma casa, para a mesma árvore, para o mesmo tonel; só que
tendo espreitado por cima do muro para dentro do balde, ou melhor tendo visto de relance Londres, do outro lado, continuando indiferentemente o seu caminho, Sasha
já não se sentia capaz de derramar por cima do mundo inteiro a sua nuvem de ouro. Bertram falava e os outros dois - nunca, durante toda a sua vida, ela seria capaz
de lembrar-se se se chamavam Wallace ou Freeman - respondiam, e todas as suas palavras depois de atravessarem uma delgada névoa de ouro, caíam de novo numa prosaica
luz de todos os dias. Sasha olhou para a sólida e segura casa construída no estilo da Rainha Ana; fez os possíveis por recordar qualquer coisa que tinha lido na
escola acerca da Ilha de Thorney e de homens em pequenos barcos, acerca de ostras, e de patos bravos e de nevoeiros, mas, mas parecia-lhe tudo um problema lógico
de carpintaria e de canais, e aquela festa não era mais que uma quantidade de gente em traje de cerimónia.
Então perguntou a si própria que perspectiva seria a verdadeira? E via à sua frente o balde de Londres e a casa meia acesa e meia apagada.
Interrogou-se também acerca da sua visão, humildemente composta, acerca da sabedoria e da força dos outros. A resposta muitas vezes chegava apenas por acidente -
mas se perguntasse alguma coisa ao seu spaniel, este responderia abanando a cauda.
Também a árvore agora, despojada do seu esplendor e grandeza, parecia suplicar-lhe uma resposta; tornara-se uma árvore do campo - a única árvore no meio de um descampado.
Vira-a muitas vezes; vira as nuvens avermelhadas entre os seus ramos, ou a lua a nascer, irradiando raios irregulares de luz prateada. Mas que responder? Bom, talvez
que a alma - porque tinha a consciência em si do movimento de alguma coisa que pulsava, fugidia, alguma coisa a que ela momentaneamente chamava alma - é por natureza
solitária, uma ave viúva; uma ave poisada e esquecida no ramo da árvore.
Mas foi então que Bertram, rodeando-a com o braço à sua maneira familiar, porque a conhecera desde sempre, observou que não estavam a cumprir a sua obrigação e que
tinham que voltar lá para dentro.
Nesse momento, nalguma rua escusa ou num estabelecimento público, a terrível voz sem sexo e inarticulada do costume irrompeu uma vez mais; um som agudo, um grito.
E a ave viúva de há pouco, estremeceu num frémito, partiu a voar, descrevendo círculos cada vez mais largos até se tornar (aquilo a que ela tinha chamado a sua alma)
distante como um corvo surpreendido lá no alto por uma pedra contra ele arremessada através dos ares.
O VESTIDO NOVO
Mabel teve a primeira suspeita de que havia alguma coisa que não estava bem quando despiu o casaco e Mrs. Barnet, enquanto segurava o espelho e pegava numa escova,
era como se lhe quisesse chamar a atenção, de forma talvez excessivamente acentuada, para os diversos apetrechos destinados a retocar o cabelo, a maquilhagem ou
os vestidos, que se viam em cima do toucador: não, havia alguma coisa que não estava bem, que não estava exactamente como devia estar, e essa impressão foi-se tornando
mais intensa, transformando-se em certeza, enquanto subia as escadas e ao cumprimentar depois Clarissa Dalloway, encaminhando-se a seguir para um recanto sombrio,
no outro extremo da sala, onde havia um espelho de parede pendurado, no qual se olhou. Não! Não estava como devia ser. E imediatamente a desgraça que andava sempre
a tentar esconder, a insatisfação profunda - a sensação que sempre tivera, desde criança, lembrava-se bem, de, ser inferior às outras pessoas - despertou dentro
de si, inexorável, impiedosa, com uma intensidade que Mabel não era capaz de dominar, como poderia, pelo contrário, ter feito se estivesse em casa e não ali, acordando,
por exemplo, a meio da noite, e valendo-se então de um pouco de leitura de Borrow ou Scott: porque - oh! - aqueles homens e - oh! - aquelas mulheres - ei-los que
à sua volta se juntavam todos a pensar: "O que é que Mabel traz vestido? Que aspecto horrível! Que vestido novo horroroso!", e as pálpebras es-tremeciam-lhe a tal
ponto que teve que ceder e fechar por um momento os olhos. Era a sua falta de à vontade de sempre, a sua cobardia, o seu sangue debilitado e aguado que a deprimia.
E de súbito o quarto onde, durante tantas horas, arranjara com a sua costureirinha o vestido que trazia, pareceu-Ihe completamente sórdido e repugnante; e a sua
sala de estar parecia-lhe agora igualmente repulsiva, e sentia-se a si própria horrível, porque, cheia de vaidade, tinha aberto o convite na mesa da sala exclamando
"Que estupidez!", só para se mostrar original, e tudo isso se lhe revelava agora mesquinho, insuportavelmente provinciano e falho de sentido. Toda a sua defesa fora
absolutamente destruída, desmascarada, feita em pedaços, quando entrava na sala de Mrs. Dalloway.
Tinha pensado, num primeiro momento, ao receber o convite para a festa, quando à tarde estava sentada com o tabuleiro do chá ainda a seu lado, que não podia aparecer
em casa de Mrs. Dalloway vestida de acordo com a última moda. Era absurdo sonhar sequer com isso - a moda significa alto corte, estilo, e pelo menos trinta guinéus
-, mas porque não mostrar-se então original? Porque não ser ela própria, de qualquer maneira? E, subindo ao andar de cima de sua casa, pegara naquele velho figurino
de outras eras que fora de sua mãe, uma colecção de modelos de Paris, do tempo do Império, e pensara que ficaria muito mais bem arranjada, muito mais dignificada
e feminina se levasse um vestido daqueles, resolvendo assim - uma loucura! - preparar um desses modelos, enfeitar-se com uma modéstia antiquada, sentindo-se encantadora
desse modo, numa orgia de vaidade, realmente merecedora de castigo. Tal era o motivo que a fizera aparecer ali arranjada de forma tão insólita.
Mas não se atrevia a olhar sequer para o espelho. Não era capaz de fazer frente a todo aquele horror - o vestido de seda, estupidamente fora de moda, amarelo pálido,
com a sua cintura subida e as suas mangas de balão, e tudo o resto, que no figurino da mãe lhe parecera tão elegante, mas que vestido por ela, no meio de todas aquelas
pessoas vulgares, não estava como devia ser, de maneira nenhuma. Sentia-se como um manequim de modista, ali especada, para ser picada com alfinetes pelos convidados
mais jovens.
"Mas, minha querida, é realmente um encanto!", disse Rosa Shaw, olhando-a de alto a baixo, com aquele breve trejeito dos lábios trocistas de que Mabel já estava
à espera - Rose que, pelo seu lado, estava vestida segundo todo o rigor da última moda, precisamente como todas as outras pessoas, como sempre se vestira.
Somos como moscas tentando andar no bordo de um pires de leite, pensou Mabel, e repetiu a frase como se estivesse doente e procurasse uma palavra que aliviasse o
seu mal-estar, tornasse suportável aquela agonia. Fragmentos de Shakespeare, linhas de livros que lera havia séculos, subitamente emergiam da sua memória agonizante,
e ela repetia-os uma e outra vez e outra ainda. "Moscas tentando arrastar-se", repetia Mabel, como se pudesse dizer aquilo até chegar ao ponto de ver as moscas,
tornando-se fria, gelada, dura e silenciosa. Agora estava já capaz de ver as moscas arrantando-se lentamente na borda de um pires de leite, com as asas a esfregarem-se
uma na outra: e esforçou-se, esforçou-se (de pé em frente do espelho, enquanto ouvia Rose Shaw) por ser capaz de ver também Rose Shaw e todas as outras pessoas à
sua volta como se fossem moscas, moscas procurando desprender-se de qualquer coisa pegajosa, ou mergulhar nessa mesma coisa - insignificantes, mirradas, moscas cheias
de afã. Mas não conseguia ver os outros assim, não era assim que os via por muito que por isso se esforçasse. Era a si própria que se via desse modo - era ela a
mosca, mas os outros eram borboletas, libélulas, esplêndidos insectos que dançavam, adejavam, pairavam, enquanto a mosca rastejava, na sua solidão, no rebordo pegajoso
do pires de leite. (Inveja e despeito, os mais detestáveis de todos os vícios, inveja e despeito eram, sem dúvida, os defeitos principais de Mabel.)
"Sinto-me uma espécie de velha mosca, decrépita, atrozmente moribunda, toda suja", disse ela, fazendo com que Robert Haydon parasse bruscamente à sua frente ao ouvir-lhe
aquilo e tentando encorajar-se com o som da sua própria pobre frase, demonstrar que era uma pessoa de espírito, cheia de desprendimento, e longe de sentir-se excluída
ou diminuída fosse em que caso fosse. E, é claro, Robert Haydon respondeu qualquer coisa bem educada, falha de sinceridade, como ela descobriu no mesmo instante,
repetindo de novo para consigo (citação de já não sabia que livro): "Mentiras, mentiras, mentiras!" Porque uma festa tornava as coisas muito mais reais, ou muito
menos reais, pensou Mabel; tinha acabado de atravessar com o olhar o fundo do coração de Robert Haydon; o seu olhar atravessava tudo de lado a lado. Sabia o que
era a verdade. Aquilo era a verdade, a sua sala de estar, o seu ser profundo - e os outros eram falsos. A sala de trabalho de Miss Milan era na realidade terrivelmente
quente, asfixiante, sórdida. Cheirava a roupas velhas e a comida ao lume; todavia, quando Miss Milan lhe pusera o espelho na mão e Mabel se olhara com o vestido
novo, finalmente pronto, uma felicidade extraordinária se derramara no seu coração. Afogada em luz, desabrochada na plenitude da existência. Livre de cuidados e
rugas, aquilo que sonhara ser encontrava-se então à sua frente - uma mulher cheia de beleza. Por um segundo apenas (não ousara olhar durante mais tempo: Miss Milan
queria que ela visse se a saia estava bem assim), teve diante dos olhos, enquadrada pela moldura de mogno do espelho, uma rapariga misteriosamente já grisalha e
a sorrir, encantadora, que era ela própria, que era a sua própria alma; e não se tratava apenas de vaidade, não se tratava apenas de amor próprio, nisso que a fazia
achar-se boa, cheia de doçura e de verdade. Miss Milan dissera-lhe que a saia não ficaria bem mais comprida; talvez pudesse até ser um bocadinho encurtada, acrescentara,
abanando a cabeça, e nesse momento, Mabel sentira-se fundamentalmente boa, transbordante de amor por Miss Milan, ligada a ela pela maior afeição de que era capaz
para com um outro ser e tendo quase vontade de se desfazer em lágrimas ao ver aquela mulher à sua frente, curvada no chão, com a boca cheia de alfinetes, o rosto
congestionado e os olhos cansados do trabalho da costura; sentiu vontade de chorar, sim, por ser possível que um ser humano fizesse tudo aquilo por causa de outro
ser humano, ao mesmo tempo que sentia também que ambas eram simplesmente seres humanos, e que todos os outros, agora, na sala de festa, à sua volta, eram igualmente
seres humanos: e Mabel via que a condição dos seres humanos era aquela: ela própria a pensar em ir a uma festa, Miss Milan a tapar com um pano todas as noites a
gaiola do canário, depois de lhe estender entre os lábios um grão de alpista; e enquanto meditava neste aspecto das criaturas, na paciência que possuem, na sua capacidade
de sofrimento, no modo como conseguem consolo por meio de pequenos prazeres tão miseráveis, tão mesquinhos e tão sórdidos, os olhos acabaram por se lhe encher realmente
de lágrimas.
Mas tudo voltara já a desaparecer. O vestido, a sala de costura, o amor, a piedade, o espelho emoldurado de mogno e a gaiola do canário - tudo se desvanecera, e
Mabel ali estava a um canto da sala, na festa de Mrs. Dalloway, entregue à sua tortura, de olhos bem abertos para a realidade.
Mas era tão vil, tão pusilânime e estúpido uma pessoa da sua idade, mãe já de dois filhos, preocupar-se tanto, sentir-se tão extremamente dependente da opinião das
outras pessoas, sem princípios nem convicções próprias suficientemente fortes, incapaz de ser também como os outros: "Shakespeare existe! Existe a morte! Não passamos
de bichos de farinha nas bolachas do capitão" - ou fosse lá o que fosse que os outros dissessem.
Olhou-se frontalmente no espelho: compôs um pouco o vestido no ombro esquerdo; entrou na outra sala como se chovessem dardos de todos os lados por cima do seu vestido
amarelo. Mas em vez de parecer altiva ou trágica, como Rose Shaw teria parecido - Rose no lugar dela havia de parecer Boadicea - tinha um ar de louca e de mulher
afectada, e sorria como uma colegial idiota, baixando os olhos ao atravessar a sala, positivamente em fuga como um rafeiro espancado, e pôs-se por fim a olhar para
um quadro, uma gravura pendurada na parede. Como se alguém pudesse estar numa festa a olhar para um quadro! Toda a gente ia perceber porque é que Mabel estava a
fazer aquilo - era porque se sentia cheia de vergonha, era porque se sentia humilhada.
"Agora a mosca caiu dentro do pires de leite", disse para consigo, "caiu mesmo no meio, e não é capaz de sair de lá, e o leite", pensou ainda, rigidamente pregada
diante do quadro, "colou-lhe as asas uma à outra".
"É tão fora de moda", disse a Charles Burt, fazendo-o parar (coisa que ele detestava que lhe fizessem) a meio do caminho que levava, direito a outra pessoa.
Mabel queria referir-se, ou esforçava-se por pensar que queria referir-se, com aquilo, ao quadro e não ao vestido. E uma palavra de elogio, uma palavra afectuosa
de Charles tê-la-iam feito mudar da noite para o dia no mesmo instante. Se ele se limitasse a dizer: "Mabel, estás encantadora esta noite!", isso teria transformado
toda a sua vida. Mas para isso, ela própria precisava de ter sido verdadeira e directa. Charles não disse nada de parecido com o que Mabel desejava: era inevitável.
Ele era a malícia em pessoa. Sempre soubera ver através dos outros, especialmente dos que se sentiam particularmente fracos, infelizes ou em baixo.
"Mabel arranjou um vestido novo!", disse ele, e a pobre mosca sentiu-se perfeitamente afogada dentro do pires de leite. A verdade é que ele quisera afogá-la de propósito,
pensou Mabel. Era um homem sem coração, sem sentimentos profundos; a sua amizade não passava de um verniz de superfície. Miss Mi-lan era muito mais real, muito mais
bondosa. Se ao menos uma pessoa fosse capaz de aceitar de vez essa verdade! "Porquê?", perguntou a si própria - respondendo a Charles depressa de mais, de tal modo
que ele se deu perfeitamente conta de que ela estava zangada, "picada" como era seu hábito dizer ("Muito picada?", inquiriu e afastou-se a rir, indo ter com uma
daquelas mulheres quaisquer que por ali andavam) - "Porquê?" - perguntou Mabel a si própria - "Porque é que não sou capaz de sentir sempre a mesma coisa, sentir
com segurança que Miss Milan tem razão, e que Charles não a tem, e assentar nisso de uma vez para sempre, sentir-me segura acerca do canário e da compaixão e do
amor e não girar de segundo em segundo mal entro numa sala cheia de gente?" Era uma vez mais o seu odioso carácter fraco e vacilante, sempre pronto a auto-acusar-se
nos momentos difíceis, o seu carácter que nunca se interessava deveras e seriamente por nada - concologia, etimologia, botânica, arqueologia, maneiras de plantar
batatas e vê-las depois crescer, como faziam Mary Dennis e Violet Searle.
Agora Mrs. Holman, vendo-a ali parada, encaminhou-se na sua direcção. Claro que reparar num vestido novo não era coisa de que Mrs. Holman fosse capaz, sempre em
cuidado com a sua numerosa família, que caía das escadas abaixo ou apanhava de súbito e colectivamente uma vaga de escarlatina. Mabel não poderia dizer-lhe se a
casa de Elmthorre estaria vaga em Agosto e Setembro? Oh, era uma sensaboria insuportável aquela conversa! Não havia nada pior para Mabel do que sen-tir-se a fazer
figura de agente imobiliário ou moço de recados. Nada disto vale nada, pensava, tentando agarrar-se a uma ideia importante, real, que não lhe ocorria enquanto ia
respondendo aplicadamente, com a sensatez de que era capaz, às perguntas da outra acerca do tamanho da casa de banho, do estado em que estava o edifício do lado
sul e da canalização da água quente para o andar superior; durante toda a conversa, não parou de ver pedaços de seda amarela a dançarem, reflectidos no espelho redondo
que estava à sua frente, e que ora pareciam botões pequenos, ora revestiam a forma de rãs. Como era estranho pensar na humilhação, na angústia, na agonia e no esforço,
nos apaixonantes altos e baixos de humor que cabiam, por exemplo, num pedaço de pano do tamanho de uma moeda de cobre!... E coisa ainda mais estranha, Mabel Waring
sentia-se completamente fora de tudo aquilo, ao mesmo tempo que era presa de sentimentos contraditórios que a dividiam, e que, por outro lado, Mrs. Holman (o botão
preto) se inclinava para ela contando-lhe que o filho mais velho tinha o coração cansado devido a correr de mais: Mabel via-se, entretanto, reflectida no espelho,
como um ponto saliente; só que ao contemplar os dois pontos não lhe era possível acreditar que o ponto preto, por muito que se debruçasse para diante e se agitasse
em gestos repetidos, conseguisse que o ponto amarelo, na sua solidão e ensi-mesmamento, sentisse fosse o que fosse, só por um momento embora, de semelhante ao que
o ponto preto sentia, por mais que as duas fingissem exactamente o contrário.
"É tão difícil fazer um rapaz estar sossegado!" disse o ponto preto.
E Mrs. Holman que achava que nunca era capaz de obter dos outros quantidade bastante de simpatia, guardava a que, apesar de tudo, conseguia arrancar da conversa,
segura do seu direito a que lha dessem (ainda que, realmente, fosse merecedora de uma dose muito maior, já que a sua filha mais nova lhe aparecera naquela manhã
com um inchaço no joelho). Mas continuava a aceitar a atenção que Mabel lhe proporcionava, com certa desconfiança e algum ressentimento, como se estivesse a receber
meio penny quando lhe era devida uma libra, mas que arrecadava apesar disso, porque os tempos estavam maus: e por fim, afastou-se, um pouco despeitada, ferida, a
pensar de novo no joelho da filha.
Mas Mabel no seu vestido de noite amarelo, não se sentia com forças para arrancar de dentro de si nem mais uma só pequena gota de simpatia: era ela quem estava a
precisar de atenções, queria-as todas para si própria. Sabia (continuando a olhar para o espelho, mergulhando naquele aterrador lago azul) que estava condenada,
sentia-se desprezada, relegada para segundo plano, por ser uma criatura tão fraca e vacilante; e parecia-lhe que o vestido amarelo era a pena a que merecera ser
condenada, e que se estivesse vestida como Rose Shaw, com um cativante vestido verde brilhante e uma pluma de cisne, seria a mesma coisa; sabia que não havia escapatória
possível para si - não, não havia. Mas, apesar de tudo, a culpa não era dela. O problema era ter nascido numa família de dez pessoas, sempre com falta de dinheiro,
sempre a poupar e a contar tudo: e a mãe transportava grandes recipientes de um lado para o outro, o linóleo estava roto nas arestas dos degraus da escada, a uma
sórdida tragédia doméstica sucedia-se outra - nada de catastrófico nunca: havia a criação de carneiros numa quinta que falhara, mas não por completo: o irmão mais
velho casara abaixo do seu meio mas não excessivamente abaixo - nada havia nunca de romanesco, nada de extremos, nunca. Veraneavam todos respeitavelmente numa praia
de recurso: e ainda agora, nalgumas dessas praias, uma ou outra das suas tias devia continuar a aparecer para fazer repouso em quartos que nunca davam de frente
para o mar. Era aquele o género de toda família - remediar-se com as coisas possíveis, e ela própria fazia como as tias, era exactamente como elas. Porque todos
os seus sonhos de viver na índia, casada com um herói como Sir Henry Law-rence, uma espécie de construtor de impérios (e ainda actualmente ver um indiano de turbante
a mergulhava numa atmosfera romanesca), todos esses sonhos tinham falhado amargamente. Casara com Hubert, com o seu emprego seguro e vitalício, mas de segundo plano,
nos Tribunais, e ambos administravam remediadamente uma casa onde se sentiam sempre algo apertados, sem criadas à altura, comendo carne picada e por vezes almoçando
ou jantando apenas pão com manteiga quando estavam os dois sozinhos. De longe em longe - Mrs. Holman afas-tara-se, achando com certeza Mabel a pessoa mais seca e
antipática que alguma vez conhecera, e ainda por cima com aquele vestido incrivelmente absurdo, coisas que não tardaria, sem dúvida, a comunicar a toda a gente que
lhe desse ouvidos - de longe em longe, pensava Mabel para consigo, esquecida num sofá azul, cujas almofadas ia arranjando para ter ar de estar ocupada, uma vez que
não se sentia nada inclinada a ir ter com Charles Burt ou com Rose Shaw que ali estavam, agora mesmo, a conversar e a rir perto do fogão, talvez troçando os dois
dela - de longe em longe, aconteciam certos instantes de maravilha na sua existência: por exemplo, estivera a ler na cama, na noite anterior, e durante as férias
da Páscoa deitara-se na praia - como gostava de se lembrar disso agora! - contemplando um grande maciço de liquens pálidos, recortados no céu semelhante a uma cúpula
de porcelana, macio e denso ao mesmo tempo, enquanto as vagas se faziam ouvir devagar, misturadas aos gritos de alegria das crianças que brincavam na areia - sim,
havia instantes divinos, em que ela se sentia descansada ao abrigo das mãos de uma divindade, e a divindade era o universo inteiro nesses instantes: uma divindade
com o coração algo duro, mas também cheia de beleza, que talvez fosse possível simbolizar por meio de um cordeiro deitado num altar (disparates que passam pela cabeça
de uma pessoa e que não chegam a ter a mínima importância, porque nunca se contam a mais ninguém). E também, de quando em quando, com Hubert havia momentos semelhantes,
no seu inesperado - ao cortar o carneiro do almoço de domingo, assim sem razão, ou ao abrir uma carta, ou ao entrar numa sala - instantes divinos em que ela dizia
para consigo (apenas para consigo, porque nunca o diria realmente a mais ninguém): "É isto. Sempre aconteceu! É isto!" E o outro lado das coisas era igualmente surpreendente
- quer dizer, quando tudo estava arranjado -, havia música, bom tempo, férias - e existiam todas as razões de felicidade à sua frente, nada acontecia afinal. Ela
não se sentia feliz. Tudo parecia vazio, apenas vazio, e era tudo.
Era aquela desgraçada maneira de ser, já não podia duvidar! Fora sempre uma mãe aborrecida, fraca, insatisfatória, uma esposa baça, deambulando ao acaso numa espécie
de existência crepuscular, nada era nunca muito claro ou forte, nunca havia coisa nenhuma que valesse mais que as outras; e ela era assim, como todos os seus irmãos
e irmãs, excepto talvez Her-bert - porque todos eles eram as mesmas criaturas com água nas veias e incapazes de fazer fosse o que fosse de sólido. Depois, no meio
desta vida rastejante e de verme, subitamente sintia-se na crista da vaga. A mosca náufraga - onde lera ela essa história que lhe lembrava a todo o momento da mosca
e do pires de leite? - ainda lutava. Sim, havia instantes diferentes. Mas agora Mabel estava com quarenta anos, e esses instantes tornavam-se cada vez mais raros.
A pouco e pouco deixaria de lutar. Tudo aquilo era deplorável! Não era possível aguentar mais! Sentia vergonha de si própria!
Havia de ir no dia seguinte à London Library. Já descobriu por lá um livro espantoso, maravilhoso, indispensável; era um livro assim, descoberto por acaso, escrito
por um pastor, por um americano talvez, de quem ninguém ouvira ainda falar; ou havia de ir pelo Strand e tropeçaria, acidentalmente, numa sala de conferências onde
um mineiro estivesse a descrever a vida nos poços das minas, e sentiria, ao ouvi-lo, que se trasformara numa pessoa diferente. Envergaria um uniforme; passaria a
ser a Irmã Fulana; nunca mais pensaria em vestidos, nunca mais. E para sempre sentiria uma certeza perfeita acerca de Charles Burt e de Miss Milan e desta sala e
da outra sala; e para sempre seria, hoje e amanhã, como se estivesse deitada ao sol ou a cortar a carne do almoço de domingo. Para sempre!
Levantou-se então do sofá azul, e o botão amarelo no espelho levantou-se também, e Mabel acenou com a mão a Charles e a Rose para lhes mostrar que em nada dependia
deles, e o botão amarelo desapareceu do espelho, e todos os dardos voltaram a atingi-la no peito enquanto se dirigia a Mrs. Dalloway e lhe dava as boas-noites.
"Mas é ainda tão cedo", disse Mrs. Dalloway, encantadora como de costume.
"Tenho mesmo que ir andando", respondeu Mabel Waring. "Mas", acrescentou na sua voz fraca e insegura, que se tornava ainda mais ridícula quando tentava erguê-la
um pouco, "gostei imenso de ter vindo."
"Gostei imenso", disse depois a Mr. Dalloway, quando o encontrou já nas escadas.
"Mentiras, mentiras, mentiras!", murmurou para consigo, finalmente, ao descer as escadas, e "mesmo no meio do pires de leite", repetiu ao agradecer a Mrs. Barnet,
que a ajudava a enfiar o casaco chinês que uma e outra, e outra, e outra vez ainda, voltara a vestir sempre que tinha que sair ao longo dos últimos vinte anos.
Virgínia Woolf: VIAJANTE SOLITÁRIA DE REGIÕES DESCONHECIDAS
Em "A Casa Assombrada" estão reunidos alguns dos mais inovadores contos originalmente escritos em inglês.
É certo que Virgínia Woolfnão é uma contista e que foi em romances como "Orlando" e "As Vagas" que sobretudo cumpriu o "insaciável desejo de escrever alguma coisa
antes de morrer". Mas é em contos como "A Marca na Parede", "Lappin e Lapinova" e "O Legado", que melhor nos revela o modo como soube captar a eva-nescente matéria
da vida, um universo feminino que os homens desfazem revelando que a marca na parede é uma lesma, recusan-do-se a recriar a vida de coelhos no ribeiro ao fundo da
floresta ou tornando-se apenas insensivelmente desatentos.
Talvez por isso tais contos permitam compreender um pouco da vida e da morte de Virgínia Woolf.
Numa manhã clara e fria de Março de 1941, Virgínia Woolf sai de sua casa em Rodmell, no vale do Ouse. Em tranquilo passo exausto caminha entre o pomar e o tanque,
em que se movimentam silenciosos peixes.
É uma saída sem regresso, esta.
Virgínia Woolf escrevera, antes, a seu marido Leonard:
"Tenho a certeza de que vou enlouquecer outra vez. Sinto-me incapaz de enfrentar de novo um desses terríveis períodos. Começo a ouvir vozes e não consigo concentrar-me
(...). Se alguém pudesse salvar-me serias tu (...). Não posso destruíra tua vida por mais tempo."
E, finalmente, uma frase inesperada, que retoma a que Terence diz a Rachel morta, em Voyage Out, seu primeiro romance.
"Não creio que dois seres pudessem ser mais felizes do que nós ofomos."
Virgínia Woolf passa junto da cabana aberta ao sol, onde habitualmente escreve. Olhada apenas pela manhã, dirige-se ao rio Ouse. Tal como os céus de Inglaterra invadidos
pela aviação nazi, o seu corpo é um campo de batalha devastado pelas emoções.
Perdidos estão os dias em que tudo era intenso e possível.
"Gosto de beber champanhe e de me excitar loucamente. Gosto de ir de carro a Rodmell numa sexta-feira de calor e comer presunto frio e ficar sentada numa esplanada
a fumar em companhia de um ou dois mochos."
Virgínia Woolf é agora assaltada pelas vozes que escrevendo procurou esconjurar. Ouve os seus mortos. O desaparecimento de sua mãe Julie, levara-a a escrever aos
13 anos que "estava perante o maior desastre que poderia acontecer". Depois foi a longa agonia de seu pai, Leslie Stephen. E a morte do irmão Thoby acompanhou-a
sempre.
Virgínia Woolf atravessa frequentes períodos depressivos. Um livro acabado, a expectativa de uma crítica desfavorável, a nostalgia dos filhos que não tem, o riso
provocado pelo seu gosto por uma pintura verde, podem transformá-la numa crisálida. Tais períodos são, em geral, criadores:
"Se pudesse ficar uns quinze dias de cama creio que poderia ver "As Ondas" integralmente.
Penso que estas doenças são, no meu caso, parcialmente místicas. Passa-se qualquer coisa no meu espírito. Ele recusa-se a continuar a registar impressões. Fecha-se
sobre si. Fico num estado de torpor, muitas vezes acompanhado de um agudo sofrimento físico. Depois, subitamente, qualquer coisa brota do meu interior."
Três vezes a depressão a levou a tentar o suicídio. Mas depois de cada crise "tinha desejo de saltar o muro e colher algumas flores".
Neste ano de 1941, em que a guerra adensa as sombras que a cercam, Virgínia Woolf parece esbarrar num muro invisível escrevendo Beetween theActs.
Mais que das outras vezes o seu corpo deve parecer-lhe "monstruoso e a boca sórdida" e os objectos com "aspectos sinistros e imprevisíveis, às vezes estranhamente belos".
O apelo das águas
A Virgínia Woolf que neste 28 de Março de 1941 caminha respondendo ao apelo das águas, já pouco tem de ave fantástica que levantava bruscamente a cabeça para captar
uma frase que a seduzia.
Tem agora quase sessenta anos, escreveu nove romances, sete volumes de ensaios, duas biografias, um diário e alguns contos.
O corpo frágil adquiriu uma elegância angulosa. No rosto oval, o tempo passou deixando as marcas do cansaço. A "boca parecia nunca ter sorrido", diz Marguerite Yourcenar
a sua tradutora francesa que meses antes a visitara. Até os olhos, de um azul quase verde, estão ausentes.
" Vogo sobre agitadas ondas e quando for ao fundo ninguém estará lá para me salvar."
Está junto ao rio. Enche os bolsos da capa com pedras e depõe a bengala e os óculos sobre a margem.
Olha as águas desfocadas que sempre fascinaram a sua imaginação e lhe inspiraram as palavras.
Em "Voyage Out" fizera Rachel desejar "ser lançada nas águas, balouçar nas ondas, ser arrastada para aqui e para ali, transportada até às raízes do mundo".
E em "As Ondas" Rhoda pensa, olhando a maré que sobe e agita os barcos: "Deixar-me ir, abandonar-me à minha dor, entregar-me completamente ao meu desejo sem cessar
recalcado, de me perder, de me consumir."
Agora todas as suas palavras, todos os fósforos que soubera riscar na escuridão, se revelavam excessivas. Bordejava de novo a loucura que recusa todas as recuperações.
A loucura que no livro Mrs. Dolloway projectara em Septimus que, como ela, amava Shakespeare, a luz e as árvores e se sentia, um "proscrito que olhava para trás,
para as terras habitadas, jazendo como um náufrago, na praia de um mundo deserto".
Virgínia Woolf mergulhou no rio. Todas as luzes do mundo se apagaram.
Era a morte desejada em Voyage Out:
"Tanto melhor. Era a morte. Não era nada. Ela tinha deixado de respirar - era tudo. A felicidade perfeita. Acabavam de obter o que sempre haviam desejado - a união
que não tinham conseguido realizar em vida. Nunca houve dois seres tão felizes como nós o fomos."
Era a morte desafiada em "As Ondas".
"A morte é o nosso inimigo. E contra a morte que eu cavalgo, espada nua e cabelos soltos ao vento como os de um jovem, como flutuavam os cabelos de Perceval galopando
nas índias."
O corpo foi durante semanas levado por essa torrente, que Virgínia Woolf "arrastava consigo como as estrelas arrastam a noite, e que a arrastou por fim, como a noite
arrasta uma estrela" (Cecília Meireles).
Cumprira, porém, o insaciável desejo de escrever alguma coisa antes de morrer.
As suas palavras subiram do vale de Ouse, voltearam sobre os campanários do Sussex, cada vez mais altas, cada vez mais longe, cada vez mais próximas.
Virgínia Woolf tivera, como Orlando, o selvagem impulso de acompanhar os pássaros até ao fim do mundo. Os pássaros abandonavam a metáforafazendo-se palavras.
Virginia Woolf
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















