



Biblio VT




Dizem que quando alguém leva consigo para o mar um pedaço dessa árvore, por menor que seja, surgirão ventos contrários que lhe impedirão a viagem, ou tempestades a pôr em perigo a sua vida. Também dizem que quem se colocar à sua sombra em noite de lua cheia ouvirá, misteriosamente sussurrados na escura galharia, os segredos do futuro. São fatos que jamais foram contraditados; mas dizem ainda que nos amplos estuários, quando o mangue, com o correr do tempo, logrou conquistar à água as terras pantanosas, a casuarina ali se instala por sua vez, solidificando e fertilizando o solo até que esteja pronto para receber uma vegetação mais variada e luxuriante; então, desempenhada a sua tarefa, vai se extinguindo ante a impiedosa invasão das miríades de habitantes da selva. Ocorreu-me que A casuarina não seria mau título para um volume de contos em torno de ingleses residentes na Península Malaia e em Bornéu; pois imaginei que essa gente, vinda após os desbravadores que haviam franqueado essas terras à civilização ocidental, estava da mesma forma destinada, uma vez cumprida a sua missão e tornada a região pacífica, ordeira e sofisticada, a ceder lugar a uma geração mais variada, porém menos aventurosa; e fiquei extremamente desapontado quando, ao fazer indagações, soube que não havia a menor dose de verdade no que me tinham dito. É dificílimo encontrar título para uma coleção de contos; dar-lhe o nome do primeiro é fugir à dificuldade e ilude o leitor, fazendo-o supor que vai ler um romance; um bom título deveria, ainda que vagamente, ter relação com todos os contos reunidos no livro. Os melhores títulos, todavia, já foram usados. Estava eu num dilema. Refleti, porém, que um símbolo (como acentua mestre François Rabelais numa divertida passagem) pode simbolizar qualquer coisa; e lembrei-me de que a casuarina se ergue à beira-mar, emaciada e tosca, protegendo a terra contra a fúria dos ventos, e assim poderia muito bem sugerir esses plantadores e administradores que, apesar de todos os seus defeitos, afinal de contas levaram aos povos entre os quais habitam a tranquilidade, a justiça e a prosperidade, e imaginei que eles também, ao contemplar a casuarina, rude, cinzenta e triste, algo deslocada em meio à exuberância dos trópicos — que eles também deviam recordar-se da sua terra natal e, pensando um momento nas urzes de uma charneca de Yorkshire ou nas giestas de um baldio de Sussex, veriam nessa intrépida árvore, que faz o que pode num ambiente desfavorável, um símbolo das suas existências de exilados. Em suma, eu poderia encontrar uma dezena de razões para manter o meu título, mas a mais convincente delas, já se vê, é que não consegui descobrir outro melhor.
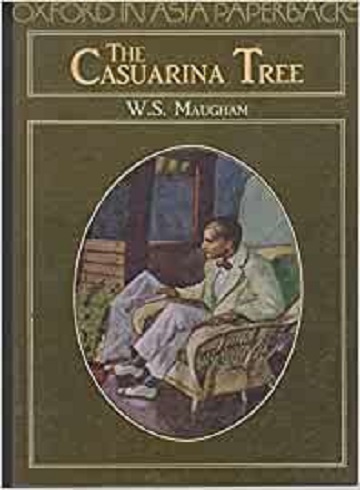
Antes da festa
Mrs. Skinner gostava de chegar na hora. Já estava vestida, de seda preta como convinha à sua idade, sem contar que guardava luto pelo genro. Pôs a "toque". Tinha as suas dúvidas acerca desta, pois a aigrette que a enfeitava bem poderia provocar ásperas críticas por parte de algumas das suas amigas, a quem certamente encontraria na festa. Além disso, era revoltante matar aquelas lindas aves brancas, ainda em cima na época do acasalamento, para lhes arrancar as penas. Mas eram tão bonitas, tão chiques, que teria sido tolice recusá-las, para não falar na ofensa feita ao genro. Fora ele que as trouxera de Bornéu, pensando dar-lhe tanta alegria com elas! Kathleen fora um pouco malcriada a esse respeito; sem dúvida estava arrependida após o que acontecera, mas a verdade é que Kathleen nunca tinha gostado realmente de Harold. Em pé diante da mesa-toucador, Mrs. Skinner ajustou a "toque" na cabeça (afinal era o único chapéu apresentável que tinha) , e cravou nela um grampo com uma grande bola de azeviche. Se lhe fizessem alguma observação sobre as plumas, tinha uma resposta pronta.
"Sei que isto é um horror", diria, "e por mim nunca as teria comprado, mas foi o meu pobre genro que as trouxe, da última vez que esteve aqui em licença."
Isso explicaria as plumas e seria uma escusa para usá-las. Todos tinham sido muito gentis. Mrs. Skinner tirou um lenço limpo de uma gaveta e borrifou-o com um pouco de água-de-colônia. nunca usava perfumes porque isso lhe parecia uma frivolidade, mas a água-de-colônia era tão, refrescante! Já estava quase pronta; seu olhar arredou-se do espelho e pôs-se a vaguear lá fora, através da janela. O cônego Heywood teria um dia maravilhoso para o seu garden party. O ar estava tépido e o céu azul; as árvores ainda não tinham perdido o fresco verdor da primavera. Mrs. Skinner sorriu ao ver a netinha no pequenino jardim dos fundos da casa, passando o ancinho no seu canteiro de flores. Quem dera que Joan não fosse tão pálida! Fora um erro fazê-la permanecer tanto tempo nos trópicos. Era séria demais para a sua idade, nunca a viam correr de um lado para outro; distraía-se com jogos tranquilos, que ela própria inventava, e regava o seu jardim. Mrs. Skinner alisou o peito do vestido, apanhou as luvas e desceu.
Kathleen estava sentada diante da mesa de escrever, no vão da janela, ocupada com as listas que andava organizando; pois era secretária honorária do Clube Feminino de Golfe e quando havia competição tinha muito que fazer. Mas também ela já se, arrumara para a festa.
— Vejo que afinal resolveste por o blusão — disse Mrs. Skinner.
Haviam discutido ao almoço sobre se Kathleen devia por o blusão ou o vestido de chiffon preto. O blusão era preto e branco e Kathleen o achava muito chique, mas não era propriamente um traje de luto. Contudo, Millicent pronunciara-se a favor dele.
— Por que havíamos de ir todas como se tivéssemos voltado de um enterro? Já faz oito meses que Harold morreu.
Mrs. Skinner achara que ela dava mostra de pouco sentimento. Millicent andava esquisita desde que voltara de Bornéu.
— Estás pensando em tirar já o luto, meu bem? — perguntara.
Millicent não respondera diretamente. — Hoje não se usa mais luto como em outros tempos. Fez uma pequena pausa e quando prosseguiu, o tom da sua voz pareceu estranho a Mrs. Skinner. Evidentemente Kathleen também o notou, pois lançou um olhar de curiosidade à irmã. — Tenho certeza que Harold não havia de querer que eu usasse luto indefinidamente por ele.
— Aprontei-me cedo porque queria falar com Millicent — disse Kathleen em resposta à observação da mãe.
— Ah! sim?
Kathleen não explicou. Pôs as listas de parte e, com o cenho franzido, leu por segunda vez a carta de uma senhora que se queixava da injustiça do comitê em baixar-lhe o handicap de vinte e quatro para dezoito. A secretária honorária de um clube feminino de golfe precisa ter muita diplomacia. Mrs. Skinner começou a por as luvas novas. As persianas mantinham a sala fresca e envolta em penumbra. Ela olhou para o grande búcero de madeira, pintado em cores alegres, que Harold deixara confiado à sua guarda; a escultura lhe parecia estranha e bárbara, mas o genro tinha-lhe muita estima. Possuía algum significado religioso e o cônego Heywood ficara muito impressionado com ela. Na parede, por cima do sofá, havia armas malaias cujo nome ela esquecera e aqui e além, sobre as mesas, objetos de bronze e prata que Harold lhes mandara em diversas ocasiões. Gostara do genro em vida. deste. Seus olhos procuraram involuntariamente a fotografia dele, que costumava estar em cima do piano, junto com as das suas filhas, da neta, da irmã e do filho desta.
— Que é isso, Kathleen, onde está o retrato de Harold?
Kathleen olhou. O retrato já não se achava no seu lugar. — Alguém o tirou daí — disse ela. Levantou-se, surpresa e intrigada, e dirigiu-se para o piano. As fotografias tinham sido rearranjadas de maneira que não deixassem nenhuma lacuna.
— Talvez Millicent o quisesse ter no quarto — observou Mrs. Skinner.
— Eu teria reparado nele. Além disso, Millicent tem várias fotografias de Harold, que traz fechadas à chave.
Mrs. Skinner achara muito esquisito a filha não ter nenhum retrato do marido no quarto. Chegara a tocar certa vez nesse assunto, porém Millicent não lhe respondera. Millicent andava singularmente taciturna desde que tinha voltado de Bornéu. Não tinha animado as mostras maternas de simpatia. Parecia pouco disposta a falar da sua grande perda. O pesar não produz o mesmo efeito em todos. Mrs. Skinner dissera-lhe que era melhor deixá-la em paz. A lembrança do marido desviou-lhe o pensamento para a festa.
— O pai perguntou se eu achava que ele devia pôr a cartola. Respondi que pelas dúvidas era melhor fazê-lo.
Seria uma festa magnífica. Tinham encomendado sorvetes de morango e baunilha a Boddy, o confeiteiro, mas os Heywood preparariam o café gelado em casa. A concorrência seria grande. Eles tinham sido convidados para fazer conhecimento com o Bispo de Hong Kong, que estava hospedado em casa do cônego, seu velho companheiro de universidade, e ia falar sobre as missões da China. Mrs. Skinner, cuja filha tinha residido oito anos no Oriente e cujo genro fora Residente num distrito de Bornéu, estava toda interessada. O assunto, naturalmente, a tocava muito mais de perto do que àqueles que nunca tinham tido nada que ver com as Colônias.
"Que pode saber da Inglaterra quem só a Inglaterra conhece?", como dizia Mr. Skinner.
Nesse momento ele entrou na sala. Era advogado, como também o fora o pai, e tinha banca em Lincoln's Inn Fields. Todos os dias de manhã ia a Londres e voltava à tardinha. Se podia acompanhar a mulher e as filhas ao garden party do cônego era porque este, muito acertadamente, havia escolhido um sábado para a sua festa. Fazia muito boa figura de fraque e calças sal-e-pimenta. Não era propriamente uma janota, mas vestia com correção. Tinha o aspecto de um respeitável advogado de família, e de fato o era. Sua firma nunca aceitava negócios que não fossem perfeitamente lícitos; quando um cliente o procurava para lhe confiar alguma questão pouco limpa ele assumia um ar grave.
— Não me parece que a sua causa seja daquelas que nos interessam especialmente. Seria preferível que se dirigisse a outra firma.
Puxava um bloco de notas e escrevia um nome e um endereço. Arrancava a folha e a estendia ao cliente.
— No seu lugar eu procuraria estes advogados. Se mencionar o meu nome, estou certo de que farão o possível para servi-lo.
Mr. Skinner era muito calvo e raspava toda a barba. Tinha lábios pálidos, finos e comprimidos, mas os seus olhos azuis eram tímidos. As faces eram sem cor e o rosto coberto de rugas.
— Vejo que você pôs as calças novas — disse Mrs. Skinner. — Achei que a oportunidade era boa. Estava perguntando comigo se conviria por uma flor na lapela.
— Eu não faria isso, pai — observou Kathleen. — Não acho que seja de muito bom gosto.
— Muita gente vai fazê-lo — disse Mrs. Skinner.
— Somente empregados de escritório e. pessoas dessa espécie — tornou Kathleen. — Os Heywood tiveram de convidar toda a gente, como sabem. Além disso, nós estamos de luto.
— Gostaria de saber se haverá coleta depois da conferência do Bispo — disse Mrs. Skinner.
— Não creio — respondeu o marido. — Acho que não seria de muito bom gosto — concordou Kathleen.
— É melhor ir pelo seguro — decidiu Mr. Skinner. — Vou contribuir em nome de todos nós. Estava perguntando a mim mesmo se dez xelins seriam suficientes ou se devia dar uma libra.
— Se tiver de dar alguma coisa, convém que seja uma libra, pai — disse Kathleen.
— Verei quando chegar o momento. Não quero dar menos do que os outros, mas por outro lado não vejo razão para dar mais do que o necessário.
Kathleen guardou os seus papéis na gaveta da secretária e levantou-se. Olhou as horas no relógio de pulso.
— Millicent já está pronta? — perguntou Mrs. Skinner.
— Temos tempo de sobra. O convite é para as quatro e não convém que cheguemos muito antes das quatro e meia. Disse a Davis que trouxesse o carro às quatro e quinze.
Em geral era Kathleen quem guiava o carro, mas em ocasiões solenes como essa Davis, o jardineiro, vestia seu uniforme e fazia as vezes de chofer. Isso dava melhor impressão à chegada e era natural que Kathleen não desejasse guiar com o seu blusão novo. Ao ver a mãe enfiar nos dedos, com esforço, um par de luvas que ainda não tinham sido usadas, lembrou-se de que precisava pôr as suas também. Cheirou-as para verificar se ainda se sentia o odor do líquido usado na limpeza. Estava muito fraco. Duvidava que alguém o notasse.
Afinal abriu a porta e Millicent entrou. Pusera o seu traje de luto. Mrs. Skinner não podia habituar-se com ele, mas, fosse como fosse, Millicent teria de usá-lo durante um ano. Era pena que não lhe ficasse bem; assentava muito em certas pessoas. Tinha posto uma vez o chapéu de Millicent, com a sua ourela branca e o seu comprido véu, e achava que ele lhe dava uma bonita aparência. Esperava, já se vê, que o seu querido Alfred lhe sobrevivesse, mas se tal não acontecesse ela jamais tiraria o luto. Como a Rainha Vitória. Com Millicent o caso mudava de figura. Millicent era muito mais moça, tinha apenas trinta é seis anos; que tristeza enviuvar nessa idade! Era pouco provável que arranjasse novo casamento. Kathleen, com trinta e cinco anos, também já estava um pouco velha para casar. Na última vez em que Millicent e Harold tinham vindo à Inglaterra ela sugerira que levassem Kathleen consigo para o Oriente; Harold parecia disposto a fazê-lo, porém Millicent disse que isso não daria certo. Mrs. Skinner não compreendia por quê. Seria uma oportunidade para ela. Está claro que não queriam desfazer-se de Kathleen, mas uma moça precisava casar e o fato era que todos os homens a quem conheciam na Inglaterra já estavam casados. Dizia Millicent que o. clima de lá era tremendo e, na verdade, ela estava com má cor. Ninguém diria que Millicent tinha sido a mais bonita das duas. Kathleen tornara-se mais esbelta com os anos; alguns a achavam muito magra, mas depois de cortar o cabelo, com as faces vermelhas de jogar rife ao sol e ao vento, Mrs. Skinner achava-a linda. Ninguém poderia dizer o mesmo da pobre Millicent, que perdera por completo a linha; nunca tinha sido alta e agora que engordara parecia atarracada. Estava gorda demais; isso, sem dúvida, devia-se ao calor dos trópicos que não deixava fazer exercício. Sua pele estava descorada e turva e os olhos azuis, que eram o que ela possuía de mais bonito, tinham adquirido uma tonalidade completamente pálida.
"Ela devia fazer alguma coisa para afinar o pescoço", refletiu Mrs. Skinner. "Está ficando horrivelmente tronchudo."
Certa ocasião falara nisso ao marido. Ele respondeu que Millicent já não era muito criança; podia ser, mas isso não era motivo para que uma pessoa se descuidasse de si. Mrs. Skinner tomou a resolução de falar seriamente à filha. Mas devia respeitar a sua dor, está claro: esperaria até que houvesse passado um ano. Não lhe desagradava nada ter esse motivo para adiar uma palestra em que não podia pensar sem certo nervosismo. Porque era visível que Millicent havia mudado. O seu rosto tinha uma expressão casmurra que fazia com que a mãe não se sentisse bem a. vontade com ela. Mrs. Skinner gostava de exprimir em voz alta tudo que lhe passava pela cabeça, porém Millicent, quando se fazia uma observação (simplesmente para dizer alguma coisa, já se vê), tinha o hábito embaraçoso de não responder, deixando a gente em dúvida sobre se ela ouvira ou não. Por vezes Mrs. Skinner achava isso tão irritante que, para não dirigir algumas palavras ásperas à filha, era forçada a lembrar-se de que o pobre Harold morrera havia apenas oito meses.
A luz da janela incidia no rosto maciço da viúva, que caminhava silenciosamente para o grupo. Kathleen, que estava de costas para essa luz, observou por um instante a irmã.
— Millicent, quero dizer-te uma coisa. Estive jogando golfe com Gladys Heywood hoje de manhã.
— Ganhaste? — perguntou Millicent. Gladys Heywood era a única filha solteira do cônego. — Ela me contou a teu respeito uma coisa que acho que tu deves saber.
Os olhos de Millicent fixaram-se, além da irmã, na meninazinha que regava as flores no jardim.
— Disseste a Annie que servisse o chá a Joan na cozinha, mamãe? — perguntou ela.
— Sim, ela vai tomá-lo com os criados.
Kathleen olhou calmamente para a irmã. — O Bispo passou dois ou três dias em Singapura na volta — prosseguiu. — Ele gosta muito de viajar. Esteve em Bornéu e falou com muitos conhecidos teus.
— Gostará de fazer conhecimento contigo, meu bem — disse Mrs. Skinner. — Ele conhecia o pobre Harold?
— Sim, encontraram-se uma vez em Kuala Solor. Lembra-se muito bem dele. Diz que ficou horrorizado ao saber da sua morte.
Millicent sentou-se e começou a pôr as luvas pretas. Mrs. Skinner achou estranho que ela ouvisse essas observações num silêncio absoluto.
— A propósito, Millicent — disse ela —, o retrato de Harold desapareceu. Foste tu que o tiraste daí?
— Sim, eu o guardei.
— Pensei que gostasses de tê-lo em cima do piano.
Mais uma vez Millicent calou-se. Era mesmo um hábito exasperante.
Kathleen virou-se um pouco para encarar a irmã. — Millicent, por que nos disseste que Harold tinha morrido de febre?
A viúva não fez o menor gesto, fitando em Kathleen um olhar firme, mas as suas faces pálidas cobriram-se subitamente de rubor. Não respondeu uma palavra.
— Meu Deus, que queres dizer, Kathleen? — perguntou Mrs. Skinner, surpresa.
— O Bispo diz que Harold se suicidou.
Mrs. Skinner soltou um grito de pasmo, mas seu marido estendeu a mão pedindo silêncio.
— Isso é verdade, Millicent?
— Mas por que não nos disseste?
Millicent demorou um instante a responder. Revolvia entre os dedos, distraidamente, um objeto de bronze de Brunei que estava em cima da mesa ao seu lado. Também aquilo tinha sido um presente de Harold.
— Achei preferível, no interesse de Joan, que o pai dela passasse por ter morrido de febre. Não queria que ela viesse a saber disso.
— Tu nos deixaste numa situação muito esquerda — volveu Kathleen, franzindo de leve o sobrolho. — Gladys Heywood me disse que achava mal feito eu não lhe ter contado a verdade. Tive a maior dificuldade em convencê-la de que eu não sabia absolutamente nada a esse respeito. Ela me disse que o cônego está bastante aborrecido. Depois de nos conhecermos durante tantos anos, e diante da amizade que sempre mantivemos com eles, sem falar que foi ele quem te casou, acha que podíamos ter tido mais franqueza. Em todo caso, se não lhe queríamos dizer a verdade ao menos não devíamos ter contado uma mentira.
— Devo dizer que estou inteiramente solidário com ele nesse ponto — acudiu Mr. Skinner em tom ácido.
— Eu, naturalmente, disse a Gladys que nós não tínhamos culpa nenhuma. Limitamo-nos a repetir a eles o que tu nos tinhas dito.
— Espero que não tenham suspendido a partida de golfe por causa disso — comentou Millicent.
— Francamente, minha querida, a sua observação me parece das mais impróprias! — exclamou Mr. Skinner.
Pôs-se em pé, dirigiu-se para a lareira vazia e, levado pela força do hábito, colocou-se diante dela separando as abas do fraque.
— Era um assunto que me dizia respeito — disse Millicent —, e se me pareceu conveniente guardar segredo sobre isso, por que não havia de fazê-lo?
— Dir-se-ia que não tens nenhuma afeição a tua mãe, pois que nem a ela quiseste contar — disse Mrs. Skinner.
Millicent deu de ombros. — Tu devias saber que isso seria descoberto mais cedo ou mais tarde — observou Kathleen.
— Por quê? Eu não esperava que dois velhos ministros bisbilhoteiros se pusessem a comentar a minha vida por não terem outro assunto em que falar.
— Quando o Bispo disse que tinha estado em Bornéu, era natural que os Heywood lhe perguntassem se ele tinha conhecido vocês.
— Nada disso vem ao caso — disse Mr. Skinner. — Minha opinião é que tu nos devias ter contado a verdade de qualquer modo, e nós então teríamos decidido sobre o melhor caminho a seguir. Como advogado, asseguro-te que sempre dá mau resultado tentar esconder certas coisas.
— Pobre Harold! — disse Mrs. Skinner, enquanto as lágrimas começavam a correr pelas suas faces pintadas de ocre. — Como isso é horrível! Ele sempre foi bom genro para mim. Que foi que o levou a cometer um ato tão horroroso?
— O clima.
— Acho melhor que nos ponhas ao corrente de todos os fatos, Millicent — disse o pai.
— Kathleen te contará.
Kathleen hesitou. O que tinha para dizer era estarrecedor. Parecia horrível que uma coisa daquelas pudesse acontecer a uma família como a sua.
— O Bispo diz que ele se degolou.
Mrs. Skinner conteve a respiração e dirigiu-se impulsivamente para a filha viúva. Queria tomá-la nos braços..
— Minha pobre filha! — soluçou ela.
Millicent, porém, desvencilhou-se do seu abraço. — Por favor, não me desarranjes, mamãe. Não suporto que me agarrem assim.
— Francamente, Millicent! — disse Mr. Skinner, franzindo o sobrolho. — A atitude da filha parecia-lhe muito censurável. Mrs. Skinner enxugou cuidadosamente os olhos com o lenço e voltou para a sua cadeira, soltando um suspiro e sacudindo de leve a cabeça.
Kathleen remexia nervosa a longa corrente que usava ao pescoço.
— Parece absurdo que eu tenha sido informada por uma amiga dos pormenores da morte de meu cunhado. Isso nos deixa com ar de tolos. O Bispo deseja muito ver-te, Millicent; quer dizer-te o quanto simpatiza com a tua dor. — Fez uma pausa, porém Millicent não falou. — Ele diz que Millicent estava fora com Joan e ao voltar encontrou o pobre Harold morto na cama.
— Deve ter sido um grande choque — observou Mr. Skinner.
Sua esposa pôs-se de novo a chorar, mas Kathleen pousou-lhe a mão suavemente no ombro.
— Não chores, mamãe. Vais ficar com os olhos vermelhos e os outros acharão isso muito esquisito.
Todos guardaram silêncio enquanto Mrs. Skinner secava os olhos e fazia um bem sucedido esforço para se dominar.
Parecia-lhe singularíssimo que nesse momento estivesse usando no "toque" as plumas que Harold lhe dera.
— Tenho mais uma coisa para te dizer — falou Kathleen.
Millicent tornou a olhar para a irmã, sem ansiedade, os olhos firmes mas atentos. Tinha o ar de alguém que está à espera de um ruído qualquer e receia perdê-lo.
— Não desejo ofender-te, minha querida, mas ainda há uma coisa que precisas saber — prosseguiu Kathleen. — Diz o Bispo que Harold bebia.
— Que horror, minha querida! — exclamou Mrs. Skinner. — Dizerem uma coisa tão chocante! Foi Gladys Heywood quem te contou? Que foi que lhe respondeste?
— Eu disse que isso era absolutamente falso.
— Aí está em que dá andar com segredos! — exclamou Mr. Skinner com irritação. — É sempre assim. Quando se procura encobrir uma coisa começam a surgir boatos de toda sorte, mil vezes piores do que a verdade.
— Disseram ao Bispo, em Singapura, que Harold tinha se matado num acesso de delirium tremens. Acho que, no interesse de todos nós, tu devias desmentir isso, Millicent.
— É medonho dizer-se semelhante coisa de uma pessoa falecida — disse Mrs. Skinner. — Isso será tão prejudicial a Joan quando ela crescer!
— Mas que fundamento tem essa história, Millicent? — perguntou o pai. — Harold sempre foi muito abstêmio.
— Aqui — respondeu a viúva.
— Então ele bebia?
— Como uma esponja.
A resposta foi tão inesperada e o tom tão sarcástico que todos os três estremeceram.
— Millicent, como podes falar nesses termos do teu marido que está morto? — exclamou a mãe, juntando as mãos muito bem enluvadas. — Não consigo entender-te. Andas tão esquisita desde que voltaste! Eu nunca teria acreditado que uma filha minha fosse capaz de ficar tão fria diante da morte do marido.
— Não te inquietes com isso, mãe — disse Mr. Skinner. — Podemos deixar esse assunto para mais tarde.
Foi até a janela, olhou o jardinzinho banhado de sol e tornou a voltar para o interior da sala. Tirou o pince-nez do bolso e começou a limpá-lo com o lenço, embora não tivesse nenhuma intenção de pô-lo. Millicent contemplava-o, e os seus olhos tinham uma inconfundível expressão de ironia que quase chegava a ser cínica.
Mr. Skinner estava aborrecido. A semana de trabalho terminara e ele estava livre até segunda-feira de manhã. Embora houvesse dito à esposa que o garden party era uma grande maçada e que teria preferido mil vezes tomar chá sossegadamente no seu próprio jardim, era com ansiedade que aguardava a festa. Não fazia muito caso das tais missões da China, mas seria interessante conhecer o Bispo. E agora surgia aquilo! Era um desses assuntos em que não gostava de se ver envolvido; que coisa mais desagradável do que ouvir dizer de repente que o seu genro era um bêbado e um suicida!
Millicent alisava pensativamente os punhos brancos das mangas. A sua calma o irritava; mas, em vez de se dirigir a ela, falou à filha mais moça.
— Por que não te sentas, Kathleen? Acaso faltam cadeiras na sala?
Kathleen aproximou uma cadeira e sentou-se sem pronunciar uma palavra. Mr. Skinner parou em frente de Millicent e encarou-a.
— Naturalmente eu percebo por que razão nos disseste que Harold tinha morrido de febre. Acho que foi um erro, porque essas coisas têm de vir à luz mais cedo ou mais tarde. Ignoro até que ponto o que o Bispo contou aos Heywood coincide com os fatos, mas se queres ouvir o meu conselho conta-nos tudo da maneira mais circunstanciada possível, para que depois vejamos o que se deve fazer. Não podemos esperar que a história fique com o cônego Heywood e Gladys. Num lugar como este o povo não pode deixar de falar. Em todo caso, a situação se tornaria muito mais fácil para todos nós se conhecêssemos a verdade inteira.
Mrs. Skinner e Kathleen acharam que ele se exprimia muito bem. Ficaram à espera da resposta de Millicent. Esta ouvira o pai com um rosto impassível; o rubor súbito já desaparecera e suas faces voltaram a assumir a habitual cor pálida e turva.
— Acho que não vão gostar muito quando eu lhes disser a verdade.
— Fica sabendo que podes contar com a nossa simpatia e a nossa compreensão — acudiu gravemente Kathleen.
Millicent relanceou os olhos para ela e a sombra de um sorriso perpassou pelos seus lábios cerrados. Considerou-os um por um, vagarosamente. Mrs. Skinner teve a desagradável impressão de que ela os olhava como se fossem manequins de uma casa de modas. Parecia viver num mundo diferente e não ter qualquer relação com eles.
— Devo lhes dizer que eu não amava Harold quando me casei com ele — disse Millicent em tom pensativo.
Mrs. Skinner estava a ponto de soltar uma exclamação quando foi detida por um rápido gesto do marido, apenas esboçado mas perfeitamente inteligível após tantos anos de vida em comum. Millicent prosseguiu. Falava em voz calma, devagar, e o seu tom quase não mudava de expressão.
— Estava com vinte e sete anos e ninguém mais parecia interessado em casar comigo. É verdade que ele tinha quarenta e quatro, já era um pouco velho, mas ocupava uma boa posição, não é mesmo? Eu não tinha probabilidade de encontrar melhor partido.
Mrs. Skinner sentiu novamente vontade de chorar, mas lembrou-se da festa.
— Agora vejo por que escondeste o retrato dele — disse lugubremente.
— Não fales assim, mãe! — exclamou Kathleen.
Essa fotografia fora tirada quando ele estava noivo de Millicent e era um excelente retrato de Harold. Mrs. Skinner sempre o achara um belo homem. Era de físico reforçado, alto e um pouco gordo talvez, mas tinha muito aprumo e sua presença era imponente. Já naquele tempo começava a encalvecer, mas o fato é que os homens ficam calvos muito cedo hoje em dia, e ele dizia que os "topis" (os capacetes de cortiça, como sabem) faziam cair o cabelo. Tinha um bigodinho preto e o rosto fortemente bronzeado pelo sol. O que possuía de mais bonito eram, por certo, os olhos, rasgados e castanhos como os de Joan. Sua palestra era interessante. Kathleen achava-o pomposo, mas Mrs. Skinner não pensava assim.; não lhe desagradava que os homens falassem com autoridade; e quando notou, pouco depois, que ele sentia atração por Millicent, começou a gostar muito dele. Harold mostrava-se sempre muito atencioso com Mrs. Skinner e esta o escutava com ar de verdadeiro interesse quando ele lhe falava do seu distrito ou das feras que tinha caçado. Dizia Kathleen que ele era muito presumido, mas Mrs. Skinner pertencia a uma geração que aceitava sem discutir a alta opinião que os homens fizessem de si próprios. Millicent não tardou a perceber de que lado soprava o vento e, embora não tivesse dito nada à mãe, esta sabia que se Harold a pedisse em casamento ela aceitaria.
Estava Harold hospedado em casa de uma família que tinha passado trinta anos em Bornéu e dizia muito bem da ilha. Nada impedia que uma mulher vivesse ali com conforto; naturalmente, os filhos tinham de vir para a Inglaterra quando tivessem feito sete anos; Mrs. Skinner, porém, achava desnecessário preocupar-se com isso por enquanto. Convidou Harold para jantar e disse-lhe que ele os encontraria sempre em casa à hora do chá. Harold parecia não ter o que fazer e quando se aproximou o fim da sua visita aos velhos amigos ela convidou-o para vir passar duas semanas em sua casa. Foi ao terminar este período que Harold e Millicent trataram casamento. Tiveram uma bonita festa de núpcias, foram passar a lua de mel em Veneza e depois seguiram para o Oriente. Millicent escreveu de vários portos em que o navio fez escala. Parecia muito feliz.
— Foram muito amáveis comigo em Kuala Solor — disse ela. (Kuala Solor era a capital do Estado de Sembulu.) — Fomos para a casa do Residente e todos nos convidavam para jantar. Uma ou duas vezes ouvi homens convidando Harold para tomar um drink, mas ele recusava, dizendo que com o casamento havia começado vida nova. Não compreendi por que eles riam. Mrs. Gray, a mulher do Residente, disse-me que todos estavam muito satisfeitos por ver Harold casado e que a vida de um homem solteiro nos postos da selva era horrivelmente solitária. Quando partimos de Kuala Solor, Mrs. Gray despediu-se de mim com um jeito tão singular que fiquei admirada. Era como se ela estivesse confiando Harold solenemente aos meus cuidados.
Os outros a ouviam em silêncio. Kathleen não tirava os olhos do rosto impassível da irmã; Mr. Skinner olhava fixo, à sua frente, as armas malaias, cris e parangs, penduradas na parede acima do sofá em que sua mulher estava sentada.
— Somente quando voltei a Kuala Solor, um ano e meio depois, foi que compreendi a razão dessas maneiras esquisitas. — Millicent emitiu um pequeno som estranho, como o eco de um riso escarninho. — Já então eu estava a par de muita coisa que ignorava antes. Harold veio à Inglaterra naquela ocasião para se casar. Não lhe importava muito com quem. Lembras-te das voltas que demos para apanhá-lo, mamãe? Não precisávamos ter tanto trabalho.
— Não entendo o que queres dizer, Millicent — disse Mrs. Skinner com certa acrimônia, pois não gostara da insinuação. — Eu via que ele simpatizava contigo.
Millicent sacudiu os ombros maciços.
— Era um bêbado impenitente. Costumava deitar-se todas as noites com uma garrafa de uísque e esvaziá-la antes do amanhecer. O Secretário Geral disse-lhe que ele teria de pedir demissão se não deixasse de beber. Deu-lhe uma última oportunidade, dizendo que ele podia tirar a sua licença e vir à Inglaterra. Aconselhou-o a que se casasse, a fim de que ao voltar tivesse alguém para cuidar dele. Harold casou comigo porque precisava de uma guarda. Em Kuala Solor faziam apostas sobre quanto tempo eu conseguiria mantê-lo afastado da bebida.
— Mas ele te amava! — interrompeu Mrs. Skinner. — Não imaginas como ele se referia a ti quando conversava comigo. Nessa ocasião de que falas, quando foste a Kuala Solor para ter Joan, ele me escreveu uma carta tão linda a teu respeito!
Millicent tornou a olhar para a mãe e a sua tez pálida se cobriu de profundo rubor. Suas mãos, caídas no regaço, puseram-se a tremer de leve. Pensava naqueles primeiros meses de casada. A lancha do governo conduzira-os à embocadura do rio e passaram a noite no bangalô que Harold dizia, gracejando, ser a sua residência de veraneio. No dia seguinte subiram o rio num prau. Os romances que tinha lido faziam-na imaginar os rios de Bornéu escuros, estranhos e sinistros; mas o céu era azul, sarapintado de nuvenzinhas brancas, e o verde dos mangues e das nipas, lavado pela água corrente, reluzia ao sol. Aos dois lados estendia-se a floresta ínvia e à distância, formando silhueta contra o céu, erguiam-se os contornos ásperos de uma montanha. O ar da manhãzinha era puro e vivificante. Millicent tinha a impressão de penetrar numa terra farta e amiga, a sensação de uma ampla liberdade. Procuravam com os olhos, nas margens, os símios encarapitados nos galhos das emaranhadas árvores, e em dado momento Harold apontou-lhe alguma coisa que parecia um tronco a boiar na água e ele disse ser um crocodilo. O Vice-residente, vestido com calça de brim e capacete de cortiça, esperava-os no cais flutuante e uma dúzia de soldadinhos muito corretos formava linha para lhes prestar as honras de estilo. O Vice-residente foi-lhe apresentado. Chamava-se Simpson.
— Caramba, Sr. Residente! — disse ele a Harold. — Como estou contente por vê-lo de volta! Isto aqui estava chatíssimo sem o senhor.
O bangalô do residente, cercado de um jardim onde vicejava em estado bravio uma variada floração de cores alegres, ficava no cimo de um outeiro de pouca altura. Tinha uma aparência levemente deteriorada e a mobília era pouca, mas as peças eram frescas e muito espaçosas.
— O kampong fica ali — disse Harold, apontando. Millicent seguiu a direção do seu dedo e ouviu o som de um gongo entre os coqueiros. Isso lhe deu uma sensaçãozinha esquisita no coração.
Se bem não tivesse muito que fazer, os dias iam passando agradavelmente. Ao amanhecer um criado lhes trazia chá e ficavam na varanda, gozando a fragrância da manhã (Harold de sarong e camiseta, ela de chambre) até chegar a hora do breakfast. Depois Harold ia para o escritório e Millicent passava uma hora ou duas aprendendo malaio. Após o almoço ele voltava para o escritório, enquanto ela ia fazer a sesta. Uma xícara de chá lhes restaurava as energias; davam uma caminhada ou jogavam golfe no campo que Harold tinha preparado numa clareira plana da floresta, abaixo do bangalô. As seis horas caía a noite e Mr. Simpson aparecia para tomar um drink. Palravam até a hora do jantar, que era servido tarde, e às vezes Harold jogava xadrez com Mr. Simpson. As noites, com o seu ar aveludado, eram fascinantes. Os, pirilampos convertiam as moitas situadas logo abaixo da varanda em faróis de luz fria, trêmula e cintilante, e as árvores em flor impregnavam a atmosfera de perfumes suaves. Após o jantar liam os jornais saídos de Londres seis semanas atrás, e em seguida deitavam-se. Millicent saboreava a existência de mulher casada, senhora da sua casa, e gostava dos criados nativos, com os seus sarongs alegres, que andavam de pés descalços pelo bangalô, silenciosos mas amigos. O ser esposa do Residente lhe dava uma agradável sensação de importância. Causava-lhe impressão a fluência com que Harold falava o malaio, o seu ar de mando, a sua dignidade. De quando em quando ia ao tribunal para Ouvi-lo julgar. A multiplicidade dos seus deveres e a competência com que ele os desempenhava enchiam-na de respeito. Mr. Simpson lhe disse que ninguém em Bornéu compreendia melhor os nativos do que Harold. Ele possuía essa combinação de firmeza, diplomacia e bom humor indispensável a quem trata com aquela raça tímida, vingativa e desconfiada. Millicent começou a sentir uma certa admiração pelo marido.
Estavam casados há cerca de um ano quando dois naturalistas ingleses vieram passar alguns dias no bangalô, em viagem para o interior. Traziam muito boas recomendações do Governador e Harold disse que queria recebê-los com todas as honras. A chegada dos dois homens foi um incidente agradável. Millicent convidou Mr. Simpson para jantar (ele residia no Forte e só jantava com eles nos domingos) e após a refeição os homens formaram uma mesa de bridge. Millicent recolheu-se pouco depois, mas faziam tamanha bulha que durante algum tempo não a deixaram dormir. Ignorava a que horas foi despertada por Harold, que entrou no quarto a cambalear. Ficou calada. Ele resolveu tomar um banho antes de se deitar. O banheiro ficava por baixo do quarto de dormir. Desceu a escada que levava até lá. Sem dúvida escorregou, pois houve um grande estardalhaço e ele pôs-se a rogar pragas. Depois teve vômitos violentos. Ela o ouviu lavar-se às baldadas e pouco depois Harold tornou a subir a escada, caminhando dessa vez com grande cautela, e enfiou-se na cama. Millicent fingiu que dormia. Sentia-se revoltada. Harold estava bêbado. Resolveu falar-lhe nisso pela manhã. Que pensariam dele os naturalistas? Mas pela manhã ele tinha um ar tão digno que lhe faltou coragem para tocar no assunto. As oito horas Harold e ela instalaram-se para o breakfast, em companhia dos dois hóspedes. Harold correu os olhos pela mesa.
— Mingau de aveia! Millicent, os teus hóspedes talvez aceitem um pouco de molho inglês como breakfast, mas não creio que se sintam muito tentados por alguma outra coisa. Quanto a mim, contento-me com um uísque e soda.
Os naturalistas riram, mas um pouco envergonhados. — O seu marido é um pavor — disse um deles.
— Eu não julgaria ter desempenhado condignamente os deveres de hospitalidade se não os mandasse tontos para a cama na primeira noite da sua visita — volveu Harold, com a sua maneira de falar positiva e solene.
Millicent teve um sorriso ácido, mas foi um alívio para ela saber que os hóspedes tinham-se embriagado tanto quanto o marido. Nessa noite não os deixou sós e o grupo dispersou-se a uma hora razoável. Mas ficou satisfeita quando os estranhos prosseguiram a viagem. A vida no bangalô retornou ao seu curso plácido. Alguns meses depois Harold fez um giro de inspeção no distrito e voltou com um forte acesso de malária. Era a primeira vez que ela via a doença de que tanto ouvira falar, e quando Harold recobrou a saúde não se admirou de o ver tão trêmulo. Achou estranhos os seus modos. Ao voltar do escritório ele punha-se a encará-la com os olhos vidrados; ficava em pé na varanda, a vacilar levemente, mas sempre digno, e fazia longas arengas sobre a situação política da Inglaterra; ao perder o fio do discurso olhava para ela com um ar de malícia travessa que a sua dignidade natural tornava um pouco desconcertante, e dizia:
— Esta maldita malária arrasa a gente. Ah! minha mulherzinha, mal sabes tu quanto custa ser um edificador do império!
Ela achou que Mr. Simpson começava a tomar um ar preocupado, e uma ou duas ocasiões em que se achavam a sós ele esteve a ponto de lhe dizer alguma coisa, mas a sua timidez o fazia emudecer no último momento. Essa impressão tornou-se tão forte que a pôs nervosa. Uma tarde em que Harold, inexplicavelmente, se demorou mais que de costume no escritório ela resolveu interrogá-lo.
— Que é que tem para me dizer, Mr. Simpson? — indagou de repente.
Ele corou e hesitou.
— Nada. Por que pensa que eu tenha alguma coisa para lhe dizer?
Era Mr. Simpson um moço magro e desengonçado, de vinte e quatro anos, com uma bela cabeleira ondulada que ele se dava grande trabalho para alisar com goma. Tinha os pulsos inchados e escalavrados pelas picadas de mosquitos. Millicent encarou-o com um olhar firme.
— Se é alguma coisa que diz respeito a Harold, não lhe parece mais generoso falar com franqueza?
Ele fez-se escarlate e remexeu-se inquieto na cadeira de rotim. Millicent insistiu.
— Receio que me ache muito arrojado — disse ele afinal. — É uma sujeira falar do meu chefe nas costas dele. A malária é uma doença infernal e depois de um ataque a gente fica escangalhado.
Tornou a hesitar. Os cantos dos seus lábios caíram como se ele estivesse a ponto de chorar. Millicent achou-lhe um ar de menino.
— Tranquilize-se, eu serei mais silenciosa do que um túmulo — sorriu ela, procurando ocultar a sua apreensão. — Diga-me, por favor.
— Acho que é uma pena seu marido ter uma garrafa de uísque no escritório. Assim é tentado a beber muito mais amiúde.
A voz de Mr. Simpson estava rouca de agitação. Millicent sentiu um arrepio percorrê-la de repente. Dominou-se, pois sabia que não devia assustar o rapaz se quisesse arrancar-lhe todo o segredo. Simpson estava pouco disposto a falar. Millicent instou com ele, adulando-o, apelando para o seu sentimento de dever, e finalmente pôs-se a chorar. Então ele lhe contou que Harold tinha passado as duas últimas semanas constantemente embriagado, que os nativos andavam falando e diziam que ele não tardaria a voltar ao mesmo estado de antes do casamento. Costumava beber demais nesse tempo; mas quanto a pormenores, apesar de todas as tentativas de Millicent Mr. Simpson negou-se terminantemente a dá-los.
— Acha que ele está bebendo neste momento? — perguntou ela.
— Não sei.
Millicent sentiu-se de súbito escaldar de vergonha e raiva. O Forte (chamavam-no assim porque era ali que se guardavam as armas e as munições) também servia como casa do tribunal. Ficava em frente ao bangalô do Residente, cercado de um jardim. O sol ia entrando e ela não necessitava de por chapéu. Levantou-se e foi até lá. Encontrou Harold sentado no gabinete situado aos fundos do grande salão em que ministrava justiça. Tinha uma garrafa de uísque diante de si. Fumava cigarros e falava a três ou quatro malaios que o escutavam em pé, com sorrisos ao mesmo tempo obsequiosos e escarninhos. Ele tinha o rosto vermelho.
Ao ver entrar Millicent os nativos sumiram. — Vim ver o que estavas fazendo — disse ela.
Harold levantou-se, pois sempre a tratava com uma polidez requintada, e deu um bordo. Sentindo-se pouco firme nas pernas, assumiu uma atitude majestosa e circunspecta.
— Senta-te, minha querida, senta-te. Fui detido pelo acúmulo de serviço.
Ela olhou-o com raiva. — Você está embriagado!
Harold encarou-a com os olhos um tanto saltados e uma expressão altaneira passou-lhe vagarosamente pelo rosto largo e carnudo.
— Não faço a mais remota ideia do que queres dizer.
Ela, que vinha pronta para lançar-lhe em rosto uma torrente de censuras indignadas, rompeu de súbito a chorar. Deixou-se cair numa cadeira e tapou o rosto. Harold considerou-a um instante e as lágrimas começaram a correr pelas suas faces também. Caminhou para Millicent com os braços estendidos e caiu pesadamente de joelhos. Tomou-a nos braços e apertou-a contra si, a soluçar.
— Perdoa-me, perdoa-me! Eu te prometo que isto não tornará a acontecer. É essa maldita malária.
— É uma coisa tão humilhante! — gemeu ela.
Harold chorava como uma criança. Havia algo de patético no sentimento de inferioridade daquele homenzarrão solene. Volvidos alguns instantes Millicent alçou o olhar. Os olhos dele, súplices e contritos, procuravam os seus.
— Tu me dás a tua palavra de honra que nunca mais porás na boca um gole de bebida?
— Sim, sim! Eu a detesto!
Foi então que ela lhe disse que estava grávida. Harold ficou radiante.
— Era justamente disso que eu precisava. Isso me conservará no bom caminho.
Voltaram ao bangalô. Harold tomou banho e foi dormir um pouco. Depois de jantar conversaram longamente, com calma. Ele confessou que antes de casar tinha-se excedido por vezes na bebida. Naqueles fins de mundo era fácil contrair maus hábitos. Concordou com tudo que Millicent disse. Durante os meses que se passaram antes de ela ir dar a luz em Kuala Solor, Harold mostrou-se excelente marido, terno, atencioso, cheio de afeição e muito desvanecido dela; foi irrepreensível. Uma lancha veio buscar Millicent, que devia passar seis semanas fora, e ele prometeu lealmente não beber um só gole durante a sua ausência. Pousou-lhe as mãos nos ombros.
— Jamais quebro uma promessa — disse com o seu jeito grave. — Mas ainda que não a tivesse dado, acreditas que enquanto passas por esta provação eu seria capaz de te dar um desgosto?
Joan nasceu. Millicent ficou em casa do Residente e Mrs. Gray, a esposa deste, mulher madura e de coração bondoso, a tratou com muito afeto. Durante as longas horas que passavam juntas as duas mulheres pouco tinham que fazer senão conversar, e com o correr do tempo Millicent veio a conhecer todo o passado alcoólico do marido. A coisa com que achou mais difícil conformar-se foi o ter sido Harold avisado de que só seria conservado no seu posto com a condição de que voltasse casado da Inglaterra. Isto lhe despertou um ressentimento surdo, e quando soube que ele tinha sido um bêbado incorrigível foi tomada de vaga inquietação. Tinha um medo horrível de que ele não resistisse à tentação durante a sua ausência. Voltou para casa com a criança e uma ama. Pernoitou na foz do rio e mandou um mensageiro anunciar a sua chegada. Quando a lancha se aproximou do cais flutuante ela o esquadrinhou ansiosamente com os olhos. Lá estava Harold em companhia de Mr. Simpson, e os corretos soldadinhos formavam fila. Ela sentiu-se esfriar, pois notou que Harold vacilava um pouco, como um homem que procura manter o equilíbrio num barco balouçado pelas ondas. Estava embriagado.
Não foi um regresso muito alegre. Millicent quase havia esquecido a mãe, o pai e a irmã que a ouviam em silêncio. Nesse momento despertou do seu sonho e tornou a aperceber-se da presença dos outros. Os acontecimentos que estava narrando pareciam tão remotos!
— Compreendi então que o odiava — disse ela. — Seria capaz de matá-lo.
— Oh, Millicent, não fales assim! — exclamou sua mãe. — Não esqueças que o pobre homem já morreu.
Millicent olhou para ela e uma carranca anuviou-lhe por um instante o rosto impassível. Mr. Skinner remexeu-se desassossegadamente.
— Continua — pediu Kathleen.
— Quando ele descobriu que eu já sabia de tudo, deixou as cerimônias de lado. Dentro de três meses teve outro ataque de delirium tremens.
— Por que não o deixaste? — perguntou Kathleen.
— De que serviria isso? Em quinze dias ele seria demitido do serviço. Quem ia sustentar-nos, a mim e a Joan? Era preciso ficar. Quando ele estava no seu perfeito juízo eu não tinha motivo para queixas. Ele não tinha nenhuma paixão por mim, mas era-me afeiçoado; quanto a mim, não tinha casado por amor, mas porque queria casar. Fiz o possível para impedir que a bebida lhe chegasse às mãos; consegui que Mr. Gray proibisse a remessa de uísque de Kuala Solor, mas ele o arranjava com os chineses. Vigiava-o como um gato vigia um rato. Tudo em vão, ele era mais esperto do que eu. Começou a descurar dos deveres. Eu receava que fossem fazer queixa. Estávamos a dois dias de viagem de Kuala Solor e isso era o que nos salvava, mas alguém deve ter falado, pois Mr. Gray me escreveu em particular, avisando-me. Mostrei a carta a Harold. Ele esbravejou, disse fanfarronadas, mas percebi que ficara assustado e durante dois ou três meses não tocou na bebida. Depois recomeçou. E assim continuou a nossa vida, até chegar a época da licença.
"Antes de virmos para cá, roguei e implorei a ele que tivesse cuidado. Não queria que nenhum de vocês soubesse com que espécie de homem eu tinha casado. Durante todo o tempo que passou na Inglaterra ele se comportou e antes de partirmos eu o preveni. Criara muita amizade a Joan, sentia muito orgulho dela, e Joan por sua vez lhe era muito afeiçoada. Sempre gostou mais dele do que de mim. Perguntei-lhe se queria que a sua filha crescesse sabendo-o um bêbado, e descobrir que afinal tinha um meio de dominá-lo. A ideia o aterrorizou. Disse-lhe que eu não consentiria em semelhante Coisa e a primeira vez que Joan o visse embriagado levá-la-ia embora imediatamente. Ficou branco como cal ao me ouvir dizer isso. Nessa noite eu me ajoelhei e agradeci a Deus o ter encontrado um meio de salvar meu marido.
"Ele me disse que faria mais uma tentativa se eu o ajudasse. Resolvemos unir as nossas forças na luta. E como ele se esforçou! Quando sentia que a tentação se tornava irresistível, vinha para o meu lado. Como sabem, ele tinha uma certa tendência para a pomposidade; comigo era tão humilde que parecia uma criança; estava na minha dependência. Talvez não me amasse quando casou comigo, mas agora me amava, a mim e a Joan. Eu o tinha detestado pela humilhação que me causava, porque quando ele estava bêbado e tentava ser grave e imponente, tornava-se repulsivo. Mas comecei a sentir então uma coisa estranha, que não era amor, mas uma ternura tímida, esquisita. Ele era algo mais do que meu marido, era como uma criança que eu tivesse levado debaixo do coração durante longos e intermináveis meses. Orgulhava-se tanto de mim... E, sabem de uma coisa? Eu também estava orgulhosa. Os seus compridos discursos já não me irritavam, e os seus ares majestosos me pareciam apenas divertidos e encantadores. Afinal vencemos. Durante dois anos ele não pôs uma gota de uísque na boca. Perdeu por completo a atração pela bebida. Até fazia pilhérias a esse respeito.
"Mr. Simpson já nos tinha deixado e em lugar dele tínhamos outro moço, chamado Francis.
— "Sabe, Francis? Eu sou um borracho regenerado — disse-lhe Harold certa vez. — Se não fosse minha mulher há muito que me teriam posto no olho da rua. Eu tenho a melhor esposa do mundo, Francis!
"Não fazem ideia do que significava para mim ouvi-lo dizer isso. Sentia que valera a pena ter passado por tudo aquilo. Eu era tão feliz!"
Millicent calou-se. Pensava no largo rio, de águas amarelas e turvas, a cuja margem vivera tantos anos. As garças, brancas e lustrosas aos raios trêmulos do ocaso voavam baixo para jusante, em bando célere, e espalhavam-se. Dir-se-ia um murmúrio de notas claras, suaves, puras e primaveris, arpejo divino que uma mão invisível arrancasse a uma harpa também invisível. Passavam esvoaçando entre as margens verdejantes, envoltas pelas sombras do crepúsculo, como os pensamentos felizes de um espírito satisfeito.
— Então Joan adoeceu. Passamos três semanas em grande ansiedade. Só havia médico em Kuala Solor e tínhamos de nos contentar com o tratamento ministrado por um farmacêutico nativo. Quando ela sarou, levei-a para a foz do rio a fim de que respirasse um pouco de ar marinho. Ficamos lá uma semana. Era a primeira vez que eu me separava de Harold desde que tinha ido ter Joan em Kuala Solor. Havia, não muito longe, uma aldeia de pescadores, de cabanas construídas sobre estacas, mas na realidade estávamos completamente sós. Eu pensava muito em Harold, e com tanta ternura... De repente compreendi que o amava. Quando o prau nos veio buscar fiquei muito contente porque ia contar-lhe. Achava que isso teria uma importância para ele! Não lhes posso descrever como me sentia feliz. Enquanto subíamos o rio o chefe dos barqueiros me disse que Mr. Francis fora em diligência ao interior para prender uma mulher que matara o marido. Havia dois dias que estava ausente.
"Fiquei surpresa ao ver que Harold não me viera esperar, no cais. Sempre fora muito escrupuloso nessas coisas. Dizia que marido e mulher deviam tratar-se com a mesma cortesia com que tratavam os conhecidos. Eu não imaginava que espécie de ocupação podia tê-lo retido. Subi o pequeno outeiro do bangalô. A ama vinha atrás, carregando Joan. O bangalô estava estranhamente silencioso. Não avistei nenhum criado. Aquilo era incompreensível; acaso Harold teria saído porque não me esperava àquela hora? Subi a escada. Joan tinha sede e a ama levou-a à casa dos criados para dar-lhe de beber. Harold não se achava na sala de estar. Chamei-o, mas não ouvi resposta. Fiquei desapontada, porque desejava encontrá-lo ali. Fui ao nosso quarto. Harold, afinal, não tinha saído: estava na cama, dormindo. Achei muita graça nisso, pois ele sempre afirmou que não dormia de tarde; dizia ser um hábito que os brancos contraíam desnecessariamente. Aproximei-me da cama, pisando de mansinho. "Queria dar-lhe uma surpresa. Abri o mosquiteiro. Ele estava deitado de costas, vestido apenas com um sarong, e ao lado tinha uma garrafa de uísque vazia. Estava embriagado.
"A coisa começara de novo. Todos aqueles anos de luta tinham sido inúteis. O meu sonho se despedaçara. Não havia mais esperanças. Fui tomada por um acesso de raiva."
O rosto de Millicent tornou a cobrir-se de um rubor carregado e ela apertou com força os braços da cadeira em que estava sentada.
— Segurei-o pelos ombros e sacudi-o com toda a força. "Miserável!" gritei. "Miserável!" Estava tão furiosa que não me lembro do que disse nem do que fiz. Continuei a sacudi-lo. Não podem fazer ideia da aparência repulsiva que ele tinha, aquele homem enorme e gordo, seminu; havia dias que não se barbeava, estava com a cara intumescida e arroxeada. Resfolegava fortemente. Chamei-o aos gritos, mas ele não fez caso. Tentei puxá-lo para fora da cama, mas era pesado demais. Estava caído ali como um cego. "Abre os olhos!" gritei. Tornei a sacudi-lo. Sentia um ódio dele! Odiava-o ainda mais porque durante uma semana o tinha amado de todo o coração. Ele me traíra, ele me traíra! Queria dizer-lhe que animal abominável ele era, mas não conseguia causar-lhe a menor impressão. "Tu hás de abrir os olhos!" gritei. Estava decidida a fazer com que ele olhasse para mim.
A viúva passou a língua nos lábios secos. O ritmo da sua respiração acelerara-se. Fez um silêncio.
— Se ele se achava nesse estado, acho que o melhor seria deixar que continuasse dormindo — disse Kathleen.
— Havia um parang na parede, ao lado da cama. Sabem como Harold gostava dessas curiosidades.
— O que é um parang? — perguntou Mrs. Skinner.
— Não sejas tola, mãe — respondeu o marido em tom irritadiço. — Aí tens um na parede, bem atrás de ti.
Apontou para a espada malaia em que, por uma razão ou outra, os seus olhos tinham-se fixado inconscientemente. Mrs. Skinner afastou-se depressa para o outro canto do sofá, com um pequeno gesto assustado, como se alguém lhe tivesse dito que havia uma cobra enroscada junto dela.
— De repente o sangue esguichou do pescoço de Harold. Tinha um grande talho vermelho, de través.
— Em nome de Deus, Millicent — gritou Kathleen, pondo-se em pé e quase pulando para ela, — que é que tu queres dizer?
Mrs. Skinner, boquiaberta, fitava na filha os olhos escancarados.
— O parang já não estava na parede. Estava caído na cama. Então Harold abriu os olhos. Eram iguaizinhos aos de Joan.
— Não compreendo — disse Mr. Skinner. — Como poderia ele ter se matado se se encontrava no estado que descreves?
Kathleen pegou o braço da irmã e sacudiu-a com fúria.
— Millicent, explica-te pelo amor de Deus!
Millicent desvencilhou-se. — O parang estava na parede, já te disse. Não sei o que aconteceu. Vi aquele sangue todo e Harold abriu os olhos. Morreu quase em seguida. Não chegou a dizer uma palavra, apenas teve uma espécie de arfada.
Mr. Skinner recobrou finalmente o uso da voz. — Mas desgraçada, isso foi um homicídio!
Millicent, com a face pintalgada de manchas vermelhas, lançou-lhe um olhar carregado de ódio e desprezo que o fez recuar todo encolhido. Mrs. Skinner soltou uma exclamação.
— Não foste tu, Millicent, não é mesmo?
A resposta de Millicent fez com que todos eles sentissem o sangue gelar nas veias.
— Não sei quem mais poderia ter sido! — disse ela, rindo por entre os dentes.
— Meu Deus! — murmurou Mr. Skinner.
Kathleen mantinha-se em pé, aprumada, com as mãos no coração, como se as batidas deste fossem intoleráveis.
— E que sucedeu então? — perguntou ela.
— Pus-me aos gritos. Fui até a janela e abri-a com um empurrão. Chamei a ama. Ela atravessou o pátio com Joan. "Não, Joan não!" gritei. "Não deixe que ela venha!" Ela chamou o cozinheiro e mandou-o tomar conta da criança. Pedi-lhe que se apressasse. Quando ela entrou eu lhe mostrei Harold. "O Tuan se matou!" gritei. Ela soltou um guincho e fugiu correndo. Ninguém quis chegar perto. Estavam todos loucos de medo. Escrevi uma carta a Mr. Francis contando-lhe o que acontecera e pedindo-lhe que voltasse imediatamente.
— Contando-lhe o que acontecera? Que queres dizer com isso?.
Disse que ao voltar da foz do rio eu encontrara Harold com o pescoço cortado. Como sabem, nos trópicos é preciso sepultar depressa os defuntos. Arranjei um esquife chinês e os soldados cavaram uma sepultura atrás do Forte. Quando Mr. Francis chegou fazia dois dias que Harold estava enterrado. Ele era um criançola. Podia fazer com ele o que entendesse. Disse-lhe que tinha encontrado o parang na mão de Harold e não havia a menor dúvida que ele se matara durante um acesso de delirium tremens. Mostrei-lhe a garrafa vazia. Os criados disseram que ele andava bebendo muito desde que eu tinha partido para a beira-mar. Em Kuala Solor contei a mesma história. Todos me trataram com muita bondade e o Governador me concedeu uma pensão.
Durante alguns momentos ninguém falou. Afinal Mr. Skinner se refez do seu espanto.
— Eu exerço uma profissão jurídica. Tenho certas obrigações como advogado. A nossa clientela sempre foi das mais respeitáveis. Tu me colocas numa posição monstruosa.
Procurava, atabalhoadamente, as frases que brincavam de esconder no seu cérebro confuso. Millicent lançou-lhe um olhar desdenhoso.
— Que pretendes fazer?
— Não há dúvida nenhuma que foi um homicídio. Julgas que eu vou pactuar com uma coisa dessas?
— Não digas tolices, pai! — volveu Kathleen com aspereza. — Tu não podes denunciar a tua própria filha.
— Tu me colocaste numa posição monstruosa — repetiu ele.
Millicent tornou a dar de ombros. — Fizeram questão que eu lhes contasse... Além disso, há muito que eu guardo comigo esse segredo. Já era tempo de compartilharem dele também.
Nesse momento a criada abriu a porta.
— Davis está aí com carro, patrão.
Kathleen teve a presença de espírito de lhe responder alguma coisa e a criada se retirou.
— É melhor irmos de uma vez — disse Millicent.
— Eu não posso ir à festa agora! — exclamou Mrs. Skinner, com horror. — Estou com os nervos muito abalados. Como vamos enfrentar os Heywood? E o Bispo que te quer ser apresentado!
Millicent fez um gesto de indiferença. Os seus olhos conservavam aquela expressão irônica.
— Temos de ir, mãe — disse Kathleen. — Pareceria tão esquisito se ficássemos em casa! — Virou-se furiosa para Millicent: — Oh, eu acho isso tudo de uma inconveniência horrível!
Mrs. Skinner lançou um olhar desamparado ao marido. Este dirigiu-se para ela e deu-lhe a mão para ajudá-la a levantar-se do sofá.
— Infelizmente temos de ir, mãe — disse ele.
— E eu que pus na "toque" a aigrette que Harold me deu com as suas próprias mãos! — gemeu Mrs. Skinner.
Ele a conduziu para fora da sala, seguido de perto por Kathleen. Millicent ia um ou dois passos atrás.
— Acabarão se acostumando, sabem? — disse ela calmamente. — No começo isso não me saía da cabeça mas agora esqueço por vezes durante dois ou três dias consecutivos. Se houvesse perigo seria diferente.
Não lhe responderam. Atravessaram o hall e saíram pela porta da frente: As três senhoras sentaram-se no banco de trás e Mr. Skinner ao lado do chofer. O auto era de tipo antigo e não tinha arranque automático. Enquanto Davis se dirigia para o radiador a fim de dar volta na manivela Mr. Skinner virou-se para trás e encarou Millicent com uma expressão petulante.
— Eu não devia ser informado disso. Acho que procedeste com muito egoísmo.
Davis instalou-se ao volante e a família seguiu para o garden party do cônego.
(Título original: Before the Party.)
O navio do oriente
Estendida na sua espreguiçadeira, Mrs. Hamlyn observava indolentemente os passageiros que subiam pela prancha. O navio tinha aportado a Singapura durante a noite e desde então estava tomando carga; os guindastes haviam estrondeado o dia inteiro e o ouvido dela acabou habituando-se àquele clamor insistente. Tinha almoçado no Hotel Europa e, à falta de coisa melhor, andara num jinriquixá pelas ruas alegres e superpovoadas da cidade. Singapura é o ponto de encontro de muitas raças. Os malaios, se bem que nativos da terra, não gostam de viver em cidades e são pouco numerosos; são os chineses, vivos, flexíveis e industriosos, que apinham as ruas; os tamis de tez escura andam silenciosamente com os pés descalços, como se fossem forasteiros de passagem numa terra estranha, mas os bengalis, insinuantes e prósperos, sentem-se à vontade e senhores de si no seu ambiente; os astutos e obsequiosos japoneses parecem muito atarefados com assuntos secretos e urgentes; e os ingleses com os seus capacetes de cortiça e as suas roupas de brim branco, passam em disparada em automóveis ou muito descansados nos seus jinriquixás, com um ar negligente e despreocupado. Os dominadores desses povos prolíficos aceitam a sua autoridade com tom de sorridente indiferença. Mrs. Hamlyn, cansada e assoleada, esperava que o navio prosseguisse na longa travessia do Oceano Índico.
Quando Mrs. Linsell subiu a bordo acompanhada do médico ela abanou uma mão bastante grande, pois era uma mulher de avantajadas proporções. Vinha no navio desde Yokohama e observava, divertida, com ácida ironia, a intimidade que se estabelecera entre os dois. Linsell era um oficial de marinha que estivera adido à embaixada britânica em Tóquio e ela admirava-se da indiferença com que ele via as atenções do médico para com sua mulher. Dois novos passageiros subiram à prancha e Mrs. Hamlyn entreteve-se em procurar descobrir, pelo jeito deles, se eram solteiros ou casados. Ali bem perto havia um grupo de homens sentados em cadeiras de rotim — plantadores, segundo lhe pareceu à vista das roupas cagues e dos chapéus de feltro dobrado e aba larga. Não davam descanso ao criado do convés com os seus contínuos pedidos. Falavam alto e riam, pois a bebida provocara em todos eles uma hilaridade frívola. Era evidente que se tratava de um bota-fora dado a um do grupo, mas Mrs. Hamlyn não saberia dizer qual deles seria seu companheiro de viagem. Já faltava pouco para a partida. Outros passageiros chegaram, depois Mr. Jephson subiu devagar a prancha, com ar digno. Era cônsul e ia em licença à Inglaterra. Tinha embarcado em Xangai e imediatamente tratara de mostrar-se amável para com Mrs. Hamlyn. Na ocasião, porém, ela sentia-se pouco inclinada ao flerte. Sua testa anuviou-se à lembrança do motivo que a fazia voltar à Inglaterra. Passaria o Natal no mar, longe de todos aqueles que se interessavam por ela. Sentiu uma ligeira dorzinha no coração. Aborrecia-se por ver que um assunto que estava tão resolvida a afastar da suas cogitações teimava em insinuar-se-lhe no espirito, apesar da resistência deste.
Mas um sino de aviso bateu sonoramente e houve um movimento geral entre os homens sentados ao lado dela.
— Bem, vamos dando o fora antes que nos levem junto — disse um deles.
Levantaram-se e dirigiram-se para a prancha. Começaram os apertos de mão, e então ela percebeu qual deles era o viajante. Não havia nada de interessante no aspecto do homem em quem pousaram os olhos de Mrs. Hamlyn, mas como não tinha coisa melhor que fazer olhou-o mais demoradamente. Era um homenzarrão de mais de seis pés de altura, forte e corpulento; vestia uma enxovalhada roupa de brim cáqui e o chapéu era velho e surrado. Seus amigos desceram mas continuaram a trocar caçoadas com ele do cais, e Mrs. Hamlyn notou que o homem tinha um forte sotaque irlandês; sua voz era cheia, sonora e jovial.
Mrs. Linsell tinha descido. O médico veio sentar-se ao lado de Mrs. Hamlyn. Contaram um ao outro as pequenas aventuras que tinham tido durante o dia. O sino tornou a tocar e instantes depois o navio afastava-se lentamente do cais. O irlandês acenou um último adeus aos seus amigos e voltou devagar para a cadeira em que tinha deixado algumas revistas e jornais. Fez uma inclinação de cabeça ao médico.
— É algum conhecido seu? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Fui-lhe apresentado no clube, antes do almoço. Chama-se Gallagher e é plantador.
Após a algazarra do porto e o alvoroço ruidoso da partida, o silêncio do navio fazia um agradável contraste. Deslizaram devagar em frente de uns rochedos cobertos de vegetação (o ancoradouro da P. & O. — Peninsular and Oriental Steamship Company — ficava numa angra retirada e encantadora) e entraram no porto principal. Viam-se fundeados ali navios de todas as nacionalidades em grande multidão, vapores de passageiros, rebocadores, cargueiros, barcaças; e mais além, por trás do quebra-mar, avistavam-se os mastros amontoados dos juncos nativos, floresta de troncos nus e verticais. A luz doce da tardinha dava um toque de mistério à movimentada cena e tinha-se a impressão de que todas aquelas embarcações, suspendendo por um instante a sua atividade, estavam à espera de algum acontecimento de especial importância.
Mrs. Hamlyn dormia mal. Costumava subir para o convés ao romper da alvorada. Repousava-lhe o coração inquieto ver as últimas e pálidas estrelas desvanecerem-se ante a invasão da luz, e àquela hora o mar vidrento muitas vezes tinha uma imobilidade que parecia tornar insignificantes todas as angústias terrenas. A luz era lânguida e sentia-se um frêmito agradável no ar. Mas na manhã seguinte, quando se dirigiu para a extremidade do tombadilho de passeio, encontrou alguém que lá havia chegado antes dela. Era Mr. Gallagher. Contemplava o litoral baixo de Sumatra, que o sol nascente, como um mágico, parecia fazer surgir do mar escuro. Ela teve uma surpresa e ficou um tanto agastada, mas antes que pudesse retirar-se ele a viu e fez-lhe um cumprimento com a cabeça.
— Levantou-se cedo, não? Aceita um cigarro? Estava de pijama e chinelos. Tirou a cigarreira do bolso do casaco e a estendeu. Ela hesitou. Vestia apenas um roupão e uma touca de rendas que pusera em cima dos cabelos despenteados. Devia estar feita um espantalho. Mas tinha motivos para querer mortificar a sua alma.
— Creio que uma mulher de quarenta anos não tem direito a preocupar-se com a sua aparência — sorriu Mrs. Hamlyn, como se ele devesse perceber os pensamentos vãos que lhe enchiam a cabeça. Aceitou o cigarro. — Mas o senhor também se levantou cedo.
— Sou plantador. Há tantos anos que tenho de me levantar às cinco da manhã que não sei como me desfarei desse hábito.
— Ele não o tornará muito benquisto na Inglaterra. Podia examinar-lhe melhor o rosto agora que não estava semioculto por um chapéu. Esse rosto, que não tinha nenhuma beleza, era no entanto agradável. O homem havia engordado excessivamente e as suas feições, que na mocidade deviam ser bastante regulares, tornaram-se pesadas. A pele era vermelha e opada. Mas os olhos escuros ressumbravam alegria e, embora ele não pudesse ter menos de quarenta e cinco anos, conservava ainda os cabelos pretos e abundantes. Dava uma impressão de grande força. Era um homem pesado, desgracioso e comum; se não fosse a camaradagem de bordo Mrs. Hamlyn jamais teria pensado em conversar com ele.
— Vai à Inglaterra em licença? — arriscou ela.
— Não, vou para ficar.
Uma centelha brilhou nos seus olhos negros. Era de gênio comunicativo e antes de Mrs. Hamlyn tornar a descer para tomar o seu banho ele contou-lhe muita coisa da sua existência. Passara vinte e cinco anos nos Estados Malaios Federados e durante os dez últimos tinha administrado uma propriedade em Selantan. Ficava a cem milhas de qualquer lugar civilizado e levava-se ali uma existência muito solitária; mas tinha feito dinheiro; aproveitara a alta da borracha e, com uma astúcia inesperada em homem que parecia tão improvidente, empregara as suas economias em títulos do governo. Agora que tinha sobrevindo a baixa estava pronto para se aposentar.
— De que parte da Irlanda é o senhor? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— De Galway.
Mrs. Hamlyn fizera certa vez uma excursão em automóvel pela Irlanda e recordava-se vagamente de uma cidade triste e taciturna, com grandes armazéns de pedra, desmoronados e desertos, fazendo face ao mar melancólico. Teve uma sensação de verdor e chuva macia, de silêncio e resignação. Seria lá que Mr. Gallagher pretendia passar o resto da sua vida? Ele falava da sua terra com um ardor todo juvenil. A ideia de um homem tão cheio de vitalidade no meio daquele mundo de sombras cinzentas era tão incongruente que Mrs. Hamlyn ficou intrigada.
— Sua família mora lá? — perguntou.
— Não tenho família. Minha mãe e meu pai já morreram. Que me conste, não tenho um único parente no mundo.
Estava com todos os planos feitos — havia vinte e cinco anos que os vinha fazendo — e sentia-se contente por ter com quem falar dessas coisas que durante tanto tempo fora obrigado a discutir consigo mesmo. Pretendia comprar uma casa e um automóvel. Ia criar cavalos. Não se interessava pela caça com armas de fogo. Tinha matado muita caça grossa nos seus primeiros anos nos Estados Malaios, mas perdera o gosto a esse esporte. Não compreendia que se matassem os animais da selva: vivera tanto tempo na sua vizinhança! Mas podia correr a caça a cavalo, com cães.
— Acha que sou muito pesado? — perguntou.
Mrs. Hamlyn, sorridente, olhou-o dos pés à cabeça, estudando-o.
— O senhor deve pesar uma tonelada.
Ele riu. Os cavalos irlandeses eram os melhores do mundo e Gallagher sempre tratara de se conservar em forma. Numa plantação de borracha caminha-se como o diabo e ele jogava muito tênis. Não tardaria a emagrecer na Irlanda. Depois casaria. Mrs. Hamlyn contemplava em silêncio o mar, que a luz tenra do sol nascente já começara a colorir. Soltou um suspiro.
— Achou fácil desenraizar-se? Não há ninguém de quem traga saudades? Eu julgaria que ao cabo de tantos anos, por mais ansioso de voltar que estivesse, o senhor sentisse um aperto no coração ao ver chegar finalmente a hora.
— Pois eu parti contentíssimo. Estava saturado! Nunca mais quero por os olhos nessa terra nem na gente daqui.
Um ou dois passageiros madrugadores tinham começado a passear no convés. Mrs. Hamlyn lembrou-se de que estava muito pouco vestida e desceu.
Nos dois dias seguintes ela quase não viu Mr. Gallagher, que passava o tempo na sala de fumar. Devido a uma greve o vapor não tocaria em Colombo. Os passageiros prepararam-se para uma agradável travessia do Oceano Índico. Entretinham-se com jogos de convés, bisbilhotavam a respeito uns dos outros, flertavam. A proximidade do Natal lhes deu uma ocupação, pois alguém tinha sugerido um baile à fantasia e as senhoras trataram de fazer os seus costumes. A primeira classe reuniu-se em assembleia para resolver se deviam convidar os passageiros da segunda e, apesar do calor, a discussão foi animada. As senhoras achavam que os passageiros de segunda classe iam sentir-se constrangidos. No dia de Natal era de esperar que eles se excedessem na bebida e podiam surgir incidentes desagradáveis. Todos os opinantes fizeram questão de frisar que não pretendiam fazer distinção de classes; ninguém era tão esnobe que pensasse existir alguma diferença entre passageiros de primeira e de segunda classe como tais, mas realmente seria mais generoso não colocar estes últimos numa posição falsa. Eles se divertiriam muito mais se tivessem uma festa à parte no seu salão. Por outro lado ninguém queria ofendê-los, e está claro que nesta época era preciso ser democrata (isto foi dito em resposta à esposa de um missionário da China, a qual afirmara ter viajado durante trinta e cinco anos nos navios da P. & O. e nunca ter ouvido falar em convidar os passageiros de segunda classe para um baile no salão de primeira) , e ainda que eles não se divertissem talvez desejassem vir. Mr. Gallagher, arrancado muito a contragosto A mesa de jogo porque se previa uma votação parelha, foi solicitado pelo cônsul a dar sua opinião. Levava consigo para a pátria, na segunda classe, um homem que fora seu empregado na plantação. Ergueu o corpo maciço do canapé em que estava sentado.
— Pessoalmente, só tenho uma coisa para dizer: trago comigo o homem que tomava conta das nossas máquinas. É um esplêndido rapaz e tão digno quanto eu de comparecer à festa dos senhores. Mas não virá, porque eu pretendo embebedá-lo de tal maneira no dia de Natal que por volta das seis horas ele estará imprestável e não terá outro remédio senão ir para a cama.
Mr. Jephson, o cônsul, sorriu com um lado s6 da cara. Devido à sua posição oficial fora escolhido para presidir à reunião e desejava que se levasse o assunto a sério. Costumava dizer que tudo que merece ser feito merece ser bem feito.
— Depreendo das suas observações — disse ele com certa acrimônia — que a questão debatida por nós não lhe parece ter grande importância.
— Acho que ela não vale uma pitada de tabaco — respondeu Gallagher, com os olhos a cintilar.
Mrs. Hamlyn riu. Afinal fizeram o plano de convidar os passageiros de segunda classe, dirigindo-se, porém, em particular ao capitão e apontando-lhe a conveniência de negar seu consentimento a que eles entrassem no salão da primeira. Foi na noite desse mesmo dia que Mrs. Hamlyn, depois de vestir-se para o jantar, subiu para o convés ao mesmo tempo que Mr. Gallagher.
— Chegou bem na hora do coquetel, Mrs. Hamlyn — disse ele jovialmente.
— Aceitaria um com prazer. Para falar a verdade, estou precisando de um estimulante.
— Por quê? — sorriu ele.
Mrs. Hamlyn achou atraente o seu sorriso mas não quis responder à pergunta.
— Já lhe disse no outro dia — falou em tom alegre. — Estou com quarenta anos.
— Nunca vi uma mulher que insistisse tanto nesse fato.
Entraram no bar e o irlandês pediu um martini seco para ela e um gin pahit para si. Tinha vivido muito tempo no Oriente para beber outra coisa.
— O Sr. está com soluços — observou Mrs. Hamlyn.
— Sim, passei toda a tarde com isto — respondeu ele negligentemente. — É interessante, começaram assim que perdemos a terra de vista.
— Sem dúvida passarão depois do jantar.
Tomaram os coquetéis, o segundo sino bateu e eles desceram para o salão de refeições.
— A Sra. não joga bridge? — perguntou Gallagher ao se separarem.
— Não.
Mrs. Hamlyn não notou que dois ou três dias se passaram sem que ela visse Gallagher. Estava muito ocupada com os seus pensamentos. Acorriam-lhe em multidão enquanto costurava; introduziam-se entre ela e o romance com que procurava enganar-lhes a insistência. Tinha esperado que quando o navio a afastasse da cena da sua infelicidade aquele tormento teria alívio; mas pelo contrário, cada dia que a aproximava mais da Inglaterra aumentava a sua angústia. Pensava com terror no vazio desolado da existência que a aguardava; depois, desviando o espirito exausto de uma perspectiva que a consternava, punha-se a considerar, como o já tinha feito inúmeras vezes, a situação de que se evadira.
Fazia vinte anos que estava casada. Era muito tempo e por certo não podia esperar que o marido ainda estivesse doidamente apaixonado por ela; não o estava por ele, mas eram bons amigos e compreendiam-se muito bem. Em confronto com a média dos casais podiam considerar-se bastante felizes. Mas de repente descobriu que ele estava enamorado. Não teria feito objeção a um flerte; aliás ele já tivera alguns e ela costumava caçoar com ele a esse respeito; Mr. Hamlyn não se aborrecia com isso, sentia-se até um pouco lisonjeado, e ambos riam juntos dessas inclinações que não eram profundas nem sérias. Mas o caso agora era diverso. Ele estava tão apaixonado quanto um rapaz de dezoito anos. E tinha cinquenta e dois! Aquilo era ridículo, indecente. Ele amava sem bom senso nem prudência: quando ela chegou a tomar conhecimento daquele horror já nenhum estrangeiro em Yokohama o ignorava. Após o primeiro choque de espanto e raiva, pois ninguém teria esperado dele semelhante loucura, Mrs. Hamlyn tentou convencer-se de que poderia ter compreendido, e portanto perdoado, se ele se tivesse enamorado de uma moça. Os homens maduros amiúde perdem a cabeça por garotas, e após ter passado vinte anos no Extremo Oriente ela sabia que a quadra dos cinquenta é a idade perigosa para os homens. Mas ele não tinha justificação. Estava enamorado de uma mulher oito anos mais velha do que Mrs. Hamlyn. Isso era grotesco e fazia com que ela, sua mulher, parecesse completamente ridícula. Dorothy Lacom estava à beira dos cinquenta. Havia dezoito anos que ele a conhecia, pois Lacom, como Mr. Hamlyn, era negociante de sedas em Yokohama. Durante todo esse tempo tinham-se visto três ou quatro vezes por semana, e uma vez em que por acaso se encontraram juntos na Inglaterra tinham compartilhado uma casa à beira-mar. Mas quê! Até um ano atrás não houvera entre eles mais que uma amizade brincalhona. Era incrível! Não se podia negar que Dorothy era uma mulher vistosa; tinha bonita figura, talvez um tanto opulenta mas ainda cheia de garbo; ousados olhos negros, boca vermelha e cabelos magníficos; mas tudo isso ela tivera há muitos anos. Estava com quarenta e oito. Quarenta e oito!
Mrs. Hamlyn pediu logo explicações ao marido. A princípio ele jurou que não havia uma palavra de verdade naquilo de que o acusavam, porém ela tinha as suas provas; ele encasmurrou-se e acabou confessando aquilo que já não podia negar. Disse então uma coisa surpreendente:
— Que importância tem isso para ti?
Ela se enraiveceu. Replicou-lhe com irado desdém. Foi loquaz, encontrando na sua amargura íntima coisas ofensivas para dizer. Ele escutou-a com calma.
— Não fui tão mau marido para ti durante os vinte anos em que estivemos casados. Já faz muito tempo que não somos mais do que amigos. Tenho-te grande afeição e esta em nada se alterou. Não estou roubando nada para dar a Dorothy.
— Mas que motivo de queixa encontras em mim?
— Nenhum. É impossível haver melhor esposa do que tu.
— Como podes dizer isso enquanto tens a coragem de me tratar com tanta crueldade?
— Não é que eu queira ser cruel, mas não posso proceder de outro modo.
— Mas a troco de que foste enamorar-te dela?
— Como posso saber? Acaso pensas que eu o queria?
— Não podias ter resistido?
— Tentei fazê-lo; creio que ambos tentamos.
— Falas como se tivesses vinte anos. Mas se tanto um como o outro já andam na casa dos cinquenta. Ela tem oito anos mais do que eu. Isso me transforma numa perfeita idiota.
Ele não respondeu. Mrs. Hamlyn não compreendia as emoções que tumultuavam no seu peito. Seria o ciúme que a sufocava, a cólera ou simplesmente o orgulho ferido?
— Não permitirei que isso continue. Se se tratasse apenas de vocês dois eu me divorciaria, mas há também o marido dela e os filhos. Santo Deus, não vês que se fossem moças em vez de rapazes ela já poderia ser avó?
— É muito provável.
— Que sorte não termos filhos!
Ele estendeu uma mão afetuosa como para acariciá-la, mas ela recuou com horror.
— Tu me tornaste o alvo de riso de todas as minhas amigas. No interesse de todos nós estou disposta a silenciar, mas só com a condição de que isto termine de uma vez e para sempre.
Ele baixou os olhos e pôs-se a brincar pensativamente com um bibelô japonês que estava em cima da mesa.
— Repetirei a Dorothy o que me disseste — respondeu por fim.
Mrs. Hamlyn fez-lhe um pequeno cumprimento, sem proferir palavra, e saiu do quarto. Estava demasiado furiosa para notar que a sua atitude era um tanto melodramática.
Ficou à espera de que o marido lhe contasse o resultado da sua conversa com Dorothy Lacom, mas ele não tornou a referir-se ao incidente. Mostrava-se calmo, polido e silencioso; afinal ela foi obrigada a interpelá-lo.
— Esqueceste o que eu te disse no outro dia? — perguntou em tom frígido.
— Não. Falei com Dorothy. Ela me pediu para te dizer que lamenta profundamente ter-te causado tamanho sofrimento. Desejaria vir ver-te mas receia que isso não te agrade.
— Qual foi a decisão a que chegaram?
Ele hesitou. Estava muito sério, mas a sua voz tremia um pouco.
— Temo que seja inútil fazer uma promessa que nós não poderíamos cumprir.
— Nesse caso o assunto está resolvido — respondeu ela.
— Devo dizer-te que se intentasses um processo de divórcio nós seríamos obrigados a contestar. Não conseguirias as provas necessárias e perderias a demanda.
— Não pensava em fazer isso. Vou voltar à Inglaterra e consultar um advogado. Hoje em dia essas coisas podem-se arranjar facilmente e eu apelarei para a tua generosidade. Não duvido que possas restituir-me a liberdade sem envolver Dorothy Lacom no assunto.
Ele suspirou.
— Que confusão medonha, não é mesmo? Eu não desejo que te divorcies de mim, mas está claro que farei o possível para que se cumpra a tua vontade.
— Mas que é que tu esperas? — exclamou ela com um novo ímpeto de cólera. — Esperas que eu me resigne a fazer papel de tola?
— Lamento imenso ter de colocar-te numa posição humilhante. — Olhou-a com uma — expressão torturada. — Estou certo de que nós não fizemos nada para nos apaixonar um pelo outro. Nem eu nem ela esquecemos a nossa idade: Dorothy, como dizes, já poderia ser avó, e eu sou um cavalheiro calvo e gordo de cinquenta e dois anos. Quando a gente se enamora aos vinte anos, pensa que o seu amor durará eternamente, mas aos cinquenta conhece-se muito bem a vida e o amor e sabe-se que ele só pode durar pouco. — Falava em voz baixa e pesarosa. Dir-se-ia que estava vendo em imaginação a tristeza do outono e as folhas a desprender-se das árvores. Olhou gravemente para ela. — E nesta idade a gente sente que seria loucura repelir o ensejo de felicidade que o destino caprichoso nos dá. É certo que isto estará terminado dentro de cinco anos, talvez dentro de seis meses. A vida é monótona e cinzenta, e a felicidade é tão rara! A morte dura tanto tempo!
Mrs. Hamlyn sentiu uma dor pungente ao ouvir o marido, homem positivo e prático, falar num tom que lhe era completamente novo. Adquirira ele de súbito uma personalidade ardente e trágica que ela não conhecia. Os vinte anos de existência em comum não tinham nenhum poder sobre ele e Mrs. Hamlyn via-se impotente em face da sua resolução. O único remédio era ir embora. E assim, cheia de ressentimento e decidida a obter o divórcio com que o tinha ameaçado, achava-se agora a caminho da Inglaterra..
O mar liso, que brilhava ao sol como uma folha de vidro, era tão vazio e hostil como a vida em que não havia lugar para ela. Pelo espaço de três dias nenhuma outra embarcação violou aquela solidão infinita. De quando em quando a sua superfície igual era momentaneamente perturbada pela fuga precipitada de algum peixe voador. O calor era tamanho que os mais intrépidos passageiros tinham abandonado os jogos de convés e nessa hora (era depois do almoço) aqueles que não descansavam nos seus camarotes estavam estendidos nas espreguiçadeiras. Linsell caminhou em direção a ela e sentou-se.
— Onde está Mrs. Linsell? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Oh, não sei. Anda por aí.
A sua indiferença a exasperava. Seria possível que ele não visse que sua mulher e o médico começavam a interessar-se demais um pelo outro? E contudo, não havia muito tempo atrás ele não teria suportado isso. Fora um casamento romântico. Quando se tornaram noivos, Mrs. Linsell ainda estava na escola e ele era pouco mais que um menino. Deviam ter formado um belo e encantador casal, a sua mocidade e o seu amor recíproco sem dúvida eram muito tocantes. E eis que ao cabo de tão pouco tempo estavam cansados um do outro. Era de cortar o coração. como fora mesmo que o seu marido tinha dito?
— Sem dúvida a senhora pretende residir em Londres? — perguntou Linsell preguiçosamente, para dizer alguma coisa.
— Acho que sim — respondeu Mrs. Hamlyn.
Era-lhe difícil conformar-se com o fato de não ter para onde ir e de não interessar a ninguém que ela fosse viver aqui ou ali. Uma associação de ideias qualquer fê-la pensar em Gallagher. Invejava-lhe a ansiedade com que voltava à sua terra natal e sentia-se tocada, achando graça ao mesmo tempo, ao lembrar-se da exuberante imaginação com que ele descrevera a casa onde pretendia morar e a mulher com que tencionava casar. As suas amigas de Yokohama, a quem confiara a decisão de divorciar-se, tinham-lhe garantido que ela tornaria a casar. Não desejava tentar segunda vez uma coisa que tanto a decepcionara, e além disso a maioria dos homens teria vacilado em propor casamento a uma mulher de quarenta anos. Mr. Gallagher, por exemplo, idealizava uma jovem de formas roliças.
— Onde está Mrs. Gallagher? — perguntou ela ao submisso Linsell. — Há uns dois dias que não o vejo.
— Então não sabia? Ele está doente.
— Coitado! Que é que ele tem?
— Tem soluços.
Mrs. Hamlyn riu. — Mas soluço é doença?
— O médico de bordo está bem preocupado. Tem tentado todos os meios, mas não consegue fazê-los parar.
— Que coisa esquisita!
Não pensou mais nisso, mas no dia seguinte de manhã, encontrando-se por acaso com o médico de bordo, perguntou-lhe como ia Mr. Gallagher. Ficou surpreendida ao ver aquele rosto alegre e juvenil anuviar-se e assumir uma expressão de perplexidade.
— Receio que o pobre homem esteja muito mal.
— Com soluços? — exclamou ela, assombrada. Era uma indisposição que realmente não se podia levar a sério.
— É que ele não pode conservar o alimento no estômago. Não consegue dormir. Está numa exaustão horrível. Tentei todos os meios de que pude lançar mão. — O médico hesitou. — A menos que eu consiga deter esses soluços muito depressa... não sei o que acontecerá.
Mrs. Hamlyn assustou-se. — Mas ele é tão forte! Pareceu-me tão cheio de vida!
— Queria que o visse agora.
— Ele não se incomodaria se eu o fosse ver?
— Venha comigo.
Gallagher fora removido do seu camarote para a enfermaria de bordo. Ao aproximar-se desta ouviram um alto soluço. É um som que, talvez por estar associado à ideia de bebedeira, tem qualquer coisa de cômico. Mas o aspecto de Gallagher produziu um choque em Mrs. Hamlyn. Emagrecera muito e a pele do seu pescoço pendia em dobras flácidas. O rosto, sob o bronzeado do sol, estava pálido. Os olhos, outrora cheios de riso e de alegria, pareciam desvairados e torturados. Seu grande corpo era incessantemente sacudido pelos soluços e estes já nada tinham de cômicos; a Mrs. Hamlyn, sem que ela soubesse por que razão, eles pareceram singularmente terrificantes. Gallagher sorriu ao vê-la entrar.
— Sinto muito vê-lo nesse estado — disse ela.
— Mas fique sabendo que não vou morrer — respondeu ele com um arfar. — Hei de chegar às verdes plagas de Erin, ora se não.
Ao lado dele estava sentado um homem que se ergueu quando Mrs. Hamlyn e o médico entraram.
— Este é Mr. Pryce — disse o médico. -Era o encarregado das máquinas na propriedade de Mr. Gallagher.
Mrs. Hamlyn inclinou a cabeça. Era esse o passageiro de segunda classe a quem Gallagher se referira quando haviam discutido a festa que pretendiam dar no dia de Natal. Era um homem de pequena estatura, mas vigoroso, com uma fisionomia impudente e simpática e um ar seguro de si.
— Está contente de voltar para a sua terra? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— E não haveria de estar, dona? — respondeu ele.
A entonação destas poucas palavras revelou a Mrs. Hamlyn que se tratava de um cockney e, reconhecendo esse tipo prazenteiro, bem-humorado, sensato e despreocupado, sentiu-se tomada de simpatia por ele.
— O senhor não é irlandês? — perguntou sorrindo.
— Eu não, miss. Minha terra é Londres, e lhe garanto que não ficarei triste por tornar a vê-la.
Mrs. Hamlyn nunca se ofendia quando lhe davam o tratamento de "miss".
— Bem, patrão, vou andando — disse ele a Gallagher, esboçando um gesto em direção a um boné que não tinha na cabeça.
Mrs. Hamlyn perguntou ao doente se podia fazer alguma coisa por ele e dentro de um ou dois minutos retirou-se em companhia do médico. O pequeno cockney esperava-a na porta.
— Posso lhe falar um instante, miss?
— Claro que sim.
A enfermaria ficava à ré. Ambos se encostaram na amurada e olharam lá embaixo o "poço", onde os marinheiros indígenas e os criados de bordo fora de serviço descansavam em cima das coberturas das escotilhas.
— Não sei bem como começar — disse Pryce, hesitante, com a fisionomia vivaz e jovial estranhamente demudada numa expressão grave. — Há quatro anos que trabalho com Mr. Gallagher e é preciso caminhar muito para encontrar um homem melhor do que ele.
Tornou a hesitar. — Isso não me agrada nem um pouco, essa é que é a verdade.
— O que não lhe agrada?
— Bem, se quer que eu lhe diga, ele está perdido e o médico não sabe. Eu já disse a ele, mas não quer me escutar.
— Não desanime, Mr. Pryce. É verdade que o doutor é moço, mas eu o acho muito competente e, como sabe, ninguém morre de soluços. Tenho certeza de que Mr. Gallagher estará melhor dentro de um ou dois dias.
— Sabe quando isso começou? Assim que perdemos a terra de vista. Ela disse que ele não chegaria a ver seu país.
Mrs. Hamlyn virou-se para encará-lo. Media três boas polegadas mais do que ele.
— O que quer dizer com isso? — A minha opinião é que lhe puseram feitiço, se é que me entende. De nada adianta a medicina. A senhora não conhece essas mulheres malaias como eu as conheço.
Mrs. Hamlyn passou por um momento de susto, mas justamente por se ter assustado deu de ombros e riu.
— Ora, Mr. Pryce, isso são tolices! — Foi o que o doutor disse quando eu lhe falei. Mas pode escrever o que estou lhe dizendo: ele vai morrer antes de avistarmos terra outra vez.
O homem falava com tanta seriedade que Mrs. Hamlyn, vagamente inquieta, sentiu-se impressionada mau grado seu.
— Mas por que motivo haviam de ter posto feitiço em Mr. Gallagher?
— Bom, isso é uma coisa meio pau de contar a uma senhora.
— Conte-me, por favor!
Pryce estava tão embaraçado que em qualquer outra ocasião Mrs. Hamlyn teria tido dificuldade em ocultar o seu divertimento.
— Mr. Gallagher viveu muitos anos num fim de mundo. Naturalmente é uma vida muito cacete e a senhora sabe como são os homens, miss.
— Estive vinte anos casada — respondeu ela sorrindo. — Perdão, madame. Pois o fato é que ele tinha uma moça malaia em casa. Não sei quanto tempo isso durou, acho que uns dez ou doze anos. Bom, quando ele resolveu voltar para a terra ela não disse nada. Ficou sentada no mesmo lugar, sem dar um pio. Mr. Gallagher pensava que ela ia dar o estrilo, mas não... Deixava-a bem amparada, é claro. Deu-lhe uma casinha e providenciou para que lhe pagassem uma mesada. Ele não era sovina, é preciso que se reconheça, e a mulher já sabia há algum tempo que ele ia embora. Não chorou nem nada. Quando ele encaixotou todas as suas coisas e mandou despachar, ela viu levarem tudo sem se mexer do seu lugar. E quando ele vendeu a mobília aos chins ela não disse uma palavra. Ele lhe daria tudo que ela precisasse. E quando chegou a hora de Mr. Gallagher ir tomar o vapor ela ficou sentada nos degraus da varanda, olhando, sem falar. Ele quis lhe dizer adeus, como qualquer um teria feito, mas a senhora acredita que ela nem se mexeu? "Você não quer me dizer adeus?" perguntou ele. A mulher fez uma cara esquisita, e sabe o que ela disse? "Você vai", disse ela; esses nativos têm um jeito engraçado de falar, não falam como nós; "você vai", disse ela, "mas eu lhe digo: você não chegará até o seu país. Quando a terra se sumir no mar a morte virá para o seu lado, e antes que aqueles que forem com você tornem a ver terra a morte o terá levado consigo." Fiquei com uma impressão!
— E que foi que Mr. Gallagher disse? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Oh, a senhora sabe como ele é. Achou graça, nada mais. "Então passar muito bem", disse ele; saltou para o carro e pisamos no mundo.
Mrs. Hamlyn via a estrada ensolarada avançar por entre as plantações de borracha com as suas árvores verdes e garbosas, muito bem espaçadas, com o seu silêncio, depois serpentear por uma encosta acima e tornar a mergulhar na selva emaranhada. O automóvel corria, guiado por um malaio afoito, com os seus passageiros brancos, passando diante de casas malaias afastadas da estrada, entre coqueiros, isoladas e taciturnas, e atravessando movimentadas aldeias com os seus mercados apinhados de gente pequena, de pele escura e vestida com sarões de cores alegres. Depois, por volta do anoitecer, alcançava a cidade moderna e vistosa, com os seus clubes e os seus campos de golfe, a sua população branca e a sua estação onde os dois homens podiam tomar o trem para Singapura. E a mulher continuava sentada nos degraus do bangalô, vazio até que o novo administrador viesse ocupá-lo, e observava a estrada, via o carro ganhar velocidade e não tirava os olhos dele senão quando se perdia nas trevas da noite.
— Que tipo tinha ela? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Bem, para mim todas essas mulheres malaias se parecem — respondeu Pryce. — Naturalmente já não era muito moça, e a senhora sabe como são essas nativas; engordam que é um horror.
— Gorda?
Esta ideia, inexplicavelmente, encheu Mrs. Hamlyn de consternação.
— Mr. Gallagher sempre levou uma vida farta, se é que me entende.
A ideia de corpulência restituiu Mrs. Hamlyn imediatamente ao bom senso. Sentia-se aborrecida consigo mesma porque durante um instante estivera a ponto de aceitar a explicação do pequeno cockney.
— Isso é completamente absurdo, Mr. Pryce. Uma mulher gorda não pode lançar feitiço sobre ninguém a mil milhas de distância. O fato é que as mulheres gordas têm uma vida cheia de dificuldades.
— Ria quanto quiser, miss, mas tome nota do que estou dizendo: se não se tomar uma providência qualquer o patrão está perdido. E não é a medicina que vai salvá-lo, pelo menos a medicina dos brancos.
— Faça uso do bom senso, Mr. Pryce. Essa senhora gorda não tinha nenhum motivo de queixa contra Mr. Gallagher. De acordo com os hábitos do Oriente ele parece tê-la tratado muito bem. Por que quereria mal a ele?
— A gente não sabe de que modo elas encaram essas coisas. Um homem pode viver vinte anos com uma dessas nativas, mas pensa que ele é capaz de compreender aquela alma negra? Nunca!
Mrs. Hamlyn não pôde sorrir desta linguagem melodramática, pois Pryce falava com uma intensidade que impressionava. E ninguém sabia melhor do que ela que o coração dos seres humanos, seja a sua pele amarela, parda ou branca, é impenetrável.
— Mas ainda que ela estivesse furiosa com ele, ainda que o Odiasse e quisesse matá-lo, o que poderia fazer? — Era estranho que Mrs. Hamlyn, com as suas perguntas, estivesse inconscientemente procurando tranquilizar-se. — Não existe veneno que comece a produzir efeito depois de seis ou sete dias.
— Eu não disse que era veneno.
— Desculpe, Mr. Pryce — sorriu ela —, mas não me fará acreditar em feitiços, sabe?
— A senhora vive no Oriente?
— Há vinte anos, por temporadas.
— Bem, se a senhora sabe do que eles são capazes e do que não são, é mais entendida do que eu. — Cerrou o punho e deu um soco na amurada com uma violência furiosa e repentina. — Estou farto dessa maldita terra. Ela me deu nos nervos. Nós, brancos, não podemos com eles, essa é que é a verdade. Se me dá licença, acho que vou tomar uma pinga. Estou muito nervoso.
Fez um cumprimento abrupto com a cabeça e deixou-a. Mrs. Hamlyn observou o homenzinho atarracado e metido numa velha roupa cague, enquanto se afastava raspando com os pés no chão, descia a escotilha para o convés do meio e, atravessando-o com a cabeça curvada, desaparecia no bar da segunda classe. Não saberia explicar por que motivo ele a deixara presa de uma vaga inquietação. Não conseguia apagar na imaginação aquele quadro de uma mulher corpulenta, que já não era jovem, com um sarong, uma blusa colorida e adornos de ouro, sentada nos degraus de um bangalô e contemplando uma estrada deserta. O seu rosto maciço estava pintado, mas os olhos grandes e secos não tinham expressão. Os homens que iam no automóvel eram como colegiais que fossem passar as férias em casa. Gallagher soltava um suspiro de alívio. Na manhãzinha, sob o céu límpido, ele fervilhava de animação. O futuro parecia uma estrada ensolarada que vagueava através de uma vasta planície coberta de árvores.
Mais tarde, nesse mesmo dia, Mrs. Hamlyn perguntou ao médico como ia o seu doente. O médico sacudiu a cabeça.
— Não posso mais. Não sei mais o que fazer. Franziu o sobrolho, desgostoso. — É mesmo pouca sorte dar com um caso destes. Até na Inglaterra seria um caroço, e a bordo então nem se fala...
Era de Edimburgo, mas formara-se havia pouco e estava fazendo aquela viagem a título de férias, antes de se instalar na clínica. Sentia-se vítima de uma injustiça. Queria divertir-se, mas aquela misteriosa doença o preocupava mortalmente. Faltava-lhe experiência, por certo, mas estava fazendo tudo quanto era possível e exasperava-se por suspeitar que os passageiros o julgassem um ignorante.
— Sabe o que Mr. Pryce pensa? — perguntou Mrs. Hamlyn. — Nunca ouvi asneira igual. Disse ao capitão e ele está danado. Não quer que se fale nisso. Acha que pode perturbar os passageiros.
— Pode contar com a minha discrição. O médico perscrutou-a com o olhar. — Sem dúvida não acredita que possa haver a menor dose de verdade nessas tolices?
— Claro que não. — Ela olhou para o mar que brilhava por todos os lados, azul, oleoso e imóvel. — Vivi muito tempo no Oriente. Acontecem lá coisas esquisitas.
— Isto está começando a me atacar os nervos — disse o médico.
Ali perto dois pequenos japoneses jogavam malha no convés. Estavam muito corretos e asseados com as suas camisas de tênis, calças brancas e sapatos de bocaxim. Pareciam muito europeus, até anunciavam a contagem um ao outro em inglês, e no entanto Mrs. Hamlyn sentiu-se vagamente perturbada ao observá-los nesse momento. Pelo fato de usarem um travesti com tanta facilidade, havia nessas criaturas qualquer coisa de sinistro. Também ela não estava boa dos nervos.
E de repente, ninguém saberia dizer como, espalhou-se por todo o navio o boato de que Gallagher estava enfeitiçado. As senhoras, sentadas nas cadeiras do convés, tagarelavam à meia-voz enquanto cosiam os trajes de fantasia para o baile do Natal e os homens, na sala de fumar, comentavam o assunto diante dos seus coquetéis. Bom número de passageiros que tinham vivido largo tempo no Oriente extraíam casos estranhos e inexplicáveis dos escaninhos da memória. Era, por certo, absurdo acreditar seriamente que Gallagher estivesse sendo vítima de um sortilégio maligno. Essas coisas eram impossíveis; e contudo, havia tais e tais fatos que ninguém conseguira explicar. O médico teve de confessar-se incapaz de apontar uma causa para o estado de Gallagher. Podia dar uma explicação fisiológica, mas por que motivo ele fora atacado de súbito por aqueles pavorosos espasmos? Isso ele não dizia. Sentindo-se vagamente exposto à censura, procurava defender-se.
— Casos como este um médico pode passar a vida inteira sem encontrar um só. Que azar!
Comunicava-se pelo rádio com os navios próximos e recebia daqui e dali sugestões para o tratamento.
— Já experimentei tudo que eles me aconselham — dizia com irritação. — O médico do vapor japonês fala em adrenalina. Como diabo vou arranjar adrenalina no meio do Oceano Índico?
Havia qualquer coisa de impressionante na ideia daquele navio a singrar um mar deserto enquanto mensagens invisíveis lhe chegavam de todas as partes. Naquele momento ele parecia ser o centro do mundo, apesar de estar singularmente só. Na enfermaria, o doente, sacudido pelos implacáveis espasmos, arfava em luta com a morte. Então os passageiros perceberam que a rota do navio fora alterada e ouviram dizer que o capitão tinha resolvido aportar a Adem. Gallagher seria posto em terra e conduzido ao hospital, onde lhe podiam dispensar cuidados que a bordo eram impossíveis. O chefe das máquinas teve ordem de acelerar a marcha do navio. Este, que era velho, começou a tremer todo sob o esforço. Os passageiros tinham-se acostumado ao ruído e à vibração das máquinas, mas o aumento dessa vibração lhes sacudia os nervos, dando-lhes uma sensação nova. Ao invés de passar ao subconsciente, fustigava-lhes a sensibilidade, de modo que cada um deles ganhou um interesse pessoal no caso. Entretanto, o mar imenso continuava órfão de embarcações e eles pareciam estar atravessando um mundo vazio. Então a vaga inquietação que descera sobre o navio e que ninguém queria reconhecer converteu-se num positivo mal-estar. Os passageiros ficaram irritadiços e começaram a explodir disputas em torno de assuntos que em outra ocasião qualquer teriam parecido insignificantes. Mr. Jephson dizia as suas rançosas piadas, mas já ninguém o recompensava com um sorriso. Os Linsell tiveram uma altercação e Mrs. Linsell foi ouvida tarde da noite a filar voltas pelo convés como marido, proferindo em voz baixa e tensa uma torrente de censuras impetuosas. uma noite, a respeito de uma partida de bridge, houve uma discussão violenta na sala de fumar e a subsequente reconciliação foi acompanhada de uma bebedeira geral. Pouco falavam em Gallagher, mas este raramente saía dos pensamentos. Examinavam a carta marítima. O médico dizia agora que Gallagher não podia viver mais de dois ou três dias e os passageiros discutiam com acrimônia sobre o tempo mais curto em que seria possível alcançar Adem. O que lhe acontecesse após o desembarque não lhes interessava; apenas não queriam que ele morresse a bordo.
Mrs. Hamlyn visitava Gallagher todos os dias. Com a mesma rapidez com que após uma chuva primaveril, nos trópicos, a gente vê a erva crescer diante dos seus olhos, ela o via finar-se agora. Já a pele lhe pendia flácida em volta dos ossos e a sua papada semelhava uma papada de peru. As faces estavam encovadas. Notava-se agora o quanto era grande a sua armadura óssea, que, debaixo do lençol, lembrava o esqueleto de algum gigante pré-histórico. Estava geralmente com os olhos cerrados, no torpor da morfina, mas sacudido sempre pelas terríveis convulsões, e quando de tempos a tempos abria os olhos estes tinham um tamanho sobrenatural, encarando vagamente as pessoas, perplexos e perturbados, do fundo das órbitas ossudas. Mas quando reconhecia Mrs. Hamlyn, ao sair do seu estupor, obrigava os lábios a entreabrir-se num sorriso de bravura.
— Como vai, Mr. Gallagher? — perguntava ela. -- Vou indo, vou indo. Hei de ficar bom quando nos livrarmos deste maldito calor. Meu Deus, como estou aflito por dar um mergulho no Atlântico! Daria tudo por uma boa meia hora de nado. Quero sentir no peito o mar frio e cinzento de Galway.
Mas um soluço sacudia-o do alto da cabeça até as solas dos pés. Mr. Pryce e a enfermeira revezavam-se em cuidar dele. A fisionomia do pequeno cockney já não tinha aquela expressão de jovialidade impudente; estava, ao invés, bastante casmurra.
— O capitão mandou me chamar ontem — disse ele a Mrs. Hamlyn quando se viram a sós. — Passou-me uma jiribanda daquelas.
— A que respeito? — Diz ele que não quer ouvir falar nessas histórias de feitiço. Que isso estava assustando os passageiros e que eu tivesse tento na língua, senão ia justar contas com ele. A culpa não é minha. Eu nunca disse uma palavra, a não ser à senhora e ao doutor.
— Todo o navio anda falando disso. — Eu sei. Pensa que sou só eu que o digo? Todos esses malaios e chineses sabem o que ele tem. Pensa que nós podemos ensinar muita coisa a essa gente? Eles sabem que não é uma doença natural.
Mrs. Hamlyn ficou calada. Sabia, pelas criadas de alguns passageiros, que ninguém no navio, a não ser os brancos, duvidava de que a mulher a quem Gallagher tinha deixado no distante Estado de Selantan o estava matando pouco a pouco com a sua magia. Todos tinham a convicção de que ao avistarem os penhascos escalvados da Arábia a alma do irlandês. separar-se-ia do seu corpo.
— Diz o capitão que se ouvir contar que eu andei tentando alguma mandinga ele vai mandar me fechar na cabina durante o resto da viagem — falou Pryce de repente, com um ar mal-humorado.
— Que quer dizer com mandinga?
Ele a considerou um instante com ferocidade, como se ela também fosse alvo da cólera que sentia contra o capitão.
— O doutor já experimentou tudo o que sabe, passou radiogramas para todos os lados, e que adiantou isso? Faça o favor de me dizer. Então ele não vê que o homem está à morte? Agora só temos um meio de salvá-lo.
— Que meio?
— Ele está morrendo por obra de magia e só com a magia pode ser salvo. Oh, não me diga que isso é impossível. Já vi com os meus olhos. — Sua voz alteou-se, irritada e estridente. — Já vi um homem arrancado das goelas da morte, como quem diz, quando mandaram chamar um pawang, isso que nós chamamos um curandeiro, e ele começou a fazer as suas tricas. Estou lhe dizendo que vi com os meus olhos!
Mrs. Hamlyn ficou calada. Pryce lançou-lhe um olhar penetrante.
— Um desses marinheiros nativos é curandeiro, tal qual os pawang dos Estados Malaios. Ele diz que fará a coisa. Só precisa de um animal vivo. Um galo serve.
— Para que quer ele um animal vivo? — perguntou Mrs. Hamlyn, franzindo levemente o sobrolho.
O cockney olhou-a com viva desconfiança. — Se quer ouvir o meu conselho, faça que não sabe de nada. Mas uma coisa eu lhe digo: não deixarei pedra por virar enquanto não tiver salvo o patrão. E se o capitão souber disso e me mandar trancafiar na cabina, paciência.
Nesse momento Mrs. Linsell aproximou-se e Pryce foi embora, fazendo aquele seu curioso gesto de saudação. Mrs. Linsell queria que Mrs. Hamlyn lhe ajustasse o costume que estava fazendo para o baile à fantasia, e enquanto desciam à cabina referiu ansiosamente à possibilidade de que Mr. Gallagher morresse no dia de Natal. Nesse caso não seria possível dar o baile. Tinha dito ao médico que nunca mais lhe falaria se tal coisa acontecesse e ele prometera manter o homem com vida, fosse lá como fosse, até depois do Natal.
— Seria muito bom para ele também — disse Mrs. Linsell.
— Para quem? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Para o pobre Mr. Gallagher. Naturalmente ninguém gosta de morrer no dia de Natal, não é mesmo?
— Na verdade, não sei — respondeu Mrs. Hamlyn.
Essa noite, após um sono breve, ela acordou a chorar. Ficou consternada ao ver que estivera chorando enquanto dormia. Era como se a fraqueza da carne a dominasse e, com a vontade vencida, ela se encontrasse indefesa em face do sofrimento. Revolveu na mente, como já havia feito tantas vezes, os pormenores do desastre que tão profundamente a afetara. Repetiu as conversas com o marido, desejando ter dito isto e censurando-se porque dissera aquilo. Quem lhe dera ter permanecido na tranquila ignorância daquela paixão! Não teria sido melhor meter o orgulho no bolso e fechar os olhos à dolorosa verdade? Era uma mulher experiente e bem sabia que ao separar-se do marido perdia muito mais do que o seu amor: perdia uma posição sólida e segura, de amplos recursos, e o apoio de uma situação oficial. Tinha notícia de muitas mulheres separadas dos maridos, a viver equivocamente de pequenos rendimentos, e sabia quão depressa as pessoas amigas se cansavam delas. E estava só, tão só quanto o navio que cruzava às pressas aquele mar despovoado, tão só quanto o homem sem amigos que agonizava na enfermaria de bordo. Mrs. Hamlyn compreendeu que os seus pensamentos a tinham levado de vencida e que já não lhe seria fácil dormir. Fazia muito calor dentro da cabina. Olhou o relógio: era entre quatro e quatro e meia. Tinha de esperar ainda duas intermináveis horas antes que o dia lhe trouxesse o seu pouco de conforto.
Enfiou um quimono e subiu para o convés. A noite era sombria e embora não houvesse nuvens as estrelas não estavam visíveis. O velho navio, ofegante e trêmulo, avançava a todo vapor no meio das trevas. O silêncio tinha algo de sobrenatural. Mrs. Hamlyn caminhava de pés descalços pelo convés, lentamente, às tateadas. Estava tão escuro que ela não podia distinguir nada. Chegou à extremidade do tombadilho de passeio e encostou-se à amurada. De súbito estremeceu e a sua atenção fixou-se num ponto, uma claridade bruxuleante que avistara no convés de baixo. Debruçou-se com cautela. Era uma pequena fogueira e Mrs. Hamlyn via apenas o clarão porque as chamas eram ocultadas pelos troncos nus de alguns homens acocorados ao seu redor. A beira do círculo ela adivinhou uma figura atarracada, de pijama. Os demais eram nativos, mas esse era um europeu. Devia ser Pryce, e ela imediatamente compreendeu que se estava realizando alguma tenebrosa cerimônia de exorcismo. Aguçou o ouvido e distinguiu uma voz baixa que resmuneava um rosário de palavras desconhecidas. Pôs-se a tremer. Embora os sentisse demasiado absortos na sua prática para suspeitar que alguém os pudesse estar observando, não se atrevia a mexer-se. De repente, cortando o silêncio da noite como um pedaço de seda que se rasgasse em dois, ouviu-se o canto de um galo. Mrs. Hamlyn quase deixou escapar um grito. Mr. Pryce tentava salvar a vida do seu amigo e patrão com um sacrifício aos estranhos deuses do Oriente. A voz continuava, baixa e insistente. Notou-se então um movimento no círculo escuro; estava acontecendo alguma coisa que ela não sabia o que fosse; o galo cacarejou, furioso e assustado, e seguiu-se um som estranho e indescritível. O mágico estava degolando a ave. Silêncio, depois alguns gestos vagos que ela não pôde acompanhar, e dentro em pouco lhe pareceu que alguém apagava as brasas com os pés. As figuras indistintas dissolveram-se na noite e tudo voltou à tranquilidade. Ela tornou a ouvir a vibração regular das máquinas.
Mrs. Hamlyn ainda ficou alguns instantes sem se mover, presa de estranha emoção, depois caminhou lentamente pelo convés. Encontrou uma espreguiçadeira e estendeu-se nela. Ainda estava trêmula. Não podia fazer senão conjeturas sobre o que havia acontecido. Não saberia dizer quanto tempo ficou ali, mas finalmente sentiu que não tardaria a amanhecer. Ainda não era dia, mas também já não era noite. Já podia distinguir a amurada do navio contra a escuridão da noite. Avistou então um vulto que caminhava na sua direção. Era um homem de pijama.
— Quem é? — gritou, nervosa.
— Não é ninguém, é o médico — respondeu uma voz amiga.
— Ah! Que está fazendo aqui a estas horas?
— Estava com Gallagher. — O doutor sentou-se ao lado dela e acendeu um cigarro. — Dei-lhe uma hipodérmica bem forte e ele se aquietou.
— Estava muito mal?
— Julguei que fosse expirar. Estava observando-o. De repente ele sentou-se na cama e começou a falar em malaio. Não entendi coisa alguma, é lógico. Ele repetia sem cessar a mesma palavra.
— Talvez fosse um nome, o nome de uma mulher.
— Queria sair da cama. Ainda tem força como o diabo. Caramba, tive de lutar com ele! Receava que ele se atirasse ao mar. Parecia pensar que alguém o estava chamando.
— Quando foi isso? — perguntou Mrs. Hamlyn devagar.
— Entre quatro e quatro e meia. Por quê?
— Nada.
Mrs. Hamlyn teve um arrepio.
Mais tarde, ainda pela manhã, quando a vida de bordo já reassumira o seu curso cotidiano, Mrs. Hamlyn cruzou-se com Pryce no convés, mas ele limitou-se a fazer-lhe uma breve saudação e seguiu o seu caminho desviando vivamente os olhos. Tinha um ar cansado e tresnoitado. Mrs. Hamlyn tornou a pensar naquela mulher, com adornos de ouro na negra e espessa cabeleira, sentada nos degraus do bangalô vazio, olhando para a estrada que corria entre os renques simétricos de seringueiras.
Fazia um calor pavoroso. Ela compreendia agora por que a noite fora tão escura. O céu já não estava azul, mas de um branco morto e igual; a sua superfície era muito uniforme para dar a impressão de nuvens; era como se o calor pairasse como uma mortalha no ar superior. Não soprava brisa e o mar, tão incolor quanto o céu, estava liso e brilhante como a tinta na cuba de um tintureiro. Os passageiros andavam apáticos; quando caminhavam pelo convés punham-se a ofegar e bagas de suor lhes brotavam da testa. Falavam em voz baixa. Uma espécie de aura sobrenatural, inquietante, envolvia o navio e ninguém tinha ânimo para rir. Foi despertando neles uma sensação de ressentimento; estavam vivos, com saúde, e exasperavam-se porque ali tão perto um homem agonizava e este fato (que em suma não lhes dizia respeito) os afetava de forma tão misteriosa. Na sala de fumar, diante de um gin sling, um plantador exprimiu brutalmente o que todos eles pensavam, embora ninguém quisesse confessá-lo:
— Bem, se ele vai mesmo dar a casca seria bom que se aviasse, para acabar com isso duma vez. Já ando com tremeliques.
O dia pareceu interminável. Mrs. Hamlyn deu graças ao céu quando chegou a hora do jantar. Sentou-se à mesa do médico.
— Quando chegaremos a Adem? — perguntou-lhe. — Amanhã. O capitão diz que avistaremos terra entre as cinco e as seis da manhã.
Ela deitou-lhe um olhar vivo. O moço encarou-a um instante, depois baixou os olhos e corou. Lembrara-se de que a mulher, a mulher gorda sentada nos degraus do bangalô, tinha dito que Gallagher não tornaria a ver terra. Por acaso ele, o jovem médico cético e positivo, estaria vacilando por fim? Franziu de leve o sobrolho e, como se fizesse um esforço para dominar-se, tornou a olhar para ela.
— Confesso-lhe que não lamentarei ter de deixar o meu doente no hospital de Adem.
O dia seguinte era véspera de Natal. Quando Mrs. Hamlyn despertou do seu sono agitado, já ia amanhecendo. Olhou pela vigia do camarote e notou que o céu estava claro e prateado; a bruma dissipara-se durante a noite e a manhã resplandecia. Subiu para o convés mais aliviada e encaminhou-se para a proa. Uma estrela retardatária luzia palidamente, junto a linha do horizonte. O mar tinha reflexos trêmulos, como se brisa vadia passasse sobre ele os dedos brincalhões. A luz era deliciosamente suave, ténue como um bosque a abrolhar na primavera, e tão cristalina que lembrava as águas sussurrantes de um regato nas montanhas. Ela virou-se para olhar o sol, que se erguia rosado no nascente, e viu o doutor que vinha na sua direção. Vestia o seu uniforme; não se deitara durante toda a noite; tinha os cabelos desgrenhados e caminhava de ombros curvados, como se estivesse morto de cansaço. Ela compreendeu logo que Gallagher morrera. Quando o moço chegou perto, notou que ele chorava. Tinha um ar tão jovem nesse momento que o coração de Mrs. Hamlyn se encheu de piedade. Tomou-lhe a mão.
— Coitadinho! Você está que não se aguenta.
— Fiz o que pude — disse ele. — Tanto empenho em salvá-lo!
Falava com voz embargada e Mrs. Hamlyn percebeu que o moço estava a ponto de ter um acesso de nervos.
— Quando foi que ele morreu? — perguntou.
O médico cerrou os olhos, tentando dominar-se, e seus lábios tremeram.
— Há poucos minutos.
Mrs. Hamlyn suspirou. Não encontrou palavras para lhe dizer. Seu olhar vagueava pelo mar sereno, eterno e desapaixonado, que se estendia para todos os lados, infinito como a dor humana. Mas de repente esse olhar se deteve num ponto determinado, pois à frente deles, no horizonte, avistava-se qualquer coisa que semelhava uma nuvem escarpada e maciça. Os seus contornos, no entanto, eram muito angulosos para serem os de uma nuvem. Ela tocou no braço do médico.
— O que é aquilo?
Ele olhou um instante naquela direção e Mrs. Hamlyn o viu empalidecer sob o bronzeado da pele.
— É terra.
Mrs. Hamlyn pensou mais uma vez na malaia gorda, sentada em silêncio nos degraus do bangalô de Gallagher. Saberia ela o que acontecera?
Sepultaram-no com o sol alto. Estavam todos reunidos no convés inferior e sobre os quartéis das escotilhas, passageiros de primeira e de segunda, despenseiros brancos e oficiais europeus. O missionário leu o serviço fúnebre.
"O homem, nascido da mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Surge e é cortado como a flor; foge também como a sombra e não permanece."
Pryce olhava para o chão com o sobrolho franzido, os dentes cerrados. Não chorava o morto, pois tinha o peito a arder em cólera. O médico e o cônsul estavam ao lado um do outro. O rosto do cônsul tinha uma correta expressão de persa oficial, mas o do médico, que se barbeara e vestira um uniforme limpo, com os seus alamares de ouro, estava pálido e torturado. Os olhos de Mrs. Hamlyn passaram dele para Mrs. Linsell. Estava aconchegada ao marido, chorando, e ele lhe segurava ternamente a mão. Mrs. Hamlyn não saberia dizer por que a vista do casal a afetava tanto. Nesse momento de dor, com os nervos desorganizados, a mulherzinha procurava por instinto a proteção e o apoio do marido. Mas um estremecimento percorreu Mrs. Hamlyn e ela fixou os olhos nas junturas do convés, pois não queria ver o que ia passar-se. Houve uma pausa na leitura e várias pessoas moveram-se. Um dos oficiais deu uma ordem. A voz do missionário prosseguiu:
"Já que aprouve ao Senhor Todo-poderoso, na sua infinita misericórdia, chamar a si a alma do nosso querido irmão, nós confiamos o seu corpo ao abismo para que aí se decomponha, à espera da ressurreição da carne, quando o mar devolver os seus mortos."
Mrs. Hamlyn sentiu que lágrimas ardentes lhe corriam pelas faces. Ouviu-se um baque surdo na água e a voz do missionário continuou a falar.
Terminado o ofício religioso os passageiros dispersaram-se; os da segunda classe voltaram aos seus alojamentos e uma sineta os chamou para o almoço. Mas os da primeira puseram-se a vaguear a esmo no tombadilho de passeio. A maioria dos homens entrou na sala de fumar e procurou animar-se tomando uísque soda e gin slings. O cônsul pendurou um aviso na tabuleta colocada na porta do salão de refeições, convocando uma reunião dos passageiros. A maior parte destes já imaginava o que se tinha em vista e à hora marcada foram chegando. Estavam alegres como nunca haviam estado durante a semana que se passara e puseram-se a conversar cheios de animação temperada por uma reserva decorosa. O cônsul, de monóculo encaixado no olho, disseque os tinha chamado para discutirem a questão do baile à fantasia no dia seguinte. Sabia que todos sentiam a mais profunda simpatia por Mr. Gallagher. Desejaria propor que eles se combinassem para enviar uma mensagem condigna aos parentes do falecido, mas os papéis deste tinham sido examinados pelo comissário de bordo sem que se encontrasse a menor indicação sobre um parente ou amigo com quem fosse possível comunicarem-se. Segundo as aparências, o falecido Mr. Gallagher estava completamente só no mundo. Entretanto, ele (o cônsul) tomava a liberdade de exprimir o seu sincero pesar ao médico, que, ele tinha certeza, fizera quanto estava em si nas circunstâncias.
— Apoiado, apoiado! — disseram os passageiros.
Todos ali haviam sofrido uma grande provação, prosseguiu o cônsul, e podia parecer a alguns que, em respeito à memória do falecido, era preferível adiar o baile à fantasia para a noite de Ano Bom. Ele, porém — declarava-lhes francamente — não era dessa opinião, e estava convencido de que Mr. Gallagher não o teria desejado. Em todo caso, era uma questão que cumpria resolver por maioria de votos. O médico ergueu-se e agradeceu ao cônsul e aos passageiros as generosas referências à sua pessoa; fora de fato uma grande provação, mas ele estava autorizado pelo capitão a anunciar o desejo expresso deste, de que se levassem a cabo todas as festividades do dia de Natal como se nada houvesse acontecido. Acrescentou, em confidência, que o capitão achava que o estado de espírito dos passageiros tinha-se tornado um tanto mórbido e todos haviam de lucrar se se divertissem bastante no dia de Natal. Depois levantou-se a senhora do missionário para dizer que eles não deviam pensar apenas em si mesmos; a Comissão de Diversões decidira armar um pinheiro de Natal para as crianças logo após o jantar da primeira classe e as crianças esperavam ver todos fantasiados; seria uma lástima decepcioná-las; ela não cedia a palma a ninguém no respeito aos mortos e simpatizava com todos aqueles cuja tristeza não os predispunha a dançar na ocasião; ela própria sentia o coração pesado, mas achava que seria mero egoísmo ceder a um sentimento que não podia trazer proveito a ninguém. Não esquecessem os pequeninos! Isto causou grande impressão nos passageiros. Desejavam esquecer o surdo terror que havia pairado sobre o navio durante tantos dias. Estavam vivos e queriam gozar a vida, mas pensavam, cheios de inquietude, que seria decente mostrar um certo pesar. O caso mudava de figura uma vez que podiam fazer o que desejavam por motivos altruísticos. Quando o cônsul pediu que se fizesse a votação, todos os presentes, salvo Mrs. Hamlyn e uma velha senhora que sofria de reumatismo, ergueram Avidamente o braço.
— Vencem os votos favoráveis disse ele. — Tomo a liberdade de dar os meus parabéns à assembleia por uma decisão muito sensata.
A reunião ia dispersar-se quando um plantador se pós em pé e disse que desejava apresentar uma sugestão. Não lhes parecia que nas circunstâncias seria mais justo convidar os passageiros de segunda classe? Todos eles tinham assistido ao serviço fúnebre naquela manhã. O missionário saltou da cadeira e apoiou a moção. Os acontecimentos daqueles últimos dias haviam aproximado a todos, disse ele, e em presença da morte todos os homens eram iguais. O cônsul tornou a dirigir a palavra à assembleia. O assunto fora discutido numa reunião anterior e chegara-se à conclusão de que seria mais agradável aos passageiros de segunda realizarem a sua festa à parte, mas as circunstâncias já não eram as mesmas e ele era positivamente de parecer que cumpria alterar a decisão anterior.
— Apoiado, apoiado! — disseram os passageiros.
Uma onda de sentimento democrático empolgou a todos e a moção foi aprovada por aclamação. Separaram-se desanuviados, sentindo-se o generosos e caritativos Todos pagaram drinks uns aos outros na sala de fumar.
E assim, nessa noite Mrs. Hamlyn pôs o seu traje de fantasia. Não tinha a menor disposição para uma noitada alegre e durante um momento pensou em alegar doença, mas sabia que ninguém lhe daria crédito e receou que a julgassem afetada. Fantasiou-se de Carmen e não pôde resistir à tentação vaidosa de fazer-se tão atraente quanto possível. Pintou os cílios e passou rouge nas faces. O costume ficava-lhe bem. Ao soar da trompa dirigiu-se para o salão e foi recebida com lisonjeiras exclamações de surpresa. O cônsul, sempre humorista, estava fantasiado de dançarina de balé. O seu aparecimento provocou gostosas gargalhadas. O missionário e a mulher, acanhados mas Satisfeitos consigo, estavam estupendos como manshus. Mrs. Linsell, de Colombina, mostrava tanto quanto possível as bonitas pernas. Seu marido era um xeque árabe e o médico, um sultão malaio.
Fizera-se uma subscrição para prover de champanha a mesa do jantar e este foi uma pândega. A companhia fornecera balas de estalo em que se encontravam barretes de papel de variadas formas, que os -passageiros puseram à cabeça. Atiravam-se serpentinas e jogavam balõezinhos de um lado ao Outro da sala. Riam e soltavam gritos. Estavam muito alegres. Ninguém poderia dizer que não se estavam divertindo. Assim que terminou o jantar passaram para o salão onde os aguardava o pinheiro de Natal, com as velas acesas. Trouxeram as crianças e estas receberam os seus presentes entre guinchos de prazer. Deu-se então início ao baile. Os passageiros da segunda classe rodeavam timidamente a parte do convés reservada aos dançadores e de quando em quando dançavam uns com os outros.
— Folgo em tê-los aqui — disse o cônsul, dançando com Mrs. Hamlyn. — Eu sou pela democracia e acho que eles mostram muito bom senso em não quererem misturar-se.
Mrs. Hamlyn, porém, deu pela falta de Pryce e na primeira oportunidade perguntou a um dos passageiros de segunda classe onde se achava ele.
— Curando a bebedeira — responderam-lhe. — Nós o pusemos na cama esta tarde e fechamos à chave a porta do camarote.
O cônsul convidou-a novamente para dançar. Estava muito faceto. De súbito Mrs. Hamlyn sentiu que já não podia suportar aquilo, a bulha da orquestra de amadores, as pilhérias do cônsul, a alegria dos dançadores. Não sabia por que motivo a jovialidade dessa gente que, dentro do seu navio, atravessava a noite e o mar solitário, a enchia de um repentino horror. Quando o cônsul lhe devolveu a liberdade ela esgueirou-se dali e, olhando para trás a fim de ver se ninguém dera pela sua retirada, subiu a escotilha para o.convés superior. Tudo ali estava envolto em trevas. Dirigiu-se de mansinho para um ponto em que estaria livre de intrusos, mas ouviu um riso abafado e lobrigou, a um canto escuro, uma colombina e um sultão malaio. Mrs. Linsell e o médico já haviam reatado o flerte que a morte de Gallagher viera interromper.
Toda essa gente já havia afastado do espírito, com uma espécie de ferocidade, a lembrança do pobre homem sem família que morrera entre eles de forma tão estranha. Não sentiam compaixão alguma dele, antes se ressentiam pelo momento de inquietude por sua causa. Agarravam-se à vida com avidez. Diziam piadas, namoravam, mexericavam. Mrs. Hamlyn lembrou-se do que tinha dito o cônsul: que entre os papéis de Mr. Gallagher não fora encontrada nenhuma carta, o nome de um só amigo a quem se pudesse enviar a notícia da sua morte, e não saberia dizer por que isso lhe parecia intoleravelmente trágico. Há qualquer coisa de misterioso num homem capaz de levar uma existência tão solitária neste mundo. Quando se lembrava de tê-lo visto embarcar em Singapura, havia tão pouco tempo ainda, tão saudável e robusto, tão cheio de vida, quando pensava nos seus intrépidos planos de futuro, era tomada de consternação. Terrificavam-na estas palavras do ofício fúnebre: "O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e cheio de inquietação. Surge e é cortado como a flor..." Ano após ano ele tinha feito os seus planos de futuro; tinha tamanho anseio de vida e tanta coisa para que viver... E justamente quando ia colher o fruto... Oh, aquilo era de cortar o coração; fazia parecer insignificantes todas as demais aflições deste mundo. A morte, com o seu mistério, era a única coisa de real importância.
Mrs. Hamlyn debruçou-se sobre a amurada e contemplou o céu estrelado. Por que os homens procuravam ser infelizes? Que chorassem a morte das criaturas amadas, pois a morte era sempre terrível, mas quanto ao resto, valia a pena tornar-se desgraçado, albergar no peito a maldade, ser vão e descaridoso? Pensou mais uma vez em si, no marido e na mulher a quem ele dedicava um amor tão inexplicável. Também ele dissera que nós temos muito pouco tempo para sermos felizes e que a morte dura uma eternidade. Mrs. Hamlyn refletiu longamente, concentradamente, e de súbito, como um relâmpago de verão que rasga as trevas da noite, fez uma descoberta que a encheu de trêmula surpresa: tinha visto que o seu coração já não abrigava nenhuma cólera contra o marido nem ciúme da sua rival. Em algum remoto horizonte da sua consciência foi nascendo uma ideia e, como o sol matinal, banhou-lhe a alma numa luz terna e bem-aventurada. Na tragédia da morte daquele irlandês desconhecido ela hauria exaltação e coragem para uma grande resolução. O seu coração começou a pulsar depressa; estava impaciente por levá-la a efeito. Um ímpeto apaixonado de sacrifício se havia apoderado dela.
A música cessara, estava findo o baile; a maioria dos passageiros devia ter ido para a cama e o resto estava sem dúvida na sala de fumar. Mrs. Hamley desceu para o seu camarote sem encontrar ninguém no caminho. Apanhou o bloco de papel e escreveu uma carta ao marido:
"Meu querido. Hoje é dia de Natal e quero dizer-te que o meu coração está cheio de bons sentimentos para com vocês dois. Fui muito tola e desrazoável. Creio que deveríamos deixar aqueles a quem amamos ser felizes como eles o entendem e amá-los o bastante para que isso não nos faça sofrer. Quero dizer-te que eu te concedo de bom grado essa ventura que de forma tão estranha surgiu na tua existência. Já não tenho ciúmes, não me sinto ofendida nem desejo vingar-me. Não julgues que eu seja infeliz ou que a solidão me seja muito pesada. Se um dia sentires necessidade de mim, volta para o meu lado e eu te acolherei com alegria, sem uma palavra de censura, sem a menor má vontade. Estou muito reconhecida pelos anos de felicidade e de ternura que me deste e em troca desejo oferecer-te uma afeição que não exige nada de ti e é, penso eu, absolutamente desinteressada. Guarda boas lembranças de mim e sê feliz, feliz, feliz..."
Assinou e pôs a carta num envelope. Embora ela só pudesse ser remetida quando chegassem a Port Said, fez questão de colocá-la imediatamente na caixa. Depois de fazê-lo começou a despir-se e olhou-se no espelho. Os seus olhos brilhavam e as faces tinham ganhado cor debaixo do rouge. O futuro já não lhe parecia desolado, mas róseo de esperança. Estendeu-se na cama e logo mergulhou num sono profundo e sem sonhos.
(Título original: P. & O.)
O posto avançado
O novo assistente chegou à tarde. Ao ser informado de que o prahu estava à vista, o residente, Sr. Warburton, pôs o capacete colonial e desceu até o cais flutuante. A guarda, composta de oito pequenos soldados daiaques, prestou-lhe continência à sua passagem. O residente notou com satisfação que exibiam aparência marcial, fardas asseadas e limpas, fuzis reluzentes. Eram o seu orgulho. Do cais podia observar a curva do rio, onde o barco ia aparecer dentro de um momento. Com as calças de linho irrepreensivelmente limpas, os sapatos brancos, sobraçando uma bengala de Malaca de castão dourado, presente do sultão de Perak, tinha um aspecto de real elegância. Aguardava o novo companheiro com sentimentos contraditórios. O distrito decerto dava trabalho demais para um homem só, e nas inspeções periódicas à região a seu cargo notara a inconveniência de deixar o posto nas mãos de um funcionário nativo; mas, como tinha sido ali por muito tempo o único homem branco, não podia encarar a chegada de outro sem certa desconfiança. Estava habituado à solidão. Durante a guerra não vira uma cara inglesa num período de três anos. Convidado certa vez a alojar um inspetor de plantações, sentiu-se tomado de pânico, e, no dia em que o forasteiro devia chegar, depois de ter preparado tudo para o acolher escreveu-lhe uma nota comunicando que fora obrigado a partir rio acima; fugiu e ficou fora até ser informado por um mensageiro de que o hóspede havia partido.
O prahu apareceu no trecho largo do rio. Tripulavam-no prisioneiros indígenas, condenados a diversas penas, e que dois guardas esperavam no cais para voltar com eles ao cárcere. Eram uns camaradas robustos, práticos do rio, que remavam num ritmo poderoso. Quando o barco atingiu a costa, um homem saiu de sob o toldo de folhas de palmeira e saltou na praia. A guarda apresentou armas.
— Afinal chegamos. Palavra de honra, estou machucado como todos os diabos! Trouxe-lhe sua correspondência.
Falava com exuberante jovialidade. O Sr. Warburton estendeu-lhe polidamente a mão:
— O Sr. Cooper, não é?
— Ele mesmo. Será que esperava outra pessoa?
Havia na pergunta um intuito faceiro, mas o residente não sorriu:
— Meu nome é Warburton. Vou-lhe mostrar sua residência. Eles vão levar sua mochila.
Tomando a frente a Cooper na vereda estreita, conduziu-o a um cercado com um pequeno bangalô no meio:
— Procurei torná-lo tão habitável quanto possível;; deve fazer uma porção de anos que ninguém mora mais aqui.
A casa, construída sobre estacas, consistia numa longa sala que dava para uma varanda larga; atrás, nos dois lados de um corredor, havia dois quartos de dormir.
— Isto me serve perfeitamente — disse Cooper. — Calculo que deseja tomar um banho e mudar de roupa. Terei muitíssimo prazer se quiser jantar comigo esta noite. As oito horas, está bem?
— Para mim, tanto faz esta ou aquela hora. Com um sorriso cortês, mas levemente embaraçado, o residente retirou-se. Voltou ao Fortim, onde ficava a sua própria morada. A impressão que lhe dera Allen Cooper não fora muito favorável; mas, homem direito, sabia ser injusto formular uma opinião depois de encontro tão rápido. O assistente parecia ter trinta anos; alto e magro, de rosto pálido, onde não se distinguia nem uma manchinha de cor, um rosto todo num único tom. Tinha o nariz grande e arqueado e olhos azuis. Quando, ao entrar no bangalô, retirou o capacete e o atirou a um criado, o Sr. Warburton observou que o seu crânio grande, coberto de cabelos castanhos cortados rente, contrastava de modo estranho com a pele fraca e fina. Usava um short cáqui e uma camisa da mesma cor, ambos coçados e sujos, e um capacete surrado que não recebia limpeza havia vários dias. Mas o Sr. Warburton lembrou-se de que o moço acabara de passar uma semana num navio de cabotagem e as últimas quarenta e oito horas no fundo de um prahu!
— "Veremos o aspecto que ele tem na hora do jantar." Entrou no próprio quarto, onde as suas coisas estavam dispostas com tanta ordem como se tivesse um camareiro inglês, despiu-se e, descendo pelas escadas à barraca de banho, tomou um banho de chuveiro frio. A concessão que fazia ao clima consistia apenas em usar smoking branco; quanto ao resto, vestia com tanto cuidado como se jantasse no seu clube de Pall Mall, camisa engomada e colarinho alto, meias de seda e sapatos envernizados. Hospedeiro atento, foi à sala de jantar ver se a mesa estava posta convenientemente. Alegravam-na umas orquídeas, a prataria brilhava, os guardanapos estavam dobrados em formas estudadas, velas matizadas espalhavam um luz suave do alto de candelabros de prata. O Sr. Warburton sorriu aprobativamente e voltou ao salão para esperar o hóspede. Cooper chegou. Estava ainda com o short cáqui, a camisa cáqui e o paletó surrado com que saltara. O sorriso de saudação gelou-se no rosto do residente.
— Olá, você está de uma elegância) — disse Cooper. Não sabia que você ia fazer isso. Imagine que quase botei um sarong.
— Não tem a menor importância. Suponho que seus criados estavam muito ocupados.
— Não era necessário incomodar-se e vestir-se por minha causa.
— Não foi por sua causa. Visto-me sempre para o jantar. — Mesmo quando está sozinho?
— Especialmente quando estou sozinho — replicou o Sr. Warburton fitando-o tom frieza.
Surpreendendo uma cintilação maliciosa nos olhos de Cooper, enrubesceu, zangado. O Sr. Warburton era homem de temperamento ardente, como o revelava o rosto vermelho de feições marciais e os cabelos ruivos, agora já meio brancos; os olhos azuis, observadores e geralmente frios, sabiam fuzilar num acesso de ira. Mas era homem de sociedade e, pelo menos assim pensava, homem justo. Devia fazer o possível para se dar com aquele rapaz.
— Quando eu vivia em Londres, frequentava círculos em que não se vestir para o jantar cada noite seria tão extravagante como não se lavar cada manhã. Quando cheguei a Bornéu, não vi nenhum motivo para abandonar um hábito tão bom. Na época da guerra, durante três anos não vi um único homem branco" Nem por isso deixei de vestir-me uma única vez sequer, desde que me sentisse bastante bem disposto para ir jantar. Você não passou ainda muito tempo nesta terra; creia-me, não há meio melhor para a gente manter a confiança em si próprio, de que necessita. Quando um branco cede, por menos que seja, às influências que o rodeiam, em breve perde o respeito de si mesmo, e uma vez que perdeu o respeito de si mesmo, pode estar certo de que os nativos também não demorarão em faltar-lhe com o respeito.
— Bem, se você espera que com este calor eu ponha camisa engomada e colarinho duro, receio causar-lhe uma desilusão.
— Quando você jantar em seu próprio bangalô, vestirá naturalmente como bem entender; mas quando me der o prazer de jantar comigo, talvez acabe admitindo que não é excessiva cortesia usar o traje habitual na sociedade civilizada.
Dois criados malaios, de sarong e songkok, de lindos paletós brancos e botões de bronze, entrara um trazendo pahits de gim, outro uma bandeja com azeitona e enchovas. O Sr. Warburton lisonjeava-se com ideia de ter o melhor cozinheiro de Bornéu, um chinês, e dava-se muito incômodo para arranjar a melhor comida possível nas difíceis condições do lugar. Punha em prática muita habilidade para fazer o melhor uso dos seus materiais.
— Não quer examinar o menu? — perguntou, oferecendo-o a Cooper.
O cardápio estava escrito em francês e os pratos tinham nomes sonoros. O serviço era feito pelos dois criados. Em cantos opostos da sala dois outros agitavam imensos leques, pondo em movimento o ar abafado. A comida era suntuosa, o champanha excelente.
— Janta assim todos os dias? — perguntou Cooper. O Sr. Warburton deitou um olhar negligente ao menu. — Não notei que o jantar fosse diferente do costumeiro — disse. — Por mim, como muito pouco, mas faço questão de que me sirvam um jantar decente todas as noites. Assim o cozinheiro não perde a prática e é uma ótima disciplina para os criados.
A conversa arrastava-se. O Sr. Warburton era de uma cortesia esmerada, e talvez achasse um prazer algo malicioso em observar o encabulamento que isto causava ao seu companheiro. Cooper passara apenas poucos meses em Sembulu, e o Sr. Warburton não tardou a esgotar todas as perguntas sobre amigos que tinha em Kuala Solor.
— A propósito — recomeçou — não encontrou um rapaz chamado Hennerley? Deve ter chegado há pouco.
— Encontrei, sim. Está na polícia. É um sujeito muito ordinário.
— Nunca teria pensado que ele fosse isto. Seu tio é meu amigo Lord Barraclough. Ainda outro dia tive uma carta de Lady Barraclough pedindo-me que tomasse conta dele.
— Realmente, ouvi dizer que ele é aparentado com este ou com aquele. Suponho que foi assim que obteve o emprego. Ele esteve em Eton e Oxford, e não se esquece de fazê-lo saber . a todos.
— Você me surpreende — disse o Sr. Warburton. — Toda a família dele esteve em Eton e Oxford durante centenas de anos. Para mim, ele devia considerar isto uma coisa natural.
— Pois é um pedante danado. — Você, qual foi a escola que frequentou? — Eu nasci em Barbado. Formei-me lá. — Estou vendo. O Sr. Warburton conseguiu dar a essa breve resposta um caráter tão ofensivo, que Cooper corou e ficou um momento sem falar.
— Pois eu recebi duas ou três cartas de Kuala Solor — continuou o Sr. Warburton — e tinha a impressão de que o jovem Hennerley fizera muito sucesso. Dizem que é sportsman de primeira ordem.
— Ah, sim, é muito popular. É exatamente o camarada de que eles precisavam em K. S. Por mim, não tenho esse sportsman de primeira ordem em grande estima. Afinal de contas, que importa que um homem saiba jogar golfe ou tênis melhor do que os outros? Mesmo que no bilhar saiba fazer um furo de setenta e cinco, que é que tem? Eles lá na Inglaterra dão uma importância danada a essa besteira toda.
— Você acha? Pois eu tinha a impressão de que o sportsman de primeira ordem não se saíra da guerra pior do que outro qualquer.
— Se você toca em guerra, aí é que eu sei de que estou falando. Servi no mesmo regimento que Hennerley e posso dizer-lhe que os seus homens não podiam aturá-lo de maneira nenhuma.
— Como pode saber?
— Pois se eu mesmo fui um desses homens!
— Ah, você não teve patente?
— Muita oportunidade tive de ter patente. Eu era o que se chamava colonial. Não tinha estado em nenhuma public school e faltava-me pistolão. Todo o tempo daquela guerra dos diabos, passei nas fileiras!
Cooper franziu as sobrancelhas. Percebia-se-lhe nitidamente o esforço para não explodir em invectivas. O Sr. Warburton observava-o, apertando os olhinhos azuis, observava-o e julgava-o. Mudando de assunto, pôs-se a falar-lhe da tarefa que devia executar, e, quando o relógio bateu dez horas, levantou-se:
— Bem, não quero retê-lo mais tempo. Deve estar cansado da viagem.
Apertaram-se as mãos. — Ah! já me ia esquecendo. Escute — disse Cooper. — Talvez você me possa arranjar um criado. Aquele que eu tinha não apareceu mais desde que parti de K. S. Depois de levar para bordo a minha mochila e tudo mais, desapareceu. Só dei pela falta dele quando já descíamos o rio.
— Vou falar com meu mordomo. Sem a menor dúvida, encontrará alguém para você.
— Muito bem. Diga-lhe que me mande o rapaz, e se eu gostar da cara dele, topo.
A lua estava no céu, de modo que não se precisava de lanterna. Cooper saiu do Fortim e dirigiu-se ao seu bangalô.
— "Quero saber por que diabo eles me mandaram um camarada desses — refletia Warburton. — Se é essa a espécie de gente que eles nos vão mandar de agora em diante, estamos bem arranjados."
Foi dar um passeio no jardim. O Fortim estava construído no topo de um pequeno morro e o jardim descia até à margem do rio, onde havia um caramanchão. O residente costumava ir até lá depois do jantar, fumar o seu charuto. Mais de uma vez, do rio que lhe corria aos pés subia uma voz, a voz de algum malaio demasiado tímido para se aventurar a manifestar-se à luz do dia, e uma acusação ou uma queixa lhe chegava docemente aos ouvidos, uma informação ou um palpite útil, que de outra maneira nunca viria ao seu conhecimento, eram-lhe comunicados num sussurro. Jogou-se com todo o peso do corpo numa cadeira de rotim. Cooper! Um camarada invejoso, malcriado, intrometido, cheio de vaidade, convencido. Mas a irritação do Sr. Warburton não pôde resistir à silenciosa beleza da noite. O ar recendia às flores de doce perfume de uma árvore plantada à entrada do caramanchão; os vaga-lumes prosseguiam seu voo lento e prateado, cintilando com branda luz. A Lua desenhava na largo rio um caminho para os leves pés da noiva de Siva, e na margem oposta uma fila de palmeiras recortava sobre o céu sua delgada silhueta. A paz infiltrou-se na alma do Sr. Warburton.
Era uma criatura original, e tivera uma carreira bastante fora do comum. Aos vinte e um anos herdara considerável fortuna, de umas cem mil libras, e ao deixar Oxford atirara-se à vida alegre que nesse tempo (agora o Sr. Warburton tinha quarenta e cinco anos) se oferecia ao filho de uma boa família. Tinha seu apartamento em Mount Street, seu coche e, em Warwickshire, seu pavilhão de caça. Ia a todos os pontos de reunião da alta sociedade. Bonito, divertido e generoso, era uma figura da sociedade londrina do começo do século, quando ela ainda não perdera nem o exclusivismo nem o brilho. A guerra dos bôers, que a sacudira, já estava esquecida; a guerra mundial, que devia destruí-la, era profetizada apenas pelos pessimistas. Não era coisa desagradável ser um jovem rico naqueles dias, e durante a estação via-se sobre a lareira de Warburton um mundo de convites para saraus ininterruptos. Warburton exibia-os com certa satisfação, pois era um esnobe. Não um esnobe tímido, um pouco envergonhado de se deixar impressionar pelos seus superiores, nem um esnobe que procurasse a intimidade de pessoas que se houvessem tornado famosas na política ou nas artes, nem o esnobe deslumbrado pela riqueza; era o esnobe comum, simples e inadulterado, apaixonado por qualquer lorde. Melindroso e de gênio vivo, preferiria a repreensão de uma pessoa de qualidade à lisonja de um plebeu. Seu nome tinha um lugar insignificante no Peerage de Burke, e era divertidíssimo observar com que ingenuidade costumava lembrar o longínquo parentesco que o ligava à família nobre a que pertencia; entretanto, nunca disse palavra a respeito do honesto industrial de Liverpool a quem, por intermédio de sua mãe, Gubbins em solteira, devia a sua fortuna. Constituía o pesadelo de sua vida elegante pensar que em Cowes, por exemplo, ou em Ascot, enquanto conversasse com uma duquesa ou um príncipe de sangue real, um de seus parentes de Liverpool poderia querer vir conhecê-lo.
Essa fraqueza era tão óbvia que não tardaria a tornar-se notória, mas a sua extravagância salvou-a de ser simplesmente desprezível. Os :grandes que ele adorava riam dele, mas no íntimo do ser achavam tal adoração bastante natural. Pobre Warburton era um esnobe terrível, sem dúvida, mas afinal de contas não deixava de ser um ótimo camarada. Sempre estava pronto a endossar uma letra para um fidalgo sem dinheiro, e em caso de aperto a gente podia sempre contar com ele para uma centena de libras. Dava bons jantares. Jogava mal o whist, mas não se importava com o que perdia, contanto que a companhia fosse seleta. Jogador, sim, por sinal jogador infeliz, mas sabia perder, e era impossível não admirar a calma com que perdia de uma assentada quinhentas libras. A paixão das cartas, quase tão forte como a paixão dos títulos, arruinava-o. Levava uma vida dispendiosa, e suas perdas no jogo eram enormes. Porém as mais pesadas teve-as em: corridas e na Bolsa. Tinha certa simplicidade de caráter. e parceiros inescrupulosos encontravam nele uma presa ingênua. Não sei se chegou a compreender que seus amigos elegantes riam dele pelas costas, mas penso que um instinto obscuro lhe dizia que devia mostrar-se invariavelmente despreocupado de seus interesses. Caiu nas mãos de prestamistas. Aos trinta e quatro anos estava arruinado.
Demasiadamente imbuído do espírito de sua classe, não hesitou na escolha do que devia fazer. Quando a um homem de sua situação se esgotavam todos os recursos, ele ia para as colônias. Ninguém ouviu um lamento sequer do Sr. Warburton. Não se queixou por lhe haver um de seus amigos nobres aconselhado uma especulação desastrosa, não importunou a nenhum de seus devedores para lhe devolverem o dinheiro emprestado; pagou as suas dívidas (nisto foi o sangue menosprezado do fabricante de Liverpool que se manifestou, mas felizmente Warburton nem o suspeitava), não pediu ajuda a ninguém e, sem nunca ter feito qualquer trabalho, procurou um meio de vida. Permanecia alegre, indiferente e cheio de humor. Não seria ele que havia de incomodar fosse quem fosse com o relato de seus infortúnios. O Sr. Warburton era um esnobe, mas era também um gentleman.
O único favor que pediu a um dos grandes amigos com quem diariamente convivera durante vários anos foi uma recomendação. O sábio homem, que então era sultão de Sembulu, chamou-o a seu serviço. Na véspera de partir, foi jantar no clube pela última vez.
— Ouvi dizer que você vai embora, Warburton — disse-lhe o velho Duque de Hereford.
— É verdade. Parto para Bornéu. — Deus do Céu! Que é que você vai fazer lá? Oh, estou arrebentado... — Está mesmo? Pois sinto muito. De qualquer maneira, avise-nos quando voltar. Estimo que passe uma boa temporada.
— Sem dúvida. Caça não falta por lá.
O duque inclinou a cabeça e passou para outra mesa. Poucas horas depois o Sr. Warburton via a costa da Inglaterra desaparecer na névoa e deixava atrás de si — tudo o que, a seu ver, fazia a vida digna de ser vivida.
Haviam decorrido vinte anos. Ele mantinha animada correspondência com várias grandes damas, e suas cartas eram loquazes e divertidas. Nunca perdeu a paixão pelas pessoas de título; lia atentamente o noticiário do Times (que lhe chegava com seis semanas de atraso) sobre as idas e vindas dessa gente. Estudava a fundo a página consagrada aos nascimentos, falecimentos e enlaces, e nunca deixava de enviar a sua carta de parabéns ou de pêsames. Os jornais ilustrados informavam-no acerca do aspecto das pessoas, e, por ocasião de suas visitas periódicas à Inglaterra, quando retomava as suas relações como, se nunca se tivessem interrompido, informava-se a respeito de qualquer figura nova que aparecesse à tona da sociedade. O seu interesse pelas altas rodas continuava tão vivo como quando ele fazia parte delas. Continuava a achá-la a única coisa importante do mundo.
Insensivelmente, porém, outro interesse entrara na sua vida. A posição em que se encontrava lisonjeava-lhe a vaidade. Já não era o sicofanta que suspirava por um sorriso dos grandes, mas um senhor cuja palavra tinha força de lei. Gostava da guarda de soldados daiaques que apresentavam as armas quando ele passava; da possibilidade que tinha de julgar seus próximos; da faculdade de compor as desavenças de chefes rivais. Quando, já fazia tempo, os caçadores de, cabeças se haviam tornado incômodos, partira para castigá-los, não sem um estremecimento de orgulho. A vaidade extrema inspirava-lhe uma coragem intrépida, e corria uma história bonita sobre a maneira como entrara, de sangue frio, sozinho, numa aldeia fortificada de paliçadas, para reclamar a entrega de um pirata sedento de sangue. Tornara-se um administrador hábil; era severo, justo e honesto.
Aos poucos foi concebendo afeição profunda aos malaios. Interessou-se pelos seus costumes e hábitos. Não se cansava de ouvir-lhes a palestra, admirava-lhes as virtudes e perdoava-lhes os vícios com um sorriso e um encolher de ombros.
— No meu tempo — dizia — tive relações íntimas com alguns dos maiores gentlemen da Inglaterra, mas nunca encontrei gentlemen mais finos do que alguns malaios de honrosa descendência a quem sinto orgulho em chamar meus amigos.
Admirava a cortesia e as maneiras distintas dos indígenas, sua delicadeza e suas paixões rápidas. O instinto lhe ensinava exatamente como tratá-los. Tinha para com eles verdadeira ternura. Jamais esquecia, porém, que era um gentleman inglês, e não tinha indulgência com os brancos que adotavam costumes nativos. Incapaz de concessões, não imitou o exemplo de tantos outros brancos que se casavam com mulheres malaias, porque uma ligação de tal natureza, embora consagrada pelo uso, parecia-lhe falta não somente de bom gosto como também de dignidade. Um homem a quem Alberto Eduardo, príncipe de Gales, chamara de Jorge, não podia ter ligação de qualquer espécie com nativos.
Mas ultimamente, ao voltar a Bornéu, de suas visitas à Inglaterra, sentia uma espécie de alívio. Seus amigos, como ele mesmo, já não eram jovens, e havia uma geração nova que o considerava um velho cavalheiro enfadonho. Tinha a impressão de que a Inglaterra de hoje perdera grande parte do que ele amara na Inglaterra de sua mocidade. Mas Bornéu permanecia o mesmo. Era agora a sua pátria. Tencionava servir o maior tempo possível, e no íntimo do coração esperava morrer antes de ser forçado a retirar-se. Determinou, aliás, no seu testamento, que, morresse onde morresse, lhe trouxessem o corpo a Sembulu para enterrá-lo no meio daquele povo a quem amava, perto do murmúrio do rio que corria suavemente.
Mas estas emoções guardava-as bem escondidas aos olhos dos homens; e ninguém, vendo-o tão guapo, vigoroso e bem disposto, o rosto forte e bem barbeado e os cabelos branquejantes, podia-lhe suspeitar um sentimento tão profundo.
Sabia como o serviço do posto tinha de ser feito, e durante os dias seguintes acompanhou o assistente com olhos suspeitosos. Logo, porém, se convenceu de que era consciencioso e competente. A única falha que nele achava eram suas maneiras bruscas para com os nativos.
— Os malaios são ariscos e muito sensíveis — disse-lhe. — Penso que acabará persuadindo-se que a gente obtém resultados muito melhores se procura ser sempre cortês, paciente e bondoso.
Cooper soltou um riso curto e áspero: — Nasci em Barbados e fiz a guerra na África. Acho que há pouca coisa relativa aos negros que eu não saiba.
— Por mim, eu não sei nada — respondeu o Sr. Warburton, azedo. — Mas não é deles que estamos falando. Estamos falando de malaios.
— Será que eles não são negros? — Você é muito ignorante — respondeu o Sr. Warburton. E não disse mais nada. No primeiro domingo depois da chegada de Cooper, convidou-o para o jantar. Fazia tudo cerimoniosamente, e, embora na véspera se houvessem encontrado no escritório e depois, às seis horas, bebido juntos, na varanda do Fortim, gim e tônicos, mandou-lhe ao bangalô, por um criado, um convite polido. Cooper, se bem que de má vontade, veio de smoking, e o Sr. Warburton, conquanto satisfeito de ver atendido o seu desejo, observou com desdém que a roupa do jovem estava mal cortada e que a camisa não lhe assentava bem. Mas o residente estava de bom humor naquela noite.
— A propósito — disse-lhe ao apertar-lhe a mão. — Falei com o meu mordomo para que lhe arranjasse um criado, e ele recomendou o sobrinho. Vi-o e tenho a impressão de que é um rapaz vivo e de boa vontade. Deseja vê-lo?
— Tanto faz.
— Ele está esperando. O Sr. Warburton fez vir o seu mordomo e mandou-o chamar o sobrinho. Ao cabo de um momento apareceu um rapaz alto e esbelto, dos seus vinte anos. Tinha os olhos grandes e escuros e um bom perfil, ótima aparência no seu sarong, um pequeno casaco branco e um fez sem borla, de veludo cor de ameixa. Atendia pelo nome de Abas. O Sr. Warburton fitou-o com aprovação, e, à medida que lhe falava, num malaio fluente e correto, o seu tom insensivelmente se foi abrandando. Tinha certa inclinação para o sarcasmo nas relações com gente branca, mas com os malaios exibia uma feliz mistura de condescendência e gentileza. Estava no lugar do sultão. Sabia perfeitamente como devia preservar a sua própria dignidade e, ao mesmo tempo, como por um nativo à vontade.
— Serve? — perguntou o Sr. Warburton, voltando-se para Cooper.
— Serve. Isto é, não me parece mais patife do que qualquer outro dos seus patrícios.
O Sr. Warburton informou o rapaz que estava admitido e mandou-o embora.
— Você tem muita sorte em encontrar um criado destes — disse a Cooper. — Pertence a uma família muito boa, que veio de Malaca há perto de cem anos.
— Pouco me importa o criado que me limpa os sapatos e me traz uma bebida quando quero tenha ou não sangue azul nas veias. Só exijo é que faça o que eu lhe digo e cuide da sua tarefa.
O Sr. Warburton mordeu os beiços, mas não respondeu.
Foram jantar. A comida era excelente, o vinho bom. Graças à influência destes os dois conversaram não somente sem acrimônia, mas até com amizade. O Sr. Warburton gostava de tratar-se bem, e adotara o hábito de na noite de domingo tratar-se ainda um pouco melhor. Começou a pensar que não procedera bem com Cooper. Evidentemente, não era um gentleman, mas disso não tinha culpa, e conhecendo-o melhor a gente podia até descobrir que era um ótimo sujeito. Suas falhas, afinal de contas, deviam ser falta de educação. Inegavelmente fazia bem o seu serviço, era um trabalhador rápido, consciencioso e competente. Quando chegaram à sobremesa, o Sr. Warburton estava em boa disposição para com toda a humanidade.
— Como é o seu primeiro domingo aqui, vou-lhe dar um porto muito especial. Restam-me apenas umas duas dúzias de garrafas, e guardo-as para ocasiões especiais:
Deu instruções ao mordomo e em breve a garrafa chegou. Enquanto a abria, o Sr. Warburton observou o rapaz:
— Recebi este porto de meu velho amigo Charles Hollington. Ele o conservou durante uns quarenta anos, e já faz tempo que eu o conservo aqui. Era conhecido como dono da melhor adega da Inglaterra.
— É um vendedor de vinhos? — Não exatamente — sorriu o Sr. Warburton. — Estava falando de Lorde Hollington de Castle Reagh. É um dos pares mais ricos da Inglaterra. Um velho amigo com quem me dou muito. Estive em Eton com o irmão dele.
Era uma oportunidade a que o Sr. Warburton nunca sabia resistir, e logo contou uma pequena anedota cuja graça única parecia consistir no fato de ele haver conhecido um lorde. O porto, era ótimo sem dúvida alguma; bebeu um copo, depois mais um. Perdia toda a precaução. Havia meses que não falava com um branco. Começou a contar histórias, nas quais aparecia em companhia dos grandes. Ouvindo-o, a gente pensaria que em certa época se formavam os gabinetes e se decidia a política de acordo com a sugestão que ele soprava ao ouvido de uma duquesa ou atirava à mesa para ser adotada com gratidão por um conselheiro confidencial do soberano. Os dias de outrora, de Ascot, Goodwood e Cowes, reviviam. Mais um porto. E vinham os grandes saraus de Yorkshire e da Escócia, por onde ele andara todos os anos.
— Eu tinha então um camareiro, certo Foreman, o melhor dos que já me serviram. Sabe por que me deixou? Na sala do mordomo, as criadas das senhoras e os criados dos gentlemen sentam-se conforme a hierarquia de seus amos. Pois ele disse-me que estava farto de assistir a contínuos saraus em que eu era o único plebeu. É que ele tinha sempre de ficar na extremidade da mesa, e quando o prato lhe chegava os melhores bocados já se tinham sumido. Contei esta história ao velho Duque de Hereford, e ele riu muito. — "Por Deus — disse — se eu fosse rei da Inglaterra, nomearia você visconde somente para dar uma oportunidade ao seu criado." — "Senhor Duque — respondi — empregue-o no seu serviço. o melhor camareiro que eu já tive." — "Está certo, Warburton — concordou ele — se serve para você, deve servir para mim também. Mande-o um dia destes."
Depois vinha Monte Carlo, onde o Sr. Warburton e o grão-duque Fiodor, jogando de parceria, rebentaram a banca uma noite; e depois Marienbad. Em Marienbad o Sr. Warburton jogara bacará com Eduardo VII.
— É claro, nesse tempo ele era apenas príncipe de Gales. Parece-me que o estou ouvindo dizer-me: "Jorge, se você jogar no cinco, perderá até a camisa." Tinha razão. Penso até que ele nunca disse nada mais certo em toda a sua vida. Era um homem admirável. Eu sempre digo que era o maior diplomata da Europa. Mas naqueles dias eu não passava de um jovem maluco, não tinha juízo para seguir esse conselho. Se o tivesse feito, se nunca tivesse jogado no cinco, talvez não estivesse aqui hoje."
Cooper observava-o. Seus olhos castanhos, profundamente encaixilhados nas órbitas, tinham um olhar duro e arrogante, e nos lábios havia um sorriso de escárnio. Ouvira falar bastante acerca do Sr. Warburton em Kuala Solor. Era boa praça, sem dúvida, e percorria o seu distrito com a pontualidade de um relógio. Mas que esnobe, meu Deus! Riam dele sem malícia, pois era impossível não gostar de homem tão generoso e amável. Cooper já tinha ouvido a história do Príncipe de Gales e da partida de bacará. Mas escutava-o sem indulgência. Desde o começo ficara ressentido com as maneiras do residente.
Muito sensível, molestava-o o sarcasmo cortês do Sr. Warburton, bem como o seu jeito de acolher uma observação de que discordava com silêncio aniquilador. Cooper vivera pouco na Inglaterra, e tinha particular aversão aos ingleses. Detestava particularmente os ex-alunos das public schools, da parte dos quais sempre receava uma atitude protetora. Temia de tal maneira as pessoas que pudessem dar-se ares importantes com ele, que, para preveni-las, ele mesmo se deu primeiro tais ares que o fizeram passar por insuportavelmente presumido.
— Bem — disse afinal — de qualquer maneira a guerra nos fez um benefício: esfacelou o poder da aristocracia. A guerra dos bôers o fez estremecer, e 1914 acabou com ele.
— De fato, as grandes famílias da Inglaterra estão condenadas à morte — disse o Sr. Warburton com a complacente melancolia de um émigré que lembrasse a corte de Luís XV. — Já não tem recursos para viver nos seus esplêndidos palácios, e sua hospitalidade principesca daqui a pouco será apenas uma recordação.
— O que, para mim, é a coisa mais certa do mundo.
— Meu pobre Cooper, que pode saber você das glórias da Grécia e do esplendor de Roma?
O Sr.. Warburton esboçou um gesto largo. Por um instante seus olhos pareceram sonhadores, cheios de uma visão do passado.
Pois acredite que estamos fartos de toda esta podridão. O que a gente quer é um governo de negócios, com homens de negócios. Eu nasci numa colônia da Coroa, e praticamente passei toda a minha vida nas colônias. Não dou uma dúzia de alfinetes por um lorde. O que estraga a Inglaterra, é o esnobismo. E se há uma coisa que eu detesto neste mundo é um esnobe.
Um esnobe! O rosto do Sr. Warburton ruborizou-se; os olhos fuzilaram-lhe de raiva. Era a palavra que o perseguira durante a vida toda. As grandes damas cuja companhia desfrutava quando moço, embora não considerassem excessiva a conta em que ele as tinha, haviam-lhe atirado mais de uma vez — até às grandes damas acontece ficarem zangadas — essa palavra terrível. Sabia, não podia deixar de saber, que havia gente odiosa que o chamava esnobe. Como aquilo. era incorreto! Pois ele mesmo não conhecia defeito mais detestável que o esnobismo. Afinal de contas, gostava era de viver com gente da sua laia, não se sentia bem senão na companhia deles; mas, pelo amor de Deus, como é que alguém podia chamar a isso de esnobismo? Não eram aves da mesma plumagem?
— Estou perfeitamente de acordo com você — respondeu. — Um esnobe é um homem que admira ou menospreza outro por ser este outro de situação social mais elevada que a dele. É o defeito mais comum da classe média inglesa.
Percebeu nos olhos de Cooper uma centelha de malícia. O assistente levou a mão à boca para esconder um sorriso largo que lhe aflorava aos lábios, tornando-o assim bem mais perceptível. As mãos do Sr. Warburton tremiam um pouco.
Provavelmente Cooper nunca soube quão gravemente ofendera o seu chefe. Embora fosse ele mesmo muito sensível, mostrava estranha insensibilidade aos sentimentos dos outros.
O serviço forçava-os a se encontrarem de vez em quando durante o dia, e às seis horas reuniam-se para beber um copo na varanda do Sr. Warburton. Era um hábito já estabelecido na região, e que o Sr. Warburton não quebraria por nada neste mundo. Mas faziam as refeições separados, Cooper no seu bangalô e o Sr. Warburton no Fortim. Terminado o trabalho no escritório, iam passear até o cair da noite, mas passeavam separados. Havia poucas veredas na região, onde o mato cingia por todos os lados as plantações da aldeia, e quando o Sr. Warburton via, de longe, o seu assistente caminhar a passos largos e negligentes, preferia dar um rodeio a encontrá-lo. Cooper, com a sua falta de maneiras, com a alta opinião que tinha de seu próprio juízo e com a sua intolerância, acabara por enervá-lo; mas somente depois de ele já haver passado alguns meses no posto é que se deu um incidente que transformou a antipatia do residente em vivo ódio.
O Sr. Warburton foi obrigado a fazer uma viagem de inspeção, e deixou o posto ao cargo de Cooper com mais confiança, visto que se convencera definitivamente de que se tratava de um camarada competente. Só não gostava da sua falta de indulgência. Era honesto, justo e consciencioso, mas não tinha simpatia para com os nativos. O Sr. Warburton divertia-se com certa amargura ao ver que esse homem, que se considerava a si mesmo como igual a qualquer outro, considerava tantos outros homens como inferiores a ele. Era duro, não tinha paciência com a mentalidade indígena e aterrorizava. Não tardou o Sr. Warburton a notar que os malaios antipatizavam com ele e, ao mesmo tempo, o temiam. Isto não lhe desagradava de todo, pois não gostaria muito que a popularidade do seu assistente rivalizasse com a sua.
O residente fez, pois, os seus requintados preparativos, partiu para a expedição e voltou ao cabo de três semanas. Entretanto o correio tinha chegado. A primeira coisa que lhe feriu os olhos ao entrar em seu salão foi um monte de jornais abertos. Cooper, que fora ao seu encontro, entrou com ele. O Sr. Warburton voltou-se para um dos criados que tinham ficado atrás e perguntou-lhe severamente o que queriam dizer aqueles jornais abertos. Cooper apressou-se em dar uma explicação:
— Queria ler tudo sobre o assassinato de Wolverhampton, e por isso apossei-me de seus Times. Trouxe todos de volta. Sabia que não se importaria com isso.
O Sr. Warburton virou-se para ele, branco de raiva: — Pois eu me importo. Importo-me até muito.
— Então sinto muito — disse Cooper com compostura. — Mas o fato é que simplesmente não pude esperar até sua volta.
— Admira-me que não tenha também aberto as minhas cartas.
Cooper, imóvel, sorria da exasperação do chefe: — Vamos e venhamos, não é exatamente a mesma coisa. Afinal de contas eu não podia imaginar que você se importaria que eu olhasse seus jornais. Eles nada contêm de particular.
— Pois eu acho inconvenientíssimo que qualquer pessoa leia meus jornais antes de mim.
Aproximou-se do monte de jornais; havia uns trinta números no mínimo:
— Acho a sua conduta simplesmente impertinente. Estão todos misturados.
— É facílimo pô-los em ordem — ponderou Cooper. E acompanhou-o à escrivaninha.
— Não toque neles! — gritou o Sr. Warburton.
— Parece-me infantil fazer uma cena por uma coisa à toa como esta.
— Como se atreve a falar-me assim?
— Vá para o inferno! — disse Cooper.
E saiu bruscamente da sala. O Sr. Warburton, tremendo de raiva, ficou contemplando seus jornais. O maior prazer de sua vida fora destruído por aquelas mãos calosas e grosseiras. A maior parte das pessoas que vivem fora dos centros, quando o correio chega, rasgam com impaciência o invólucro dos seus jornais e, tomando os mais recentes, começam por percorrer as últimas notícias do país. Não era este o caso do Sr. Warburton. O seu jornaleiro tinha ordem de escrever na cinta de cada número a respectiva data. Ao chegar o pacote, o Sr. Warburton olhava para estas datas e numerava os exemplares com seu lápis azul. O mordomo, por sua vez, tinha ordem de por na varanda um exemplar todas as manhãs, com a taça de chá, e era para o Sr. Warburton um especial prazer rasgar a cinta enquanto servia a bebida, e ler o matutino. Dava-lhe isto a impressão de viver na Inglaterra. Cada segunda-feira lia o Times da segunda-feira de seis semanas atrás, e assim por diante a semana inteira. Nos domingos lia The Observer. Tal como o seu hábito de vestir smoking para o jantar, era mais um vínculo que o ligava à civilização. E orgulhava-se de, por mais interessantes que fossem as notícias, nunca ter cedido à tentação de abrir um jornal antes do tempo marcado. Durante a guerra a incerteza chegava a ser às vezes intolerável, e quando lhe acontecia ler que se iniciara um assalto, experimentava verdadeira agonia, à qual poderia ter escapado da maneira mais simples do mundo, abrindo o jornal do dia seguinte, que lá esperava numa prateleira. Fora a prova mais difícil a que já se tinha exposto, mas saíra-se dela vitoriosamente. E o louco daquele animal rasgara os lindos pacotes para saber se alguma horrível mulher matara ou não o seu hediondo marido.
O Sr. Warburton chamou o mordomo e pediu-lhe outras cintas. Dobrou os jornais tão bem quanto pôde, envolveu cada um deles com uma cinta e numerou-os. Mas era uma tarefa melancólica.
— Nunca o perdoarei — disse. — Nunca.
Naturalmente o mordomo o acompanhara na expedição; o Sr. Warburton nunca viajava sem ele, pois o rapaz sabia exatamente como ele queria as coisas e o residente não era da espécie de viajantes da jângal que consentem em desistir de parte de suas comodidades; entretanto, no período decorrido desde a sua chegada o mordomo já encontrara tempo de tagarelar um pouco nos quartos dos criados. Soube que Cooper tivera desinteligência com o pessoal. Todos o abandonaram, menos o jovem Abas. Abas queria ir-se embora também, mas, como fora colocado por seu tio conforme as ordens do residente, não se atreveu a partir sem a autorização do tio.
— Eu lhe disse que fez bem, Tuan — contou o mordomo. — Mas Abas está infeliz. Ele diz que o lugar não é bom e pergunta se pode partir com os outros.
— Não, ele deve ficar. O Tuan tem de ter criados. Os que partiram foram substituídos?
— Não, Tuan. Ninguém quer ir.
O Sr. Warburton franziu as sobrancelhas. Cooper era um insolente e um louco, mas, ocupando uma posição oficial, devia ter o número conveniente de criados. Não era possível que sua casa não fosse decentemente servida.
— Onde estão os homens que se foram?
— Estão no kampong.
— Procure-os hoje de noite e diga-lhes que espero que voltem à casa de Tuan Cooper amanhã bem cedinho.
— Eles dizem que não vão.
— Se eu mandar?
O mordomo estava com o Sr. Warburton fazia quinze anos e conhecia cada entonação da voz do amo. Não tinha medo dele, pois haviam atravessado juntos muitas dificuldades; uma vez, no mato, o residente salvara-lhe a vida, e em outra ocasião, arrastados os dois pela corrente, o residente se teria afogado no rio se não fosse o mordomo; sabia, porém, quando o residente devia ser obedecido sem questionar.
— Vou já ao kampong — disse. O Sr. Warburton esperou que o seu subordinado aproveitasse a primeira ocasião para se desculpar daquela grosseria; mas Cooper, como acontece aos homens de educação defeituosa, não tinha jeito para expressar um arrependimento. Assim, quando no dia seguinte se encontraram no escritório, não se referiu ao caso. Como o Sr. Warburton estivera fora durante três semanas, era indispensável conversarem demoradamente. No fim da palestra, o Sr. Warburton despediu-o:
— Muito obrigado. Acha que é só isso. Cooper voltou-se para sair, mas o Sr. Warburton deteve-o: — Ouvi dizer que teve algum desentendimento com o seu pessoal.
Cooper soltou um riso desagradável: — Tentaram me chantagear. Tiveram a insolência de fugir; todos, menos o incompetente do Abas... até compreendeu como estava bem de vida, mas eu aguentei o repuxo... Todos eles voltaram ao serviço.
— O que quer dizer com isso?
— Esta manhã todos estavam de volta, ocupados nas suas tarefas, o cozinheiro chinês e todos os demais. Todos estavam lá, como se nada houvesse acontecido. Até parecia que eles tinham direito ao lugar. Provavelmente acabaram compreendendo que não sou tão bobo como pensavam.
— Nada disso... Voltaram por minha ordem expressa.
Cooper corou levemente: — Gostaria muito que não se metesse nos meus assuntos particulares.
— Esses assuntos não são particulares. Se seus criados fogem, isso o torna ridículo. Você tem toda a liberdade de se tornar ridículo, mas não posso admitir que os outros escarneçam de você. É inadmissível que sua casa não seja convenientemente servida. Mal ouvi que seus criados o deixaram, dei-lhes ordem imediatamente para voltarem hoje de manhã. É só isso.
O Sr. Warburton fez um sinal com a cabeça para significar que a entrevista chegara ao fim. Mas Cooper não deu importância:
— Quer saber o que eu fiz? Chamei-os e despedi toda a corja. Dei-lhes dez minutos para saírem do cercado.
O Sr. Warburton encolheu os ombros: — O que o leva a pensar que encontrará outros?
— Mandei meu auxiliar cuidar do negócio.
O Sr. Warburton refletiu um instante: — Acho que você se comportou muito levianamente. Andará acertado se de agora em diante se lembrar de que os bons patrões fazem os bons criados.
— Tem mais alguma coisa para me ensinar?
— Gostaria de lhe ensinar modos, mas seria trabalho árduo e não tenho tempo a perder. Vou ver se lhe arranjo outro pessoal.
— Não se incomode por minha causa. Sou capaz de resolver o assunto sozinho.
O Sr. Warburton riu amarelo. Tinha a intuição de que Cooper antipatizava não menos com ele do que ele com Cooper, e sabia que não há nada mais irritante do que a gente se ver forçada a aceitar favores da pessoa que detesta.
— Permita-me dizer-lhe que não tem mais probabilidade de encontrar aqui, presentemente, criados malaios ou chineses do que um mordomo inglês ou um cozinheiro francês. Ninguém quererá servi-lo a não ser que eu mande. Quer que providencie?
— Não.
— Bem, como quiser. Até logo.
O Sr. Warburton acompanhou o desenvolvimento da situação com azedo humorismo. O auxiliar de Cooper foi incapaz de persuadir malaios, daiaques ou chineses a entrarem a serviço de tal patrão. Abas, o criado que lhe ficou fiel, só sabia cozinhar a comida nativa, e Cooper, embora não tivesse paladar fino, sentia a garganta revoltada com o eterno arroz. Não havia carregador de água, e no auge do calor Cooper precisava tomar vários banhos por dia. Xingava Abas, mas este lhe opunha uma resistência soturna, recusando-se a fazer mais do que julgava necessário. Era irritante saber que o rapaz não permanecia com ele senão a instâncias do residente. As coisas continuaram neste pé quinze dias, quando, certa manhã, encontrou em casa os mesmos criados a quem despedira. Teve um acesso de raiva, mas tomara juízo, e dessa vez deixou-os ficar, sem dizer uma palavra. Engolia a humilhação, mas o desprezo impaciente que sentira pelas idiossincrasias do Sr. Warburton transformou-se em ódio sombrio: com a peça que lhe pregara, o residente o tornara objeto de escárnio de todos os nativos.
Agora os dois homens já não tinham contato um com o outro. Romperam até o costume, consagrado pelo tempo, de beber às seis da tarde um copo com qualquer homem branco que estivesse no posto, independentemente de simpatias ou antipatias. Vivia cada um na sua própria casa como se o outro não existisse. Agora que Cooper entrara na rotina, pouco tinham que discutir no escritório. Os recados ao assistente, o Sr. Warburton mandava-os pela ordenança; as instruções, enviava-as em cartas formais. Viam-se constantemente, sem dúvida, mas não trocavam meia dúzia de palavras por semana. O fato de não poderem deixar de se ver enervava ambos. Incubavam o antagonismo, e o Sr. Warburton, ao dar seu passeio diário, não podia pensar em outra coisa senão no quanto detestava o assistente.
O que havia de espantoso era imaginar que, segundo todas as probabilidades, viveriam assim, encarando-se reciprocamente com aquela inimizade mortal, até o Sr. Warburton partir em licença, quer dizer, dali a uns três anos. Ele não tinha motivo para mandar uma queixa ao quartel-general, pois Cooper cumpria seu dever muito bem e naquele momento não era fácil encontrar gente. Chegavam-lhe, é verdade, algumas vagas queixas; alusões insinuavam que os nativos achavam Cooper muito áspero. Decerto havia entre eles um sentimento de insatisfação. Mas, do exame de casos concretos, tudo o que o Sr. Warburton podia concluir reduzia-se a isto: Cooper mostrara severidade nos casos em que a brandura não seria descabida ou se revelara insensível nas circunstâncias em que ele, Warburton, teria sido compreensivo; nada fizera, porém, que autorizasse uma repreensão. O Sr. Warburton, no entanto, vigiava-o. Muitas vezes o ódio torna os homens clarividentes: assim, tinha o residente a suspeita de que Cooper tratava os nativos sem consideração, embora dentro da lei, simplesmente por sentir que era este o melhor modo de exasperar o seu chefe. Um dia talvez se deixasse ir longe demais. Ninguém sabia melhor do que o Sr. Warburton quanto o calor incessante nos pode tornar irritáveis e como é difícil manter o autodomínio depois de uma noite passada em claro. Sorria consigo mesmo: cedo ou tarde, Cooper se entregaria em suas mãos.
Quando chegou afinal, a oportunidade, o Sr. Warburton riu alto. Cooper encarregava-se dos prisioneiros que faziam estradas, construíam barracas, remavam quando era necessário mandar o prahu rio acima ou rio abaixo, mantinham a cidade em ordem e ocupavam-se, em geral, de alguma tarefa útil. Os bem comportados até executavam serviços caseiros. Cooper apertava-os. Gostava de vê-los trabalhar, de descobrir tarefas para eles. Bem cedo os prisioneiros compreenderam que queriam empregá-los em trabalhos inúteis, e logo trabalharam mal. Cooper castigava-os prolongando as horas de trabalho, contra o regulamento. Mal informado da coisa, o Sr. Warburton, sem transmitir a informação ao subordinado, deu instruções para que se restabelecesse o horário antigo. Cooper, ao sair para seu passeio, ficou aturdido de ver os prisioneiros voltarem vagarosamente à cadeia; tinha dado ordens para que não cessassem o trabalho antes do anoitecer. Perguntou ao guarda de plantão por que terminavam mais cedo, e foi-lhe respondido que eram ordens do residente.
Branco de raiva, correu ao Fortim. O Sr. Warburton, em sua calça de linho irrepreensivelmente limpa e seu elegante capacete, de bengala na mão, ia saindo com seus cães, para dar a voltinha da tarde. Observara Cooper, e sabia que chegaria pelo caminho da margem do rio. Cooper subiu a escada aos saltos e enfrentou o residente:
— Gostaria de saber por que diabos você contrariou minha ordem de que os prisioneiros deviam trabalhar até as seis! — bradou, fora de si.
O Sr. Warburton escancarou seus frios olhos azuis e assumiu uma expressão de viva surpresa:
— Está doido? Ou será tão ignorante que não saiba que não se fala nesse tom com o superior?
— Vá para o inferno! Os prisioneiros são da minha alçada e você não tem o direito de se intrometer nisso. Faça você seu trabalho, e eu farei o meu. Não compreendo por que diabos quer me ridicularizar. Todos aqui ficaram sabendo que contrariou minha ordem.
O Sr. Warburton manteve-se imperturbável:
— Você não tinha o direito de dar a ordem que deu. Contrariei-a porque era dura e tirânica. Aliás, acredite-me, contribuí bem menos para torná-lo ridículo do que você mesmo.
— Você antipatizou comigo desde o momento em que cheguei aqui. Fez tudo para tornar minha situação insustentável, só porque eu não quis lamber suas botas. Você me apunhalou porque eu não quis bajulá-lo.
Balbuciando de raiva, Cooper aproximava-se de um terreno perigoso. Os olhos do Sr. Warburton, de repente, tornaram-se mais frios e mais penetrantes:
— Você está enganado. Vi que você é uma pessoa ordinária, mas fiquei inteiramente satisfeito com a maneira como desempenhava a sua tarefa.
— Você é um esnobe. Um esnobe danado. Viu que sou uma pessoa ordinária porque eu não tinha estado em Eton. Bem me disseram em K. S. o que me esperava. Então não sabe que é motivo de riso em toda a região? Não sei como não dei uma gargalhada quando você me contou sua famosa história sobre o príncipe de Gales. Que hilaridade no clube quando a contaram! Palavra de honra, prefiro ser o ordinário que sou a ser o esnobe que você é.
Desta vez tocara na ferida. — Se não sair da minha casa neste instante, desanco-o! — gritou o Sr. Warburton.
O outro aproximou-se dele e encarou-o de perto: — Pois me toque! Por Deus, gostaria de ver você bater em mim. Quer que lhe diga outra vez? Esnobe, esnobe.
Cooper tinha três polegadas a mais que o Sr. Warburton, e era moço, forte, musculoso. O Sr. Warburton era barrigudo e tinha cinquenta e quatro anos. Seu punho cerrado abateu-se, mas Cooper segurou-o pelo braço e empurrou-o para trás:
— Não seja louco. Lembre-se de que eu não sou um gentleman. Sei como usar as minhas mãos.
Soltou um grito inarticulado e, com uma careta no rosto pálido e anguloso, pulou as escadas da varanda. O Sr. Warburton, cujo coração, de raiva, batia nas costelas, caiu numa poltrona, exausto. Durante um terrível momento esteve a ponto de chorar. Mas de repente percebeu que o mordomo se achava na varanda, e instintivamente retomou o domínio de si mesmo. O criado avançou e trouxe-lhe um copo de uísque e soda. Sem uma palavra bebeu-o de um gole.
— O que quer me dizer? — perguntou ao rapaz, procurando forçar os lábios para um sorriso.
— Tuan, o Tuan assistente é um homem mau. Abas quer de novo deixá-lo.
— Diga que espere um pouco. Escreverei para Kuala Solor e pedirei que o Tuan Cooper vá para outro lugar.
— O Tuan Cooper não é bom com os malaios.
— Deixe-me.
O rapaz retirou-se em silêncio, deixando o Sr. Warburton sozinho com seus pensamentos. Via o clube de Kuala Solor, os homens sentados em torno da mesa, à janela, de roupas de flanela, forçados, com o cair da noite, a abandonar os terrenos de golfe e tênis, bebendo uísque e gin pahits e rindo enquanto contavam a famosa história do príncipe de Gales e dele, Warburton, em Marienbad. A vergonha e o sofrimento o esquentavam. Um esnobe! Todos eles o consideravam um esnobe. E ele que sempre os considerara ótimos rapazes, que sempre fora gentleman o bastante para não fazê-los se sentirem de segunda categoria! Agora odiava-os. Mas o ódio que eles lhe inspiravam nada era comparado ao que sentia em relação a Cooper. E se houvessem chegado às vias de fato, Cooper poderia ter lhe dado uma sova. Lágrimas de mortificação percorriam sua face vermelha e gorda. Ficou sentado ali horas a fio, fumando cigarros e cigarros e desejando estar morto.
Enfim o mordomo voltou e perguntou se não queria se vestir para o jantar.
Levantou-se da cadeira, cansado, pôs a camisa engomada e o colarinho alto: Sentou-se à mesa decorada com gosto, e era servido, como de costume, por dois criados, enquanto dois outros agitavam grandes leques. A uma distância de duzentas jardas, ali no bangalô, Cooper tomava uma refeição imunda, vestindo apenas um sarong e um baju, descalço, e, enquanto comia, lia provavelmente um romance policial.
Depois do jantar o Sr. Warburton sentou-se para escrever uma carta. O sultão estava ausente, mas ele escreveu, particular e confidencialmente, ao substituto. Cooper executava o seu trabalho muito bem, mas o fato era que não podia se dar com ele de modo nenhum. Ambos enervavam terrivelmente um ao outro, e por isso consideraria grande favor se Cooper pudesse ser transferido para qualquer outro posto.
Expediu a carta na manhã seguinte por um correio especial. A resposta veio ao cabo de uma quinzena, com a correspondência mensal. Era uma nota particular, concebida nestes termos:
"Meu Caro Warburton,
Não querendo responder-lhe oficialmente, escrevo-lhe em meu nome estas poucas linhas. Naturalmente, se você insistir, levarei o assunto ao sultão, mas acho que seria muito mais oportuno você deixar de mão o caso. Sei que Cooper é um diamante tosco, mas é um rapaz de valor, fez bem sua parte da guerra, e por tudo isso acho que lhe devemos dar todas as oportunidades. Parece-me que você é um pouco inclinado demais a atribuir importância à posição social das pessoas. Lembre-se de que os tempos mudaram. Sem dúvida, é uma coisa ótima alguém ser um gentleman, mas é ainda melhor ser competente e saber trabalhar. A meu ver, se você se mostrar tolerante, acabará se dando muito bem com Cooper.
Afetuosamente seu,
Richard Temple."
A carta caiu das mãos do Sr. Warburton. Era fácil ler nas entrelinhas. Dick Temple, que ele conhecia de vinte anos antes, Dick Temple, que procedia de uma família até muito boa de um dos condados, considerava-o um esnobe, e por isso não atendia ao seu pedido. O Sr. Warburton sentiu-se de repente sem ânimo de viver. O mundo de que ele fazia parte havia passado, e o futuro pertencia a outra geração, mais vulgar, representada por Cooper, a quem ele odiava de todo coração. Estendeu a mão para encher o copo. A esse gesto, o mordomo aproximou-se.
— Não sabia que você estava aqui.
O rapaz apanhou a carta no chão. Ah, era aquela que ele esperava!
— Será que o Tuan Cooper vai embora, Tuan?
— Não.
— Haverá uma desgraça.
Durante um momento as palavras não transmitiram nada a sua lassidão. Mas foi um momento só. Ergueu-se na poltrona e olhou para o rapaz com a mais viva atenção:
— Que quer dizer com isso?
— O Tuan Cooper não procede direito com Abas.
O Sr. Warburton encolheu os ombros. Poderia lá um homem da espécie de Cooper saber como tratar criados! Conhecia bem o tipo: ora seria grosseiramente familiar com eles, ora se mostraria rude e irrefletido.
— Então mande Abas voltar à família dele.
— O Tuan Cooper retém o salário dele para que ele não possa fugir. Faz três meses que não lhe paga nada. Digo-lhe que tenha paciência, mas ele está muito irritado e não quer ouvir meu conselho. Se o Tuan continuar a tratá-lo mal, haverá uma desgraça.
— Fez bem em me falar. Que louco! Conhecia tão mal os malaios que pensava poder maltratá-los sem consequências? Se um dia amanhecesse com um kriss nas costas, seria bem feito.
Sim, um kriss. O coração do Sr. Warburton como que ficou parado por um instante. Era só deixar as coisas seguirem seu curso normal, e um belo dia ficaria livre de Cooper. Lembrou-se da expressão "passividade magistral", e teve um leve sorriso. E o coração tornou a bater-lhe um pouco mais fortemente, pois via o homem a quem odiava de bruços numa das veredas da jângal, com uma faca enterrada nas costas: fim digno daquele valentão ordinário. O Sr. Warburton soltou um suspiro. Era seu dever avisá-lo; não podia deixar de fazê-lo. Escreveu uma breve nota formal a Cooper convidando-o a comparecer ao Fortim imediatamente.
Ao cabo de dez minutos Cooper estava diante dele. Desde o dia em que o Sr. Warburton quase lhe batera, não se falaram mais. Não o convidou a sentar-se.
— Queria me falar? — perguntou Cooper. Estava desalinhado, uma limpeza duvidosa. Tinha o rosto e as mãos cobertos de pústulas vermelhas, por haver coçado até sangrar os pontos da pele mordidos por mosquitos. O rosto comprido e chupado tinha um aspecto sombrio.
— Vim a saber que está novamente em desinteligência com os criados. Abas, sobrinho do meu mordomo, queixa-se de que você lhe retém o salário há três meses. Considero isso um procedimento sumamente arbitrário. O rapaz quer deixá-lo, e eu decerto não o reprovo. Tenho que insistir para que pague o que lhe deve.
— Eu não desejo que ele me deixe. Estou retendo o salário dele como garantia do seu bom comportamento.
— Você não conhece o caráter malaio. Os malaios são muito sensíveis às ofensas e ao ridículo. São apaixonados e vingativos. É meu dever avisá-lo que, se você empurrar esse moço além de certo ponto, correrá grande risco.
Cooper abafou um riso insolente: — O que acha que ele vai fazer?
— Acho que ele vai matá-lo.
— Que lhe importa isso?
— De fato, importa-me muito pouco — replicou o Sr. Warburton com um riso leve. — Suportaria com grande força de alma. Mas considero minha obrigação oficial dar-lhe um aviso oportuno.
— Pensa então que estou com medo de um maldito negro?
— Que esteja ou não, isso me é de todo indiferente.
— Pois fique sabendo de uma coisa. Eu sei muito bem cuidar dos meus negócios. Esse Abas é um malandro, um ladrão ordinário, e se continuar com suas macaquices, por Deus, vou torcer o pescoço dele.
— Era tudo o que eu tinha a dizer — declarou o Sr. Warburton. — Boa-noite.
Despediu-o com um gesto de cabeça. Cooper corou e, depois de ficar um momento sem saber o que fizesse ou dissesse, deu as costas e saiu da sala tropeçando. O Sr. Warburton ficou olhando com um sorriso glacial nos lábios. Cumprira seu dever. Mas o que teria pensado se soubesse que Cooper, de volta a seu bangalô, tão silencioso e triste, se atirara na cama e, perdendo toda a serenidade, em sua terrível solidão começara a chorar, com o peito sacudido por soluços dolorosos e as magras faces molhadas de lágrimas pesadas?
Depois, raras vezes o Sr. Warburton vira Cooper, e nunca mais lhe falara. Lia o seu Times todas as manhãs, executava seu trabalho no escritório, fazia exercícios, vestia-se para o jantar e ia sentar-se à margem do rio fumando seu charuto. Quando encontrava Cooper, fazia que não o via. Ambos, embora nem um instante sequer esquecessem a proximidade, agiam como se o outro não existisse. O tempo não lhes abrandava a animosidade. Cada um deles vigiava as ações do outro e sabia o que o outro estava fazendo. O Sr. Warburton, embora tivesse na mocidade sido um ótimo atirador, acabou, com os anos, por sentir certo horror a matar os bichos na jângal, ao passo que nos domingos e feriados Cooper saía sempre com sua espingarda. Se pegasse alguma coisa, era um triunfo sobre o Sr. Warburton; se não, o Sr. Warburton encolhia os ombros com um sorriso de desprezo. Esses caixeiros bancando sportsmen!
O Natal foi ruim para ambos. Jantaram sozinhos, cada qual no seu quarto, e embriagaram-se por gosto. Eram os dois únicos brancos num raio de duzentas milhas, e moravam à distância de um grito. No começo do ano Cooper pegou uma febre, e o Sr. Warburton, voltando a encontrá-lo, notou com surpresa como emagrecera. Tinha um aspecto doentio e gasto. A solidão, tanto menos natural quanto não era devida a uma necessidade, enervara-o totalmente. Ao Sr. Warburton, aliás, também, de tal modo que muitas vezes não conseguia dormir. Passava as noites em claro, meditando. Cooper bebia muito, e sem dúvida nenhuma a crise não se faria esperar; entretanto, em seus contatos com os nativos evitava cuidadosamente fazer qualquer coisa que o pudesse expor a uma repreensão do residente. Os dois homens estavam empenhados numa guerra terrível e silenciosa. Era como um teste de pertinácia. Passavam-se os meses, e nenhum dos dois dava sinais de enfraquecimento. Eram como homens que morassem em regiões de eterna escuridão, de alma oprimida à ideia de que o dia nunca raiaria para eles. Parecia que sua vida continuaria para sempre na monotonia soturna e repelente daquele ódio.
E quando, afinal, o inevitável aconteceu, golpeou o Sr. Warburton com toda a força de um acontecimento inesperado. Cooper acusou o criado Abas de ter-lhe roubado roupas, e como o rapaz negasse o roubo, pegou-o pela nuca e o fez rolar pelas escadas do bangalô. O rapaz pediu as contas, ao que Cooper lhe atirou ao rosto todas as afrontas que sabia. Se o encontrasse dentro do cercado ao cabo de uma hora, o entregaria à polícia. No dia seguinte o rapaz esperou-o fora do Fortim na sua passagem para o escritório, e pediu-lhe o ordenado outra vez. Cooper bateu-lhe no rosto com o punho cerrado. O criado caiu no chão e foi embora com o nariz gotejando sangue.
Cooper continuou e sentou-se à sua mesa. Mas não podia prestar atenção ao trabalho. O golpe que dera acalmou sua irritação e compreendeu que tinha se excedido. Estava aborrecido, sentia-se mal, miserável e sem ânimo. O Sr. Warburton trabalhava na peça contígua. Por um instante pensou em ir contar o que fizera. Fez um movimento com a cadeira, mas logo se lembrou do glacial desdém com que o residente escutaria a história. Parecia estar vendo seu sorriso protetor. Durante um momento receou o que Abas faria. Warburton tivera razão em avisá-lo. Suspirou. Que loucura acabara de cometer! Mas encolheu os ombros, impaciente. Não se importava com tudo aquilo: destino grandioso o que o esperava! Tudo aquilo era culpa de Warburton. Se não o tivesse acolhido com antipatia, nada teria acontecido. Desde o começo transformara sua vida num inferno, aquele esnobe. Mas todos eles eram assim... só porque ele, Cooper, era um colonial. Também que safadeza não lhe terem dado sua patente na guerra! Não se batera tão bem quanto qualquer outro? Todos eles não passavam de uma cambada de esnobes nojentos. Preferia levar o diabo a ceder. Sem dúvida, Warburton teria ciência do acontecido: o demônio do velho sabia de tudo. Mas não estava com medo. Nenhum malaio de Bornéu lhe metia medo, e Warburton que se danasse..
Tinha razão em pensar que o Sr. Warburton viria a saber de tudo. O mordomo contou-lhe o caso durante o lanche.
— Onde está agora o seu sobrinho?
— Não sei, Tuan. Foi embora.
O Sr. Warburton não falou mais. Depois do lanche dormiu um pouco, como de costume, mas desta vez acordou bem cedinho. Seus olhos se dirigiram maquinalmente para o bangalô onde Cooper descansava.
Idiota! O Sr. Warburton teve alguns momentos de hesitação. Sabia aquele homem o perigo que enfrentava? Devia chamá-lo. Cada vez, porém, que procurava raciocinar com Cooper, este o insultava. Uma onda de raiva brotou de repente do coração do Sr. Warburton: as veias sobressaíram em sua fronte e cerrou os punhos. Tinha advertido aquele grosseirão: agora, ele que aguentasse as consequências. Não tinha nada com isso, e se acontecesse alguma coisa não teria a menor culpa. Mas talvez eles lá em Kuala Solor acabassem por se arrepender de não haver, seguindo seu conselho, transferido Cooper para outro lugar.
Passou a noite numa inquietação estranha. Depois do jantar ficou passeando na varanda. Quando o criado ia se recolher, o Sr. Warburton perguntou-lhe se Abas tinha sido visto durante o dia.
— Não, Tuan. Acho que talvez tenha voltado à aldeia do irmão da mãe.
O Sr. Warburton lançou-lhe um olhar penetrante, mas o mordomo fitava a terra e os olhos dos dois não se encontraram. O Sr. Warburton desceu ao rio e foi sentar-se no caramanchão. A paz, porém, era-lhe negada. O rio corria num silêncio ominoso. Assemelhava-se a uma cobra enorme deslizando indolente em direção ao mar. As árvores da jângal, nas margens, estavam carregadas de intensa ameaça. Nenhum pássaro cantava. Nenhum sopro agitava as folhas das cássias. Tudo em torno dele parecia esperar alguma coisa.
Caminhou até à estrada, através do jardim. Dali avistava muito bem o bangalô de Cooper. Havia luz na sala, e os acentos de um ragtime flutuavam ao longo da estrada. Cooper fazia funcionar a vitrola. O Sr. Warburton estremeceu. Nunca pudera vencer uma instintiva antipatia contra esse ritmo. Não fosse isso teria ido falar com Cooper. Voltou e se deitou. Passou muito tempo lendo antes de conciliar o sono. Mas mal dormiu, teve sonhos terríveis, e de repente foi despertado por um grito. Sem dúvida, fazia parte dos sonhos, pois nenhum grito vindo de fora, do bangalô, por exemplo, podia ser ouvido no quarto de dormir. Passou o resto da noite em claro. Em certo momento ouviu um ruído de passos apressados e de vozes confusas, o mordomo penetrou repentinamente no quarto sem o fez na cabeça, e o coração do Sr. Warburton parou um instante:
— Tuan, Tuan!
O Sr. Warburton saltou da cama: — Já vou.
Calçou os chinelos, vestiu um sarong e de paletó do pijama entrou no cercado de Cooper. Este jazia no leito com a boca aberta, um kriss cravado no coração. Fora morto durante o sono. O Sr. Warburton estremeceu, não por não ter esperado espetáculo exatamente igual, mas por sentir em si uma exultação ardente e brusca. Seus ombros se aliviaram de um grande peso.
Cooper já estava frio. O Sr. Warburton retirou o kriss da ferida — a custo, pois fora cravado com extraordinária violência — e olhou-o. Reconhecia-o. A arma lhe tinha sido oferecida por um negociante semanas antes e sabia que Cooper a comprara.
— Onde está Abas? — perguntou com severidade.
— Abas está na aldeia do irmão da mãe.
O sargento da polícia nativa estava à cabeceira do leito: — Chame dois homens e vá à aldeia prendê-lo.
O Sr. Warburton fez o que era de necessidade imediata, dando ordens com ar firme, em palavras breves e peremptórias. Depois voltou ao Fortim. Fez a barba, tomou banho e entrou na sala de jantar. Ao lado do prato, o Times o esperava, envolto na cinta. Serviu-se de frutas, enquanto o mordomo derramava o chá e outro criado trazia um prato de ovos. O Sr. Warburton comeu com apetite. O mordomo esperava a seu lado.
— O que há? — perguntou o Sr. Warburton.
— Tuan, Abas, meu sobrinho, passou a noite toda na casa do irmão da mãe. Isto pode ser provado. O tio jura que ele não deixou o kampong.
O Sr. Warburton olhou para ele franzindo a testa, carrancudo:
— Tuan Cooper foi morto por Abas. Você sabe tão bem quanto eu. Deve-se fazer justiça.
— Tuan, não mandará enforcá-lo?
O Sr. Warburton hesitou um momento, e, posto que a voz se mantivesse firme e severa, vislumbrou-se uma alteração no seu olhar. Era apenas um rápido clarão instantâneo, mas o malaio notou e nos seus olhos acendeu-se um olhar interrogativo de compreensão.
— A provocação foi muito forte. Abas será condenado à pena de prisão.
Houve uma pausa, que o Sr. Warburton aproveitou para servir-se de compota.
— Depois que ele cumprir uma parte da sentença, vou colocá-lo em minha casa como criado. Você pode ensinar-lhe seus deveres. Não duvido que na casa do Tuan Cooper tenha adquirido maus hábitos.
— Abas deve se denunciar, Tuan?
— Seria conveniente.
O mordomo retirou-se. O Sr. Warburton pegou o Times, e com gesto elegante rasgou a cinta. Gostava de desdobrar as páginas pesadas, de ouvir seu sussurro. A manhã, fresca e pura, era uma delícia, e seus olhos passaram um bom momento percorrendo o jardim com olhar amigo. Seu espírito fora aliviado de um grande peso. Voltou às colunas em que se noticiavam os nascimentos, falecimentos e enlaces. Era o que sempre olhava primeiro. Um nome conhecido atraiu sua atenção. Finalmente Lady Ormskirk tivera um filho. Por Jorge!, a velha senhora deve ter ficado contente. Mandaria pelo próximo correio um bilhete de parabéns.
Abas daria um ótimo criado. Aquele imbecil do Cooper!
(Título original: The Outstation.)
A força das circunstâncias
Estava sentada na varanda, esperando o marido para o almoço. O criado malaio havia baixado as persianas quando a manhã começara a esquentar, mas Doris levantara parcialmente uma delas a fim de olhar para o rio, que tinha a branca palidez da morte sob o sol sufocante do meio-dia. Um nativo remava numa canoa tão pequena que mal aparecia à tona d'água. As cores do dia eram pálidas e cinéreas — nada mais que os cambiantes variados do calor. (Dir-se-ia uma melodia oriental, em tom menor, que exacerba os nervos com a sua ambígua monotonia; o ouvido aguarda impaciente uma resolução, mas debalde). As cigarras soltavam com frenética energia o seu apito estridente, contínuo e monótono como o sussurrar de um regato nas pedras. Mas de súbito abafaram-se os gorjeios sonoros de um pássaro, ricos e melífluos, e por um instante ela sentiu um aperto esquisito no coração, lembrando-se dos melros na Inglaterra.
Ouviu então os passos do marido no caminho de cascalho atrás do bangalô, o caminho que conduzia à casa do tribunal onde ele estivera trabalhando, e levantou-se da cadeira para recebê-lo. Ele subiu correndo a pequena escada — pois o bangalô era construído sobre pilares — e o criado recebeu-lhe das mãos, à porta, o capacete de cortiça. Entrou na peça que fazia as vezes de sala e de comedor e os seus olhos iluminaram-se de alegria ao vê-la.
— Alô, Doris. Estás com fome?
— Sinto uma fome de lobo. — Não levarei mais de um minuto para tomar banho, depois poderemos comer.
— Não demores — sorriu Doris.
Ele desapareceu no interior do quarto de vestir e ela ouviu-o assobiar alegremente ao mesmo tempo que arrancava as roupas do corpo e as atirava ao chão, com aquela negligência que Doris não cessava de lhe censurar. Tinha vinte e nove anos, mas ainda era um colegial; nunca se tornaria adulto. Fora talvez por isso que se enamorara dele, pois nem o amor mais apaixonado poderia convencê-la de que ele fosse bonito. Era um homenzinho redondo, com uma cara vermelha de lua cheia e olhos azuis. Tinha a pele cheia de espinhas. Doris examinara-o cuidadosamente e fora forçada a confessar que ele não possuía um único traço que se pudesse elogiar. Tinha-lhe dito muitas vezes que ele não era em absoluto o seu tipo.
— Eu nunca pretendi ser uma beleza — ria ele. — Não sei o que vejo em ti.
Mas está claro que o sabia muito bem. Ele era um homenzinho jovial que não levava nada muito a sério e ria constantemente. Fazia-a rir também. Achava a vida divertida e tinha um sorriso encantador. Quando estava com ele Doris sentia-se feliz e bem disposta. Comovia-se com a profunda afeição que lia naqueles alegres olhos azuis. Era muito bom ser amada assim. Certa vez, sentada no seu colo, durante a lua de mel, tomara-lhe o rosto nas mãos e lhe dissera:
— És um homenzinho gordo e feio, Guy, mas tens encanto. Não posso deixar de te amar.
Uma onda de emoção a invadiu e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Viu-lhe o rosto contorcer-se por um instante na veemência do seu sentimento, e foi em voz trêmula que ele respondeu:
— É um horror a gente descobrir que se casou com uma mulher mentalmente retardada.
Ela soltou um riso gutural. Era a resposta característica que esperava dele.
Custava crer que, nove meses atrás nem sequer sabia da sua existência. Conhecera-o numa pequena praia onde estava passando um mês de férias com a mãe. Doris era secretária de um parlamentar. Guy estava na Inglaterra em licença. Os dois se achavam hospedados no mesmo hotel e ele não tardou a contar-lhe toda a sua existência. Tinha nascido em Sembulu, onde seu pai servira durante trinta anos sob o segundo sultão, e ao deixar a escola entrara para o mesmo serviço. Tinha grande apego ao país em que vivia.
— Afinal sou um estrangeiro aqui — disse ele a Doris. — Minha terra é Sembulu.
E agora Sembulu era a terra dela também. Findo o mês de férias, Guy a pedira em casamento. Era a filha única de uma viúva e não podia afastar-se para tão longe, mas quando chegou o momento, sem compreender bem o que se passava consigo, deixou-se empolgar por uma emoção inesperada e aceitou. Fazia já quatro meses que estavam instalados naquele pequeno posto das selvas, que ele dirigia. Doris sentia-se muito feliz.
Disse-lhe uma vez que estivera resolvida a recusá-lo. — Lamentas não ter feito isso? — perguntou ele com um alegre sorriso nos olhos azuis e cintilantes.
— Teria sido a maior idiotice da minha vida. Que sorte o destino, o acaso ou o que quer que seja ter intervindo e resolvido o assunto por mim!
Ouviu Guy descer a escada que levava ao quarto de banho. Era um homem barulhento e mesmo com os pés descalços não sabia andar em silêncio. Mas ao chegar lá embaixo soltou uma exclamação. Pronunciou duas ou três palavras no dialeto local, que ela não compreendia. Ouviu então alguém falar-lhe, não em voz alta mas num murmúrio sibilante. Francamente, era uma importunação porem-se à sua espera para lhe falar quando ele ia tomar banho. Guy tornou a falar e, embora o fizesse em voz baixa, ela percebeu que ele estava agastado. A outra voz subiu de tom: era uma voz de mulher. Doris imaginou que se tratasse de uma queixa qualquer. Estava nos hábitos das mulheres malaias aproximarem-se daquela forma sub-reptícia. Mas pelo visto ela não conseguiu grande coisa com Guy, pois Doris ouviu este dizer: "sai daqui". Estas palavras ao menos ela compreendeu. Depois ouvi-o fechar a porta e correr o ferrolho. Começou a lavar-se com ruído (Doris ainda achava graça no sistema da terra: os banheiros ficavam ao nível do solo, embaixo do quarto de dormir; entrava-se numa grande tina com água e enxaguava-se o corpo com um baldinho), e dentro de dois minutos tornou a aparecer na sala de jantar. Ainda trazia os cabelos úmidos. Sentaram-se para o almoço.
— Felizmente eu não sou desconfiada nem ciumenta — riu ela. — Não sei se devo aprovar essas animadas palestras com senhoras enquanto tomas banho.
O rosto de Guy, de ordinário tão alegre, tinha uma expressão mal-humorada ao entrar, mas já se desanuviara.
— Não gostei muito de encontrá-la lá embaixo.
— Foi o que depreendi do tom da tua voz. Achei mesmo que foste um pouco áspero com a moça.
— Que raio de atrevimento por-se à espera da gente assim!
— O que ela queria?
— Ah! não sei. É uma mulher do kampong. Teve uma briga com o marido ou coisa que o valha.
— Será a mesma que andava por aí hoje de manhã?
Ele franziu levemente o sobrolho. — Alguém andava por aí?
— Sim, eu entrei no teu quarto de vestir para ver se tudo estava bem arrumadinho, depois desci ao banheiro. Notei que alguém saía esgueirando-se pela porta enquanto eu descia a escada, prestei atenção e vi que era uma mulher.
— Falaste-lhe?
— Perguntei-lhe o que queria e ela respondeu alguma coisa, mas não entendi.
— Não vou consentir que toda espécie de vagabundos andem rondando a minha casa — disse ele. — Essa gente não tem o direito de vir aqui.
Sorriu, mas Doris, com a aguda percepção de uma mulher enamorada, reparou que ele sorria apenas com os lábios e não também com os olhos, como lhe era habitual, e perguntou de si para si o que o estaria aborrecendo.
— Que fizeste esta manhã? — perguntou ele?
— Ora, pouca coisa. Fui dar uma volta.
— Pelo kampong?
— Sim. Vi um homem que fez um macaco acorrentado trepar numa árvore para apanhar cocos e achei isso emocionante.
— Um número, não é mesmo?
— Mas Guy, entre os meninos que estavam olhando havia dois muito mais claros do que os outros. Seriam mestiços, por acaso? Falei-lhes, mas não entendiam uma palavra de inglês.
— Há duas ou três crianças mestiças no kampong — respondeu Guy.
— A quem pertencem elas?
— A mãe é uma das garotas da aldeia.
— Quem é o pai?
— Oh, minha querida, essa é uma pergunta que achamos um pouco perigoso fazer por estas bandas. — Guy fez uma pausa. — Muitos têm mulheres nativas e depois, quando voltam para a Inglaterra ou se casam, dão-lhes uma pensão e as mandam de volta para a aldeia.
Doris refletiu. A indiferença com que ele falava lhe parecia um tanto calejada. Foi quase com um franzir de sobrolho no seu rosto franco, aberto e bonito de jovem inglesa que ela perguntou:
— Mas e quanto aos filhos?
— Tenho certeza de que não lhes falta nada. De acordo com os seus recursos, o homem em geral trata de que sejam decentemente instruídos. Eles conseguem lugares de escriturários nas repartições do governo, sabes? Vivem muito bem.
Ela dirigiu-lhe um sorriso em que havia um leve toque de tristeza.
— Não podes esperar que eu ache o sistema excelente.
— Não deves ser muito dura — respondeu ele, retribuindo-lhe o sorriso.
— Não estou sendo dura, mas dou graças por não teres tido uma mulher malaia. Como isso seria detestável! Imagina se aqueles dois garotinhos fossem teus...
O criado mudou os pratos. O menu da casa nunca variava muito. Começavam o almoço com um peixe do rio, completamente insípido, sendo necessário acrescentar-lhe boa quantidade de "ketchup" a fim de torná-lo aceitável ao paladar, depois passavam a um ensopado qualquer. Guy temperou-o com molho inglês.
— O velho sultão dizia que isto não era terra para mulheres brancas — prosseguiu daí a pouco. — Até animava, os homens a... viverem em companhia de mulheres nativas. A situação, está claro, já não é a mesma. O país está completamente pacificado e acho que nós já aprendemos a enfrentar o clima.
— Mas Guy, o mais velho desses meninos não tinha mais de sete ou oito anos e o outro tinha uns cinco!
— Leva-se uma vida muito solitária nestes postos da selva. Muitas vezes um branco passa seis meses inteiros sem ver outro branco. A gente vem para cá ainda guri. — Deu-lhe aquele sorriso encantador que transfigurava o seu rosto redondo e feio. — Há certas atenuantes, sabes?
Sempre achara irresistível esse sorriso. Era o melhor argumento de Guy. Os olhos dela fizeram-se novamente doces e ternos.
— Não duvido que haja. — Estendeu a mão por cima da mesa e pousou-a sobre a dele. — Tive muita sorte em apanhar-te tão moço. Francamente, seria para mim um choque terrível ouvir dizer que tinhas vivido assim.
Ele tomou-lhe a mão e apertou-a na sua.
— És feliz aqui, meu bem?
— Incrivelmente feliz.
Estava muito fresca e bonita no seu vestido de linho. O calor não a abatia. Não possuía mais que a louçania da mocidade, embora os seus olhos castanhos fossem bonitos; mas tinha uma cativante franqueza de expressão e os seus cabelos escuros e curtos eram lustrosos e trazia-os bem penteados. Dava a impressão de uma moça animosa e ao vê-la adquiria-se a convicção de que o parlamentar para quem trabalhara tivera nela uma secretária muito competente.
— Enamorei-me desta terra à primeira vista — disse ela. — Apesar de ficar tanto tempo sozinha não me aborreci uma única vez.
Havia, naturalmente, lido romances que se passavam no Arquipélago Malaio e formara a impressão de uma terra sombria, atravessada por grandes rios ameaçadores e coberta de uma selva silenciosa, impenetrável. Quando o pequeno vapor de cabotagem os deixou na boca do rio, onde um grande bote tripulado por uma dúzia de daiaques os esperava para conduzi-los ao posto, ela foi tomada de assombro ante a beleza do cenário, que lhe pareceu acolhedor e não terrificante. Tinha uma alegria que ela não esperava, uma alegria que lembrava o gorjeio jovial dos pássaros nas árvores. Em ambas as margens cresciam mangues e nipas, e por trás ficava o verde espesso da floresta. Ao longe estendiam-se montanhas azuis, serras e mais serras até onde podia alcançar a vista. Doris não teve uma impressão de clausura ou de melancolia, mas antes de um espaço amplo e livre em que a fantasia exultante podia vaguear deleitada. O verde reluzia ao sol e o céu respirava alegria. Aquela terra benévola parecia oferecer-lhe uma acolhida sorridente.
Continuavam a remar, costeando uma das margens. Um casal de pombos passou por cima deles, voando muito alto. Um relâmpago de cor, qual joia viva, cruzou-lhes o caminho. Era um martim-pescador. Dois macacos estavam sentados num galho, um ao lado do outro, com as caudas pendentes. No horizonte, do outro lado do rio largo e turvo, além da selva, via-se uma série de nuvenzinhas brancas, as únicas que havia no céu; dir-se-ia uma fila de bailarinas, vestidas de branco, vivas e folgazãs, a esperar no fundo do palco que subisse a cortina. O coração de Doris encheu-se de júbilo; e nesse momento, recordando-se daquilo tudo, seus olhos pousaram no marido com uma afeição reconhecida e confiante.
E como fora divertido arrumar a sala de estar! Era muito espaçosa. Quando ela chegou havia no assoalho uma esteira suja e rasgada; nas paredes de tábuas sem pintura estavam penduradas (demasiado alto) reproduções fotográficas de quadros da Academia, escudos daiaques e parangs. Toalhas de tecido daiaque, em cores sombrias, forravam as mesas sobre as quais repousavam objetos de bronze de Brunei, em grande precisão de limpeza, latas de cigarros vazias e pedaços de prata malaia. Havia uma tosca prateleira com edições baratas de romances e alguns velhos livros de viagem com maltratadas encadernações de couro; outra prateleira estava repleta de garrafas vazias. Era uma habitação de solteiro, desarranjada e fria; e, embora a fizesse sorrir, pareceu-lhe intoleravelmente patética. Guy levava ali uma existência desolada, sem conforto. Doris rodeou-lhe o pescoço com os braços e beijou-o.
— Meu pobre querido! — exclamou rindo.
Era muito habilidosa e não tardou a tornar a peça habitável. Arrumou uma coisa aqui, outra ali, eliminando o que não pode aproveitar. Os presentes de núpcias prestaram grande auxílio. Ficou uma sala de estar acolhedora e confortável, com maravilhosas orquídeas em vasos de vidro e enormes arbustos em flor dentro de grandes cachepots. Ela sentia um orgulho desmedido de possuir a sua casa (até então só tinha vivido em mesquinhos apartamentos) e de tê-la tornado encantadora para ele.
— Estás satisfeito comigo? — perguntou-lhe ao terminar.
— Muito — sorriu Guy.
Esta resposta propositadamente circunspecta era, na opinião dela, um grande elogio. Que delícia compreenderem-se tão bem! Ambos eram avessos a externar qualquer emoção e só em raros momentos deixavam o seu tom costumeiro de caçoada irônica.
Acabaram de almoçar e ele estirou-se numa espreguiçadeira para fazer a sesta. Doris tomou o caminho do seu quarto. Admirou-se um pouco quando, ao passar pelo marido, este a puxou para si e, obrigando-a a curvar-se, beijou-a nos lábios. Não tinham o hábito de trocar essas manifestações de carinho a qualquer hora do dia.
— A barriga cheia te põe sentimental, meu pobre rapaz — caçoou ela.
— Vai-te daqui e que eu não torne a por-te os olhos em cima, pelo menos durante duas horas.
— Não vás roncar.
Deixou-o. Tinham-se levantado ao nascer do sol. Dentro de cinco minutos estavam ferrados no sono.
Doris foi despertada pelo barulho que o marido fazia no banheiro. As paredes do bangalô formavam uma espécie de caixa de ressonância e nada do que um deles fazia passava despercebido ao outro. Sentia muita preguiça para se mexer, mas ao ouvir o criado por a mesa para o chá saltou da cama e desceu correndo para o seu banheiro particular. O contato da água fresca era delicioso. Quando entrou na sala Guy estava tirando as raquetes das prensas, pois eles jogavam tênis à tardinha, quando o ar começava a refrescar. A noite caía às seis horas.
A quadra de tênis ficava a duzentos ou trezentos metros do bangalô. Depois do chá, ansiosos por não perder tempo, dirigiram-se para lá.
— Olha — disse Doris, — lá está a garota que eu vi hoje de manhã.
Guy voltou-se com um movimento vivo. Seus olhos pousaram um momento na mulher nativa, mas não disse nada.
— Que sarong bonito ela tem! — observou Doris. — Onde será que o arranjou?
Passaram por ela. Era pequena e esguia, com os olhos rasgados, escuros e cintilantes da sua raça, e uma grande cabeleira cor de azeviche. Ficou imóvel ao vê-los passar, encarando-os de forma estranha, Doris percebeu então que ela não era tão moça quanto lhe parecera a princípio. Tinha as feições um tanto maciças e a pele escura, mas era muito bonita. Segurava um bebê nos braços. Doris sorriu de leve ao vê-lo, mas o rosto da mulher permaneceu impassível. Não olhava para Guy, apenas para Doris, e ele seguiu o seu caminho como se não a tivesse visto. Doris voltou-se para o marido.
— Não achas essa criança um encanto?
— Não reparei.
O aspecto do seu rosto a intrigou. Estava branco e as espinhas que tanto a afligiam pareciam mais vermelhas do que nunca.
— Notaste as mãos e os pés dela? Parecem os de uma duquesa.
— Todos os nativos têm mãos e pés bonitos — respondeu ele, mas sem a sua jovialidade habitual. Era como se falasse forçado. Mas Doris tinha o pensamento em outra parte.
— Quem será ela? Não sabes?
— É uma das garotas do kampong.
Tinham chegado à quadra. Ao dirigir-se para a rede a fim de verificar se estava bem esticada, Guy olhou para trás. A mulher — continuava no mesmo lugar. Os olhares de ambos se cruzaram.
— Queres que eu sirva? — perguntou Doris.
— Sim, as bolas estão do teu lado.
Jogou muito mal. Costumava dar-lhe quinze pontos de vantagem e vencer, mas nessa tarde ela ganhou com facilidade. Além disso, jogou em silêncio. Em geral era ruidoso, gritando sem cessar, amaldiçoando-se quando perdia uma bola e zombando dela quando colocava uma fora do seu alcance.
— Você não está em forma, moço — gritou-lhe Doris.
— Que esperança! — disse ele.
Começou a rebater as bolas com violência, tentando derrotá-la, e deu com todas elas na rede. Doris nunca o tinha visto com uma expressão tão dura. Seria possível que ele estivesse raivoso por estar jogando mal? Caiu o crepúsculo e cessaram de jogar. A mulher continuava exatamente na mesma posição e mais uma vez olhou-os passar com uma cara inexpressiva.
Os criados já haviam erguido as persianas da varanda e sobre a mesa, entre as duas espreguiçadeiras, achavam-se algumas garrafas e um sifão. Era a essa hora que tomavam o primeiro drink do dia. Guy misturou dois gin slings. O vasto rio estendia-se diante deles e a selva, na outra margem, estava envolta no mistério da noite que se aproximava. Um nativo remava sem ruído contra a corrente, com dois remos, em pé à proa do bote.
— Joguei como um idiota — disse Guy, rompendo o silêncio. — Estou um pouco esquisito hoje.
— Sinto muito. Espero que não seja alguma febre.
— Oh, não. Amanhã estarei de novo bem disposto.
Fecharam-se as trevas. As rãs coaxavam sonoramente e de quando em quando se ouviam as notas breves de algum pássaro noturno. Vaga-lumes atravessavam a varanda e davam as Arvores . próximas a aparência de pinheiros de Natal, iluminados por velas pequeninas, envoltos numa suave cintilação. Doris julgou ouvir um pequeno suspiro. Isso a deixou vagamente perturbada. Guy era sempre tão alegre!
— Que é, meu rapaz? — perguntou com doçura. — Conte pra mamãe.
— Não é nada. Hora de outro drink — respondeu ele em tom animado.
No dia seguinte recuperara a costumeira alegria. Chegou a correspondência. O vapor costeiro passava pela foz do rio duas vezes por mês, a primeira rumo às minas de carvão e a segunda voltando de lá. Na viagem de ida trazia correspondência, que Guy mandava buscar num bote. Essa ocasião constituía o grande acontecimento daquelas existências monótonas. Durante um ou dois dias limitavam-se a correr os olhos por tudo quanto havia chegado, cartas, jornais ingleses e jornais de Singapura, revistas e livros, reservando para as semanas seguintes uma leitura mais detida. Arrancavam-se das mãos os periódicos ilustrados. Se Doris não estivesse tão absorta, teria notado talvez que se operara uma transformação em Guy. Ter-lhe-ia — sido difícil descrevê-la e ainda mais difícil explicá-la. Os olhos dele tinham uma expressão vigilante e os seus lábios uma leve contração de ansiedade.
Depois, volvida talvez uma semana, certa manhã em que ela estava sentada na penumbra da sala, a estudar uma gramática malaia (pois tratava diligentemente de aprender a língua) ouviu um tumulto no pátio. Distinguiu a voz do criado da casa que falava em tom irado, a voz de outro homem, talvez o aguadeiro, e a de uma mulher, estridente e injuriosa. Pareceu-lhe que os contendores chegavam às vias de fato. Foi até à janela e abriu os postigos. O aguadeiro segurava uma mulher pelo braço e a arrastava para fora, enquanto o criado a empurrava por trás com ambas as mãos. Doris reconheceu imediatamente a mulher a quem tinha visto uma manhã a vadiar pelo pátio e, na tarde do mesmo dia, perto da quadra de tênis. Ela apertava contra o peito uma criança de colo. Todos três berravam furiosos.
— Parem! — gritou Doris. — Que estão fazendo?
Ao som da sua voz o aguadeiro soltou repentinamente a mulher e esta, ainda empurrada por trás, caiu ao chão. Fez-se um silêncio súbito e o criado da casa, carrancudo, fitou os olhos no espaço. O aguadeiro hesitou um instante, depois escapuliu-se. A mulher pôs-se em pé devagar, ajeitou a criança nos braços e ficou impassível, encarando Doris. O criado disse-lhe alguma coisa que esta não poderia ter ouvido mesmo que compreendesse a língua. A mulher não demonstrou por qualquer alteração da sua fisionomia que essas palavras lhe diziam respeito, mas foi retirando-se vagarosamente. O criado seguiu-a té o portão. Quando voltou Doris o chamou, mas o homem fez-se desentendido. Ela estava começando a zangar-se; tornou a chamá-lo em tom mais áspero.
— Venha cá imediatamente!
Ele enveredou de súbito para o bangalô, evitando o olhar irado da patroa. Subiu os degraus e deteve-se à porta. Olhou para ela com expressão mal-humorada.
— Que estava fazendo com aquela mulher? — perguntou ela bruscamente.
— Tuan disse: não deixa ela vir aqui.
— Você não deve tratar uma mulher desse modo. Não admito isso. Vou contar ao Tuan o que vi você fazer.
O criado não respondeu. Desviou o olhar, mas Doris sentiu que ele a observava por entre as compridas pestanas. Mandou-o embora.
— Bem, é só.
Ele virou-se sem dizer uma palavra e voltou para os aposentos dos criados. Doris estava exasperada e não pôde mais concentrar a atenção nos exercícios de malaio. Pouco depois o criado veio pôr a mesa para o almoço. De súbito dirigiu-se para a porta.
— O que é? — perguntou ela.
— Tuan vem vindo. Saiu para receber o chapéu das mãos de Guy. O seu ouvido aguçado distinguira o som de passos antes que ela pudesse percebê-lo. Guy não subiu imediatamente os degraus como costumava fazer; demorou-se um pouco e Doris imaginou logo que o criado descera ao seu encontro para informá-lo do incidente daquela manhã. Deu de ombros. Evidentemente, o malaio queria ser o primeiro a dar a sua versão do caso. Mas ficou assombrada quando Guy entrou. Estava mortalmente pálido.
— Santo Deus, Guy, que foi que houve?
O rosto dele fez-se de súbito muito vermelho.
— Nada. Por quê?
A surpresa de Doris foi tamanha que o deixou passar para seu quarto sem dizer uma palavra daquilo que pretendia comunicar-lhe assim que ele chegasse. Guy demorou-se mais tempo que de costume para tomar banho e trocar de roupa. Quando entrou o almoço estava na mesa.
— Guy — disse ela ao sentarem-se —, aquela mulher que vimos no outro dia esteve aqui novamente hoje de manhã.
— Foi o que me contaram.
— Os criados a estavam tratando com brutalidade. Tive de intervir. Positivamente, deves falar a esse respeito.
Embora o malaio entendesse muito bem o que ela dizia, não deu sinal de ter ouvido. Estendeu-lhe tranquilamente as torradas.
— Ela foi avisada de que não devia vir aqui. Mandei que a pusessem para fora se tornasse a aparecer.
— Era preciso que fossem tão brutais?
— A mulher não queria ir. Não acho que eles tenham sido mais brutais do que o necessário.
— É um horror ver tratarem assim uma mulher. Ela tinha uma criança de colo nos braços.
— Não é bem uma criança de colo. Já tem três anos.
— Como sabes disso?
— Conheço-a muito bem. Ela não tem o menor direito de vir aqui amolar a paciência de todo mundo.
— O que ela quer?
— Quer fazer exatamente o que fez: provocar escândalo. Doris guardou silêncio por alguns instantes. O tom do marido a surpreendia. As respostas deste eram concisas. Falava como se ela não tivesse nada que ver com tudo aquilo. Achou-o um tanto ríspido. Estava nervoso e irritadiço.
— Duvido que possamos jogar tênis esta tarde — disse ele. — Está me parecendo que vamos ter uma tormenta.
Quando ela acordou já tinha começado a chover e era impossível sair. Durante o chá Guy esteve silencioso e pensativo. Doris foi buscar as suas costuras e pôs-se a trabalhar. Ele sentou-se para ler os jornais ingleses que ainda não tinha percorrido da primeira à última página; mas estava desassossegado; começou a caminhar de um lado para outro no vasto aposento, depois saiu para a varanda. Olhou a chuva que não queria parar. Em que estaria pensando? Doris sentia uma vaga inquietação.
Só depois que jantaram ele se resolveu a falar. Durante a frugal refeição procurara mostrar-se tão alegre como de costume, mas o esforço era visível. A chuva cessara e a noite estava estrelada. Foram sentar-se na varanda. A fim de não atrair os insetos tinham apagado a lâmpada na sala de estar. Lá embaixo, com uma indolência possante e formidável, silencioso, misterioso e fatal, o rio rolava as suas águas. Tinha a terrível resolução e a inexorabilidade do destino.
— Doris, tenho uma coisa para te contar — falou ele de súbito.
Fê-lo numa voz muito estranha. Seria fantasia ou ele estava mesmo tendo dificuldade em controlar essa voz? O coração de Doris confrangeu-se por vê-lo tão angustiado. Tomou-lhe docemente a mão, mas ele retirou-a.
— A história é um tanto longa. Infelizmente não é muito bonita e acho difícil contar-te. Peço-te que não me interrompas nem digas nada enquanto eu não houver terminado.
Ela não podia distinguir-lhe o rosto na escuridão, mas sentia que ele devia ter uma expressão torturada. Não respondeu uma palavra. Guy falava em voz tão baixa que mal quebrava o silêncio da noite.
— Eu tinha apenas dezoito anos quando vim para cá, diretamente da escola. Passei três meses em Kuala Solor, depois fui enviado para um posto das margens do rio Sembulu. Havia ali, está claro, um residente com a esposa. Eu morava na casa do tribunal, mas fazia as refeições com eles e passava lá os serões. Foi uma temporada muito agradável. Então o sujeito que estava aqui adoeceu e teve de voltar para a Inglaterra. Estávamos com falta de homens por causa da guerra e nomearam-me seu substituto. Era muito moço, é claro, mas falava a língua como um nativo e eles não tinham esquecido o meu pai. Fiquei radiante por me ver dono de mim mesmo.
Calou para bater a cinza do cachimbo e tornar a enchê-lo. Quando acendeu o fósforo Doris notou, sem olhar para ele, que a sua mão tremia.
— Nunca tinha vivido sozinho. Em casa, naturalmente, tinha meu pai, minha mãe e em geral uma empregada. Na escola, está visto, não faltavam companheiros. Tanto durante a viagem como em Kuala Solor e no meu primeiro posto, estive sempre cercado de gente branca: Era como se estivesse ainda em família. Parecia viver sempre no meio de uma multidão. Gosto de ter companhia. Sou um camarada barulhento. Gosto de me divertir. Tudo me faz rir, e a gente precisa ter alguém com quem rir. Mas aqui era diferente. De dia estava tudo muito bem: eu tinha o meu serviço e podia conversar com os daiaques. Embora ainda se dedicassem à caça de cabeças naquela época e eu tivesse algumas amolações com eles de vez em quando, eram uns tipos muito decentes.. Dava-me muito bem com eles. Gostaria, é claro, de ter um branco com quem cavaquear, mas a companhia dos daiaques sempre era melhor do que nada e para mim a coisa se tornava mais fácil porque eles não me consideravam como um estranho. Além disso eu gostava do serviço. De noite é que era um tanto triste ficar sentado na varanda sozinho, tomando, o meu gim, mas sempre havia o recurso da leitura. Depois os empregados malaios andavam por aí. O meu criado particular chamava-se Abdul. Tinha conhecido meu pai. Quando me cansava de ler, era só dar um grito e podia entreter o tempo com ele.
“As noites é que davam cabo de mim. Depois do jantar os empregados fechavam tudo e iam dormir no kampong. Eu ficava completamente só. Não se ouvia um ruído no bangalô, a não ser de vez em quando o grito do chikchak. Vinha de repente, no meio do silêncio, e me fazia pular. Ouvia lá no kampong o som de um gongo ou o espoucar dos fogos chineses. Estavam se divertindo bem perto de mim e eu tinha de ficar onde estava. Cansava-me de ler. Não poderia me sentir mais preso se estivesse na cadeia. Aquilo se repetia noite após noite. Experimentava tomar dois ou três uísques, mas não há muita graça em beber sozinho e isso não me animava; só conseguia me deixar indisposto no dia seguinte. Experimentei deitar-me logo depois de jantar, mas não podia dormir. Ficava estendido na cama, sentindo cada vez mais calor, e o sono nada de vir... No fim não sabia o que fazer. Safa, que noites compridas! Andava tão abatido e tão amargurado que às vezes — hoje me rio ao pensar nisso, mas eu tinha então apenas dezenove anos e meio — que às vezes me punha a chorar.
“Pois bem, uma noite, depois do jantar, Abdul tirou a mesa e quando ia sair tossiu para me chamar a atenção. Perguntou-me se não achava triste passar as noite sozinho em casa. "Oh, não, isso não é nada", disse eu. Não queria que ele soubesse o papel ridículo que eu estava fazendo, mas creio que ele sabia muito bem. Ficou ali parado, sem falar, e percebi que o rapaz queria me dizer alguma coisa. "Que é?" perguntei-lhe. "Desembuche logo." Então ele disse que se eu quisesse uma garota para viver comigo em casa, ele sabia de uma que estava disposta. Era uma pequena muito boazinha e ele podia recomendá-la. Não me daria incômodo algum e seria uma companhia para mim no bangalô. Podia consertar as minhas roupas... Eu estava horrivelmente deprimido. Tinha chovido o dia inteiro e não pude fazer nenhum exercício. Sabia que ia passar horas e horas sem conseguir dormir. Ele me disse que aquilo não me sairia muito caro, a família da pequena era pobre e contentar-se-ia com um pequeno presente. Duzentos dólares de Singapura. "O senhor olha", disse ele. "Se não gostar manda embora." Perguntei onde estava ela. "Aqui mesmo. Vou chamar." Dirigiu-se para a porta. Ela estava esperando nos degraus, com a mãe. Entraram e sentaram-se no chão. Dei-lhes uns doces. A pequena estava acanhada, é claro, mas bastante senhora de si, e quando lhe falei ela sorriu para mim. Era muito moça, quase uma criança; disseram-me que tinha quinze anos. Era muito bonita e tinha posto a sua melhor roupa. Pusemo-nos a conversar. Ela falava pouco, mas ria muito quando eu caçoava com ela. Abdul disse que quando a pequena me conhecesse melhor eu ia ver que não lhe faltava assunto. Mandou-a vir sentar-se ao meu lado. Ela fez um risinho e recusou, mas a mãe lhe disse que viesse e eu me arredei para lhe dar lugar na cadeira. A pequena corou e riu, mas veio e aninhou-se junto a mim. O criado riu também. "Está vendo, ela já simpatizou consigo. Quer que ela fique?" "Você quer ficar?" perguntei à garota. Ela escondeu o rosto no meu ombro, rindo-se. Era uma criaturinha suave e pequenina. "Está bem, então que fique", disse eu.”
Guy curvou-se para diante e serviu-se de uísque e soda. — Posso falar agora? — perguntou Doris. — Espera um instante, ainda não terminei. Eu não tinha nenhum amor a ela, nem mesmo no começo. Só a aceitei para ter uma companhia no bangalô. Creio que se não fosse isso eu teria enlouquecido, ou então daria para beber. Tinha chegado ao limite da minha resistência. Era muito moço para viver completamente só. Nunca amei ninguém senão a ti. — Hesitou um momento. Ela viveu aqui até o ano passado, quando fui à Inglaterra em licença. É a mulher que tens visto a rondar pelo kampong.
— Sim, eu já tinha adivinhado. Ela levava uma criança nos braços. É teu filho?
— Sim. Uma menina.
— É a única?
— No outro dia viste dois meninos no kampong. Falaste-me deles.
— Então ela tem três filhos?
— Tem.
— És um verdadeiro pai de família.
Doris percebeu o gesto brusco que lhe arrancou esta observação, mas ele não disse nada.
— Ela não sabia que estavas casado senão quando apareceste aqui de repente com uma mulher branca?
— Sabia que eu ia me casar.
— Quando o soube?
— Mandei-a de volta para a aldeia antes de partir. Disse-lhe que estava tudo terminado e dei-lhe o que lhe tinha prometido. Ela não ignorava que aquilo era apenas um arranjo temporário. Eu já estava farto. Disse-lhe que ia casar com uma mulher branca.
— Mas nessa ocasião ainda não me conhecias.
— Sim, bem sei. Mas tinha resolvido casar durante a minha estada na Inglaterra. — Guy soltou aquele seu costumeiro risinho gutural. — Confesso-te que já começava a desanimar quando te conheci. Enamorei-me de ti à primeira vista e compreendi que havias de ser tu ou ninguém mais.
— Por que não me contaste isso? Não achas que seria mais justo dar-me um ensejo de julgar por mim mesma? Não te ocorreu que seria um choque para uma moça vir a descobrir que o seu marido tinha vivido dez anos com outra mulher e tinha três filhos dela?
— Não podia esperar que tu compreendesses. As condições aqui são muito especiais. Esse é o procedimento habitual. Cinco homens em seis fazem a mesma coisa. Pareceu-me que ficarias chocada e não quis te perder. É que eu estava tão apaixonado por ti! E ainda estou, querida. Nada levava a crer que tu virias a descobrir essa história. Eu não esperava voltar para cá. É raro que um homem volte para o mesmo posto depois de uma licença. Quando chegamos, ofereci dinheiro a ela com a condição de que se mudasse para outra aldeia. No princípio ela concordou, mas depois mudou de ideia.
— Por que me contas isso agora?
— Ela anda fazendo as cenas mais pavorosas. Não sei como descobriu que tu ignoravas a história, mas assim que o fez começou a fazer chantagem comigo. Arrancou-me um horror de dinheiro. Dei ordens para que não a deixassem entrar no pátio. Esta manhã ela fez aquele escândalo só para te chamar a atenção. Queria me amedrontar. Isso não podia continuar assim. Achei que a única solução era confessar tudo de vez.
Depois que ele terminou fez-se um longo silêncio. Finalmente pousou a mão sobre a dela.
— Tu compreendes, não é verdade, Doris? Reconheço que fui culpado.
Doris não moveu a mão, que ele sentiu fria debaixo da sua.
— Ela tem ciúme?
— Sem dúvida, tinha toda sorte de proveitos quando vivia aqui e deve andar descontente por ter perdido a chuchadeira. Mas assim como eu não lhe tinha amor também ela nunca o teve a mim. As mulheres nativas nunca se interessam realmente pelos homens brancos, sabes?
— E as crianças?
— Oh, as crianças não passam necessidade. Eu as sustento. Assim que os garotos tiverem bastante idade vou pô-los na escola em Singapura.
— Não representam nada para ti?
Ele hesitou. — Quero ser inteiramente franco contigo. Eu sentiria muito se lhes acontecesse alguma desventura. Quando o primeiro estava para chegar julguei que lhe teria muito mais afeição do que tinha à mãe. Creio que isso teria acontecido se ele fosse branco. Está claro que em pequenino era muito engraçadinho, muito tocante, mas eu não tinha a impressão de que era meu. Creio que é isso mesmo: não sinto que eles me pertencem. As vezes me tenho censurado isso porque me parecia desnaturado, mas a verdade é que eu os vejo com tanta indiferença como se fossem filhos de um outro. A gente ouve dizer muita sandice a respeito de filhos, por parte de pessoas que nunca tiveram nenhum.
Doris já ouvira tudo. Guy esperou que ela falasse, porém ela não disse nada. Ficou imóvel na sua cadeira.
— Desejas saber mais alguma coisa, Doris? — disse ele por fim.
— Não. Estou com um pouco de dor de cabeça. Acho que vou me deitar. — Sua voz era firme como sempre. — Não sei bem o que dizer. É natural, isso foi tão inesperado... Preciso que me dês tempo para refletir.
— Estás muito zangada comigo?
— Não, de modo algum. Só que... necessito ficar algum tempo sozinha. Não te mexas. Vou para a cama.
Levantou-se da espreguiçadeira e pousou-lhe a mão no ombro.
— A noite está muito quente. Gostaria que fosses dormir no teu quarto de vestir. Boa-noite.
E se retirou. Ele a ouviu fechar à chave a porta do quarto. No outro dia estava pálida e Guy compreendeu que ela não tinha dormido. A sua atitude não revelava ressentimento. Falava como de costume, mas sem espontaneidade; tocava num assunto e noutro como se estivesse conversando com um estranho. Nunca tinham brigado, mas pareceu a Guy que aquele era o tom em que ela falaria se houvessem tido um desentendimento e a subsequente reconciliação a deixasse ainda ofendida. A expressão dos seus olhos o intrigava; tinha a impressão de ler neles uma espécie de temor. Logo depois do jantar ela disse:
— Não me sinto muito bem esta noite. Acho que vou direito para a cama.
— Oh, minha pobrezinha, como eu lamento isso! — exclamou ele.
— Não é nada. Dentro de um ou dois dias estarei boa.
— Mais tarde vou lá para dizer boa noite.
— Não, não vás. Quero ver se durmo logo.
— Bem, então dá-me um beijo antes de ir. Viu-a corar. Pareceu hesitar um instante, depois, desviando os olhos, curvou-se para ele. Guy tomou-a nos braços e procurou-lhe os lábios, porém ela desviou o rosto e ele beijou-a na face. — Doris afastou-se depressa e ele ouviu mais uma vez a chave girar de mansinho na fechadura. Deixou-se cair pesadamente na cadeira. Tentou ler, mas o seu ouvido estava atento aos menores ruídos no quarto da esposa. Esta dissera que ia deitar-se, mas ele não a ouviu mexer-se. Aquele silêncio lhe provocava um nervosismo inexplicável. Tapou a lâmpada com a mão e notou que havia luz debaixo da porta: ela não havia apagado o seu lampião. Que estaria fazendo? Guy largou o livro. Não se teria surpreendido se ela se encolerizasse e fizesse uma cena, ou se houvesse chorado; saberia enfrentar uma situação dessas; mas a calma de Doris o assustava. Depois, que significava aquele medo que ele percebera com tanta clareza nos seus olhos? Tornou a pensar em tudo quanto lhe havia dito na noite anterior. Como expor o caso de outro modo? Afinal de contas, o principal era que ele tinha feito o mesmo que faziam todos e a coisa já estava terminada muito tempo antes de conhecê-la. É verdade que via agora ter procedido como um tolo, mas é errando que se aprende. Guy pôs a mão no peito. Que dor esquisita sentia ali! Deve ser isto o que querem dizer quando falam em ter o coração partido — disse com seus botões. — Quanto tempo isso vai durar?
Devia bater na porta e dizer que precisava falar com ela? Era melhor que tudo se esclarecesse de uma vez. Tinha de fazê-la compreender. Mas o silêncio o atemorizava. Nem um ruído! Talvez fosse melhor deixá-la em paz. Fora um choque para ela, naturalmente. Devia dar-lhe o tempo que ela quisesse. Afinal, Doris sabia quão extremosamente ele a amava. Paciência, nada mais; talvez ela estivesse procurando vencer a crise sozinha; devia dar-lhe tempo; devia ter paciência.
Pela manhã perguntou a ela se tinha dormido melhor. — Sim, muito melhor — respondeu ela.
— Estás muito zangada comigo? — perguntou Guy com um ar lastimoso.
Doris deu-lhe um olhar claro e franco. — Nem um pouco.
— Oh, minha querida, que alegria para mim! Fui um bruto, um animal. Sei que deves ter achado isso odioso. Mas. perdoa-me, por favor. Ando tão amargurado!
— Eu te perdoo, sim. Nem sequer te censuro.
Ele fez-lhe um sorrisinho triste. Os seus olhos tinham a expressão de um cão batido.
— Não achei muito agradável dormir sozinho estas duas noites.
Doris desviou os olhos e o seu rosto tornou-se um pouco mais pálido.
— Mandei tirar a cama do meu quarto. Tomava muito espaço. Mandei pôr uma caminha de campanha no lugar dela.
— Minha querida, que estás dizendo...
Então Doris pousou nele o olhar firme. — Não quero mais viver contigo como tua mulher.
— Nunca mais?
Ela sacudiu a cabeça. Guy olhou-a com expressão intrigada. Mal podia dar crédito ao que ouvia. O seu coração começou a bater com força, dolorosamente.
— Mas isso é uma grande injustiça que me fazes, Doris!
— Achas que era muito justo trazer-me para cá em semelhantes circunstâncias?.
— Mas tu disseste que não me censuravas!
— Isso é bem verdade, mas a outra coisa é diferente. Não me seria possível fazê-lo.
— Mas como vamos viver juntos desta forma?
Doris pôs os olhos no chão e pareceu refletir profundamente.
— Ontem à noite, quando quiseste me beijar nos lábios, eu... quase tive náuseas.
— Doris!
Ela fitou-lhe de repente um olhar frio e hostil.
— A cama em que eu dormia não era a cama em que ela teve esses filhos? — Viu-o corar violentamente. — Oh, isso é horrível! Como pudeste fazer uma coisa dessas? — Doris torceu as mãos e os seus dedos vergados, torturados, pareciam cobras se enroscando. Mas fez um grande esforço e dominou-se. — Minha decisão está tomada. Não quero ser dura contigo, mas há certas coisas que não podes exigir de mim. Já ponderei tudo isso. Desde que me contaste não tenho pensado em outra coisa, noite e dia, até ficar exausta. O meu primeiro impulso foi levantar e ir embora imediatamente. O vapor estará aí em dois ou três dias.
— Então o meu amor nada significa para ti?
— Sim, eu sei que tu me amas. Não vou embarcar. Quero dar uma oportunidade a nós. Eu te queria tanto, Guy! — Sua voz quebrou-se, porém ela não chorou. — Desejo razoável. Sabe Deus que eu não quero ser injusta contigo. Tu me darás tempo, Guy?
— Não entendo bem o sentido do que dizes.
— Apenas quero que me deixes tranquila. Tenho medo dos meus próprios sentimentos.
Não se enganara, pois... ela estava de fato atemorizada.
— Que sentimentos?
— Por favor, não me perguntes. Não quero dizer nada que possa ofender-te. Talvez ainda consiga vencê-los. Deus sabe quanto eu o desejo. Vou tentar. Dá-me seis meses. Farei tudo que puder por ti, menos essa coisa. — Doris fez um gesto de súplica. — Nada impede que sejamos felizes juntos. Se tu me amas de verdade, hás de... hás de ter paciência.
Ele deu um profundo suspiro.
— Muito bem. Naturalmente não desejo forçar-te a fazer uma coisa que não te agrade. Seja como queres.
Ainda ficou alguns instantes pesadamente sentado, como se houvesse envelhecido de repente e lhe custasse um grande esforço mover-se. Por fim levantou-se.
— Vou indo para o escritório.
Pegou o chapéu de cortiça e saiu. Passou-se um mês. As mulheres sabem esconder o que sentem melhor do que os homens e um estranho que os visitasse nunca teria adivinhado que Doris tinha, um aborrecimento sequer. Mas em Guy a tensão era visível; o seu rosto redondo e bem-humorado alongara-se e os seus olhos tinham uma expressão faminta e torturada. Observava Doris. Ela mostrava-se alegre e caçoava com ele como costumava fazer outrora. Jogavam tênis e conversavam sobre isto e aquilo. Mas era evidente que ela estava apenas representando um papel e finalmente, incapaz de conter-se por mais tempo, ele tentou falar mais uma vez das suas relações com a malaia.
— Ora, Guy, é inútil voltarmos a esse assunto — respondeu Doris jovialmente. — Já ficou dito tudo que havia para dizer a esse respeito e eu não te culpo de nada.
— Por que me castigas, então?
— Meu pobre rapaz, eu não quero castigar-te. Não tenho culpa se... — Deu de ombros. — A alma humana é muito esquisita.
— Não te entendo.
— Não procures entender. Estas palavras, que poderiam ter parecido ríspidas, ela as adoçou com um sorriso afável e amigo. Todas as noites, ao recolher-se, inclinava-se sobre Guy e beijava-o de leve na face. Tocava-lhe apenas com os lábios. Era como uma mariposa que roçasse por ele no seu voo.
Passou-se o segundo mês, o terceiro, e de súbito acabaram aqueles seis meses que tinham parecido tão intermináveis. Guy se perguntou se ela ainda se lembraria. Prestava agora uma atenção concentrada a tudo o que ela dizia, a cada expressão do seu rosto, a cada gesto das suas mãos. Doris continuava impenetrável. Tinha-lhe pedido seis meses; pois bem, ele lhos dera.
O vapor de cabotagem passou pela foz do rio, deixou o correio e seguiu o seu curso. Guy empregou-se diligentemente em escrever as cartas que ele levaria na viagem de regresso. Passaram-se dois ou três dias. Era uma terça-feira e o prau partiria na quinta ao amanhecer, para esperar o vapor. A não ser às horas de refeição, quando Doris se esforçava por animar a conversa, pouco se falavam nos últimos tempos. Depois do jantar, como de costume, cada um apanhou o seu livro e pôs-se a ler. Mas quando o criado acabou de tirar a mesa e foi embora Doris largou o seu.
— Guy, eu tenho uma coisa para te dizer. O coração de Guy deu um salto repentino e ele sentiu-se mudar de cor.
— Oh, meu bem, não faças essa cara, a coisa não é tão terrível — riu ela.
Mas ele julgou distinguir um leve tremor na sua voz.
— E então?
— Quero pedir-te uma coisa.
— Minha querida, eu farei tudo neste mundo por ti. Estendeu a mão para tomar a dela, mas Doris retirou a sua.
— Quero que me deixes ir para casa.
— Tu! — exclamou Guy, consternado. — Quando? Por quê?
— Já suportei esta situação o mais que podia. Estou no fim das minhas forças.
— Quanto tempo queres ficar por lá? Para sempre?
— Não sei. Acho que sim. — E, cobrando decisão: — Sim, para sempre.
— Oh, meu Deus!
Sua voz embargou-se e ela julgou que ele fosse chorar.
— Oh, Guy, não me censures. Sinceramente, não é minha culpa. Não posso proceder de outro modo.
— Tu me pediste seis meses. Aceitei as tuas condições. Não podes dizer que eu te haja importunado.
— Não, não!
— E Procurei ocultar o quanto isso me era penoso.
— Eu sei. Sou muito grata. Foste imensamente bom para mim. Escuta, Guy, eu quero te dizer mais uma vez que não te censuro uma só das coisas que fizeste. Afinal eras um rapaz novo e procedeste como todos procediam; eu sei o que é esta solidão daqui. Oh, meu caro, como eu te lastimo! Desde o começo compreendi isso. Foi por essa razão que te pedi seis meses. O bom senso me diz que estou fazendo de um argueiro um cavaleiro. Não sou razoável; estou sendo injusta contigo. Mas é que o bom senso não tem nada com o caso; toda a minha alma está em revolta.. Quando vejo essa mulher e as crianças na aldeia as minhas pernas se põem a tremer. Tudo nesta casa: quando penso naquela cama em que eu dormia, fico toda arrepiada... Tu não imaginas o que eu tenho suportado.
— Creia que a convenci a ir embora. Também pedi transferência.
— Isso não adiantaria. Ela estaria sempre presente. Tu pertences a eles, não pertences a mim. Talvez eu me tivesse conformado se fosse um filho só, mas três! E os meninos já estão grandes; durante dez anos viveste com ela. — Doris desabafou então de todo; estava desesperada: — É uma coisa física, nada posso contra ela, é mais forte do que eu. Penso naqueles braços escuros e magros a te apertarem e fico cheia de náusea. Penso em ti com essas criancinhas pretas nos braços... Oh, é revoltante! O teu contato me é odioso. Todas as noites, para te beijar, eu tinha de fazer um esforço, tinha de cerrar os punhos e obrigar-me a tocar com os lábios na tua face. — Pusera-se a entrelaçar e a soltar os dedos alternativamente, numa angústia nervosa, e a sua voz se descontrolara. — Sei que agora a culpada sou eu. Sou uma mulher tola, histérica. Pensei que poderia vencer isto. Não posso, e agora nunca mais conseguirei fazê-lo. Sou eu mesma a causadora desta miserável situação. Estou pronta a sofrer as consequências; se achares que devo ficar, eu fico, mas se ficar morrerei. Imploro-te que me deixes ir.
Então as lágrimas que ela contivera por tanto tempo romperam os diques e Doris abandonou-se a um pranto amargurado. Era a primeira vez que ele a via chorar.
— Naturalmente não quero te prender aqui contra a tua vontade — disse em voz rouca.
Ela reclinou-se na cadeira, exausta, com as feições convulsas. Era horrivelmente penoso ver assim entregue à dor aquela fisionomia habitualmente tão plácida.
— Como eu lamento isto, Guy! Estraguei tua vida, mas estraguei a minha também. E podíamos ter sido tão felizes!
— Quando queres ir? Na quinta-feira?
— Sim.
Ela deu-lhe um olhar lastimoso. Guy escondeu o rosto nas mãos. Finalmente tornou a levantar os olhos.
— Estou morto de cansaço — murmurou.
— Deixas que eu vá?
— Sim.
Durante dois minutos, talvez, ficaram sentados ali sem dizer uma palavra. Ela teve um estremecimento ao ouvir o chikchak soltar o seu grito penetrante, rouco e estranhamente humano. Guy levantou, saiu para a varanda Debruçou-se no parapeito e olhou a água que corria mansamente. Ouviu Doris entrar no quarto.
No outro dia levantou-se mais cedo que de costume e foi bater na porta.
— O que é?
— Tenho que subir o rio hoje. Vou voltar tarde.
— Está bem.
Doris compreendeu. Ele arranjara aquele pretexto para se ausentar, a fim de não vê-la arrumar suas coisas. Foi um trabalho aflitivo. Depois de por as suas roupas nas malas correu os olhos pela sala de jantar, notando um por um os objetos que lhe pertenciam. Seria horrível levá-los. Deixou tudo, exceto a fotografia de sua mãe. Guy só voltou às dez horas da noite.
— Desculpa-me não ter vindo jantar. O chefe da aldeia aonde fui tinha uma porção de assuntos que era preciso resolver.
Ela viu seus olhos vagueando pela sala e notando que o retrato de sua mãe já não se achava no lugar habitual.
— Já estás com tudo pronto? — perguntou ele. — Dei ordem ao barqueiro para trazer o bote ao amanhecer.
— Eu disse ao criado que me acordasse às cinco.
— Vou dar-te algum dinheiro. — Guy dirigiu-se para a escrivaninha e preencheu um cheque. Tirou algumas cédulas de uma gaveta. — Isto é para a viagem até Singapura. Poderás descontar lá o cheque.
— Muito obrigada.
— Desejas que eu te acompanhe até a foz do rio?
— Oh, acho que seria melhor nos despedirmos aqui.
— Muito bem. Acho que vou me deitar. Não tive descanso o dia todo e estou mais morto que vivo.
Foi para o quarto sem sequer tocar na mão dela. Dentro de poucos minutos ela o ouviu se jogar na cama. Deixou-se ficar algum tempo sentada, contemplando aquela sala em que fora tão feliz e em que tanto sofrera. Deu um suspiro profundo. Levantou-se e foi para o seu quarto. Toda a bagagem estava pronta, salvo uma ou duas coisas de que ela necessitava para passar a noite.
Estava escuro quando o criado os acordou. Vestiram-se às pressas. O breakfast estava à espera. Pouco depois ouviram o bote encostar lá embaixo ao cais flutuante e os criados desceram com a bagagem. Mal fingiam comer. As trevas foram-se adelgaçando e o rio tomou um aspecto fantasmal. Ainda não era dia, mas também já não era noite. No meio do silêncio as vozes dos nativos soavam muito claras no cais. Guy relanceou os olhos para o prato de sua mulher, intacto.
— Se já terminaste, podíamos ir descendo. Deve ser hora de partir.
Doris levantou-se da mesa sem dizer nada. Foi ao quarto para ver se não havia esquecido nada e depois, um ao lado do outro, desceram os degraus. Um caminho serpeante conduzia até o rio. No cais a guarda nativa estava formada em linha, com os seus elegantes uniformes; apresentaram armas à passagem de Guy e Doris. O patrão do bote estendeu a mão a Doris para ajudá-la a embarcar. Depois de fazê-lo ela virou-se e olhou para Guy. Desejava tanto dizer-lhe uma última palavra de conforto, pedir-lhe perdão mais uma vez Mas parecia ter perdido o uso da fala.
Ele estendeu-lhe a mão. — Bem, adeus. Espero que faças uma ótima viagem. Apertaram-se a mão. Guy fez um sinal com a cabeça ao patrão e o bote largou. A aurora nevoenta ia avançando pouco a pouco pelo rio, mas a noite ainda se ocultava entre as árvores escuras da floresta. Ele deixou-se ficar no cais até que o bote desapareceu nas sombras da manhã. Então soltou um suspiro e voltou. Inclinou distraidamente a cabeça quando a guarda tornou a apresentar armas. Mas ao entrar no bangalô chamou o criado. Percorreu a sala pegando todas as coisas que pertenciam a Doris.
— Guarde tudo numa caixa. Não há necessidade de ficarem por aí.
Depois foi sentar-se na varanda e viu o dia crescer gradualmente, como uma dor amarga, assoberbante e imerecida. Por fim consultou o seu relógio. Eram horas de ir para o escritório.
De tarde não pôde dormir. Sentia uma dor de cabeça torturante. Apanhou a espingarda e foi dar uma volta na floresta. Não deu um tiro, desejava apenas caminhar para cansar-se. Ao cair o sol voltou e tomou dois ou três drinks. Era tempo de se vestir para o jantar — mas que necessidade havia disso agora? Seria melhor por-se à vontade. Vestiu uma folgada jaqueta nativa e um sarong. Era o traje que costumava usar antes da vinda de Doris. Ficou com os pés descalços. Comeu apaticamente o seu jantar, depois o criado tirou a mesa e foi embora. Guy sentou-se para ler The Tatler. Reinava no bangalô um silêncio profundo. Não conseguia ler. O jornal caiu-lhe no regaço. Estava extenuado. Não podia pensar. Sentia um estranho vazio no cérebro. O chikchak fazia muito barulho nessa noite; o seu grito rouco e repentino parecia escarnecer dele. Era incrível que aquele som estentóreo pudesse sair de goela tão pequena. Daí a pouco ele ouviu uma tosse discreta.
— Quem está aí?
Houve uma pausa. Guy olhava para a porta. O chikchak soltou uma risada áspera. Um garotinho entrou timidamente e deteve-se no limiar. Era um menino mestiço, de camiseta esfarrapada e sarong: o mais velho de seus dois filhos.
— O que queres? — perguntou Guy.
O menino veio para o meio da sala e sentou-se no chão, dobrando as pernas à moda do Oriente.
— Quem te mandou aqui?
— Minha mãe me mandou. Ela diz: não precisas de nada?
Guy considerou atentamente o menino. Este nada mais disse. Ficou à espera, baixando timidamente os olhos. Então Guy mergulhou o rosto nas mãos, numa profunda e amarga meditação. Para que lutar? Estava acabado. Acabado. Era melhor render-se. Recostou-se na cadeira e suspirou profundamente.
— Diz a tua mãe que arrume as coisas. Ela pode voltar.
— Quando? — perguntou o menino, impassível. Lágrimas ardentes corriam pelo engraçado rosto de Guy, redondo e cheio de espinhas.
— Esta noite.
(Título original: The Force of Circumstance.)
Atavismo
Os dois praus desciam velozes a correnteza, a poucos metros um do outro. No da frente iam dois homens sentados. Depois de sete semanas passadas a percorrer aqueles rios era um alívio saber que iam finalmente pernoitar numa casa civilizada. Para Izzart, que estava em Bornéu desde o tempo da guerra, as casas daiaques e as suas festas não constituíam novidade; mas Campion, embora fosse novo ali e a princípio tivesse achado divertidos os estranhos costumes da terra, ansiava agora por uma cadeira em que sentar-se e uma cama para dormir. Os daiaques eram hospitaleiros, mas não se podia dizer que as suas casas fossem muito confortáveis e os entretenimentos que ofereciam — aos hóspedes eram de uma monotonia que acabava fatigando. Todas as tardes, quando os viajantes encostavam ao cais, o maioral descia ao rio para recebê-lo, carregando uma bandeira e acompanhado pelas pessoas mais importantes do clã. Eram conduzidos para a casa comunal — verdadeira aldeia sob um mesmo teto, construída sobre estacas, à qual se tinha acesso por um tronco de árvore com toscos degraus entalhados — e entre o rufar de tambores e o som dos gongos percorriam-na de extremo a extremo em longa procissão. De ambos os lados, cerradas multidões de gente escura, sentada de cócoras, encaravam silenciosamente os brancos à sua passagem. Esteiras limpas eram desenroladas e os hóspedes sentavam-se. O chefe trazia um frango vivo e, segurando-o pelas patas, balançava-o três vezes sobre as cabeças dos recém-vindos e invocava os espíritos em altas vozes. Então várias pessoas faziam-lhes presente de ovos. Bebia-se arak. Uma garota, criatura pequenina e tímida com a graça de uma flor mas com algo de hierático no rosto imóvel, segurava uma taça junto aos lábios do homem branco até que este a houvesse esvaziado, e então um grande grito se elevava nos ares. Os homens começavam a dançar, um após outro, cada qual batendo o compasso com os pés, armado de escudo e parang, com o acompanhamento do gongo e do tambor. Ao cabo de algum tempo eram os visitantes conduzidos a uma das peças que davam para a longa plataforma onde os habitantes da casa faziam vida em comum. Encontravam ali o jantar à sua espera. As garotas davam-lhes de comer em colheres chinesas: Todos ficavam um pouco embriagados e conversavam até pela madrugada.
Mas a viagem estava finda e eles iam a caminho da costa. Tinham partido ao amanhecer. No começo o rio era muito raso e as suas águas límpidas corriam sobre um fundo de pedregulho; as árvores inclinavam-se sobre ele, só deixando descoberta uma faixa de céu azul; agora, porém, ele se alargara e os homens já não usavam varas e sim remos. As árvores — bambus, sagueiros selvagens que semelhavam enormes penachos de plumas de avestruz, árvores de folhas imensas e árvores de folhagem plumosa como a acácia, coqueiros e arequeiras com os seus longos estipes eretos e brancos — as árvores das margens tinham uma violenta, uma incrível luxuriância. De espaço a espaço, nu e descarnado, via-se o esqueleto de um tronco ferido pelo raio ou morto de velhice, e a sua alvura formava um vivo contraste no meio de todo aquele verde. Aqui e além, soberanos rivais da floresta, alterosas árvores se erguiam acima do nível comum. Havia também as parasitas; grandes tufos de folhas verdes e lustrosas na forquilha de dois galhos ou trepadeiras floridas cobrindo a esparramada folhagem como um véu de noiva. Por vezes enroscavam-se em volta de um alto tronco, qual bainha de esplendor, e lançavam longos braços floridos de ramo em ramo. Havia algo de emocionante naquela exuberância selvagem e apaixonada; tinha o atrevido abandono de uma mênade desenfreada no séquito do deus.
O dia começava a declinar e o calor já não era tão opressivo. Campion consultou o velho relógio de prata que trazia ao pulso. Não deviam estar longe do seu destino.
— Que espécie de sujeito é Hutchinson? — perguntou ele.
— Não o conheço. Creio que é um tipo muito decente.
Hutchinson era o Residente, em cuja casa iam passar a noite. Tinham enviado um daiaque numa canoa para anunciar a sua chegada.
— Bem, espero que ele tenha uísque em casa. Já bebi arak que chegue para o resto da vida.
Campion era o engenheiro de minas que o Sultão, em viagem para a Inglaterra, tinha conhecido em Singapura e, encontrando-o sem emprego definido, encarregara-o de fazer em Sembulu uma prospecção de minerais que pudessem ser explorados com proveito. Mandou instruções a Willis, o Residente de Kuala Solor, para que lhe desse todas as facilidades, e Willis o confiara aos cuidados de Izzart porque este falava malaio e daiaque como um nativo. Era a terceira viagem que faziam ao interior e Campion estava pronto para apresentar o seu relatório. Alcançariam o Sultan Ahmed, que devia passar pela foz do rio dois dias depois, ao amanhecer, e se tudo corresse bem estariam em Kuala Solor na mesma tarde. Estavam ambos contentes por voltar. Havia tênis, golfe, bilhar, uma cozinha relativamente boa e os confortos da civilização. Izzart também estava satisfeito com a perspectiva de ter outra companhia que não a de Campion. Deu-lhe um olhar de soslaio. Campion era um homenzinho calvo, de cabeça enorme, e se bem que não pudesse ter menos de cinquenta anos, era forte e musculoso. Tinha olhos azuis, vivos e cintilantes, e um bigode grisalho, irregular e ralo, parecendo um restolhal. Raramente era visto sem um velho cachimbo de roseira brava entre os dentes cariados e descorados. Não era asseado nem correto no vestir; as suas calças curtas de brim cáqui estavam em farrapos e a sua camiseta esburacada; no momento tinha à cabeça um velho e amolgado capacete de cortiça. Vagueava pelo mundo desde os dezoito anos e tinha estado na África do Sul, na China, no México. Era bom companheiro; sabia contar uma anedota e estava sempre disposto a emborcar alguns copos com o primeiro que encontrasse. Acertavam-se os dois muito bem, mas Izzart nunca se sentira completamente à vontade com ele. Embora rissem e gracejassem um com o outro, embora se embebedassem juntos, parecia-lhe que não havia entre eles uma verdadeira intimidade; apesar das suas relações cordiais, não eram mais que simples conhecidos. Era ele muito sensível à impressão que causava nos outros e sob a jovialidade de Campion percebia uma certa frieza; aqueles olhos azuis e brilhantes já o tinham aquilatado e era vagamente irritante para Izzart que Campion tivesse formado uma opinião a seu respeito e ele não pudesse saber ao certo qual era essa opinião. Exasperava-o a possibilidade de que esse homenzinho vulgar não o tivesse em muito boa conta. Queria ser estimado e admirado. Queria ser benquisto. Queria que as pessoas a quem encontrava concebessem uma feição desmedida por ele, a fim de poder rejeitá-las ou conferir-lhes a sua amizade um tanto condescendente. Sua inclinação era ser familiar com toda a gente, mas paralisava-o o receio de ser mal acolhido; por vezes tinha sensação inquietante de que as suas demonstrações efusivas surpreendiam aqueles a quem as prodigalizava.
Por casualidade nunca havia encontrado Hutchinson, se bem que o conhecesse muito bem de referência, da mesma forma que Hutchinson o conhecia. Tinham muitos amigos comuns sobre quem conversar. Hutchinson cursara a escola de Winchester e Izzart sentia-se contente por lhe poder dizer que estivera em Harrow...
O prau dobrou uma curva do rio e de súbito avistaram o bangalô, erguido sobre uma pequena eminência. Dentro de poucos minutos divisaram o cais flutuante, e sobre este, no meio de um grupinho de nativos, um vulto vestido de branco que abanava para eles.
Hutchinson era um homem alto e corpulento, de cara vermelha. Sua aparência fazia esperar uma criatura jovial e segura de si e não era pequena a surpresa que se tinha ao descobrir que ele era desconfiado e até um pouco tímido. Ao apertar a mão aos hóspedes (Izzart apresentou-se primeiro, depois apresentou Campion) e ao conduzi-los para o bangalô, embora fosse visível a sua preocupação de ser cortês não era difícil perceber que lhe custava entreter a conversa. Levou-os para a varanda, onde encontraram copos, uísque e soda sobre uma mesa. Puseram-se à vontade em espreguiçadeiras. Cônscio do leve embaraço de Hutchinson em presença dos estranhos, Izzart expandiu-se. Foi muito cordial e loquaz. Começou a falar das relações comuns que tinham em Kuala Solor e dentro em pouco conseguiu encaixar, de passagem, a informação de que tinha estado em Harrow.
— O senhor esteve em Winchester, não é verdade? — perguntou.
— Estive.
— Por acaso terá conhecido George Parker, que serviu no meu regimento? Ele também esteve em Winchester. Calculo que fosse mais moço do que o senhor.
Izzart sentia que o fato de terem cursado essas escolas era um laço a uni-los, ao mesmo tempo que excluía Campion, que evidentemente não gozara de tal privilégio. Beberam dois ou três uísques. Daí a meia hora Izzart estava chamando o dono da casa de Hutchie. Estendia-se muito sobre o "seu regimento", em que recebera o comando de uma companhia durante a guerra, e sobre os alegres companheiros que eram os outros oficiais. Mencionou dois ou três nomes que dificilmente poderiam ser estranhos a Hutchinson. Não eram pessoas com quem Campion tivesse probabilidade de haver-se encontrado e Izzart deu-lhe na cabeça com gosto quando ele pretendeu reconhecer uma das pessoas em apreço.
— Billie Meadows? Conheci um camarada com esse nome em Sinaloa, há muitos anos — disse Campion.
— Oh, não creio que fosse o mesmo — retrucou Izzart sorrindo. — Billie deve ser hoje Par do Reino. Ele é o Lord Meadows que cria cavalos de corrida. Era o proprietário de Spring Carrots, não se lembram?
Aproximava-se a hora do jantar. Depois de lavar-se e escovar-se eles tomaram um par de gin pahits. Sentaram-se à mesa. Havia quase um ano que Hutchinson não ia a Kuala Solor e três meses que não via outro homem branco. Esforçava-se por tratar regiamente as visitas. Vinho não lhes podia servir, mas havia uísque em abundância e depois do jantar ele trouxe uma preciosa garrafa de Beneditino. Estavam muito alegres. Riam muito e tagarelavam sem cessar. Izzart sentia-se no paraíso. Parecia-lhe que jamais gostara tanto de um sujeito como de Hutchinson. Insistiu com ele para que fosse a Kuala Solor logo que pudesse. Haviam de fazer lá uma pândega das boas. Campion era excluído da conversa por Izzart, com a intenção maliciosa de pô-lo no seu lugar, e por Hutchinson em razão da sua timidez. Algum tempo depois, depois de soltar grandes bocejos, ele anunciou que ia deitar-se. Hutchinson conduziu-o ao seu quarto e quando voltou Izzart lhe disse:
— Ainda não vai para a cama, não é mesmo?
— Qual nada! Vamos tomar outro drink. Continuaram a conversar. Tanto um como o outro ficaram um pouco embriagados. Lá pelas tantas Hutchinson confessou a Izzart que vivia com uma garota malaia e tinha dois filhos dela. Mandara-os sumir enquanto Campion estivesse ali.
— Ela deve estar dormindo a estas horas — disse ele, relanceando os olhos para uma porta que Izzart sabia ser a do seu quarto, — mas eu gostaria de ver os garotinhos de manhã.
Nesse momento ouviu-se um fraco choro e, exclamando "olá, o diabrete está acordado!", Hutchinson dirigiu-se para a porta e abriu-a. Daí a momentos tornou a sair do quarto com uma criança nos braços e seguido por uma mulher.
— Estão lhe nascendo os dentes — disse Hutchinson — e isso o deixa desassossegado.
A mulher vestia sarong e uma fina blusa branca. Estava descalça. Era moça, com belos olhos escuros, e quando Izzart lhe falou ela deu-lhe um sorriso alegre e cativante. Sentou-se e acendeu um cigarro. Respondeu sem embaraço, mas também sem efusão, às perguntas polidas de Izzart. Hutchinson perguntou-lhe se queria um uísque com soda, porém ela recusou. Quando os dois homens se puseram a conversar de novo em inglês ela continuou sentada, muito tranquila, embalando-se levemente na cadeira e ocupada sabe Deus em que calmas reflexões.
— É uma excelente garota — disse Hutchinson. — Cuida da casa e nunca dá incômodos. Naturalmente, num lugar como este não se pode fazer outra coisa.
— Eu é que nunca o farei — disse Izzart. — Afinal a gente pode lembrar-se de casar e então começam a surgir encrencas. Mas quem é que quer casar? Que vida esta para uma mulher branca! Eu não pediria a uma mulher branca que viesse viver aqui por nada deste mundo.
— Naturalmente, é uma questão de gosto. Quanto a mim, faço questão de que os meus filhos tenham uma mãe branca, se algum dia os tiver.
Hutchinson baixou os olhos para a criancinha escura que tinha nos braços e sorriu de leve.
— É interessante como a gente toma afeição a eles. Quando são nossos, não tem muita importância que sejam um pouco tisnados.
A mulher deitou um olhar à criança e, levantando-se, disse que ia pô-la na cama.
— Acho bom irmos deitar todos — disse Hutchinson. — Já deve ser muito tarde.
Izzart foi para o seu quarto e abriu de par em par os postigos que o seu criado Hassan tinha fechado. Soprou a vela para não atrair os mosquitos e sentou-se junto à janela, contemplando a noite suave. O uísque que tinha bebido fazia com que se sentisse muito desperto e não tinha vontade de se deitar. Tirou a roupa de brim, pôs um sarong e acendeu um charuto. O seu bom humor desaparecera. Fora a vista de Hutchinson contemplando ternamente a criança mestiça que o tinha posto fora dos eixos.
— Eles não têm o direito de fazer isso — disse de si para si. — Essas crianças não têm nenhum futuro neste mundo. Absolutamente nenhum!
Passou pensativamente a mão nas pernas nuas e peludas. Teve um leve arrepio. Embora houvesse feito o que podia para desenvolver as barrigas das pernas, estas pareciam caniços. Detestava-as. Tinha sempre o pensamento inquieto posto nelas. Eram pernas de nativo. Entretanto, pareciam feitas sob medida para uma bota de montar. Outrora, de uniforme, ele fazia bela figura. Era um homem alto e vigoroso. com mais de seis pés de estatura, tinha cabelos pretos e um bonito bigode preto. Os seus olhos, escuros e muito móveis, eram admiráveis. Era um homem bem apessoado e não o ignorava. Vestia bem, desalinhadamente quando o desalinho era de estilo e elegantemente quando a ocasião o exigia. Adorava a vida militar e foi um golpe amargo para ele quando, terminada a guerra, teve de abandoná-la. Suas ambições eram simples. Queria ter mil libras por ano, dar jantares finos e usar uniforme. Suspirava por Londres.
Sua mãe, entretanto, vivia lá, e sua mãe o atrapalhava. Como poderia apresentá-la se um dia se tornasse noivo da moça de boa família (com algum dinheiro) a quem pretendia fazer sua esposa? Como seu pai morrera havia muito e no fim da sua carreira tinha servido no mais remoto de todos os Estados Malaios, Izzart estava bastante seguro de que pessoa alguma em Sembulu sabia da existência dela, mas vivia no terror de que alguém, encontrando-a por acaso em Londres, escrevesse de lá para contar que ela era uma mestiça. Era uma linda criatura quando o pai de Izzart, engenheiro a serviço do governo, a desposara; mas estava transformada agora numa velha gorda, de cabelos grisalhos, que passava o dia inteiro sentada a fumar cigarros. Tinha Izzart doze anos quando o pai morreu e já sabia falar o malaio com muito mais fluência do que o inglês. Uma tia ofereceu custear-lhe a educação e Mrs. Izzart acompanhou o filho à Inglaterra. Costumava viver em apartamentos mobilados cujos aposentos, com as suas cortinas orientais e as suas pratas malaias, eram superaquecidos e mal ventilados. Andava eternamente de pendência com as proprietárias por causa do seu hábito de deixar tocos de cigarro pelo chão. Izzart sentia-se revoltado ao ver a maneira por que ela fazia amizade com essas senhoras: durante algum tempo mantinham uma familiaridade chocante, depois ficavam de mal e, após uma cena violenta, ela ia embora batendo as portas. Sua única diversão era o cinema, a que ia todos os dias. Em casa usava um chambre velho e espalhafatoso, mas para sair vestia-se — com que desalinho, santo Deus! — de cores extravagantes, fazendo a mortificação do filho tão janota. Questionava com ela amiúde, Mrs. Izzart o fazia perder a paciência e sentir-se envergonhado; e no entanto tinha por ela uma ternura profunda; era uma espécie de laço físico entre os dois, algo mais forte do que a afeição comum entre mãe e filho, de modo que apesar dos defeitos que o exasperavam ela era a única pessoa no mundo com quem se sentia inteiramente à vontade.
Foi devido à posição do pai e ao seu conhecimento do malaio — pois a mãe sempre lhe falava nessa língua — que depois da guerra, encontrando-se sem o que fazer, ele conseguiu entrar para o serviço do Sultão de Sembulu. Tinha feito sucesso. Era hábil em toda espécie de jogos, forte e bom atleta. Na hospedaria dos viajantes, em Kuala Solor, podiam ser vistas as taças que ele conquistara em Harrow, na corrida e no salto, e a estas havia acrescentado outras posteriormente, ganhas em campeonatos de tênis e golfe. Com o seu abundante repertório de assuntos de conversa era um elemento valioso em qualquer reunião social e a sua jovialidade punha tudo em animação. Devia ser um homem feliz e era desgraçado. Desejava imensamente ser benquisto e tinha a impressão, mais forte do que nunca nesse momento, de que a popularidade lhe fugia. Perguntava de si para si se porventura os homens de Kuala Solor, com quem vivia em tão bons termos, suspeitavam de que ele tinha sangue nativo nas veias. Sabia muito bem o que esperar se algum dia descobrissem. Não diriam então que ele era um alegre companheiro, e sim que tomava liberdades demais; achá-lo-iam descuidado e incompetente como todos os mestiços, e quando ele falasse em casar com uma mulher branca teriam um riso de mofa. Oh, como isso era injusto! Que diferença podia fazer aquela gota de sangue nativo nas suas veias? E no entanto, por causa dela, estariam sempre na expectativa de um fracasso em algum momento crítico. Todos sabiam que não se podia confiar num eurasiano, mais cedo ou mais tarde tinha-se uma desilusão com ele; Izzart também o sabia, mas perguntava consigo se tais fracassos não se deviam ao fato de que todos os esperavam. Nunca davam um ensejo aos coitados.
Mas um galo cantou sonoramente. Devia ser muito tarde e ele começava a sentir frio. Enfiou-se na cama. Quando Hassan lhe trouxe o chá pela manhã Izzart tinha uma terrível dor de cabeça, e quando desceu para o breakfast nem sequer pôde olhar para as papas de aveia e o "bacon" com ovos que lhe puseram na frente. Hutchinson também não se sentia muito disposto.
— Acho que fomos um pouco longe na noite passada — disse este, sorrindo para ocultar o seu leve embaraço.
— Estou com uma ressaca infernal — volveu Izzart.
— Quanto a mim, o meu café será um uísque com soda — acrescentou Hutchinson.
Izzart não pedia outra coisa. Foi de cara torcida que ambos viram Campion fazer, com saudável apetite, uma substanciosa refeição. Campion caçoava deles.
— Izzart, você está verde! Nunca vi cor mais cabulosa.
Izzart enrubesceu. A sua tez trigueira sempre fora para ele um ponto sensível. Mas forçou uma risada alegre.
— Uma de minhas avós era espanhola — respondeu, e sempre que não me sinto muito bem a cor aparece. Lembro-me de ter quebrado a cara a um guri em Harrow porque ele me chamou de mestiço.
— Você é moreno disse Hutchinson. — Os malaios nunca lhe perguntam se você não tem sangue nativo?
— Perguntam sim, os canalhas!
Um bote partira de manhã cedo, com os apetrechos, a fim de alcançar antes deles a foz do rio e avisar o comandante do Sultan Ahmed, se porventura chegasse antes da hora esperada, de que eles iam a caminho. Campion e Izzart embarcariam logo após o almoço para alcançar o ponto de pernoite antes da passagem da pororoca, uma grande vaga que sobe certos rios, por sua disposição topográfica especial, e sucede que o rio em que estavam viajando tinha pororoca. Hutchinson lhes falara disso na noite anterior e Campion, que nunca tinha visto coisa semelhante, estava muito interessado.
— É uma das melhores de Bornéu. Vale a pena vê-la — disse Hutchinson.
Contou-lhes que os nativos, aguardando o momento oportuno, cavalgavam a pororoca e eram arrastados rio acima com uma rapidez aterrorizante. Ele mesmo o fizera uma vez.
— Nunca mais! Que susto eu passei!
— Eu gostaria de experimentar — disse Izzart.
— É muito emocionante, mas palavra que quando a gente está dentro de uma frágil canoa e sabe que se os nativos não escolherem o momento exato será engolido por aquele vagalhão e não terá nenhuma possibilidade de escapar... Não, não é assim que eu concebo o esporte.
— Eu atravessei muitas corredeiras no meu tempo — disse Campion.
— Que corredeiras! Espere para ver essa pororoca. É uma das coisas mais apavorantes que já vi. Sabe que só neste rio morrem afogados nela pelo menos uma dúzia de nativos por ano?
Passaram quase toda a manhã na varanda e Hutchinson mostrou-lhes a casa do tribunal. Depois foram servidos gin pahits. Tomaram dois ou três. Izzart começou a sentir-se mais disposto e quando afinal o almoço ficou pronto ele comeu com excelente apetite. Hutchinson tinha-se gabado do seu caril malaio e todos eles se atiraram com voracidade aos pratos fumegantes e suculentos. Hutchinson insistia com os seus hóspedes para que bebessem.
— Vocês não têm nada que fazer senão dormir. Por que não vão tomar chuva?
Não podia resignar-se a deixá-los partir tão cedo. Como era bom, ao cabo de tanto tempo, ter homens brancos com quem conversar! Tratou de prolongar a refeição. Não os deixava descansar os maxilares. Iam jantar miseravelmente aquela noite na casa comunal e não teriam nada para beber senão arak. Pois então que aproveitassem aquela pechincha! Campion insinuou uma ou duas vezes que eram horas de partir, mas Hutchinson — e Izzart também, pois agora se sentia muito a seu gosto — garantiram-lhe que havia tempo de sobra. Hutchinson mandou vir a preciosa garrafa de Beneditino. Tinham-lhe feito uma brecha na noite passada; por que não terminá-la de vez antes de irem embora?
Quando desceu afinal com eles para o rio estavam todos muito alegres e nenhum dos três ia muito firme das pernas. A parte mediana do bote era coberta por um toldo de nipa, sob o qual Hutchinson mandara estender um colchão. A tripulação era composta de presos trazidos da cadeia para conduzir os brancos rio abaixo. Vestiam sarões imundos, com a marca da prisão. Estavam à espera, junto aos seus remos. Izzart e Campion Apertaram a mão de Hutchinson e deixaram-se cair no colchão. O bote largou. O rio turvo, dilatado e plácido, reluzia ao calor daquela tarde luminosa como bronze polido. Diante deles, à distância, avistava-se a ribanceira com o seu emaranhado de árvores verdes. Estavam sonolentos, mas Izzart, pelo menos, sentia um curioso prazer em resistir por algum tempo ao torpor que o invadia. Resolveu não se entregar ao sono senão depois que houvesse acabado o seu charuto. Afinal a bagana começou a queimar-lhe os dedos e ele jogou-a no rio.
— Vou dormir uma boa soneca.
— E a pororoca?
— Oh, quanto a isso não há perigo. Não precisamos nos preocupar com ela.
Deu um longo e sonoro bocejo. Parecia ter chumbo nos membros. Houve um momento em que sentiu uma deliciosa sonolência, depois não teve consciência de mais nada. Foi despertado de súbito por Campion, que o sacudia.
— Olhe, o que é aquilo?
— O que é o quê?
Respondeu de mau humor, pois ainda estava pesado de sono, mas acompanhou com os olhos o gesto de Campion. Seu ouvido não percebia som algum, mas ao longe avistou duas ou três ondas de crista branca que se seguiam umas às outras. Seu aspecto não era muito alarmante.
— Oh, aquilo deve ser a pororoca.
— O que vamos fazer? — gritou Campion.
Izzart ainda não estava bem acordado. Sorriu da voz atemorizada do seu companheiro.
— Não se preocupe. Esses camaradas entendem do riscado. Eles sabem o que devem fazer. Talvez levemos alguns borrifos.
Mas enquanto eles pronunciavam estas poucas palavras a pororoca avizinhou-se mais, avançando com grande rapidez, e Izzart percebeu que as ondas eram muito mais altas do que ele julgara. Um pouco apreensivo, apertou o cinto para que a calça não escorregasse no caso de virar o bote. Daí a um momento as vagas estavam em cima deles. Era um grande paredão de água a dominá-los e podia ter dez ou doze pés de altura, mas só se podia medi-lo com o horror. Era evidente que nenhum bote poderia aguentar. A primeira onda passou por cima, encharcando-os, enchendo parcialmente o bote de água, e logo após outra onda os colheu. Os barqueiros puseram-se aos gritos, forcejando nos remos como doidos, e o patrão berrou uma ordem. Mas nada podiam fazer contra aquela torrente impetuosa e dava medo vê-los perder por completo o controle do barco. A força das águas virou-o de costado e ele foi arrastado assim, aos trambolhões, sobre a crista da pororoca. O terceiro vagalhão arremessou-se sobre eles e o bote começou a afundar. Izzart e Campion safaram-se atabalhoadamente do lugar coberto em que estavam deitados. De repente o bote começou a ceder debaixo de seus pés e eles acabaram se debatendo na água encapelada e turbilhonante. O primeiro impulso de Izzart foi ganhar a margem a nado, mas seu criado Hassan gritou-lhe que se agarrasse ao bote. Foi o que todos fizeram por um ou dois minutos.
— Você está bem? — gritou-lhe Campion.
— Sim, estou gostando do banho — respondeu Izzart.
Imaginava que as ondas passariam à medida que a pororoca subisse o curso do rio e que em alguns minutos, no máximo, eles se encontrariam de novo em águas tranquilas. Esquecia que estavam sendo transportados na crista do vagalhão. As ondas arremessavam-se sobre eles. Agarravam-se à amurada e à base da armação que sustentava o toldo de nipa. Então uma onda maior colheu o bote e este virou, caindo sobre eles e fazendo-os perder o apoio; não pareciam ter mais que um casco escorregadio para se segurar e as mãos de Izzart resvalavam inutilmente na superfície engraxada. Mas o bote continuou a girar sobre si e ele se agarrou desesperadamente na amurada, que no entanto logo lhe escorregou das mãos naquele movimento circular. Pegou a armação do toldo, mas o bote não cessava de girar e mais uma vez ele procurou se agarrar ao casco. O bote dava voltas com uma horrível regularidade. Pareceu-lhe que era porque todos se agarravam do mesmo lado e quis mandar a tripulação passar para o outro. Não conseguiu se fazer entender. Todos gritavam e as ondas os malhavam com um rugido surdo e furioso. Cada vez que o bote caía de borco em cima deles, Izzart era jogado para o fundo, mas subia de novo para a tona valendo-se do apoio da amurada e da armação do toldo. A luta era medonha. Daí a pouco começou a perder o fôlego e sentiu que as forças o abandonavam. Sabia que não poderia resistir muito mais tempo, mas não sentia medo, pois a sua fadiga já era tamanha que pouco lhe importava o que acontecesse. Hassan achava-se ao seu lado e Izzart lhe disse que estava ficando muito cansado. Pensou que o melhor seria procurar ganhar a margem, — que não parecia estar a mais de sessenta metros de distância, mas Hassan suplicou-lhe que não o fizesse. Continuavam a ser arrastados no meio daquelas ondas fervilhantes e ferozes. O bote — volteava sem cessar e eles acompanhavam-lhe os movimentos, andando à roda como esquilos numa gaiola. Izzart engolia muita água. Sentia-se quase perdido. Hassan não o podia auxiliar, mas era um conforto tê-lo ali, pois Izzart sabia que o rapaz, acostumado à água desde criança, era um grande nadador; Depois, sem que ele soubesse por que, o bote imobilizou-se durante um minuto ou dois com o fundo para baixo e ele pôde agarrar-se à amurada. Era um precioso ensejo de tomar fôlego. Nesse momento duas canoas, com malaios cavalgando a pororoca, passaram velozmente por eles. Gritaram por socorro, mas os malaios desviaram os olhos e seguiram adiante. Tinham visto os brancos e não queriam se envolver em qualquer contratempo que lhes acontecesse. Foi uma agonia vê-los passar, insensíveis e indiferentes na sua segurança. Mas de súbito o bote pôs-se de novo a girar, lentamente, e recomeçou a mísera e exaustiva luta. Era de desesperar. Mas o breve descanso fora proveitoso a Izzart, que pôde lutar ainda por algum tempo. Depois tornou a sentir-se tão sem fôlego que lhe parecia que o seu peito ia rebentar. Estava com as forças exauridas e duvidava que fossem suficientes para nadar até a margem. De súbito ouviu um grito:
— Izzart, Izzart! Socorro! Socorro!
Era a voz de Campion, esganiçando-se num guincho de angústia. Izzart sentiu um choque em todos os nervos do seu corpo.
Campion, Campion ... Que lhe importava Campion? O medo apoderou-se dele, um medo cego, animal, e deu-lhe novas forças. Não respondeu.
— Ajuda-me, depressa — disse a Hassan.
Este o compreendeu imediatamente. Por milagre, um dos remos boiava bem perto deles e o malaio deu-lhe um empurrão, pondo-o ao alcance de Izzart. Colocou uma mão sob o braço deste e ambos afastaram-se do bote com uma braçada. O coração de Izzart batia com violência e ele respirava com dificuldade. Sentia-se horrivelmente fraco. As ondas fustigavam-lhe o rosto. A margem parecia tão longe! Jamais poderia alcançá-la. De repente o criado gritou que tinha tocado no fundo. Izzart colocou-se em posição vertical mas não encontrou pé; deu mais umas braçadas, exausto, os olhos fixos na margem, depois fez nova tentativa e sentiu os pés afundando numa lama espessa. Graças a Deus! Tocou para diante, patinhando; lá estava a margem ao alcance das suas mãos, uma lama negra em que se atolava até os joelhos. Subiu de rastos, doido por sair da água cruel, e ao alcançar o alto encontrou uma pequena chapada coberta de altos juncos. Ele e Hassan deixaram-se cair ao solo e durante algum tempo ficaram estendidos, imóveis, como mortos. Estavam tão cansados que não podiam mexer-se. A lama negra os cobria da cabeça aos pés.
Mas daí a pouco o cérebro de Izzart recomeçou a funcionar e uma angústia súbita o sacudiu. Campion afogara-se. Que horror! Como iria explicar o desastre quando voltasse a Kuala Solor? Seria responsabilizado; devia ter se lembrado da pororoca, mandando o patrão ganhar a margem e amarrar o bote quando o visse aproximar-se. A culpa não era dele e sim do patrão, que conhecia o rio. Por que diabo não tivera o bom senso de buscar um abrigo? Como podia crer na possibilidade de aguentar aquela pavorosa torrente? Izzart tremia por todo o corpo ao lembrar-se la muralha de água fervilhante que se abatera sobre eles. Tinha de encontrar o cadáver e levá-lo para Kuala Solor. Acaso algum homem da tripulação ter-se-ia afogado também? Sentia-se muito fraco para se mexer, mas Hassan levantou-se e torceu o seu sarong para secá-lo; correu os olhos pelo rio e virou-se vivamente para Izzart.?
— Tuan, aí vem um bote.
Os juncos não deixavam Izzart ver nada.
— Dá um grito. Hassan desapareceu das vistas e avançou por um galho de árvore que se estendia por cima d'água. Pôs-se a chamar aos gritos e a abanar com a mão. Daí a pouco Izzart ouviu vozes. Houve um rápido colóquio entre o criado e os remadores do bote, e Hassan tornou a aparecer.
— Eles viram quando nós viramos, Tuan, e vieram logo que a pororoca passou. Há uma casa comunal no outro lado.
Izzart teve por um instante a impressão de que lhe faltaria coragem para confiar-se mais uma vez àquela água traiçoeira.
— E o outro Tuan? — perguntou. — Eles não sabem.
— Se ele se afogou terão de procurar o corpo. — Um outro bote subiu o rio. Izzart não sabia o que fazer. Tinha o cérebro entorpecido. Hassan pôs-lhe o braço em volta dos ombros e ajudou-o a levantar-se. Abriu caminho por entre o cerrado juncal e ao chegar à beira d'água encontrou dois daiaques numa canoa. O rio tinha voltado ao seu aspecto calmo e indolente; o grande vagalhão passara e ninguém teria sonhado que tão pouco tempo atrás aquela superfície plácida era como um mar enfurecido. Os daiaques repetiram-lhe o que haviam contado a Hassan. Izzart não se animava a falar. Tinha a impressão de que se dissesse uma palavra explodiria em prantos. Hassan ajudou-o a entrar no bote e os daiaques começaram a atravessar o rio. Ele tinha uma vontade doida de fumar, mas os cigarros e os fósforos, que trazia no bolso de trás das calças, estavam encharcados. A travessia do rio pareceu-lhe interminável. A noite caiu e quando chegaram ao outro lado já cintilavam as primeiras estrelas. Desembarcou e um dos daiaques o conduziu à casa comunal. Mas Hassan agarrou o remo que ele largara e voltou com o outro para o meio do rio. Dois ou três homens e algumas crianças desceram ao encontro de Izzart, que se dirigiu para a casa no meio de um parlatório confuso. Galgou a escada e foi conduzido, entre saudações e agitados comentários, para o lugar em que dormiam os moços. Estenderam-se às pressas esteiras de rotim para lhe fazer uma cama em que ele se deixou cair extenuado. Trouxeram-lhe um jarro de arak e ele tomou um grande sorvo. A bebida áspera e ardente queimou-lhe a garganta, mas reconfortou-o. Tirou a camisa e a calça e pôs um sarong enxuto que lhe emprestaram. Deu com os olhos por acaso no fino crescente da lua, reclinado nas alturas, e essa vista lhe causou um prazer agudo, quase sensual. Não pôde deixar de refletir que nesse momento ele bem podia ser um cadáver boiando rio acima, levado pela maré.
A lua nunca lhe parecera mais bela. Começou a sentir fome e pediu arroz. Uma das mulheres foi prepará-lo. Sentindo-se mais calmo, pôs-se a pensar de novo nas explicações que daria em Kuala Solor. Ninguém podia censurar-lhe com justiça o fato de ter pegado no sono. Não estava bêbado, por certo (Hutchinson seria testemunha disso) e como poderia esperar que o patrão do bote fosse cometer aquela asneira? Tudo simples azar. Não podia pensar em Campion, porém, sem estremecer. Afinal trouxeram-lhe um prato de arroz e Izzart dispunha-se a comer quando um homem entrou correndo e se dirigiu para ele.
— O Tuan chegou!
— Que Tuan?
Saltou do leito de esteiras. Notou uma comoção na porta e deu um passo à frente. Hassan vinha rapidamente na sua direção, surgido das trevas. Então ouviu uma voz.
— Izzart, você está aí?
Campion adiantou-se para ele.
— Bem, cá estamos juntos de novo. Nossa! Escapamos de boa, hein? Você parece estar muito bem instalado aqui. Por Deus que um drink viria muito a propósito agora!
As roupas encharcadas grudavam-se em seu corpo. Estava enlameado e descabelado, mas com excelente disposição.
— Não sabia para onde diabos eles queriam me trazer. Tinha me resignado a passar a noite na margem do rio. Pensei que você tivesse se afogado.
— Aqui tem um pouco de arak — disse Izzart. Campion levou o jarro à boca, bebeu, cuspiu e tornou a beber.
— Que droga! Mas por Deus que é forte! — Olhou para Izzart, arreganhando os dentes cariados e escuros. — Escute, meu velho, você parece estar precisando de um banho.
— Vou me lavar depois.
— Está certo, eu também. Diga-lhes que me arranjem um sarong. Como foi que você escapou? — E, sem esperar pela resposta: — Eu já tinha me dado por perdido. Devo a vida a esses dois valentes aí. — Indicou com um movimento jovial de cabeça dois dos presos daiaques, a quem Izzart reconheceu vagamente como tendo feito parte da tripulação. — Estavam agarrados ao maldito bote, um à direita e o outro à esquerda, e não sei como perceberam que eu estava no fim. Não poderia aguentar nem um minuto mais. Indicaram-me, com sinais, que podíamos fazer uma tentativa de alcançar a margem a nado, mas me pareceu que eu não teria forças para tanto. Caramba, nunca me senti tão esfalfado na minha vida! Não sei como eles o conseguiram, mas o fato é que pegaram aquele colchão em que estivemos deitados e fizeram com ele um rolo. Ah! não resta dúvida que são uns valentes! Não compreendo por que não se salvaram simplesmente, sem se preocuparem comigo. Deram-me o colchão. O salva-vidas me pareceu miserável, mas compreendi a força do provérbio que diz que quem está se afogando se agarra à primeira palha que encontra. Segurei aquele diabo de negócio e entre os dois, não sei como, eles me arrastaram para a margem.
O perigo de que se salvara tornava Campion agitado e loquaz, mas Izzart mal escutava o que ele dizia. Ouviu mais uma vez, tão distintamente como se as palavras fizessem vibrar naquele momento o ar, o angustiado pedido de socorro de Campion, e sentiu-se esfriar. Um terror cego tomou-lhe conta dos nervos. Campion continuava, a falar: aquilo não teria por fim esconder os seus pensamentos? Izzart considerou-lhe os claros olhos azuis, procurando ler neles uma intenção oculta sob a torrente de palavras. Não tinham esses olhos um brilho duro, uma expressão, de cínica zombaria? Saberia ele que Izzart tinha fugido, abandonando-o à sua sorte? Corou fortemente. Afinal, que poderia ter feito? Num momento como aquele era cada um por si e Deus por todos. Mas que diriam em Kuala Solor se Campion lhes contasse que Izzart o abandonara? Devia ter ficado junto ao bote, e agora desejava de todo o coração tê-lo feito — mas não pudera, tinha sido mais forte do que ele Quem podia culpá-lo? Ninguém que tivesse visto aquela torrente furiosa. Oh, aquela água, aquela exaustão que quase o tinha feito chorar!
— Se você está com tanta fome quanto eu, vamos cair com força neste arroz — disse ele.
Campion comeu vorazmente, mas depois de engolir um ou dois bocados Izzart verificou que não tinha apetite. Campion falava sem cessar. O outro o ouvia desconfiado. Achou que devia ficar com o espírito alerta e bebeu mais arak. Começou a sentir-se um pouco tonto.
— Vou me ver numa camisa de onze varas em Kuala Solor — disse ele para sondar o terreno.
— Não sei por quê.
— Fui encarregado de cuidar de você. Não acharão muito bonito eu tê-lo deixado quase se afogar.
— Não foi sua culpa. Foi culpa daquele imbecil do patrão. Afinal, o importante é que nos salvamos. Com a breca, houve um momento em que me vi perdido. Gritei por você pedindo socorro. Não sei se você me ouviu.
— Não, não ouvi nada. Fazia uma barulheira do inferno, hein?
— Talvez você já tivesse escapado. Não sei exatamente quando se safou.
Izzart olhou-o com atenção. Seria fantasia sua ou os olhos de Campion tinham mesmo uma expressão esquisita?
— Era uma confusão medonha — disse ele. — Eu estava já sem forças. O meu criado me atirou um remo e me deu a entender que você estava fora de perigo. Disse-me que você tinha alcançado a margem.
O criado devia ter dado o remo a Campion e dito a Hassan, o forte nadador, que ajudasse o outro. Estaria imaginando de novo que Campion lhe dava um olhar vivo e penetrante?
— Quisera ter sido mais prestativo — disse Izzart.
— Oh, tenho certeza de que você teve trabalho de sobra para se salvar — respondeu Campion.
O chefe da casa trouxe-lhes taças de arak e ambos beberam muito. A cabeça de Izzart começou a girar e ele sugeriu que se deitassem. Tinham-lhes preparado duas camas com mosquiteiros. Partiriam ao amanhecer para terminar a descida do rio. A cama de Campion ficava ao lado da sua e daí a poucos minutos ouviu-o roncar. Tinha ferrado no sono assim que se deitara. Os moços da casa comunal e os presos da tripulação do bote conversaram até tarde da noite. Izzart tinha uma horrível dor de cabeça e não podia pensar. Quando Hassan o acordou, ao romper do dia, ele teve a impressão de que não havia dormido. As roupas dos dois ingleses estavam lavadas e enxutas, mas ambos tinham um aspecto muito enlameado ao tomarem o estreito caminho do rio, onde os esperava um prau. Os barqueiros remavam descansadamente. A manhã estava linda e o grande lençol de água plácida reluzia sob a luz suave.
— Caramba, é um prazer estar vivo! — disse Campion.
Estava sujo e barbudo. Respirava em haustos profundos, a boca torta entreaberta numa expressão sorridente. Via-se que ele achava o ar delicioso. Encantava-se com o espetáculo do céu azul, do sol e do verde das árvores. Izzart sentiu-lhe ódio. Tinha certeza de que as suas maneiras haviam mudado nessa manhã. Não sabia o que fazer. Estava a ponto de apelar para a sua generosidade. Ele se conduzira mal, mas lamentava-o e tudo daria para ter novamente uma oportunidade; afinal qualquer um podia ter procedido como ele, e se Campion o denunciasse ele estava perdido. Teria de deixar Sembulu e o seu nome ficaria desacreditado em Bornéu e nos Estabelecimentos do Estreito. Se fizesse uma confissão a Campion, obteria deste uma promessa de guardar segredo — mas cumpriria ele tal promessa? Considerou aquele homenzinho de maneiras evasivas: como confiar em tal criatura? Izzart pensou no que tinha dito na noite anterior. Não era a verdade, por certo, mas quem poderia sabê-lo? Em todo caso, quem poderia provar que ele não julgara sinceramente que Campion estava salvo? Este podia dizer o que quisesse, era a palavra dum contra a do outro; bastava rir, dar de ombros e responder que seu companheiro perdera a cabeça e não sabia o que estava dizendo. Além disso, não era certo que Campion não tivesse aceitado a sua explicação; naquela medonha luta com a morte ele não podia ter formado uma ideia clara de coisa alguma. Izzart tinha a tentação de voltar ao assunto, mas receava que isso despertasse suspeitas em Campion. Devia ficar calado. Era a sua única salvação. E, quando chegassem a Kuala Solar, trataria de ser o primeiro a dar a sua versão do caso.
— Eu me sentiria completamente feliz se tivesse alguma coisa que fumar — disse Campion.
— Arranjaremos cigarros a bordo. Campion riu de leve. — A alma humana é contraditória. No primeiro momento senti-me tão contente por estar vivo que não pensei em mais nada, mas agora estou começando a lamentar a perda das minhas notas, das minhas fotografias e do meu aparelho de barbear. — Izzart formulou de si para si o pensamento que se ocultava no fundo do seu cérebro, mas a que durante toda a noite ele negara acesso à consciência:
"Quem me dera que ele se tivesse afogado! Só assim eu estaria tranquilo."
— Lá está ele! — gritou Campion de repente.
Izzart virou-se para olhar. Tinham chegado à foz do rio e lá estava o Sultan Ahmed a esperá-los. Izzart esfriou: esquecera que o navio tinha um capitão inglês e seria preciso contar a este a aventura. Que iria dizer-lhe. Campion? O capitão chamava-se Bredon e Izzart encontrara-se muitas vezes com ele em Kuala Solor. Era um homenzinho rude, de bigode preto e maneiras despachadas.
— Apressem-se — gritou ao vê-los chegar. — Estou esperando desde o nascer do sol.
Mas quando os dois subiram para bordo ele fez uma cara consternada. — Ué, o que foi que lhes aconteceu?
— Dê-nos um drinque e lhe contaremos a história — respondeu Campion com o seu sorriso de viés.
— Venham comigo.
Sentaram-se debaixo do toldo. Havia ali uma mesa com copos, uma garrafa de uísque e água de soda. O capitão deu uma ordem e dentro de poucos minutos o vapor punha-se ruidosamente em marcha.
— Fomos apanhados pela pororoca — disse Izzart. Sentia a necessidade de dizer alguma coisa. Tinha a boca horrivelmente seca apesar do drink.
— Não me diga! Foi uma sorte não morrerem afogados. Como foi isso?
Dirigia-se a Izzart porque o conhecia, mas foi Campion quem respondeu. Relatou todo o episódio com exatidão. Izzart o escutava com uma atenção concentrada. Campion falou no plural ao referir a primeira parte da história, mas quando chegou ao momento em que eles tinham sido jogados à água passou para o singular. No começo disse o que eles tinham feito, agora dizia o que lhe acontecera, a ele, excluindo Izzart da narrativa. Este não sabia se devia sentir-se aliviado ou alarmado. Por que o outro não o mencionava? Seria porque naquela luta mortal ele não tinha pensado senão em si, ou... Ou por acaso ele sabia?
— E a você, que foi que aconteceu? — perguntou o capitão Bredon voltando-se para Izzart.
Este ia responder quando Campion falou: — Antes de ser levado para o outro lado do rio eu pensava que ele se tivesse afogado. Não sei como escapou. Creio que nem ele mesmo sabe.
— Salvei-me por um tris — ajuntou Izzart, rindo. Por que motivo Campion tinha dito aquilo? Seu olhar cruzou-se com o dele. Julgou notar-lhe um brilho irônico. Era horrível não ter certeza de nada. Sentiu medo e vergonha. Não haveria um meio de orientar a conversa, quer naquele momento, quer mais tarde, de modo que lhe fosse possível saber se era aquela a história que ele pretendia contar em Kuala Solor? Nada havia nela que despertasse suspeitas. Mas ainda que ninguém mais soubesse; Campion sabia! Tinha ganas de matá-lo.
— Bem, o que me parece é que os dois tiraram a sorte grande — disse o capitão.
Dali a Kuala Solor era perto. Enquanto subiam o rio Sembulu Izzart observava taciturnamente as margens. De ambos os lados viam-se os mangues e as nipas banhados pela água e, por trás, o verde carregado da floresta. Aqui e além, entre árvores de fruta, apareciam casas malaias erguidas sobre estacas. Quando encostaram às docas a noite ia caindo. Goring, o inspetor da polícia, veio a bordo e apertou-lhes a mão. De momento estava morando na hospedaria dos viajantes, e enquanto ia interrogando os passageiros nativos informou-os de que encontrariam lá outro homem, chamado Porter. Todos eles se veriam ao jantar. Os criados levaram as bagagens e apetrechos e Campion e Izzart puseram-se a caminho. Tomaram banho, mudaram de roupa, e às oito e meia reuniram-se os quatro na sala comum para tomar gin pahits.
— Que história é essa que Bredon me contou, de que os dois estiveram a ponto de se afogar? — perguntou Goring ao vê-lo entrar.
Izzart sentiu um rubor cobrir-lhe as faces, mas Campion interveio sem lhe dar tempo de responder e pareceu-lhe certo que o outro o fazia a fim de narrar o episódio como mais lhe convinha. Izzart ardia de vergonha. Nem uma palavra era dita em seu menoscabo, nem uma palavra mesmo a seu respeito. Perguntou consigo se aqueles dois homens que escutavam, Goring e Porter, não achariam estranho o ser ele assim excluído do caso. Observou Campion atentamente enquanto este prosseguia na narrativa, com bastante humorismo; não disfarçava o perigo que tinham corrido, mas fazia pilhéria em torno, levando os dois ouvintes a rir daquelas aperturas.
— O mais engraçado — disse Campion — é que quando cheguei ´à outra margem estava preto de lama, da cabeça aos pés. Senti a necessidade de cair n'água e tomar um banho, mas quem é que ia me convencer a entrar de novo naquele maldito rio? "Não senhor", disse cá comigo, "vou assim mesmo." E quando entrei na casa comunal e vi Izzart tão preto como eu, compreendi que ele tinha sentido a mesmíssima coisa.
Riram, e Izzart também forçou uma risada. Notou que Campion tinha contado a história nos mesmos termos que usara com o capitão do Sultan Ahmed. Só podia haver uma explicação para isso: ele sabia de tudo, e tinha tomado a sua resolução sobre o que devia dizer. A habilidade com que Campion expunha os fatos, evitando tudo aquilo que pudesse trazer descrédito, era diabólica. Mas por que essa moderação? Ele não podia deixar de sentir desprezo e raiva do homem que tranquilamente o abandonara num momento de perigo mortal. De súbito, num relâmpago, Izzart compreendeu: ele estava reservando a verdade para contá-la a Willis, o Residente. Apavorou-se ao pensar em fazer frente a Willis. Podia negar, mas de que serviria isso? Willis não era nenhum tolo. Mandaria chamar Hassan, e não se podia confiar na discrição deste; Hassan o trairia. Então ele estaria liquidado. Willis o aconselharia a voltar para a Inglaterra.
Estava com uma tremenda dor de cabeça. Depois do jantar recolheu-se ao seu quarto, pois queria estar só a fim de traçar um plano de ação. Veio-lhe então uma ideia que o fez sentir ao mesmo tempo frio e calor: o segredo que tinha guardado por tanto tempo não era segredo para ninguém. Adquiriu instantaneamente essa certeza. Donde vinham aqueles olhos brilhantes e aquela pele trigueira que tinha? Por que falava ele o malaio com tanta facilidade e por que aprendera tão depressa a língua dos daiaques? Eles sabiam, ora se não! Que imbecil tinha sido em pensar que os outros acreditassem naquela história da avó espanhola! Deviam rir à socapa quando lha ouviam contar, chamando-o de amarelo pelas costas. Veio-lhe então outro pensamento torturante. Perguntou consigo se não seria por causa dessa desgraçada gota de sangue nativo que ao ouvir o pedido de socorro de Campion lhe faltara a coragem. Afinal, qualquer um podia ser tomado de pânico num momento como aquele; e por que, em nome de Deus, havia de sacrificar a sua vida para salvar a de um homem que não lhe interessava em absoluto? Seria loucura! E contudo eles diriam em Kuala Solor que era justamente o que esperavam; não teriam contemplações com ele.
Finalmente deitou-se, mas quando adormeceu, depois de virar-se de um lado para outro sabe Deus quanto tempo, foi acordado por um sonho aterrador. Estava de novo no meio daquela torrente furiosa, com o bote a dar volta e mais voltas; agarrava-se com desespero à amurada, sentia aquela angústia de vê-la escorregar-lhe das mãos, com a água a esbravejar em torno. Despertou de todo antes do amanhecer. Sua única salvação era falar com Willis e contar-lhe a história antes do outro. Refletiu cuidadosamente no que diria e escolheu os próprios termos que pretendia usar:
Levantou-se cedo e, a fim de não se encontrar com Campion, saiu sem comer. Caminhou pela estrada até a hora em que sabia que" o Residente devia estar na repartição, e então voltou sobre os seus passos. Mandou anunciar o seu nome e foi introduzido no gabinete de Willis. Era este um homenzinho idoso, de cabelos grisalhos e ralos, cara amarela e comprida.
— Estimo vê-lo de volta são e salvo — disse ele apertando a mão de Izzart. — Que história é essa que ouvi contar, de que estiveram a ponto de morrer afogados?
Izzart, com uma roupa limpa de brim branco, o chapéu de cortiça imaculado, era uma bela figura de homem. Seu cabelo não tinha um fio fora do lugar, o bigode estava corretamente aparado. Tinha um porte aprumado e marcial.
— Achei que devia vir contar-lhe imediatamente, porque o senhor me havia encarregado de zelar por Campion.
— Venha de lá.
Izzart contou a sua história. Fez pouco do perigo, dando a entender a Willis que este não fora grande. O bote não teria virado se eles não tivessem partido tão tarde.
— Procurei levar Campion mais cedo, mas ele tinha tomado um ou dois drinks e a verdade é que não queria se mexer.
— Ele estava na chuva?
— Quanto a isso não sei — respondeu Izzart com um sorriso bem-humorado, — mas não garanto que estivesse perfeitamente lúcido.
Continuou com a sua história. Achou um meio de insinuar que Campion tinha perdido um pouco a cabeça. Naturalmente aquilo era de apavorar um homem que não fosse bom nadador; ele, Izzart, preocupara-se mais com Campion do que consigo próprio. Sabia que o único meio de escapar era conservar a calma e no momento em que o bote virou tinha visto que Campion estava amedrontado.
— Era muito natural — observou o Residente.
— Está claro que fiz o que pude por ele, sir, mas a verdade é que não podia fazer muito.
— Bem, o principal é que ambos se salvaram. Seria bastante embaraçoso para todos nós se ele se tivesse afogado.
— Achei prudente vir expor-lhe os fatos antes que o senhor falasse com Campion. Ele me parece inclinado a descrevê-los de uma forma extravagante. Não há necessidade de exagerar.
— Em conjunto, as narrativas de ambos concordam entre si — disse Willis com um pequeno sorriso.
Izzart encarou-o, confuso.
— Não falou com Campion esta manhã? Goring contou que tinha havido um contratempo e passei por lá ontem de noite depois do jantar, a caminho de casa. O senhor já tinha ido deitar-se.
Izzart sentiu que se punha a tremer e fez um grande esforço para manter a compostura.
— A propósito, o senhor salvou-se primeiro, não foi?
— Na verdade não sei, sir. Compreende, a confusão era grande.
— Deve ter sido assim, se o senhor chegou à outra margem antes dele.
— Sim, creio que o senhor tem razão. — Bem, obrigado por me ter vindo contar — disse Willis, erguendo-se da cadeira.
Ao fazê-lo derrubou alguns livros que estavam em cima da mesa. Eles caíram ao chão com um baque repentino. Esse som inesperado fez com que Izzart estremecesse violentamente, contendo a respiração. O Residente lançou-lhe um olhar vivo.
— Que é isso? O senhor não parece estar lá muito bom dos nervos.
Izzart não podia dominar o seu tremor. — Lamento muito, sir — murmurou ele.
— Sem dúvida foi um choque para si. Devia descansar durante alguns dias. Por que não pede ao doutor que lhe dê alguma coisa para tomar?
— Não dormi muito bem esta noite. O Residente sacudiu a cabeça para indicar que compreendia. Izzart deixou o gabinete e ao sair para a rua um conhecido seu deteve-se para felicitá-lo. Todos já sabiam do incidente. Voltou para a hospedaria dos viajantes. Enquanto caminhava repetia de si para si a história que tinha contado ao Residente. Seria realmente a mesma que Campion contara? Nem sequer suspeitava que o Residente já havia falado com este. Que tolice cometera em ir deitar-se tão cedo! Não devia ter perdido Campion de vista. Por que motivo o Residente o escutara sem dizer nada? Izzart começou a amaldiçoar-se por ter insinuado que Campion estava embriagado e perdera a cabeça. Tinha dito isso para desacreditá-lo, mas compreendia agora que fora uma estupidez. E qual o motivo daquela alusão de Willis ao fato de ele ter sido o primeiro a salvar-se? Talvez ele também estivesse contemporizando, talvez pretendesse fazer indagações. Willis era um homem muito astuto. Mas que seria exatamente o que Campion tinha dito? Tinha de sabê-lo, custasse o que custasse. Os pensamentos de Izzart estavam em ebulição e era com dificuldade que os controlava. Mas precisava manter a calma. Sentia-se como um animal acossado. Não acreditava que Willis o estimasse; por uma ou duas vezes, na repartição, ele lhe censurara a sua negligência. Talvez estivesse apenas esperando até ter pleno conhecimento dos fatos. Izzart achava-se à beira da histeria.
Entrou na hospedaria dos viajantes. Lá estava Campion, sentado numa espreguiçadeira, com as pernas estendidas. Lia os jornais recebidos durante a sua ausência na selva. Izzart sentiu uma onda de ódio ao olhar para aquele homenzinho mal vestido que o tinha na palma da mão.
— Olá! — disse Campion, alçando os olhos. — Onde foi que você esteve?
Izzart julgou ler-lhe nos olhos uma ironia zombeteira. Cerrou os punhos e a sua respiração tornou-se precipitada.
— Que foi que você andou dizendo de mim a Willis? — perguntou abruptamente.
Tão áspero era o tom em que ele formulou esta pergunta inesperada que Campion lhe lançou um olhar levemente surpreendido.
— Não creio que tenha falado muito a seu respeito. Por quê?
— Ele esteve aqui esta noite. Izzart considerava-o com atenção, as sobrancelhas franzidas numa carranca de cólera. Procurava ler os pensamentos de Campion.
— Disse a ele que você estava com dor de cabeça e tinha ido se deitar. Ele queria saber do nosso contratempo.
— Acabo de falar com ele. Izzart andava de um lado para outro no vasto aposento sombreado. Embora ainda fosse cedo o sol já escaldava, ofuscante. Ele se sentia preso numa rede; estava cego de raiva; tinha ímpetos de agarrar Campion pelo pescoço e estrangulá-lo, e contudo, como não sabia contra que lutar, sentia-se impotente. Estava cansado e indisposto, com os nervos abalados. De repente a cólera que lhe emprestava forças abandonou-o e ele se encheu de desânimo. Dir-se-ia que nas suas veias corria água — em vez de sangue; sentiu desfalecer-lhe o coração e fraquejar as pernas. Percebeu que se não tomasse cuidado ia por-se a chorar. Foi tomado por um horrível abatimento.
— Diabos o levem, tomara que nunca lhe tivesse posto os olhos em cima! — gritou lastimosamente.
— Mas... de que se trata? — perguntou Campion, assombrado.
— Ora, deixe de fingimento! Há dois dias que andamos com disfarces e já estou farto disso. — A sua voz alteou-se, assumindo um tom estridente muito estranho em homem tão robusto e possante. — Estou farto, compreende? Eu me pus ao fresco, deixando que você se afogasse. Sei que procedi como um frouxo. Não pude me dominar.
Campion levantou-se vagarosamente da cadeira. — Mas do que você está falando?
A sua voz tinha um tom de surpresa tão genuíno que fez Izzart estacar. Um arrepio desceu-lhe pela espinha.
— Quando você pediu socorro eu estava tomado de pânico. Agarrei-me a um remo e pedi a Hassan que me ajudasse a escapar.
— Era a coisa mais sensata que você podia fazer.
— Não pude ajudá-lo. Não pude fazer coisa alguma.
— Claro que não. Foi uma tolice minha gritar. Isso era gastar fôlego, e o fôlego era a coisa mais preciosa para mim na ocasião.
— Quer dizer, então, que você não sabia?
— Quando aqueles camaradas me estenderam o colchão eu pensava que você ainda estava agarrado ao bote. Supunha ter escapado antes de você.
Izzart levou ambas as mãos à cabeça e soltou um grito rouco de desespero.
— Meu Deus, que idiota eu sou!
Os dois homens encararam-se durante algum tempo. O silêncio parecia interminável.
— Que é que você vai fazer agora? — perguntou Izzart finalmente.
— Ora, meu caro, não se preocupe. Já tenho passado muitos sustos na minha vida para culpar os outros de covardia. Não contarei isso a ninguém.
— Sim, mas você sabe.
— Dou-lhe a minha palavra. Pode confiar em mim. Além disso, o meu serviço aqui está terminado e vou voltar para casa. Pretendo tomar o primeiro vapor para Singapura. — Houve uma pausa, durante a qual Campion considerou Izzart pensativamente. — Só lhe queria pedir uma coisa. Fiz muitas amizades aqui e há um ou dois pontos em que sou bem sensível. Quando você contar a história do nosso naufrágio, eu lhe ficaria reconhecido se não desse a entender que fiz feio. Não gostaria que os rapazes daqui pensassem que eu tinha perdido a coragem.
Izzart ficou escarlate. Lembrou-se do que dissera ao Residente. Quase chegava a parecer que Campion tinha escutado atrás da porta. Pigarreou e disse:
— Não sei por que você me julga capaz disso.
Campion teve um risinho gutural e bonachão. Os seus olhos cintilaram.
— Coisas do atavismo — respondeu; e, arreganhando os dentes cariados e escuros: — Fume um charuto, meu caro rapaz.
(Título original: The Yellow Streak.)
A carta
Fora do cais o sol escaldava. Uma fila de automóveis, caminhões, ônibus, carros particulares e jornaleiros, corria acima e abaixo pela rua apinhada, e cada chofer fazia soar a sua buzina; os jinriquixás esgueiravam-se agilmente entre a turba, e os cules ofegantes achavam fôlego para berrarem uns aos outros; cules, carregando pesados fardos, passavam a meio trote e gritavam aos transeuntes que lhes abrissem caminho; vendedores ambulantes apregoavam as suas mercadorias. Singapura é o ponto de encontro de uma centena de povos; e homens de todas as cores, tâmils negros, chins amarelos, malaios pardos, armênios, judeus e bengalis, chamavam-se em vozes roucas. Mas dentro do escritório dos Srs. Ripley, Joyce e Naylor havia uma aprazível frescura; a casa parecia obscurecida após o revérbero poeirento da rua, e agradavelmente silenciosa depois daquela contínua barulheira. Mr. Joyce achava-se no seu gabinete particular, sentado à mesa, com um ventilador elétrico à frente. Inclinado para trás, com os cotovelos nos braços da cadeira, tinha as mãos unidas pelas pontas dos dedos entreabertos. Repousava o olhar nos volumes surrados da Coletânea de Leis, que se enfileiravam diante dele numa comprida prateleira. Em cima de um armário, viam-se caixas de charão, quadradas, nas quais estavam pintados os nomes de vários clientes.
Bateram à porta. — Entre. Um secretário chinês, muito limpo na sua roupa de linho branco, abriu a porta.
— Mr. Crosbie está aí, senhor. Falava um excelente inglês, acenTuando com precisão todas as palavras, e Mr. Joyce muitas vezes se admirava da extensão do seu vocabulário. Ong Chi Seng era cantonês, e estudara advocacia no Inn of Court, em Londres. Viera trabalhar um ano ou dois com os Srs. Ripley, Joyce e Naylor a fim de preparar-se para advogar com escritório próprio. Era diligente, obsequioso, e de caráter exemplar.
— Mande-o entrar — disse Mr. Joyce.
Levantou-se para apertar a mão do visitante e convidá-lo a sentar-se. Quando este assim o fez, achou-se exposto à luz. O rosto de Mr. Joyce permaneceu na sombra. Era um homem silencioso por índole, e ficou a olhar para Robert Crosbie, durante um minuto, sem dizer palavra. Crosbie era um tipo sólido, com mais de um metro e oitenta de altura, musculoso e de ombros largos. Era plantador de borracha, enrijado no constante exercício de caminhar pelos seringais, e no tênis, a sua única distração quando findava o dia de trabalho. Estava bastante queimado pelo sol. As mãos peludas, os pés metidos em sapatos grosseiros, eram enormes; Mr. Joyce deu consigo a pensar que um golpe daquele robusto punho mataria facilmente um tâmul franzino. Mas não havia dureza nos seus olhos azuis: eram suaves e confiantes; o rosto, de feições grossas e indistintas, era aberto, franco e honesto. Mas nesse momento havia nele uma expressão de profunda tristeza. Estava contraído e macilento.
— Parece-me que você não tem dormido muito há uma ou duas noites — disse Mr. Joyce.
— Não tenho, não.
Mr. Joyce observou o velho chapéu de feltro, de abas largas e duplas, que Crosbie tinha colocado sobre a mesa; correu depois os olhos para as suas calças curtas, de cáqui, que mostravam as coxas cobertas de pelos ruivos, para a camisa de tênis aberta ao pescoço, sem gravata, e para o casaco enxovalhado, também de cáqui, cujas mangas estavam viradas para cima. O homem dava a impressão de que acabava de chegar de uma longa caminhada por entre os seringais. Mr. Joyce franziu ligeiramente o sobrolho.
— Você precisa recompor-se, homem. Precisa manter a cabeça no lugar.
— Oh, estou muito bem. — Viu sua mulher hoje? — Não, vou vê-la agora de tarde. Você compreende, é uma enorme vergonha o fato de a terem prendido.
— Acho que se viram obrigados a isso — observou Mr. Joyce na sua voz suave e parelha.
— Pois eu pensava que a deixariam em liberdade sob fiança.
— A acusação é muito séria.
— É detestável. Ela fez o que qualquer mulher honesta faria em seu lugar. Acontece que em dez mulheres, nove não teriam coragem para isso. Leslie é a melhor criatura do mundo. Ela não seria capaz de matar uma mosca. Ora, deixemo-nos de coisas, meu caro. Estou casado com ela há doze anos, e pensa você que eu não a conheço? Deus do céu, se eu tivesse apanhado o sujeito, torcia-lhe o pescoço. Matava-o sem um momento de hesitação. Você faria o mesmo.
— Mas meu caro, todos estão do seu lado. Ninguém é capaz de dizer uma única palavra em favor de Hammond. Vamos tirá-la de lá. Acho que nem os jurados nem o juiz irão ao tribunal sem estarem resolvidos a absolver.
— Toda a história é uma farsa — disse Crosbie violentamente. — Em primeiro lugar, ela nunca devia ter sido presa, e é terrível, depois de tudo o que ela passou, submetê-la à provação de um julgamento. Nem uma só das pessoas que encontrei, desde que cheguei em Singapura, homem ou mulher, deixou de dizer-me que Leslie estava absolutamente justificada. Acho que é horrível mantê-la na prisão durante todas estas semanas.
— A lei é a lei. Afinal de contas, ela confessa que matou o homem. Isso é terrível, e eu o lamento muitíssimo, tanto por você como por ela.
— Não tem importância nenhuma.
— Mas permanece o fato de que o crime foi cometido, e numa comunidade civilizada um julgamento é inevitável.
— Acabar com um bicho daninho é crime? Ela o matou como teria matado um cão hidrófobo.
Mr. Joyce tornou a inclinar-se na sua cadeira e mais uma vez uniu as mãos pelas pontas dos dedos entreabertos. O gesto parecia formar a armação de pequeno telhado. Esteve um momento em silêncio.
— Eu faltaria ao meu dever como seu consultor legal — disse ele por fim, numa voz plana, fitando o cliente com os seus olhos castanhos e frios — se não lhe mencionasse um ponto que me causa certa ansiedade. Se sua esposa tivesse disparado contra Hammond um só tiro, tudo seria absolutamente fácil e resolvido. Por infelicidade, ela fez seis disparos.
— A explicação dela é perfeitamente simples. Naquelas circunstâncias qualquer pessoa teria feito o mesmo.
— Suponho — disse Mr. Joyce — e sem dúvida acho que a explicação é muito razoável. Mas de nada serve fecharmos os olhos diante dos fatos. Sempre é um bom recurso colocar-se a gente no lugar do adversário, e eu não posso negar que se fosse o promotor concentraria o meu interrogatório em torno desse ponto.
— Mas meu caro, isso é perfeitamente idiota. Mr. Joyce lançou um olhar penetrante a Robert Crosbie. A sombra de um sorriso pairou-lhe nos lábios bem formados. Crosbie era um bom sujeito, mas dificilmente poderia ser dado como inteligente.
— Acho que isso não tem importância — respondeu o advogado. — Apenas julguei que era um ponto mencionável. Vocês não têm, agora, muito que esperar, e quando tudo estiver terminado recomendo-lhe que faça uma viagem com a esposa, e esqueçam tudo o que houve. Embora tenhamos certeza quase absoluta de conseguir uma absolvição, um julgamento destes é coisa que causa ansiedade, e vocês dois precisarão de um descanso.
— Acho que eu vou precisar mais do que Leslie. Ela tem resistido maravilhosamente. Meu Deus, é uma mulherzinha muito corajosa.
— Sim, tem-me surpreendido a maneira como ela se mantém senhora de si — disse o advogado. — Eu nunca teria pensado que ela fosse capaz de tamanha determinação.
Os deveres de advogado tinham-lhe exigido uma série de entrevistas com Mrs. Crosbie desde a sua prisão. Apesar de a terem cercado de todas as atenções cabíveis, havia o fato de que ela se encontrava na cadeia, à espera de ser julgada por homicídio, e não seria para admirar se os nervos lhe falhassem. Parecia suportar tranquilamente a. provação. Lia muito, fazia quanto exercício lhe era possível, e por deferência das autoridades trabalhava na almofada de rendas que sempre fora o entretenimento das suas longas horas de lazer. Quando Mr. Joyce a viu, ela usava um vestido leve, simples e correto, tinha o cabelo cuidadosamente penteado e as unhas polidas. A sua atitude era de calma e compostura. Chegou a gracejar sobre os pequenos inconvenientes da sua posição. Havia certa despreocupação no modo por que ela falava da tragédia, e isto sugeriu a Mr. Joyce que apenas a sua boa educação impedia de achar um tanto ridícula uma situação que era eminentemente séria. Tal coisa o surpreendeu, pois nunca a julgara capaz de fazer humorismo.
Conhecia-a desde muitos anos. Quando ela visitava Singapura, geralmente vinha jantar com ele e a esposa, e por uma ou duas vezes passara com eles um fim de semana na sua casa a beira-mar. A sua esposa tinha ficado quinze dias com ela no seringal, e diversas vezes encontrara Geoffrey Hammond. Os dois casais entretinham amizade, embora não em caráter íntimo, e foi por este motivo que Robert Crosbie correra a Singapura imediatamente após a catástrofe e suplicara a Mr. Joyce que se encarregasse em pessoa da defesa de sua infeliz esposa.
A história que ela lhe contara na sua primeira entrevista não fora mudada no mínimo detalhe. Narrara-a tão friamente nessa ocasião, poucas horas após a tragédia, como o fazia agora. Narrava-a concatenadamente, em voz plana e parelha, e seu único sinal de confusão era quando um leve rubor lhe chegava às faces no momento em que descrevia um ou dois dos seus incidentes. Era ela a última mulher a quem se esperasse acontecer semelhante coisa. Com trinta e poucos anos, era uma criatura frágil, nem baixa nem alta, e antes graciosa que bonita. Com os punhos e tornozelos muito delicados, era contudo muito franzina e podia-se ver-lhe os ossos das mãos através da pele branca; as meias eram grossas e azuis. Rosto sem cor, ligeiramente pálido, e lábios brancos. Não se lhe notava a cor dos olhos. Tinha um abundante cabelo castanho claro, com ligeira ondulação natural; cabelos que com um pequeno arranjo ficariam lindíssimos, mas não se podia imaginar que Mrs. Crosbie fosse capaz de recorrer a semelhante recurso. Era uma mulher quieta, agradável e modesta. Tinha maneiras atraentes, e se não era muito popular, devia-o a uma certa timidez. Isto era bastante compreensível, pois a mulher de um plantador passa uma vida solitária, mas na sua casa, entre as pessoas que conhecia, Mrs. Crosbie era encantadora no seu modo tranquilo. Mrs. Joyce, após a sua estada de quinze dias, disse ao marido que Leslie sabia receber agradavelmente. Nela, afirmou, havia mais do que pudessem pensar; tratando-a, ficava-se surpreso com tudo o que lera e pelo seu modo consumado de dirigir uma palestra.
Seria a última mulher do mundo a cometer um assassinato.
Mr. Joyce despediu Robert Crosbie com as palavras tranquilizadoras que pôde encontrar e, outra vez a sós no gabinete, folheou as páginas do sumário. Mas o gesto era maquinal, pois todos os seus detalhes lhe eram familiares. O caso representava a sensação do dia, e era discutido em todos os clubes, em todas as mesas de jantar, abaixo e acima da península, de Singapura e Penang. Os fatos expostos por Mrs. Crosbie eram muito simples. O marido tinha ido a Singapura a negócios, e ela estava sozinha à noite. Jantou só, tarde, um quarto para as nove, e depois da refeição sentou-se na sala de estar, a tecer as suas rendas. A sala dava para a varanda. Não havia ninguém no bangalô, e os criados estavam recolhidos às suas acomodações, nos fundos do cercado. Surpreendeu-se quando ouviu passos no caminho saibroso do jardim, passos de pés calçados, antes de um branco que de um nativo, pois não ouvira ruído de automóvel a aproximar-se, e não podia imaginar quem a viesse visitar àquela hora da noite. Alguém subiu os poucos degraus que levavam ao bangalô, atravessou a varanda, e apareceu à porta da sala em que ela se encontrava. No primeiro momento não reconhecera o visitante. Estava sentada ao pé de uma lâmpada com velador, e ele lhe ficava às costas, no escuro.
— Posso entrar? — perguntou o homem.
Ela nem lhe reconheceu a voz.
— Quem é? — perguntou. Como estivesse de óculos para trabalhar, tirou-os enquanto falava.
— Geoff Hammond.
— Claro. Entre e tome alguma coisa.
Mrs. Crosbie levantou-se e apertou-lhe cordialmente a mão. Estava um pouco surpresa em vê-lo, pois embora fossem vizinhos, nem ela nem Robert mantinham ultimamente grande amizade com ele, e havia algumas semanas que não o avistava. Era ele gerente de um seringal que distava quase oito milhas, e ela não podia atinar com o motivo de semelhante visita àquela hora tardia.
— Robert não está em casa — disse ela. — Teve que ficar esta noite em Singapura.
— É pena. Sinto-me um tanto sozinho à noite, e lembrei-me de chegar até aqui e saber como passavam.
— Como é que veio? Não ouvi ruído de automóvel.
— Deixei o carro lá na estrada. Achei que talvez já estivessem deitados.
Isso era natural. Os plantadores levantam-se de madrugada a fim de fazer a chamada dos seringueiros, e ficam satisfeitos em deitar-se pouco depois do jantar. Com efeito, no dia seguinte o carro de Hammond foi encontrado a uma distância de quarto de milha.
Estando Robert ausente, não havia uísque e soda na sala. Leslie não chamou o criado, que provavelmente dormia, mas foi buscar a bebida. O visitante serviu-se de um copo e encheu o cachimbo.
Geoff Hammond tinha uma legião de amigos na colônia. Aproximava-se então dos quarenta anos, mas ali chegara quando rapaz. Fora um dos primeiros a apresentar-se ao irromper a guerra, e portara-se muito bem. Um ferimento no joelho fez que ele fosse dispensado do exército após dois anos, mas Hammond voltou aos Estados Malaios Confederados trazendo duas condecorações. Era um dos melhores jogadores de bilhar em toda a colônia. Tinha sido excelente bailarino e ótimo tenista, mas embora não mais pudesse dançar, nem o seu tênis, devido ao joelho, fosse tão bom como antes, possuía o dom da popularidade e gozava de estima geral. Era um tipo de boa aparência, alto, de atraentes olhos azuis e uma linda cabeça coberta de cabelos negros e crespos. Pessoas experientes diziam que sua única falta era gostar demais das mulheres, e depois da catástrofe sacudiam a cabeça e juravam ter sabido sempre que isso o levaria à desgraça.
Hammond, pois, começou a falar com Leslie sobre os assuntos locais, as próximas corridas em Singapura, o preço da borracha, e sobre as probabilidades de matar um tigre que ultimamente vira nas redondezas. Ansiosa por aprontar as rendas em certa data, pois desejava mandá-las para o aniversário da mãe, na Inglaterra, tornou a por os óculos e puxou para a sua cadeira a mesinha onde estava a almofada.
— Eu gostaria que você não usasse esses óculos enormes — disse ele. — Não sei por que uma mulher bonita deva fazer o possível para parecer feia.
Mrs. Crosbie ficou um tanto desapontada com esta observação. Hammond nunca empregara aquele tom para com ela. Achou que seria melhor não levá-lo a sério.
— Não tenho a pretensão de ser uma beleza deslumbrante, e se quiser saber, sou obrigada a dizer-lhe que pouco me importa que você me ache feia ou não.
— Mas eu não penso que você seja feia. Acho que é muito, muito bonita.
— Muito gentil — respondeu ela, ironicamente. — Mas neste caso somente posso julgá-lo sem espírito.
Ele riu por entredentes. Mas levantou-se da cadeira e sentou-se noutra mais próxima.
— Você não será capaz de negar que tem as mãos mais lindas do mundo — disse ele.
E fez um gesto como se fosse pegar uma delas. Mrs. Crosbie deu-lhe uma pancadinha.
— Não seja tolo. Sente-se onde estava antes e fale sensatamente, senão vou mandá-lo para casa.
Ele não se moveu. — Então não sabe que estou apaixonado por você?
Ela continuou impassível. — Não. Não. acredito um instante nisso, e ainda que fosse verdade, não quero que você o diga.
Surpreendia-se tanto mais com as suas palavras porque, nos sete anos em que o conhecia, nunca recebera dele uma atenção especial. Quando ele voltara da guerra, tinham-se visto com frequência, e em certa ocasião, ele tendo adoecido, Robert o trouxera para o bangalô no seu carro.
Hammond passou quinze dias com os Crosbie. Mas seus interesses eram diferentes, e a relação nunca se desenvolvera em amizade. Durante os últimos dois ou três anos pouco o tinham visto. Uma que outra vez ele aparecia para jogar tênis, e de quando em quando o encontravam numa festa, mas comumente lhes acontecia passar um mês inteiro sem o verem.
Hammond serviu-se de mais um uísque. Havia nele qualquer coisa de estranho, e isto a deixava um tanto inquieta. Leslie desconfiou que ele já estivera a beber. — No seu lugar, eu não beberia mais — disse ela, ainda bem humorada.
Ele esvaziou o copo e colocou-o na mesinha.
— Julga que lhe falo deste modo porque estou bêbado? — perguntou ele abruptamente.
— Essa é a explicação mais óbvia, não é?
— Pois não é. Gostei de você desde o primeiro momento em que a vi. Calei-me enquanto pude, mas agora não posso mais. Eu gosto de você, eu quero você, eu amo você.
Ela levantou-se e pôs cuidadosamente a almofada para um lado.
— Boa noite — disse ela.
— Ainda não vou.
Por fim ela começou a perder a paciência. — Mas você não está vendo, pobre tolo, que eu nunca amei ninguém a não ser Robert, e mesmo que eu não gostasse dele, você seria a última pessoa a me interessar.
— Que me importa isso? Robert não está aqui.
— Se você não se retirar imediatamente, chamo os criados e mando tirá-lo daqui.
— Eles não podem ouvir.
Leslie já estava zangada de fato. Fez um movimento em direção à varanda, de onde certamente seria ouvida pelo criado, mas ele a segurou por um braço.
— Solte-me — gritou ela furiosa.
— Assim não. Agora você é minha.
Ela abriu a boca e gritou pelo criado, mas com um gesto rápido Hammond lhe pôs a mão nos lábios. A seguir, sem que ela soubesse qual o seu intento, ele a havia tomado nos braços e beijava-a apaixonadamente. Leslie lutou, esquivando os lábios da sua boca ardente.
— Não, não, não! — gritou ela. — Deixe-me. Não quero.
Sentia-se confusa quanto ao que sucedera depoiss. Lembrava-se precisamente de tudo o que fora dito antes, mas nesse momento as palavras dele lhe chegavam aos ouvidos por entre uma névoa de medo e terror. Ele parecia implorar-lhe amor. Irrompeu em violentos protestos de paixão. E durante todo o tempo mantinha-a no seu abraço tempestuoso. Leslie estava desamparada, pois ele era um homem sólido e robusto, e ela estava com os braços dobrados para trás; os seus repelões de nada lhe valiam, e as forças começavam a faltar-lhe; receava desmaiar, e o seu hálito quente junto ao rosto dela enojava-a até o desespero. Ele beijava-lhe a boca, os olhos, as faces, o cabelo. A pressão dos seus braços estava a matá-la. Viu-se erguida no ar. Procurou dar-lhe pontapés, mas isto o fez apertá-la ainda mais. Carregava-a agora. Já não falava mais, mas Leslie via que o seu rosto estava pálido e os olhos acesos de desejo. Conduzia-a para o quarto de dormir. Não era mais um homem civilizado, mas um selvagem; E enquanto corria bateu numa mesa que havia no caminho. O defeito no joelho deixava-o um pouco inseguro sobre os pés, e com o peso da mulher nos braços, caiu. Num instante ela se desvencilhou dele. Correu em volta do sofá. Mas Hammond já estava em pé e atirava-se para ela. Havia um revólver na escrivaninha. Leslie não era mulher nervosa, mas Robert passava a noite fora, e ela pretendia levar a arma para o quarto quando se recolhesse. Por isso é que o revólver estava ali. Agora, tomava-a um frenesi de terror. Não sabia o que estava fazendo. Ouviu um estampido. Viu Hammond cambalear. Dar um grito. Dizer qualquer coisa, que ela não sabia o que era. Sair aos tropeços da sala para a varanda. Uma fúria apoderava-se dela, estava fora de si, perseguiu-o, sim, era isso mesmo, ela o devia ter perseguido, embora de nada se lembrasse, perseguiu-o atirando maquinalmente, disparo após disparo, até que as seis cápsulas ficaram vazias. Hammond caiu no chão da varanda. Encolhido. Ensanguentado.
Quando os criados acudiram, sobressaltados pelos tiros, encontraram-na em pé junto a Hammond, ainda com o revólver na mão, e Hammond sem vida. Mrs. Crosbie ficou olhando para eles, durante um momento, sem falar. Os criados formavam um grupo assustado e confuso. Ela deixou cair o revólver, e sem uma palavra voltou-se e caminhou para a sala de estar. Viram-na entrar no seu quarto e torcer a chave na fechadura. Ninguém se atrevia a tocar no cadáver, mas todos o olhavam com olhos aterrorizados, e falavam em voz baixa uns com os outros. Pouco depois o criado-chefe recuperava a calma; era um chinês sensato, e havia muitos anos que estava com os Crosbie. Robert tinha ido a Singapura no seu motociclo, e o carro estava na garagem. O criado mandou buscá-lo; deviam ir imediatamente ao comissário do distrito e informá-lo do que havia acontecido. Apanhou o revólver e meteu-o no bolso. O comissário, um homem chamado Whiters, morava nos arredores da cidade mais próxima, que distava cerca de trinta e cinco milhas. A viagem levou-lhes hora e meia. Quando chegaram, encontraram todos adormecidos, e foi preciso acordar todos os criados. Dentro em pouco Whiters apareceu e foi informado do ocorrido. O criado-chefe apresentou-lhe o revólver como prova do que dizia.
O comissário entrou no quarto para vestir-se, mandou trazer o carro, e pouco depois voltava com eles pela estrada deserta. A manhã ia rompendo quando o homem chegou ao bangalô de Crosbie. Subiu correndo os degraus da varanda, e estacou diante do corpo de Hammond, que jazia onde tinha caído. Estava frio.
— Onde está a senhora? — perguntou ele ao criado-chefe. O chinês apontou para o quarto de dormir. Whiters foi até a porta e bateu. Não houve resposta. Bateu novamente.
— Mrs. Crosbie — chamou ele.
— Quem é?
— Withers.
Houve outra pausa. A chave girou na fechadura e a porta abriu lentamente. Leslie estava diante dele. Não se havia deitado e tinha o mesmo negligé que pusera para o jantar. Imóvel, olhava em silêncio para o comissário.
— Seu criado foi me buscar — disse ele. — Hammond. O que a senhora fez?
— Ele quis me violentar e eu o matei.
— Deus do céu! Venha para cá, então. A senhora tem que contar exatamente o que aconteceu.
— Agora não. Não posso. Dê-me tempo. Mande chamar meu marido.
Whiters era um homem jovem, e não sabia exatamente o que fazer numa emergência que ficava tão fora de suas obrigações. Leslie recusou-se a dizer coisa alguma até que finalmente chegou Robert. Narrou então o fato aos dois homens, e desde esse primeiro momento, embora tivesse repetido a história muitas e muitas vezes, nunca alterara um mínimo detalhe.
O ponto a que Mr. Joyce aludia eram os disparos. Como advogado aborrecia-se por Leslie ter atirado não uma, mas seis vezes, e o exame do cadáver demonstrou que quatro dos tiros haviam sido desfechados junto ao corpo. Quase se podia dizer que quando o homem caíra ela se aproximara e descarregara nele o conteúdo do revólver. Leslie confessava que a sua memória, tão precisa quanto ao que havia precedido, aqui lhe falhava. Nada lhe acudia ao espírito. Isto indicava uma fúria cega; mas fúria cega era a última coisa que se poderia ter esperado daquela mulher sossegada e modesta. Mr. Joyce conhecia-a e de muitos anos, e nunca a julgara uma pessoa emotiva; durante as semanas após a tragédia fora espantosa a sua compostura.
Mr. Joyce encolheu os ombros. — O fato — refletiu ele — é que, suponho eu, nunca se pode dizer quantas possibilidades de selvageria se escondem na maior parte das mulheres respeitáveis.
Bateram na porta. — Pode entrar. O secretário chinês entrou e fechou a porta. Fechou-a suavemente, com deliberação, mas de modo decisivo, e avançou para a mesa ante a qual sentava-se Mr. Joyce.
— É-me possível aborrecê-lo, senhor, com uma palestra de poucas palavras em caráter particular? — perguntou ele.
A precisão requintada com a qual o secretário costumava se expressar-se divertia um tanto Mr. Joyce, que sorriu francamente.
— Aborrecimento nenhum, Chi. Seng — replicou ele. — O assunto a cujo respeito desejo falar-lhe, senhor, é delicado e confidencial.
— Vá dizendo.
Mr. Joyce mirou os olhos argutos do seu secretário. Como sempre, Ong Chi Seng vestia-se de acordo com a grande moda local. Calçava sapatos de verniz muito lustrosos e meias de seda em cores vivas. Na gravata preta havia um pregador de pérola e rubi, e no quarto dedo da mão esquerda um anel de brilhante. Do bolso do casaco impecável e branco, sobressaíam uma caneta-tinteiro de ouro e um lápis também de ouro. Usava um relógio-pulseira, de ouro, e a cavaleiro do nariz, um pince-nez invisível. Tossiu discretamente.
— O assunto se relaciona com o caso Crosbie, senhor.
— Sim?
— Determinada circunstância chegou ao meu conhecimento, senhor, circunstância essa que me parece dar-lhe um novo aspecto.
— Que circunstância?
— Chegou a meu conhecimento, senhor, que existe uma carta da ré para a infortunada vítima da tragédia.
— Isso não me causaria grande surpresa. Não duvido que, nestes últimos sete anos, Mrs. Crosbie tenha tido várias ocasiões para escrever a Mr. Hammond.
Mr. Joyce tinha em alta conta a inteligência do secretário e as suas palavras visavam esconder o que pensava.
— Isso é muito provável, senhor. Mrs. Crosbie frequentemente deve ter se comunicado com o falecido, para convidá-lo para jantar, por exemplo, ou propor-lhe uma partida de tênis. Foi o que primeiramente me ocorreu quando o assunto veio à minha atenção. Todavia, a carta em questão foi escrita, senhor, no dia da morte de Mr. Hammond.
Mr. Joyce não pestanejou. Continuou a olhar para Ong Chi Seng com o sorriso meio divertido que geralmente mostrava ao falar-lhe.
— Quem foi que lhe disse isso?
— As circunstâncias foram trazidas a meu conhecimento, senhor, por uma pessoa de minha amizade.
Mr. Joyce sabia que não lhe adiantava insistir.
— Sem dúvida, estará o senhor lembrado de que Mrs. Crosbie declarou, no seu depoimento, que até a noite fatal não havia se comunicado com o falecido durante várias semanas.
— Tem a carta aí?
— Não a tenho, senhor.
— O que ela diz?
— O amigo a que me referi forneceu-me uma cópia. Gostaria de examiná-la?
— Sim.
Ong Chi Seng tirou de um bolso interno uma volumosa carteira. Estava cheia de papéis, notas de dólar de Singapura e cupons de cigarros. Dessa confusão o secretário extraiu meia folha de papel de notas e colocou-a diante de Mr. Joyce. A carta dizia o seguinte:
R. passará a noite fora. Tenho absoluta necessidade de ver-te. Espero-te às onze horas. Estou desesperada, e se não vieres não responderei pelas consequências. Deixa o carro na estrada.
L.
A cópia estava escrita na letra cheia que os chineses aprendem nas escolas estrangeiras. Havia uma singular incoerência entre a caligrafia tão incaracterística e aquelas palavras fatais.
— Qual seu motivo para achar que este bilhete foi escrito por Mrs. Crosbie?
— Tenho, senhor, inteira confiança na veracidade de meu informante — respondeu Ong Chi Seng. — E o assunto pode ser muito facilmente posto à prova. Mrs. Crosbie, sem dúvida alguma, estará habilitada a dizer-lhe de imediato se escreveu ou não semelhante carta.
Desde o começo da conversa Mr. Joyce não havia tirado os olhos do rosto sério do secretário. Não sabia dizer agora se discernia nele uma leve expressão de zombaria.
— É inconcebível que Mrs. Crosbie tenha escrito essa carta — disse Mr. Joyce.
— Se esta é sua opinião, senhor, o assunto acha-se por certo encerrado. O meu referido amigo falou-me a respeito apenas por julgar que, estando eu no seu escritório, o senhor possivelmente gostaria de saber da existência desta carta antes de ser feita uma comunicação ao promotor público.
— Quem tem o original? — perguntou vivamente Mr. Joyce.
Ong Chi Seng não deu mostra de ter percebido nesta pergunta e no tom uma mudança de atitude.
— Sem dúvida estará lembrado de que, após a morte de Mr. Hammond, descobriu que ele mantinha relações com uma chinesa. A carta encontra-se presentemente em poder dela. — Essa era uma das coisas que com maior veemência tinham voltado a opinião pública contra Hammond. Veio a se saber que durante vários meses ele tivera uma chinesa em casa. Nenhum deles falou por um momento. Na verdade, tudo já fora dito e cada um entendia perfeitamente o outro.
— Fico-lhe agradecido, Chi Seng. Vou tratar do assunto.
— Muito bem, senhor. Deseja que a esse respeito eu entre em comunicação com o meu referido amigo?
— E também seria bom que você não perdesse contato com ele — respondeu Mr. Joyce com gravidade.
— Sim, senhor.
Silenciosamente, tornando a fechar a porta com deliberação, o secretário retirou-se da sala e deixou M. Joyce entregue a suas reflexões. O advogado olhou para a cópia, em letra correta e impessoal, da carta de Leslie. Vagas suspeitas o perturbavam. Eram elas tão desconcertantes que recorreu a um esforço para afastá-las do espírito. Haveria uma explicação simples para essa carta, e Leslie sem dúvida poderia dá-la imediatamente, mas, diabo! era necessário uma explicação. Levantou-se da cadeira, pôs a carta no bolso, e apanhou o chapéu. Quando saiu, Ong Chi Seng escrevia atarefadamente na sua escrivaninha.
— Vou sair por alguns instantes, Chi Sen — disse ele. — Mr. George Reed tem audiência marcada para as doze horas. Saberei dizer onde foi, o senhor?
Mr. Joyce sorriu-lhe de leve.
— Pode dizer que não tem a mínima ideia.
Mas o advogado sabia perfeitamente bem que Ong Chi Seng estava inteirado de que ele ia à prisão. Embora o crime tivesse ocorrido em Belanda e o julgamento devesse ter lugar em Belanda Bharu, não havendo na cadeia local comodidades para a detenção de uma branca, Mrs. Crosbie fora levada para Singapura.
Ao ser introduzida na sala em que ele a esperava, Leslie estendeu-lhe a mão delgada, distinta, e recebeu-o com um sorriso agradável. Como sempre, vestia simples e corretamente, e o seu abundante cabelo claro estava arranjado com atenção.
— Eu não esperava recebê-lo esta manhã — disse ela, graciosamente.
Era como se estivesse na sua casa, e Mr. Joyce quase que a ouvia chamar o criado e dizer-lhe que servisse gim ao visitante.
— Como está? — perguntou ele.
— Com a melhor saúde, agradecida. — Um lampejo de zombaria passou-lhe pelos olhos. — Este lugar é admirável para uma cura de repouso.
O guarda retirou-se, deixando-os a sós. — Sente-se — pediu ela. Mr. Joyce ocupou uma cadeira. Não sabia exatamente por onde começar. Leslie achava-se em tal disposição que lhe parecia quase impossível dizer-lhe o que ele tinha vindo dizer. Embora ela não fosse bonita, havia algo de agradável na sua aparência. Tinha elegância, mas a elegância da boa educação, onde nada havia dos artifícios de sociedade. Bastava olhar-se para ela a fim de saber de onde ela vinha e qual o ambiente em que vivia. A fragilidade emprestava-lhe um singular refinamento. Era impossível associá-la à mais vaga ideia de grosseria.
— Espero ver Robert agora à tarde — disse ela, na sua voz fluente e bem humorada. (Era um prazer ouvi-la falar. O tom de voz era bem um característico de sua classe).
— Coitado, isto tem sido uma verdadeira provação para os seus nervos. Agradeço que tudo esteja terminado em poucos dias.
— Faltam apenas cinco. — Bem o sei. Todas as manhãs, quando me acordo, digo para mim mesma: "Menos um". — Sorriu. — É como eu fazia no colégio quando as férias estavam próximas.
— A propósito, tenho razão em pensar que a senhora, antes da catástrofe, havia semanas que não se comunicava com Hammond?
— Tenho absoluta certeza disso. A última vez que nos encontramos foi num jogo de tênis na casa dos MacFarrens. Não acho que tivesse trocado mais de duas palavras com ele. Como sabe, há duas pistas, e nós não jogamos na mesma partida.
— E não escreveu a ele?
— Oh, não.
— Está bem certa disso?
— Certíssima — respondeu ela, com um breve sorriso. — Não havia por que escrever, afora algum convite para jantar ou jogar tênis, e fazia meses que isso não acontecia.
— Em certa época eram excelentes as suas relações com ele. Qual o motivo de terem cessado os convites?
Mrs. Crosbie encolheu os ombros franzinos. — Acontece que às vezes nos cansamos das pessoas. Não tínhamos grande coisa em comum. Sem dúvida, quando ele esteve doente Robert e eu fizemos por ele tudo o que pudemos, mas nestes últimos um ou dois anos ele passou bastante bem, e era muito popular. Recebia um grande número de convites, e não nos parecia haver necessidade de convidá-lo demasiado.
— Tem plena certeza de tudo isso?
Mrs. Crosbie hesitou por um momento: — Bem, acho que posso falar-lhe nisso. Chegara aos nossos ouvidos que ele vivia com uma chinesa, e Robert disse que não o admitiria em nossa casa. Eu mesma a tinha visto.
Mr. Joyce, sentado numa cadeira de braços, de espaldar reto, repousava o queixo na mão e tinha os olhos fixos em Leslie. Seria ilusão ter vislumbrado nas suas pupilas negras, no momento em que ela fazia esse comentário, um súbito e rapidíssimo fulgor vermelho? O efeito foi inquietador. Mr. Joyce mexeu-se na cadeira. Juntou as pontas dos dedos entreabertos. E falou muito lentamente, escolhendo as palavras.
— Creio que devo mencionar-lhe a existência de uma carta de seu punho a Geoff Hammond.
O advogado observou-a atentamente. Ela não fez um só movimento, nem se lhe mudou a cor do rosto, mas demorou um tempo apreciável a responder.
— Antigamente, eu muitas vezes lhe escrevi bilhetes convidando-o para isto ou aquilo, ou para que me trouxesse alguma coisa quando eu sabia que ele ia a Singapura.
— Essa carta lhe pede que venha vê-la porque Robert ia a Singapura.
— Isso é impossível. Nunca fiz semelhante coisa.
— Convém que a leia, então. Tirou do bolso e a entregou. Ela relanceou o papel e devolveu-o com um sorriso desdenhoso.
— Essa não é a minha letra.
— Sei disso; afirma-se que é uma cópia exata do original.
Mrs. Crosbie leu então as palavras da carta, e ao fazê-lo uma terrível mudança operou-se nela. O rosto sem cor ficou feio de ver. Esverdeou-se. A carne pareceu fugir de súbito e a pele esticou sobre os ossos. Os lábios retraíram-se, mostrando os dentes: parecia fazer uma careta. Olhou para Mr. Joyce com olhos que saltavam das órbitas. Ele via agora uma face inexpressiva de morte.
— Que significa isto? — sussurrou ela. Sua boca estava tão seca que ela não pôde emitir mais que um som rouco. Não era mais uma voz humana.
— Isso é o que lhe compete dizer.
— Eu não escrevi. Juro que não escrevi.
— Tome cuidado com o que diz. Se o original for de seu punho, seria inútil negá-lo.
— Pode ser forjado.
— Seria difícil prová-lo. E seria fácil provar que era verdadeiro.
Um arrepio percorreu seu corpo franzino. Mas grandes gotas de suor apareciam na testa. Tirou um lenço da bolsa e enxugou as mãos. Relanceou novamente a carta e olhou de soslaio para Mr. Joyce.
— Não tem data. Se foi escrita por mim e se não me lembro de nada, talvez seja uma carta de alguns anos atrás. Se me der tempo, tentarei recordar-me das circunstâncias.
— Já observei que não tem data. Se esta carta estivesse nas mãos da promotoria, os criados seriam interrogados. Bem cedo teriam descoberto se alguém levara uma carta a Mr. Hammond no dia de sua morte.
Mrs. Crosbie cerrou as mãos violentamente e vacilou na cadeira como se fosse desmaiar.
— Juro que não escrevi esta carta.
Mr. Joyce ficou em silêncio por um breve instante. Afastou os olhos daquele rosto conturbado e fixou-os no chão. Refletia.
— Nestas circunstâncias não precisamos entrar mais no assunto — disse ele devagar, quebrando por fim o silêncio. — Se o possuidor desta carta achar que deve levá-la ao conhecimento da promotoria, a senhora estará preparada.
Suas palavras indicavam que nada mais lhe restava dizer, mas ele não fez nenhum movimento para retirar-se. Esperou. Pareceu-lhe que por um tempo enorme. Não olhava para Leslie, mas tinha a consciência de que ela estava imóvel. Não fazia o menor ruído. Finalmente, foi ele quem falou.
— Se não tem mais nada a contar, volto para meu escritório.
— O que seria levada a pensar uma pessoa que lesse a carta? — perguntou então ela.
— Ficaria certa de que a senhora havia mentido propositadamente — respondeu incisivo Mr. Joyce.
— Quando?
— Sua declaração estabeleceu definitivamente que não se comunicava com Hammond havia três meses pelo menos.
— Tudo isso tem sido um choque terrível para mim. Os acontecimentos daquela noite horrorosa são um pesadelo. Não é muito estranho que um detalhe tenha escapado à minha memória.
— Seria uma desgraça que a sua memória tivesse reproduzido tão exatamente todos os detalhes da entrevista com Hammond, e que a senhora houvesse esquecido um ponto de tamanha importância como esse de que, naquela noite, ele fora ao bangalô por seu expresso desejo.
— Eu não tinha esquecido isso. Mas, depois do que aconteceu, receava mencioná-lo. Pensei que ninguém acreditaria na minha história se eu admitisse que ele tinha ido lá a meu convite. Sim, acho que foi uma tolice de minha parte; mas perdi a cabeça, e depois de ter dito uma vez que não me comunicava com Hammond, vi-me obrigada a mantê-lo.
Leslie já havia recuperado a sua admirável compostura, e recebeu com ingenuidade o olhar avaliador de Mr. Joyce. A sua brandura era desarmante.
— Neste caso vão exigir que explique por que pediu a Hammond para ir vê-la quando Robert passava a noite fora.
Mrs. Crosbie fitou os olhos no advogado. Enganara-se ele ao julgá-los inexpressivos; eram antes belos e, não fosse um novo engano, tinham agora o brilho das lágrimas. A voz denotava uma leve insegurança.
— Era uma surpresa que eu preparava para Robert. O aniversário dele é no próximo mês. Eu sabia que ele desejava uma nova arma, e não preciso repetir-lhe que nada entendo dessas coisas de esporte. Eu queria falar com Geoff a esse respeito. Tencionava pedir-lhe que a comprasse para mim.
— Talvez a senhora não esteja lembrada dos termos da carta. Quer lê-la outra vez?
— Não, não quero — disse ela vivamente.
— Acha que semelhante carta seria escrita por uma senhora a pessoa de amizade um tanto remota, a fim de consultá-la sobre a compra de uma arma?
— Talvez seja um tanto extravagante e emotiva, mas eu costumo expressar-me dessa forma. Não deixo de admitir que é bem tola. (Sorriu). E afinal de contas, Geoff Hammond não era uma amizade um tanto remota. Quando esteve doente, cuidei dele como uma mãe. Pedi-lhe que viesse quando Robert estava ausente porque Robert não queria admiti-lo em casa.
Mr. Joyce cansava-se de estar sentado por tanto tempo na mesma posição. Levantou-se, e deu uns passos pela sala, escolhendo as palavras que pretendia dizer; inclinou-se depois sobre as costas da cadeira onde estivera. Falou vagarosamente, e num tom de profunda gravidade.
— Mrs. Crosbie, quero falar-lhe muito seriamente. Este caso era relativamente líquido. Havia um só ponto que me parecia exigir explicação: até onde posso julgar, a senhora desfechou nada menos do que quatro tiros contra Hammond quando ele estava caído no chão. Era difícil aceitar a possibilidade de que uma criatura frágil, assustada, habitualmente dona de si, de natureza delicada e instintos refinados, tenha cedido a uma fúria absolutamente cega. Mas, sem dúvida, era admissível. Embora Geoffrey Hammond gozasse de simpatia e de um modo geral fosse muito estimado, eu estava disposto a provar que ele era o tipo de homem capaz do crime de que a senhora o acusava em justificação do seu ato. A circunstância, descoberta após a sua morte, de que ele vivia com uma chinesa oferecia-nos algo de muito definido. Isto lhe roubava qualquer simpatia que houvesse por ele. Resolvemos aproveitar o ódio que semelhante ligação desperta no espírito de todas as pessoas respeitáveis. Disse esta manhã ao seu marido que estava certo de uma absolvição, e eu não o fazia apenas para lhe dar coragem. Eu não acreditava que os jurados precisassem deixar a sala do tribunal.
Olharam-se nos olhos. Mrs. Crosbie estava singularmente imóvel. Era um pássaro paralisado pela fascinação de uma serpente. O advogado prosseguiu no mesmo tom grave.
— Mas esta carta emprestou ao caso um aspecto inteiramente diverso. Sou o seu defensor perante a lei. vou representá-la no tribunal. Aceito a sua história na forma em que me foi contada, e orientarei a defesa de acordo com ela. É provável que eu acredite nas suas declarações, e é provável que duvide delas. O dever do patrono é persuadir o tribunal de que a prova ali trazida não é tal que justifique uma condenação, e qualquer opinião particular que ele possa ter sobre a culpabilidade ou inocência do seu cliente fica inteiramente à margem.
Mr. Joyce espantou-se ao ver nos olhos de Leslie a sombra de um sorriso. Irritado, continuou um tanto secamente.
— A senhora negará que Hammond foi vê-la atendendo ao seu pedido urgente e, posso até dizê-lo, desesperado?
Mrs. Crosbie, hesitando por um instante, pareceu considerar.
— Só podem provar que a carta foi levada ao bangalô por um dos criados. Ele foi de bicicleta.
— Não espere que os outros sejam mais tolos do que a senhora. A carta os fará investigar suspeitas que até agora não entraram na cabeça de ninguém. Não lhe direi o que me ocorreu pessoalmente quando vi a cópia. E não quero que a senhora me diga coisa alguma não ser o que é necessário para salvar o seu pescoço.
Mrs. Crosbie deu um grito agudo. Ergueu-se de um salto, pálida de terror.
— Acha que me enforcarão?
— Se chegarem à conclusão de que a senhora não matou Hammond em defesa própria, será dever dos jurados julgarem-na culpada. A pena é de morte. E será dever do juiz condená-la à morte.
— Mas o que podem provar? — perguntou ela, arfando.
— Não sei o que podem provar. A senhora o sabe. Eu não quero saber. Mas se surgirem suspeitas, se começarem a fazer investigações, se os criados forem interrogados... o que poderá ser descoberto?
Leslie encolheu-se bruscamente. Tombou no chão antes que ele pudesse ampará-la. Tinha desmaiado. Mr. Joyce olhou em volta da sala à procura de água, mas nada encontrou, e não queria ser perturbado. Estendeu-a no chão e, ajoelhando-se ao seu lado, esperou que ela voltasse a si. Quando Leslie abriu os olhos, ele ficou desconcertado pelo medo espantoso que via neles.
— Fique quieta — disse ele. — Num momento estará melhor.
Mrs. Crosbie desatou num pranto nervoso, ao passo que ele procurava sossegá-la a meia voz.
— Pelo amor de Deus, recomponha-se.
— Dê-me um instante.
A sua coragem era espantosa. Mr. Joyce via o esforço que ela empregava para recobrar o domínio de si mesma. Pouco depois estava novamente calma.
— Levante-me agora.
Ele estendeu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Tomando-lhe o braço, levou-a até a cadeira. Ela sentou-se exausta.
— Não fale comigo por enquanto.
— Está bem — respondeu ele.
Quando ela por fim recomeçou, depois de um breve suspiro, foi para dizer algo que ele não esperava.
— Acho que fiz uma enorme trapalhada.
Ele não respondeu, e mais uma vez houve silêncio. — Não é possível obter-se a carta? — perguntou finalmente ela.
— Creio que nada me diriam dela, se a pessoa que a tem em seu poder não estivesse disposta a vendê-la.
— Com quem está ela?
— Com a chinesa que vivia na casa de Hammond.
Duas manchas de cor assomaram por um instante às faces de Leslie.
— Ela quer muito dinheiro pela carta?
— Imagino que tenha uma ideia muito arguta quanto ao seu valor. Duvido que seja possível obtê-la senão por uma quantia muito grande.
— O senhor vai deixar que eu seja enforcada?
— Acha que é tão simples assim entrar na posse de uma prova desagradável? Isso é a mesma coisa que subornar uma testemunha. A senhora não tem o direito de fazer-me semelhante sugestão.
— O que me acontecerá então?
— A justiça deve seguir seu rumo.
Mrs. Crosbie empalideceu. Um leve tremor passou-lhe pelo corpo.
— Entrego-me nas suas mãos. Sem dúvida não tenho nenhum direito de pedir-lhe que faça uma coisa que não seja correta.
Mr. Joyce não estava preparado para resistir-lhe à voz um pouco trêmula que a sua compostura habitual fazia intoleravelmente comovedora. Leslie fitava-o com olhos humildes, e ele sentiu que se recusasse o seu apelo esses olhos haveriam de persegui-lo durante o resto da vida. Afinal de contas, nada faria ressuscitar o pobre Hammond. E qual seria a verdadeira explicação da carta? Não era justo concluir daquelas linhas que ela havia morto Hammond sem provocação. Mr. Joyce tinha vivido longo tempo no Oriente e o seu conceito de honra profissional talvez já não era tão agudo como o fora vinte anos atrás. Ficou a olhar para o soalho. Resolveu-se a fazer uma coisa que sabia ser injustificável, mas isso lhe trancava na garganta e ele experimentava um obscuro ressentimento para com Leslie. Encontrava certo embaraço em falar.
— Não sei exatamente qual é a situação do seu marido.
— Tem uma boa quantidade de ações em minas de estanho e uma pequena parte em dois ou três seringais. Acho que poderia conseguir dinheiro.
— Mas ele precisaria saber para que fim.
Leslie calou-se por um momento. Parecia pensar. — Ele ainda me ama. Faria qualquer sacrifício para salvar-me. É necessário que ele veja a carta?
Mr. Joyce franziu levemente as sobrancelhas, e ela, rápida em notá-lo, prosseguiu:
— Robert é um velho amigo seu. Não lhe peço que faça nada por mim, peço-lhe que salve um homem bondoso, um tanto simplório, que nunca lhe fez mal nenhum.
Mr. Joyce não respondeu. Levantou-se para ir embora e Mrs. Crosbie, com a graça que lhe era natural, estendeu-lhe a mão. Estava abalada com a cena e tinha o olhar cansado, mas fazia uma corajosa tentativa para despedi-lo com urbanidade.
É muita bondade sua dar-se tamanho incômodo por minha causa. Nem lhe posso dizer o quanto estou agradecida.
Mr. Joyce voltou ao escritório. Sentou-se no seu gabinete e ali ficou, imóvel, sem nada procurar fazer, ponderando o assunto. A imaginação trazia-lhe muitas ideias estranhas. Estremeceu levemente. Por fim soava na porta a batida discreta que ele estava esperando. Ong Chi Seng entrou.
— Eu já ia sair para o lanche, senhor — disse ele.
— Não sei se o senhor deseja alguma coisa de mim antes que eu vá.
— Parece-me que não. Marcou outra hora para Mr. Reed?
— Sim, senhor. Ele voltará às três.
— Muito bem.
Ong Chi Seng caminhou até a porta, e levou à maçaneta os dedos compridos e finos. Depois, como se mudasse de ideia, fez meia volta.
— O senhor deseja que eu diga alguma coisa ao meu refelido amigo?
Embora Ong Chi Seng falasse inglês tão admiravelmente, ainda tinha uma dificuldade com a letra "R", trocando-a às vezes por "L" em certas palavras.
— Que amigo? — A respeito da carta que Mrs. Crosbie escreveu ao falecido Hammond, senhor.
— Ah! Tinha-me esquecido isso. Mencionei o assunto a Mrs. Crosbie e ela afirma que não escreveu semelhante coisa. Trata-se evidentemente de uma falsificação.
Mr. Joyce tirou a cópia do bolso e entregou-a a Ong Chi Seng. Ong Chi Seng ignorou o gesto.
— Neste caso, senhor, suponho que não haverá nenhuma objeção se o meu amigo entregar a carta ao promotor público.
— Nenhuma. Mas eu não vejo qual a vantagem que o seu amigo teria nisso.
— O meu amigo, senhor, acha que isso é seu dever no interesse da justiça.
— Sou a última pessoa a meter-me no caminho de alguém que deseja cumprir seu dever, Chi Seng.
Os olhos do advogado e os do secretário chinês encontraram-se. Nem a sombra de um sorriso lhes pairava nos lábios, mas ambos se compreendiam perfeitamente.
— Sei-o muito bem, senhor — disse Ong Chi Seng —, mas de acordo com o meu estudo do caso Crosbie sou de opinião que o aparecimento de semelhante carta será prejudicial ao nosso cliente.
— Eu sempre tive em alto apreço a sua acuidade legal, Chi Seng.
— Ocorreu-me, senhor, que se eu pudesse persuadir aquele meu amigo a fazer que a chinesa possuidora da carta a entregasse em suas mãos, isso pouparia grandes dificuldades.
Mr. Joyce, distraidamente, desenhava figuras no mata-borrão.
— Suponho que o seu amigo seja um negociante. Em que circunstâncias acha que ele seria induzido a abrir mão da carta?
— Ele não tem a carta. A carta está com a chinesa. Ele é apenas um parente da chinesa. Ela é uma mulher ignorante; não sabia o valor da carta até que o meu amigo a esclareceu.
— E qual foi o valor estabelecido por ele?
— Dez mil dólares.
— Deus do céu! Onde diabo acha você que Mrs. Crosbie vai arranjar dez mil dólares? Afirmo-lhe que a carta é falsa.
Mr. Joyce olhou para Ong Chi Seng enquanto falava. O secretário não se abalou com a exclamação. Continuou ao lado da escrivaninha, cortês, insensível e observador.
— Mr. Crosbie possui uma oitava parte do Seringal Betong e uma sexta parte do Seringal do Rio Selantan. Tenho um amigo que lhe emprestará o dinheiro sob essas garantias.
— Você tem um vasto círculo de amizades, Chi Seng.
— Sim, Senhor.
— Bem, pois pode dizer a todos eles que vão para o inferno. Eu nunca aconselharia Mr. Crosbie a dar mais de cinco mil dólares por uma carta que pode ser facilmente explicada.
— A chinesa não quer vender a carta, senhor. O meu amigo teve dificuldade em persuadi-la. É inútil oferecer-lhe menos do que a soma mencionada.
Mr. Joyce olhou para Ong Chi Seng durante três minutos pelo menos. O secretário suportou o exame sem embaraço.
De olhos baixos, assumia uma atitude respeitosa. Mr. Joyce conhecia o seu homem. iam finório, este Chi Seng, pensava ele; quanto não irá ganhar com isto?
— Dez mil dólares é uma quantia muito grande.
— Mr. Crosbie sem dúvida preferirá pagá-la a ver a esposa enforcada.
Mr. Joyce fez nova pausa. Que mais saberia Chi Seng, além do que dizia? Devia estar bem seguro do terreno, uma vez que se mostrava tão pouco disposto a regatear. Aquela soma fora fixada porque a pessoa que orientava o negócio, fosse ela quem fosse, sabia ser essa a maior quantia que Robert era capaz de conseguir.
— Onde está a chinesa agora? — perguntou Mr. Joyce.
— Está na casa do meu referido amigo, senhor.
— Ela virá aqui?
— Creio ser melhor que o senhor a procure. Posso levá-lo à casa esta noite e ela lhe dará a missiva. É mulher muito ignorante, senhor, e não entende de cheques.
— Eu não pensava em lhe dar um cheque. Levarei o dinheiro comigo.
— Levar menos de dez mil dólares, senhor, apenas seria desperdiçar um tempo precioso.
— Compreendo.
— Então, depois do lanche, vou informar o meu amigo.
— Perfeitamente. Espere-me na frente do clube às dez horas.
— Com muito prazer, meu senhor.
Ong Chi Seng fez uma pequena curvatura para Mr. Joyce e deixou a sala. Mr. Joyce também saiu para o lanche. Foi ao clube e ali, como havia esperado, encontrou Robert Crosbie. Estava sentado a uma mesa cheia de gente; e ao passar por ele, à procura de um lugar, Mr. Joyce tocou-o no ombro.
— Precisamos trocar duas palavras antes de você sair — disse ele.
— Não há dúvida. Quando quiser, avise-me.
Mr. Joyce tinha resolvido a maneira como atacar a questão. Jogou uma partida de bridge após o lanche, a fim de dar tempo a que o clube se esvaziasse. Para tratar de semelhante assunto não queria levar Crosbie ao seu escritório. Pouco depois Crosbie entrou no salão de jogo e. ficou a olhar até que a partida terminou. Os outros parceiros saíram aos seus negócios e os dois foram deixados a sós.
— Aconteceu uma coisa bem desagradável, meu velho — disse Mr. Joyce, numa voz que procurava tornar o mais natural possível. — Parece que sua esposa mandou uma carta a Hammond pedindo-lhe que fosse visitá-la na noite em que ele foi morto.
— Mas isso é impossível — exclamou Crosbie. — Ela sempre declarou que não tinha nenhuma comunicação com Hammond. Sei com certeza que fazia uns dois meses que ela não lhe punha os olhos em cima.
— O fato é que a carta existe. Está em poder da chinesa com quem Hammond vivia. Sua esposa pretendia fazer-lhe um presente de aniversário, e queria que Hammond a ajudasse na escolha. No estado de perturbação emotiva em que ela ficou após a tragédia, esqueceu-se de tudo a esse respeito, e tendo inicialmente negado que houvesse qualquer comunicação com Hammond, receou dizer que cometera um engano. Foi muito lamentável, é claro, mas acho que não foi estranho.
Crosbie não falou. No seu rosto largo e vermelho havia uma expressão de completa perplexidade, e Mr. Joyce ficou ao mesmo tempo aliviado e exasperado com a sua falta de compreensão. Ele era um homem estúpido, e Mr. Joyce não tinha paciência com a estupidez. Mas a sua angústia desde a catástrofe havia tocado um ponto sensível no coração do advogado; e Mrs. Crosbie atingira o alvo quando lhe pedira que a ajudasse, não por ela, mas pelo marido.
— Não é preciso dizer-lhe que será muito embaraçoso se essa carta for parar nas mãos da promotoria. A sua mulher mentiu, e ela seria obrigada a explicar a mentira. As coisas ficam um pouco alteradas se Hammond não se intrometeu na sua casa como uma visita indesejável, mas sim porque fora convidado. Seria fácil despertar nos jurados uma certa indecisão de espírito.
Mr. Joyce hesitou. Enfrentava agora a sua decisão. Se fosse ocasião de pilhéria, teria rido ao refletir que ele dava um passo tão grave, e que o homem por quem esse passo era dado não tinha a menor noção de sua gravidade. Se Crosbie pensasse no assunto, quiçá imaginasse que Mr. Joyce procedia da mesma forma que qualquer advogado no exercício ordinário da profissão.
— Meu caro Robert, você não é apenas meu cliente, mas meu amigo. Acho que devemos obter essa carta. Isso custará um bom dinheiro. Se não fosse assim, eu preferiria não lhe dizer nada sobre esse assunto.
— Quanto?
— Dez mil dólares.
— É muito dinheiro. Com a baixa, mais isto e mais aquilo, é quase tudo o que eu tenho.
— Pode arranjá-lo agora?
— Acho que sim. Charlie Meadow dará esse dinheiro com a garantia das minhas apólices do estanho e dos dois seringais em que tenho parte.
— Então vai consegui-lo?
— É absolutamente necessário?
— Se você quiser que a sua mulher seja absolvida.
Crosbie ficou muito vermelho. A boca deprimiu-se estranhamente.
— Mas... — não podia encontrar as palavras, tinha o rosto purpúreo — mas eu não entendo. Ela pode explicar. Você não quer dizer que ela seria condenada? Não são capazes de enforcá-la só porque acabou com uma praga.
— Claro que não vão enforcá-la. Somente poderão condená-la por homicídio simples. Provavelmente escaparia com dois ou três anos.
Crosbie ergueu-se de um salto. O horror contorcia-lhe o rosto vermelho.
— Três anos!
Então algo pareceu assomar à sua vagarosa inteligência. A escuridão daquele espírito era atravessada por um relâmpago súbito, e embora as trevas subsequentes continuassem igualmente profundas, restava a memória de certa coisa que não fora vista mas talvez apenas lobrigada. Mr. Joyce viu que as manzorras vermelhas de Crosbie, rudes e ásperas por trabalhos tão diversos, tremiam.
— Qual era o presente que ela ia fazer-me?
— Disse ela que desejava oferecer-lhe uma nova arma.
Mais uma vez aquele rosto largo e vermelho tornou-se purpúreo.
— Quando é que você precisa estar com o dinheiro?
Na sua voz havia agora algo de esquisito. — As dez horas da noite. Talvez você possa levá-lo ao meu escritório até as seis.
— A mulher vai lá?
— Não, eu vou até ela.
— Eu levo o dinheiro. Vou com você.
Mr. Joyce olhou-o novamente. — Acha que é necessário fazer isso? Creio que seria melhor se me deixasse tratar sozinho deste assunto.
— É o meu dinheiro, não é? Vou de qualquer modo.
Mr. Joyce encolheu os ombros. Os dois homens levantaram-se e apertaram as mãos. Mr. Joyce olhou curiosamente para Crosbie.
Às dez horas encontraram-se no clube deserto.
— Tudo está em ordem? — perguntou Mr. Joyce.
— Tudo. Tenho o dinheiro no bolso.
— Então vamos.
Desceram a escadaria. O carro de Mr. Joyce esperava-os na praça, silenciosa àquela hora, e quando se dirigiam para ele Ong Chi Seng surgiu da sombra de uma casa. O secretário sentou-se ao lado do chofer e deu-lhe um endereço. Passaram pelo Hotel de L'Europe e dobraram à Casa do Marinheiro a fim de entrar na Victoria Street. As lojas chinesas ainda estavam abertas, ociosos demoravam-se aqui e ali, e na rua os jinriquixás, os automóveis e carros de aluguel emprestavam à cena um ar atarefado. Subitamente o carro parou e Chi Seng voltou-se para trás.
— Aqui, senhor, será melhor andarmos a pé — disse ele. Desceram e o chinês tomou a frente. Os outros seguiam-no a um ou dois passos. Pouco depois eram convidados a deter-se.
— Espere aqui, senhor. Vou entrar e falar ao meu amigo.
Chi Seng entrou numa loja, aberta para a rua, onde havia três ou quatro chineses atrás do balcão. Era uma dessas lojas estranhas nas quais nada há exposto e não se pode saber o que venderão ali. Viram-no dirigir-se a um homem corpulento, vestido de linho branco, com uma grossa corrente de ouro atravessada ao peito, e o homem lançar um olhar rápido para a escuridão da rua. Depois, deu uma chave a Chi Seng e Chi Seng voltou. Acenou para os dois homens que esperavam e enfiou-se numa porta ao lado da loja. Os outros seguiram-no e acharam-se ao pé de uma escada.
— Se esperarem um instante, acendo um fósforo — disse ele, sempre expedito. — Subam, por favor.
Levava um fósforo japonês à frente, mas a sua luz não dissipava a escuridão, e os outros o seguiam às apalpadelas. No primeiro andar abriu uma porta e, entrando, acendeu um bico de gás.
— Tenham a bondade de entrar — disse ele.
Era uma pequena sala quadrada, com uma janela, e cuja única mobília consistia em duas baixas camas chinesas cobertas por uma esteira. A um canto havia uma grande arca, de fechadura complicadamente trabalhada, sobre a qual estava uma bandeja velha com um cachimbo de ópio e uma lâmpada. Havia na sala o odor leve e acre da droga. Sentaram-se e Ong Chi Seng ofereceu-lhes cigarros. Em seguida a porta era aberta pelo chinês gordo que tinham visto atrás do balcão. Desejou-lhes boa noite em excelente inglês e sentou-se ao lado do compatriota.
— A chinesa não se demorará — disse Chi Seng.
Um rapaz da loja trouxe uma bandeja com bule e xícaras e ofereceu-lhes uma xícara de chá. Crosbie recusou. Os chineses falavam entre si a meia voz, mas Crosbie e Mr. Joyce continuavam calados. Por fim ouviu-se uma voz lá fora; alguém chamava em tom baixo, e o chinês foi até a porta. Abriu-a, falou umas poucas palavras, e introduziu uma mulher. Mr. Joyce olhou para ela. Muito ouvira a seu respeito desde a morte de Hammond, mas ainda não a tinha visto. Era uma pessoa de corpo cheio, não muito moça, com um rosto largo e fleumático, estava empoada e pintada e as suas sobrancelhas eram uma fina linha negra, mas dava a impressão de ser mulher de caráter. Vestia um casaquinho azul claro e saia branca, roupa que não era bem europeia nem chinesa, mas nos pés trazia pequeninas sandálias de seda. Usava pesadas correntes de ouro em torno do pescoço, braceletes de ouro nos pulsos, brincos de ouro e complicados alfinetes de ouro no cabelo negro. Entrou lentamente, com o" ar de uma mulher segura de si mesma, mas com um certo peso no andar, e sentou-se na cama, ao lado de Ong Chi Seng. Este lhe disse alguma coisa e ela, inclinando a cabeça, lançou um olhar descuidado para os dois brancos.
— Ela trouxe a carta? — perguntou Mr. Joyce.
— Sim, senhor. Crosbie nada disse, mas tirou do bolso um maço de notas de quinhentos dólares. Contou vinte e entregou-as a Chi Seng.
— Veja se está certo.
O secretário contou-as e deu-as ao chinês gordo. — Muito certo, senhor.
O chinês contou-as mais uma vez e meteu-as no bolso. Falou novamente à mulher e ela tirou uma carta do seio. Deu-a a Ong Chi Seng, que passou os olhos por ela.
— Este é o documento exato, senhor — disse ele, e ia entregá-lo a Mr. Joyce quando Crosbie o pegou.
— Deixe-me ver isto — disse ele.
Mr. Joyce olhou-o ler e depois estendeu a mão. — É melhor que eu fique com isso.
— Não, vou guardá-la comigo. Custou-me muito dinheiro.
Mr. Joyce não replicou. Os três chineses observaram o pequeno incidente, mas o que pensaram a respeito, ou se pensaram, era impossível dizer diante de seus rostos impassíveis. Mr. Joyce levantou-se.
— O senhor ainda precisa de mim esta noite? — disse Ong Chi Seng.
— Não. — Ele sabia que o secretário desejava ficar a fim de receber a sua parte do dinheiro; virou-se para Crosbie. — Vamos?
Crosbie não respondeu, mas levantou-se. O chinês foi até a porta e abriu-a. Chi Seng encontrou um toco de vela e acendeu-o para iluminar a escada, e os dois chineses acompanharam-nos à rua. Deixaram a mulher serenamente sentada na cama, fumando um cigarro. Chegados à rua, os chineses deixaram-nos e tornaram a subir as escadas.
— O que vai fazer com essa carta? — perguntou Mr. Joyce.
— Guardá-la.
Andaram até onde o carro os esperava e Mr. Joyce ofereceu-se para levar o amigo. Crosbie sacudiu a cabeça.
— Quero caminhar. — Hesitou um pouco e esfregou os pés no chão. — Na noite da morte de Hammond eu vim a Singapura em parte para comprar uma arma nova que um conhecido meu queria vender. Boa noite.
Crosbie desapareceu rapidamente na escuridão.
Mr. Joyce tinha toda razão a respeito do julgamento. Os jurados compareceram ao tribunal inteiramente resolvidos a absolver Mrs. Crosbie. A própria atitude dela era uma prova. Contou a sua história com simplicidade e inteireza. O promotor público era um homem bondoso e via-se que não tinha grande prazer em sua tarefa. Fez-lhe as perguntas necessárias em maneira deprecativa. O seu discurso de acusação na realidade bem poderia ter sido um discurso de defesa, e os jurados não demoraram cinco minutos a considerar o seu veredito popular. Foi impossível impedir a grande manifestação de aplauso com que o recebeu a multidão que enchia a sala do tribunal. O juiz cumprimentou Mrs. Crosbie e ela estava em liberdade.
Ninguém havia expressado mais violenta reprovação à conduta de Hammond do que Mrs. Joyce; era uma mulher leal com suas amizades e insistira em que os Crosbie se hospedassem com ela após o julgamento, até que arranjassem a partida, pois juntamente com todos os outros, não tinha a menor dúvida sobre a sentença. Estava fora de questão para a brava, querida e pobre Leslie retornar ao bangalô em que tivera lugar a horrível catástrofe. O julgamento findou meia hora após o meio-dia e quando chegaram à casa dos Joyce esperava-os um soberbo almoço. Serviram-se coquetéis, e Mrs. Joyce, cujo Millionaire Cocktail era famoso em todos os Estados malaios, bebeu à saúde de Leslie. Era ela uma mulher loquaz, viva, e estava muito animada. Isto era uma felicidade, pois os outros permaneciam silenciosos. Mrs. Joyce não o notava, o marido nunca tinha muito a dizer, e os outros dois estavam naturalmente exaustos com a longa tensão que tiveram de sofrer. Durante a refeição a dona da casa conduziu um monólogo brilhante e animado. Serviu-se depois o café.
— Agora, crianças — disse ela na sua maneira alegre e alvoroçada —, vocês precisam descansar e depois do chá vão passear comigo até o mar.
Mr. Joyce, que só almoçava em casa excepcionalmente, tinha que retornar ao escritório.
— Acho que não poderei ir, Mrs. Joyce — disse Crosbie. — Preciso voltar para o seringal.
— Mas não hoje? — exclamou ela.
— Sim, agora mesmo. Tenho negócios urgentes que já estão muito negligenciados. Mas ficarei muito agradecido se a senhora hospedar Leslie até resolvermos o que fazer.
Mrs. Joyce ia argumentar, mas o marido impediu-a. — Se ele precisa ir, precisa, e não se fala mais nisso.
Havia qualquer coisa na voz do advogado que a fez olhar rapidamente para ele. Calou-se e houve um momento de silêncio. Depois Crosbie tornou a falar.
— Se me permitirem, sairei agora mesmo a fim de chegar antes do anoitecer. — Levantou-se da mesa. — Vem comigo até a porta, Leslie!
— Naturalmente.
Saíram juntos da sala de jantar. — Acho que isso é uma desconsideração da parte dele — disse Mrs. Joyce. — Ele não há de ignorar que, justamente agora, Leslie desejaria ficar ao seu lado.
— Estou certo de que ele não iria se não fosse absolutamente necessário.
— Bem, vou ver se o quarto de Leslie já está arrumado. Ela precisa de completo descanso, não é?, e também de divertimentos.
Mrs. Joyce deixou a sala e Joyce tornou a se sentar. Dentro em pouco ouviu Crosbie pôr o motor em movimento e arrancar ruidosamente pelo caminho arenoso do jardim. Levantou-se e entrou na sala de visitas. Mrs. Crosbie estava sentada numa cadeira, olhando para o espaço, e na sua mão havia uma carta aberta. O advogado reconheceu-a. Leslie relanceou-lhes os olhos quando ele entrou e ele viu que ela estava mortalmente pálida.
— Ele sabe — sussurrou ela.
Mr. Joyce aproximou-se dela e tirou-lhe a carta da mão. Acendeu um fósforo e ateou fogo ao papel. Leslie viu-o arder. Quando ele não pôde segurá-lo mais, deixou-o cair no chão de mosaico, e ambos viram o papel recurvar-se e enegrecer. Depois ele o desfez em cinzas com o pé.
— O que ele sabe?
Leslie olhou-o longa, demoradamente, e uma estranha expressão lhe veio aos olhos. De desprezo ou desespero? Mr. Joyce não sabia dizer.
— Ele sabe que Geoff era meu amante.
Mr. Joyce não fez gesto algum nem disse palavra.
— Foi meu amante durante anos. Fez-se meu amante quase imediatamente ao voltar da guerra. Nós sabíamos quanto cuidado era preciso ter. Quando nos tornamos amantes fingi que ele me aborrecia, e ele raramente vinha ao bangalô quando Robert estava. Eu costumava ir de carro até um lugar que conhecíamos e ali me encontrava com ele, duas ou três vezes por semana, e quando Robert ia a Singapura, ele vinha tarde ao bangalô, quando os criados já haviam se acomodado para dormir. Víamo-nos constantemente, durante todo esse tempo, e ninguém suspeitava. E ultimamente, há um ano, ele começou a mudar. Eu não sabia por quê. Não podia acreditar que eu não significasse mais nada para ele. Ele sempre o negava: Eu ficava furiosa. Fazia cenas. Às vezes eu achava que ele tinha ódio de mim. Oh, se o senhor soubesse quanta angústia sofri! Passei pelo inferno. Eu sabia que ele não me queria mais, mas não o deixava ir. Desgraça! Desgraça! Eu o amava. Daria tudo por ele. Ele era toda a minha vida. E depois ouvi dizer que ele vivia com uma chinesa. Eu não podia acreditar. Não queria acreditar. Finalmente, eu a vi com meus próprios olhos, na aldeia, carregada de braceletes de ouro e de colares, uma chinesa gorda, velha. Horrível! No povoado todos sabiam que ela era amante dele. E quando passei por ela, ela me olhou e eu vi que ela sabia que eu também era amante dele. Mandei chamá-lo.
“Disse-lhe que precisava vê-lo. O senhor leu a carta. Foi loucura escrevê-la. Eu não sabia o que estava fazendo. Pouco se me dava. Fazia dez dias que eu não o via. Era uma existência. Na última vez que nos despedimos ele me tomou nos braços e beijou-me, e disse que eu não me preocupasse. E saiu dos meus braços para os dela.”
Leslie, que falava em voz baixa, veementemente, parou e torceu as mãos.
— Essa carta maldita. Sempre tínhamos sido tão cautelosos. Ele sempre rasgava tudo que eu lhe escrevia assim que acabava de ler. Eu não podia saber que ele ia deixar essas linhas! Ele veio, e eu disse que sabia tudo a respeito da chinesa. Ele negou. Disse que era apenas escândalo. Fiquei fora de mim. Não sei quanta coisa lhe disse. Oh, tive ódio dele. Magoei-o fibra por fibra. Disse-lhe tudo que era capaz de feri-lo. Podia ter cuspido na cara dele. E afinal chegou a vez dele. Disse-me que estava enjoado, farto de mim e que nunca mais queria me ver. Disse-me que eu o aborrecia mortalmente. E depois admitiu que a história da chinesa era verdade. Disse que a conhecia há muitos anos, de antes da guerra, e que era ela a única mulher que realmente lhe significava alguma coisa, que o resto era simples passatempo. E disse estar satisfeito em que eu o soubesse, e que agora, finalmente, eu o deixaria em paz. Não sei o que aconteceu então, eu estava fora de mim, via tudo vermelho. Apanhei o revólver e atirei. Ele deu um grito e eu vi que tinha acertado. Ele fugiu cambaleando para a varanda. Corri atrás dele e tornei a atirar. Ele caiu, e então eu fiquei perto dele, atirando, atirando, até que o revólver deixou de detonar, e eu vi que não havia mais bala.
Deteve-se por fim, respirando a custo. Seu rosto não era mais humano, estava contraído de crueldade, dor e ódio. Nunca se teria pensado que aquela mulher tranquila e refinada fosse capaz de uma paixão tão diabólica. Mr. Joyce deu um passo atrás. Estava absolutamente espantado com ela. Aquilo não era um rosto, era uma máscara medonha e convulsa. Então ouviram uma voz que chamava da outra sala, uma voz alta, amiga e alegre. Era Mrs. Joyce.
— Vem, Leslie, minha querida, teu quarto está pronto. Deves estar caindo de sono.
As feições de Mrs. Crosbie recompuseram-se gradativamente. Aquelas paixões, tão claramente delineadas, iam desaparecendo, abrandando, como se alisa com a mão um papel amarrotado, e num momento o rosto ficava sereno, liso e claro. Estava um tanto pálida, mas os seus lábios se abriram num sorriso afável e encantador. Era mais uma vez a mulher distinta e bem educada.
— Já vou, Dorothy. Sinto dar-te todo este incômodo, minha querida.
Post-Scriptum
Com exceção de Singapura, cidade que tem muito que fazer para se ocupar com ninharias, escolhi nomes imaginários para as cenas de ação destes meus contos. Algumas dessas localidades menores das regiões banhadas pelo Mar da China são muito suscetíveis e seus habitantes se alvoroçam quando, numa obra de ficção, sugere-se que as condições de sua existência nem sempre são tais que possam contar com a aprovação dos círculos suburbanos em que vivem satisfeitos seus primos e suas tias. É mesmo de espantar o viajante a descoberta de que esses ingleses que passam a maior parte da vida no vasto Oriente ligam tanta importância a questões de campanário, e talvez ele se admire por vezes de que essa gente vá até as Celebes para encontrar lá um novo Bedford Park. Como são pessoas práticas, e ocupadas na maioria com assuntos práticos, não atribuem muita imaginação ao escritor e, sabendo que ele esteve nesta ou naquela localidade e travou relações com Fulano ou Beltrano, chegam logo à conclusão de que as personagens apresentadas não são senão retratos deles próprios.
Vivendo, em pleno Oriente, com toda a estreiteza de uma cidadezinha de província, têm eles os defeitos e as fraquezas provincianas e parecem sentir um prazer malicioso em procurar os modelos das personagens, especialmente quando tolas, mesquinhas ou viciosas, que o autor incluiu na sua narrativa. Pouco versados em artes e letras, não compreendem que o caráter e a aparência de uma personagem de conto são ditados pelas exigências do enredo. Não lhes ocorre tampouco que as pessoas reais sejam demasiado nebulosas para aparecer numa obra de imaginação. Nós vemos as pessoas reais apenas em superfície, mas para os propósitos da ficção elas devem ser vistas em volume; e a fim de criar uma personagem viva é necessário combinar elementos fornecidos por uma dúzia de fontes diversas. O fato de o leitor, empregando sem proveito algum uma hora de lazer inútil, reconhecer numa personagem um traço, mental ou físico, de alguma pessoa de suas relações que ele sabe ser conhecida também pelo autor, não justifica que aplique o nome dessa pessoa à personagem descrita e diga: isto é um retrato. Uma obra de ficção — e talvez não seja descabido generalizar, dizendo toda obra de arte — é um compromisso que o autor faz dos fatos da sua experiência com as idiossincrasias da sua personalidade. Se, por coincidência, ela parecer uma cópia da vida, isso não passará de um incidente raro e desprovido de importância. Foi assim que o escultor grego de uma estátua famosa acrescentou mais um dedo ao pé de uma mulher, sem dúvida porque julgava aumentar assim a esbelteza e a elegância desse pé. Os fatos não são mais do que a tela em que o artista traça um desenho sugestivo. Tomo pois a liberdade de declarar que as personagens destes contos são imaginárias, mas como certo incidente narrado numa delas, Atavismo, foi sugerido por um contratempo pessoal, desejo frisar particularmente que não vai aí alusão a nenhum dos meus companheiros naquela perigosa aventura.
Dizem que quando alguém leva consigo para o mar um pedaço dessa árvore, por menor que seja, surgirão ventos contrários que lhe impedirão a viagem, ou tempestades a pôr em perigo a sua vida. Também dizem que quem se colocar à sua sombra em noite de lua cheia ouvirá, misteriosamente sussurrados na escura galharia, os segredos do futuro. São fatos que jamais foram contraditados; mas dizem ainda que nos amplos estuários, quando o mangue, com o correr do tempo, logrou conquistar à água as terras pantanosas, a casuarina ali se instala por sua vez, solidificando e fertilizando o solo até que esteja pronto para receber uma vegetação mais variada e luxuriante; então, desempenhada a sua tarefa, vai se extinguindo ante a impiedosa invasão das miríades de habitantes da selva. Ocorreu-me que A casuarina não seria mau título para um volume de contos em torno de ingleses residentes na Península Malaia e em Bornéu; pois imaginei que essa gente, vinda após os desbravadores que haviam franqueado essas terras à civilização ocidental, estava da mesma forma destinada, uma vez cumprida a sua missão e tornada a região pacífica, ordeira e sofisticada, a ceder lugar a uma geração mais variada, porém menos aventurosa; e fiquei extremamente desapontado quando, ao fazer indagações, soube que não havia a menor dose de verdade no que me tinham dito. É dificílimo encontrar título para uma coleção de contos; dar-lhe o nome do primeiro é fugir à dificuldade e ilude o leitor, fazendo-o supor que vai ler um romance; um bom título deveria, ainda que vagamente, ter relação com todos os contos reunidos no livro. Os melhores títulos, todavia, já foram usados. Estava eu num dilema. Refleti, porém, que um símbolo (como acentua mestre François Rabelais numa divertida passagem) pode simbolizar qualquer coisa; e lembrei-me de que a casuarina se ergue à beira-mar, emaciada e tosca, protegendo a terra contra a fúria dos ventos, e assim poderia muito bem sugerir esses plantadores e administradores que, apesar de todos os seus defeitos, afinal de contas levaram aos povos entre os quais habitam a tranquilidade, a justiça e a prosperidade, e imaginei que eles também, ao contemplar a casuarina, rude, cinzenta e triste, algo deslocada em meio à exuberância dos trópicos — que eles também deviam recordar-se da sua terra natal e, pensando um momento nas urzes de uma charneca de Yorkshire ou nas giestas de um baldio de Sussex, veriam nessa intrépida árvore, que faz o que pode num ambiente desfavorável, um símbolo das suas existências de exilados. Em suma, eu poderia encontrar uma dezena de razões para manter o meu título, mas a mais convincente delas, já se vê, é que não consegui descobrir outro melhor.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_CASUARINA.jpg
Antes da festa
Mrs. Skinner gostava de chegar na hora. Já estava vestida, de seda preta como convinha à sua idade, sem contar que guardava luto pelo genro. Pôs a "toque". Tinha as suas dúvidas acerca desta, pois a aigrette que a enfeitava bem poderia provocar ásperas críticas por parte de algumas das suas amigas, a quem certamente encontraria na festa. Além disso, era revoltante matar aquelas lindas aves brancas, ainda em cima na época do acasalamento, para lhes arrancar as penas. Mas eram tão bonitas, tão chiques, que teria sido tolice recusá-las, para não falar na ofensa feita ao genro. Fora ele que as trouxera de Bornéu, pensando dar-lhe tanta alegria com elas! Kathleen fora um pouco malcriada a esse respeito; sem dúvida estava arrependida após o que acontecera, mas a verdade é que Kathleen nunca tinha gostado realmente de Harold. Em pé diante da mesa-toucador, Mrs. Skinner ajustou a "toque" na cabeça (afinal era o único chapéu apresentável que tinha) , e cravou nela um grampo com uma grande bola de azeviche. Se lhe fizessem alguma observação sobre as plumas, tinha uma resposta pronta.
"Sei que isto é um horror", diria, "e por mim nunca as teria comprado, mas foi o meu pobre genro que as trouxe, da última vez que esteve aqui em licença."
Isso explicaria as plumas e seria uma escusa para usá-las. Todos tinham sido muito gentis. Mrs. Skinner tirou um lenço limpo de uma gaveta e borrifou-o com um pouco de água-de-colônia. nunca usava perfumes porque isso lhe parecia uma frivolidade, mas a água-de-colônia era tão, refrescante! Já estava quase pronta; seu olhar arredou-se do espelho e pôs-se a vaguear lá fora, através da janela. O cônego Heywood teria um dia maravilhoso para o seu garden party. O ar estava tépido e o céu azul; as árvores ainda não tinham perdido o fresco verdor da primavera. Mrs. Skinner sorriu ao ver a netinha no pequenino jardim dos fundos da casa, passando o ancinho no seu canteiro de flores. Quem dera que Joan não fosse tão pálida! Fora um erro fazê-la permanecer tanto tempo nos trópicos. Era séria demais para a sua idade, nunca a viam correr de um lado para outro; distraía-se com jogos tranquilos, que ela própria inventava, e regava o seu jardim. Mrs. Skinner alisou o peito do vestido, apanhou as luvas e desceu.
Kathleen estava sentada diante da mesa de escrever, no vão da janela, ocupada com as listas que andava organizando; pois era secretária honorária do Clube Feminino de Golfe e quando havia competição tinha muito que fazer. Mas também ela já se, arrumara para a festa.
— Vejo que afinal resolveste por o blusão — disse Mrs. Skinner.
Haviam discutido ao almoço sobre se Kathleen devia por o blusão ou o vestido de chiffon preto. O blusão era preto e branco e Kathleen o achava muito chique, mas não era propriamente um traje de luto. Contudo, Millicent pronunciara-se a favor dele.
— Por que havíamos de ir todas como se tivéssemos voltado de um enterro? Já faz oito meses que Harold morreu.
Mrs. Skinner achara que ela dava mostra de pouco sentimento. Millicent andava esquisita desde que voltara de Bornéu.
— Estás pensando em tirar já o luto, meu bem? — perguntara.
Millicent não respondera diretamente. — Hoje não se usa mais luto como em outros tempos. Fez uma pequena pausa e quando prosseguiu, o tom da sua voz pareceu estranho a Mrs. Skinner. Evidentemente Kathleen também o notou, pois lançou um olhar de curiosidade à irmã. — Tenho certeza que Harold não havia de querer que eu usasse luto indefinidamente por ele.
— Aprontei-me cedo porque queria falar com Millicent — disse Kathleen em resposta à observação da mãe.
— Ah! sim?
Kathleen não explicou. Pôs as listas de parte e, com o cenho franzido, leu por segunda vez a carta de uma senhora que se queixava da injustiça do comitê em baixar-lhe o handicap de vinte e quatro para dezoito. A secretária honorária de um clube feminino de golfe precisa ter muita diplomacia. Mrs. Skinner começou a por as luvas novas. As persianas mantinham a sala fresca e envolta em penumbra. Ela olhou para o grande búcero de madeira, pintado em cores alegres, que Harold deixara confiado à sua guarda; a escultura lhe parecia estranha e bárbara, mas o genro tinha-lhe muita estima. Possuía algum significado religioso e o cônego Heywood ficara muito impressionado com ela. Na parede, por cima do sofá, havia armas malaias cujo nome ela esquecera e aqui e além, sobre as mesas, objetos de bronze e prata que Harold lhes mandara em diversas ocasiões. Gostara do genro em vida. deste. Seus olhos procuraram involuntariamente a fotografia dele, que costumava estar em cima do piano, junto com as das suas filhas, da neta, da irmã e do filho desta.
— Que é isso, Kathleen, onde está o retrato de Harold?
Kathleen olhou. O retrato já não se achava no seu lugar. — Alguém o tirou daí — disse ela. Levantou-se, surpresa e intrigada, e dirigiu-se para o piano. As fotografias tinham sido rearranjadas de maneira que não deixassem nenhuma lacuna.
— Talvez Millicent o quisesse ter no quarto — observou Mrs. Skinner.
— Eu teria reparado nele. Além disso, Millicent tem várias fotografias de Harold, que traz fechadas à chave.
Mrs. Skinner achara muito esquisito a filha não ter nenhum retrato do marido no quarto. Chegara a tocar certa vez nesse assunto, porém Millicent não lhe respondera. Millicent andava singularmente taciturna desde que tinha voltado de Bornéu. Não tinha animado as mostras maternas de simpatia. Parecia pouco disposta a falar da sua grande perda. O pesar não produz o mesmo efeito em todos. Mrs. Skinner dissera-lhe que era melhor deixá-la em paz. A lembrança do marido desviou-lhe o pensamento para a festa.
— O pai perguntou se eu achava que ele devia pôr a cartola. Respondi que pelas dúvidas era melhor fazê-lo.
Seria uma festa magnífica. Tinham encomendado sorvetes de morango e baunilha a Boddy, o confeiteiro, mas os Heywood preparariam o café gelado em casa. A concorrência seria grande. Eles tinham sido convidados para fazer conhecimento com o Bispo de Hong Kong, que estava hospedado em casa do cônego, seu velho companheiro de universidade, e ia falar sobre as missões da China. Mrs. Skinner, cuja filha tinha residido oito anos no Oriente e cujo genro fora Residente num distrito de Bornéu, estava toda interessada. O assunto, naturalmente, a tocava muito mais de perto do que àqueles que nunca tinham tido nada que ver com as Colônias.
"Que pode saber da Inglaterra quem só a Inglaterra conhece?", como dizia Mr. Skinner.
Nesse momento ele entrou na sala. Era advogado, como também o fora o pai, e tinha banca em Lincoln's Inn Fields. Todos os dias de manhã ia a Londres e voltava à tardinha. Se podia acompanhar a mulher e as filhas ao garden party do cônego era porque este, muito acertadamente, havia escolhido um sábado para a sua festa. Fazia muito boa figura de fraque e calças sal-e-pimenta. Não era propriamente uma janota, mas vestia com correção. Tinha o aspecto de um respeitável advogado de família, e de fato o era. Sua firma nunca aceitava negócios que não fossem perfeitamente lícitos; quando um cliente o procurava para lhe confiar alguma questão pouco limpa ele assumia um ar grave.
— Não me parece que a sua causa seja daquelas que nos interessam especialmente. Seria preferível que se dirigisse a outra firma.
Puxava um bloco de notas e escrevia um nome e um endereço. Arrancava a folha e a estendia ao cliente.
— No seu lugar eu procuraria estes advogados. Se mencionar o meu nome, estou certo de que farão o possível para servi-lo.
Mr. Skinner era muito calvo e raspava toda a barba. Tinha lábios pálidos, finos e comprimidos, mas os seus olhos azuis eram tímidos. As faces eram sem cor e o rosto coberto de rugas.
— Vejo que você pôs as calças novas — disse Mrs. Skinner. — Achei que a oportunidade era boa. Estava perguntando comigo se conviria por uma flor na lapela.
— Eu não faria isso, pai — observou Kathleen. — Não acho que seja de muito bom gosto.
— Muita gente vai fazê-lo — disse Mrs. Skinner.
— Somente empregados de escritório e. pessoas dessa espécie — tornou Kathleen. — Os Heywood tiveram de convidar toda a gente, como sabem. Além disso, nós estamos de luto.
— Gostaria de saber se haverá coleta depois da conferência do Bispo — disse Mrs. Skinner.
— Não creio — respondeu o marido. — Acho que não seria de muito bom gosto — concordou Kathleen.
— É melhor ir pelo seguro — decidiu Mr. Skinner. — Vou contribuir em nome de todos nós. Estava perguntando a mim mesmo se dez xelins seriam suficientes ou se devia dar uma libra.
— Se tiver de dar alguma coisa, convém que seja uma libra, pai — disse Kathleen.
— Verei quando chegar o momento. Não quero dar menos do que os outros, mas por outro lado não vejo razão para dar mais do que o necessário.
Kathleen guardou os seus papéis na gaveta da secretária e levantou-se. Olhou as horas no relógio de pulso.
— Millicent já está pronta? — perguntou Mrs. Skinner.
— Temos tempo de sobra. O convite é para as quatro e não convém que cheguemos muito antes das quatro e meia. Disse a Davis que trouxesse o carro às quatro e quinze.
Em geral era Kathleen quem guiava o carro, mas em ocasiões solenes como essa Davis, o jardineiro, vestia seu uniforme e fazia as vezes de chofer. Isso dava melhor impressão à chegada e era natural que Kathleen não desejasse guiar com o seu blusão novo. Ao ver a mãe enfiar nos dedos, com esforço, um par de luvas que ainda não tinham sido usadas, lembrou-se de que precisava pôr as suas também. Cheirou-as para verificar se ainda se sentia o odor do líquido usado na limpeza. Estava muito fraco. Duvidava que alguém o notasse.
Afinal abriu a porta e Millicent entrou. Pusera o seu traje de luto. Mrs. Skinner não podia habituar-se com ele, mas, fosse como fosse, Millicent teria de usá-lo durante um ano. Era pena que não lhe ficasse bem; assentava muito em certas pessoas. Tinha posto uma vez o chapéu de Millicent, com a sua ourela branca e o seu comprido véu, e achava que ele lhe dava uma bonita aparência. Esperava, já se vê, que o seu querido Alfred lhe sobrevivesse, mas se tal não acontecesse ela jamais tiraria o luto. Como a Rainha Vitória. Com Millicent o caso mudava de figura. Millicent era muito mais moça, tinha apenas trinta é seis anos; que tristeza enviuvar nessa idade! Era pouco provável que arranjasse novo casamento. Kathleen, com trinta e cinco anos, também já estava um pouco velha para casar. Na última vez em que Millicent e Harold tinham vindo à Inglaterra ela sugerira que levassem Kathleen consigo para o Oriente; Harold parecia disposto a fazê-lo, porém Millicent disse que isso não daria certo. Mrs. Skinner não compreendia por quê. Seria uma oportunidade para ela. Está claro que não queriam desfazer-se de Kathleen, mas uma moça precisava casar e o fato era que todos os homens a quem conheciam na Inglaterra já estavam casados. Dizia Millicent que o. clima de lá era tremendo e, na verdade, ela estava com má cor. Ninguém diria que Millicent tinha sido a mais bonita das duas. Kathleen tornara-se mais esbelta com os anos; alguns a achavam muito magra, mas depois de cortar o cabelo, com as faces vermelhas de jogar rife ao sol e ao vento, Mrs. Skinner achava-a linda. Ninguém poderia dizer o mesmo da pobre Millicent, que perdera por completo a linha; nunca tinha sido alta e agora que engordara parecia atarracada. Estava gorda demais; isso, sem dúvida, devia-se ao calor dos trópicos que não deixava fazer exercício. Sua pele estava descorada e turva e os olhos azuis, que eram o que ela possuía de mais bonito, tinham adquirido uma tonalidade completamente pálida.
"Ela devia fazer alguma coisa para afinar o pescoço", refletiu Mrs. Skinner. "Está ficando horrivelmente tronchudo."
Certa ocasião falara nisso ao marido. Ele respondeu que Millicent já não era muito criança; podia ser, mas isso não era motivo para que uma pessoa se descuidasse de si. Mrs. Skinner tomou a resolução de falar seriamente à filha. Mas devia respeitar a sua dor, está claro: esperaria até que houvesse passado um ano. Não lhe desagradava nada ter esse motivo para adiar uma palestra em que não podia pensar sem certo nervosismo. Porque era visível que Millicent havia mudado. O seu rosto tinha uma expressão casmurra que fazia com que a mãe não se sentisse bem a. vontade com ela. Mrs. Skinner gostava de exprimir em voz alta tudo que lhe passava pela cabeça, porém Millicent, quando se fazia uma observação (simplesmente para dizer alguma coisa, já se vê), tinha o hábito embaraçoso de não responder, deixando a gente em dúvida sobre se ela ouvira ou não. Por vezes Mrs. Skinner achava isso tão irritante que, para não dirigir algumas palavras ásperas à filha, era forçada a lembrar-se de que o pobre Harold morrera havia apenas oito meses.
A luz da janela incidia no rosto maciço da viúva, que caminhava silenciosamente para o grupo. Kathleen, que estava de costas para essa luz, observou por um instante a irmã.
— Millicent, quero dizer-te uma coisa. Estive jogando golfe com Gladys Heywood hoje de manhã.
— Ganhaste? — perguntou Millicent. Gladys Heywood era a única filha solteira do cônego. — Ela me contou a teu respeito uma coisa que acho que tu deves saber.
Os olhos de Millicent fixaram-se, além da irmã, na meninazinha que regava as flores no jardim.
— Disseste a Annie que servisse o chá a Joan na cozinha, mamãe? — perguntou ela.
— Sim, ela vai tomá-lo com os criados.
Kathleen olhou calmamente para a irmã. — O Bispo passou dois ou três dias em Singapura na volta — prosseguiu. — Ele gosta muito de viajar. Esteve em Bornéu e falou com muitos conhecidos teus.
— Gostará de fazer conhecimento contigo, meu bem — disse Mrs. Skinner. — Ele conhecia o pobre Harold?
— Sim, encontraram-se uma vez em Kuala Solor. Lembra-se muito bem dele. Diz que ficou horrorizado ao saber da sua morte.
Millicent sentou-se e começou a pôr as luvas pretas. Mrs. Skinner achou estranho que ela ouvisse essas observações num silêncio absoluto.
— A propósito, Millicent — disse ela —, o retrato de Harold desapareceu. Foste tu que o tiraste daí?
— Sim, eu o guardei.
— Pensei que gostasses de tê-lo em cima do piano.
Mais uma vez Millicent calou-se. Era mesmo um hábito exasperante.
Kathleen virou-se um pouco para encarar a irmã. — Millicent, por que nos disseste que Harold tinha morrido de febre?
A viúva não fez o menor gesto, fitando em Kathleen um olhar firme, mas as suas faces pálidas cobriram-se subitamente de rubor. Não respondeu uma palavra.
— Meu Deus, que queres dizer, Kathleen? — perguntou Mrs. Skinner, surpresa.
— O Bispo diz que Harold se suicidou.
Mrs. Skinner soltou um grito de pasmo, mas seu marido estendeu a mão pedindo silêncio.
— Isso é verdade, Millicent?
— Mas por que não nos disseste?
Millicent demorou um instante a responder. Revolvia entre os dedos, distraidamente, um objeto de bronze de Brunei que estava em cima da mesa ao seu lado. Também aquilo tinha sido um presente de Harold.
— Achei preferível, no interesse de Joan, que o pai dela passasse por ter morrido de febre. Não queria que ela viesse a saber disso.
— Tu nos deixaste numa situação muito esquerda — volveu Kathleen, franzindo de leve o sobrolho. — Gladys Heywood me disse que achava mal feito eu não lhe ter contado a verdade. Tive a maior dificuldade em convencê-la de que eu não sabia absolutamente nada a esse respeito. Ela me disse que o cônego está bastante aborrecido. Depois de nos conhecermos durante tantos anos, e diante da amizade que sempre mantivemos com eles, sem falar que foi ele quem te casou, acha que podíamos ter tido mais franqueza. Em todo caso, se não lhe queríamos dizer a verdade ao menos não devíamos ter contado uma mentira.
— Devo dizer que estou inteiramente solidário com ele nesse ponto — acudiu Mr. Skinner em tom ácido.
— Eu, naturalmente, disse a Gladys que nós não tínhamos culpa nenhuma. Limitamo-nos a repetir a eles o que tu nos tinhas dito.
— Espero que não tenham suspendido a partida de golfe por causa disso — comentou Millicent.
— Francamente, minha querida, a sua observação me parece das mais impróprias! — exclamou Mr. Skinner.
Pôs-se em pé, dirigiu-se para a lareira vazia e, levado pela força do hábito, colocou-se diante dela separando as abas do fraque.
— Era um assunto que me dizia respeito — disse Millicent —, e se me pareceu conveniente guardar segredo sobre isso, por que não havia de fazê-lo?
— Dir-se-ia que não tens nenhuma afeição a tua mãe, pois que nem a ela quiseste contar — disse Mrs. Skinner.
Millicent deu de ombros. — Tu devias saber que isso seria descoberto mais cedo ou mais tarde — observou Kathleen.
— Por quê? Eu não esperava que dois velhos ministros bisbilhoteiros se pusessem a comentar a minha vida por não terem outro assunto em que falar.
— Quando o Bispo disse que tinha estado em Bornéu, era natural que os Heywood lhe perguntassem se ele tinha conhecido vocês.
— Nada disso vem ao caso — disse Mr. Skinner. — Minha opinião é que tu nos devias ter contado a verdade de qualquer modo, e nós então teríamos decidido sobre o melhor caminho a seguir. Como advogado, asseguro-te que sempre dá mau resultado tentar esconder certas coisas.
— Pobre Harold! — disse Mrs. Skinner, enquanto as lágrimas começavam a correr pelas suas faces pintadas de ocre. — Como isso é horrível! Ele sempre foi bom genro para mim. Que foi que o levou a cometer um ato tão horroroso?
— O clima.
— Acho melhor que nos ponhas ao corrente de todos os fatos, Millicent — disse o pai.
— Kathleen te contará.
Kathleen hesitou. O que tinha para dizer era estarrecedor. Parecia horrível que uma coisa daquelas pudesse acontecer a uma família como a sua.
— O Bispo diz que ele se degolou.
Mrs. Skinner conteve a respiração e dirigiu-se impulsivamente para a filha viúva. Queria tomá-la nos braços..
— Minha pobre filha! — soluçou ela.
Millicent, porém, desvencilhou-se do seu abraço. — Por favor, não me desarranjes, mamãe. Não suporto que me agarrem assim.
— Francamente, Millicent! — disse Mr. Skinner, franzindo o sobrolho. — A atitude da filha parecia-lhe muito censurável. Mrs. Skinner enxugou cuidadosamente os olhos com o lenço e voltou para a sua cadeira, soltando um suspiro e sacudindo de leve a cabeça.
Kathleen remexia nervosa a longa corrente que usava ao pescoço.
— Parece absurdo que eu tenha sido informada por uma amiga dos pormenores da morte de meu cunhado. Isso nos deixa com ar de tolos. O Bispo deseja muito ver-te, Millicent; quer dizer-te o quanto simpatiza com a tua dor. — Fez uma pausa, porém Millicent não falou. — Ele diz que Millicent estava fora com Joan e ao voltar encontrou o pobre Harold morto na cama.
— Deve ter sido um grande choque — observou Mr. Skinner.
Sua esposa pôs-se de novo a chorar, mas Kathleen pousou-lhe a mão suavemente no ombro.
— Não chores, mamãe. Vais ficar com os olhos vermelhos e os outros acharão isso muito esquisito.
Todos guardaram silêncio enquanto Mrs. Skinner secava os olhos e fazia um bem sucedido esforço para se dominar.
Parecia-lhe singularíssimo que nesse momento estivesse usando no "toque" as plumas que Harold lhe dera.
— Tenho mais uma coisa para te dizer — falou Kathleen.
Millicent tornou a olhar para a irmã, sem ansiedade, os olhos firmes mas atentos. Tinha o ar de alguém que está à espera de um ruído qualquer e receia perdê-lo.
— Não desejo ofender-te, minha querida, mas ainda há uma coisa que precisas saber — prosseguiu Kathleen. — Diz o Bispo que Harold bebia.
— Que horror, minha querida! — exclamou Mrs. Skinner. — Dizerem uma coisa tão chocante! Foi Gladys Heywood quem te contou? Que foi que lhe respondeste?
— Eu disse que isso era absolutamente falso.
— Aí está em que dá andar com segredos! — exclamou Mr. Skinner com irritação. — É sempre assim. Quando se procura encobrir uma coisa começam a surgir boatos de toda sorte, mil vezes piores do que a verdade.
— Disseram ao Bispo, em Singapura, que Harold tinha se matado num acesso de delirium tremens. Acho que, no interesse de todos nós, tu devias desmentir isso, Millicent.
— É medonho dizer-se semelhante coisa de uma pessoa falecida — disse Mrs. Skinner. — Isso será tão prejudicial a Joan quando ela crescer!
— Mas que fundamento tem essa história, Millicent? — perguntou o pai. — Harold sempre foi muito abstêmio.
— Aqui — respondeu a viúva.
— Então ele bebia?
— Como uma esponja.
A resposta foi tão inesperada e o tom tão sarcástico que todos os três estremeceram.
— Millicent, como podes falar nesses termos do teu marido que está morto? — exclamou a mãe, juntando as mãos muito bem enluvadas. — Não consigo entender-te. Andas tão esquisita desde que voltaste! Eu nunca teria acreditado que uma filha minha fosse capaz de ficar tão fria diante da morte do marido.
— Não te inquietes com isso, mãe — disse Mr. Skinner. — Podemos deixar esse assunto para mais tarde.
Foi até a janela, olhou o jardinzinho banhado de sol e tornou a voltar para o interior da sala. Tirou o pince-nez do bolso e começou a limpá-lo com o lenço, embora não tivesse nenhuma intenção de pô-lo. Millicent contemplava-o, e os seus olhos tinham uma inconfundível expressão de ironia que quase chegava a ser cínica.
Mr. Skinner estava aborrecido. A semana de trabalho terminara e ele estava livre até segunda-feira de manhã. Embora houvesse dito à esposa que o garden party era uma grande maçada e que teria preferido mil vezes tomar chá sossegadamente no seu próprio jardim, era com ansiedade que aguardava a festa. Não fazia muito caso das tais missões da China, mas seria interessante conhecer o Bispo. E agora surgia aquilo! Era um desses assuntos em que não gostava de se ver envolvido; que coisa mais desagradável do que ouvir dizer de repente que o seu genro era um bêbado e um suicida!
Millicent alisava pensativamente os punhos brancos das mangas. A sua calma o irritava; mas, em vez de se dirigir a ela, falou à filha mais moça.
— Por que não te sentas, Kathleen? Acaso faltam cadeiras na sala?
Kathleen aproximou uma cadeira e sentou-se sem pronunciar uma palavra. Mr. Skinner parou em frente de Millicent e encarou-a.
— Naturalmente eu percebo por que razão nos disseste que Harold tinha morrido de febre. Acho que foi um erro, porque essas coisas têm de vir à luz mais cedo ou mais tarde. Ignoro até que ponto o que o Bispo contou aos Heywood coincide com os fatos, mas se queres ouvir o meu conselho conta-nos tudo da maneira mais circunstanciada possível, para que depois vejamos o que se deve fazer. Não podemos esperar que a história fique com o cônego Heywood e Gladys. Num lugar como este o povo não pode deixar de falar. Em todo caso, a situação se tornaria muito mais fácil para todos nós se conhecêssemos a verdade inteira.
Mrs. Skinner e Kathleen acharam que ele se exprimia muito bem. Ficaram à espera da resposta de Millicent. Esta ouvira o pai com um rosto impassível; o rubor súbito já desaparecera e suas faces voltaram a assumir a habitual cor pálida e turva.
— Acho que não vão gostar muito quando eu lhes disser a verdade.
— Fica sabendo que podes contar com a nossa simpatia e a nossa compreensão — acudiu gravemente Kathleen.
Millicent relanceou os olhos para ela e a sombra de um sorriso perpassou pelos seus lábios cerrados. Considerou-os um por um, vagarosamente. Mrs. Skinner teve a desagradável impressão de que ela os olhava como se fossem manequins de uma casa de modas. Parecia viver num mundo diferente e não ter qualquer relação com eles.
— Devo lhes dizer que eu não amava Harold quando me casei com ele — disse Millicent em tom pensativo.
Mrs. Skinner estava a ponto de soltar uma exclamação quando foi detida por um rápido gesto do marido, apenas esboçado mas perfeitamente inteligível após tantos anos de vida em comum. Millicent prosseguiu. Falava em voz calma, devagar, e o seu tom quase não mudava de expressão.
— Estava com vinte e sete anos e ninguém mais parecia interessado em casar comigo. É verdade que ele tinha quarenta e quatro, já era um pouco velho, mas ocupava uma boa posição, não é mesmo? Eu não tinha probabilidade de encontrar melhor partido.
Mrs. Skinner sentiu novamente vontade de chorar, mas lembrou-se da festa.
— Agora vejo por que escondeste o retrato dele — disse lugubremente.
— Não fales assim, mãe! — exclamou Kathleen.
Essa fotografia fora tirada quando ele estava noivo de Millicent e era um excelente retrato de Harold. Mrs. Skinner sempre o achara um belo homem. Era de físico reforçado, alto e um pouco gordo talvez, mas tinha muito aprumo e sua presença era imponente. Já naquele tempo começava a encalvecer, mas o fato é que os homens ficam calvos muito cedo hoje em dia, e ele dizia que os "topis" (os capacetes de cortiça, como sabem) faziam cair o cabelo. Tinha um bigodinho preto e o rosto fortemente bronzeado pelo sol. O que possuía de mais bonito eram, por certo, os olhos, rasgados e castanhos como os de Joan. Sua palestra era interessante. Kathleen achava-o pomposo, mas Mrs. Skinner não pensava assim.; não lhe desagradava que os homens falassem com autoridade; e quando notou, pouco depois, que ele sentia atração por Millicent, começou a gostar muito dele. Harold mostrava-se sempre muito atencioso com Mrs. Skinner e esta o escutava com ar de verdadeiro interesse quando ele lhe falava do seu distrito ou das feras que tinha caçado. Dizia Kathleen que ele era muito presumido, mas Mrs. Skinner pertencia a uma geração que aceitava sem discutir a alta opinião que os homens fizessem de si próprios. Millicent não tardou a perceber de que lado soprava o vento e, embora não tivesse dito nada à mãe, esta sabia que se Harold a pedisse em casamento ela aceitaria.
Estava Harold hospedado em casa de uma família que tinha passado trinta anos em Bornéu e dizia muito bem da ilha. Nada impedia que uma mulher vivesse ali com conforto; naturalmente, os filhos tinham de vir para a Inglaterra quando tivessem feito sete anos; Mrs. Skinner, porém, achava desnecessário preocupar-se com isso por enquanto. Convidou Harold para jantar e disse-lhe que ele os encontraria sempre em casa à hora do chá. Harold parecia não ter o que fazer e quando se aproximou o fim da sua visita aos velhos amigos ela convidou-o para vir passar duas semanas em sua casa. Foi ao terminar este período que Harold e Millicent trataram casamento. Tiveram uma bonita festa de núpcias, foram passar a lua de mel em Veneza e depois seguiram para o Oriente. Millicent escreveu de vários portos em que o navio fez escala. Parecia muito feliz.
— Foram muito amáveis comigo em Kuala Solor — disse ela. (Kuala Solor era a capital do Estado de Sembulu.) — Fomos para a casa do Residente e todos nos convidavam para jantar. Uma ou duas vezes ouvi homens convidando Harold para tomar um drink, mas ele recusava, dizendo que com o casamento havia começado vida nova. Não compreendi por que eles riam. Mrs. Gray, a mulher do Residente, disse-me que todos estavam muito satisfeitos por ver Harold casado e que a vida de um homem solteiro nos postos da selva era horrivelmente solitária. Quando partimos de Kuala Solor, Mrs. Gray despediu-se de mim com um jeito tão singular que fiquei admirada. Era como se ela estivesse confiando Harold solenemente aos meus cuidados.
Os outros a ouviam em silêncio. Kathleen não tirava os olhos do rosto impassível da irmã; Mr. Skinner olhava fixo, à sua frente, as armas malaias, cris e parangs, penduradas na parede acima do sofá em que sua mulher estava sentada.
— Somente quando voltei a Kuala Solor, um ano e meio depois, foi que compreendi a razão dessas maneiras esquisitas. — Millicent emitiu um pequeno som estranho, como o eco de um riso escarninho. — Já então eu estava a par de muita coisa que ignorava antes. Harold veio à Inglaterra naquela ocasião para se casar. Não lhe importava muito com quem. Lembras-te das voltas que demos para apanhá-lo, mamãe? Não precisávamos ter tanto trabalho.
— Não entendo o que queres dizer, Millicent — disse Mrs. Skinner com certa acrimônia, pois não gostara da insinuação. — Eu via que ele simpatizava contigo.
Millicent sacudiu os ombros maciços.
— Era um bêbado impenitente. Costumava deitar-se todas as noites com uma garrafa de uísque e esvaziá-la antes do amanhecer. O Secretário Geral disse-lhe que ele teria de pedir demissão se não deixasse de beber. Deu-lhe uma última oportunidade, dizendo que ele podia tirar a sua licença e vir à Inglaterra. Aconselhou-o a que se casasse, a fim de que ao voltar tivesse alguém para cuidar dele. Harold casou comigo porque precisava de uma guarda. Em Kuala Solor faziam apostas sobre quanto tempo eu conseguiria mantê-lo afastado da bebida.
— Mas ele te amava! — interrompeu Mrs. Skinner. — Não imaginas como ele se referia a ti quando conversava comigo. Nessa ocasião de que falas, quando foste a Kuala Solor para ter Joan, ele me escreveu uma carta tão linda a teu respeito!
Millicent tornou a olhar para a mãe e a sua tez pálida se cobriu de profundo rubor. Suas mãos, caídas no regaço, puseram-se a tremer de leve. Pensava naqueles primeiros meses de casada. A lancha do governo conduzira-os à embocadura do rio e passaram a noite no bangalô que Harold dizia, gracejando, ser a sua residência de veraneio. No dia seguinte subiram o rio num prau. Os romances que tinha lido faziam-na imaginar os rios de Bornéu escuros, estranhos e sinistros; mas o céu era azul, sarapintado de nuvenzinhas brancas, e o verde dos mangues e das nipas, lavado pela água corrente, reluzia ao sol. Aos dois lados estendia-se a floresta ínvia e à distância, formando silhueta contra o céu, erguiam-se os contornos ásperos de uma montanha. O ar da manhãzinha era puro e vivificante. Millicent tinha a impressão de penetrar numa terra farta e amiga, a sensação de uma ampla liberdade. Procuravam com os olhos, nas margens, os símios encarapitados nos galhos das emaranhadas árvores, e em dado momento Harold apontou-lhe alguma coisa que parecia um tronco a boiar na água e ele disse ser um crocodilo. O Vice-residente, vestido com calça de brim e capacete de cortiça, esperava-os no cais flutuante e uma dúzia de soldadinhos muito corretos formava linha para lhes prestar as honras de estilo. O Vice-residente foi-lhe apresentado. Chamava-se Simpson.
— Caramba, Sr. Residente! — disse ele a Harold. — Como estou contente por vê-lo de volta! Isto aqui estava chatíssimo sem o senhor.
O bangalô do residente, cercado de um jardim onde vicejava em estado bravio uma variada floração de cores alegres, ficava no cimo de um outeiro de pouca altura. Tinha uma aparência levemente deteriorada e a mobília era pouca, mas as peças eram frescas e muito espaçosas.
— O kampong fica ali — disse Harold, apontando. Millicent seguiu a direção do seu dedo e ouviu o som de um gongo entre os coqueiros. Isso lhe deu uma sensaçãozinha esquisita no coração.
Se bem não tivesse muito que fazer, os dias iam passando agradavelmente. Ao amanhecer um criado lhes trazia chá e ficavam na varanda, gozando a fragrância da manhã (Harold de sarong e camiseta, ela de chambre) até chegar a hora do breakfast. Depois Harold ia para o escritório e Millicent passava uma hora ou duas aprendendo malaio. Após o almoço ele voltava para o escritório, enquanto ela ia fazer a sesta. Uma xícara de chá lhes restaurava as energias; davam uma caminhada ou jogavam golfe no campo que Harold tinha preparado numa clareira plana da floresta, abaixo do bangalô. As seis horas caía a noite e Mr. Simpson aparecia para tomar um drink. Palravam até a hora do jantar, que era servido tarde, e às vezes Harold jogava xadrez com Mr. Simpson. As noites, com o seu ar aveludado, eram fascinantes. Os, pirilampos convertiam as moitas situadas logo abaixo da varanda em faróis de luz fria, trêmula e cintilante, e as árvores em flor impregnavam a atmosfera de perfumes suaves. Após o jantar liam os jornais saídos de Londres seis semanas atrás, e em seguida deitavam-se. Millicent saboreava a existência de mulher casada, senhora da sua casa, e gostava dos criados nativos, com os seus sarongs alegres, que andavam de pés descalços pelo bangalô, silenciosos mas amigos. O ser esposa do Residente lhe dava uma agradável sensação de importância. Causava-lhe impressão a fluência com que Harold falava o malaio, o seu ar de mando, a sua dignidade. De quando em quando ia ao tribunal para Ouvi-lo julgar. A multiplicidade dos seus deveres e a competência com que ele os desempenhava enchiam-na de respeito. Mr. Simpson lhe disse que ninguém em Bornéu compreendia melhor os nativos do que Harold. Ele possuía essa combinação de firmeza, diplomacia e bom humor indispensável a quem trata com aquela raça tímida, vingativa e desconfiada. Millicent começou a sentir uma certa admiração pelo marido.
Estavam casados há cerca de um ano quando dois naturalistas ingleses vieram passar alguns dias no bangalô, em viagem para o interior. Traziam muito boas recomendações do Governador e Harold disse que queria recebê-los com todas as honras. A chegada dos dois homens foi um incidente agradável. Millicent convidou Mr. Simpson para jantar (ele residia no Forte e só jantava com eles nos domingos) e após a refeição os homens formaram uma mesa de bridge. Millicent recolheu-se pouco depois, mas faziam tamanha bulha que durante algum tempo não a deixaram dormir. Ignorava a que horas foi despertada por Harold, que entrou no quarto a cambalear. Ficou calada. Ele resolveu tomar um banho antes de se deitar. O banheiro ficava por baixo do quarto de dormir. Desceu a escada que levava até lá. Sem dúvida escorregou, pois houve um grande estardalhaço e ele pôs-se a rogar pragas. Depois teve vômitos violentos. Ela o ouviu lavar-se às baldadas e pouco depois Harold tornou a subir a escada, caminhando dessa vez com grande cautela, e enfiou-se na cama. Millicent fingiu que dormia. Sentia-se revoltada. Harold estava bêbado. Resolveu falar-lhe nisso pela manhã. Que pensariam dele os naturalistas? Mas pela manhã ele tinha um ar tão digno que lhe faltou coragem para tocar no assunto. As oito horas Harold e ela instalaram-se para o breakfast, em companhia dos dois hóspedes. Harold correu os olhos pela mesa.
— Mingau de aveia! Millicent, os teus hóspedes talvez aceitem um pouco de molho inglês como breakfast, mas não creio que se sintam muito tentados por alguma outra coisa. Quanto a mim, contento-me com um uísque e soda.
Os naturalistas riram, mas um pouco envergonhados. — O seu marido é um pavor — disse um deles.
— Eu não julgaria ter desempenhado condignamente os deveres de hospitalidade se não os mandasse tontos para a cama na primeira noite da sua visita — volveu Harold, com a sua maneira de falar positiva e solene.
Millicent teve um sorriso ácido, mas foi um alívio para ela saber que os hóspedes tinham-se embriagado tanto quanto o marido. Nessa noite não os deixou sós e o grupo dispersou-se a uma hora razoável. Mas ficou satisfeita quando os estranhos prosseguiram a viagem. A vida no bangalô retornou ao seu curso plácido. Alguns meses depois Harold fez um giro de inspeção no distrito e voltou com um forte acesso de malária. Era a primeira vez que ela via a doença de que tanto ouvira falar, e quando Harold recobrou a saúde não se admirou de o ver tão trêmulo. Achou estranhos os seus modos. Ao voltar do escritório ele punha-se a encará-la com os olhos vidrados; ficava em pé na varanda, a vacilar levemente, mas sempre digno, e fazia longas arengas sobre a situação política da Inglaterra; ao perder o fio do discurso olhava para ela com um ar de malícia travessa que a sua dignidade natural tornava um pouco desconcertante, e dizia:
— Esta maldita malária arrasa a gente. Ah! minha mulherzinha, mal sabes tu quanto custa ser um edificador do império!
Ela achou que Mr. Simpson começava a tomar um ar preocupado, e uma ou duas ocasiões em que se achavam a sós ele esteve a ponto de lhe dizer alguma coisa, mas a sua timidez o fazia emudecer no último momento. Essa impressão tornou-se tão forte que a pôs nervosa. Uma tarde em que Harold, inexplicavelmente, se demorou mais que de costume no escritório ela resolveu interrogá-lo.
— Que é que tem para me dizer, Mr. Simpson? — indagou de repente.
Ele corou e hesitou.
— Nada. Por que pensa que eu tenha alguma coisa para lhe dizer?
Era Mr. Simpson um moço magro e desengonçado, de vinte e quatro anos, com uma bela cabeleira ondulada que ele se dava grande trabalho para alisar com goma. Tinha os pulsos inchados e escalavrados pelas picadas de mosquitos. Millicent encarou-o com um olhar firme.
— Se é alguma coisa que diz respeito a Harold, não lhe parece mais generoso falar com franqueza?
Ele fez-se escarlate e remexeu-se inquieto na cadeira de rotim. Millicent insistiu.
— Receio que me ache muito arrojado — disse ele afinal. — É uma sujeira falar do meu chefe nas costas dele. A malária é uma doença infernal e depois de um ataque a gente fica escangalhado.
Tornou a hesitar. Os cantos dos seus lábios caíram como se ele estivesse a ponto de chorar. Millicent achou-lhe um ar de menino.
— Tranquilize-se, eu serei mais silenciosa do que um túmulo — sorriu ela, procurando ocultar a sua apreensão. — Diga-me, por favor.
— Acho que é uma pena seu marido ter uma garrafa de uísque no escritório. Assim é tentado a beber muito mais amiúde.
A voz de Mr. Simpson estava rouca de agitação. Millicent sentiu um arrepio percorrê-la de repente. Dominou-se, pois sabia que não devia assustar o rapaz se quisesse arrancar-lhe todo o segredo. Simpson estava pouco disposto a falar. Millicent instou com ele, adulando-o, apelando para o seu sentimento de dever, e finalmente pôs-se a chorar. Então ele lhe contou que Harold tinha passado as duas últimas semanas constantemente embriagado, que os nativos andavam falando e diziam que ele não tardaria a voltar ao mesmo estado de antes do casamento. Costumava beber demais nesse tempo; mas quanto a pormenores, apesar de todas as tentativas de Millicent Mr. Simpson negou-se terminantemente a dá-los.
— Acha que ele está bebendo neste momento? — perguntou ela.
— Não sei.
Millicent sentiu-se de súbito escaldar de vergonha e raiva. O Forte (chamavam-no assim porque era ali que se guardavam as armas e as munições) também servia como casa do tribunal. Ficava em frente ao bangalô do Residente, cercado de um jardim. O sol ia entrando e ela não necessitava de por chapéu. Levantou-se e foi até lá. Encontrou Harold sentado no gabinete situado aos fundos do grande salão em que ministrava justiça. Tinha uma garrafa de uísque diante de si. Fumava cigarros e falava a três ou quatro malaios que o escutavam em pé, com sorrisos ao mesmo tempo obsequiosos e escarninhos. Ele tinha o rosto vermelho.
Ao ver entrar Millicent os nativos sumiram. — Vim ver o que estavas fazendo — disse ela.
Harold levantou-se, pois sempre a tratava com uma polidez requintada, e deu um bordo. Sentindo-se pouco firme nas pernas, assumiu uma atitude majestosa e circunspecta.
— Senta-te, minha querida, senta-te. Fui detido pelo acúmulo de serviço.
Ela olhou-o com raiva. — Você está embriagado!
Harold encarou-a com os olhos um tanto saltados e uma expressão altaneira passou-lhe vagarosamente pelo rosto largo e carnudo.
— Não faço a mais remota ideia do que queres dizer.
Ela, que vinha pronta para lançar-lhe em rosto uma torrente de censuras indignadas, rompeu de súbito a chorar. Deixou-se cair numa cadeira e tapou o rosto. Harold considerou-a um instante e as lágrimas começaram a correr pelas suas faces também. Caminhou para Millicent com os braços estendidos e caiu pesadamente de joelhos. Tomou-a nos braços e apertou-a contra si, a soluçar.
— Perdoa-me, perdoa-me! Eu te prometo que isto não tornará a acontecer. É essa maldita malária.
— É uma coisa tão humilhante! — gemeu ela.
Harold chorava como uma criança. Havia algo de patético no sentimento de inferioridade daquele homenzarrão solene. Volvidos alguns instantes Millicent alçou o olhar. Os olhos dele, súplices e contritos, procuravam os seus.
— Tu me dás a tua palavra de honra que nunca mais porás na boca um gole de bebida?
— Sim, sim! Eu a detesto!
Foi então que ela lhe disse que estava grávida. Harold ficou radiante.
— Era justamente disso que eu precisava. Isso me conservará no bom caminho.
Voltaram ao bangalô. Harold tomou banho e foi dormir um pouco. Depois de jantar conversaram longamente, com calma. Ele confessou que antes de casar tinha-se excedido por vezes na bebida. Naqueles fins de mundo era fácil contrair maus hábitos. Concordou com tudo que Millicent disse. Durante os meses que se passaram antes de ela ir dar a luz em Kuala Solor, Harold mostrou-se excelente marido, terno, atencioso, cheio de afeição e muito desvanecido dela; foi irrepreensível. Uma lancha veio buscar Millicent, que devia passar seis semanas fora, e ele prometeu lealmente não beber um só gole durante a sua ausência. Pousou-lhe as mãos nos ombros.
— Jamais quebro uma promessa — disse com o seu jeito grave. — Mas ainda que não a tivesse dado, acreditas que enquanto passas por esta provação eu seria capaz de te dar um desgosto?
Joan nasceu. Millicent ficou em casa do Residente e Mrs. Gray, a esposa deste, mulher madura e de coração bondoso, a tratou com muito afeto. Durante as longas horas que passavam juntas as duas mulheres pouco tinham que fazer senão conversar, e com o correr do tempo Millicent veio a conhecer todo o passado alcoólico do marido. A coisa com que achou mais difícil conformar-se foi o ter sido Harold avisado de que só seria conservado no seu posto com a condição de que voltasse casado da Inglaterra. Isto lhe despertou um ressentimento surdo, e quando soube que ele tinha sido um bêbado incorrigível foi tomada de vaga inquietação. Tinha um medo horrível de que ele não resistisse à tentação durante a sua ausência. Voltou para casa com a criança e uma ama. Pernoitou na foz do rio e mandou um mensageiro anunciar a sua chegada. Quando a lancha se aproximou do cais flutuante ela o esquadrinhou ansiosamente com os olhos. Lá estava Harold em companhia de Mr. Simpson, e os corretos soldadinhos formavam fila. Ela sentiu-se esfriar, pois notou que Harold vacilava um pouco, como um homem que procura manter o equilíbrio num barco balouçado pelas ondas. Estava embriagado.
Não foi um regresso muito alegre. Millicent quase havia esquecido a mãe, o pai e a irmã que a ouviam em silêncio. Nesse momento despertou do seu sonho e tornou a aperceber-se da presença dos outros. Os acontecimentos que estava narrando pareciam tão remotos!
— Compreendi então que o odiava — disse ela. — Seria capaz de matá-lo.
— Oh, Millicent, não fales assim! — exclamou sua mãe. — Não esqueças que o pobre homem já morreu.
Millicent olhou para ela e uma carranca anuviou-lhe por um instante o rosto impassível. Mr. Skinner remexeu-se desassossegadamente.
— Continua — pediu Kathleen.
— Quando ele descobriu que eu já sabia de tudo, deixou as cerimônias de lado. Dentro de três meses teve outro ataque de delirium tremens.
— Por que não o deixaste? — perguntou Kathleen.
— De que serviria isso? Em quinze dias ele seria demitido do serviço. Quem ia sustentar-nos, a mim e a Joan? Era preciso ficar. Quando ele estava no seu perfeito juízo eu não tinha motivo para queixas. Ele não tinha nenhuma paixão por mim, mas era-me afeiçoado; quanto a mim, não tinha casado por amor, mas porque queria casar. Fiz o possível para impedir que a bebida lhe chegasse às mãos; consegui que Mr. Gray proibisse a remessa de uísque de Kuala Solor, mas ele o arranjava com os chineses. Vigiava-o como um gato vigia um rato. Tudo em vão, ele era mais esperto do que eu. Começou a descurar dos deveres. Eu receava que fossem fazer queixa. Estávamos a dois dias de viagem de Kuala Solor e isso era o que nos salvava, mas alguém deve ter falado, pois Mr. Gray me escreveu em particular, avisando-me. Mostrei a carta a Harold. Ele esbravejou, disse fanfarronadas, mas percebi que ficara assustado e durante dois ou três meses não tocou na bebida. Depois recomeçou. E assim continuou a nossa vida, até chegar a época da licença.
"Antes de virmos para cá, roguei e implorei a ele que tivesse cuidado. Não queria que nenhum de vocês soubesse com que espécie de homem eu tinha casado. Durante todo o tempo que passou na Inglaterra ele se comportou e antes de partirmos eu o preveni. Criara muita amizade a Joan, sentia muito orgulho dela, e Joan por sua vez lhe era muito afeiçoada. Sempre gostou mais dele do que de mim. Perguntei-lhe se queria que a sua filha crescesse sabendo-o um bêbado, e descobrir que afinal tinha um meio de dominá-lo. A ideia o aterrorizou. Disse-lhe que eu não consentiria em semelhante Coisa e a primeira vez que Joan o visse embriagado levá-la-ia embora imediatamente. Ficou branco como cal ao me ouvir dizer isso. Nessa noite eu me ajoelhei e agradeci a Deus o ter encontrado um meio de salvar meu marido.
"Ele me disse que faria mais uma tentativa se eu o ajudasse. Resolvemos unir as nossas forças na luta. E como ele se esforçou! Quando sentia que a tentação se tornava irresistível, vinha para o meu lado. Como sabem, ele tinha uma certa tendência para a pomposidade; comigo era tão humilde que parecia uma criança; estava na minha dependência. Talvez não me amasse quando casou comigo, mas agora me amava, a mim e a Joan. Eu o tinha detestado pela humilhação que me causava, porque quando ele estava bêbado e tentava ser grave e imponente, tornava-se repulsivo. Mas comecei a sentir então uma coisa estranha, que não era amor, mas uma ternura tímida, esquisita. Ele era algo mais do que meu marido, era como uma criança que eu tivesse levado debaixo do coração durante longos e intermináveis meses. Orgulhava-se tanto de mim... E, sabem de uma coisa? Eu também estava orgulhosa. Os seus compridos discursos já não me irritavam, e os seus ares majestosos me pareciam apenas divertidos e encantadores. Afinal vencemos. Durante dois anos ele não pôs uma gota de uísque na boca. Perdeu por completo a atração pela bebida. Até fazia pilhérias a esse respeito.
"Mr. Simpson já nos tinha deixado e em lugar dele tínhamos outro moço, chamado Francis.
— "Sabe, Francis? Eu sou um borracho regenerado — disse-lhe Harold certa vez. — Se não fosse minha mulher há muito que me teriam posto no olho da rua. Eu tenho a melhor esposa do mundo, Francis!
"Não fazem ideia do que significava para mim ouvi-lo dizer isso. Sentia que valera a pena ter passado por tudo aquilo. Eu era tão feliz!"
Millicent calou-se. Pensava no largo rio, de águas amarelas e turvas, a cuja margem vivera tantos anos. As garças, brancas e lustrosas aos raios trêmulos do ocaso voavam baixo para jusante, em bando célere, e espalhavam-se. Dir-se-ia um murmúrio de notas claras, suaves, puras e primaveris, arpejo divino que uma mão invisível arrancasse a uma harpa também invisível. Passavam esvoaçando entre as margens verdejantes, envoltas pelas sombras do crepúsculo, como os pensamentos felizes de um espírito satisfeito.
— Então Joan adoeceu. Passamos três semanas em grande ansiedade. Só havia médico em Kuala Solor e tínhamos de nos contentar com o tratamento ministrado por um farmacêutico nativo. Quando ela sarou, levei-a para a foz do rio a fim de que respirasse um pouco de ar marinho. Ficamos lá uma semana. Era a primeira vez que eu me separava de Harold desde que tinha ido ter Joan em Kuala Solor. Havia, não muito longe, uma aldeia de pescadores, de cabanas construídas sobre estacas, mas na realidade estávamos completamente sós. Eu pensava muito em Harold, e com tanta ternura... De repente compreendi que o amava. Quando o prau nos veio buscar fiquei muito contente porque ia contar-lhe. Achava que isso teria uma importância para ele! Não lhes posso descrever como me sentia feliz. Enquanto subíamos o rio o chefe dos barqueiros me disse que Mr. Francis fora em diligência ao interior para prender uma mulher que matara o marido. Havia dois dias que estava ausente.
"Fiquei surpresa ao ver que Harold não me viera esperar, no cais. Sempre fora muito escrupuloso nessas coisas. Dizia que marido e mulher deviam tratar-se com a mesma cortesia com que tratavam os conhecidos. Eu não imaginava que espécie de ocupação podia tê-lo retido. Subi o pequeno outeiro do bangalô. A ama vinha atrás, carregando Joan. O bangalô estava estranhamente silencioso. Não avistei nenhum criado. Aquilo era incompreensível; acaso Harold teria saído porque não me esperava àquela hora? Subi a escada. Joan tinha sede e a ama levou-a à casa dos criados para dar-lhe de beber. Harold não se achava na sala de estar. Chamei-o, mas não ouvi resposta. Fiquei desapontada, porque desejava encontrá-lo ali. Fui ao nosso quarto. Harold, afinal, não tinha saído: estava na cama, dormindo. Achei muita graça nisso, pois ele sempre afirmou que não dormia de tarde; dizia ser um hábito que os brancos contraíam desnecessariamente. Aproximei-me da cama, pisando de mansinho. "Queria dar-lhe uma surpresa. Abri o mosquiteiro. Ele estava deitado de costas, vestido apenas com um sarong, e ao lado tinha uma garrafa de uísque vazia. Estava embriagado.
"A coisa começara de novo. Todos aqueles anos de luta tinham sido inúteis. O meu sonho se despedaçara. Não havia mais esperanças. Fui tomada por um acesso de raiva."
O rosto de Millicent tornou a cobrir-se de um rubor carregado e ela apertou com força os braços da cadeira em que estava sentada.
— Segurei-o pelos ombros e sacudi-o com toda a força. "Miserável!" gritei. "Miserável!" Estava tão furiosa que não me lembro do que disse nem do que fiz. Continuei a sacudi-lo. Não podem fazer ideia da aparência repulsiva que ele tinha, aquele homem enorme e gordo, seminu; havia dias que não se barbeava, estava com a cara intumescida e arroxeada. Resfolegava fortemente. Chamei-o aos gritos, mas ele não fez caso. Tentei puxá-lo para fora da cama, mas era pesado demais. Estava caído ali como um cego. "Abre os olhos!" gritei. Tornei a sacudi-lo. Sentia um ódio dele! Odiava-o ainda mais porque durante uma semana o tinha amado de todo o coração. Ele me traíra, ele me traíra! Queria dizer-lhe que animal abominável ele era, mas não conseguia causar-lhe a menor impressão. "Tu hás de abrir os olhos!" gritei. Estava decidida a fazer com que ele olhasse para mim.
A viúva passou a língua nos lábios secos. O ritmo da sua respiração acelerara-se. Fez um silêncio.
— Se ele se achava nesse estado, acho que o melhor seria deixar que continuasse dormindo — disse Kathleen.
— Havia um parang na parede, ao lado da cama. Sabem como Harold gostava dessas curiosidades.
— O que é um parang? — perguntou Mrs. Skinner.
— Não sejas tola, mãe — respondeu o marido em tom irritadiço. — Aí tens um na parede, bem atrás de ti.
Apontou para a espada malaia em que, por uma razão ou outra, os seus olhos tinham-se fixado inconscientemente. Mrs. Skinner afastou-se depressa para o outro canto do sofá, com um pequeno gesto assustado, como se alguém lhe tivesse dito que havia uma cobra enroscada junto dela.
— De repente o sangue esguichou do pescoço de Harold. Tinha um grande talho vermelho, de través.
— Em nome de Deus, Millicent — gritou Kathleen, pondo-se em pé e quase pulando para ela, — que é que tu queres dizer?
Mrs. Skinner, boquiaberta, fitava na filha os olhos escancarados.
— O parang já não estava na parede. Estava caído na cama. Então Harold abriu os olhos. Eram iguaizinhos aos de Joan.
— Não compreendo — disse Mr. Skinner. — Como poderia ele ter se matado se se encontrava no estado que descreves?
Kathleen pegou o braço da irmã e sacudiu-a com fúria.
— Millicent, explica-te pelo amor de Deus!
Millicent desvencilhou-se. — O parang estava na parede, já te disse. Não sei o que aconteceu. Vi aquele sangue todo e Harold abriu os olhos. Morreu quase em seguida. Não chegou a dizer uma palavra, apenas teve uma espécie de arfada.
Mr. Skinner recobrou finalmente o uso da voz. — Mas desgraçada, isso foi um homicídio!
Millicent, com a face pintalgada de manchas vermelhas, lançou-lhe um olhar carregado de ódio e desprezo que o fez recuar todo encolhido. Mrs. Skinner soltou uma exclamação.
— Não foste tu, Millicent, não é mesmo?
A resposta de Millicent fez com que todos eles sentissem o sangue gelar nas veias.
— Não sei quem mais poderia ter sido! — disse ela, rindo por entre os dentes.
— Meu Deus! — murmurou Mr. Skinner.
Kathleen mantinha-se em pé, aprumada, com as mãos no coração, como se as batidas deste fossem intoleráveis.
— E que sucedeu então? — perguntou ela.
— Pus-me aos gritos. Fui até a janela e abri-a com um empurrão. Chamei a ama. Ela atravessou o pátio com Joan. "Não, Joan não!" gritei. "Não deixe que ela venha!" Ela chamou o cozinheiro e mandou-o tomar conta da criança. Pedi-lhe que se apressasse. Quando ela entrou eu lhe mostrei Harold. "O Tuan se matou!" gritei. Ela soltou um guincho e fugiu correndo. Ninguém quis chegar perto. Estavam todos loucos de medo. Escrevi uma carta a Mr. Francis contando-lhe o que acontecera e pedindo-lhe que voltasse imediatamente.
— Contando-lhe o que acontecera? Que queres dizer com isso?.
Disse que ao voltar da foz do rio eu encontrara Harold com o pescoço cortado. Como sabem, nos trópicos é preciso sepultar depressa os defuntos. Arranjei um esquife chinês e os soldados cavaram uma sepultura atrás do Forte. Quando Mr. Francis chegou fazia dois dias que Harold estava enterrado. Ele era um criançola. Podia fazer com ele o que entendesse. Disse-lhe que tinha encontrado o parang na mão de Harold e não havia a menor dúvida que ele se matara durante um acesso de delirium tremens. Mostrei-lhe a garrafa vazia. Os criados disseram que ele andava bebendo muito desde que eu tinha partido para a beira-mar. Em Kuala Solor contei a mesma história. Todos me trataram com muita bondade e o Governador me concedeu uma pensão.
Durante alguns momentos ninguém falou. Afinal Mr. Skinner se refez do seu espanto.
— Eu exerço uma profissão jurídica. Tenho certas obrigações como advogado. A nossa clientela sempre foi das mais respeitáveis. Tu me colocas numa posição monstruosa.
Procurava, atabalhoadamente, as frases que brincavam de esconder no seu cérebro confuso. Millicent lançou-lhe um olhar desdenhoso.
— Que pretendes fazer?
— Não há dúvida nenhuma que foi um homicídio. Julgas que eu vou pactuar com uma coisa dessas?
— Não digas tolices, pai! — volveu Kathleen com aspereza. — Tu não podes denunciar a tua própria filha.
— Tu me colocaste numa posição monstruosa — repetiu ele.
Millicent tornou a dar de ombros. — Fizeram questão que eu lhes contasse... Além disso, há muito que eu guardo comigo esse segredo. Já era tempo de compartilharem dele também.
Nesse momento a criada abriu a porta.
— Davis está aí com carro, patrão.
Kathleen teve a presença de espírito de lhe responder alguma coisa e a criada se retirou.
— É melhor irmos de uma vez — disse Millicent.
— Eu não posso ir à festa agora! — exclamou Mrs. Skinner, com horror. — Estou com os nervos muito abalados. Como vamos enfrentar os Heywood? E o Bispo que te quer ser apresentado!
Millicent fez um gesto de indiferença. Os seus olhos conservavam aquela expressão irônica.
— Temos de ir, mãe — disse Kathleen. — Pareceria tão esquisito se ficássemos em casa! — Virou-se furiosa para Millicent: — Oh, eu acho isso tudo de uma inconveniência horrível!
Mrs. Skinner lançou um olhar desamparado ao marido. Este dirigiu-se para ela e deu-lhe a mão para ajudá-la a levantar-se do sofá.
— Infelizmente temos de ir, mãe — disse ele.
— E eu que pus na "toque" a aigrette que Harold me deu com as suas próprias mãos! — gemeu Mrs. Skinner.
Ele a conduziu para fora da sala, seguido de perto por Kathleen. Millicent ia um ou dois passos atrás.
— Acabarão se acostumando, sabem? — disse ela calmamente. — No começo isso não me saía da cabeça mas agora esqueço por vezes durante dois ou três dias consecutivos. Se houvesse perigo seria diferente.
Não lhe responderam. Atravessaram o hall e saíram pela porta da frente: As três senhoras sentaram-se no banco de trás e Mr. Skinner ao lado do chofer. O auto era de tipo antigo e não tinha arranque automático. Enquanto Davis se dirigia para o radiador a fim de dar volta na manivela Mr. Skinner virou-se para trás e encarou Millicent com uma expressão petulante.
— Eu não devia ser informado disso. Acho que procedeste com muito egoísmo.
Davis instalou-se ao volante e a família seguiu para o garden party do cônego.
(Título original: Before the Party.)
O navio do oriente
Estendida na sua espreguiçadeira, Mrs. Hamlyn observava indolentemente os passageiros que subiam pela prancha. O navio tinha aportado a Singapura durante a noite e desde então estava tomando carga; os guindastes haviam estrondeado o dia inteiro e o ouvido dela acabou habituando-se àquele clamor insistente. Tinha almoçado no Hotel Europa e, à falta de coisa melhor, andara num jinriquixá pelas ruas alegres e superpovoadas da cidade. Singapura é o ponto de encontro de muitas raças. Os malaios, se bem que nativos da terra, não gostam de viver em cidades e são pouco numerosos; são os chineses, vivos, flexíveis e industriosos, que apinham as ruas; os tamis de tez escura andam silenciosamente com os pés descalços, como se fossem forasteiros de passagem numa terra estranha, mas os bengalis, insinuantes e prósperos, sentem-se à vontade e senhores de si no seu ambiente; os astutos e obsequiosos japoneses parecem muito atarefados com assuntos secretos e urgentes; e os ingleses com os seus capacetes de cortiça e as suas roupas de brim branco, passam em disparada em automóveis ou muito descansados nos seus jinriquixás, com um ar negligente e despreocupado. Os dominadores desses povos prolíficos aceitam a sua autoridade com tom de sorridente indiferença. Mrs. Hamlyn, cansada e assoleada, esperava que o navio prosseguisse na longa travessia do Oceano Índico.
Quando Mrs. Linsell subiu a bordo acompanhada do médico ela abanou uma mão bastante grande, pois era uma mulher de avantajadas proporções. Vinha no navio desde Yokohama e observava, divertida, com ácida ironia, a intimidade que se estabelecera entre os dois. Linsell era um oficial de marinha que estivera adido à embaixada britânica em Tóquio e ela admirava-se da indiferença com que ele via as atenções do médico para com sua mulher. Dois novos passageiros subiram à prancha e Mrs. Hamlyn entreteve-se em procurar descobrir, pelo jeito deles, se eram solteiros ou casados. Ali bem perto havia um grupo de homens sentados em cadeiras de rotim — plantadores, segundo lhe pareceu à vista das roupas cagues e dos chapéus de feltro dobrado e aba larga. Não davam descanso ao criado do convés com os seus contínuos pedidos. Falavam alto e riam, pois a bebida provocara em todos eles uma hilaridade frívola. Era evidente que se tratava de um bota-fora dado a um do grupo, mas Mrs. Hamlyn não saberia dizer qual deles seria seu companheiro de viagem. Já faltava pouco para a partida. Outros passageiros chegaram, depois Mr. Jephson subiu devagar a prancha, com ar digno. Era cônsul e ia em licença à Inglaterra. Tinha embarcado em Xangai e imediatamente tratara de mostrar-se amável para com Mrs. Hamlyn. Na ocasião, porém, ela sentia-se pouco inclinada ao flerte. Sua testa anuviou-se à lembrança do motivo que a fazia voltar à Inglaterra. Passaria o Natal no mar, longe de todos aqueles que se interessavam por ela. Sentiu uma ligeira dorzinha no coração. Aborrecia-se por ver que um assunto que estava tão resolvida a afastar da suas cogitações teimava em insinuar-se-lhe no espirito, apesar da resistência deste.
Mas um sino de aviso bateu sonoramente e houve um movimento geral entre os homens sentados ao lado dela.
— Bem, vamos dando o fora antes que nos levem junto — disse um deles.
Levantaram-se e dirigiram-se para a prancha. Começaram os apertos de mão, e então ela percebeu qual deles era o viajante. Não havia nada de interessante no aspecto do homem em quem pousaram os olhos de Mrs. Hamlyn, mas como não tinha coisa melhor que fazer olhou-o mais demoradamente. Era um homenzarrão de mais de seis pés de altura, forte e corpulento; vestia uma enxovalhada roupa de brim cáqui e o chapéu era velho e surrado. Seus amigos desceram mas continuaram a trocar caçoadas com ele do cais, e Mrs. Hamlyn notou que o homem tinha um forte sotaque irlandês; sua voz era cheia, sonora e jovial.
Mrs. Linsell tinha descido. O médico veio sentar-se ao lado de Mrs. Hamlyn. Contaram um ao outro as pequenas aventuras que tinham tido durante o dia. O sino tornou a tocar e instantes depois o navio afastava-se lentamente do cais. O irlandês acenou um último adeus aos seus amigos e voltou devagar para a cadeira em que tinha deixado algumas revistas e jornais. Fez uma inclinação de cabeça ao médico.
— É algum conhecido seu? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Fui-lhe apresentado no clube, antes do almoço. Chama-se Gallagher e é plantador.
Após a algazarra do porto e o alvoroço ruidoso da partida, o silêncio do navio fazia um agradável contraste. Deslizaram devagar em frente de uns rochedos cobertos de vegetação (o ancoradouro da P. & O. — Peninsular and Oriental Steamship Company — ficava numa angra retirada e encantadora) e entraram no porto principal. Viam-se fundeados ali navios de todas as nacionalidades em grande multidão, vapores de passageiros, rebocadores, cargueiros, barcaças; e mais além, por trás do quebra-mar, avistavam-se os mastros amontoados dos juncos nativos, floresta de troncos nus e verticais. A luz doce da tardinha dava um toque de mistério à movimentada cena e tinha-se a impressão de que todas aquelas embarcações, suspendendo por um instante a sua atividade, estavam à espera de algum acontecimento de especial importância.
Mrs. Hamlyn dormia mal. Costumava subir para o convés ao romper da alvorada. Repousava-lhe o coração inquieto ver as últimas e pálidas estrelas desvanecerem-se ante a invasão da luz, e àquela hora o mar vidrento muitas vezes tinha uma imobilidade que parecia tornar insignificantes todas as angústias terrenas. A luz era lânguida e sentia-se um frêmito agradável no ar. Mas na manhã seguinte, quando se dirigiu para a extremidade do tombadilho de passeio, encontrou alguém que lá havia chegado antes dela. Era Mr. Gallagher. Contemplava o litoral baixo de Sumatra, que o sol nascente, como um mágico, parecia fazer surgir do mar escuro. Ela teve uma surpresa e ficou um tanto agastada, mas antes que pudesse retirar-se ele a viu e fez-lhe um cumprimento com a cabeça.
— Levantou-se cedo, não? Aceita um cigarro? Estava de pijama e chinelos. Tirou a cigarreira do bolso do casaco e a estendeu. Ela hesitou. Vestia apenas um roupão e uma touca de rendas que pusera em cima dos cabelos despenteados. Devia estar feita um espantalho. Mas tinha motivos para querer mortificar a sua alma.
— Creio que uma mulher de quarenta anos não tem direito a preocupar-se com a sua aparência — sorriu Mrs. Hamlyn, como se ele devesse perceber os pensamentos vãos que lhe enchiam a cabeça. Aceitou o cigarro. — Mas o senhor também se levantou cedo.
— Sou plantador. Há tantos anos que tenho de me levantar às cinco da manhã que não sei como me desfarei desse hábito.
— Ele não o tornará muito benquisto na Inglaterra. Podia examinar-lhe melhor o rosto agora que não estava semioculto por um chapéu. Esse rosto, que não tinha nenhuma beleza, era no entanto agradável. O homem havia engordado excessivamente e as suas feições, que na mocidade deviam ser bastante regulares, tornaram-se pesadas. A pele era vermelha e opada. Mas os olhos escuros ressumbravam alegria e, embora ele não pudesse ter menos de quarenta e cinco anos, conservava ainda os cabelos pretos e abundantes. Dava uma impressão de grande força. Era um homem pesado, desgracioso e comum; se não fosse a camaradagem de bordo Mrs. Hamlyn jamais teria pensado em conversar com ele.
— Vai à Inglaterra em licença? — arriscou ela.
— Não, vou para ficar.
Uma centelha brilhou nos seus olhos negros. Era de gênio comunicativo e antes de Mrs. Hamlyn tornar a descer para tomar o seu banho ele contou-lhe muita coisa da sua existência. Passara vinte e cinco anos nos Estados Malaios Federados e durante os dez últimos tinha administrado uma propriedade em Selantan. Ficava a cem milhas de qualquer lugar civilizado e levava-se ali uma existência muito solitária; mas tinha feito dinheiro; aproveitara a alta da borracha e, com uma astúcia inesperada em homem que parecia tão improvidente, empregara as suas economias em títulos do governo. Agora que tinha sobrevindo a baixa estava pronto para se aposentar.
— De que parte da Irlanda é o senhor? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— De Galway.
Mrs. Hamlyn fizera certa vez uma excursão em automóvel pela Irlanda e recordava-se vagamente de uma cidade triste e taciturna, com grandes armazéns de pedra, desmoronados e desertos, fazendo face ao mar melancólico. Teve uma sensação de verdor e chuva macia, de silêncio e resignação. Seria lá que Mr. Gallagher pretendia passar o resto da sua vida? Ele falava da sua terra com um ardor todo juvenil. A ideia de um homem tão cheio de vitalidade no meio daquele mundo de sombras cinzentas era tão incongruente que Mrs. Hamlyn ficou intrigada.
— Sua família mora lá? — perguntou.
— Não tenho família. Minha mãe e meu pai já morreram. Que me conste, não tenho um único parente no mundo.
Estava com todos os planos feitos — havia vinte e cinco anos que os vinha fazendo — e sentia-se contente por ter com quem falar dessas coisas que durante tanto tempo fora obrigado a discutir consigo mesmo. Pretendia comprar uma casa e um automóvel. Ia criar cavalos. Não se interessava pela caça com armas de fogo. Tinha matado muita caça grossa nos seus primeiros anos nos Estados Malaios, mas perdera o gosto a esse esporte. Não compreendia que se matassem os animais da selva: vivera tanto tempo na sua vizinhança! Mas podia correr a caça a cavalo, com cães.
— Acha que sou muito pesado? — perguntou.
Mrs. Hamlyn, sorridente, olhou-o dos pés à cabeça, estudando-o.
— O senhor deve pesar uma tonelada.
Ele riu. Os cavalos irlandeses eram os melhores do mundo e Gallagher sempre tratara de se conservar em forma. Numa plantação de borracha caminha-se como o diabo e ele jogava muito tênis. Não tardaria a emagrecer na Irlanda. Depois casaria. Mrs. Hamlyn contemplava em silêncio o mar, que a luz tenra do sol nascente já começara a colorir. Soltou um suspiro.
— Achou fácil desenraizar-se? Não há ninguém de quem traga saudades? Eu julgaria que ao cabo de tantos anos, por mais ansioso de voltar que estivesse, o senhor sentisse um aperto no coração ao ver chegar finalmente a hora.
— Pois eu parti contentíssimo. Estava saturado! Nunca mais quero por os olhos nessa terra nem na gente daqui.
Um ou dois passageiros madrugadores tinham começado a passear no convés. Mrs. Hamlyn lembrou-se de que estava muito pouco vestida e desceu.
Nos dois dias seguintes ela quase não viu Mr. Gallagher, que passava o tempo na sala de fumar. Devido a uma greve o vapor não tocaria em Colombo. Os passageiros prepararam-se para uma agradável travessia do Oceano Índico. Entretinham-se com jogos de convés, bisbilhotavam a respeito uns dos outros, flertavam. A proximidade do Natal lhes deu uma ocupação, pois alguém tinha sugerido um baile à fantasia e as senhoras trataram de fazer os seus costumes. A primeira classe reuniu-se em assembleia para resolver se deviam convidar os passageiros da segunda e, apesar do calor, a discussão foi animada. As senhoras achavam que os passageiros de segunda classe iam sentir-se constrangidos. No dia de Natal era de esperar que eles se excedessem na bebida e podiam surgir incidentes desagradáveis. Todos os opinantes fizeram questão de frisar que não pretendiam fazer distinção de classes; ninguém era tão esnobe que pensasse existir alguma diferença entre passageiros de primeira e de segunda classe como tais, mas realmente seria mais generoso não colocar estes últimos numa posição falsa. Eles se divertiriam muito mais se tivessem uma festa à parte no seu salão. Por outro lado ninguém queria ofendê-los, e está claro que nesta época era preciso ser democrata (isto foi dito em resposta à esposa de um missionário da China, a qual afirmara ter viajado durante trinta e cinco anos nos navios da P. & O. e nunca ter ouvido falar em convidar os passageiros de segunda classe para um baile no salão de primeira) , e ainda que eles não se divertissem talvez desejassem vir. Mr. Gallagher, arrancado muito a contragosto A mesa de jogo porque se previa uma votação parelha, foi solicitado pelo cônsul a dar sua opinião. Levava consigo para a pátria, na segunda classe, um homem que fora seu empregado na plantação. Ergueu o corpo maciço do canapé em que estava sentado.
— Pessoalmente, só tenho uma coisa para dizer: trago comigo o homem que tomava conta das nossas máquinas. É um esplêndido rapaz e tão digno quanto eu de comparecer à festa dos senhores. Mas não virá, porque eu pretendo embebedá-lo de tal maneira no dia de Natal que por volta das seis horas ele estará imprestável e não terá outro remédio senão ir para a cama.
Mr. Jephson, o cônsul, sorriu com um lado s6 da cara. Devido à sua posição oficial fora escolhido para presidir à reunião e desejava que se levasse o assunto a sério. Costumava dizer que tudo que merece ser feito merece ser bem feito.
— Depreendo das suas observações — disse ele com certa acrimônia — que a questão debatida por nós não lhe parece ter grande importância.
— Acho que ela não vale uma pitada de tabaco — respondeu Gallagher, com os olhos a cintilar.
Mrs. Hamlyn riu. Afinal fizeram o plano de convidar os passageiros de segunda classe, dirigindo-se, porém, em particular ao capitão e apontando-lhe a conveniência de negar seu consentimento a que eles entrassem no salão da primeira. Foi na noite desse mesmo dia que Mrs. Hamlyn, depois de vestir-se para o jantar, subiu para o convés ao mesmo tempo que Mr. Gallagher.
— Chegou bem na hora do coquetel, Mrs. Hamlyn — disse ele jovialmente.
— Aceitaria um com prazer. Para falar a verdade, estou precisando de um estimulante.
— Por quê? — sorriu ele.
Mrs. Hamlyn achou atraente o seu sorriso mas não quis responder à pergunta.
— Já lhe disse no outro dia — falou em tom alegre. — Estou com quarenta anos.
— Nunca vi uma mulher que insistisse tanto nesse fato.
Entraram no bar e o irlandês pediu um martini seco para ela e um gin pahit para si. Tinha vivido muito tempo no Oriente para beber outra coisa.
— O Sr. está com soluços — observou Mrs. Hamlyn.
— Sim, passei toda a tarde com isto — respondeu ele negligentemente. — É interessante, começaram assim que perdemos a terra de vista.
— Sem dúvida passarão depois do jantar.
Tomaram os coquetéis, o segundo sino bateu e eles desceram para o salão de refeições.
— A Sra. não joga bridge? — perguntou Gallagher ao se separarem.
— Não.
Mrs. Hamlyn não notou que dois ou três dias se passaram sem que ela visse Gallagher. Estava muito ocupada com os seus pensamentos. Acorriam-lhe em multidão enquanto costurava; introduziam-se entre ela e o romance com que procurava enganar-lhes a insistência. Tinha esperado que quando o navio a afastasse da cena da sua infelicidade aquele tormento teria alívio; mas pelo contrário, cada dia que a aproximava mais da Inglaterra aumentava a sua angústia. Pensava com terror no vazio desolado da existência que a aguardava; depois, desviando o espirito exausto de uma perspectiva que a consternava, punha-se a considerar, como o já tinha feito inúmeras vezes, a situação de que se evadira.
Fazia vinte anos que estava casada. Era muito tempo e por certo não podia esperar que o marido ainda estivesse doidamente apaixonado por ela; não o estava por ele, mas eram bons amigos e compreendiam-se muito bem. Em confronto com a média dos casais podiam considerar-se bastante felizes. Mas de repente descobriu que ele estava enamorado. Não teria feito objeção a um flerte; aliás ele já tivera alguns e ela costumava caçoar com ele a esse respeito; Mr. Hamlyn não se aborrecia com isso, sentia-se até um pouco lisonjeado, e ambos riam juntos dessas inclinações que não eram profundas nem sérias. Mas o caso agora era diverso. Ele estava tão apaixonado quanto um rapaz de dezoito anos. E tinha cinquenta e dois! Aquilo era ridículo, indecente. Ele amava sem bom senso nem prudência: quando ela chegou a tomar conhecimento daquele horror já nenhum estrangeiro em Yokohama o ignorava. Após o primeiro choque de espanto e raiva, pois ninguém teria esperado dele semelhante loucura, Mrs. Hamlyn tentou convencer-se de que poderia ter compreendido, e portanto perdoado, se ele se tivesse enamorado de uma moça. Os homens maduros amiúde perdem a cabeça por garotas, e após ter passado vinte anos no Extremo Oriente ela sabia que a quadra dos cinquenta é a idade perigosa para os homens. Mas ele não tinha justificação. Estava enamorado de uma mulher oito anos mais velha do que Mrs. Hamlyn. Isso era grotesco e fazia com que ela, sua mulher, parecesse completamente ridícula. Dorothy Lacom estava à beira dos cinquenta. Havia dezoito anos que ele a conhecia, pois Lacom, como Mr. Hamlyn, era negociante de sedas em Yokohama. Durante todo esse tempo tinham-se visto três ou quatro vezes por semana, e uma vez em que por acaso se encontraram juntos na Inglaterra tinham compartilhado uma casa à beira-mar. Mas quê! Até um ano atrás não houvera entre eles mais que uma amizade brincalhona. Era incrível! Não se podia negar que Dorothy era uma mulher vistosa; tinha bonita figura, talvez um tanto opulenta mas ainda cheia de garbo; ousados olhos negros, boca vermelha e cabelos magníficos; mas tudo isso ela tivera há muitos anos. Estava com quarenta e oito. Quarenta e oito!
Mrs. Hamlyn pediu logo explicações ao marido. A princípio ele jurou que não havia uma palavra de verdade naquilo de que o acusavam, porém ela tinha as suas provas; ele encasmurrou-se e acabou confessando aquilo que já não podia negar. Disse então uma coisa surpreendente:
— Que importância tem isso para ti?
Ela se enraiveceu. Replicou-lhe com irado desdém. Foi loquaz, encontrando na sua amargura íntima coisas ofensivas para dizer. Ele escutou-a com calma.
— Não fui tão mau marido para ti durante os vinte anos em que estivemos casados. Já faz muito tempo que não somos mais do que amigos. Tenho-te grande afeição e esta em nada se alterou. Não estou roubando nada para dar a Dorothy.
— Mas que motivo de queixa encontras em mim?
— Nenhum. É impossível haver melhor esposa do que tu.
— Como podes dizer isso enquanto tens a coragem de me tratar com tanta crueldade?
— Não é que eu queira ser cruel, mas não posso proceder de outro modo.
— Mas a troco de que foste enamorar-te dela?
— Como posso saber? Acaso pensas que eu o queria?
— Não podias ter resistido?
— Tentei fazê-lo; creio que ambos tentamos.
— Falas como se tivesses vinte anos. Mas se tanto um como o outro já andam na casa dos cinquenta. Ela tem oito anos mais do que eu. Isso me transforma numa perfeita idiota.
Ele não respondeu. Mrs. Hamlyn não compreendia as emoções que tumultuavam no seu peito. Seria o ciúme que a sufocava, a cólera ou simplesmente o orgulho ferido?
— Não permitirei que isso continue. Se se tratasse apenas de vocês dois eu me divorciaria, mas há também o marido dela e os filhos. Santo Deus, não vês que se fossem moças em vez de rapazes ela já poderia ser avó?
— É muito provável.
— Que sorte não termos filhos!
Ele estendeu uma mão afetuosa como para acariciá-la, mas ela recuou com horror.
— Tu me tornaste o alvo de riso de todas as minhas amigas. No interesse de todos nós estou disposta a silenciar, mas só com a condição de que isto termine de uma vez e para sempre.
Ele baixou os olhos e pôs-se a brincar pensativamente com um bibelô japonês que estava em cima da mesa.
— Repetirei a Dorothy o que me disseste — respondeu por fim.
Mrs. Hamlyn fez-lhe um pequeno cumprimento, sem proferir palavra, e saiu do quarto. Estava demasiado furiosa para notar que a sua atitude era um tanto melodramática.
Ficou à espera de que o marido lhe contasse o resultado da sua conversa com Dorothy Lacom, mas ele não tornou a referir-se ao incidente. Mostrava-se calmo, polido e silencioso; afinal ela foi obrigada a interpelá-lo.
— Esqueceste o que eu te disse no outro dia? — perguntou em tom frígido.
— Não. Falei com Dorothy. Ela me pediu para te dizer que lamenta profundamente ter-te causado tamanho sofrimento. Desejaria vir ver-te mas receia que isso não te agrade.
— Qual foi a decisão a que chegaram?
Ele hesitou. Estava muito sério, mas a sua voz tremia um pouco.
— Temo que seja inútil fazer uma promessa que nós não poderíamos cumprir.
— Nesse caso o assunto está resolvido — respondeu ela.
— Devo dizer-te que se intentasses um processo de divórcio nós seríamos obrigados a contestar. Não conseguirias as provas necessárias e perderias a demanda.
— Não pensava em fazer isso. Vou voltar à Inglaterra e consultar um advogado. Hoje em dia essas coisas podem-se arranjar facilmente e eu apelarei para a tua generosidade. Não duvido que possas restituir-me a liberdade sem envolver Dorothy Lacom no assunto.
Ele suspirou.
— Que confusão medonha, não é mesmo? Eu não desejo que te divorcies de mim, mas está claro que farei o possível para que se cumpra a tua vontade.
— Mas que é que tu esperas? — exclamou ela com um novo ímpeto de cólera. — Esperas que eu me resigne a fazer papel de tola?
— Lamento imenso ter de colocar-te numa posição humilhante. — Olhou-a com uma — expressão torturada. — Estou certo de que nós não fizemos nada para nos apaixonar um pelo outro. Nem eu nem ela esquecemos a nossa idade: Dorothy, como dizes, já poderia ser avó, e eu sou um cavalheiro calvo e gordo de cinquenta e dois anos. Quando a gente se enamora aos vinte anos, pensa que o seu amor durará eternamente, mas aos cinquenta conhece-se muito bem a vida e o amor e sabe-se que ele só pode durar pouco. — Falava em voz baixa e pesarosa. Dir-se-ia que estava vendo em imaginação a tristeza do outono e as folhas a desprender-se das árvores. Olhou gravemente para ela. — E nesta idade a gente sente que seria loucura repelir o ensejo de felicidade que o destino caprichoso nos dá. É certo que isto estará terminado dentro de cinco anos, talvez dentro de seis meses. A vida é monótona e cinzenta, e a felicidade é tão rara! A morte dura tanto tempo!
Mrs. Hamlyn sentiu uma dor pungente ao ouvir o marido, homem positivo e prático, falar num tom que lhe era completamente novo. Adquirira ele de súbito uma personalidade ardente e trágica que ela não conhecia. Os vinte anos de existência em comum não tinham nenhum poder sobre ele e Mrs. Hamlyn via-se impotente em face da sua resolução. O único remédio era ir embora. E assim, cheia de ressentimento e decidida a obter o divórcio com que o tinha ameaçado, achava-se agora a caminho da Inglaterra..
O mar liso, que brilhava ao sol como uma folha de vidro, era tão vazio e hostil como a vida em que não havia lugar para ela. Pelo espaço de três dias nenhuma outra embarcação violou aquela solidão infinita. De quando em quando a sua superfície igual era momentaneamente perturbada pela fuga precipitada de algum peixe voador. O calor era tamanho que os mais intrépidos passageiros tinham abandonado os jogos de convés e nessa hora (era depois do almoço) aqueles que não descansavam nos seus camarotes estavam estendidos nas espreguiçadeiras. Linsell caminhou em direção a ela e sentou-se.
— Onde está Mrs. Linsell? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Oh, não sei. Anda por aí.
A sua indiferença a exasperava. Seria possível que ele não visse que sua mulher e o médico começavam a interessar-se demais um pelo outro? E contudo, não havia muito tempo atrás ele não teria suportado isso. Fora um casamento romântico. Quando se tornaram noivos, Mrs. Linsell ainda estava na escola e ele era pouco mais que um menino. Deviam ter formado um belo e encantador casal, a sua mocidade e o seu amor recíproco sem dúvida eram muito tocantes. E eis que ao cabo de tão pouco tempo estavam cansados um do outro. Era de cortar o coração. como fora mesmo que o seu marido tinha dito?
— Sem dúvida a senhora pretende residir em Londres? — perguntou Linsell preguiçosamente, para dizer alguma coisa.
— Acho que sim — respondeu Mrs. Hamlyn.
Era-lhe difícil conformar-se com o fato de não ter para onde ir e de não interessar a ninguém que ela fosse viver aqui ou ali. Uma associação de ideias qualquer fê-la pensar em Gallagher. Invejava-lhe a ansiedade com que voltava à sua terra natal e sentia-se tocada, achando graça ao mesmo tempo, ao lembrar-se da exuberante imaginação com que ele descrevera a casa onde pretendia morar e a mulher com que tencionava casar. As suas amigas de Yokohama, a quem confiara a decisão de divorciar-se, tinham-lhe garantido que ela tornaria a casar. Não desejava tentar segunda vez uma coisa que tanto a decepcionara, e além disso a maioria dos homens teria vacilado em propor casamento a uma mulher de quarenta anos. Mr. Gallagher, por exemplo, idealizava uma jovem de formas roliças.
— Onde está Mrs. Gallagher? — perguntou ela ao submisso Linsell. — Há uns dois dias que não o vejo.
— Então não sabia? Ele está doente.
— Coitado! Que é que ele tem?
— Tem soluços.
Mrs. Hamlyn riu. — Mas soluço é doença?
— O médico de bordo está bem preocupado. Tem tentado todos os meios, mas não consegue fazê-los parar.
— Que coisa esquisita!
Não pensou mais nisso, mas no dia seguinte de manhã, encontrando-se por acaso com o médico de bordo, perguntou-lhe como ia Mr. Gallagher. Ficou surpreendida ao ver aquele rosto alegre e juvenil anuviar-se e assumir uma expressão de perplexidade.
— Receio que o pobre homem esteja muito mal.
— Com soluços? — exclamou ela, assombrada. Era uma indisposição que realmente não se podia levar a sério.
— É que ele não pode conservar o alimento no estômago. Não consegue dormir. Está numa exaustão horrível. Tentei todos os meios de que pude lançar mão. — O médico hesitou. — A menos que eu consiga deter esses soluços muito depressa... não sei o que acontecerá.
Mrs. Hamlyn assustou-se. — Mas ele é tão forte! Pareceu-me tão cheio de vida!
— Queria que o visse agora.
— Ele não se incomodaria se eu o fosse ver?
— Venha comigo.
Gallagher fora removido do seu camarote para a enfermaria de bordo. Ao aproximar-se desta ouviram um alto soluço. É um som que, talvez por estar associado à ideia de bebedeira, tem qualquer coisa de cômico. Mas o aspecto de Gallagher produziu um choque em Mrs. Hamlyn. Emagrecera muito e a pele do seu pescoço pendia em dobras flácidas. O rosto, sob o bronzeado do sol, estava pálido. Os olhos, outrora cheios de riso e de alegria, pareciam desvairados e torturados. Seu grande corpo era incessantemente sacudido pelos soluços e estes já nada tinham de cômicos; a Mrs. Hamlyn, sem que ela soubesse por que razão, eles pareceram singularmente terrificantes. Gallagher sorriu ao vê-la entrar.
— Sinto muito vê-lo nesse estado — disse ela.
— Mas fique sabendo que não vou morrer — respondeu ele com um arfar. — Hei de chegar às verdes plagas de Erin, ora se não.
Ao lado dele estava sentado um homem que se ergueu quando Mrs. Hamlyn e o médico entraram.
— Este é Mr. Pryce — disse o médico. -Era o encarregado das máquinas na propriedade de Mr. Gallagher.
Mrs. Hamlyn inclinou a cabeça. Era esse o passageiro de segunda classe a quem Gallagher se referira quando haviam discutido a festa que pretendiam dar no dia de Natal. Era um homem de pequena estatura, mas vigoroso, com uma fisionomia impudente e simpática e um ar seguro de si.
— Está contente de voltar para a sua terra? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— E não haveria de estar, dona? — respondeu ele.
A entonação destas poucas palavras revelou a Mrs. Hamlyn que se tratava de um cockney e, reconhecendo esse tipo prazenteiro, bem-humorado, sensato e despreocupado, sentiu-se tomada de simpatia por ele.
— O senhor não é irlandês? — perguntou sorrindo.
— Eu não, miss. Minha terra é Londres, e lhe garanto que não ficarei triste por tornar a vê-la.
Mrs. Hamlyn nunca se ofendia quando lhe davam o tratamento de "miss".
— Bem, patrão, vou andando — disse ele a Gallagher, esboçando um gesto em direção a um boné que não tinha na cabeça.
Mrs. Hamlyn perguntou ao doente se podia fazer alguma coisa por ele e dentro de um ou dois minutos retirou-se em companhia do médico. O pequeno cockney esperava-a na porta.
— Posso lhe falar um instante, miss?
— Claro que sim.
A enfermaria ficava à ré. Ambos se encostaram na amurada e olharam lá embaixo o "poço", onde os marinheiros indígenas e os criados de bordo fora de serviço descansavam em cima das coberturas das escotilhas.
— Não sei bem como começar — disse Pryce, hesitante, com a fisionomia vivaz e jovial estranhamente demudada numa expressão grave. — Há quatro anos que trabalho com Mr. Gallagher e é preciso caminhar muito para encontrar um homem melhor do que ele.
Tornou a hesitar. — Isso não me agrada nem um pouco, essa é que é a verdade.
— O que não lhe agrada?
— Bem, se quer que eu lhe diga, ele está perdido e o médico não sabe. Eu já disse a ele, mas não quer me escutar.
— Não desanime, Mr. Pryce. É verdade que o doutor é moço, mas eu o acho muito competente e, como sabe, ninguém morre de soluços. Tenho certeza de que Mr. Gallagher estará melhor dentro de um ou dois dias.
— Sabe quando isso começou? Assim que perdemos a terra de vista. Ela disse que ele não chegaria a ver seu país.
Mrs. Hamlyn virou-se para encará-lo. Media três boas polegadas mais do que ele.
— O que quer dizer com isso? — A minha opinião é que lhe puseram feitiço, se é que me entende. De nada adianta a medicina. A senhora não conhece essas mulheres malaias como eu as conheço.
Mrs. Hamlyn passou por um momento de susto, mas justamente por se ter assustado deu de ombros e riu.
— Ora, Mr. Pryce, isso são tolices! — Foi o que o doutor disse quando eu lhe falei. Mas pode escrever o que estou lhe dizendo: ele vai morrer antes de avistarmos terra outra vez.
O homem falava com tanta seriedade que Mrs. Hamlyn, vagamente inquieta, sentiu-se impressionada mau grado seu.
— Mas por que motivo haviam de ter posto feitiço em Mr. Gallagher?
— Bom, isso é uma coisa meio pau de contar a uma senhora.
— Conte-me, por favor!
Pryce estava tão embaraçado que em qualquer outra ocasião Mrs. Hamlyn teria tido dificuldade em ocultar o seu divertimento.
— Mr. Gallagher viveu muitos anos num fim de mundo. Naturalmente é uma vida muito cacete e a senhora sabe como são os homens, miss.
— Estive vinte anos casada — respondeu ela sorrindo. — Perdão, madame. Pois o fato é que ele tinha uma moça malaia em casa. Não sei quanto tempo isso durou, acho que uns dez ou doze anos. Bom, quando ele resolveu voltar para a terra ela não disse nada. Ficou sentada no mesmo lugar, sem dar um pio. Mr. Gallagher pensava que ela ia dar o estrilo, mas não... Deixava-a bem amparada, é claro. Deu-lhe uma casinha e providenciou para que lhe pagassem uma mesada. Ele não era sovina, é preciso que se reconheça, e a mulher já sabia há algum tempo que ele ia embora. Não chorou nem nada. Quando ele encaixotou todas as suas coisas e mandou despachar, ela viu levarem tudo sem se mexer do seu lugar. E quando ele vendeu a mobília aos chins ela não disse uma palavra. Ele lhe daria tudo que ela precisasse. E quando chegou a hora de Mr. Gallagher ir tomar o vapor ela ficou sentada nos degraus da varanda, olhando, sem falar. Ele quis lhe dizer adeus, como qualquer um teria feito, mas a senhora acredita que ela nem se mexeu? "Você não quer me dizer adeus?" perguntou ele. A mulher fez uma cara esquisita, e sabe o que ela disse? "Você vai", disse ela; esses nativos têm um jeito engraçado de falar, não falam como nós; "você vai", disse ela, "mas eu lhe digo: você não chegará até o seu país. Quando a terra se sumir no mar a morte virá para o seu lado, e antes que aqueles que forem com você tornem a ver terra a morte o terá levado consigo." Fiquei com uma impressão!
— E que foi que Mr. Gallagher disse? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Oh, a senhora sabe como ele é. Achou graça, nada mais. "Então passar muito bem", disse ele; saltou para o carro e pisamos no mundo.
Mrs. Hamlyn via a estrada ensolarada avançar por entre as plantações de borracha com as suas árvores verdes e garbosas, muito bem espaçadas, com o seu silêncio, depois serpentear por uma encosta acima e tornar a mergulhar na selva emaranhada. O automóvel corria, guiado por um malaio afoito, com os seus passageiros brancos, passando diante de casas malaias afastadas da estrada, entre coqueiros, isoladas e taciturnas, e atravessando movimentadas aldeias com os seus mercados apinhados de gente pequena, de pele escura e vestida com sarões de cores alegres. Depois, por volta do anoitecer, alcançava a cidade moderna e vistosa, com os seus clubes e os seus campos de golfe, a sua população branca e a sua estação onde os dois homens podiam tomar o trem para Singapura. E a mulher continuava sentada nos degraus do bangalô, vazio até que o novo administrador viesse ocupá-lo, e observava a estrada, via o carro ganhar velocidade e não tirava os olhos dele senão quando se perdia nas trevas da noite.
— Que tipo tinha ela? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Bem, para mim todas essas mulheres malaias se parecem — respondeu Pryce. — Naturalmente já não era muito moça, e a senhora sabe como são essas nativas; engordam que é um horror.
— Gorda?
Esta ideia, inexplicavelmente, encheu Mrs. Hamlyn de consternação.
— Mr. Gallagher sempre levou uma vida farta, se é que me entende.
A ideia de corpulência restituiu Mrs. Hamlyn imediatamente ao bom senso. Sentia-se aborrecida consigo mesma porque durante um instante estivera a ponto de aceitar a explicação do pequeno cockney.
— Isso é completamente absurdo, Mr. Pryce. Uma mulher gorda não pode lançar feitiço sobre ninguém a mil milhas de distância. O fato é que as mulheres gordas têm uma vida cheia de dificuldades.
— Ria quanto quiser, miss, mas tome nota do que estou dizendo: se não se tomar uma providência qualquer o patrão está perdido. E não é a medicina que vai salvá-lo, pelo menos a medicina dos brancos.
— Faça uso do bom senso, Mr. Pryce. Essa senhora gorda não tinha nenhum motivo de queixa contra Mr. Gallagher. De acordo com os hábitos do Oriente ele parece tê-la tratado muito bem. Por que quereria mal a ele?
— A gente não sabe de que modo elas encaram essas coisas. Um homem pode viver vinte anos com uma dessas nativas, mas pensa que ele é capaz de compreender aquela alma negra? Nunca!
Mrs. Hamlyn não pôde sorrir desta linguagem melodramática, pois Pryce falava com uma intensidade que impressionava. E ninguém sabia melhor do que ela que o coração dos seres humanos, seja a sua pele amarela, parda ou branca, é impenetrável.
— Mas ainda que ela estivesse furiosa com ele, ainda que o Odiasse e quisesse matá-lo, o que poderia fazer? — Era estranho que Mrs. Hamlyn, com as suas perguntas, estivesse inconscientemente procurando tranquilizar-se. — Não existe veneno que comece a produzir efeito depois de seis ou sete dias.
— Eu não disse que era veneno.
— Desculpe, Mr. Pryce — sorriu ela —, mas não me fará acreditar em feitiços, sabe?
— A senhora vive no Oriente?
— Há vinte anos, por temporadas.
— Bem, se a senhora sabe do que eles são capazes e do que não são, é mais entendida do que eu. — Cerrou o punho e deu um soco na amurada com uma violência furiosa e repentina. — Estou farto dessa maldita terra. Ela me deu nos nervos. Nós, brancos, não podemos com eles, essa é que é a verdade. Se me dá licença, acho que vou tomar uma pinga. Estou muito nervoso.
Fez um cumprimento abrupto com a cabeça e deixou-a. Mrs. Hamlyn observou o homenzinho atarracado e metido numa velha roupa cague, enquanto se afastava raspando com os pés no chão, descia a escotilha para o convés do meio e, atravessando-o com a cabeça curvada, desaparecia no bar da segunda classe. Não saberia explicar por que motivo ele a deixara presa de uma vaga inquietação. Não conseguia apagar na imaginação aquele quadro de uma mulher corpulenta, que já não era jovem, com um sarong, uma blusa colorida e adornos de ouro, sentada nos degraus de um bangalô e contemplando uma estrada deserta. O seu rosto maciço estava pintado, mas os olhos grandes e secos não tinham expressão. Os homens que iam no automóvel eram como colegiais que fossem passar as férias em casa. Gallagher soltava um suspiro de alívio. Na manhãzinha, sob o céu límpido, ele fervilhava de animação. O futuro parecia uma estrada ensolarada que vagueava através de uma vasta planície coberta de árvores.
Mais tarde, nesse mesmo dia, Mrs. Hamlyn perguntou ao médico como ia o seu doente. O médico sacudiu a cabeça.
— Não posso mais. Não sei mais o que fazer. Franziu o sobrolho, desgostoso. — É mesmo pouca sorte dar com um caso destes. Até na Inglaterra seria um caroço, e a bordo então nem se fala...
Era de Edimburgo, mas formara-se havia pouco e estava fazendo aquela viagem a título de férias, antes de se instalar na clínica. Sentia-se vítima de uma injustiça. Queria divertir-se, mas aquela misteriosa doença o preocupava mortalmente. Faltava-lhe experiência, por certo, mas estava fazendo tudo quanto era possível e exasperava-se por suspeitar que os passageiros o julgassem um ignorante.
— Sabe o que Mr. Pryce pensa? — perguntou Mrs. Hamlyn. — Nunca ouvi asneira igual. Disse ao capitão e ele está danado. Não quer que se fale nisso. Acha que pode perturbar os passageiros.
— Pode contar com a minha discrição. O médico perscrutou-a com o olhar. — Sem dúvida não acredita que possa haver a menor dose de verdade nessas tolices?
— Claro que não. — Ela olhou para o mar que brilhava por todos os lados, azul, oleoso e imóvel. — Vivi muito tempo no Oriente. Acontecem lá coisas esquisitas.
— Isto está começando a me atacar os nervos — disse o médico.
Ali perto dois pequenos japoneses jogavam malha no convés. Estavam muito corretos e asseados com as suas camisas de tênis, calças brancas e sapatos de bocaxim. Pareciam muito europeus, até anunciavam a contagem um ao outro em inglês, e no entanto Mrs. Hamlyn sentiu-se vagamente perturbada ao observá-los nesse momento. Pelo fato de usarem um travesti com tanta facilidade, havia nessas criaturas qualquer coisa de sinistro. Também ela não estava boa dos nervos.
E de repente, ninguém saberia dizer como, espalhou-se por todo o navio o boato de que Gallagher estava enfeitiçado. As senhoras, sentadas nas cadeiras do convés, tagarelavam à meia-voz enquanto cosiam os trajes de fantasia para o baile do Natal e os homens, na sala de fumar, comentavam o assunto diante dos seus coquetéis. Bom número de passageiros que tinham vivido largo tempo no Oriente extraíam casos estranhos e inexplicáveis dos escaninhos da memória. Era, por certo, absurdo acreditar seriamente que Gallagher estivesse sendo vítima de um sortilégio maligno. Essas coisas eram impossíveis; e contudo, havia tais e tais fatos que ninguém conseguira explicar. O médico teve de confessar-se incapaz de apontar uma causa para o estado de Gallagher. Podia dar uma explicação fisiológica, mas por que motivo ele fora atacado de súbito por aqueles pavorosos espasmos? Isso ele não dizia. Sentindo-se vagamente exposto à censura, procurava defender-se.
— Casos como este um médico pode passar a vida inteira sem encontrar um só. Que azar!
Comunicava-se pelo rádio com os navios próximos e recebia daqui e dali sugestões para o tratamento.
— Já experimentei tudo que eles me aconselham — dizia com irritação. — O médico do vapor japonês fala em adrenalina. Como diabo vou arranjar adrenalina no meio do Oceano Índico?
Havia qualquer coisa de impressionante na ideia daquele navio a singrar um mar deserto enquanto mensagens invisíveis lhe chegavam de todas as partes. Naquele momento ele parecia ser o centro do mundo, apesar de estar singularmente só. Na enfermaria, o doente, sacudido pelos implacáveis espasmos, arfava em luta com a morte. Então os passageiros perceberam que a rota do navio fora alterada e ouviram dizer que o capitão tinha resolvido aportar a Adem. Gallagher seria posto em terra e conduzido ao hospital, onde lhe podiam dispensar cuidados que a bordo eram impossíveis. O chefe das máquinas teve ordem de acelerar a marcha do navio. Este, que era velho, começou a tremer todo sob o esforço. Os passageiros tinham-se acostumado ao ruído e à vibração das máquinas, mas o aumento dessa vibração lhes sacudia os nervos, dando-lhes uma sensação nova. Ao invés de passar ao subconsciente, fustigava-lhes a sensibilidade, de modo que cada um deles ganhou um interesse pessoal no caso. Entretanto, o mar imenso continuava órfão de embarcações e eles pareciam estar atravessando um mundo vazio. Então a vaga inquietação que descera sobre o navio e que ninguém queria reconhecer converteu-se num positivo mal-estar. Os passageiros ficaram irritadiços e começaram a explodir disputas em torno de assuntos que em outra ocasião qualquer teriam parecido insignificantes. Mr. Jephson dizia as suas rançosas piadas, mas já ninguém o recompensava com um sorriso. Os Linsell tiveram uma altercação e Mrs. Linsell foi ouvida tarde da noite a filar voltas pelo convés como marido, proferindo em voz baixa e tensa uma torrente de censuras impetuosas. uma noite, a respeito de uma partida de bridge, houve uma discussão violenta na sala de fumar e a subsequente reconciliação foi acompanhada de uma bebedeira geral. Pouco falavam em Gallagher, mas este raramente saía dos pensamentos. Examinavam a carta marítima. O médico dizia agora que Gallagher não podia viver mais de dois ou três dias e os passageiros discutiam com acrimônia sobre o tempo mais curto em que seria possível alcançar Adem. O que lhe acontecesse após o desembarque não lhes interessava; apenas não queriam que ele morresse a bordo.
Mrs. Hamlyn visitava Gallagher todos os dias. Com a mesma rapidez com que após uma chuva primaveril, nos trópicos, a gente vê a erva crescer diante dos seus olhos, ela o via finar-se agora. Já a pele lhe pendia flácida em volta dos ossos e a sua papada semelhava uma papada de peru. As faces estavam encovadas. Notava-se agora o quanto era grande a sua armadura óssea, que, debaixo do lençol, lembrava o esqueleto de algum gigante pré-histórico. Estava geralmente com os olhos cerrados, no torpor da morfina, mas sacudido sempre pelas terríveis convulsões, e quando de tempos a tempos abria os olhos estes tinham um tamanho sobrenatural, encarando vagamente as pessoas, perplexos e perturbados, do fundo das órbitas ossudas. Mas quando reconhecia Mrs. Hamlyn, ao sair do seu estupor, obrigava os lábios a entreabrir-se num sorriso de bravura.
— Como vai, Mr. Gallagher? — perguntava ela. -- Vou indo, vou indo. Hei de ficar bom quando nos livrarmos deste maldito calor. Meu Deus, como estou aflito por dar um mergulho no Atlântico! Daria tudo por uma boa meia hora de nado. Quero sentir no peito o mar frio e cinzento de Galway.
Mas um soluço sacudia-o do alto da cabeça até as solas dos pés. Mr. Pryce e a enfermeira revezavam-se em cuidar dele. A fisionomia do pequeno cockney já não tinha aquela expressão de jovialidade impudente; estava, ao invés, bastante casmurra.
— O capitão mandou me chamar ontem — disse ele a Mrs. Hamlyn quando se viram a sós. — Passou-me uma jiribanda daquelas.
— A que respeito? — Diz ele que não quer ouvir falar nessas histórias de feitiço. Que isso estava assustando os passageiros e que eu tivesse tento na língua, senão ia justar contas com ele. A culpa não é minha. Eu nunca disse uma palavra, a não ser à senhora e ao doutor.
— Todo o navio anda falando disso. — Eu sei. Pensa que sou só eu que o digo? Todos esses malaios e chineses sabem o que ele tem. Pensa que nós podemos ensinar muita coisa a essa gente? Eles sabem que não é uma doença natural.
Mrs. Hamlyn ficou calada. Sabia, pelas criadas de alguns passageiros, que ninguém no navio, a não ser os brancos, duvidava de que a mulher a quem Gallagher tinha deixado no distante Estado de Selantan o estava matando pouco a pouco com a sua magia. Todos tinham a convicção de que ao avistarem os penhascos escalvados da Arábia a alma do irlandês. separar-se-ia do seu corpo.
— Diz o capitão que se ouvir contar que eu andei tentando alguma mandinga ele vai mandar me fechar na cabina durante o resto da viagem — falou Pryce de repente, com um ar mal-humorado.
— Que quer dizer com mandinga?
Ele a considerou um instante com ferocidade, como se ela também fosse alvo da cólera que sentia contra o capitão.
— O doutor já experimentou tudo o que sabe, passou radiogramas para todos os lados, e que adiantou isso? Faça o favor de me dizer. Então ele não vê que o homem está à morte? Agora só temos um meio de salvá-lo.
— Que meio?
— Ele está morrendo por obra de magia e só com a magia pode ser salvo. Oh, não me diga que isso é impossível. Já vi com os meus olhos. — Sua voz alteou-se, irritada e estridente. — Já vi um homem arrancado das goelas da morte, como quem diz, quando mandaram chamar um pawang, isso que nós chamamos um curandeiro, e ele começou a fazer as suas tricas. Estou lhe dizendo que vi com os meus olhos!
Mrs. Hamlyn ficou calada. Pryce lançou-lhe um olhar penetrante.
— Um desses marinheiros nativos é curandeiro, tal qual os pawang dos Estados Malaios. Ele diz que fará a coisa. Só precisa de um animal vivo. Um galo serve.
— Para que quer ele um animal vivo? — perguntou Mrs. Hamlyn, franzindo levemente o sobrolho.
O cockney olhou-a com viva desconfiança. — Se quer ouvir o meu conselho, faça que não sabe de nada. Mas uma coisa eu lhe digo: não deixarei pedra por virar enquanto não tiver salvo o patrão. E se o capitão souber disso e me mandar trancafiar na cabina, paciência.
Nesse momento Mrs. Linsell aproximou-se e Pryce foi embora, fazendo aquele seu curioso gesto de saudação. Mrs. Linsell queria que Mrs. Hamlyn lhe ajustasse o costume que estava fazendo para o baile à fantasia, e enquanto desciam à cabina referiu ansiosamente à possibilidade de que Mr. Gallagher morresse no dia de Natal. Nesse caso não seria possível dar o baile. Tinha dito ao médico que nunca mais lhe falaria se tal coisa acontecesse e ele prometera manter o homem com vida, fosse lá como fosse, até depois do Natal.
— Seria muito bom para ele também — disse Mrs. Linsell.
— Para quem? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Para o pobre Mr. Gallagher. Naturalmente ninguém gosta de morrer no dia de Natal, não é mesmo?
— Na verdade, não sei — respondeu Mrs. Hamlyn.
Essa noite, após um sono breve, ela acordou a chorar. Ficou consternada ao ver que estivera chorando enquanto dormia. Era como se a fraqueza da carne a dominasse e, com a vontade vencida, ela se encontrasse indefesa em face do sofrimento. Revolveu na mente, como já havia feito tantas vezes, os pormenores do desastre que tão profundamente a afetara. Repetiu as conversas com o marido, desejando ter dito isto e censurando-se porque dissera aquilo. Quem lhe dera ter permanecido na tranquila ignorância daquela paixão! Não teria sido melhor meter o orgulho no bolso e fechar os olhos à dolorosa verdade? Era uma mulher experiente e bem sabia que ao separar-se do marido perdia muito mais do que o seu amor: perdia uma posição sólida e segura, de amplos recursos, e o apoio de uma situação oficial. Tinha notícia de muitas mulheres separadas dos maridos, a viver equivocamente de pequenos rendimentos, e sabia quão depressa as pessoas amigas se cansavam delas. E estava só, tão só quanto o navio que cruzava às pressas aquele mar despovoado, tão só quanto o homem sem amigos que agonizava na enfermaria de bordo. Mrs. Hamlyn compreendeu que os seus pensamentos a tinham levado de vencida e que já não lhe seria fácil dormir. Fazia muito calor dentro da cabina. Olhou o relógio: era entre quatro e quatro e meia. Tinha de esperar ainda duas intermináveis horas antes que o dia lhe trouxesse o seu pouco de conforto.
Enfiou um quimono e subiu para o convés. A noite era sombria e embora não houvesse nuvens as estrelas não estavam visíveis. O velho navio, ofegante e trêmulo, avançava a todo vapor no meio das trevas. O silêncio tinha algo de sobrenatural. Mrs. Hamlyn caminhava de pés descalços pelo convés, lentamente, às tateadas. Estava tão escuro que ela não podia distinguir nada. Chegou à extremidade do tombadilho de passeio e encostou-se à amurada. De súbito estremeceu e a sua atenção fixou-se num ponto, uma claridade bruxuleante que avistara no convés de baixo. Debruçou-se com cautela. Era uma pequena fogueira e Mrs. Hamlyn via apenas o clarão porque as chamas eram ocultadas pelos troncos nus de alguns homens acocorados ao seu redor. A beira do círculo ela adivinhou uma figura atarracada, de pijama. Os demais eram nativos, mas esse era um europeu. Devia ser Pryce, e ela imediatamente compreendeu que se estava realizando alguma tenebrosa cerimônia de exorcismo. Aguçou o ouvido e distinguiu uma voz baixa que resmuneava um rosário de palavras desconhecidas. Pôs-se a tremer. Embora os sentisse demasiado absortos na sua prática para suspeitar que alguém os pudesse estar observando, não se atrevia a mexer-se. De repente, cortando o silêncio da noite como um pedaço de seda que se rasgasse em dois, ouviu-se o canto de um galo. Mrs. Hamlyn quase deixou escapar um grito. Mr. Pryce tentava salvar a vida do seu amigo e patrão com um sacrifício aos estranhos deuses do Oriente. A voz continuava, baixa e insistente. Notou-se então um movimento no círculo escuro; estava acontecendo alguma coisa que ela não sabia o que fosse; o galo cacarejou, furioso e assustado, e seguiu-se um som estranho e indescritível. O mágico estava degolando a ave. Silêncio, depois alguns gestos vagos que ela não pôde acompanhar, e dentro em pouco lhe pareceu que alguém apagava as brasas com os pés. As figuras indistintas dissolveram-se na noite e tudo voltou à tranquilidade. Ela tornou a ouvir a vibração regular das máquinas.
Mrs. Hamlyn ainda ficou alguns instantes sem se mover, presa de estranha emoção, depois caminhou lentamente pelo convés. Encontrou uma espreguiçadeira e estendeu-se nela. Ainda estava trêmula. Não podia fazer senão conjeturas sobre o que havia acontecido. Não saberia dizer quanto tempo ficou ali, mas finalmente sentiu que não tardaria a amanhecer. Ainda não era dia, mas também já não era noite. Já podia distinguir a amurada do navio contra a escuridão da noite. Avistou então um vulto que caminhava na sua direção. Era um homem de pijama.
— Quem é? — gritou, nervosa.
— Não é ninguém, é o médico — respondeu uma voz amiga.
— Ah! Que está fazendo aqui a estas horas?
— Estava com Gallagher. — O doutor sentou-se ao lado dela e acendeu um cigarro. — Dei-lhe uma hipodérmica bem forte e ele se aquietou.
— Estava muito mal?
— Julguei que fosse expirar. Estava observando-o. De repente ele sentou-se na cama e começou a falar em malaio. Não entendi coisa alguma, é lógico. Ele repetia sem cessar a mesma palavra.
— Talvez fosse um nome, o nome de uma mulher.
— Queria sair da cama. Ainda tem força como o diabo. Caramba, tive de lutar com ele! Receava que ele se atirasse ao mar. Parecia pensar que alguém o estava chamando.
— Quando foi isso? — perguntou Mrs. Hamlyn devagar.
— Entre quatro e quatro e meia. Por quê?
— Nada.
Mrs. Hamlyn teve um arrepio.
Mais tarde, ainda pela manhã, quando a vida de bordo já reassumira o seu curso cotidiano, Mrs. Hamlyn cruzou-se com Pryce no convés, mas ele limitou-se a fazer-lhe uma breve saudação e seguiu o seu caminho desviando vivamente os olhos. Tinha um ar cansado e tresnoitado. Mrs. Hamlyn tornou a pensar naquela mulher, com adornos de ouro na negra e espessa cabeleira, sentada nos degraus do bangalô vazio, olhando para a estrada que corria entre os renques simétricos de seringueiras.
Fazia um calor pavoroso. Ela compreendia agora por que a noite fora tão escura. O céu já não estava azul, mas de um branco morto e igual; a sua superfície era muito uniforme para dar a impressão de nuvens; era como se o calor pairasse como uma mortalha no ar superior. Não soprava brisa e o mar, tão incolor quanto o céu, estava liso e brilhante como a tinta na cuba de um tintureiro. Os passageiros andavam apáticos; quando caminhavam pelo convés punham-se a ofegar e bagas de suor lhes brotavam da testa. Falavam em voz baixa. Uma espécie de aura sobrenatural, inquietante, envolvia o navio e ninguém tinha ânimo para rir. Foi despertando neles uma sensação de ressentimento; estavam vivos, com saúde, e exasperavam-se porque ali tão perto um homem agonizava e este fato (que em suma não lhes dizia respeito) os afetava de forma tão misteriosa. Na sala de fumar, diante de um gin sling, um plantador exprimiu brutalmente o que todos eles pensavam, embora ninguém quisesse confessá-lo:
— Bem, se ele vai mesmo dar a casca seria bom que se aviasse, para acabar com isso duma vez. Já ando com tremeliques.
O dia pareceu interminável. Mrs. Hamlyn deu graças ao céu quando chegou a hora do jantar. Sentou-se à mesa do médico.
— Quando chegaremos a Adem? — perguntou-lhe. — Amanhã. O capitão diz que avistaremos terra entre as cinco e as seis da manhã.
Ela deitou-lhe um olhar vivo. O moço encarou-a um instante, depois baixou os olhos e corou. Lembrara-se de que a mulher, a mulher gorda sentada nos degraus do bangalô, tinha dito que Gallagher não tornaria a ver terra. Por acaso ele, o jovem médico cético e positivo, estaria vacilando por fim? Franziu de leve o sobrolho e, como se fizesse um esforço para dominar-se, tornou a olhar para ela.
— Confesso-lhe que não lamentarei ter de deixar o meu doente no hospital de Adem.
O dia seguinte era véspera de Natal. Quando Mrs. Hamlyn despertou do seu sono agitado, já ia amanhecendo. Olhou pela vigia do camarote e notou que o céu estava claro e prateado; a bruma dissipara-se durante a noite e a manhã resplandecia. Subiu para o convés mais aliviada e encaminhou-se para a proa. Uma estrela retardatária luzia palidamente, junto a linha do horizonte. O mar tinha reflexos trêmulos, como se brisa vadia passasse sobre ele os dedos brincalhões. A luz era deliciosamente suave, ténue como um bosque a abrolhar na primavera, e tão cristalina que lembrava as águas sussurrantes de um regato nas montanhas. Ela virou-se para olhar o sol, que se erguia rosado no nascente, e viu o doutor que vinha na sua direção. Vestia o seu uniforme; não se deitara durante toda a noite; tinha os cabelos desgrenhados e caminhava de ombros curvados, como se estivesse morto de cansaço. Ela compreendeu logo que Gallagher morrera. Quando o moço chegou perto, notou que ele chorava. Tinha um ar tão jovem nesse momento que o coração de Mrs. Hamlyn se encheu de piedade. Tomou-lhe a mão.
— Coitadinho! Você está que não se aguenta.
— Fiz o que pude — disse ele. — Tanto empenho em salvá-lo!
Falava com voz embargada e Mrs. Hamlyn percebeu que o moço estava a ponto de ter um acesso de nervos.
— Quando foi que ele morreu? — perguntou.
O médico cerrou os olhos, tentando dominar-se, e seus lábios tremeram.
— Há poucos minutos.
Mrs. Hamlyn suspirou. Não encontrou palavras para lhe dizer. Seu olhar vagueava pelo mar sereno, eterno e desapaixonado, que se estendia para todos os lados, infinito como a dor humana. Mas de repente esse olhar se deteve num ponto determinado, pois à frente deles, no horizonte, avistava-se qualquer coisa que semelhava uma nuvem escarpada e maciça. Os seus contornos, no entanto, eram muito angulosos para serem os de uma nuvem. Ela tocou no braço do médico.
— O que é aquilo?
Ele olhou um instante naquela direção e Mrs. Hamlyn o viu empalidecer sob o bronzeado da pele.
— É terra.
Mrs. Hamlyn pensou mais uma vez na malaia gorda, sentada em silêncio nos degraus do bangalô de Gallagher. Saberia ela o que acontecera?
Sepultaram-no com o sol alto. Estavam todos reunidos no convés inferior e sobre os quartéis das escotilhas, passageiros de primeira e de segunda, despenseiros brancos e oficiais europeus. O missionário leu o serviço fúnebre.
"O homem, nascido da mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Surge e é cortado como a flor; foge também como a sombra e não permanece."
Pryce olhava para o chão com o sobrolho franzido, os dentes cerrados. Não chorava o morto, pois tinha o peito a arder em cólera. O médico e o cônsul estavam ao lado um do outro. O rosto do cônsul tinha uma correta expressão de persa oficial, mas o do médico, que se barbeara e vestira um uniforme limpo, com os seus alamares de ouro, estava pálido e torturado. Os olhos de Mrs. Hamlyn passaram dele para Mrs. Linsell. Estava aconchegada ao marido, chorando, e ele lhe segurava ternamente a mão. Mrs. Hamlyn não saberia dizer por que a vista do casal a afetava tanto. Nesse momento de dor, com os nervos desorganizados, a mulherzinha procurava por instinto a proteção e o apoio do marido. Mas um estremecimento percorreu Mrs. Hamlyn e ela fixou os olhos nas junturas do convés, pois não queria ver o que ia passar-se. Houve uma pausa na leitura e várias pessoas moveram-se. Um dos oficiais deu uma ordem. A voz do missionário prosseguiu:
"Já que aprouve ao Senhor Todo-poderoso, na sua infinita misericórdia, chamar a si a alma do nosso querido irmão, nós confiamos o seu corpo ao abismo para que aí se decomponha, à espera da ressurreição da carne, quando o mar devolver os seus mortos."
Mrs. Hamlyn sentiu que lágrimas ardentes lhe corriam pelas faces. Ouviu-se um baque surdo na água e a voz do missionário continuou a falar.
Terminado o ofício religioso os passageiros dispersaram-se; os da segunda classe voltaram aos seus alojamentos e uma sineta os chamou para o almoço. Mas os da primeira puseram-se a vaguear a esmo no tombadilho de passeio. A maioria dos homens entrou na sala de fumar e procurou animar-se tomando uísque soda e gin slings. O cônsul pendurou um aviso na tabuleta colocada na porta do salão de refeições, convocando uma reunião dos passageiros. A maior parte destes já imaginava o que se tinha em vista e à hora marcada foram chegando. Estavam alegres como nunca haviam estado durante a semana que se passara e puseram-se a conversar cheios de animação temperada por uma reserva decorosa. O cônsul, de monóculo encaixado no olho, disseque os tinha chamado para discutirem a questão do baile à fantasia no dia seguinte. Sabia que todos sentiam a mais profunda simpatia por Mr. Gallagher. Desejaria propor que eles se combinassem para enviar uma mensagem condigna aos parentes do falecido, mas os papéis deste tinham sido examinados pelo comissário de bordo sem que se encontrasse a menor indicação sobre um parente ou amigo com quem fosse possível comunicarem-se. Segundo as aparências, o falecido Mr. Gallagher estava completamente só no mundo. Entretanto, ele (o cônsul) tomava a liberdade de exprimir o seu sincero pesar ao médico, que, ele tinha certeza, fizera quanto estava em si nas circunstâncias.
— Apoiado, apoiado! — disseram os passageiros.
Todos ali haviam sofrido uma grande provação, prosseguiu o cônsul, e podia parecer a alguns que, em respeito à memória do falecido, era preferível adiar o baile à fantasia para a noite de Ano Bom. Ele, porém — declarava-lhes francamente — não era dessa opinião, e estava convencido de que Mr. Gallagher não o teria desejado. Em todo caso, era uma questão que cumpria resolver por maioria de votos. O médico ergueu-se e agradeceu ao cônsul e aos passageiros as generosas referências à sua pessoa; fora de fato uma grande provação, mas ele estava autorizado pelo capitão a anunciar o desejo expresso deste, de que se levassem a cabo todas as festividades do dia de Natal como se nada houvesse acontecido. Acrescentou, em confidência, que o capitão achava que o estado de espírito dos passageiros tinha-se tornado um tanto mórbido e todos haviam de lucrar se se divertissem bastante no dia de Natal. Depois levantou-se a senhora do missionário para dizer que eles não deviam pensar apenas em si mesmos; a Comissão de Diversões decidira armar um pinheiro de Natal para as crianças logo após o jantar da primeira classe e as crianças esperavam ver todos fantasiados; seria uma lástima decepcioná-las; ela não cedia a palma a ninguém no respeito aos mortos e simpatizava com todos aqueles cuja tristeza não os predispunha a dançar na ocasião; ela própria sentia o coração pesado, mas achava que seria mero egoísmo ceder a um sentimento que não podia trazer proveito a ninguém. Não esquecessem os pequeninos! Isto causou grande impressão nos passageiros. Desejavam esquecer o surdo terror que havia pairado sobre o navio durante tantos dias. Estavam vivos e queriam gozar a vida, mas pensavam, cheios de inquietude, que seria decente mostrar um certo pesar. O caso mudava de figura uma vez que podiam fazer o que desejavam por motivos altruísticos. Quando o cônsul pediu que se fizesse a votação, todos os presentes, salvo Mrs. Hamlyn e uma velha senhora que sofria de reumatismo, ergueram Avidamente o braço.
— Vencem os votos favoráveis disse ele. — Tomo a liberdade de dar os meus parabéns à assembleia por uma decisão muito sensata.
A reunião ia dispersar-se quando um plantador se pós em pé e disse que desejava apresentar uma sugestão. Não lhes parecia que nas circunstâncias seria mais justo convidar os passageiros de segunda classe? Todos eles tinham assistido ao serviço fúnebre naquela manhã. O missionário saltou da cadeira e apoiou a moção. Os acontecimentos daqueles últimos dias haviam aproximado a todos, disse ele, e em presença da morte todos os homens eram iguais. O cônsul tornou a dirigir a palavra à assembleia. O assunto fora discutido numa reunião anterior e chegara-se à conclusão de que seria mais agradável aos passageiros de segunda realizarem a sua festa à parte, mas as circunstâncias já não eram as mesmas e ele era positivamente de parecer que cumpria alterar a decisão anterior.
— Apoiado, apoiado! — disseram os passageiros.
Uma onda de sentimento democrático empolgou a todos e a moção foi aprovada por aclamação. Separaram-se desanuviados, sentindo-se o generosos e caritativos Todos pagaram drinks uns aos outros na sala de fumar.
E assim, nessa noite Mrs. Hamlyn pôs o seu traje de fantasia. Não tinha a menor disposição para uma noitada alegre e durante um momento pensou em alegar doença, mas sabia que ninguém lhe daria crédito e receou que a julgassem afetada. Fantasiou-se de Carmen e não pôde resistir à tentação vaidosa de fazer-se tão atraente quanto possível. Pintou os cílios e passou rouge nas faces. O costume ficava-lhe bem. Ao soar da trompa dirigiu-se para o salão e foi recebida com lisonjeiras exclamações de surpresa. O cônsul, sempre humorista, estava fantasiado de dançarina de balé. O seu aparecimento provocou gostosas gargalhadas. O missionário e a mulher, acanhados mas Satisfeitos consigo, estavam estupendos como manshus. Mrs. Linsell, de Colombina, mostrava tanto quanto possível as bonitas pernas. Seu marido era um xeque árabe e o médico, um sultão malaio.
Fizera-se uma subscrição para prover de champanha a mesa do jantar e este foi uma pândega. A companhia fornecera balas de estalo em que se encontravam barretes de papel de variadas formas, que os -passageiros puseram à cabeça. Atiravam-se serpentinas e jogavam balõezinhos de um lado ao Outro da sala. Riam e soltavam gritos. Estavam muito alegres. Ninguém poderia dizer que não se estavam divertindo. Assim que terminou o jantar passaram para o salão onde os aguardava o pinheiro de Natal, com as velas acesas. Trouxeram as crianças e estas receberam os seus presentes entre guinchos de prazer. Deu-se então início ao baile. Os passageiros da segunda classe rodeavam timidamente a parte do convés reservada aos dançadores e de quando em quando dançavam uns com os outros.
— Folgo em tê-los aqui — disse o cônsul, dançando com Mrs. Hamlyn. — Eu sou pela democracia e acho que eles mostram muito bom senso em não quererem misturar-se.
Mrs. Hamlyn, porém, deu pela falta de Pryce e na primeira oportunidade perguntou a um dos passageiros de segunda classe onde se achava ele.
— Curando a bebedeira — responderam-lhe. — Nós o pusemos na cama esta tarde e fechamos à chave a porta do camarote.
O cônsul convidou-a novamente para dançar. Estava muito faceto. De súbito Mrs. Hamlyn sentiu que já não podia suportar aquilo, a bulha da orquestra de amadores, as pilhérias do cônsul, a alegria dos dançadores. Não sabia por que motivo a jovialidade dessa gente que, dentro do seu navio, atravessava a noite e o mar solitário, a enchia de um repentino horror. Quando o cônsul lhe devolveu a liberdade ela esgueirou-se dali e, olhando para trás a fim de ver se ninguém dera pela sua retirada, subiu a escotilha para o.convés superior. Tudo ali estava envolto em trevas. Dirigiu-se de mansinho para um ponto em que estaria livre de intrusos, mas ouviu um riso abafado e lobrigou, a um canto escuro, uma colombina e um sultão malaio. Mrs. Linsell e o médico já haviam reatado o flerte que a morte de Gallagher viera interromper.
Toda essa gente já havia afastado do espírito, com uma espécie de ferocidade, a lembrança do pobre homem sem família que morrera entre eles de forma tão estranha. Não sentiam compaixão alguma dele, antes se ressentiam pelo momento de inquietude por sua causa. Agarravam-se à vida com avidez. Diziam piadas, namoravam, mexericavam. Mrs. Hamlyn lembrou-se do que tinha dito o cônsul: que entre os papéis de Mr. Gallagher não fora encontrada nenhuma carta, o nome de um só amigo a quem se pudesse enviar a notícia da sua morte, e não saberia dizer por que isso lhe parecia intoleravelmente trágico. Há qualquer coisa de misterioso num homem capaz de levar uma existência tão solitária neste mundo. Quando se lembrava de tê-lo visto embarcar em Singapura, havia tão pouco tempo ainda, tão saudável e robusto, tão cheio de vida, quando pensava nos seus intrépidos planos de futuro, era tomada de consternação. Terrificavam-na estas palavras do ofício fúnebre: "O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e cheio de inquietação. Surge e é cortado como a flor..." Ano após ano ele tinha feito os seus planos de futuro; tinha tamanho anseio de vida e tanta coisa para que viver... E justamente quando ia colher o fruto... Oh, aquilo era de cortar o coração; fazia parecer insignificantes todas as demais aflições deste mundo. A morte, com o seu mistério, era a única coisa de real importância.
Mrs. Hamlyn debruçou-se sobre a amurada e contemplou o céu estrelado. Por que os homens procuravam ser infelizes? Que chorassem a morte das criaturas amadas, pois a morte era sempre terrível, mas quanto ao resto, valia a pena tornar-se desgraçado, albergar no peito a maldade, ser vão e descaridoso? Pensou mais uma vez em si, no marido e na mulher a quem ele dedicava um amor tão inexplicável. Também ele dissera que nós temos muito pouco tempo para sermos felizes e que a morte dura uma eternidade. Mrs. Hamlyn refletiu longamente, concentradamente, e de súbito, como um relâmpago de verão que rasga as trevas da noite, fez uma descoberta que a encheu de trêmula surpresa: tinha visto que o seu coração já não abrigava nenhuma cólera contra o marido nem ciúme da sua rival. Em algum remoto horizonte da sua consciência foi nascendo uma ideia e, como o sol matinal, banhou-lhe a alma numa luz terna e bem-aventurada. Na tragédia da morte daquele irlandês desconhecido ela hauria exaltação e coragem para uma grande resolução. O seu coração começou a pulsar depressa; estava impaciente por levá-la a efeito. Um ímpeto apaixonado de sacrifício se havia apoderado dela.
A música cessara, estava findo o baile; a maioria dos passageiros devia ter ido para a cama e o resto estava sem dúvida na sala de fumar. Mrs. Hamley desceu para o seu camarote sem encontrar ninguém no caminho. Apanhou o bloco de papel e escreveu uma carta ao marido:
"Meu querido. Hoje é dia de Natal e quero dizer-te que o meu coração está cheio de bons sentimentos para com vocês dois. Fui muito tola e desrazoável. Creio que deveríamos deixar aqueles a quem amamos ser felizes como eles o entendem e amá-los o bastante para que isso não nos faça sofrer. Quero dizer-te que eu te concedo de bom grado essa ventura que de forma tão estranha surgiu na tua existência. Já não tenho ciúmes, não me sinto ofendida nem desejo vingar-me. Não julgues que eu seja infeliz ou que a solidão me seja muito pesada. Se um dia sentires necessidade de mim, volta para o meu lado e eu te acolherei com alegria, sem uma palavra de censura, sem a menor má vontade. Estou muito reconhecida pelos anos de felicidade e de ternura que me deste e em troca desejo oferecer-te uma afeição que não exige nada de ti e é, penso eu, absolutamente desinteressada. Guarda boas lembranças de mim e sê feliz, feliz, feliz..."
Assinou e pôs a carta num envelope. Embora ela só pudesse ser remetida quando chegassem a Port Said, fez questão de colocá-la imediatamente na caixa. Depois de fazê-lo começou a despir-se e olhou-se no espelho. Os seus olhos brilhavam e as faces tinham ganhado cor debaixo do rouge. O futuro já não lhe parecia desolado, mas róseo de esperança. Estendeu-se na cama e logo mergulhou num sono profundo e sem sonhos.
(Título original: P. & O.)
O posto avançado
O novo assistente chegou à tarde. Ao ser informado de que o prahu estava à vista, o residente, Sr. Warburton, pôs o capacete colonial e desceu até o cais flutuante. A guarda, composta de oito pequenos soldados daiaques, prestou-lhe continência à sua passagem. O residente notou com satisfação que exibiam aparência marcial, fardas asseadas e limpas, fuzis reluzentes. Eram o seu orgulho. Do cais podia observar a curva do rio, onde o barco ia aparecer dentro de um momento. Com as calças de linho irrepreensivelmente limpas, os sapatos brancos, sobraçando uma bengala de Malaca de castão dourado, presente do sultão de Perak, tinha um aspecto de real elegância. Aguardava o novo companheiro com sentimentos contraditórios. O distrito decerto dava trabalho demais para um homem só, e nas inspeções periódicas à região a seu cargo notara a inconveniência de deixar o posto nas mãos de um funcionário nativo; mas, como tinha sido ali por muito tempo o único homem branco, não podia encarar a chegada de outro sem certa desconfiança. Estava habituado à solidão. Durante a guerra não vira uma cara inglesa num período de três anos. Convidado certa vez a alojar um inspetor de plantações, sentiu-se tomado de pânico, e, no dia em que o forasteiro devia chegar, depois de ter preparado tudo para o acolher escreveu-lhe uma nota comunicando que fora obrigado a partir rio acima; fugiu e ficou fora até ser informado por um mensageiro de que o hóspede havia partido.
O prahu apareceu no trecho largo do rio. Tripulavam-no prisioneiros indígenas, condenados a diversas penas, e que dois guardas esperavam no cais para voltar com eles ao cárcere. Eram uns camaradas robustos, práticos do rio, que remavam num ritmo poderoso. Quando o barco atingiu a costa, um homem saiu de sob o toldo de folhas de palmeira e saltou na praia. A guarda apresentou armas.
— Afinal chegamos. Palavra de honra, estou machucado como todos os diabos! Trouxe-lhe sua correspondência.
Falava com exuberante jovialidade. O Sr. Warburton estendeu-lhe polidamente a mão:
— O Sr. Cooper, não é?
— Ele mesmo. Será que esperava outra pessoa?
Havia na pergunta um intuito faceiro, mas o residente não sorriu:
— Meu nome é Warburton. Vou-lhe mostrar sua residência. Eles vão levar sua mochila.
Tomando a frente a Cooper na vereda estreita, conduziu-o a um cercado com um pequeno bangalô no meio:
— Procurei torná-lo tão habitável quanto possível;; deve fazer uma porção de anos que ninguém mora mais aqui.
A casa, construída sobre estacas, consistia numa longa sala que dava para uma varanda larga; atrás, nos dois lados de um corredor, havia dois quartos de dormir.
— Isto me serve perfeitamente — disse Cooper. — Calculo que deseja tomar um banho e mudar de roupa. Terei muitíssimo prazer se quiser jantar comigo esta noite. As oito horas, está bem?
— Para mim, tanto faz esta ou aquela hora. Com um sorriso cortês, mas levemente embaraçado, o residente retirou-se. Voltou ao Fortim, onde ficava a sua própria morada. A impressão que lhe dera Allen Cooper não fora muito favorável; mas, homem direito, sabia ser injusto formular uma opinião depois de encontro tão rápido. O assistente parecia ter trinta anos; alto e magro, de rosto pálido, onde não se distinguia nem uma manchinha de cor, um rosto todo num único tom. Tinha o nariz grande e arqueado e olhos azuis. Quando, ao entrar no bangalô, retirou o capacete e o atirou a um criado, o Sr. Warburton observou que o seu crânio grande, coberto de cabelos castanhos cortados rente, contrastava de modo estranho com a pele fraca e fina. Usava um short cáqui e uma camisa da mesma cor, ambos coçados e sujos, e um capacete surrado que não recebia limpeza havia vários dias. Mas o Sr. Warburton lembrou-se de que o moço acabara de passar uma semana num navio de cabotagem e as últimas quarenta e oito horas no fundo de um prahu!
— "Veremos o aspecto que ele tem na hora do jantar." Entrou no próprio quarto, onde as suas coisas estavam dispostas com tanta ordem como se tivesse um camareiro inglês, despiu-se e, descendo pelas escadas à barraca de banho, tomou um banho de chuveiro frio. A concessão que fazia ao clima consistia apenas em usar smoking branco; quanto ao resto, vestia com tanto cuidado como se jantasse no seu clube de Pall Mall, camisa engomada e colarinho alto, meias de seda e sapatos envernizados. Hospedeiro atento, foi à sala de jantar ver se a mesa estava posta convenientemente. Alegravam-na umas orquídeas, a prataria brilhava, os guardanapos estavam dobrados em formas estudadas, velas matizadas espalhavam um luz suave do alto de candelabros de prata. O Sr. Warburton sorriu aprobativamente e voltou ao salão para esperar o hóspede. Cooper chegou. Estava ainda com o short cáqui, a camisa cáqui e o paletó surrado com que saltara. O sorriso de saudação gelou-se no rosto do residente.
— Olá, você está de uma elegância) — disse Cooper. Não sabia que você ia fazer isso. Imagine que quase botei um sarong.
— Não tem a menor importância. Suponho que seus criados estavam muito ocupados.
— Não era necessário incomodar-se e vestir-se por minha causa.
— Não foi por sua causa. Visto-me sempre para o jantar. — Mesmo quando está sozinho?
— Especialmente quando estou sozinho — replicou o Sr. Warburton fitando-o tom frieza.
Surpreendendo uma cintilação maliciosa nos olhos de Cooper, enrubesceu, zangado. O Sr. Warburton era homem de temperamento ardente, como o revelava o rosto vermelho de feições marciais e os cabelos ruivos, agora já meio brancos; os olhos azuis, observadores e geralmente frios, sabiam fuzilar num acesso de ira. Mas era homem de sociedade e, pelo menos assim pensava, homem justo. Devia fazer o possível para se dar com aquele rapaz.
— Quando eu vivia em Londres, frequentava círculos em que não se vestir para o jantar cada noite seria tão extravagante como não se lavar cada manhã. Quando cheguei a Bornéu, não vi nenhum motivo para abandonar um hábito tão bom. Na época da guerra, durante três anos não vi um único homem branco" Nem por isso deixei de vestir-me uma única vez sequer, desde que me sentisse bastante bem disposto para ir jantar. Você não passou ainda muito tempo nesta terra; creia-me, não há meio melhor para a gente manter a confiança em si próprio, de que necessita. Quando um branco cede, por menos que seja, às influências que o rodeiam, em breve perde o respeito de si mesmo, e uma vez que perdeu o respeito de si mesmo, pode estar certo de que os nativos também não demorarão em faltar-lhe com o respeito.
— Bem, se você espera que com este calor eu ponha camisa engomada e colarinho duro, receio causar-lhe uma desilusão.
— Quando você jantar em seu próprio bangalô, vestirá naturalmente como bem entender; mas quando me der o prazer de jantar comigo, talvez acabe admitindo que não é excessiva cortesia usar o traje habitual na sociedade civilizada.
Dois criados malaios, de sarong e songkok, de lindos paletós brancos e botões de bronze, entrara um trazendo pahits de gim, outro uma bandeja com azeitona e enchovas. O Sr. Warburton lisonjeava-se com ideia de ter o melhor cozinheiro de Bornéu, um chinês, e dava-se muito incômodo para arranjar a melhor comida possível nas difíceis condições do lugar. Punha em prática muita habilidade para fazer o melhor uso dos seus materiais.
— Não quer examinar o menu? — perguntou, oferecendo-o a Cooper.
O cardápio estava escrito em francês e os pratos tinham nomes sonoros. O serviço era feito pelos dois criados. Em cantos opostos da sala dois outros agitavam imensos leques, pondo em movimento o ar abafado. A comida era suntuosa, o champanha excelente.
— Janta assim todos os dias? — perguntou Cooper. O Sr. Warburton deitou um olhar negligente ao menu. — Não notei que o jantar fosse diferente do costumeiro — disse. — Por mim, como muito pouco, mas faço questão de que me sirvam um jantar decente todas as noites. Assim o cozinheiro não perde a prática e é uma ótima disciplina para os criados.
A conversa arrastava-se. O Sr. Warburton era de uma cortesia esmerada, e talvez achasse um prazer algo malicioso em observar o encabulamento que isto causava ao seu companheiro. Cooper passara apenas poucos meses em Sembulu, e o Sr. Warburton não tardou a esgotar todas as perguntas sobre amigos que tinha em Kuala Solor.
— A propósito — recomeçou — não encontrou um rapaz chamado Hennerley? Deve ter chegado há pouco.
— Encontrei, sim. Está na polícia. É um sujeito muito ordinário.
— Nunca teria pensado que ele fosse isto. Seu tio é meu amigo Lord Barraclough. Ainda outro dia tive uma carta de Lady Barraclough pedindo-me que tomasse conta dele.
— Realmente, ouvi dizer que ele é aparentado com este ou com aquele. Suponho que foi assim que obteve o emprego. Ele esteve em Eton e Oxford, e não se esquece de fazê-lo saber . a todos.
— Você me surpreende — disse o Sr. Warburton. — Toda a família dele esteve em Eton e Oxford durante centenas de anos. Para mim, ele devia considerar isto uma coisa natural.
— Pois é um pedante danado. — Você, qual foi a escola que frequentou? — Eu nasci em Barbado. Formei-me lá. — Estou vendo. O Sr. Warburton conseguiu dar a essa breve resposta um caráter tão ofensivo, que Cooper corou e ficou um momento sem falar.
— Pois eu recebi duas ou três cartas de Kuala Solor — continuou o Sr. Warburton — e tinha a impressão de que o jovem Hennerley fizera muito sucesso. Dizem que é sportsman de primeira ordem.
— Ah, sim, é muito popular. É exatamente o camarada de que eles precisavam em K. S. Por mim, não tenho esse sportsman de primeira ordem em grande estima. Afinal de contas, que importa que um homem saiba jogar golfe ou tênis melhor do que os outros? Mesmo que no bilhar saiba fazer um furo de setenta e cinco, que é que tem? Eles lá na Inglaterra dão uma importância danada a essa besteira toda.
— Você acha? Pois eu tinha a impressão de que o sportsman de primeira ordem não se saíra da guerra pior do que outro qualquer.
— Se você toca em guerra, aí é que eu sei de que estou falando. Servi no mesmo regimento que Hennerley e posso dizer-lhe que os seus homens não podiam aturá-lo de maneira nenhuma.
— Como pode saber?
— Pois se eu mesmo fui um desses homens!
— Ah, você não teve patente?
— Muita oportunidade tive de ter patente. Eu era o que se chamava colonial. Não tinha estado em nenhuma public school e faltava-me pistolão. Todo o tempo daquela guerra dos diabos, passei nas fileiras!
Cooper franziu as sobrancelhas. Percebia-se-lhe nitidamente o esforço para não explodir em invectivas. O Sr. Warburton observava-o, apertando os olhinhos azuis, observava-o e julgava-o. Mudando de assunto, pôs-se a falar-lhe da tarefa que devia executar, e, quando o relógio bateu dez horas, levantou-se:
— Bem, não quero retê-lo mais tempo. Deve estar cansado da viagem.
Apertaram-se as mãos. — Ah! já me ia esquecendo. Escute — disse Cooper. — Talvez você me possa arranjar um criado. Aquele que eu tinha não apareceu mais desde que parti de K. S. Depois de levar para bordo a minha mochila e tudo mais, desapareceu. Só dei pela falta dele quando já descíamos o rio.
— Vou falar com meu mordomo. Sem a menor dúvida, encontrará alguém para você.
— Muito bem. Diga-lhe que me mande o rapaz, e se eu gostar da cara dele, topo.
A lua estava no céu, de modo que não se precisava de lanterna. Cooper saiu do Fortim e dirigiu-se ao seu bangalô.
— "Quero saber por que diabo eles me mandaram um camarada desses — refletia Warburton. — Se é essa a espécie de gente que eles nos vão mandar de agora em diante, estamos bem arranjados."
Foi dar um passeio no jardim. O Fortim estava construído no topo de um pequeno morro e o jardim descia até à margem do rio, onde havia um caramanchão. O residente costumava ir até lá depois do jantar, fumar o seu charuto. Mais de uma vez, do rio que lhe corria aos pés subia uma voz, a voz de algum malaio demasiado tímido para se aventurar a manifestar-se à luz do dia, e uma acusação ou uma queixa lhe chegava docemente aos ouvidos, uma informação ou um palpite útil, que de outra maneira nunca viria ao seu conhecimento, eram-lhe comunicados num sussurro. Jogou-se com todo o peso do corpo numa cadeira de rotim. Cooper! Um camarada invejoso, malcriado, intrometido, cheio de vaidade, convencido. Mas a irritação do Sr. Warburton não pôde resistir à silenciosa beleza da noite. O ar recendia às flores de doce perfume de uma árvore plantada à entrada do caramanchão; os vaga-lumes prosseguiam seu voo lento e prateado, cintilando com branda luz. A Lua desenhava na largo rio um caminho para os leves pés da noiva de Siva, e na margem oposta uma fila de palmeiras recortava sobre o céu sua delgada silhueta. A paz infiltrou-se na alma do Sr. Warburton.
Era uma criatura original, e tivera uma carreira bastante fora do comum. Aos vinte e um anos herdara considerável fortuna, de umas cem mil libras, e ao deixar Oxford atirara-se à vida alegre que nesse tempo (agora o Sr. Warburton tinha quarenta e cinco anos) se oferecia ao filho de uma boa família. Tinha seu apartamento em Mount Street, seu coche e, em Warwickshire, seu pavilhão de caça. Ia a todos os pontos de reunião da alta sociedade. Bonito, divertido e generoso, era uma figura da sociedade londrina do começo do século, quando ela ainda não perdera nem o exclusivismo nem o brilho. A guerra dos bôers, que a sacudira, já estava esquecida; a guerra mundial, que devia destruí-la, era profetizada apenas pelos pessimistas. Não era coisa desagradável ser um jovem rico naqueles dias, e durante a estação via-se sobre a lareira de Warburton um mundo de convites para saraus ininterruptos. Warburton exibia-os com certa satisfação, pois era um esnobe. Não um esnobe tímido, um pouco envergonhado de se deixar impressionar pelos seus superiores, nem um esnobe que procurasse a intimidade de pessoas que se houvessem tornado famosas na política ou nas artes, nem o esnobe deslumbrado pela riqueza; era o esnobe comum, simples e inadulterado, apaixonado por qualquer lorde. Melindroso e de gênio vivo, preferiria a repreensão de uma pessoa de qualidade à lisonja de um plebeu. Seu nome tinha um lugar insignificante no Peerage de Burke, e era divertidíssimo observar com que ingenuidade costumava lembrar o longínquo parentesco que o ligava à família nobre a que pertencia; entretanto, nunca disse palavra a respeito do honesto industrial de Liverpool a quem, por intermédio de sua mãe, Gubbins em solteira, devia a sua fortuna. Constituía o pesadelo de sua vida elegante pensar que em Cowes, por exemplo, ou em Ascot, enquanto conversasse com uma duquesa ou um príncipe de sangue real, um de seus parentes de Liverpool poderia querer vir conhecê-lo.
Essa fraqueza era tão óbvia que não tardaria a tornar-se notória, mas a sua extravagância salvou-a de ser simplesmente desprezível. Os :grandes que ele adorava riam dele, mas no íntimo do ser achavam tal adoração bastante natural. Pobre Warburton era um esnobe terrível, sem dúvida, mas afinal de contas não deixava de ser um ótimo camarada. Sempre estava pronto a endossar uma letra para um fidalgo sem dinheiro, e em caso de aperto a gente podia sempre contar com ele para uma centena de libras. Dava bons jantares. Jogava mal o whist, mas não se importava com o que perdia, contanto que a companhia fosse seleta. Jogador, sim, por sinal jogador infeliz, mas sabia perder, e era impossível não admirar a calma com que perdia de uma assentada quinhentas libras. A paixão das cartas, quase tão forte como a paixão dos títulos, arruinava-o. Levava uma vida dispendiosa, e suas perdas no jogo eram enormes. Porém as mais pesadas teve-as em: corridas e na Bolsa. Tinha certa simplicidade de caráter. e parceiros inescrupulosos encontravam nele uma presa ingênua. Não sei se chegou a compreender que seus amigos elegantes riam dele pelas costas, mas penso que um instinto obscuro lhe dizia que devia mostrar-se invariavelmente despreocupado de seus interesses. Caiu nas mãos de prestamistas. Aos trinta e quatro anos estava arruinado.
Demasiadamente imbuído do espírito de sua classe, não hesitou na escolha do que devia fazer. Quando a um homem de sua situação se esgotavam todos os recursos, ele ia para as colônias. Ninguém ouviu um lamento sequer do Sr. Warburton. Não se queixou por lhe haver um de seus amigos nobres aconselhado uma especulação desastrosa, não importunou a nenhum de seus devedores para lhe devolverem o dinheiro emprestado; pagou as suas dívidas (nisto foi o sangue menosprezado do fabricante de Liverpool que se manifestou, mas felizmente Warburton nem o suspeitava), não pediu ajuda a ninguém e, sem nunca ter feito qualquer trabalho, procurou um meio de vida. Permanecia alegre, indiferente e cheio de humor. Não seria ele que havia de incomodar fosse quem fosse com o relato de seus infortúnios. O Sr. Warburton era um esnobe, mas era também um gentleman.
O único favor que pediu a um dos grandes amigos com quem diariamente convivera durante vários anos foi uma recomendação. O sábio homem, que então era sultão de Sembulu, chamou-o a seu serviço. Na véspera de partir, foi jantar no clube pela última vez.
— Ouvi dizer que você vai embora, Warburton — disse-lhe o velho Duque de Hereford.
— É verdade. Parto para Bornéu. — Deus do Céu! Que é que você vai fazer lá? Oh, estou arrebentado... — Está mesmo? Pois sinto muito. De qualquer maneira, avise-nos quando voltar. Estimo que passe uma boa temporada.
— Sem dúvida. Caça não falta por lá.
O duque inclinou a cabeça e passou para outra mesa. Poucas horas depois o Sr. Warburton via a costa da Inglaterra desaparecer na névoa e deixava atrás de si — tudo o que, a seu ver, fazia a vida digna de ser vivida.
Haviam decorrido vinte anos. Ele mantinha animada correspondência com várias grandes damas, e suas cartas eram loquazes e divertidas. Nunca perdeu a paixão pelas pessoas de título; lia atentamente o noticiário do Times (que lhe chegava com seis semanas de atraso) sobre as idas e vindas dessa gente. Estudava a fundo a página consagrada aos nascimentos, falecimentos e enlaces, e nunca deixava de enviar a sua carta de parabéns ou de pêsames. Os jornais ilustrados informavam-no acerca do aspecto das pessoas, e, por ocasião de suas visitas periódicas à Inglaterra, quando retomava as suas relações como, se nunca se tivessem interrompido, informava-se a respeito de qualquer figura nova que aparecesse à tona da sociedade. O seu interesse pelas altas rodas continuava tão vivo como quando ele fazia parte delas. Continuava a achá-la a única coisa importante do mundo.
Insensivelmente, porém, outro interesse entrara na sua vida. A posição em que se encontrava lisonjeava-lhe a vaidade. Já não era o sicofanta que suspirava por um sorriso dos grandes, mas um senhor cuja palavra tinha força de lei. Gostava da guarda de soldados daiaques que apresentavam as armas quando ele passava; da possibilidade que tinha de julgar seus próximos; da faculdade de compor as desavenças de chefes rivais. Quando, já fazia tempo, os caçadores de, cabeças se haviam tornado incômodos, partira para castigá-los, não sem um estremecimento de orgulho. A vaidade extrema inspirava-lhe uma coragem intrépida, e corria uma história bonita sobre a maneira como entrara, de sangue frio, sozinho, numa aldeia fortificada de paliçadas, para reclamar a entrega de um pirata sedento de sangue. Tornara-se um administrador hábil; era severo, justo e honesto.
Aos poucos foi concebendo afeição profunda aos malaios. Interessou-se pelos seus costumes e hábitos. Não se cansava de ouvir-lhes a palestra, admirava-lhes as virtudes e perdoava-lhes os vícios com um sorriso e um encolher de ombros.
— No meu tempo — dizia — tive relações íntimas com alguns dos maiores gentlemen da Inglaterra, mas nunca encontrei gentlemen mais finos do que alguns malaios de honrosa descendência a quem sinto orgulho em chamar meus amigos.
Admirava a cortesia e as maneiras distintas dos indígenas, sua delicadeza e suas paixões rápidas. O instinto lhe ensinava exatamente como tratá-los. Tinha para com eles verdadeira ternura. Jamais esquecia, porém, que era um gentleman inglês, e não tinha indulgência com os brancos que adotavam costumes nativos. Incapaz de concessões, não imitou o exemplo de tantos outros brancos que se casavam com mulheres malaias, porque uma ligação de tal natureza, embora consagrada pelo uso, parecia-lhe falta não somente de bom gosto como também de dignidade. Um homem a quem Alberto Eduardo, príncipe de Gales, chamara de Jorge, não podia ter ligação de qualquer espécie com nativos.
Mas ultimamente, ao voltar a Bornéu, de suas visitas à Inglaterra, sentia uma espécie de alívio. Seus amigos, como ele mesmo, já não eram jovens, e havia uma geração nova que o considerava um velho cavalheiro enfadonho. Tinha a impressão de que a Inglaterra de hoje perdera grande parte do que ele amara na Inglaterra de sua mocidade. Mas Bornéu permanecia o mesmo. Era agora a sua pátria. Tencionava servir o maior tempo possível, e no íntimo do coração esperava morrer antes de ser forçado a retirar-se. Determinou, aliás, no seu testamento, que, morresse onde morresse, lhe trouxessem o corpo a Sembulu para enterrá-lo no meio daquele povo a quem amava, perto do murmúrio do rio que corria suavemente.
Mas estas emoções guardava-as bem escondidas aos olhos dos homens; e ninguém, vendo-o tão guapo, vigoroso e bem disposto, o rosto forte e bem barbeado e os cabelos branquejantes, podia-lhe suspeitar um sentimento tão profundo.
Sabia como o serviço do posto tinha de ser feito, e durante os dias seguintes acompanhou o assistente com olhos suspeitosos. Logo, porém, se convenceu de que era consciencioso e competente. A única falha que nele achava eram suas maneiras bruscas para com os nativos.
— Os malaios são ariscos e muito sensíveis — disse-lhe. — Penso que acabará persuadindo-se que a gente obtém resultados muito melhores se procura ser sempre cortês, paciente e bondoso.
Cooper soltou um riso curto e áspero: — Nasci em Barbados e fiz a guerra na África. Acho que há pouca coisa relativa aos negros que eu não saiba.
— Por mim, eu não sei nada — respondeu o Sr. Warburton, azedo. — Mas não é deles que estamos falando. Estamos falando de malaios.
— Será que eles não são negros? — Você é muito ignorante — respondeu o Sr. Warburton. E não disse mais nada. No primeiro domingo depois da chegada de Cooper, convidou-o para o jantar. Fazia tudo cerimoniosamente, e, embora na véspera se houvessem encontrado no escritório e depois, às seis horas, bebido juntos, na varanda do Fortim, gim e tônicos, mandou-lhe ao bangalô, por um criado, um convite polido. Cooper, se bem que de má vontade, veio de smoking, e o Sr. Warburton, conquanto satisfeito de ver atendido o seu desejo, observou com desdém que a roupa do jovem estava mal cortada e que a camisa não lhe assentava bem. Mas o residente estava de bom humor naquela noite.
— A propósito — disse-lhe ao apertar-lhe a mão. — Falei com o meu mordomo para que lhe arranjasse um criado, e ele recomendou o sobrinho. Vi-o e tenho a impressão de que é um rapaz vivo e de boa vontade. Deseja vê-lo?
— Tanto faz.
— Ele está esperando. O Sr. Warburton fez vir o seu mordomo e mandou-o chamar o sobrinho. Ao cabo de um momento apareceu um rapaz alto e esbelto, dos seus vinte anos. Tinha os olhos grandes e escuros e um bom perfil, ótima aparência no seu sarong, um pequeno casaco branco e um fez sem borla, de veludo cor de ameixa. Atendia pelo nome de Abas. O Sr. Warburton fitou-o com aprovação, e, à medida que lhe falava, num malaio fluente e correto, o seu tom insensivelmente se foi abrandando. Tinha certa inclinação para o sarcasmo nas relações com gente branca, mas com os malaios exibia uma feliz mistura de condescendência e gentileza. Estava no lugar do sultão. Sabia perfeitamente como devia preservar a sua própria dignidade e, ao mesmo tempo, como por um nativo à vontade.
— Serve? — perguntou o Sr. Warburton, voltando-se para Cooper.
— Serve. Isto é, não me parece mais patife do que qualquer outro dos seus patrícios.
O Sr. Warburton informou o rapaz que estava admitido e mandou-o embora.
— Você tem muita sorte em encontrar um criado destes — disse a Cooper. — Pertence a uma família muito boa, que veio de Malaca há perto de cem anos.
— Pouco me importa o criado que me limpa os sapatos e me traz uma bebida quando quero tenha ou não sangue azul nas veias. Só exijo é que faça o que eu lhe digo e cuide da sua tarefa.
O Sr. Warburton mordeu os beiços, mas não respondeu.
Foram jantar. A comida era excelente, o vinho bom. Graças à influência destes os dois conversaram não somente sem acrimônia, mas até com amizade. O Sr. Warburton gostava de tratar-se bem, e adotara o hábito de na noite de domingo tratar-se ainda um pouco melhor. Começou a pensar que não procedera bem com Cooper. Evidentemente, não era um gentleman, mas disso não tinha culpa, e conhecendo-o melhor a gente podia até descobrir que era um ótimo sujeito. Suas falhas, afinal de contas, deviam ser falta de educação. Inegavelmente fazia bem o seu serviço, era um trabalhador rápido, consciencioso e competente. Quando chegaram à sobremesa, o Sr. Warburton estava em boa disposição para com toda a humanidade.
— Como é o seu primeiro domingo aqui, vou-lhe dar um porto muito especial. Restam-me apenas umas duas dúzias de garrafas, e guardo-as para ocasiões especiais:
Deu instruções ao mordomo e em breve a garrafa chegou. Enquanto a abria, o Sr. Warburton observou o rapaz:
— Recebi este porto de meu velho amigo Charles Hollington. Ele o conservou durante uns quarenta anos, e já faz tempo que eu o conservo aqui. Era conhecido como dono da melhor adega da Inglaterra.
— É um vendedor de vinhos? — Não exatamente — sorriu o Sr. Warburton. — Estava falando de Lorde Hollington de Castle Reagh. É um dos pares mais ricos da Inglaterra. Um velho amigo com quem me dou muito. Estive em Eton com o irmão dele.
Era uma oportunidade a que o Sr. Warburton nunca sabia resistir, e logo contou uma pequena anedota cuja graça única parecia consistir no fato de ele haver conhecido um lorde. O porto, era ótimo sem dúvida alguma; bebeu um copo, depois mais um. Perdia toda a precaução. Havia meses que não falava com um branco. Começou a contar histórias, nas quais aparecia em companhia dos grandes. Ouvindo-o, a gente pensaria que em certa época se formavam os gabinetes e se decidia a política de acordo com a sugestão que ele soprava ao ouvido de uma duquesa ou atirava à mesa para ser adotada com gratidão por um conselheiro confidencial do soberano. Os dias de outrora, de Ascot, Goodwood e Cowes, reviviam. Mais um porto. E vinham os grandes saraus de Yorkshire e da Escócia, por onde ele andara todos os anos.
— Eu tinha então um camareiro, certo Foreman, o melhor dos que já me serviram. Sabe por que me deixou? Na sala do mordomo, as criadas das senhoras e os criados dos gentlemen sentam-se conforme a hierarquia de seus amos. Pois ele disse-me que estava farto de assistir a contínuos saraus em que eu era o único plebeu. É que ele tinha sempre de ficar na extremidade da mesa, e quando o prato lhe chegava os melhores bocados já se tinham sumido. Contei esta história ao velho Duque de Hereford, e ele riu muito. — "Por Deus — disse — se eu fosse rei da Inglaterra, nomearia você visconde somente para dar uma oportunidade ao seu criado." — "Senhor Duque — respondi — empregue-o no seu serviço. o melhor camareiro que eu já tive." — "Está certo, Warburton — concordou ele — se serve para você, deve servir para mim também. Mande-o um dia destes."
Depois vinha Monte Carlo, onde o Sr. Warburton e o grão-duque Fiodor, jogando de parceria, rebentaram a banca uma noite; e depois Marienbad. Em Marienbad o Sr. Warburton jogara bacará com Eduardo VII.
— É claro, nesse tempo ele era apenas príncipe de Gales. Parece-me que o estou ouvindo dizer-me: "Jorge, se você jogar no cinco, perderá até a camisa." Tinha razão. Penso até que ele nunca disse nada mais certo em toda a sua vida. Era um homem admirável. Eu sempre digo que era o maior diplomata da Europa. Mas naqueles dias eu não passava de um jovem maluco, não tinha juízo para seguir esse conselho. Se o tivesse feito, se nunca tivesse jogado no cinco, talvez não estivesse aqui hoje."
Cooper observava-o. Seus olhos castanhos, profundamente encaixilhados nas órbitas, tinham um olhar duro e arrogante, e nos lábios havia um sorriso de escárnio. Ouvira falar bastante acerca do Sr. Warburton em Kuala Solor. Era boa praça, sem dúvida, e percorria o seu distrito com a pontualidade de um relógio. Mas que esnobe, meu Deus! Riam dele sem malícia, pois era impossível não gostar de homem tão generoso e amável. Cooper já tinha ouvido a história do Príncipe de Gales e da partida de bacará. Mas escutava-o sem indulgência. Desde o começo ficara ressentido com as maneiras do residente.
Muito sensível, molestava-o o sarcasmo cortês do Sr. Warburton, bem como o seu jeito de acolher uma observação de que discordava com silêncio aniquilador. Cooper vivera pouco na Inglaterra, e tinha particular aversão aos ingleses. Detestava particularmente os ex-alunos das public schools, da parte dos quais sempre receava uma atitude protetora. Temia de tal maneira as pessoas que pudessem dar-se ares importantes com ele, que, para preveni-las, ele mesmo se deu primeiro tais ares que o fizeram passar por insuportavelmente presumido.
— Bem — disse afinal — de qualquer maneira a guerra nos fez um benefício: esfacelou o poder da aristocracia. A guerra dos bôers o fez estremecer, e 1914 acabou com ele.
— De fato, as grandes famílias da Inglaterra estão condenadas à morte — disse o Sr. Warburton com a complacente melancolia de um émigré que lembrasse a corte de Luís XV. — Já não tem recursos para viver nos seus esplêndidos palácios, e sua hospitalidade principesca daqui a pouco será apenas uma recordação.
— O que, para mim, é a coisa mais certa do mundo.
— Meu pobre Cooper, que pode saber você das glórias da Grécia e do esplendor de Roma?
O Sr.. Warburton esboçou um gesto largo. Por um instante seus olhos pareceram sonhadores, cheios de uma visão do passado.
Pois acredite que estamos fartos de toda esta podridão. O que a gente quer é um governo de negócios, com homens de negócios. Eu nasci numa colônia da Coroa, e praticamente passei toda a minha vida nas colônias. Não dou uma dúzia de alfinetes por um lorde. O que estraga a Inglaterra, é o esnobismo. E se há uma coisa que eu detesto neste mundo é um esnobe.
Um esnobe! O rosto do Sr. Warburton ruborizou-se; os olhos fuzilaram-lhe de raiva. Era a palavra que o perseguira durante a vida toda. As grandes damas cuja companhia desfrutava quando moço, embora não considerassem excessiva a conta em que ele as tinha, haviam-lhe atirado mais de uma vez — até às grandes damas acontece ficarem zangadas — essa palavra terrível. Sabia, não podia deixar de saber, que havia gente odiosa que o chamava esnobe. Como aquilo. era incorreto! Pois ele mesmo não conhecia defeito mais detestável que o esnobismo. Afinal de contas, gostava era de viver com gente da sua laia, não se sentia bem senão na companhia deles; mas, pelo amor de Deus, como é que alguém podia chamar a isso de esnobismo? Não eram aves da mesma plumagem?
— Estou perfeitamente de acordo com você — respondeu. — Um esnobe é um homem que admira ou menospreza outro por ser este outro de situação social mais elevada que a dele. É o defeito mais comum da classe média inglesa.
Percebeu nos olhos de Cooper uma centelha de malícia. O assistente levou a mão à boca para esconder um sorriso largo que lhe aflorava aos lábios, tornando-o assim bem mais perceptível. As mãos do Sr. Warburton tremiam um pouco.
Provavelmente Cooper nunca soube quão gravemente ofendera o seu chefe. Embora fosse ele mesmo muito sensível, mostrava estranha insensibilidade aos sentimentos dos outros.
O serviço forçava-os a se encontrarem de vez em quando durante o dia, e às seis horas reuniam-se para beber um copo na varanda do Sr. Warburton. Era um hábito já estabelecido na região, e que o Sr. Warburton não quebraria por nada neste mundo. Mas faziam as refeições separados, Cooper no seu bangalô e o Sr. Warburton no Fortim. Terminado o trabalho no escritório, iam passear até o cair da noite, mas passeavam separados. Havia poucas veredas na região, onde o mato cingia por todos os lados as plantações da aldeia, e quando o Sr. Warburton via, de longe, o seu assistente caminhar a passos largos e negligentes, preferia dar um rodeio a encontrá-lo. Cooper, com a sua falta de maneiras, com a alta opinião que tinha de seu próprio juízo e com a sua intolerância, acabara por enervá-lo; mas somente depois de ele já haver passado alguns meses no posto é que se deu um incidente que transformou a antipatia do residente em vivo ódio.
O Sr. Warburton foi obrigado a fazer uma viagem de inspeção, e deixou o posto ao cargo de Cooper com mais confiança, visto que se convencera definitivamente de que se tratava de um camarada competente. Só não gostava da sua falta de indulgência. Era honesto, justo e consciencioso, mas não tinha simpatia para com os nativos. O Sr. Warburton divertia-se com certa amargura ao ver que esse homem, que se considerava a si mesmo como igual a qualquer outro, considerava tantos outros homens como inferiores a ele. Era duro, não tinha paciência com a mentalidade indígena e aterrorizava. Não tardou o Sr. Warburton a notar que os malaios antipatizavam com ele e, ao mesmo tempo, o temiam. Isto não lhe desagradava de todo, pois não gostaria muito que a popularidade do seu assistente rivalizasse com a sua.
O residente fez, pois, os seus requintados preparativos, partiu para a expedição e voltou ao cabo de três semanas. Entretanto o correio tinha chegado. A primeira coisa que lhe feriu os olhos ao entrar em seu salão foi um monte de jornais abertos. Cooper, que fora ao seu encontro, entrou com ele. O Sr. Warburton voltou-se para um dos criados que tinham ficado atrás e perguntou-lhe severamente o que queriam dizer aqueles jornais abertos. Cooper apressou-se em dar uma explicação:
— Queria ler tudo sobre o assassinato de Wolverhampton, e por isso apossei-me de seus Times. Trouxe todos de volta. Sabia que não se importaria com isso.
O Sr. Warburton virou-se para ele, branco de raiva: — Pois eu me importo. Importo-me até muito.
— Então sinto muito — disse Cooper com compostura. — Mas o fato é que simplesmente não pude esperar até sua volta.
— Admira-me que não tenha também aberto as minhas cartas.
Cooper, imóvel, sorria da exasperação do chefe: — Vamos e venhamos, não é exatamente a mesma coisa. Afinal de contas eu não podia imaginar que você se importaria que eu olhasse seus jornais. Eles nada contêm de particular.
— Pois eu acho inconvenientíssimo que qualquer pessoa leia meus jornais antes de mim.
Aproximou-se do monte de jornais; havia uns trinta números no mínimo:
— Acho a sua conduta simplesmente impertinente. Estão todos misturados.
— É facílimo pô-los em ordem — ponderou Cooper. E acompanhou-o à escrivaninha.
— Não toque neles! — gritou o Sr. Warburton.
— Parece-me infantil fazer uma cena por uma coisa à toa como esta.
— Como se atreve a falar-me assim?
— Vá para o inferno! — disse Cooper.
E saiu bruscamente da sala. O Sr. Warburton, tremendo de raiva, ficou contemplando seus jornais. O maior prazer de sua vida fora destruído por aquelas mãos calosas e grosseiras. A maior parte das pessoas que vivem fora dos centros, quando o correio chega, rasgam com impaciência o invólucro dos seus jornais e, tomando os mais recentes, começam por percorrer as últimas notícias do país. Não era este o caso do Sr. Warburton. O seu jornaleiro tinha ordem de escrever na cinta de cada número a respectiva data. Ao chegar o pacote, o Sr. Warburton olhava para estas datas e numerava os exemplares com seu lápis azul. O mordomo, por sua vez, tinha ordem de por na varanda um exemplar todas as manhãs, com a taça de chá, e era para o Sr. Warburton um especial prazer rasgar a cinta enquanto servia a bebida, e ler o matutino. Dava-lhe isto a impressão de viver na Inglaterra. Cada segunda-feira lia o Times da segunda-feira de seis semanas atrás, e assim por diante a semana inteira. Nos domingos lia The Observer. Tal como o seu hábito de vestir smoking para o jantar, era mais um vínculo que o ligava à civilização. E orgulhava-se de, por mais interessantes que fossem as notícias, nunca ter cedido à tentação de abrir um jornal antes do tempo marcado. Durante a guerra a incerteza chegava a ser às vezes intolerável, e quando lhe acontecia ler que se iniciara um assalto, experimentava verdadeira agonia, à qual poderia ter escapado da maneira mais simples do mundo, abrindo o jornal do dia seguinte, que lá esperava numa prateleira. Fora a prova mais difícil a que já se tinha exposto, mas saíra-se dela vitoriosamente. E o louco daquele animal rasgara os lindos pacotes para saber se alguma horrível mulher matara ou não o seu hediondo marido.
O Sr. Warburton chamou o mordomo e pediu-lhe outras cintas. Dobrou os jornais tão bem quanto pôde, envolveu cada um deles com uma cinta e numerou-os. Mas era uma tarefa melancólica.
— Nunca o perdoarei — disse. — Nunca.
Naturalmente o mordomo o acompanhara na expedição; o Sr. Warburton nunca viajava sem ele, pois o rapaz sabia exatamente como ele queria as coisas e o residente não era da espécie de viajantes da jângal que consentem em desistir de parte de suas comodidades; entretanto, no período decorrido desde a sua chegada o mordomo já encontrara tempo de tagarelar um pouco nos quartos dos criados. Soube que Cooper tivera desinteligência com o pessoal. Todos o abandonaram, menos o jovem Abas. Abas queria ir-se embora também, mas, como fora colocado por seu tio conforme as ordens do residente, não se atreveu a partir sem a autorização do tio.
— Eu lhe disse que fez bem, Tuan — contou o mordomo. — Mas Abas está infeliz. Ele diz que o lugar não é bom e pergunta se pode partir com os outros.
— Não, ele deve ficar. O Tuan tem de ter criados. Os que partiram foram substituídos?
— Não, Tuan. Ninguém quer ir.
O Sr. Warburton franziu as sobrancelhas. Cooper era um insolente e um louco, mas, ocupando uma posição oficial, devia ter o número conveniente de criados. Não era possível que sua casa não fosse decentemente servida.
— Onde estão os homens que se foram?
— Estão no kampong.
— Procure-os hoje de noite e diga-lhes que espero que voltem à casa de Tuan Cooper amanhã bem cedinho.
— Eles dizem que não vão.
— Se eu mandar?
O mordomo estava com o Sr. Warburton fazia quinze anos e conhecia cada entonação da voz do amo. Não tinha medo dele, pois haviam atravessado juntos muitas dificuldades; uma vez, no mato, o residente salvara-lhe a vida, e em outra ocasião, arrastados os dois pela corrente, o residente se teria afogado no rio se não fosse o mordomo; sabia, porém, quando o residente devia ser obedecido sem questionar.
— Vou já ao kampong — disse. O Sr. Warburton esperou que o seu subordinado aproveitasse a primeira ocasião para se desculpar daquela grosseria; mas Cooper, como acontece aos homens de educação defeituosa, não tinha jeito para expressar um arrependimento. Assim, quando no dia seguinte se encontraram no escritório, não se referiu ao caso. Como o Sr. Warburton estivera fora durante três semanas, era indispensável conversarem demoradamente. No fim da palestra, o Sr. Warburton despediu-o:
— Muito obrigado. Acha que é só isso. Cooper voltou-se para sair, mas o Sr. Warburton deteve-o: — Ouvi dizer que teve algum desentendimento com o seu pessoal.
Cooper soltou um riso desagradável: — Tentaram me chantagear. Tiveram a insolência de fugir; todos, menos o incompetente do Abas... até compreendeu como estava bem de vida, mas eu aguentei o repuxo... Todos eles voltaram ao serviço.
— O que quer dizer com isso?
— Esta manhã todos estavam de volta, ocupados nas suas tarefas, o cozinheiro chinês e todos os demais. Todos estavam lá, como se nada houvesse acontecido. Até parecia que eles tinham direito ao lugar. Provavelmente acabaram compreendendo que não sou tão bobo como pensavam.
— Nada disso... Voltaram por minha ordem expressa.
Cooper corou levemente: — Gostaria muito que não se metesse nos meus assuntos particulares.
— Esses assuntos não são particulares. Se seus criados fogem, isso o torna ridículo. Você tem toda a liberdade de se tornar ridículo, mas não posso admitir que os outros escarneçam de você. É inadmissível que sua casa não seja convenientemente servida. Mal ouvi que seus criados o deixaram, dei-lhes ordem imediatamente para voltarem hoje de manhã. É só isso.
O Sr. Warburton fez um sinal com a cabeça para significar que a entrevista chegara ao fim. Mas Cooper não deu importância:
— Quer saber o que eu fiz? Chamei-os e despedi toda a corja. Dei-lhes dez minutos para saírem do cercado.
O Sr. Warburton encolheu os ombros: — O que o leva a pensar que encontrará outros?
— Mandei meu auxiliar cuidar do negócio.
O Sr. Warburton refletiu um instante: — Acho que você se comportou muito levianamente. Andará acertado se de agora em diante se lembrar de que os bons patrões fazem os bons criados.
— Tem mais alguma coisa para me ensinar?
— Gostaria de lhe ensinar modos, mas seria trabalho árduo e não tenho tempo a perder. Vou ver se lhe arranjo outro pessoal.
— Não se incomode por minha causa. Sou capaz de resolver o assunto sozinho.
O Sr. Warburton riu amarelo. Tinha a intuição de que Cooper antipatizava não menos com ele do que ele com Cooper, e sabia que não há nada mais irritante do que a gente se ver forçada a aceitar favores da pessoa que detesta.
— Permita-me dizer-lhe que não tem mais probabilidade de encontrar aqui, presentemente, criados malaios ou chineses do que um mordomo inglês ou um cozinheiro francês. Ninguém quererá servi-lo a não ser que eu mande. Quer que providencie?
— Não.
— Bem, como quiser. Até logo.
O Sr. Warburton acompanhou o desenvolvimento da situação com azedo humorismo. O auxiliar de Cooper foi incapaz de persuadir malaios, daiaques ou chineses a entrarem a serviço de tal patrão. Abas, o criado que lhe ficou fiel, só sabia cozinhar a comida nativa, e Cooper, embora não tivesse paladar fino, sentia a garganta revoltada com o eterno arroz. Não havia carregador de água, e no auge do calor Cooper precisava tomar vários banhos por dia. Xingava Abas, mas este lhe opunha uma resistência soturna, recusando-se a fazer mais do que julgava necessário. Era irritante saber que o rapaz não permanecia com ele senão a instâncias do residente. As coisas continuaram neste pé quinze dias, quando, certa manhã, encontrou em casa os mesmos criados a quem despedira. Teve um acesso de raiva, mas tomara juízo, e dessa vez deixou-os ficar, sem dizer uma palavra. Engolia a humilhação, mas o desprezo impaciente que sentira pelas idiossincrasias do Sr. Warburton transformou-se em ódio sombrio: com a peça que lhe pregara, o residente o tornara objeto de escárnio de todos os nativos.
Agora os dois homens já não tinham contato um com o outro. Romperam até o costume, consagrado pelo tempo, de beber às seis da tarde um copo com qualquer homem branco que estivesse no posto, independentemente de simpatias ou antipatias. Vivia cada um na sua própria casa como se o outro não existisse. Agora que Cooper entrara na rotina, pouco tinham que discutir no escritório. Os recados ao assistente, o Sr. Warburton mandava-os pela ordenança; as instruções, enviava-as em cartas formais. Viam-se constantemente, sem dúvida, mas não trocavam meia dúzia de palavras por semana. O fato de não poderem deixar de se ver enervava ambos. Incubavam o antagonismo, e o Sr. Warburton, ao dar seu passeio diário, não podia pensar em outra coisa senão no quanto detestava o assistente.
O que havia de espantoso era imaginar que, segundo todas as probabilidades, viveriam assim, encarando-se reciprocamente com aquela inimizade mortal, até o Sr. Warburton partir em licença, quer dizer, dali a uns três anos. Ele não tinha motivo para mandar uma queixa ao quartel-general, pois Cooper cumpria seu dever muito bem e naquele momento não era fácil encontrar gente. Chegavam-lhe, é verdade, algumas vagas queixas; alusões insinuavam que os nativos achavam Cooper muito áspero. Decerto havia entre eles um sentimento de insatisfação. Mas, do exame de casos concretos, tudo o que o Sr. Warburton podia concluir reduzia-se a isto: Cooper mostrara severidade nos casos em que a brandura não seria descabida ou se revelara insensível nas circunstâncias em que ele, Warburton, teria sido compreensivo; nada fizera, porém, que autorizasse uma repreensão. O Sr. Warburton, no entanto, vigiava-o. Muitas vezes o ódio torna os homens clarividentes: assim, tinha o residente a suspeita de que Cooper tratava os nativos sem consideração, embora dentro da lei, simplesmente por sentir que era este o melhor modo de exasperar o seu chefe. Um dia talvez se deixasse ir longe demais. Ninguém sabia melhor do que o Sr. Warburton quanto o calor incessante nos pode tornar irritáveis e como é difícil manter o autodomínio depois de uma noite passada em claro. Sorria consigo mesmo: cedo ou tarde, Cooper se entregaria em suas mãos.
Quando chegou afinal, a oportunidade, o Sr. Warburton riu alto. Cooper encarregava-se dos prisioneiros que faziam estradas, construíam barracas, remavam quando era necessário mandar o prahu rio acima ou rio abaixo, mantinham a cidade em ordem e ocupavam-se, em geral, de alguma tarefa útil. Os bem comportados até executavam serviços caseiros. Cooper apertava-os. Gostava de vê-los trabalhar, de descobrir tarefas para eles. Bem cedo os prisioneiros compreenderam que queriam empregá-los em trabalhos inúteis, e logo trabalharam mal. Cooper castigava-os prolongando as horas de trabalho, contra o regulamento. Mal informado da coisa, o Sr. Warburton, sem transmitir a informação ao subordinado, deu instruções para que se restabelecesse o horário antigo. Cooper, ao sair para seu passeio, ficou aturdido de ver os prisioneiros voltarem vagarosamente à cadeia; tinha dado ordens para que não cessassem o trabalho antes do anoitecer. Perguntou ao guarda de plantão por que terminavam mais cedo, e foi-lhe respondido que eram ordens do residente.
Branco de raiva, correu ao Fortim. O Sr. Warburton, em sua calça de linho irrepreensivelmente limpa e seu elegante capacete, de bengala na mão, ia saindo com seus cães, para dar a voltinha da tarde. Observara Cooper, e sabia que chegaria pelo caminho da margem do rio. Cooper subiu a escada aos saltos e enfrentou o residente:
— Gostaria de saber por que diabos você contrariou minha ordem de que os prisioneiros deviam trabalhar até as seis! — bradou, fora de si.
O Sr. Warburton escancarou seus frios olhos azuis e assumiu uma expressão de viva surpresa:
— Está doido? Ou será tão ignorante que não saiba que não se fala nesse tom com o superior?
— Vá para o inferno! Os prisioneiros são da minha alçada e você não tem o direito de se intrometer nisso. Faça você seu trabalho, e eu farei o meu. Não compreendo por que diabos quer me ridicularizar. Todos aqui ficaram sabendo que contrariou minha ordem.
O Sr. Warburton manteve-se imperturbável:
— Você não tinha o direito de dar a ordem que deu. Contrariei-a porque era dura e tirânica. Aliás, acredite-me, contribuí bem menos para torná-lo ridículo do que você mesmo.
— Você antipatizou comigo desde o momento em que cheguei aqui. Fez tudo para tornar minha situação insustentável, só porque eu não quis lamber suas botas. Você me apunhalou porque eu não quis bajulá-lo.
Balbuciando de raiva, Cooper aproximava-se de um terreno perigoso. Os olhos do Sr. Warburton, de repente, tornaram-se mais frios e mais penetrantes:
— Você está enganado. Vi que você é uma pessoa ordinária, mas fiquei inteiramente satisfeito com a maneira como desempenhava a sua tarefa.
— Você é um esnobe. Um esnobe danado. Viu que sou uma pessoa ordinária porque eu não tinha estado em Eton. Bem me disseram em K. S. o que me esperava. Então não sabe que é motivo de riso em toda a região? Não sei como não dei uma gargalhada quando você me contou sua famosa história sobre o príncipe de Gales. Que hilaridade no clube quando a contaram! Palavra de honra, prefiro ser o ordinário que sou a ser o esnobe que você é.
Desta vez tocara na ferida. — Se não sair da minha casa neste instante, desanco-o! — gritou o Sr. Warburton.
O outro aproximou-se dele e encarou-o de perto: — Pois me toque! Por Deus, gostaria de ver você bater em mim. Quer que lhe diga outra vez? Esnobe, esnobe.
Cooper tinha três polegadas a mais que o Sr. Warburton, e era moço, forte, musculoso. O Sr. Warburton era barrigudo e tinha cinquenta e quatro anos. Seu punho cerrado abateu-se, mas Cooper segurou-o pelo braço e empurrou-o para trás:
— Não seja louco. Lembre-se de que eu não sou um gentleman. Sei como usar as minhas mãos.
Soltou um grito inarticulado e, com uma careta no rosto pálido e anguloso, pulou as escadas da varanda. O Sr. Warburton, cujo coração, de raiva, batia nas costelas, caiu numa poltrona, exausto. Durante um terrível momento esteve a ponto de chorar. Mas de repente percebeu que o mordomo se achava na varanda, e instintivamente retomou o domínio de si mesmo. O criado avançou e trouxe-lhe um copo de uísque e soda. Sem uma palavra bebeu-o de um gole.
— O que quer me dizer? — perguntou ao rapaz, procurando forçar os lábios para um sorriso.
— Tuan, o Tuan assistente é um homem mau. Abas quer de novo deixá-lo.
— Diga que espere um pouco. Escreverei para Kuala Solor e pedirei que o Tuan Cooper vá para outro lugar.
— O Tuan Cooper não é bom com os malaios.
— Deixe-me.
O rapaz retirou-se em silêncio, deixando o Sr. Warburton sozinho com seus pensamentos. Via o clube de Kuala Solor, os homens sentados em torno da mesa, à janela, de roupas de flanela, forçados, com o cair da noite, a abandonar os terrenos de golfe e tênis, bebendo uísque e gin pahits e rindo enquanto contavam a famosa história do príncipe de Gales e dele, Warburton, em Marienbad. A vergonha e o sofrimento o esquentavam. Um esnobe! Todos eles o consideravam um esnobe. E ele que sempre os considerara ótimos rapazes, que sempre fora gentleman o bastante para não fazê-los se sentirem de segunda categoria! Agora odiava-os. Mas o ódio que eles lhe inspiravam nada era comparado ao que sentia em relação a Cooper. E se houvessem chegado às vias de fato, Cooper poderia ter lhe dado uma sova. Lágrimas de mortificação percorriam sua face vermelha e gorda. Ficou sentado ali horas a fio, fumando cigarros e cigarros e desejando estar morto.
Enfim o mordomo voltou e perguntou se não queria se vestir para o jantar.
Levantou-se da cadeira, cansado, pôs a camisa engomada e o colarinho alto: Sentou-se à mesa decorada com gosto, e era servido, como de costume, por dois criados, enquanto dois outros agitavam grandes leques. A uma distância de duzentas jardas, ali no bangalô, Cooper tomava uma refeição imunda, vestindo apenas um sarong e um baju, descalço, e, enquanto comia, lia provavelmente um romance policial.
Depois do jantar o Sr. Warburton sentou-se para escrever uma carta. O sultão estava ausente, mas ele escreveu, particular e confidencialmente, ao substituto. Cooper executava o seu trabalho muito bem, mas o fato era que não podia se dar com ele de modo nenhum. Ambos enervavam terrivelmente um ao outro, e por isso consideraria grande favor se Cooper pudesse ser transferido para qualquer outro posto.
Expediu a carta na manhã seguinte por um correio especial. A resposta veio ao cabo de uma quinzena, com a correspondência mensal. Era uma nota particular, concebida nestes termos:
"Meu Caro Warburton,
Não querendo responder-lhe oficialmente, escrevo-lhe em meu nome estas poucas linhas. Naturalmente, se você insistir, levarei o assunto ao sultão, mas acho que seria muito mais oportuno você deixar de mão o caso. Sei que Cooper é um diamante tosco, mas é um rapaz de valor, fez bem sua parte da guerra, e por tudo isso acho que lhe devemos dar todas as oportunidades. Parece-me que você é um pouco inclinado demais a atribuir importância à posição social das pessoas. Lembre-se de que os tempos mudaram. Sem dúvida, é uma coisa ótima alguém ser um gentleman, mas é ainda melhor ser competente e saber trabalhar. A meu ver, se você se mostrar tolerante, acabará se dando muito bem com Cooper.
Afetuosamente seu,
Richard Temple."
A carta caiu das mãos do Sr. Warburton. Era fácil ler nas entrelinhas. Dick Temple, que ele conhecia de vinte anos antes, Dick Temple, que procedia de uma família até muito boa de um dos condados, considerava-o um esnobe, e por isso não atendia ao seu pedido. O Sr. Warburton sentiu-se de repente sem ânimo de viver. O mundo de que ele fazia parte havia passado, e o futuro pertencia a outra geração, mais vulgar, representada por Cooper, a quem ele odiava de todo coração. Estendeu a mão para encher o copo. A esse gesto, o mordomo aproximou-se.
— Não sabia que você estava aqui.
O rapaz apanhou a carta no chão. Ah, era aquela que ele esperava!
— Será que o Tuan Cooper vai embora, Tuan?
— Não.
— Haverá uma desgraça.
Durante um momento as palavras não transmitiram nada a sua lassidão. Mas foi um momento só. Ergueu-se na poltrona e olhou para o rapaz com a mais viva atenção:
— Que quer dizer com isso?
— O Tuan Cooper não procede direito com Abas.
O Sr. Warburton encolheu os ombros. Poderia lá um homem da espécie de Cooper saber como tratar criados! Conhecia bem o tipo: ora seria grosseiramente familiar com eles, ora se mostraria rude e irrefletido.
— Então mande Abas voltar à família dele.
— O Tuan Cooper retém o salário dele para que ele não possa fugir. Faz três meses que não lhe paga nada. Digo-lhe que tenha paciência, mas ele está muito irritado e não quer ouvir meu conselho. Se o Tuan continuar a tratá-lo mal, haverá uma desgraça.
— Fez bem em me falar. Que louco! Conhecia tão mal os malaios que pensava poder maltratá-los sem consequências? Se um dia amanhecesse com um kriss nas costas, seria bem feito.
Sim, um kriss. O coração do Sr. Warburton como que ficou parado por um instante. Era só deixar as coisas seguirem seu curso normal, e um belo dia ficaria livre de Cooper. Lembrou-se da expressão "passividade magistral", e teve um leve sorriso. E o coração tornou a bater-lhe um pouco mais fortemente, pois via o homem a quem odiava de bruços numa das veredas da jângal, com uma faca enterrada nas costas: fim digno daquele valentão ordinário. O Sr. Warburton soltou um suspiro. Era seu dever avisá-lo; não podia deixar de fazê-lo. Escreveu uma breve nota formal a Cooper convidando-o a comparecer ao Fortim imediatamente.
Ao cabo de dez minutos Cooper estava diante dele. Desde o dia em que o Sr. Warburton quase lhe batera, não se falaram mais. Não o convidou a sentar-se.
— Queria me falar? — perguntou Cooper. Estava desalinhado, uma limpeza duvidosa. Tinha o rosto e as mãos cobertos de pústulas vermelhas, por haver coçado até sangrar os pontos da pele mordidos por mosquitos. O rosto comprido e chupado tinha um aspecto sombrio.
— Vim a saber que está novamente em desinteligência com os criados. Abas, sobrinho do meu mordomo, queixa-se de que você lhe retém o salário há três meses. Considero isso um procedimento sumamente arbitrário. O rapaz quer deixá-lo, e eu decerto não o reprovo. Tenho que insistir para que pague o que lhe deve.
— Eu não desejo que ele me deixe. Estou retendo o salário dele como garantia do seu bom comportamento.
— Você não conhece o caráter malaio. Os malaios são muito sensíveis às ofensas e ao ridículo. São apaixonados e vingativos. É meu dever avisá-lo que, se você empurrar esse moço além de certo ponto, correrá grande risco.
Cooper abafou um riso insolente: — O que acha que ele vai fazer?
— Acho que ele vai matá-lo.
— Que lhe importa isso?
— De fato, importa-me muito pouco — replicou o Sr. Warburton com um riso leve. — Suportaria com grande força de alma. Mas considero minha obrigação oficial dar-lhe um aviso oportuno.
— Pensa então que estou com medo de um maldito negro?
— Que esteja ou não, isso me é de todo indiferente.
— Pois fique sabendo de uma coisa. Eu sei muito bem cuidar dos meus negócios. Esse Abas é um malandro, um ladrão ordinário, e se continuar com suas macaquices, por Deus, vou torcer o pescoço dele.
— Era tudo o que eu tinha a dizer — declarou o Sr. Warburton. — Boa-noite.
Despediu-o com um gesto de cabeça. Cooper corou e, depois de ficar um momento sem saber o que fizesse ou dissesse, deu as costas e saiu da sala tropeçando. O Sr. Warburton ficou olhando com um sorriso glacial nos lábios. Cumprira seu dever. Mas o que teria pensado se soubesse que Cooper, de volta a seu bangalô, tão silencioso e triste, se atirara na cama e, perdendo toda a serenidade, em sua terrível solidão começara a chorar, com o peito sacudido por soluços dolorosos e as magras faces molhadas de lágrimas pesadas?
Depois, raras vezes o Sr. Warburton vira Cooper, e nunca mais lhe falara. Lia o seu Times todas as manhãs, executava seu trabalho no escritório, fazia exercícios, vestia-se para o jantar e ia sentar-se à margem do rio fumando seu charuto. Quando encontrava Cooper, fazia que não o via. Ambos, embora nem um instante sequer esquecessem a proximidade, agiam como se o outro não existisse. O tempo não lhes abrandava a animosidade. Cada um deles vigiava as ações do outro e sabia o que o outro estava fazendo. O Sr. Warburton, embora tivesse na mocidade sido um ótimo atirador, acabou, com os anos, por sentir certo horror a matar os bichos na jângal, ao passo que nos domingos e feriados Cooper saía sempre com sua espingarda. Se pegasse alguma coisa, era um triunfo sobre o Sr. Warburton; se não, o Sr. Warburton encolhia os ombros com um sorriso de desprezo. Esses caixeiros bancando sportsmen!
O Natal foi ruim para ambos. Jantaram sozinhos, cada qual no seu quarto, e embriagaram-se por gosto. Eram os dois únicos brancos num raio de duzentas milhas, e moravam à distância de um grito. No começo do ano Cooper pegou uma febre, e o Sr. Warburton, voltando a encontrá-lo, notou com surpresa como emagrecera. Tinha um aspecto doentio e gasto. A solidão, tanto menos natural quanto não era devida a uma necessidade, enervara-o totalmente. Ao Sr. Warburton, aliás, também, de tal modo que muitas vezes não conseguia dormir. Passava as noites em claro, meditando. Cooper bebia muito, e sem dúvida nenhuma a crise não se faria esperar; entretanto, em seus contatos com os nativos evitava cuidadosamente fazer qualquer coisa que o pudesse expor a uma repreensão do residente. Os dois homens estavam empenhados numa guerra terrível e silenciosa. Era como um teste de pertinácia. Passavam-se os meses, e nenhum dos dois dava sinais de enfraquecimento. Eram como homens que morassem em regiões de eterna escuridão, de alma oprimida à ideia de que o dia nunca raiaria para eles. Parecia que sua vida continuaria para sempre na monotonia soturna e repelente daquele ódio.
E quando, afinal, o inevitável aconteceu, golpeou o Sr. Warburton com toda a força de um acontecimento inesperado. Cooper acusou o criado Abas de ter-lhe roubado roupas, e como o rapaz negasse o roubo, pegou-o pela nuca e o fez rolar pelas escadas do bangalô. O rapaz pediu as contas, ao que Cooper lhe atirou ao rosto todas as afrontas que sabia. Se o encontrasse dentro do cercado ao cabo de uma hora, o entregaria à polícia. No dia seguinte o rapaz esperou-o fora do Fortim na sua passagem para o escritório, e pediu-lhe o ordenado outra vez. Cooper bateu-lhe no rosto com o punho cerrado. O criado caiu no chão e foi embora com o nariz gotejando sangue.
Cooper continuou e sentou-se à sua mesa. Mas não podia prestar atenção ao trabalho. O golpe que dera acalmou sua irritação e compreendeu que tinha se excedido. Estava aborrecido, sentia-se mal, miserável e sem ânimo. O Sr. Warburton trabalhava na peça contígua. Por um instante pensou em ir contar o que fizera. Fez um movimento com a cadeira, mas logo se lembrou do glacial desdém com que o residente escutaria a história. Parecia estar vendo seu sorriso protetor. Durante um momento receou o que Abas faria. Warburton tivera razão em avisá-lo. Suspirou. Que loucura acabara de cometer! Mas encolheu os ombros, impaciente. Não se importava com tudo aquilo: destino grandioso o que o esperava! Tudo aquilo era culpa de Warburton. Se não o tivesse acolhido com antipatia, nada teria acontecido. Desde o começo transformara sua vida num inferno, aquele esnobe. Mas todos eles eram assim... só porque ele, Cooper, era um colonial. Também que safadeza não lhe terem dado sua patente na guerra! Não se batera tão bem quanto qualquer outro? Todos eles não passavam de uma cambada de esnobes nojentos. Preferia levar o diabo a ceder. Sem dúvida, Warburton teria ciência do acontecido: o demônio do velho sabia de tudo. Mas não estava com medo. Nenhum malaio de Bornéu lhe metia medo, e Warburton que se danasse..
Tinha razão em pensar que o Sr. Warburton viria a saber de tudo. O mordomo contou-lhe o caso durante o lanche.
— Onde está agora o seu sobrinho?
— Não sei, Tuan. Foi embora.
O Sr. Warburton não falou mais. Depois do lanche dormiu um pouco, como de costume, mas desta vez acordou bem cedinho. Seus olhos se dirigiram maquinalmente para o bangalô onde Cooper descansava.
Idiota! O Sr. Warburton teve alguns momentos de hesitação. Sabia aquele homem o perigo que enfrentava? Devia chamá-lo. Cada vez, porém, que procurava raciocinar com Cooper, este o insultava. Uma onda de raiva brotou de repente do coração do Sr. Warburton: as veias sobressaíram em sua fronte e cerrou os punhos. Tinha advertido aquele grosseirão: agora, ele que aguentasse as consequências. Não tinha nada com isso, e se acontecesse alguma coisa não teria a menor culpa. Mas talvez eles lá em Kuala Solor acabassem por se arrepender de não haver, seguindo seu conselho, transferido Cooper para outro lugar.
Passou a noite numa inquietação estranha. Depois do jantar ficou passeando na varanda. Quando o criado ia se recolher, o Sr. Warburton perguntou-lhe se Abas tinha sido visto durante o dia.
— Não, Tuan. Acho que talvez tenha voltado à aldeia do irmão da mãe.
O Sr. Warburton lançou-lhe um olhar penetrante, mas o mordomo fitava a terra e os olhos dos dois não se encontraram. O Sr. Warburton desceu ao rio e foi sentar-se no caramanchão. A paz, porém, era-lhe negada. O rio corria num silêncio ominoso. Assemelhava-se a uma cobra enorme deslizando indolente em direção ao mar. As árvores da jângal, nas margens, estavam carregadas de intensa ameaça. Nenhum pássaro cantava. Nenhum sopro agitava as folhas das cássias. Tudo em torno dele parecia esperar alguma coisa.
Caminhou até à estrada, através do jardim. Dali avistava muito bem o bangalô de Cooper. Havia luz na sala, e os acentos de um ragtime flutuavam ao longo da estrada. Cooper fazia funcionar a vitrola. O Sr. Warburton estremeceu. Nunca pudera vencer uma instintiva antipatia contra esse ritmo. Não fosse isso teria ido falar com Cooper. Voltou e se deitou. Passou muito tempo lendo antes de conciliar o sono. Mas mal dormiu, teve sonhos terríveis, e de repente foi despertado por um grito. Sem dúvida, fazia parte dos sonhos, pois nenhum grito vindo de fora, do bangalô, por exemplo, podia ser ouvido no quarto de dormir. Passou o resto da noite em claro. Em certo momento ouviu um ruído de passos apressados e de vozes confusas, o mordomo penetrou repentinamente no quarto sem o fez na cabeça, e o coração do Sr. Warburton parou um instante:
— Tuan, Tuan!
O Sr. Warburton saltou da cama: — Já vou.
Calçou os chinelos, vestiu um sarong e de paletó do pijama entrou no cercado de Cooper. Este jazia no leito com a boca aberta, um kriss cravado no coração. Fora morto durante o sono. O Sr. Warburton estremeceu, não por não ter esperado espetáculo exatamente igual, mas por sentir em si uma exultação ardente e brusca. Seus ombros se aliviaram de um grande peso.
Cooper já estava frio. O Sr. Warburton retirou o kriss da ferida — a custo, pois fora cravado com extraordinária violência — e olhou-o. Reconhecia-o. A arma lhe tinha sido oferecida por um negociante semanas antes e sabia que Cooper a comprara.
— Onde está Abas? — perguntou com severidade.
— Abas está na aldeia do irmão da mãe.
O sargento da polícia nativa estava à cabeceira do leito: — Chame dois homens e vá à aldeia prendê-lo.
O Sr. Warburton fez o que era de necessidade imediata, dando ordens com ar firme, em palavras breves e peremptórias. Depois voltou ao Fortim. Fez a barba, tomou banho e entrou na sala de jantar. Ao lado do prato, o Times o esperava, envolto na cinta. Serviu-se de frutas, enquanto o mordomo derramava o chá e outro criado trazia um prato de ovos. O Sr. Warburton comeu com apetite. O mordomo esperava a seu lado.
— O que há? — perguntou o Sr. Warburton.
— Tuan, Abas, meu sobrinho, passou a noite toda na casa do irmão da mãe. Isto pode ser provado. O tio jura que ele não deixou o kampong.
O Sr. Warburton olhou para ele franzindo a testa, carrancudo:
— Tuan Cooper foi morto por Abas. Você sabe tão bem quanto eu. Deve-se fazer justiça.
— Tuan, não mandará enforcá-lo?
O Sr. Warburton hesitou um momento, e, posto que a voz se mantivesse firme e severa, vislumbrou-se uma alteração no seu olhar. Era apenas um rápido clarão instantâneo, mas o malaio notou e nos seus olhos acendeu-se um olhar interrogativo de compreensão.
— A provocação foi muito forte. Abas será condenado à pena de prisão.
Houve uma pausa, que o Sr. Warburton aproveitou para servir-se de compota.
— Depois que ele cumprir uma parte da sentença, vou colocá-lo em minha casa como criado. Você pode ensinar-lhe seus deveres. Não duvido que na casa do Tuan Cooper tenha adquirido maus hábitos.
— Abas deve se denunciar, Tuan?
— Seria conveniente.
O mordomo retirou-se. O Sr. Warburton pegou o Times, e com gesto elegante rasgou a cinta. Gostava de desdobrar as páginas pesadas, de ouvir seu sussurro. A manhã, fresca e pura, era uma delícia, e seus olhos passaram um bom momento percorrendo o jardim com olhar amigo. Seu espírito fora aliviado de um grande peso. Voltou às colunas em que se noticiavam os nascimentos, falecimentos e enlaces. Era o que sempre olhava primeiro. Um nome conhecido atraiu sua atenção. Finalmente Lady Ormskirk tivera um filho. Por Jorge!, a velha senhora deve ter ficado contente. Mandaria pelo próximo correio um bilhete de parabéns.
Abas daria um ótimo criado. Aquele imbecil do Cooper!
(Título original: The Outstation.)
A força das circunstâncias
Estava sentada na varanda, esperando o marido para o almoço. O criado malaio havia baixado as persianas quando a manhã começara a esquentar, mas Doris levantara parcialmente uma delas a fim de olhar para o rio, que tinha a branca palidez da morte sob o sol sufocante do meio-dia. Um nativo remava numa canoa tão pequena que mal aparecia à tona d'água. As cores do dia eram pálidas e cinéreas — nada mais que os cambiantes variados do calor. (Dir-se-ia uma melodia oriental, em tom menor, que exacerba os nervos com a sua ambígua monotonia; o ouvido aguarda impaciente uma resolução, mas debalde). As cigarras soltavam com frenética energia o seu apito estridente, contínuo e monótono como o sussurrar de um regato nas pedras. Mas de súbito abafaram-se os gorjeios sonoros de um pássaro, ricos e melífluos, e por um instante ela sentiu um aperto esquisito no coração, lembrando-se dos melros na Inglaterra.
Ouviu então os passos do marido no caminho de cascalho atrás do bangalô, o caminho que conduzia à casa do tribunal onde ele estivera trabalhando, e levantou-se da cadeira para recebê-lo. Ele subiu correndo a pequena escada — pois o bangalô era construído sobre pilares — e o criado recebeu-lhe das mãos, à porta, o capacete de cortiça. Entrou na peça que fazia as vezes de sala e de comedor e os seus olhos iluminaram-se de alegria ao vê-la.
— Alô, Doris. Estás com fome?
— Sinto uma fome de lobo. — Não levarei mais de um minuto para tomar banho, depois poderemos comer.
— Não demores — sorriu Doris.
Ele desapareceu no interior do quarto de vestir e ela ouviu-o assobiar alegremente ao mesmo tempo que arrancava as roupas do corpo e as atirava ao chão, com aquela negligência que Doris não cessava de lhe censurar. Tinha vinte e nove anos, mas ainda era um colegial; nunca se tornaria adulto. Fora talvez por isso que se enamorara dele, pois nem o amor mais apaixonado poderia convencê-la de que ele fosse bonito. Era um homenzinho redondo, com uma cara vermelha de lua cheia e olhos azuis. Tinha a pele cheia de espinhas. Doris examinara-o cuidadosamente e fora forçada a confessar que ele não possuía um único traço que se pudesse elogiar. Tinha-lhe dito muitas vezes que ele não era em absoluto o seu tipo.
— Eu nunca pretendi ser uma beleza — ria ele. — Não sei o que vejo em ti.
Mas está claro que o sabia muito bem. Ele era um homenzinho jovial que não levava nada muito a sério e ria constantemente. Fazia-a rir também. Achava a vida divertida e tinha um sorriso encantador. Quando estava com ele Doris sentia-se feliz e bem disposta. Comovia-se com a profunda afeição que lia naqueles alegres olhos azuis. Era muito bom ser amada assim. Certa vez, sentada no seu colo, durante a lua de mel, tomara-lhe o rosto nas mãos e lhe dissera:
— És um homenzinho gordo e feio, Guy, mas tens encanto. Não posso deixar de te amar.
Uma onda de emoção a invadiu e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Viu-lhe o rosto contorcer-se por um instante na veemência do seu sentimento, e foi em voz trêmula que ele respondeu:
— É um horror a gente descobrir que se casou com uma mulher mentalmente retardada.
Ela soltou um riso gutural. Era a resposta característica que esperava dele.
Custava crer que, nove meses atrás nem sequer sabia da sua existência. Conhecera-o numa pequena praia onde estava passando um mês de férias com a mãe. Doris era secretária de um parlamentar. Guy estava na Inglaterra em licença. Os dois se achavam hospedados no mesmo hotel e ele não tardou a contar-lhe toda a sua existência. Tinha nascido em Sembulu, onde seu pai servira durante trinta anos sob o segundo sultão, e ao deixar a escola entrara para o mesmo serviço. Tinha grande apego ao país em que vivia.
— Afinal sou um estrangeiro aqui — disse ele a Doris. — Minha terra é Sembulu.
E agora Sembulu era a terra dela também. Findo o mês de férias, Guy a pedira em casamento. Era a filha única de uma viúva e não podia afastar-se para tão longe, mas quando chegou o momento, sem compreender bem o que se passava consigo, deixou-se empolgar por uma emoção inesperada e aceitou. Fazia já quatro meses que estavam instalados naquele pequeno posto das selvas, que ele dirigia. Doris sentia-se muito feliz.
Disse-lhe uma vez que estivera resolvida a recusá-lo. — Lamentas não ter feito isso? — perguntou ele com um alegre sorriso nos olhos azuis e cintilantes.
— Teria sido a maior idiotice da minha vida. Que sorte o destino, o acaso ou o que quer que seja ter intervindo e resolvido o assunto por mim!
Ouviu Guy descer a escada que levava ao quarto de banho. Era um homem barulhento e mesmo com os pés descalços não sabia andar em silêncio. Mas ao chegar lá embaixo soltou uma exclamação. Pronunciou duas ou três palavras no dialeto local, que ela não compreendia. Ouviu então alguém falar-lhe, não em voz alta mas num murmúrio sibilante. Francamente, era uma importunação porem-se à sua espera para lhe falar quando ele ia tomar banho. Guy tornou a falar e, embora o fizesse em voz baixa, ela percebeu que ele estava agastado. A outra voz subiu de tom: era uma voz de mulher. Doris imaginou que se tratasse de uma queixa qualquer. Estava nos hábitos das mulheres malaias aproximarem-se daquela forma sub-reptícia. Mas pelo visto ela não conseguiu grande coisa com Guy, pois Doris ouviu este dizer: "sai daqui". Estas palavras ao menos ela compreendeu. Depois ouvi-o fechar a porta e correr o ferrolho. Começou a lavar-se com ruído (Doris ainda achava graça no sistema da terra: os banheiros ficavam ao nível do solo, embaixo do quarto de dormir; entrava-se numa grande tina com água e enxaguava-se o corpo com um baldinho), e dentro de dois minutos tornou a aparecer na sala de jantar. Ainda trazia os cabelos úmidos. Sentaram-se para o almoço.
— Felizmente eu não sou desconfiada nem ciumenta — riu ela. — Não sei se devo aprovar essas animadas palestras com senhoras enquanto tomas banho.
O rosto de Guy, de ordinário tão alegre, tinha uma expressão mal-humorada ao entrar, mas já se desanuviara.
— Não gostei muito de encontrá-la lá embaixo.
— Foi o que depreendi do tom da tua voz. Achei mesmo que foste um pouco áspero com a moça.
— Que raio de atrevimento por-se à espera da gente assim!
— O que ela queria?
— Ah! não sei. É uma mulher do kampong. Teve uma briga com o marido ou coisa que o valha.
— Será a mesma que andava por aí hoje de manhã?
Ele franziu levemente o sobrolho. — Alguém andava por aí?
— Sim, eu entrei no teu quarto de vestir para ver se tudo estava bem arrumadinho, depois desci ao banheiro. Notei que alguém saía esgueirando-se pela porta enquanto eu descia a escada, prestei atenção e vi que era uma mulher.
— Falaste-lhe?
— Perguntei-lhe o que queria e ela respondeu alguma coisa, mas não entendi.
— Não vou consentir que toda espécie de vagabundos andem rondando a minha casa — disse ele. — Essa gente não tem o direito de vir aqui.
Sorriu, mas Doris, com a aguda percepção de uma mulher enamorada, reparou que ele sorria apenas com os lábios e não também com os olhos, como lhe era habitual, e perguntou de si para si o que o estaria aborrecendo.
— Que fizeste esta manhã? — perguntou ele?
— Ora, pouca coisa. Fui dar uma volta.
— Pelo kampong?
— Sim. Vi um homem que fez um macaco acorrentado trepar numa árvore para apanhar cocos e achei isso emocionante.
— Um número, não é mesmo?
— Mas Guy, entre os meninos que estavam olhando havia dois muito mais claros do que os outros. Seriam mestiços, por acaso? Falei-lhes, mas não entendiam uma palavra de inglês.
— Há duas ou três crianças mestiças no kampong — respondeu Guy.
— A quem pertencem elas?
— A mãe é uma das garotas da aldeia.
— Quem é o pai?
— Oh, minha querida, essa é uma pergunta que achamos um pouco perigoso fazer por estas bandas. — Guy fez uma pausa. — Muitos têm mulheres nativas e depois, quando voltam para a Inglaterra ou se casam, dão-lhes uma pensão e as mandam de volta para a aldeia.
Doris refletiu. A indiferença com que ele falava lhe parecia um tanto calejada. Foi quase com um franzir de sobrolho no seu rosto franco, aberto e bonito de jovem inglesa que ela perguntou:
— Mas e quanto aos filhos?
— Tenho certeza de que não lhes falta nada. De acordo com os seus recursos, o homem em geral trata de que sejam decentemente instruídos. Eles conseguem lugares de escriturários nas repartições do governo, sabes? Vivem muito bem.
Ela dirigiu-lhe um sorriso em que havia um leve toque de tristeza.
— Não podes esperar que eu ache o sistema excelente.
— Não deves ser muito dura — respondeu ele, retribuindo-lhe o sorriso.
— Não estou sendo dura, mas dou graças por não teres tido uma mulher malaia. Como isso seria detestável! Imagina se aqueles dois garotinhos fossem teus...
O criado mudou os pratos. O menu da casa nunca variava muito. Começavam o almoço com um peixe do rio, completamente insípido, sendo necessário acrescentar-lhe boa quantidade de "ketchup" a fim de torná-lo aceitável ao paladar, depois passavam a um ensopado qualquer. Guy temperou-o com molho inglês.
— O velho sultão dizia que isto não era terra para mulheres brancas — prosseguiu daí a pouco. — Até animava, os homens a... viverem em companhia de mulheres nativas. A situação, está claro, já não é a mesma. O país está completamente pacificado e acho que nós já aprendemos a enfrentar o clima.
— Mas Guy, o mais velho desses meninos não tinha mais de sete ou oito anos e o outro tinha uns cinco!
— Leva-se uma vida muito solitária nestes postos da selva. Muitas vezes um branco passa seis meses inteiros sem ver outro branco. A gente vem para cá ainda guri. — Deu-lhe aquele sorriso encantador que transfigurava o seu rosto redondo e feio. — Há certas atenuantes, sabes?
Sempre achara irresistível esse sorriso. Era o melhor argumento de Guy. Os olhos dela fizeram-se novamente doces e ternos.
— Não duvido que haja. — Estendeu a mão por cima da mesa e pousou-a sobre a dele. — Tive muita sorte em apanhar-te tão moço. Francamente, seria para mim um choque terrível ouvir dizer que tinhas vivido assim.
Ele tomou-lhe a mão e apertou-a na sua.
— És feliz aqui, meu bem?
— Incrivelmente feliz.
Estava muito fresca e bonita no seu vestido de linho. O calor não a abatia. Não possuía mais que a louçania da mocidade, embora os seus olhos castanhos fossem bonitos; mas tinha uma cativante franqueza de expressão e os seus cabelos escuros e curtos eram lustrosos e trazia-os bem penteados. Dava a impressão de uma moça animosa e ao vê-la adquiria-se a convicção de que o parlamentar para quem trabalhara tivera nela uma secretária muito competente.
— Enamorei-me desta terra à primeira vista — disse ela. — Apesar de ficar tanto tempo sozinha não me aborreci uma única vez.
Havia, naturalmente, lido romances que se passavam no Arquipélago Malaio e formara a impressão de uma terra sombria, atravessada por grandes rios ameaçadores e coberta de uma selva silenciosa, impenetrável. Quando o pequeno vapor de cabotagem os deixou na boca do rio, onde um grande bote tripulado por uma dúzia de daiaques os esperava para conduzi-los ao posto, ela foi tomada de assombro ante a beleza do cenário, que lhe pareceu acolhedor e não terrificante. Tinha uma alegria que ela não esperava, uma alegria que lembrava o gorjeio jovial dos pássaros nas árvores. Em ambas as margens cresciam mangues e nipas, e por trás ficava o verde espesso da floresta. Ao longe estendiam-se montanhas azuis, serras e mais serras até onde podia alcançar a vista. Doris não teve uma impressão de clausura ou de melancolia, mas antes de um espaço amplo e livre em que a fantasia exultante podia vaguear deleitada. O verde reluzia ao sol e o céu respirava alegria. Aquela terra benévola parecia oferecer-lhe uma acolhida sorridente.
Continuavam a remar, costeando uma das margens. Um casal de pombos passou por cima deles, voando muito alto. Um relâmpago de cor, qual joia viva, cruzou-lhes o caminho. Era um martim-pescador. Dois macacos estavam sentados num galho, um ao lado do outro, com as caudas pendentes. No horizonte, do outro lado do rio largo e turvo, além da selva, via-se uma série de nuvenzinhas brancas, as únicas que havia no céu; dir-se-ia uma fila de bailarinas, vestidas de branco, vivas e folgazãs, a esperar no fundo do palco que subisse a cortina. O coração de Doris encheu-se de júbilo; e nesse momento, recordando-se daquilo tudo, seus olhos pousaram no marido com uma afeição reconhecida e confiante.
E como fora divertido arrumar a sala de estar! Era muito espaçosa. Quando ela chegou havia no assoalho uma esteira suja e rasgada; nas paredes de tábuas sem pintura estavam penduradas (demasiado alto) reproduções fotográficas de quadros da Academia, escudos daiaques e parangs. Toalhas de tecido daiaque, em cores sombrias, forravam as mesas sobre as quais repousavam objetos de bronze de Brunei, em grande precisão de limpeza, latas de cigarros vazias e pedaços de prata malaia. Havia uma tosca prateleira com edições baratas de romances e alguns velhos livros de viagem com maltratadas encadernações de couro; outra prateleira estava repleta de garrafas vazias. Era uma habitação de solteiro, desarranjada e fria; e, embora a fizesse sorrir, pareceu-lhe intoleravelmente patética. Guy levava ali uma existência desolada, sem conforto. Doris rodeou-lhe o pescoço com os braços e beijou-o.
— Meu pobre querido! — exclamou rindo.
Era muito habilidosa e não tardou a tornar a peça habitável. Arrumou uma coisa aqui, outra ali, eliminando o que não pode aproveitar. Os presentes de núpcias prestaram grande auxílio. Ficou uma sala de estar acolhedora e confortável, com maravilhosas orquídeas em vasos de vidro e enormes arbustos em flor dentro de grandes cachepots. Ela sentia um orgulho desmedido de possuir a sua casa (até então só tinha vivido em mesquinhos apartamentos) e de tê-la tornado encantadora para ele.
— Estás satisfeito comigo? — perguntou-lhe ao terminar.
— Muito — sorriu Guy.
Esta resposta propositadamente circunspecta era, na opinião dela, um grande elogio. Que delícia compreenderem-se tão bem! Ambos eram avessos a externar qualquer emoção e só em raros momentos deixavam o seu tom costumeiro de caçoada irônica.
Acabaram de almoçar e ele estirou-se numa espreguiçadeira para fazer a sesta. Doris tomou o caminho do seu quarto. Admirou-se um pouco quando, ao passar pelo marido, este a puxou para si e, obrigando-a a curvar-se, beijou-a nos lábios. Não tinham o hábito de trocar essas manifestações de carinho a qualquer hora do dia.
— A barriga cheia te põe sentimental, meu pobre rapaz — caçoou ela.
— Vai-te daqui e que eu não torne a por-te os olhos em cima, pelo menos durante duas horas.
— Não vás roncar.
Deixou-o. Tinham-se levantado ao nascer do sol. Dentro de cinco minutos estavam ferrados no sono.
Doris foi despertada pelo barulho que o marido fazia no banheiro. As paredes do bangalô formavam uma espécie de caixa de ressonância e nada do que um deles fazia passava despercebido ao outro. Sentia muita preguiça para se mexer, mas ao ouvir o criado por a mesa para o chá saltou da cama e desceu correndo para o seu banheiro particular. O contato da água fresca era delicioso. Quando entrou na sala Guy estava tirando as raquetes das prensas, pois eles jogavam tênis à tardinha, quando o ar começava a refrescar. A noite caía às seis horas.
A quadra de tênis ficava a duzentos ou trezentos metros do bangalô. Depois do chá, ansiosos por não perder tempo, dirigiram-se para lá.
— Olha — disse Doris, — lá está a garota que eu vi hoje de manhã.
Guy voltou-se com um movimento vivo. Seus olhos pousaram um momento na mulher nativa, mas não disse nada.
— Que sarong bonito ela tem! — observou Doris. — Onde será que o arranjou?
Passaram por ela. Era pequena e esguia, com os olhos rasgados, escuros e cintilantes da sua raça, e uma grande cabeleira cor de azeviche. Ficou imóvel ao vê-los passar, encarando-os de forma estranha, Doris percebeu então que ela não era tão moça quanto lhe parecera a princípio. Tinha as feições um tanto maciças e a pele escura, mas era muito bonita. Segurava um bebê nos braços. Doris sorriu de leve ao vê-lo, mas o rosto da mulher permaneceu impassível. Não olhava para Guy, apenas para Doris, e ele seguiu o seu caminho como se não a tivesse visto. Doris voltou-se para o marido.
— Não achas essa criança um encanto?
— Não reparei.
O aspecto do seu rosto a intrigou. Estava branco e as espinhas que tanto a afligiam pareciam mais vermelhas do que nunca.
— Notaste as mãos e os pés dela? Parecem os de uma duquesa.
— Todos os nativos têm mãos e pés bonitos — respondeu ele, mas sem a sua jovialidade habitual. Era como se falasse forçado. Mas Doris tinha o pensamento em outra parte.
— Quem será ela? Não sabes?
— É uma das garotas do kampong.
Tinham chegado à quadra. Ao dirigir-se para a rede a fim de verificar se estava bem esticada, Guy olhou para trás. A mulher — continuava no mesmo lugar. Os olhares de ambos se cruzaram.
— Queres que eu sirva? — perguntou Doris.
— Sim, as bolas estão do teu lado.
Jogou muito mal. Costumava dar-lhe quinze pontos de vantagem e vencer, mas nessa tarde ela ganhou com facilidade. Além disso, jogou em silêncio. Em geral era ruidoso, gritando sem cessar, amaldiçoando-se quando perdia uma bola e zombando dela quando colocava uma fora do seu alcance.
— Você não está em forma, moço — gritou-lhe Doris.
— Que esperança! — disse ele.
Começou a rebater as bolas com violência, tentando derrotá-la, e deu com todas elas na rede. Doris nunca o tinha visto com uma expressão tão dura. Seria possível que ele estivesse raivoso por estar jogando mal? Caiu o crepúsculo e cessaram de jogar. A mulher continuava exatamente na mesma posição e mais uma vez olhou-os passar com uma cara inexpressiva.
Os criados já haviam erguido as persianas da varanda e sobre a mesa, entre as duas espreguiçadeiras, achavam-se algumas garrafas e um sifão. Era a essa hora que tomavam o primeiro drink do dia. Guy misturou dois gin slings. O vasto rio estendia-se diante deles e a selva, na outra margem, estava envolta no mistério da noite que se aproximava. Um nativo remava sem ruído contra a corrente, com dois remos, em pé à proa do bote.
— Joguei como um idiota — disse Guy, rompendo o silêncio. — Estou um pouco esquisito hoje.
— Sinto muito. Espero que não seja alguma febre.
— Oh, não. Amanhã estarei de novo bem disposto.
Fecharam-se as trevas. As rãs coaxavam sonoramente e de quando em quando se ouviam as notas breves de algum pássaro noturno. Vaga-lumes atravessavam a varanda e davam as Arvores . próximas a aparência de pinheiros de Natal, iluminados por velas pequeninas, envoltos numa suave cintilação. Doris julgou ouvir um pequeno suspiro. Isso a deixou vagamente perturbada. Guy era sempre tão alegre!
— Que é, meu rapaz? — perguntou com doçura. — Conte pra mamãe.
— Não é nada. Hora de outro drink — respondeu ele em tom animado.
No dia seguinte recuperara a costumeira alegria. Chegou a correspondência. O vapor costeiro passava pela foz do rio duas vezes por mês, a primeira rumo às minas de carvão e a segunda voltando de lá. Na viagem de ida trazia correspondência, que Guy mandava buscar num bote. Essa ocasião constituía o grande acontecimento daquelas existências monótonas. Durante um ou dois dias limitavam-se a correr os olhos por tudo quanto havia chegado, cartas, jornais ingleses e jornais de Singapura, revistas e livros, reservando para as semanas seguintes uma leitura mais detida. Arrancavam-se das mãos os periódicos ilustrados. Se Doris não estivesse tão absorta, teria notado talvez que se operara uma transformação em Guy. Ter-lhe-ia — sido difícil descrevê-la e ainda mais difícil explicá-la. Os olhos dele tinham uma expressão vigilante e os seus lábios uma leve contração de ansiedade.
Depois, volvida talvez uma semana, certa manhã em que ela estava sentada na penumbra da sala, a estudar uma gramática malaia (pois tratava diligentemente de aprender a língua) ouviu um tumulto no pátio. Distinguiu a voz do criado da casa que falava em tom irado, a voz de outro homem, talvez o aguadeiro, e a de uma mulher, estridente e injuriosa. Pareceu-lhe que os contendores chegavam às vias de fato. Foi até à janela e abriu os postigos. O aguadeiro segurava uma mulher pelo braço e a arrastava para fora, enquanto o criado a empurrava por trás com ambas as mãos. Doris reconheceu imediatamente a mulher a quem tinha visto uma manhã a vadiar pelo pátio e, na tarde do mesmo dia, perto da quadra de tênis. Ela apertava contra o peito uma criança de colo. Todos três berravam furiosos.
— Parem! — gritou Doris. — Que estão fazendo?
Ao som da sua voz o aguadeiro soltou repentinamente a mulher e esta, ainda empurrada por trás, caiu ao chão. Fez-se um silêncio súbito e o criado da casa, carrancudo, fitou os olhos no espaço. O aguadeiro hesitou um instante, depois escapuliu-se. A mulher pôs-se em pé devagar, ajeitou a criança nos braços e ficou impassível, encarando Doris. O criado disse-lhe alguma coisa que esta não poderia ter ouvido mesmo que compreendesse a língua. A mulher não demonstrou por qualquer alteração da sua fisionomia que essas palavras lhe diziam respeito, mas foi retirando-se vagarosamente. O criado seguiu-a té o portão. Quando voltou Doris o chamou, mas o homem fez-se desentendido. Ela estava começando a zangar-se; tornou a chamá-lo em tom mais áspero.
— Venha cá imediatamente!
Ele enveredou de súbito para o bangalô, evitando o olhar irado da patroa. Subiu os degraus e deteve-se à porta. Olhou para ela com expressão mal-humorada.
— Que estava fazendo com aquela mulher? — perguntou ela bruscamente.
— Tuan disse: não deixa ela vir aqui.
— Você não deve tratar uma mulher desse modo. Não admito isso. Vou contar ao Tuan o que vi você fazer.
O criado não respondeu. Desviou o olhar, mas Doris sentiu que ele a observava por entre as compridas pestanas. Mandou-o embora.
— Bem, é só.
Ele virou-se sem dizer uma palavra e voltou para os aposentos dos criados. Doris estava exasperada e não pôde mais concentrar a atenção nos exercícios de malaio. Pouco depois o criado veio pôr a mesa para o almoço. De súbito dirigiu-se para a porta.
— O que é? — perguntou ela.
— Tuan vem vindo. Saiu para receber o chapéu das mãos de Guy. O seu ouvido aguçado distinguira o som de passos antes que ela pudesse percebê-lo. Guy não subiu imediatamente os degraus como costumava fazer; demorou-se um pouco e Doris imaginou logo que o criado descera ao seu encontro para informá-lo do incidente daquela manhã. Deu de ombros. Evidentemente, o malaio queria ser o primeiro a dar a sua versão do caso. Mas ficou assombrada quando Guy entrou. Estava mortalmente pálido.
— Santo Deus, Guy, que foi que houve?
O rosto dele fez-se de súbito muito vermelho.
— Nada. Por quê?
A surpresa de Doris foi tamanha que o deixou passar para seu quarto sem dizer uma palavra daquilo que pretendia comunicar-lhe assim que ele chegasse. Guy demorou-se mais tempo que de costume para tomar banho e trocar de roupa. Quando entrou o almoço estava na mesa.
— Guy — disse ela ao sentarem-se —, aquela mulher que vimos no outro dia esteve aqui novamente hoje de manhã.
— Foi o que me contaram.
— Os criados a estavam tratando com brutalidade. Tive de intervir. Positivamente, deves falar a esse respeito.
Embora o malaio entendesse muito bem o que ela dizia, não deu sinal de ter ouvido. Estendeu-lhe tranquilamente as torradas.
— Ela foi avisada de que não devia vir aqui. Mandei que a pusessem para fora se tornasse a aparecer.
— Era preciso que fossem tão brutais?
— A mulher não queria ir. Não acho que eles tenham sido mais brutais do que o necessário.
— É um horror ver tratarem assim uma mulher. Ela tinha uma criança de colo nos braços.
— Não é bem uma criança de colo. Já tem três anos.
— Como sabes disso?
— Conheço-a muito bem. Ela não tem o menor direito de vir aqui amolar a paciência de todo mundo.
— O que ela quer?
— Quer fazer exatamente o que fez: provocar escândalo. Doris guardou silêncio por alguns instantes. O tom do marido a surpreendia. As respostas deste eram concisas. Falava como se ela não tivesse nada que ver com tudo aquilo. Achou-o um tanto ríspido. Estava nervoso e irritadiço.
— Duvido que possamos jogar tênis esta tarde — disse ele. — Está me parecendo que vamos ter uma tormenta.
Quando ela acordou já tinha começado a chover e era impossível sair. Durante o chá Guy esteve silencioso e pensativo. Doris foi buscar as suas costuras e pôs-se a trabalhar. Ele sentou-se para ler os jornais ingleses que ainda não tinha percorrido da primeira à última página; mas estava desassossegado; começou a caminhar de um lado para outro no vasto aposento, depois saiu para a varanda. Olhou a chuva que não queria parar. Em que estaria pensando? Doris sentia uma vaga inquietação.
Só depois que jantaram ele se resolveu a falar. Durante a frugal refeição procurara mostrar-se tão alegre como de costume, mas o esforço era visível. A chuva cessara e a noite estava estrelada. Foram sentar-se na varanda. A fim de não atrair os insetos tinham apagado a lâmpada na sala de estar. Lá embaixo, com uma indolência possante e formidável, silencioso, misterioso e fatal, o rio rolava as suas águas. Tinha a terrível resolução e a inexorabilidade do destino.
— Doris, tenho uma coisa para te contar — falou ele de súbito.
Fê-lo numa voz muito estranha. Seria fantasia ou ele estava mesmo tendo dificuldade em controlar essa voz? O coração de Doris confrangeu-se por vê-lo tão angustiado. Tomou-lhe docemente a mão, mas ele retirou-a.
— A história é um tanto longa. Infelizmente não é muito bonita e acho difícil contar-te. Peço-te que não me interrompas nem digas nada enquanto eu não houver terminado.
Ela não podia distinguir-lhe o rosto na escuridão, mas sentia que ele devia ter uma expressão torturada. Não respondeu uma palavra. Guy falava em voz tão baixa que mal quebrava o silêncio da noite.
— Eu tinha apenas dezoito anos quando vim para cá, diretamente da escola. Passei três meses em Kuala Solor, depois fui enviado para um posto das margens do rio Sembulu. Havia ali, está claro, um residente com a esposa. Eu morava na casa do tribunal, mas fazia as refeições com eles e passava lá os serões. Foi uma temporada muito agradável. Então o sujeito que estava aqui adoeceu e teve de voltar para a Inglaterra. Estávamos com falta de homens por causa da guerra e nomearam-me seu substituto. Era muito moço, é claro, mas falava a língua como um nativo e eles não tinham esquecido o meu pai. Fiquei radiante por me ver dono de mim mesmo.
Calou para bater a cinza do cachimbo e tornar a enchê-lo. Quando acendeu o fósforo Doris notou, sem olhar para ele, que a sua mão tremia.
— Nunca tinha vivido sozinho. Em casa, naturalmente, tinha meu pai, minha mãe e em geral uma empregada. Na escola, está visto, não faltavam companheiros. Tanto durante a viagem como em Kuala Solor e no meu primeiro posto, estive sempre cercado de gente branca: Era como se estivesse ainda em família. Parecia viver sempre no meio de uma multidão. Gosto de ter companhia. Sou um camarada barulhento. Gosto de me divertir. Tudo me faz rir, e a gente precisa ter alguém com quem rir. Mas aqui era diferente. De dia estava tudo muito bem: eu tinha o meu serviço e podia conversar com os daiaques. Embora ainda se dedicassem à caça de cabeças naquela época e eu tivesse algumas amolações com eles de vez em quando, eram uns tipos muito decentes.. Dava-me muito bem com eles. Gostaria, é claro, de ter um branco com quem cavaquear, mas a companhia dos daiaques sempre era melhor do que nada e para mim a coisa se tornava mais fácil porque eles não me consideravam como um estranho. Além disso eu gostava do serviço. De noite é que era um tanto triste ficar sentado na varanda sozinho, tomando, o meu gim, mas sempre havia o recurso da leitura. Depois os empregados malaios andavam por aí. O meu criado particular chamava-se Abdul. Tinha conhecido meu pai. Quando me cansava de ler, era só dar um grito e podia entreter o tempo com ele.
“As noites é que davam cabo de mim. Depois do jantar os empregados fechavam tudo e iam dormir no kampong. Eu ficava completamente só. Não se ouvia um ruído no bangalô, a não ser de vez em quando o grito do chikchak. Vinha de repente, no meio do silêncio, e me fazia pular. Ouvia lá no kampong o som de um gongo ou o espoucar dos fogos chineses. Estavam se divertindo bem perto de mim e eu tinha de ficar onde estava. Cansava-me de ler. Não poderia me sentir mais preso se estivesse na cadeia. Aquilo se repetia noite após noite. Experimentava tomar dois ou três uísques, mas não há muita graça em beber sozinho e isso não me animava; só conseguia me deixar indisposto no dia seguinte. Experimentei deitar-me logo depois de jantar, mas não podia dormir. Ficava estendido na cama, sentindo cada vez mais calor, e o sono nada de vir... No fim não sabia o que fazer. Safa, que noites compridas! Andava tão abatido e tão amargurado que às vezes — hoje me rio ao pensar nisso, mas eu tinha então apenas dezenove anos e meio — que às vezes me punha a chorar.
“Pois bem, uma noite, depois do jantar, Abdul tirou a mesa e quando ia sair tossiu para me chamar a atenção. Perguntou-me se não achava triste passar as noite sozinho em casa. "Oh, não, isso não é nada", disse eu. Não queria que ele soubesse o papel ridículo que eu estava fazendo, mas creio que ele sabia muito bem. Ficou ali parado, sem falar, e percebi que o rapaz queria me dizer alguma coisa. "Que é?" perguntei-lhe. "Desembuche logo." Então ele disse que se eu quisesse uma garota para viver comigo em casa, ele sabia de uma que estava disposta. Era uma pequena muito boazinha e ele podia recomendá-la. Não me daria incômodo algum e seria uma companhia para mim no bangalô. Podia consertar as minhas roupas... Eu estava horrivelmente deprimido. Tinha chovido o dia inteiro e não pude fazer nenhum exercício. Sabia que ia passar horas e horas sem conseguir dormir. Ele me disse que aquilo não me sairia muito caro, a família da pequena era pobre e contentar-se-ia com um pequeno presente. Duzentos dólares de Singapura. "O senhor olha", disse ele. "Se não gostar manda embora." Perguntei onde estava ela. "Aqui mesmo. Vou chamar." Dirigiu-se para a porta. Ela estava esperando nos degraus, com a mãe. Entraram e sentaram-se no chão. Dei-lhes uns doces. A pequena estava acanhada, é claro, mas bastante senhora de si, e quando lhe falei ela sorriu para mim. Era muito moça, quase uma criança; disseram-me que tinha quinze anos. Era muito bonita e tinha posto a sua melhor roupa. Pusemo-nos a conversar. Ela falava pouco, mas ria muito quando eu caçoava com ela. Abdul disse que quando a pequena me conhecesse melhor eu ia ver que não lhe faltava assunto. Mandou-a vir sentar-se ao meu lado. Ela fez um risinho e recusou, mas a mãe lhe disse que viesse e eu me arredei para lhe dar lugar na cadeira. A pequena corou e riu, mas veio e aninhou-se junto a mim. O criado riu também. "Está vendo, ela já simpatizou consigo. Quer que ela fique?" "Você quer ficar?" perguntei à garota. Ela escondeu o rosto no meu ombro, rindo-se. Era uma criaturinha suave e pequenina. "Está bem, então que fique", disse eu.”
Guy curvou-se para diante e serviu-se de uísque e soda. — Posso falar agora? — perguntou Doris. — Espera um instante, ainda não terminei. Eu não tinha nenhum amor a ela, nem mesmo no começo. Só a aceitei para ter uma companhia no bangalô. Creio que se não fosse isso eu teria enlouquecido, ou então daria para beber. Tinha chegado ao limite da minha resistência. Era muito moço para viver completamente só. Nunca amei ninguém senão a ti. — Hesitou um momento. Ela viveu aqui até o ano passado, quando fui à Inglaterra em licença. É a mulher que tens visto a rondar pelo kampong.
— Sim, eu já tinha adivinhado. Ela levava uma criança nos braços. É teu filho?
— Sim. Uma menina.
— É a única?
— No outro dia viste dois meninos no kampong. Falaste-me deles.
— Então ela tem três filhos?
— Tem.
— És um verdadeiro pai de família.
Doris percebeu o gesto brusco que lhe arrancou esta observação, mas ele não disse nada.
— Ela não sabia que estavas casado senão quando apareceste aqui de repente com uma mulher branca?
— Sabia que eu ia me casar.
— Quando o soube?
— Mandei-a de volta para a aldeia antes de partir. Disse-lhe que estava tudo terminado e dei-lhe o que lhe tinha prometido. Ela não ignorava que aquilo era apenas um arranjo temporário. Eu já estava farto. Disse-lhe que ia casar com uma mulher branca.
— Mas nessa ocasião ainda não me conhecias.
— Sim, bem sei. Mas tinha resolvido casar durante a minha estada na Inglaterra. — Guy soltou aquele seu costumeiro risinho gutural. — Confesso-te que já começava a desanimar quando te conheci. Enamorei-me de ti à primeira vista e compreendi que havias de ser tu ou ninguém mais.
— Por que não me contaste isso? Não achas que seria mais justo dar-me um ensejo de julgar por mim mesma? Não te ocorreu que seria um choque para uma moça vir a descobrir que o seu marido tinha vivido dez anos com outra mulher e tinha três filhos dela?
— Não podia esperar que tu compreendesses. As condições aqui são muito especiais. Esse é o procedimento habitual. Cinco homens em seis fazem a mesma coisa. Pareceu-me que ficarias chocada e não quis te perder. É que eu estava tão apaixonado por ti! E ainda estou, querida. Nada levava a crer que tu virias a descobrir essa história. Eu não esperava voltar para cá. É raro que um homem volte para o mesmo posto depois de uma licença. Quando chegamos, ofereci dinheiro a ela com a condição de que se mudasse para outra aldeia. No princípio ela concordou, mas depois mudou de ideia.
— Por que me contas isso agora?
— Ela anda fazendo as cenas mais pavorosas. Não sei como descobriu que tu ignoravas a história, mas assim que o fez começou a fazer chantagem comigo. Arrancou-me um horror de dinheiro. Dei ordens para que não a deixassem entrar no pátio. Esta manhã ela fez aquele escândalo só para te chamar a atenção. Queria me amedrontar. Isso não podia continuar assim. Achei que a única solução era confessar tudo de vez.
Depois que ele terminou fez-se um longo silêncio. Finalmente pousou a mão sobre a dela.
— Tu compreendes, não é verdade, Doris? Reconheço que fui culpado.
Doris não moveu a mão, que ele sentiu fria debaixo da sua.
— Ela tem ciúme?
— Sem dúvida, tinha toda sorte de proveitos quando vivia aqui e deve andar descontente por ter perdido a chuchadeira. Mas assim como eu não lhe tinha amor também ela nunca o teve a mim. As mulheres nativas nunca se interessam realmente pelos homens brancos, sabes?
— E as crianças?
— Oh, as crianças não passam necessidade. Eu as sustento. Assim que os garotos tiverem bastante idade vou pô-los na escola em Singapura.
— Não representam nada para ti?
Ele hesitou. — Quero ser inteiramente franco contigo. Eu sentiria muito se lhes acontecesse alguma desventura. Quando o primeiro estava para chegar julguei que lhe teria muito mais afeição do que tinha à mãe. Creio que isso teria acontecido se ele fosse branco. Está claro que em pequenino era muito engraçadinho, muito tocante, mas eu não tinha a impressão de que era meu. Creio que é isso mesmo: não sinto que eles me pertencem. As vezes me tenho censurado isso porque me parecia desnaturado, mas a verdade é que eu os vejo com tanta indiferença como se fossem filhos de um outro. A gente ouve dizer muita sandice a respeito de filhos, por parte de pessoas que nunca tiveram nenhum.
Doris já ouvira tudo. Guy esperou que ela falasse, porém ela não disse nada. Ficou imóvel na sua cadeira.
— Desejas saber mais alguma coisa, Doris? — disse ele por fim.
— Não. Estou com um pouco de dor de cabeça. Acho que vou me deitar. — Sua voz era firme como sempre. — Não sei bem o que dizer. É natural, isso foi tão inesperado... Preciso que me dês tempo para refletir.
— Estás muito zangada comigo?
— Não, de modo algum. Só que... necessito ficar algum tempo sozinha. Não te mexas. Vou para a cama.
Levantou-se da espreguiçadeira e pousou-lhe a mão no ombro.
— A noite está muito quente. Gostaria que fosses dormir no teu quarto de vestir. Boa-noite.
E se retirou. Ele a ouviu fechar à chave a porta do quarto. No outro dia estava pálida e Guy compreendeu que ela não tinha dormido. A sua atitude não revelava ressentimento. Falava como de costume, mas sem espontaneidade; tocava num assunto e noutro como se estivesse conversando com um estranho. Nunca tinham brigado, mas pareceu a Guy que aquele era o tom em que ela falaria se houvessem tido um desentendimento e a subsequente reconciliação a deixasse ainda ofendida. A expressão dos seus olhos o intrigava; tinha a impressão de ler neles uma espécie de temor. Logo depois do jantar ela disse:
— Não me sinto muito bem esta noite. Acho que vou direito para a cama.
— Oh, minha pobrezinha, como eu lamento isso! — exclamou ele.
— Não é nada. Dentro de um ou dois dias estarei boa.
— Mais tarde vou lá para dizer boa noite.
— Não, não vás. Quero ver se durmo logo.
— Bem, então dá-me um beijo antes de ir. Viu-a corar. Pareceu hesitar um instante, depois, desviando os olhos, curvou-se para ele. Guy tomou-a nos braços e procurou-lhe os lábios, porém ela desviou o rosto e ele beijou-a na face. — Doris afastou-se depressa e ele ouviu mais uma vez a chave girar de mansinho na fechadura. Deixou-se cair pesadamente na cadeira. Tentou ler, mas o seu ouvido estava atento aos menores ruídos no quarto da esposa. Esta dissera que ia deitar-se, mas ele não a ouviu mexer-se. Aquele silêncio lhe provocava um nervosismo inexplicável. Tapou a lâmpada com a mão e notou que havia luz debaixo da porta: ela não havia apagado o seu lampião. Que estaria fazendo? Guy largou o livro. Não se teria surpreendido se ela se encolerizasse e fizesse uma cena, ou se houvesse chorado; saberia enfrentar uma situação dessas; mas a calma de Doris o assustava. Depois, que significava aquele medo que ele percebera com tanta clareza nos seus olhos? Tornou a pensar em tudo quanto lhe havia dito na noite anterior. Como expor o caso de outro modo? Afinal de contas, o principal era que ele tinha feito o mesmo que faziam todos e a coisa já estava terminada muito tempo antes de conhecê-la. É verdade que via agora ter procedido como um tolo, mas é errando que se aprende. Guy pôs a mão no peito. Que dor esquisita sentia ali! Deve ser isto o que querem dizer quando falam em ter o coração partido — disse com seus botões. — Quanto tempo isso vai durar?
Devia bater na porta e dizer que precisava falar com ela? Era melhor que tudo se esclarecesse de uma vez. Tinha de fazê-la compreender. Mas o silêncio o atemorizava. Nem um ruído! Talvez fosse melhor deixá-la em paz. Fora um choque para ela, naturalmente. Devia dar-lhe o tempo que ela quisesse. Afinal, Doris sabia quão extremosamente ele a amava. Paciência, nada mais; talvez ela estivesse procurando vencer a crise sozinha; devia dar-lhe tempo; devia ter paciência.
Pela manhã perguntou a ela se tinha dormido melhor. — Sim, muito melhor — respondeu ela.
— Estás muito zangada comigo? — perguntou Guy com um ar lastimoso.
Doris deu-lhe um olhar claro e franco. — Nem um pouco.
— Oh, minha querida, que alegria para mim! Fui um bruto, um animal. Sei que deves ter achado isso odioso. Mas. perdoa-me, por favor. Ando tão amargurado!
— Eu te perdoo, sim. Nem sequer te censuro.
Ele fez-lhe um sorrisinho triste. Os seus olhos tinham a expressão de um cão batido.
— Não achei muito agradável dormir sozinho estas duas noites.
Doris desviou os olhos e o seu rosto tornou-se um pouco mais pálido.
— Mandei tirar a cama do meu quarto. Tomava muito espaço. Mandei pôr uma caminha de campanha no lugar dela.
— Minha querida, que estás dizendo...
Então Doris pousou nele o olhar firme. — Não quero mais viver contigo como tua mulher.
— Nunca mais?
Ela sacudiu a cabeça. Guy olhou-a com expressão intrigada. Mal podia dar crédito ao que ouvia. O seu coração começou a bater com força, dolorosamente.
— Mas isso é uma grande injustiça que me fazes, Doris!
— Achas que era muito justo trazer-me para cá em semelhantes circunstâncias?.
— Mas tu disseste que não me censuravas!
— Isso é bem verdade, mas a outra coisa é diferente. Não me seria possível fazê-lo.
— Mas como vamos viver juntos desta forma?
Doris pôs os olhos no chão e pareceu refletir profundamente.
— Ontem à noite, quando quiseste me beijar nos lábios, eu... quase tive náuseas.
— Doris!
Ela fitou-lhe de repente um olhar frio e hostil.
— A cama em que eu dormia não era a cama em que ela teve esses filhos? — Viu-o corar violentamente. — Oh, isso é horrível! Como pudeste fazer uma coisa dessas? — Doris torceu as mãos e os seus dedos vergados, torturados, pareciam cobras se enroscando. Mas fez um grande esforço e dominou-se. — Minha decisão está tomada. Não quero ser dura contigo, mas há certas coisas que não podes exigir de mim. Já ponderei tudo isso. Desde que me contaste não tenho pensado em outra coisa, noite e dia, até ficar exausta. O meu primeiro impulso foi levantar e ir embora imediatamente. O vapor estará aí em dois ou três dias.
— Então o meu amor nada significa para ti?
— Sim, eu sei que tu me amas. Não vou embarcar. Quero dar uma oportunidade a nós. Eu te queria tanto, Guy! — Sua voz quebrou-se, porém ela não chorou. — Desejo razoável. Sabe Deus que eu não quero ser injusta contigo. Tu me darás tempo, Guy?
— Não entendo bem o sentido do que dizes.
— Apenas quero que me deixes tranquila. Tenho medo dos meus próprios sentimentos.
Não se enganara, pois... ela estava de fato atemorizada.
— Que sentimentos?
— Por favor, não me perguntes. Não quero dizer nada que possa ofender-te. Talvez ainda consiga vencê-los. Deus sabe quanto eu o desejo. Vou tentar. Dá-me seis meses. Farei tudo que puder por ti, menos essa coisa. — Doris fez um gesto de súplica. — Nada impede que sejamos felizes juntos. Se tu me amas de verdade, hás de... hás de ter paciência.
Ele deu um profundo suspiro.
— Muito bem. Naturalmente não desejo forçar-te a fazer uma coisa que não te agrade. Seja como queres.
Ainda ficou alguns instantes pesadamente sentado, como se houvesse envelhecido de repente e lhe custasse um grande esforço mover-se. Por fim levantou-se.
— Vou indo para o escritório.
Pegou o chapéu de cortiça e saiu. Passou-se um mês. As mulheres sabem esconder o que sentem melhor do que os homens e um estranho que os visitasse nunca teria adivinhado que Doris tinha, um aborrecimento sequer. Mas em Guy a tensão era visível; o seu rosto redondo e bem-humorado alongara-se e os seus olhos tinham uma expressão faminta e torturada. Observava Doris. Ela mostrava-se alegre e caçoava com ele como costumava fazer outrora. Jogavam tênis e conversavam sobre isto e aquilo. Mas era evidente que ela estava apenas representando um papel e finalmente, incapaz de conter-se por mais tempo, ele tentou falar mais uma vez das suas relações com a malaia.
— Ora, Guy, é inútil voltarmos a esse assunto — respondeu Doris jovialmente. — Já ficou dito tudo que havia para dizer a esse respeito e eu não te culpo de nada.
— Por que me castigas, então?
— Meu pobre rapaz, eu não quero castigar-te. Não tenho culpa se... — Deu de ombros. — A alma humana é muito esquisita.
— Não te entendo.
— Não procures entender. Estas palavras, que poderiam ter parecido ríspidas, ela as adoçou com um sorriso afável e amigo. Todas as noites, ao recolher-se, inclinava-se sobre Guy e beijava-o de leve na face. Tocava-lhe apenas com os lábios. Era como uma mariposa que roçasse por ele no seu voo.
Passou-se o segundo mês, o terceiro, e de súbito acabaram aqueles seis meses que tinham parecido tão intermináveis. Guy se perguntou se ela ainda se lembraria. Prestava agora uma atenção concentrada a tudo o que ela dizia, a cada expressão do seu rosto, a cada gesto das suas mãos. Doris continuava impenetrável. Tinha-lhe pedido seis meses; pois bem, ele lhos dera.
O vapor de cabotagem passou pela foz do rio, deixou o correio e seguiu o seu curso. Guy empregou-se diligentemente em escrever as cartas que ele levaria na viagem de regresso. Passaram-se dois ou três dias. Era uma terça-feira e o prau partiria na quinta ao amanhecer, para esperar o vapor. A não ser às horas de refeição, quando Doris se esforçava por animar a conversa, pouco se falavam nos últimos tempos. Depois do jantar, como de costume, cada um apanhou o seu livro e pôs-se a ler. Mas quando o criado acabou de tirar a mesa e foi embora Doris largou o seu.
— Guy, eu tenho uma coisa para te dizer. O coração de Guy deu um salto repentino e ele sentiu-se mudar de cor.
— Oh, meu bem, não faças essa cara, a coisa não é tão terrível — riu ela.
Mas ele julgou distinguir um leve tremor na sua voz.
— E então?
— Quero pedir-te uma coisa.
— Minha querida, eu farei tudo neste mundo por ti. Estendeu a mão para tomar a dela, mas Doris retirou a sua.
— Quero que me deixes ir para casa.
— Tu! — exclamou Guy, consternado. — Quando? Por quê?
— Já suportei esta situação o mais que podia. Estou no fim das minhas forças.
— Quanto tempo queres ficar por lá? Para sempre?
— Não sei. Acho que sim. — E, cobrando decisão: — Sim, para sempre.
— Oh, meu Deus!
Sua voz embargou-se e ela julgou que ele fosse chorar.
— Oh, Guy, não me censures. Sinceramente, não é minha culpa. Não posso proceder de outro modo.
— Tu me pediste seis meses. Aceitei as tuas condições. Não podes dizer que eu te haja importunado.
— Não, não!
— E Procurei ocultar o quanto isso me era penoso.
— Eu sei. Sou muito grata. Foste imensamente bom para mim. Escuta, Guy, eu quero te dizer mais uma vez que não te censuro uma só das coisas que fizeste. Afinal eras um rapaz novo e procedeste como todos procediam; eu sei o que é esta solidão daqui. Oh, meu caro, como eu te lastimo! Desde o começo compreendi isso. Foi por essa razão que te pedi seis meses. O bom senso me diz que estou fazendo de um argueiro um cavaleiro. Não sou razoável; estou sendo injusta contigo. Mas é que o bom senso não tem nada com o caso; toda a minha alma está em revolta.. Quando vejo essa mulher e as crianças na aldeia as minhas pernas se põem a tremer. Tudo nesta casa: quando penso naquela cama em que eu dormia, fico toda arrepiada... Tu não imaginas o que eu tenho suportado.
— Creia que a convenci a ir embora. Também pedi transferência.
— Isso não adiantaria. Ela estaria sempre presente. Tu pertences a eles, não pertences a mim. Talvez eu me tivesse conformado se fosse um filho só, mas três! E os meninos já estão grandes; durante dez anos viveste com ela. — Doris desabafou então de todo; estava desesperada: — É uma coisa física, nada posso contra ela, é mais forte do que eu. Penso naqueles braços escuros e magros a te apertarem e fico cheia de náusea. Penso em ti com essas criancinhas pretas nos braços... Oh, é revoltante! O teu contato me é odioso. Todas as noites, para te beijar, eu tinha de fazer um esforço, tinha de cerrar os punhos e obrigar-me a tocar com os lábios na tua face. — Pusera-se a entrelaçar e a soltar os dedos alternativamente, numa angústia nervosa, e a sua voz se descontrolara. — Sei que agora a culpada sou eu. Sou uma mulher tola, histérica. Pensei que poderia vencer isto. Não posso, e agora nunca mais conseguirei fazê-lo. Sou eu mesma a causadora desta miserável situação. Estou pronta a sofrer as consequências; se achares que devo ficar, eu fico, mas se ficar morrerei. Imploro-te que me deixes ir.
Então as lágrimas que ela contivera por tanto tempo romperam os diques e Doris abandonou-se a um pranto amargurado. Era a primeira vez que ele a via chorar.
— Naturalmente não quero te prender aqui contra a tua vontade — disse em voz rouca.
Ela reclinou-se na cadeira, exausta, com as feições convulsas. Era horrivelmente penoso ver assim entregue à dor aquela fisionomia habitualmente tão plácida.
— Como eu lamento isto, Guy! Estraguei tua vida, mas estraguei a minha também. E podíamos ter sido tão felizes!
— Quando queres ir? Na quinta-feira?
— Sim.
Ela deu-lhe um olhar lastimoso. Guy escondeu o rosto nas mãos. Finalmente tornou a levantar os olhos.
— Estou morto de cansaço — murmurou.
— Deixas que eu vá?
— Sim.
Durante dois minutos, talvez, ficaram sentados ali sem dizer uma palavra. Ela teve um estremecimento ao ouvir o chikchak soltar o seu grito penetrante, rouco e estranhamente humano. Guy levantou, saiu para a varanda Debruçou-se no parapeito e olhou a água que corria mansamente. Ouviu Doris entrar no quarto.
No outro dia levantou-se mais cedo que de costume e foi bater na porta.
— O que é?
— Tenho que subir o rio hoje. Vou voltar tarde.
— Está bem.
Doris compreendeu. Ele arranjara aquele pretexto para se ausentar, a fim de não vê-la arrumar suas coisas. Foi um trabalho aflitivo. Depois de por as suas roupas nas malas correu os olhos pela sala de jantar, notando um por um os objetos que lhe pertenciam. Seria horrível levá-los. Deixou tudo, exceto a fotografia de sua mãe. Guy só voltou às dez horas da noite.
— Desculpa-me não ter vindo jantar. O chefe da aldeia aonde fui tinha uma porção de assuntos que era preciso resolver.
Ela viu seus olhos vagueando pela sala e notando que o retrato de sua mãe já não se achava no lugar habitual.
— Já estás com tudo pronto? — perguntou ele. — Dei ordem ao barqueiro para trazer o bote ao amanhecer.
— Eu disse ao criado que me acordasse às cinco.
— Vou dar-te algum dinheiro. — Guy dirigiu-se para a escrivaninha e preencheu um cheque. Tirou algumas cédulas de uma gaveta. — Isto é para a viagem até Singapura. Poderás descontar lá o cheque.
— Muito obrigada.
— Desejas que eu te acompanhe até a foz do rio?
— Oh, acho que seria melhor nos despedirmos aqui.
— Muito bem. Acho que vou me deitar. Não tive descanso o dia todo e estou mais morto que vivo.
Foi para o quarto sem sequer tocar na mão dela. Dentro de poucos minutos ela o ouviu se jogar na cama. Deixou-se ficar algum tempo sentada, contemplando aquela sala em que fora tão feliz e em que tanto sofrera. Deu um suspiro profundo. Levantou-se e foi para o seu quarto. Toda a bagagem estava pronta, salvo uma ou duas coisas de que ela necessitava para passar a noite.
Estava escuro quando o criado os acordou. Vestiram-se às pressas. O breakfast estava à espera. Pouco depois ouviram o bote encostar lá embaixo ao cais flutuante e os criados desceram com a bagagem. Mal fingiam comer. As trevas foram-se adelgaçando e o rio tomou um aspecto fantasmal. Ainda não era dia, mas também já não era noite. No meio do silêncio as vozes dos nativos soavam muito claras no cais. Guy relanceou os olhos para o prato de sua mulher, intacto.
— Se já terminaste, podíamos ir descendo. Deve ser hora de partir.
Doris levantou-se da mesa sem dizer nada. Foi ao quarto para ver se não havia esquecido nada e depois, um ao lado do outro, desceram os degraus. Um caminho serpeante conduzia até o rio. No cais a guarda nativa estava formada em linha, com os seus elegantes uniformes; apresentaram armas à passagem de Guy e Doris. O patrão do bote estendeu a mão a Doris para ajudá-la a embarcar. Depois de fazê-lo ela virou-se e olhou para Guy. Desejava tanto dizer-lhe uma última palavra de conforto, pedir-lhe perdão mais uma vez Mas parecia ter perdido o uso da fala.
Ele estendeu-lhe a mão. — Bem, adeus. Espero que faças uma ótima viagem. Apertaram-se a mão. Guy fez um sinal com a cabeça ao patrão e o bote largou. A aurora nevoenta ia avançando pouco a pouco pelo rio, mas a noite ainda se ocultava entre as árvores escuras da floresta. Ele deixou-se ficar no cais até que o bote desapareceu nas sombras da manhã. Então soltou um suspiro e voltou. Inclinou distraidamente a cabeça quando a guarda tornou a apresentar armas. Mas ao entrar no bangalô chamou o criado. Percorreu a sala pegando todas as coisas que pertenciam a Doris.
— Guarde tudo numa caixa. Não há necessidade de ficarem por aí.
Depois foi sentar-se na varanda e viu o dia crescer gradualmente, como uma dor amarga, assoberbante e imerecida. Por fim consultou o seu relógio. Eram horas de ir para o escritório.
De tarde não pôde dormir. Sentia uma dor de cabeça torturante. Apanhou a espingarda e foi dar uma volta na floresta. Não deu um tiro, desejava apenas caminhar para cansar-se. Ao cair o sol voltou e tomou dois ou três drinks. Era tempo de se vestir para o jantar — mas que necessidade havia disso agora? Seria melhor por-se à vontade. Vestiu uma folgada jaqueta nativa e um sarong. Era o traje que costumava usar antes da vinda de Doris. Ficou com os pés descalços. Comeu apaticamente o seu jantar, depois o criado tirou a mesa e foi embora. Guy sentou-se para ler The Tatler. Reinava no bangalô um silêncio profundo. Não conseguia ler. O jornal caiu-lhe no regaço. Estava extenuado. Não podia pensar. Sentia um estranho vazio no cérebro. O chikchak fazia muito barulho nessa noite; o seu grito rouco e repentino parecia escarnecer dele. Era incrível que aquele som estentóreo pudesse sair de goela tão pequena. Daí a pouco ele ouviu uma tosse discreta.
— Quem está aí?
Houve uma pausa. Guy olhava para a porta. O chikchak soltou uma risada áspera. Um garotinho entrou timidamente e deteve-se no limiar. Era um menino mestiço, de camiseta esfarrapada e sarong: o mais velho de seus dois filhos.
— O que queres? — perguntou Guy.
O menino veio para o meio da sala e sentou-se no chão, dobrando as pernas à moda do Oriente.
— Quem te mandou aqui?
— Minha mãe me mandou. Ela diz: não precisas de nada?
Guy considerou atentamente o menino. Este nada mais disse. Ficou à espera, baixando timidamente os olhos. Então Guy mergulhou o rosto nas mãos, numa profunda e amarga meditação. Para que lutar? Estava acabado. Acabado. Era melhor render-se. Recostou-se na cadeira e suspirou profundamente.
— Diz a tua mãe que arrume as coisas. Ela pode voltar.
— Quando? — perguntou o menino, impassível. Lágrimas ardentes corriam pelo engraçado rosto de Guy, redondo e cheio de espinhas.
— Esta noite.
(Título original: The Force of Circumstance.)
Atavismo
Os dois praus desciam velozes a correnteza, a poucos metros um do outro. No da frente iam dois homens sentados. Depois de sete semanas passadas a percorrer aqueles rios era um alívio saber que iam finalmente pernoitar numa casa civilizada. Para Izzart, que estava em Bornéu desde o tempo da guerra, as casas daiaques e as suas festas não constituíam novidade; mas Campion, embora fosse novo ali e a princípio tivesse achado divertidos os estranhos costumes da terra, ansiava agora por uma cadeira em que sentar-se e uma cama para dormir. Os daiaques eram hospitaleiros, mas não se podia dizer que as suas casas fossem muito confortáveis e os entretenimentos que ofereciam — aos hóspedes eram de uma monotonia que acabava fatigando. Todas as tardes, quando os viajantes encostavam ao cais, o maioral descia ao rio para recebê-lo, carregando uma bandeira e acompanhado pelas pessoas mais importantes do clã. Eram conduzidos para a casa comunal — verdadeira aldeia sob um mesmo teto, construída sobre estacas, à qual se tinha acesso por um tronco de árvore com toscos degraus entalhados — e entre o rufar de tambores e o som dos gongos percorriam-na de extremo a extremo em longa procissão. De ambos os lados, cerradas multidões de gente escura, sentada de cócoras, encaravam silenciosamente os brancos à sua passagem. Esteiras limpas eram desenroladas e os hóspedes sentavam-se. O chefe trazia um frango vivo e, segurando-o pelas patas, balançava-o três vezes sobre as cabeças dos recém-vindos e invocava os espíritos em altas vozes. Então várias pessoas faziam-lhes presente de ovos. Bebia-se arak. Uma garota, criatura pequenina e tímida com a graça de uma flor mas com algo de hierático no rosto imóvel, segurava uma taça junto aos lábios do homem branco até que este a houvesse esvaziado, e então um grande grito se elevava nos ares. Os homens começavam a dançar, um após outro, cada qual batendo o compasso com os pés, armado de escudo e parang, com o acompanhamento do gongo e do tambor. Ao cabo de algum tempo eram os visitantes conduzidos a uma das peças que davam para a longa plataforma onde os habitantes da casa faziam vida em comum. Encontravam ali o jantar à sua espera. As garotas davam-lhes de comer em colheres chinesas: Todos ficavam um pouco embriagados e conversavam até pela madrugada.
Mas a viagem estava finda e eles iam a caminho da costa. Tinham partido ao amanhecer. No começo o rio era muito raso e as suas águas límpidas corriam sobre um fundo de pedregulho; as árvores inclinavam-se sobre ele, só deixando descoberta uma faixa de céu azul; agora, porém, ele se alargara e os homens já não usavam varas e sim remos. As árvores — bambus, sagueiros selvagens que semelhavam enormes penachos de plumas de avestruz, árvores de folhas imensas e árvores de folhagem plumosa como a acácia, coqueiros e arequeiras com os seus longos estipes eretos e brancos — as árvores das margens tinham uma violenta, uma incrível luxuriância. De espaço a espaço, nu e descarnado, via-se o esqueleto de um tronco ferido pelo raio ou morto de velhice, e a sua alvura formava um vivo contraste no meio de todo aquele verde. Aqui e além, soberanos rivais da floresta, alterosas árvores se erguiam acima do nível comum. Havia também as parasitas; grandes tufos de folhas verdes e lustrosas na forquilha de dois galhos ou trepadeiras floridas cobrindo a esparramada folhagem como um véu de noiva. Por vezes enroscavam-se em volta de um alto tronco, qual bainha de esplendor, e lançavam longos braços floridos de ramo em ramo. Havia algo de emocionante naquela exuberância selvagem e apaixonada; tinha o atrevido abandono de uma mênade desenfreada no séquito do deus.
O dia começava a declinar e o calor já não era tão opressivo. Campion consultou o velho relógio de prata que trazia ao pulso. Não deviam estar longe do seu destino.
— Que espécie de sujeito é Hutchinson? — perguntou ele.
— Não o conheço. Creio que é um tipo muito decente.
Hutchinson era o Residente, em cuja casa iam passar a noite. Tinham enviado um daiaque numa canoa para anunciar a sua chegada.
— Bem, espero que ele tenha uísque em casa. Já bebi arak que chegue para o resto da vida.
Campion era o engenheiro de minas que o Sultão, em viagem para a Inglaterra, tinha conhecido em Singapura e, encontrando-o sem emprego definido, encarregara-o de fazer em Sembulu uma prospecção de minerais que pudessem ser explorados com proveito. Mandou instruções a Willis, o Residente de Kuala Solor, para que lhe desse todas as facilidades, e Willis o confiara aos cuidados de Izzart porque este falava malaio e daiaque como um nativo. Era a terceira viagem que faziam ao interior e Campion estava pronto para apresentar o seu relatório. Alcançariam o Sultan Ahmed, que devia passar pela foz do rio dois dias depois, ao amanhecer, e se tudo corresse bem estariam em Kuala Solor na mesma tarde. Estavam ambos contentes por voltar. Havia tênis, golfe, bilhar, uma cozinha relativamente boa e os confortos da civilização. Izzart também estava satisfeito com a perspectiva de ter outra companhia que não a de Campion. Deu-lhe um olhar de soslaio. Campion era um homenzinho calvo, de cabeça enorme, e se bem que não pudesse ter menos de cinquenta anos, era forte e musculoso. Tinha olhos azuis, vivos e cintilantes, e um bigode grisalho, irregular e ralo, parecendo um restolhal. Raramente era visto sem um velho cachimbo de roseira brava entre os dentes cariados e descorados. Não era asseado nem correto no vestir; as suas calças curtas de brim cáqui estavam em farrapos e a sua camiseta esburacada; no momento tinha à cabeça um velho e amolgado capacete de cortiça. Vagueava pelo mundo desde os dezoito anos e tinha estado na África do Sul, na China, no México. Era bom companheiro; sabia contar uma anedota e estava sempre disposto a emborcar alguns copos com o primeiro que encontrasse. Acertavam-se os dois muito bem, mas Izzart nunca se sentira completamente à vontade com ele. Embora rissem e gracejassem um com o outro, embora se embebedassem juntos, parecia-lhe que não havia entre eles uma verdadeira intimidade; apesar das suas relações cordiais, não eram mais que simples conhecidos. Era ele muito sensível à impressão que causava nos outros e sob a jovialidade de Campion percebia uma certa frieza; aqueles olhos azuis e brilhantes já o tinham aquilatado e era vagamente irritante para Izzart que Campion tivesse formado uma opinião a seu respeito e ele não pudesse saber ao certo qual era essa opinião. Exasperava-o a possibilidade de que esse homenzinho vulgar não o tivesse em muito boa conta. Queria ser estimado e admirado. Queria ser benquisto. Queria que as pessoas a quem encontrava concebessem uma feição desmedida por ele, a fim de poder rejeitá-las ou conferir-lhes a sua amizade um tanto condescendente. Sua inclinação era ser familiar com toda a gente, mas paralisava-o o receio de ser mal acolhido; por vezes tinha sensação inquietante de que as suas demonstrações efusivas surpreendiam aqueles a quem as prodigalizava.
Por casualidade nunca havia encontrado Hutchinson, se bem que o conhecesse muito bem de referência, da mesma forma que Hutchinson o conhecia. Tinham muitos amigos comuns sobre quem conversar. Hutchinson cursara a escola de Winchester e Izzart sentia-se contente por lhe poder dizer que estivera em Harrow...
O prau dobrou uma curva do rio e de súbito avistaram o bangalô, erguido sobre uma pequena eminência. Dentro de poucos minutos divisaram o cais flutuante, e sobre este, no meio de um grupinho de nativos, um vulto vestido de branco que abanava para eles.
Hutchinson era um homem alto e corpulento, de cara vermelha. Sua aparência fazia esperar uma criatura jovial e segura de si e não era pequena a surpresa que se tinha ao descobrir que ele era desconfiado e até um pouco tímido. Ao apertar a mão aos hóspedes (Izzart apresentou-se primeiro, depois apresentou Campion) e ao conduzi-los para o bangalô, embora fosse visível a sua preocupação de ser cortês não era difícil perceber que lhe custava entreter a conversa. Levou-os para a varanda, onde encontraram copos, uísque e soda sobre uma mesa. Puseram-se à vontade em espreguiçadeiras. Cônscio do leve embaraço de Hutchinson em presença dos estranhos, Izzart expandiu-se. Foi muito cordial e loquaz. Começou a falar das relações comuns que tinham em Kuala Solor e dentro em pouco conseguiu encaixar, de passagem, a informação de que tinha estado em Harrow.
— O senhor esteve em Winchester, não é verdade? — perguntou.
— Estive.
— Por acaso terá conhecido George Parker, que serviu no meu regimento? Ele também esteve em Winchester. Calculo que fosse mais moço do que o senhor.
Izzart sentia que o fato de terem cursado essas escolas era um laço a uni-los, ao mesmo tempo que excluía Campion, que evidentemente não gozara de tal privilégio. Beberam dois ou três uísques. Daí a meia hora Izzart estava chamando o dono da casa de Hutchie. Estendia-se muito sobre o "seu regimento", em que recebera o comando de uma companhia durante a guerra, e sobre os alegres companheiros que eram os outros oficiais. Mencionou dois ou três nomes que dificilmente poderiam ser estranhos a Hutchinson. Não eram pessoas com quem Campion tivesse probabilidade de haver-se encontrado e Izzart deu-lhe na cabeça com gosto quando ele pretendeu reconhecer uma das pessoas em apreço.
— Billie Meadows? Conheci um camarada com esse nome em Sinaloa, há muitos anos — disse Campion.
— Oh, não creio que fosse o mesmo — retrucou Izzart sorrindo. — Billie deve ser hoje Par do Reino. Ele é o Lord Meadows que cria cavalos de corrida. Era o proprietário de Spring Carrots, não se lembram?
Aproximava-se a hora do jantar. Depois de lavar-se e escovar-se eles tomaram um par de gin pahits. Sentaram-se à mesa. Havia quase um ano que Hutchinson não ia a Kuala Solor e três meses que não via outro homem branco. Esforçava-se por tratar regiamente as visitas. Vinho não lhes podia servir, mas havia uísque em abundância e depois do jantar ele trouxe uma preciosa garrafa de Beneditino. Estavam muito alegres. Riam muito e tagarelavam sem cessar. Izzart sentia-se no paraíso. Parecia-lhe que jamais gostara tanto de um sujeito como de Hutchinson. Insistiu com ele para que fosse a Kuala Solor logo que pudesse. Haviam de fazer lá uma pândega das boas. Campion era excluído da conversa por Izzart, com a intenção maliciosa de pô-lo no seu lugar, e por Hutchinson em razão da sua timidez. Algum tempo depois, depois de soltar grandes bocejos, ele anunciou que ia deitar-se. Hutchinson conduziu-o ao seu quarto e quando voltou Izzart lhe disse:
— Ainda não vai para a cama, não é mesmo?
— Qual nada! Vamos tomar outro drink. Continuaram a conversar. Tanto um como o outro ficaram um pouco embriagados. Lá pelas tantas Hutchinson confessou a Izzart que vivia com uma garota malaia e tinha dois filhos dela. Mandara-os sumir enquanto Campion estivesse ali.
— Ela deve estar dormindo a estas horas — disse ele, relanceando os olhos para uma porta que Izzart sabia ser a do seu quarto, — mas eu gostaria de ver os garotinhos de manhã.
Nesse momento ouviu-se um fraco choro e, exclamando "olá, o diabrete está acordado!", Hutchinson dirigiu-se para a porta e abriu-a. Daí a momentos tornou a sair do quarto com uma criança nos braços e seguido por uma mulher.
— Estão lhe nascendo os dentes — disse Hutchinson — e isso o deixa desassossegado.
A mulher vestia sarong e uma fina blusa branca. Estava descalça. Era moça, com belos olhos escuros, e quando Izzart lhe falou ela deu-lhe um sorriso alegre e cativante. Sentou-se e acendeu um cigarro. Respondeu sem embaraço, mas também sem efusão, às perguntas polidas de Izzart. Hutchinson perguntou-lhe se queria um uísque com soda, porém ela recusou. Quando os dois homens se puseram a conversar de novo em inglês ela continuou sentada, muito tranquila, embalando-se levemente na cadeira e ocupada sabe Deus em que calmas reflexões.
— É uma excelente garota — disse Hutchinson. — Cuida da casa e nunca dá incômodos. Naturalmente, num lugar como este não se pode fazer outra coisa.
— Eu é que nunca o farei — disse Izzart. — Afinal a gente pode lembrar-se de casar e então começam a surgir encrencas. Mas quem é que quer casar? Que vida esta para uma mulher branca! Eu não pediria a uma mulher branca que viesse viver aqui por nada deste mundo.
— Naturalmente, é uma questão de gosto. Quanto a mim, faço questão de que os meus filhos tenham uma mãe branca, se algum dia os tiver.
Hutchinson baixou os olhos para a criancinha escura que tinha nos braços e sorriu de leve.
— É interessante como a gente toma afeição a eles. Quando são nossos, não tem muita importância que sejam um pouco tisnados.
A mulher deitou um olhar à criança e, levantando-se, disse que ia pô-la na cama.
— Acho bom irmos deitar todos — disse Hutchinson. — Já deve ser muito tarde.
Izzart foi para o seu quarto e abriu de par em par os postigos que o seu criado Hassan tinha fechado. Soprou a vela para não atrair os mosquitos e sentou-se junto à janela, contemplando a noite suave. O uísque que tinha bebido fazia com que se sentisse muito desperto e não tinha vontade de se deitar. Tirou a roupa de brim, pôs um sarong e acendeu um charuto. O seu bom humor desaparecera. Fora a vista de Hutchinson contemplando ternamente a criança mestiça que o tinha posto fora dos eixos.
— Eles não têm o direito de fazer isso — disse de si para si. — Essas crianças não têm nenhum futuro neste mundo. Absolutamente nenhum!
Passou pensativamente a mão nas pernas nuas e peludas. Teve um leve arrepio. Embora houvesse feito o que podia para desenvolver as barrigas das pernas, estas pareciam caniços. Detestava-as. Tinha sempre o pensamento inquieto posto nelas. Eram pernas de nativo. Entretanto, pareciam feitas sob medida para uma bota de montar. Outrora, de uniforme, ele fazia bela figura. Era um homem alto e vigoroso. com mais de seis pés de estatura, tinha cabelos pretos e um bonito bigode preto. Os seus olhos, escuros e muito móveis, eram admiráveis. Era um homem bem apessoado e não o ignorava. Vestia bem, desalinhadamente quando o desalinho era de estilo e elegantemente quando a ocasião o exigia. Adorava a vida militar e foi um golpe amargo para ele quando, terminada a guerra, teve de abandoná-la. Suas ambições eram simples. Queria ter mil libras por ano, dar jantares finos e usar uniforme. Suspirava por Londres.
Sua mãe, entretanto, vivia lá, e sua mãe o atrapalhava. Como poderia apresentá-la se um dia se tornasse noivo da moça de boa família (com algum dinheiro) a quem pretendia fazer sua esposa? Como seu pai morrera havia muito e no fim da sua carreira tinha servido no mais remoto de todos os Estados Malaios, Izzart estava bastante seguro de que pessoa alguma em Sembulu sabia da existência dela, mas vivia no terror de que alguém, encontrando-a por acaso em Londres, escrevesse de lá para contar que ela era uma mestiça. Era uma linda criatura quando o pai de Izzart, engenheiro a serviço do governo, a desposara; mas estava transformada agora numa velha gorda, de cabelos grisalhos, que passava o dia inteiro sentada a fumar cigarros. Tinha Izzart doze anos quando o pai morreu e já sabia falar o malaio com muito mais fluência do que o inglês. Uma tia ofereceu custear-lhe a educação e Mrs. Izzart acompanhou o filho à Inglaterra. Costumava viver em apartamentos mobilados cujos aposentos, com as suas cortinas orientais e as suas pratas malaias, eram superaquecidos e mal ventilados. Andava eternamente de pendência com as proprietárias por causa do seu hábito de deixar tocos de cigarro pelo chão. Izzart sentia-se revoltado ao ver a maneira por que ela fazia amizade com essas senhoras: durante algum tempo mantinham uma familiaridade chocante, depois ficavam de mal e, após uma cena violenta, ela ia embora batendo as portas. Sua única diversão era o cinema, a que ia todos os dias. Em casa usava um chambre velho e espalhafatoso, mas para sair vestia-se — com que desalinho, santo Deus! — de cores extravagantes, fazendo a mortificação do filho tão janota. Questionava com ela amiúde, Mrs. Izzart o fazia perder a paciência e sentir-se envergonhado; e no entanto tinha por ela uma ternura profunda; era uma espécie de laço físico entre os dois, algo mais forte do que a afeição comum entre mãe e filho, de modo que apesar dos defeitos que o exasperavam ela era a única pessoa no mundo com quem se sentia inteiramente à vontade.
Foi devido à posição do pai e ao seu conhecimento do malaio — pois a mãe sempre lhe falava nessa língua — que depois da guerra, encontrando-se sem o que fazer, ele conseguiu entrar para o serviço do Sultão de Sembulu. Tinha feito sucesso. Era hábil em toda espécie de jogos, forte e bom atleta. Na hospedaria dos viajantes, em Kuala Solor, podiam ser vistas as taças que ele conquistara em Harrow, na corrida e no salto, e a estas havia acrescentado outras posteriormente, ganhas em campeonatos de tênis e golfe. Com o seu abundante repertório de assuntos de conversa era um elemento valioso em qualquer reunião social e a sua jovialidade punha tudo em animação. Devia ser um homem feliz e era desgraçado. Desejava imensamente ser benquisto e tinha a impressão, mais forte do que nunca nesse momento, de que a popularidade lhe fugia. Perguntava de si para si se porventura os homens de Kuala Solor, com quem vivia em tão bons termos, suspeitavam de que ele tinha sangue nativo nas veias. Sabia muito bem o que esperar se algum dia descobrissem. Não diriam então que ele era um alegre companheiro, e sim que tomava liberdades demais; achá-lo-iam descuidado e incompetente como todos os mestiços, e quando ele falasse em casar com uma mulher branca teriam um riso de mofa. Oh, como isso era injusto! Que diferença podia fazer aquela gota de sangue nativo nas suas veias? E no entanto, por causa dela, estariam sempre na expectativa de um fracasso em algum momento crítico. Todos sabiam que não se podia confiar num eurasiano, mais cedo ou mais tarde tinha-se uma desilusão com ele; Izzart também o sabia, mas perguntava consigo se tais fracassos não se deviam ao fato de que todos os esperavam. Nunca davam um ensejo aos coitados.
Mas um galo cantou sonoramente. Devia ser muito tarde e ele começava a sentir frio. Enfiou-se na cama. Quando Hassan lhe trouxe o chá pela manhã Izzart tinha uma terrível dor de cabeça, e quando desceu para o breakfast nem sequer pôde olhar para as papas de aveia e o "bacon" com ovos que lhe puseram na frente. Hutchinson também não se sentia muito disposto.
— Acho que fomos um pouco longe na noite passada — disse este, sorrindo para ocultar o seu leve embaraço.
— Estou com uma ressaca infernal — volveu Izzart.
— Quanto a mim, o meu café será um uísque com soda — acrescentou Hutchinson.
Izzart não pedia outra coisa. Foi de cara torcida que ambos viram Campion fazer, com saudável apetite, uma substanciosa refeição. Campion caçoava deles.
— Izzart, você está verde! Nunca vi cor mais cabulosa.
Izzart enrubesceu. A sua tez trigueira sempre fora para ele um ponto sensível. Mas forçou uma risada alegre.
— Uma de minhas avós era espanhola — respondeu, e sempre que não me sinto muito bem a cor aparece. Lembro-me de ter quebrado a cara a um guri em Harrow porque ele me chamou de mestiço.
— Você é moreno disse Hutchinson. — Os malaios nunca lhe perguntam se você não tem sangue nativo?
— Perguntam sim, os canalhas!
Um bote partira de manhã cedo, com os apetrechos, a fim de alcançar antes deles a foz do rio e avisar o comandante do Sultan Ahmed, se porventura chegasse antes da hora esperada, de que eles iam a caminho. Campion e Izzart embarcariam logo após o almoço para alcançar o ponto de pernoite antes da passagem da pororoca, uma grande vaga que sobe certos rios, por sua disposição topográfica especial, e sucede que o rio em que estavam viajando tinha pororoca. Hutchinson lhes falara disso na noite anterior e Campion, que nunca tinha visto coisa semelhante, estava muito interessado.
— É uma das melhores de Bornéu. Vale a pena vê-la — disse Hutchinson.
Contou-lhes que os nativos, aguardando o momento oportuno, cavalgavam a pororoca e eram arrastados rio acima com uma rapidez aterrorizante. Ele mesmo o fizera uma vez.
— Nunca mais! Que susto eu passei!
— Eu gostaria de experimentar — disse Izzart.
— É muito emocionante, mas palavra que quando a gente está dentro de uma frágil canoa e sabe que se os nativos não escolherem o momento exato será engolido por aquele vagalhão e não terá nenhuma possibilidade de escapar... Não, não é assim que eu concebo o esporte.
— Eu atravessei muitas corredeiras no meu tempo — disse Campion.
— Que corredeiras! Espere para ver essa pororoca. É uma das coisas mais apavorantes que já vi. Sabe que só neste rio morrem afogados nela pelo menos uma dúzia de nativos por ano?
Passaram quase toda a manhã na varanda e Hutchinson mostrou-lhes a casa do tribunal. Depois foram servidos gin pahits. Tomaram dois ou três. Izzart começou a sentir-se mais disposto e quando afinal o almoço ficou pronto ele comeu com excelente apetite. Hutchinson tinha-se gabado do seu caril malaio e todos eles se atiraram com voracidade aos pratos fumegantes e suculentos. Hutchinson insistia com os seus hóspedes para que bebessem.
— Vocês não têm nada que fazer senão dormir. Por que não vão tomar chuva?
Não podia resignar-se a deixá-los partir tão cedo. Como era bom, ao cabo de tanto tempo, ter homens brancos com quem conversar! Tratou de prolongar a refeição. Não os deixava descansar os maxilares. Iam jantar miseravelmente aquela noite na casa comunal e não teriam nada para beber senão arak. Pois então que aproveitassem aquela pechincha! Campion insinuou uma ou duas vezes que eram horas de partir, mas Hutchinson — e Izzart também, pois agora se sentia muito a seu gosto — garantiram-lhe que havia tempo de sobra. Hutchinson mandou vir a preciosa garrafa de Beneditino. Tinham-lhe feito uma brecha na noite passada; por que não terminá-la de vez antes de irem embora?
Quando desceu afinal com eles para o rio estavam todos muito alegres e nenhum dos três ia muito firme das pernas. A parte mediana do bote era coberta por um toldo de nipa, sob o qual Hutchinson mandara estender um colchão. A tripulação era composta de presos trazidos da cadeia para conduzir os brancos rio abaixo. Vestiam sarões imundos, com a marca da prisão. Estavam à espera, junto aos seus remos. Izzart e Campion Apertaram a mão de Hutchinson e deixaram-se cair no colchão. O bote largou. O rio turvo, dilatado e plácido, reluzia ao calor daquela tarde luminosa como bronze polido. Diante deles, à distância, avistava-se a ribanceira com o seu emaranhado de árvores verdes. Estavam sonolentos, mas Izzart, pelo menos, sentia um curioso prazer em resistir por algum tempo ao torpor que o invadia. Resolveu não se entregar ao sono senão depois que houvesse acabado o seu charuto. Afinal a bagana começou a queimar-lhe os dedos e ele jogou-a no rio.
— Vou dormir uma boa soneca.
— E a pororoca?
— Oh, quanto a isso não há perigo. Não precisamos nos preocupar com ela.
Deu um longo e sonoro bocejo. Parecia ter chumbo nos membros. Houve um momento em que sentiu uma deliciosa sonolência, depois não teve consciência de mais nada. Foi despertado de súbito por Campion, que o sacudia.
— Olhe, o que é aquilo?
— O que é o quê?
Respondeu de mau humor, pois ainda estava pesado de sono, mas acompanhou com os olhos o gesto de Campion. Seu ouvido não percebia som algum, mas ao longe avistou duas ou três ondas de crista branca que se seguiam umas às outras. Seu aspecto não era muito alarmante.
— Oh, aquilo deve ser a pororoca.
— O que vamos fazer? — gritou Campion.
Izzart ainda não estava bem acordado. Sorriu da voz atemorizada do seu companheiro.
— Não se preocupe. Esses camaradas entendem do riscado. Eles sabem o que devem fazer. Talvez levemos alguns borrifos.
Mas enquanto eles pronunciavam estas poucas palavras a pororoca avizinhou-se mais, avançando com grande rapidez, e Izzart percebeu que as ondas eram muito mais altas do que ele julgara. Um pouco apreensivo, apertou o cinto para que a calça não escorregasse no caso de virar o bote. Daí a um momento as vagas estavam em cima deles. Era um grande paredão de água a dominá-los e podia ter dez ou doze pés de altura, mas só se podia medi-lo com o horror. Era evidente que nenhum bote poderia aguentar. A primeira onda passou por cima, encharcando-os, enchendo parcialmente o bote de água, e logo após outra onda os colheu. Os barqueiros puseram-se aos gritos, forcejando nos remos como doidos, e o patrão berrou uma ordem. Mas nada podiam fazer contra aquela torrente impetuosa e dava medo vê-los perder por completo o controle do barco. A força das águas virou-o de costado e ele foi arrastado assim, aos trambolhões, sobre a crista da pororoca. O terceiro vagalhão arremessou-se sobre eles e o bote começou a afundar. Izzart e Campion safaram-se atabalhoadamente do lugar coberto em que estavam deitados. De repente o bote começou a ceder debaixo de seus pés e eles acabaram se debatendo na água encapelada e turbilhonante. O primeiro impulso de Izzart foi ganhar a margem a nado, mas seu criado Hassan gritou-lhe que se agarrasse ao bote. Foi o que todos fizeram por um ou dois minutos.
— Você está bem? — gritou-lhe Campion.
— Sim, estou gostando do banho — respondeu Izzart.
Imaginava que as ondas passariam à medida que a pororoca subisse o curso do rio e que em alguns minutos, no máximo, eles se encontrariam de novo em águas tranquilas. Esquecia que estavam sendo transportados na crista do vagalhão. As ondas arremessavam-se sobre eles. Agarravam-se à amurada e à base da armação que sustentava o toldo de nipa. Então uma onda maior colheu o bote e este virou, caindo sobre eles e fazendo-os perder o apoio; não pareciam ter mais que um casco escorregadio para se segurar e as mãos de Izzart resvalavam inutilmente na superfície engraxada. Mas o bote continuou a girar sobre si e ele se agarrou desesperadamente na amurada, que no entanto logo lhe escorregou das mãos naquele movimento circular. Pegou a armação do toldo, mas o bote não cessava de girar e mais uma vez ele procurou se agarrar ao casco. O bote dava voltas com uma horrível regularidade. Pareceu-lhe que era porque todos se agarravam do mesmo lado e quis mandar a tripulação passar para o outro. Não conseguiu se fazer entender. Todos gritavam e as ondas os malhavam com um rugido surdo e furioso. Cada vez que o bote caía de borco em cima deles, Izzart era jogado para o fundo, mas subia de novo para a tona valendo-se do apoio da amurada e da armação do toldo. A luta era medonha. Daí a pouco começou a perder o fôlego e sentiu que as forças o abandonavam. Sabia que não poderia resistir muito mais tempo, mas não sentia medo, pois a sua fadiga já era tamanha que pouco lhe importava o que acontecesse. Hassan achava-se ao seu lado e Izzart lhe disse que estava ficando muito cansado. Pensou que o melhor seria procurar ganhar a margem, — que não parecia estar a mais de sessenta metros de distância, mas Hassan suplicou-lhe que não o fizesse. Continuavam a ser arrastados no meio daquelas ondas fervilhantes e ferozes. O bote — volteava sem cessar e eles acompanhavam-lhe os movimentos, andando à roda como esquilos numa gaiola. Izzart engolia muita água. Sentia-se quase perdido. Hassan não o podia auxiliar, mas era um conforto tê-lo ali, pois Izzart sabia que o rapaz, acostumado à água desde criança, era um grande nadador; Depois, sem que ele soubesse por que, o bote imobilizou-se durante um minuto ou dois com o fundo para baixo e ele pôde agarrar-se à amurada. Era um precioso ensejo de tomar fôlego. Nesse momento duas canoas, com malaios cavalgando a pororoca, passaram velozmente por eles. Gritaram por socorro, mas os malaios desviaram os olhos e seguiram adiante. Tinham visto os brancos e não queriam se envolver em qualquer contratempo que lhes acontecesse. Foi uma agonia vê-los passar, insensíveis e indiferentes na sua segurança. Mas de súbito o bote pôs-se de novo a girar, lentamente, e recomeçou a mísera e exaustiva luta. Era de desesperar. Mas o breve descanso fora proveitoso a Izzart, que pôde lutar ainda por algum tempo. Depois tornou a sentir-se tão sem fôlego que lhe parecia que o seu peito ia rebentar. Estava com as forças exauridas e duvidava que fossem suficientes para nadar até a margem. De súbito ouviu um grito:
— Izzart, Izzart! Socorro! Socorro!
Era a voz de Campion, esganiçando-se num guincho de angústia. Izzart sentiu um choque em todos os nervos do seu corpo.
Campion, Campion ... Que lhe importava Campion? O medo apoderou-se dele, um medo cego, animal, e deu-lhe novas forças. Não respondeu.
— Ajuda-me, depressa — disse a Hassan.
Este o compreendeu imediatamente. Por milagre, um dos remos boiava bem perto deles e o malaio deu-lhe um empurrão, pondo-o ao alcance de Izzart. Colocou uma mão sob o braço deste e ambos afastaram-se do bote com uma braçada. O coração de Izzart batia com violência e ele respirava com dificuldade. Sentia-se horrivelmente fraco. As ondas fustigavam-lhe o rosto. A margem parecia tão longe! Jamais poderia alcançá-la. De repente o criado gritou que tinha tocado no fundo. Izzart colocou-se em posição vertical mas não encontrou pé; deu mais umas braçadas, exausto, os olhos fixos na margem, depois fez nova tentativa e sentiu os pés afundando numa lama espessa. Graças a Deus! Tocou para diante, patinhando; lá estava a margem ao alcance das suas mãos, uma lama negra em que se atolava até os joelhos. Subiu de rastos, doido por sair da água cruel, e ao alcançar o alto encontrou uma pequena chapada coberta de altos juncos. Ele e Hassan deixaram-se cair ao solo e durante algum tempo ficaram estendidos, imóveis, como mortos. Estavam tão cansados que não podiam mexer-se. A lama negra os cobria da cabeça aos pés.
Mas daí a pouco o cérebro de Izzart recomeçou a funcionar e uma angústia súbita o sacudiu. Campion afogara-se. Que horror! Como iria explicar o desastre quando voltasse a Kuala Solor? Seria responsabilizado; devia ter se lembrado da pororoca, mandando o patrão ganhar a margem e amarrar o bote quando o visse aproximar-se. A culpa não era dele e sim do patrão, que conhecia o rio. Por que diabo não tivera o bom senso de buscar um abrigo? Como podia crer na possibilidade de aguentar aquela pavorosa torrente? Izzart tremia por todo o corpo ao lembrar-se la muralha de água fervilhante que se abatera sobre eles. Tinha de encontrar o cadáver e levá-lo para Kuala Solor. Acaso algum homem da tripulação ter-se-ia afogado também? Sentia-se muito fraco para se mexer, mas Hassan levantou-se e torceu o seu sarong para secá-lo; correu os olhos pelo rio e virou-se vivamente para Izzart.?
— Tuan, aí vem um bote.
Os juncos não deixavam Izzart ver nada.
— Dá um grito. Hassan desapareceu das vistas e avançou por um galho de árvore que se estendia por cima d'água. Pôs-se a chamar aos gritos e a abanar com a mão. Daí a pouco Izzart ouviu vozes. Houve um rápido colóquio entre o criado e os remadores do bote, e Hassan tornou a aparecer.
— Eles viram quando nós viramos, Tuan, e vieram logo que a pororoca passou. Há uma casa comunal no outro lado.
Izzart teve por um instante a impressão de que lhe faltaria coragem para confiar-se mais uma vez àquela água traiçoeira.
— E o outro Tuan? — perguntou. — Eles não sabem.
— Se ele se afogou terão de procurar o corpo. — Um outro bote subiu o rio. Izzart não sabia o que fazer. Tinha o cérebro entorpecido. Hassan pôs-lhe o braço em volta dos ombros e ajudou-o a levantar-se. Abriu caminho por entre o cerrado juncal e ao chegar à beira d'água encontrou dois daiaques numa canoa. O rio tinha voltado ao seu aspecto calmo e indolente; o grande vagalhão passara e ninguém teria sonhado que tão pouco tempo atrás aquela superfície plácida era como um mar enfurecido. Os daiaques repetiram-lhe o que haviam contado a Hassan. Izzart não se animava a falar. Tinha a impressão de que se dissesse uma palavra explodiria em prantos. Hassan ajudou-o a entrar no bote e os daiaques começaram a atravessar o rio. Ele tinha uma vontade doida de fumar, mas os cigarros e os fósforos, que trazia no bolso de trás das calças, estavam encharcados. A travessia do rio pareceu-lhe interminável. A noite caiu e quando chegaram ao outro lado já cintilavam as primeiras estrelas. Desembarcou e um dos daiaques o conduziu à casa comunal. Mas Hassan agarrou o remo que ele largara e voltou com o outro para o meio do rio. Dois ou três homens e algumas crianças desceram ao encontro de Izzart, que se dirigiu para a casa no meio de um parlatório confuso. Galgou a escada e foi conduzido, entre saudações e agitados comentários, para o lugar em que dormiam os moços. Estenderam-se às pressas esteiras de rotim para lhe fazer uma cama em que ele se deixou cair extenuado. Trouxeram-lhe um jarro de arak e ele tomou um grande sorvo. A bebida áspera e ardente queimou-lhe a garganta, mas reconfortou-o. Tirou a camisa e a calça e pôs um sarong enxuto que lhe emprestaram. Deu com os olhos por acaso no fino crescente da lua, reclinado nas alturas, e essa vista lhe causou um prazer agudo, quase sensual. Não pôde deixar de refletir que nesse momento ele bem podia ser um cadáver boiando rio acima, levado pela maré.
A lua nunca lhe parecera mais bela. Começou a sentir fome e pediu arroz. Uma das mulheres foi prepará-lo. Sentindo-se mais calmo, pôs-se a pensar de novo nas explicações que daria em Kuala Solor. Ninguém podia censurar-lhe com justiça o fato de ter pegado no sono. Não estava bêbado, por certo (Hutchinson seria testemunha disso) e como poderia esperar que o patrão do bote fosse cometer aquela asneira? Tudo simples azar. Não podia pensar em Campion, porém, sem estremecer. Afinal trouxeram-lhe um prato de arroz e Izzart dispunha-se a comer quando um homem entrou correndo e se dirigiu para ele.
— O Tuan chegou!
— Que Tuan?
Saltou do leito de esteiras. Notou uma comoção na porta e deu um passo à frente. Hassan vinha rapidamente na sua direção, surgido das trevas. Então ouviu uma voz.
— Izzart, você está aí?
Campion adiantou-se para ele.
— Bem, cá estamos juntos de novo. Nossa! Escapamos de boa, hein? Você parece estar muito bem instalado aqui. Por Deus que um drink viria muito a propósito agora!
As roupas encharcadas grudavam-se em seu corpo. Estava enlameado e descabelado, mas com excelente disposição.
— Não sabia para onde diabos eles queriam me trazer. Tinha me resignado a passar a noite na margem do rio. Pensei que você tivesse se afogado.
— Aqui tem um pouco de arak — disse Izzart. Campion levou o jarro à boca, bebeu, cuspiu e tornou a beber.
— Que droga! Mas por Deus que é forte! — Olhou para Izzart, arreganhando os dentes cariados e escuros. — Escute, meu velho, você parece estar precisando de um banho.
— Vou me lavar depois.
— Está certo, eu também. Diga-lhes que me arranjem um sarong. Como foi que você escapou? — E, sem esperar pela resposta: — Eu já tinha me dado por perdido. Devo a vida a esses dois valentes aí. — Indicou com um movimento jovial de cabeça dois dos presos daiaques, a quem Izzart reconheceu vagamente como tendo feito parte da tripulação. — Estavam agarrados ao maldito bote, um à direita e o outro à esquerda, e não sei como perceberam que eu estava no fim. Não poderia aguentar nem um minuto mais. Indicaram-me, com sinais, que podíamos fazer uma tentativa de alcançar a margem a nado, mas me pareceu que eu não teria forças para tanto. Caramba, nunca me senti tão esfalfado na minha vida! Não sei como eles o conseguiram, mas o fato é que pegaram aquele colchão em que estivemos deitados e fizeram com ele um rolo. Ah! não resta dúvida que são uns valentes! Não compreendo por que não se salvaram simplesmente, sem se preocuparem comigo. Deram-me o colchão. O salva-vidas me pareceu miserável, mas compreendi a força do provérbio que diz que quem está se afogando se agarra à primeira palha que encontra. Segurei aquele diabo de negócio e entre os dois, não sei como, eles me arrastaram para a margem.
O perigo de que se salvara tornava Campion agitado e loquaz, mas Izzart mal escutava o que ele dizia. Ouviu mais uma vez, tão distintamente como se as palavras fizessem vibrar naquele momento o ar, o angustiado pedido de socorro de Campion, e sentiu-se esfriar. Um terror cego tomou-lhe conta dos nervos. Campion continuava, a falar: aquilo não teria por fim esconder os seus pensamentos? Izzart considerou-lhe os claros olhos azuis, procurando ler neles uma intenção oculta sob a torrente de palavras. Não tinham esses olhos um brilho duro, uma expressão, de cínica zombaria? Saberia ele que Izzart tinha fugido, abandonando-o à sua sorte? Corou fortemente. Afinal, que poderia ter feito? Num momento como aquele era cada um por si e Deus por todos. Mas que diriam em Kuala Solor se Campion lhes contasse que Izzart o abandonara? Devia ter ficado junto ao bote, e agora desejava de todo o coração tê-lo feito — mas não pudera, tinha sido mais forte do que ele Quem podia culpá-lo? Ninguém que tivesse visto aquela torrente furiosa. Oh, aquela água, aquela exaustão que quase o tinha feito chorar!
— Se você está com tanta fome quanto eu, vamos cair com força neste arroz — disse ele.
Campion comeu vorazmente, mas depois de engolir um ou dois bocados Izzart verificou que não tinha apetite. Campion falava sem cessar. O outro o ouvia desconfiado. Achou que devia ficar com o espírito alerta e bebeu mais arak. Começou a sentir-se um pouco tonto.
— Vou me ver numa camisa de onze varas em Kuala Solor — disse ele para sondar o terreno.
— Não sei por quê.
— Fui encarregado de cuidar de você. Não acharão muito bonito eu tê-lo deixado quase se afogar.
— Não foi sua culpa. Foi culpa daquele imbecil do patrão. Afinal, o importante é que nos salvamos. Com a breca, houve um momento em que me vi perdido. Gritei por você pedindo socorro. Não sei se você me ouviu.
— Não, não ouvi nada. Fazia uma barulheira do inferno, hein?
— Talvez você já tivesse escapado. Não sei exatamente quando se safou.
Izzart olhou-o com atenção. Seria fantasia sua ou os olhos de Campion tinham mesmo uma expressão esquisita?
— Era uma confusão medonha — disse ele. — Eu estava já sem forças. O meu criado me atirou um remo e me deu a entender que você estava fora de perigo. Disse-me que você tinha alcançado a margem.
O criado devia ter dado o remo a Campion e dito a Hassan, o forte nadador, que ajudasse o outro. Estaria imaginando de novo que Campion lhe dava um olhar vivo e penetrante?
— Quisera ter sido mais prestativo — disse Izzart.
— Oh, tenho certeza de que você teve trabalho de sobra para se salvar — respondeu Campion.
O chefe da casa trouxe-lhes taças de arak e ambos beberam muito. A cabeça de Izzart começou a girar e ele sugeriu que se deitassem. Tinham-lhes preparado duas camas com mosquiteiros. Partiriam ao amanhecer para terminar a descida do rio. A cama de Campion ficava ao lado da sua e daí a poucos minutos ouviu-o roncar. Tinha ferrado no sono assim que se deitara. Os moços da casa comunal e os presos da tripulação do bote conversaram até tarde da noite. Izzart tinha uma horrível dor de cabeça e não podia pensar. Quando Hassan o acordou, ao romper do dia, ele teve a impressão de que não havia dormido. As roupas dos dois ingleses estavam lavadas e enxutas, mas ambos tinham um aspecto muito enlameado ao tomarem o estreito caminho do rio, onde os esperava um prau. Os barqueiros remavam descansadamente. A manhã estava linda e o grande lençol de água plácida reluzia sob a luz suave.
— Caramba, é um prazer estar vivo! — disse Campion.
Estava sujo e barbudo. Respirava em haustos profundos, a boca torta entreaberta numa expressão sorridente. Via-se que ele achava o ar delicioso. Encantava-se com o espetáculo do céu azul, do sol e do verde das árvores. Izzart sentiu-lhe ódio. Tinha certeza de que as suas maneiras haviam mudado nessa manhã. Não sabia o que fazer. Estava a ponto de apelar para a sua generosidade. Ele se conduzira mal, mas lamentava-o e tudo daria para ter novamente uma oportunidade; afinal qualquer um podia ter procedido como ele, e se Campion o denunciasse ele estava perdido. Teria de deixar Sembulu e o seu nome ficaria desacreditado em Bornéu e nos Estabelecimentos do Estreito. Se fizesse uma confissão a Campion, obteria deste uma promessa de guardar segredo — mas cumpriria ele tal promessa? Considerou aquele homenzinho de maneiras evasivas: como confiar em tal criatura? Izzart pensou no que tinha dito na noite anterior. Não era a verdade, por certo, mas quem poderia sabê-lo? Em todo caso, quem poderia provar que ele não julgara sinceramente que Campion estava salvo? Este podia dizer o que quisesse, era a palavra dum contra a do outro; bastava rir, dar de ombros e responder que seu companheiro perdera a cabeça e não sabia o que estava dizendo. Além disso, não era certo que Campion não tivesse aceitado a sua explicação; naquela medonha luta com a morte ele não podia ter formado uma ideia clara de coisa alguma. Izzart tinha a tentação de voltar ao assunto, mas receava que isso despertasse suspeitas em Campion. Devia ficar calado. Era a sua única salvação. E, quando chegassem a Kuala Solar, trataria de ser o primeiro a dar a sua versão do caso.
— Eu me sentiria completamente feliz se tivesse alguma coisa que fumar — disse Campion.
— Arranjaremos cigarros a bordo. Campion riu de leve. — A alma humana é contraditória. No primeiro momento senti-me tão contente por estar vivo que não pensei em mais nada, mas agora estou começando a lamentar a perda das minhas notas, das minhas fotografias e do meu aparelho de barbear. — Izzart formulou de si para si o pensamento que se ocultava no fundo do seu cérebro, mas a que durante toda a noite ele negara acesso à consciência:
"Quem me dera que ele se tivesse afogado! Só assim eu estaria tranquilo."
— Lá está ele! — gritou Campion de repente.
Izzart virou-se para olhar. Tinham chegado à foz do rio e lá estava o Sultan Ahmed a esperá-los. Izzart esfriou: esquecera que o navio tinha um capitão inglês e seria preciso contar a este a aventura. Que iria dizer-lhe. Campion? O capitão chamava-se Bredon e Izzart encontrara-se muitas vezes com ele em Kuala Solor. Era um homenzinho rude, de bigode preto e maneiras despachadas.
— Apressem-se — gritou ao vê-los chegar. — Estou esperando desde o nascer do sol.
Mas quando os dois subiram para bordo ele fez uma cara consternada. — Ué, o que foi que lhes aconteceu?
— Dê-nos um drinque e lhe contaremos a história — respondeu Campion com o seu sorriso de viés.
— Venham comigo.
Sentaram-se debaixo do toldo. Havia ali uma mesa com copos, uma garrafa de uísque e água de soda. O capitão deu uma ordem e dentro de poucos minutos o vapor punha-se ruidosamente em marcha.
— Fomos apanhados pela pororoca — disse Izzart. Sentia a necessidade de dizer alguma coisa. Tinha a boca horrivelmente seca apesar do drink.
— Não me diga! Foi uma sorte não morrerem afogados. Como foi isso?
Dirigia-se a Izzart porque o conhecia, mas foi Campion quem respondeu. Relatou todo o episódio com exatidão. Izzart o escutava com uma atenção concentrada. Campion falou no plural ao referir a primeira parte da história, mas quando chegou ao momento em que eles tinham sido jogados à água passou para o singular. No começo disse o que eles tinham feito, agora dizia o que lhe acontecera, a ele, excluindo Izzart da narrativa. Este não sabia se devia sentir-se aliviado ou alarmado. Por que o outro não o mencionava? Seria porque naquela luta mortal ele não tinha pensado senão em si, ou... Ou por acaso ele sabia?
— E a você, que foi que aconteceu? — perguntou o capitão Bredon voltando-se para Izzart.
Este ia responder quando Campion falou: — Antes de ser levado para o outro lado do rio eu pensava que ele se tivesse afogado. Não sei como escapou. Creio que nem ele mesmo sabe.
— Salvei-me por um tris — ajuntou Izzart, rindo. Por que motivo Campion tinha dito aquilo? Seu olhar cruzou-se com o dele. Julgou notar-lhe um brilho irônico. Era horrível não ter certeza de nada. Sentiu medo e vergonha. Não haveria um meio de orientar a conversa, quer naquele momento, quer mais tarde, de modo que lhe fosse possível saber se era aquela a história que ele pretendia contar em Kuala Solor? Nada havia nela que despertasse suspeitas. Mas ainda que ninguém mais soubesse; Campion sabia! Tinha ganas de matá-lo.
— Bem, o que me parece é que os dois tiraram a sorte grande — disse o capitão.
Dali a Kuala Solor era perto. Enquanto subiam o rio Sembulu Izzart observava taciturnamente as margens. De ambos os lados viam-se os mangues e as nipas banhados pela água e, por trás, o verde carregado da floresta. Aqui e além, entre árvores de fruta, apareciam casas malaias erguidas sobre estacas. Quando encostaram às docas a noite ia caindo. Goring, o inspetor da polícia, veio a bordo e apertou-lhes a mão. De momento estava morando na hospedaria dos viajantes, e enquanto ia interrogando os passageiros nativos informou-os de que encontrariam lá outro homem, chamado Porter. Todos eles se veriam ao jantar. Os criados levaram as bagagens e apetrechos e Campion e Izzart puseram-se a caminho. Tomaram banho, mudaram de roupa, e às oito e meia reuniram-se os quatro na sala comum para tomar gin pahits.
— Que história é essa que Bredon me contou, de que os dois estiveram a ponto de se afogar? — perguntou Goring ao vê-lo entrar.
Izzart sentiu um rubor cobrir-lhe as faces, mas Campion interveio sem lhe dar tempo de responder e pareceu-lhe certo que o outro o fazia a fim de narrar o episódio como mais lhe convinha. Izzart ardia de vergonha. Nem uma palavra era dita em seu menoscabo, nem uma palavra mesmo a seu respeito. Perguntou consigo se aqueles dois homens que escutavam, Goring e Porter, não achariam estranho o ser ele assim excluído do caso. Observou Campion atentamente enquanto este prosseguia na narrativa, com bastante humorismo; não disfarçava o perigo que tinham corrido, mas fazia pilhéria em torno, levando os dois ouvintes a rir daquelas aperturas.
— O mais engraçado — disse Campion — é que quando cheguei ´à outra margem estava preto de lama, da cabeça aos pés. Senti a necessidade de cair n'água e tomar um banho, mas quem é que ia me convencer a entrar de novo naquele maldito rio? "Não senhor", disse cá comigo, "vou assim mesmo." E quando entrei na casa comunal e vi Izzart tão preto como eu, compreendi que ele tinha sentido a mesmíssima coisa.
Riram, e Izzart também forçou uma risada. Notou que Campion tinha contado a história nos mesmos termos que usara com o capitão do Sultan Ahmed. Só podia haver uma explicação para isso: ele sabia de tudo, e tinha tomado a sua resolução sobre o que devia dizer. A habilidade com que Campion expunha os fatos, evitando tudo aquilo que pudesse trazer descrédito, era diabólica. Mas por que essa moderação? Ele não podia deixar de sentir desprezo e raiva do homem que tranquilamente o abandonara num momento de perigo mortal. De súbito, num relâmpago, Izzart compreendeu: ele estava reservando a verdade para contá-la a Willis, o Residente. Apavorou-se ao pensar em fazer frente a Willis. Podia negar, mas de que serviria isso? Willis não era nenhum tolo. Mandaria chamar Hassan, e não se podia confiar na discrição deste; Hassan o trairia. Então ele estaria liquidado. Willis o aconselharia a voltar para a Inglaterra.
Estava com uma tremenda dor de cabeça. Depois do jantar recolheu-se ao seu quarto, pois queria estar só a fim de traçar um plano de ação. Veio-lhe então uma ideia que o fez sentir ao mesmo tempo frio e calor: o segredo que tinha guardado por tanto tempo não era segredo para ninguém. Adquiriu instantaneamente essa certeza. Donde vinham aqueles olhos brilhantes e aquela pele trigueira que tinha? Por que falava ele o malaio com tanta facilidade e por que aprendera tão depressa a língua dos daiaques? Eles sabiam, ora se não! Que imbecil tinha sido em pensar que os outros acreditassem naquela história da avó espanhola! Deviam rir à socapa quando lha ouviam contar, chamando-o de amarelo pelas costas. Veio-lhe então outro pensamento torturante. Perguntou consigo se não seria por causa dessa desgraçada gota de sangue nativo que ao ouvir o pedido de socorro de Campion lhe faltara a coragem. Afinal, qualquer um podia ser tomado de pânico num momento como aquele; e por que, em nome de Deus, havia de sacrificar a sua vida para salvar a de um homem que não lhe interessava em absoluto? Seria loucura! E contudo eles diriam em Kuala Solor que era justamente o que esperavam; não teriam contemplações com ele.
Finalmente deitou-se, mas quando adormeceu, depois de virar-se de um lado para outro sabe Deus quanto tempo, foi acordado por um sonho aterrador. Estava de novo no meio daquela torrente furiosa, com o bote a dar volta e mais voltas; agarrava-se com desespero à amurada, sentia aquela angústia de vê-la escorregar-lhe das mãos, com a água a esbravejar em torno. Despertou de todo antes do amanhecer. Sua única salvação era falar com Willis e contar-lhe a história antes do outro. Refletiu cuidadosamente no que diria e escolheu os próprios termos que pretendia usar:
Levantou-se cedo e, a fim de não se encontrar com Campion, saiu sem comer. Caminhou pela estrada até a hora em que sabia que" o Residente devia estar na repartição, e então voltou sobre os seus passos. Mandou anunciar o seu nome e foi introduzido no gabinete de Willis. Era este um homenzinho idoso, de cabelos grisalhos e ralos, cara amarela e comprida.
— Estimo vê-lo de volta são e salvo — disse ele apertando a mão de Izzart. — Que história é essa que ouvi contar, de que estiveram a ponto de morrer afogados?
Izzart, com uma roupa limpa de brim branco, o chapéu de cortiça imaculado, era uma bela figura de homem. Seu cabelo não tinha um fio fora do lugar, o bigode estava corretamente aparado. Tinha um porte aprumado e marcial.
— Achei que devia vir contar-lhe imediatamente, porque o senhor me havia encarregado de zelar por Campion.
— Venha de lá.
Izzart contou a sua história. Fez pouco do perigo, dando a entender a Willis que este não fora grande. O bote não teria virado se eles não tivessem partido tão tarde.
— Procurei levar Campion mais cedo, mas ele tinha tomado um ou dois drinks e a verdade é que não queria se mexer.
— Ele estava na chuva?
— Quanto a isso não sei — respondeu Izzart com um sorriso bem-humorado, — mas não garanto que estivesse perfeitamente lúcido.
Continuou com a sua história. Achou um meio de insinuar que Campion tinha perdido um pouco a cabeça. Naturalmente aquilo era de apavorar um homem que não fosse bom nadador; ele, Izzart, preocupara-se mais com Campion do que consigo próprio. Sabia que o único meio de escapar era conservar a calma e no momento em que o bote virou tinha visto que Campion estava amedrontado.
— Era muito natural — observou o Residente.
— Está claro que fiz o que pude por ele, sir, mas a verdade é que não podia fazer muito.
— Bem, o principal é que ambos se salvaram. Seria bastante embaraçoso para todos nós se ele se tivesse afogado.
— Achei prudente vir expor-lhe os fatos antes que o senhor falasse com Campion. Ele me parece inclinado a descrevê-los de uma forma extravagante. Não há necessidade de exagerar.
— Em conjunto, as narrativas de ambos concordam entre si — disse Willis com um pequeno sorriso.
Izzart encarou-o, confuso.
— Não falou com Campion esta manhã? Goring contou que tinha havido um contratempo e passei por lá ontem de noite depois do jantar, a caminho de casa. O senhor já tinha ido deitar-se.
Izzart sentiu que se punha a tremer e fez um grande esforço para manter a compostura.
— A propósito, o senhor salvou-se primeiro, não foi?
— Na verdade não sei, sir. Compreende, a confusão era grande.
— Deve ter sido assim, se o senhor chegou à outra margem antes dele.
— Sim, creio que o senhor tem razão. — Bem, obrigado por me ter vindo contar — disse Willis, erguendo-se da cadeira.
Ao fazê-lo derrubou alguns livros que estavam em cima da mesa. Eles caíram ao chão com um baque repentino. Esse som inesperado fez com que Izzart estremecesse violentamente, contendo a respiração. O Residente lançou-lhe um olhar vivo.
— Que é isso? O senhor não parece estar lá muito bom dos nervos.
Izzart não podia dominar o seu tremor. — Lamento muito, sir — murmurou ele.
— Sem dúvida foi um choque para si. Devia descansar durante alguns dias. Por que não pede ao doutor que lhe dê alguma coisa para tomar?
— Não dormi muito bem esta noite. O Residente sacudiu a cabeça para indicar que compreendia. Izzart deixou o gabinete e ao sair para a rua um conhecido seu deteve-se para felicitá-lo. Todos já sabiam do incidente. Voltou para a hospedaria dos viajantes. Enquanto caminhava repetia de si para si a história que tinha contado ao Residente. Seria realmente a mesma que Campion contara? Nem sequer suspeitava que o Residente já havia falado com este. Que tolice cometera em ir deitar-se tão cedo! Não devia ter perdido Campion de vista. Por que motivo o Residente o escutara sem dizer nada? Izzart começou a amaldiçoar-se por ter insinuado que Campion estava embriagado e perdera a cabeça. Tinha dito isso para desacreditá-lo, mas compreendia agora que fora uma estupidez. E qual o motivo daquela alusão de Willis ao fato de ele ter sido o primeiro a salvar-se? Talvez ele também estivesse contemporizando, talvez pretendesse fazer indagações. Willis era um homem muito astuto. Mas que seria exatamente o que Campion tinha dito? Tinha de sabê-lo, custasse o que custasse. Os pensamentos de Izzart estavam em ebulição e era com dificuldade que os controlava. Mas precisava manter a calma. Sentia-se como um animal acossado. Não acreditava que Willis o estimasse; por uma ou duas vezes, na repartição, ele lhe censurara a sua negligência. Talvez estivesse apenas esperando até ter pleno conhecimento dos fatos. Izzart achava-se à beira da histeria.
Entrou na hospedaria dos viajantes. Lá estava Campion, sentado numa espreguiçadeira, com as pernas estendidas. Lia os jornais recebidos durante a sua ausência na selva. Izzart sentiu uma onda de ódio ao olhar para aquele homenzinho mal vestido que o tinha na palma da mão.
— Olá! — disse Campion, alçando os olhos. — Onde foi que você esteve?
Izzart julgou ler-lhe nos olhos uma ironia zombeteira. Cerrou os punhos e a sua respiração tornou-se precipitada.
— Que foi que você andou dizendo de mim a Willis? — perguntou abruptamente.
Tão áspero era o tom em que ele formulou esta pergunta inesperada que Campion lhe lançou um olhar levemente surpreendido.
— Não creio que tenha falado muito a seu respeito. Por quê?
— Ele esteve aqui esta noite. Izzart considerava-o com atenção, as sobrancelhas franzidas numa carranca de cólera. Procurava ler os pensamentos de Campion.
— Disse a ele que você estava com dor de cabeça e tinha ido se deitar. Ele queria saber do nosso contratempo.
— Acabo de falar com ele. Izzart andava de um lado para outro no vasto aposento sombreado. Embora ainda fosse cedo o sol já escaldava, ofuscante. Ele se sentia preso numa rede; estava cego de raiva; tinha ímpetos de agarrar Campion pelo pescoço e estrangulá-lo, e contudo, como não sabia contra que lutar, sentia-se impotente. Estava cansado e indisposto, com os nervos abalados. De repente a cólera que lhe emprestava forças abandonou-o e ele se encheu de desânimo. Dir-se-ia que nas suas veias corria água — em vez de sangue; sentiu desfalecer-lhe o coração e fraquejar as pernas. Percebeu que se não tomasse cuidado ia por-se a chorar. Foi tomado por um horrível abatimento.
— Diabos o levem, tomara que nunca lhe tivesse posto os olhos em cima! — gritou lastimosamente.
— Mas... de que se trata? — perguntou Campion, assombrado.
— Ora, deixe de fingimento! Há dois dias que andamos com disfarces e já estou farto disso. — A sua voz alteou-se, assumindo um tom estridente muito estranho em homem tão robusto e possante. — Estou farto, compreende? Eu me pus ao fresco, deixando que você se afogasse. Sei que procedi como um frouxo. Não pude me dominar.
Campion levantou-se vagarosamente da cadeira. — Mas do que você está falando?
A sua voz tinha um tom de surpresa tão genuíno que fez Izzart estacar. Um arrepio desceu-lhe pela espinha.
— Quando você pediu socorro eu estava tomado de pânico. Agarrei-me a um remo e pedi a Hassan que me ajudasse a escapar.
— Era a coisa mais sensata que você podia fazer.
— Não pude ajudá-lo. Não pude fazer coisa alguma.
— Claro que não. Foi uma tolice minha gritar. Isso era gastar fôlego, e o fôlego era a coisa mais preciosa para mim na ocasião.
— Quer dizer, então, que você não sabia?
— Quando aqueles camaradas me estenderam o colchão eu pensava que você ainda estava agarrado ao bote. Supunha ter escapado antes de você.
Izzart levou ambas as mãos à cabeça e soltou um grito rouco de desespero.
— Meu Deus, que idiota eu sou!
Os dois homens encararam-se durante algum tempo. O silêncio parecia interminável.
— Que é que você vai fazer agora? — perguntou Izzart finalmente.
— Ora, meu caro, não se preocupe. Já tenho passado muitos sustos na minha vida para culpar os outros de covardia. Não contarei isso a ninguém.
— Sim, mas você sabe.
— Dou-lhe a minha palavra. Pode confiar em mim. Além disso, o meu serviço aqui está terminado e vou voltar para casa. Pretendo tomar o primeiro vapor para Singapura. — Houve uma pausa, durante a qual Campion considerou Izzart pensativamente. — Só lhe queria pedir uma coisa. Fiz muitas amizades aqui e há um ou dois pontos em que sou bem sensível. Quando você contar a história do nosso naufrágio, eu lhe ficaria reconhecido se não desse a entender que fiz feio. Não gostaria que os rapazes daqui pensassem que eu tinha perdido a coragem.
Izzart ficou escarlate. Lembrou-se do que dissera ao Residente. Quase chegava a parecer que Campion tinha escutado atrás da porta. Pigarreou e disse:
— Não sei por que você me julga capaz disso.
Campion teve um risinho gutural e bonachão. Os seus olhos cintilaram.
— Coisas do atavismo — respondeu; e, arreganhando os dentes cariados e escuros: — Fume um charuto, meu caro rapaz.
(Título original: The Yellow Streak.)
A carta
Fora do cais o sol escaldava. Uma fila de automóveis, caminhões, ônibus, carros particulares e jornaleiros, corria acima e abaixo pela rua apinhada, e cada chofer fazia soar a sua buzina; os jinriquixás esgueiravam-se agilmente entre a turba, e os cules ofegantes achavam fôlego para berrarem uns aos outros; cules, carregando pesados fardos, passavam a meio trote e gritavam aos transeuntes que lhes abrissem caminho; vendedores ambulantes apregoavam as suas mercadorias. Singapura é o ponto de encontro de uma centena de povos; e homens de todas as cores, tâmils negros, chins amarelos, malaios pardos, armênios, judeus e bengalis, chamavam-se em vozes roucas. Mas dentro do escritório dos Srs. Ripley, Joyce e Naylor havia uma aprazível frescura; a casa parecia obscurecida após o revérbero poeirento da rua, e agradavelmente silenciosa depois daquela contínua barulheira. Mr. Joyce achava-se no seu gabinete particular, sentado à mesa, com um ventilador elétrico à frente. Inclinado para trás, com os cotovelos nos braços da cadeira, tinha as mãos unidas pelas pontas dos dedos entreabertos. Repousava o olhar nos volumes surrados da Coletânea de Leis, que se enfileiravam diante dele numa comprida prateleira. Em cima de um armário, viam-se caixas de charão, quadradas, nas quais estavam pintados os nomes de vários clientes.
Bateram à porta. — Entre. Um secretário chinês, muito limpo na sua roupa de linho branco, abriu a porta.
— Mr. Crosbie está aí, senhor. Falava um excelente inglês, acenTuando com precisão todas as palavras, e Mr. Joyce muitas vezes se admirava da extensão do seu vocabulário. Ong Chi Seng era cantonês, e estudara advocacia no Inn of Court, em Londres. Viera trabalhar um ano ou dois com os Srs. Ripley, Joyce e Naylor a fim de preparar-se para advogar com escritório próprio. Era diligente, obsequioso, e de caráter exemplar.
— Mande-o entrar — disse Mr. Joyce.
Levantou-se para apertar a mão do visitante e convidá-lo a sentar-se. Quando este assim o fez, achou-se exposto à luz. O rosto de Mr. Joyce permaneceu na sombra. Era um homem silencioso por índole, e ficou a olhar para Robert Crosbie, durante um minuto, sem dizer palavra. Crosbie era um tipo sólido, com mais de um metro e oitenta de altura, musculoso e de ombros largos. Era plantador de borracha, enrijado no constante exercício de caminhar pelos seringais, e no tênis, a sua única distração quando findava o dia de trabalho. Estava bastante queimado pelo sol. As mãos peludas, os pés metidos em sapatos grosseiros, eram enormes; Mr. Joyce deu consigo a pensar que um golpe daquele robusto punho mataria facilmente um tâmul franzino. Mas não havia dureza nos seus olhos azuis: eram suaves e confiantes; o rosto, de feições grossas e indistintas, era aberto, franco e honesto. Mas nesse momento havia nele uma expressão de profunda tristeza. Estava contraído e macilento.
— Parece-me que você não tem dormido muito há uma ou duas noites — disse Mr. Joyce.
— Não tenho, não.
Mr. Joyce observou o velho chapéu de feltro, de abas largas e duplas, que Crosbie tinha colocado sobre a mesa; correu depois os olhos para as suas calças curtas, de cáqui, que mostravam as coxas cobertas de pelos ruivos, para a camisa de tênis aberta ao pescoço, sem gravata, e para o casaco enxovalhado, também de cáqui, cujas mangas estavam viradas para cima. O homem dava a impressão de que acabava de chegar de uma longa caminhada por entre os seringais. Mr. Joyce franziu ligeiramente o sobrolho.
— Você precisa recompor-se, homem. Precisa manter a cabeça no lugar.
— Oh, estou muito bem. — Viu sua mulher hoje? — Não, vou vê-la agora de tarde. Você compreende, é uma enorme vergonha o fato de a terem prendido.
— Acho que se viram obrigados a isso — observou Mr. Joyce na sua voz suave e parelha.
— Pois eu pensava que a deixariam em liberdade sob fiança.
— A acusação é muito séria.
— É detestável. Ela fez o que qualquer mulher honesta faria em seu lugar. Acontece que em dez mulheres, nove não teriam coragem para isso. Leslie é a melhor criatura do mundo. Ela não seria capaz de matar uma mosca. Ora, deixemo-nos de coisas, meu caro. Estou casado com ela há doze anos, e pensa você que eu não a conheço? Deus do céu, se eu tivesse apanhado o sujeito, torcia-lhe o pescoço. Matava-o sem um momento de hesitação. Você faria o mesmo.
— Mas meu caro, todos estão do seu lado. Ninguém é capaz de dizer uma única palavra em favor de Hammond. Vamos tirá-la de lá. Acho que nem os jurados nem o juiz irão ao tribunal sem estarem resolvidos a absolver.
— Toda a história é uma farsa — disse Crosbie violentamente. — Em primeiro lugar, ela nunca devia ter sido presa, e é terrível, depois de tudo o que ela passou, submetê-la à provação de um julgamento. Nem uma só das pessoas que encontrei, desde que cheguei em Singapura, homem ou mulher, deixou de dizer-me que Leslie estava absolutamente justificada. Acho que é horrível mantê-la na prisão durante todas estas semanas.
— A lei é a lei. Afinal de contas, ela confessa que matou o homem. Isso é terrível, e eu o lamento muitíssimo, tanto por você como por ela.
— Não tem importância nenhuma.
— Mas permanece o fato de que o crime foi cometido, e numa comunidade civilizada um julgamento é inevitável.
— Acabar com um bicho daninho é crime? Ela o matou como teria matado um cão hidrófobo.
Mr. Joyce tornou a inclinar-se na sua cadeira e mais uma vez uniu as mãos pelas pontas dos dedos entreabertos. O gesto parecia formar a armação de pequeno telhado. Esteve um momento em silêncio.
— Eu faltaria ao meu dever como seu consultor legal — disse ele por fim, numa voz plana, fitando o cliente com os seus olhos castanhos e frios — se não lhe mencionasse um ponto que me causa certa ansiedade. Se sua esposa tivesse disparado contra Hammond um só tiro, tudo seria absolutamente fácil e resolvido. Por infelicidade, ela fez seis disparos.
— A explicação dela é perfeitamente simples. Naquelas circunstâncias qualquer pessoa teria feito o mesmo.
— Suponho — disse Mr. Joyce — e sem dúvida acho que a explicação é muito razoável. Mas de nada serve fecharmos os olhos diante dos fatos. Sempre é um bom recurso colocar-se a gente no lugar do adversário, e eu não posso negar que se fosse o promotor concentraria o meu interrogatório em torno desse ponto.
— Mas meu caro, isso é perfeitamente idiota. Mr. Joyce lançou um olhar penetrante a Robert Crosbie. A sombra de um sorriso pairou-lhe nos lábios bem formados. Crosbie era um bom sujeito, mas dificilmente poderia ser dado como inteligente.
— Acho que isso não tem importância — respondeu o advogado. — Apenas julguei que era um ponto mencionável. Vocês não têm, agora, muito que esperar, e quando tudo estiver terminado recomendo-lhe que faça uma viagem com a esposa, e esqueçam tudo o que houve. Embora tenhamos certeza quase absoluta de conseguir uma absolvição, um julgamento destes é coisa que causa ansiedade, e vocês dois precisarão de um descanso.
— Acho que eu vou precisar mais do que Leslie. Ela tem resistido maravilhosamente. Meu Deus, é uma mulherzinha muito corajosa.
— Sim, tem-me surpreendido a maneira como ela se mantém senhora de si — disse o advogado. — Eu nunca teria pensado que ela fosse capaz de tamanha determinação.
Os deveres de advogado tinham-lhe exigido uma série de entrevistas com Mrs. Crosbie desde a sua prisão. Apesar de a terem cercado de todas as atenções cabíveis, havia o fato de que ela se encontrava na cadeia, à espera de ser julgada por homicídio, e não seria para admirar se os nervos lhe falhassem. Parecia suportar tranquilamente a. provação. Lia muito, fazia quanto exercício lhe era possível, e por deferência das autoridades trabalhava na almofada de rendas que sempre fora o entretenimento das suas longas horas de lazer. Quando Mr. Joyce a viu, ela usava um vestido leve, simples e correto, tinha o cabelo cuidadosamente penteado e as unhas polidas. A sua atitude era de calma e compostura. Chegou a gracejar sobre os pequenos inconvenientes da sua posição. Havia certa despreocupação no modo por que ela falava da tragédia, e isto sugeriu a Mr. Joyce que apenas a sua boa educação impedia de achar um tanto ridícula uma situação que era eminentemente séria. Tal coisa o surpreendeu, pois nunca a julgara capaz de fazer humorismo.
Conhecia-a desde muitos anos. Quando ela visitava Singapura, geralmente vinha jantar com ele e a esposa, e por uma ou duas vezes passara com eles um fim de semana na sua casa a beira-mar. A sua esposa tinha ficado quinze dias com ela no seringal, e diversas vezes encontrara Geoffrey Hammond. Os dois casais entretinham amizade, embora não em caráter íntimo, e foi por este motivo que Robert Crosbie correra a Singapura imediatamente após a catástrofe e suplicara a Mr. Joyce que se encarregasse em pessoa da defesa de sua infeliz esposa.
A história que ela lhe contara na sua primeira entrevista não fora mudada no mínimo detalhe. Narrara-a tão friamente nessa ocasião, poucas horas após a tragédia, como o fazia agora. Narrava-a concatenadamente, em voz plana e parelha, e seu único sinal de confusão era quando um leve rubor lhe chegava às faces no momento em que descrevia um ou dois dos seus incidentes. Era ela a última mulher a quem se esperasse acontecer semelhante coisa. Com trinta e poucos anos, era uma criatura frágil, nem baixa nem alta, e antes graciosa que bonita. Com os punhos e tornozelos muito delicados, era contudo muito franzina e podia-se ver-lhe os ossos das mãos através da pele branca; as meias eram grossas e azuis. Rosto sem cor, ligeiramente pálido, e lábios brancos. Não se lhe notava a cor dos olhos. Tinha um abundante cabelo castanho claro, com ligeira ondulação natural; cabelos que com um pequeno arranjo ficariam lindíssimos, mas não se podia imaginar que Mrs. Crosbie fosse capaz de recorrer a semelhante recurso. Era uma mulher quieta, agradável e modesta. Tinha maneiras atraentes, e se não era muito popular, devia-o a uma certa timidez. Isto era bastante compreensível, pois a mulher de um plantador passa uma vida solitária, mas na sua casa, entre as pessoas que conhecia, Mrs. Crosbie era encantadora no seu modo tranquilo. Mrs. Joyce, após a sua estada de quinze dias, disse ao marido que Leslie sabia receber agradavelmente. Nela, afirmou, havia mais do que pudessem pensar; tratando-a, ficava-se surpreso com tudo o que lera e pelo seu modo consumado de dirigir uma palestra.
Seria a última mulher do mundo a cometer um assassinato.
Mr. Joyce despediu Robert Crosbie com as palavras tranquilizadoras que pôde encontrar e, outra vez a sós no gabinete, folheou as páginas do sumário. Mas o gesto era maquinal, pois todos os seus detalhes lhe eram familiares. O caso representava a sensação do dia, e era discutido em todos os clubes, em todas as mesas de jantar, abaixo e acima da península, de Singapura e Penang. Os fatos expostos por Mrs. Crosbie eram muito simples. O marido tinha ido a Singapura a negócios, e ela estava sozinha à noite. Jantou só, tarde, um quarto para as nove, e depois da refeição sentou-se na sala de estar, a tecer as suas rendas. A sala dava para a varanda. Não havia ninguém no bangalô, e os criados estavam recolhidos às suas acomodações, nos fundos do cercado. Surpreendeu-se quando ouviu passos no caminho saibroso do jardim, passos de pés calçados, antes de um branco que de um nativo, pois não ouvira ruído de automóvel a aproximar-se, e não podia imaginar quem a viesse visitar àquela hora da noite. Alguém subiu os poucos degraus que levavam ao bangalô, atravessou a varanda, e apareceu à porta da sala em que ela se encontrava. No primeiro momento não reconhecera o visitante. Estava sentada ao pé de uma lâmpada com velador, e ele lhe ficava às costas, no escuro.
— Posso entrar? — perguntou o homem.
Ela nem lhe reconheceu a voz.
— Quem é? — perguntou. Como estivesse de óculos para trabalhar, tirou-os enquanto falava.
— Geoff Hammond.
— Claro. Entre e tome alguma coisa.
Mrs. Crosbie levantou-se e apertou-lhe cordialmente a mão. Estava um pouco surpresa em vê-lo, pois embora fossem vizinhos, nem ela nem Robert mantinham ultimamente grande amizade com ele, e havia algumas semanas que não o avistava. Era ele gerente de um seringal que distava quase oito milhas, e ela não podia atinar com o motivo de semelhante visita àquela hora tardia.
— Robert não está em casa — disse ela. — Teve que ficar esta noite em Singapura.
— É pena. Sinto-me um tanto sozinho à noite, e lembrei-me de chegar até aqui e saber como passavam.
— Como é que veio? Não ouvi ruído de automóvel.
— Deixei o carro lá na estrada. Achei que talvez já estivessem deitados.
Isso era natural. Os plantadores levantam-se de madrugada a fim de fazer a chamada dos seringueiros, e ficam satisfeitos em deitar-se pouco depois do jantar. Com efeito, no dia seguinte o carro de Hammond foi encontrado a uma distância de quarto de milha.
Estando Robert ausente, não havia uísque e soda na sala. Leslie não chamou o criado, que provavelmente dormia, mas foi buscar a bebida. O visitante serviu-se de um copo e encheu o cachimbo.
Geoff Hammond tinha uma legião de amigos na colônia. Aproximava-se então dos quarenta anos, mas ali chegara quando rapaz. Fora um dos primeiros a apresentar-se ao irromper a guerra, e portara-se muito bem. Um ferimento no joelho fez que ele fosse dispensado do exército após dois anos, mas Hammond voltou aos Estados Malaios Confederados trazendo duas condecorações. Era um dos melhores jogadores de bilhar em toda a colônia. Tinha sido excelente bailarino e ótimo tenista, mas embora não mais pudesse dançar, nem o seu tênis, devido ao joelho, fosse tão bom como antes, possuía o dom da popularidade e gozava de estima geral. Era um tipo de boa aparência, alto, de atraentes olhos azuis e uma linda cabeça coberta de cabelos negros e crespos. Pessoas experientes diziam que sua única falta era gostar demais das mulheres, e depois da catástrofe sacudiam a cabeça e juravam ter sabido sempre que isso o levaria à desgraça.
Hammond, pois, começou a falar com Leslie sobre os assuntos locais, as próximas corridas em Singapura, o preço da borracha, e sobre as probabilidades de matar um tigre que ultimamente vira nas redondezas. Ansiosa por aprontar as rendas em certa data, pois desejava mandá-las para o aniversário da mãe, na Inglaterra, tornou a por os óculos e puxou para a sua cadeira a mesinha onde estava a almofada.
— Eu gostaria que você não usasse esses óculos enormes — disse ele. — Não sei por que uma mulher bonita deva fazer o possível para parecer feia.
Mrs. Crosbie ficou um tanto desapontada com esta observação. Hammond nunca empregara aquele tom para com ela. Achou que seria melhor não levá-lo a sério.
— Não tenho a pretensão de ser uma beleza deslumbrante, e se quiser saber, sou obrigada a dizer-lhe que pouco me importa que você me ache feia ou não.
— Mas eu não penso que você seja feia. Acho que é muito, muito bonita.
— Muito gentil — respondeu ela, ironicamente. — Mas neste caso somente posso julgá-lo sem espírito.
Ele riu por entredentes. Mas levantou-se da cadeira e sentou-se noutra mais próxima.
— Você não será capaz de negar que tem as mãos mais lindas do mundo — disse ele.
E fez um gesto como se fosse pegar uma delas. Mrs. Crosbie deu-lhe uma pancadinha.
— Não seja tolo. Sente-se onde estava antes e fale sensatamente, senão vou mandá-lo para casa.
Ele não se moveu. — Então não sabe que estou apaixonado por você?
Ela continuou impassível. — Não. Não. acredito um instante nisso, e ainda que fosse verdade, não quero que você o diga.
Surpreendia-se tanto mais com as suas palavras porque, nos sete anos em que o conhecia, nunca recebera dele uma atenção especial. Quando ele voltara da guerra, tinham-se visto com frequência, e em certa ocasião, ele tendo adoecido, Robert o trouxera para o bangalô no seu carro.
Hammond passou quinze dias com os Crosbie. Mas seus interesses eram diferentes, e a relação nunca se desenvolvera em amizade. Durante os últimos dois ou três anos pouco o tinham visto. Uma que outra vez ele aparecia para jogar tênis, e de quando em quando o encontravam numa festa, mas comumente lhes acontecia passar um mês inteiro sem o verem.
Hammond serviu-se de mais um uísque. Havia nele qualquer coisa de estranho, e isto a deixava um tanto inquieta. Leslie desconfiou que ele já estivera a beber. — No seu lugar, eu não beberia mais — disse ela, ainda bem humorada.
Ele esvaziou o copo e colocou-o na mesinha.
— Julga que lhe falo deste modo porque estou bêbado? — perguntou ele abruptamente.
— Essa é a explicação mais óbvia, não é?
— Pois não é. Gostei de você desde o primeiro momento em que a vi. Calei-me enquanto pude, mas agora não posso mais. Eu gosto de você, eu quero você, eu amo você.
Ela levantou-se e pôs cuidadosamente a almofada para um lado.
— Boa noite — disse ela.
— Ainda não vou.
Por fim ela começou a perder a paciência. — Mas você não está vendo, pobre tolo, que eu nunca amei ninguém a não ser Robert, e mesmo que eu não gostasse dele, você seria a última pessoa a me interessar.
— Que me importa isso? Robert não está aqui.
— Se você não se retirar imediatamente, chamo os criados e mando tirá-lo daqui.
— Eles não podem ouvir.
Leslie já estava zangada de fato. Fez um movimento em direção à varanda, de onde certamente seria ouvida pelo criado, mas ele a segurou por um braço.
— Solte-me — gritou ela furiosa.
— Assim não. Agora você é minha.
Ela abriu a boca e gritou pelo criado, mas com um gesto rápido Hammond lhe pôs a mão nos lábios. A seguir, sem que ela soubesse qual o seu intento, ele a havia tomado nos braços e beijava-a apaixonadamente. Leslie lutou, esquivando os lábios da sua boca ardente.
— Não, não, não! — gritou ela. — Deixe-me. Não quero.
Sentia-se confusa quanto ao que sucedera depoiss. Lembrava-se precisamente de tudo o que fora dito antes, mas nesse momento as palavras dele lhe chegavam aos ouvidos por entre uma névoa de medo e terror. Ele parecia implorar-lhe amor. Irrompeu em violentos protestos de paixão. E durante todo o tempo mantinha-a no seu abraço tempestuoso. Leslie estava desamparada, pois ele era um homem sólido e robusto, e ela estava com os braços dobrados para trás; os seus repelões de nada lhe valiam, e as forças começavam a faltar-lhe; receava desmaiar, e o seu hálito quente junto ao rosto dela enojava-a até o desespero. Ele beijava-lhe a boca, os olhos, as faces, o cabelo. A pressão dos seus braços estava a matá-la. Viu-se erguida no ar. Procurou dar-lhe pontapés, mas isto o fez apertá-la ainda mais. Carregava-a agora. Já não falava mais, mas Leslie via que o seu rosto estava pálido e os olhos acesos de desejo. Conduzia-a para o quarto de dormir. Não era mais um homem civilizado, mas um selvagem; E enquanto corria bateu numa mesa que havia no caminho. O defeito no joelho deixava-o um pouco inseguro sobre os pés, e com o peso da mulher nos braços, caiu. Num instante ela se desvencilhou dele. Correu em volta do sofá. Mas Hammond já estava em pé e atirava-se para ela. Havia um revólver na escrivaninha. Leslie não era mulher nervosa, mas Robert passava a noite fora, e ela pretendia levar a arma para o quarto quando se recolhesse. Por isso é que o revólver estava ali. Agora, tomava-a um frenesi de terror. Não sabia o que estava fazendo. Ouviu um estampido. Viu Hammond cambalear. Dar um grito. Dizer qualquer coisa, que ela não sabia o que era. Sair aos tropeços da sala para a varanda. Uma fúria apoderava-se dela, estava fora de si, perseguiu-o, sim, era isso mesmo, ela o devia ter perseguido, embora de nada se lembrasse, perseguiu-o atirando maquinalmente, disparo após disparo, até que as seis cápsulas ficaram vazias. Hammond caiu no chão da varanda. Encolhido. Ensanguentado.
Quando os criados acudiram, sobressaltados pelos tiros, encontraram-na em pé junto a Hammond, ainda com o revólver na mão, e Hammond sem vida. Mrs. Crosbie ficou olhando para eles, durante um momento, sem falar. Os criados formavam um grupo assustado e confuso. Ela deixou cair o revólver, e sem uma palavra voltou-se e caminhou para a sala de estar. Viram-na entrar no seu quarto e torcer a chave na fechadura. Ninguém se atrevia a tocar no cadáver, mas todos o olhavam com olhos aterrorizados, e falavam em voz baixa uns com os outros. Pouco depois o criado-chefe recuperava a calma; era um chinês sensato, e havia muitos anos que estava com os Crosbie. Robert tinha ido a Singapura no seu motociclo, e o carro estava na garagem. O criado mandou buscá-lo; deviam ir imediatamente ao comissário do distrito e informá-lo do que havia acontecido. Apanhou o revólver e meteu-o no bolso. O comissário, um homem chamado Whiters, morava nos arredores da cidade mais próxima, que distava cerca de trinta e cinco milhas. A viagem levou-lhes hora e meia. Quando chegaram, encontraram todos adormecidos, e foi preciso acordar todos os criados. Dentro em pouco Whiters apareceu e foi informado do ocorrido. O criado-chefe apresentou-lhe o revólver como prova do que dizia.
O comissário entrou no quarto para vestir-se, mandou trazer o carro, e pouco depois voltava com eles pela estrada deserta. A manhã ia rompendo quando o homem chegou ao bangalô de Crosbie. Subiu correndo os degraus da varanda, e estacou diante do corpo de Hammond, que jazia onde tinha caído. Estava frio.
— Onde está a senhora? — perguntou ele ao criado-chefe. O chinês apontou para o quarto de dormir. Whiters foi até a porta e bateu. Não houve resposta. Bateu novamente.
— Mrs. Crosbie — chamou ele.
— Quem é?
— Withers.
Houve outra pausa. A chave girou na fechadura e a porta abriu lentamente. Leslie estava diante dele. Não se havia deitado e tinha o mesmo negligé que pusera para o jantar. Imóvel, olhava em silêncio para o comissário.
— Seu criado foi me buscar — disse ele. — Hammond. O que a senhora fez?
— Ele quis me violentar e eu o matei.
— Deus do céu! Venha para cá, então. A senhora tem que contar exatamente o que aconteceu.
— Agora não. Não posso. Dê-me tempo. Mande chamar meu marido.
Whiters era um homem jovem, e não sabia exatamente o que fazer numa emergência que ficava tão fora de suas obrigações. Leslie recusou-se a dizer coisa alguma até que finalmente chegou Robert. Narrou então o fato aos dois homens, e desde esse primeiro momento, embora tivesse repetido a história muitas e muitas vezes, nunca alterara um mínimo detalhe.
O ponto a que Mr. Joyce aludia eram os disparos. Como advogado aborrecia-se por Leslie ter atirado não uma, mas seis vezes, e o exame do cadáver demonstrou que quatro dos tiros haviam sido desfechados junto ao corpo. Quase se podia dizer que quando o homem caíra ela se aproximara e descarregara nele o conteúdo do revólver. Leslie confessava que a sua memória, tão precisa quanto ao que havia precedido, aqui lhe falhava. Nada lhe acudia ao espírito. Isto indicava uma fúria cega; mas fúria cega era a última coisa que se poderia ter esperado daquela mulher sossegada e modesta. Mr. Joyce conhecia-a e de muitos anos, e nunca a julgara uma pessoa emotiva; durante as semanas após a tragédia fora espantosa a sua compostura.
Mr. Joyce encolheu os ombros. — O fato — refletiu ele — é que, suponho eu, nunca se pode dizer quantas possibilidades de selvageria se escondem na maior parte das mulheres respeitáveis.
Bateram na porta. — Pode entrar. O secretário chinês entrou e fechou a porta. Fechou-a suavemente, com deliberação, mas de modo decisivo, e avançou para a mesa ante a qual sentava-se Mr. Joyce.
— É-me possível aborrecê-lo, senhor, com uma palestra de poucas palavras em caráter particular? — perguntou ele.
A precisão requintada com a qual o secretário costumava se expressar-se divertia um tanto Mr. Joyce, que sorriu francamente.
— Aborrecimento nenhum, Chi. Seng — replicou ele. — O assunto a cujo respeito desejo falar-lhe, senhor, é delicado e confidencial.
— Vá dizendo.
Mr. Joyce mirou os olhos argutos do seu secretário. Como sempre, Ong Chi Seng vestia-se de acordo com a grande moda local. Calçava sapatos de verniz muito lustrosos e meias de seda em cores vivas. Na gravata preta havia um pregador de pérola e rubi, e no quarto dedo da mão esquerda um anel de brilhante. Do bolso do casaco impecável e branco, sobressaíam uma caneta-tinteiro de ouro e um lápis também de ouro. Usava um relógio-pulseira, de ouro, e a cavaleiro do nariz, um pince-nez invisível. Tossiu discretamente.
— O assunto se relaciona com o caso Crosbie, senhor.
— Sim?
— Determinada circunstância chegou ao meu conhecimento, senhor, circunstância essa que me parece dar-lhe um novo aspecto.
— Que circunstância?
— Chegou a meu conhecimento, senhor, que existe uma carta da ré para a infortunada vítima da tragédia.
— Isso não me causaria grande surpresa. Não duvido que, nestes últimos sete anos, Mrs. Crosbie tenha tido várias ocasiões para escrever a Mr. Hammond.
Mr. Joyce tinha em alta conta a inteligência do secretário e as suas palavras visavam esconder o que pensava.
— Isso é muito provável, senhor. Mrs. Crosbie frequentemente deve ter se comunicado com o falecido, para convidá-lo para jantar, por exemplo, ou propor-lhe uma partida de tênis. Foi o que primeiramente me ocorreu quando o assunto veio à minha atenção. Todavia, a carta em questão foi escrita, senhor, no dia da morte de Mr. Hammond.
Mr. Joyce não pestanejou. Continuou a olhar para Ong Chi Seng com o sorriso meio divertido que geralmente mostrava ao falar-lhe.
— Quem foi que lhe disse isso?
— As circunstâncias foram trazidas a meu conhecimento, senhor, por uma pessoa de minha amizade.
Mr. Joyce sabia que não lhe adiantava insistir.
— Sem dúvida, estará o senhor lembrado de que Mrs. Crosbie declarou, no seu depoimento, que até a noite fatal não havia se comunicado com o falecido durante várias semanas.
— Tem a carta aí?
— Não a tenho, senhor.
— O que ela diz?
— O amigo a que me referi forneceu-me uma cópia. Gostaria de examiná-la?
— Sim.
Ong Chi Seng tirou de um bolso interno uma volumosa carteira. Estava cheia de papéis, notas de dólar de Singapura e cupons de cigarros. Dessa confusão o secretário extraiu meia folha de papel de notas e colocou-a diante de Mr. Joyce. A carta dizia o seguinte:
R. passará a noite fora. Tenho absoluta necessidade de ver-te. Espero-te às onze horas. Estou desesperada, e se não vieres não responderei pelas consequências. Deixa o carro na estrada.
L.
A cópia estava escrita na letra cheia que os chineses aprendem nas escolas estrangeiras. Havia uma singular incoerência entre a caligrafia tão incaracterística e aquelas palavras fatais.
— Qual seu motivo para achar que este bilhete foi escrito por Mrs. Crosbie?
— Tenho, senhor, inteira confiança na veracidade de meu informante — respondeu Ong Chi Seng. — E o assunto pode ser muito facilmente posto à prova. Mrs. Crosbie, sem dúvida alguma, estará habilitada a dizer-lhe de imediato se escreveu ou não semelhante carta.
Desde o começo da conversa Mr. Joyce não havia tirado os olhos do rosto sério do secretário. Não sabia dizer agora se discernia nele uma leve expressão de zombaria.
— É inconcebível que Mrs. Crosbie tenha escrito essa carta — disse Mr. Joyce.
— Se esta é sua opinião, senhor, o assunto acha-se por certo encerrado. O meu referido amigo falou-me a respeito apenas por julgar que, estando eu no seu escritório, o senhor possivelmente gostaria de saber da existência desta carta antes de ser feita uma comunicação ao promotor público.
— Quem tem o original? — perguntou vivamente Mr. Joyce.
Ong Chi Seng não deu mostra de ter percebido nesta pergunta e no tom uma mudança de atitude.
— Sem dúvida estará lembrado de que, após a morte de Mr. Hammond, descobriu que ele mantinha relações com uma chinesa. A carta encontra-se presentemente em poder dela. — Essa era uma das coisas que com maior veemência tinham voltado a opinião pública contra Hammond. Veio a se saber que durante vários meses ele tivera uma chinesa em casa. Nenhum deles falou por um momento. Na verdade, tudo já fora dito e cada um entendia perfeitamente o outro.
— Fico-lhe agradecido, Chi Seng. Vou tratar do assunto.
— Muito bem, senhor. Deseja que a esse respeito eu entre em comunicação com o meu referido amigo?
— E também seria bom que você não perdesse contato com ele — respondeu Mr. Joyce com gravidade.
— Sim, senhor.
Silenciosamente, tornando a fechar a porta com deliberação, o secretário retirou-se da sala e deixou M. Joyce entregue a suas reflexões. O advogado olhou para a cópia, em letra correta e impessoal, da carta de Leslie. Vagas suspeitas o perturbavam. Eram elas tão desconcertantes que recorreu a um esforço para afastá-las do espírito. Haveria uma explicação simples para essa carta, e Leslie sem dúvida poderia dá-la imediatamente, mas, diabo! era necessário uma explicação. Levantou-se da cadeira, pôs a carta no bolso, e apanhou o chapéu. Quando saiu, Ong Chi Seng escrevia atarefadamente na sua escrivaninha.
— Vou sair por alguns instantes, Chi Sen — disse ele. — Mr. George Reed tem audiência marcada para as doze horas. Saberei dizer onde foi, o senhor?
Mr. Joyce sorriu-lhe de leve.
— Pode dizer que não tem a mínima ideia.
Mas o advogado sabia perfeitamente bem que Ong Chi Seng estava inteirado de que ele ia à prisão. Embora o crime tivesse ocorrido em Belanda e o julgamento devesse ter lugar em Belanda Bharu, não havendo na cadeia local comodidades para a detenção de uma branca, Mrs. Crosbie fora levada para Singapura.
Ao ser introduzida na sala em que ele a esperava, Leslie estendeu-lhe a mão delgada, distinta, e recebeu-o com um sorriso agradável. Como sempre, vestia simples e corretamente, e o seu abundante cabelo claro estava arranjado com atenção.
— Eu não esperava recebê-lo esta manhã — disse ela, graciosamente.
Era como se estivesse na sua casa, e Mr. Joyce quase que a ouvia chamar o criado e dizer-lhe que servisse gim ao visitante.
— Como está? — perguntou ele.
— Com a melhor saúde, agradecida. — Um lampejo de zombaria passou-lhe pelos olhos. — Este lugar é admirável para uma cura de repouso.
O guarda retirou-se, deixando-os a sós. — Sente-se — pediu ela. Mr. Joyce ocupou uma cadeira. Não sabia exatamente por onde começar. Leslie achava-se em tal disposição que lhe parecia quase impossível dizer-lhe o que ele tinha vindo dizer. Embora ela não fosse bonita, havia algo de agradável na sua aparência. Tinha elegância, mas a elegância da boa educação, onde nada havia dos artifícios de sociedade. Bastava olhar-se para ela a fim de saber de onde ela vinha e qual o ambiente em que vivia. A fragilidade emprestava-lhe um singular refinamento. Era impossível associá-la à mais vaga ideia de grosseria.
— Espero ver Robert agora à tarde — disse ela, na sua voz fluente e bem humorada. (Era um prazer ouvi-la falar. O tom de voz era bem um característico de sua classe).
— Coitado, isto tem sido uma verdadeira provação para os seus nervos. Agradeço que tudo esteja terminado em poucos dias.
— Faltam apenas cinco. — Bem o sei. Todas as manhãs, quando me acordo, digo para mim mesma: "Menos um". — Sorriu. — É como eu fazia no colégio quando as férias estavam próximas.
— A propósito, tenho razão em pensar que a senhora, antes da catástrofe, havia semanas que não se comunicava com Hammond?
— Tenho absoluta certeza disso. A última vez que nos encontramos foi num jogo de tênis na casa dos MacFarrens. Não acho que tivesse trocado mais de duas palavras com ele. Como sabe, há duas pistas, e nós não jogamos na mesma partida.
— E não escreveu a ele?
— Oh, não.
— Está bem certa disso?
— Certíssima — respondeu ela, com um breve sorriso. — Não havia por que escrever, afora algum convite para jantar ou jogar tênis, e fazia meses que isso não acontecia.
— Em certa época eram excelentes as suas relações com ele. Qual o motivo de terem cessado os convites?
Mrs. Crosbie encolheu os ombros franzinos. — Acontece que às vezes nos cansamos das pessoas. Não tínhamos grande coisa em comum. Sem dúvida, quando ele esteve doente Robert e eu fizemos por ele tudo o que pudemos, mas nestes últimos um ou dois anos ele passou bastante bem, e era muito popular. Recebia um grande número de convites, e não nos parecia haver necessidade de convidá-lo demasiado.
— Tem plena certeza de tudo isso?
Mrs. Crosbie hesitou por um momento: — Bem, acho que posso falar-lhe nisso. Chegara aos nossos ouvidos que ele vivia com uma chinesa, e Robert disse que não o admitiria em nossa casa. Eu mesma a tinha visto.
Mr. Joyce, sentado numa cadeira de braços, de espaldar reto, repousava o queixo na mão e tinha os olhos fixos em Leslie. Seria ilusão ter vislumbrado nas suas pupilas negras, no momento em que ela fazia esse comentário, um súbito e rapidíssimo fulgor vermelho? O efeito foi inquietador. Mr. Joyce mexeu-se na cadeira. Juntou as pontas dos dedos entreabertos. E falou muito lentamente, escolhendo as palavras.
— Creio que devo mencionar-lhe a existência de uma carta de seu punho a Geoff Hammond.
O advogado observou-a atentamente. Ela não fez um só movimento, nem se lhe mudou a cor do rosto, mas demorou um tempo apreciável a responder.
— Antigamente, eu muitas vezes lhe escrevi bilhetes convidando-o para isto ou aquilo, ou para que me trouxesse alguma coisa quando eu sabia que ele ia a Singapura.
— Essa carta lhe pede que venha vê-la porque Robert ia a Singapura.
— Isso é impossível. Nunca fiz semelhante coisa.
— Convém que a leia, então. Tirou do bolso e a entregou. Ela relanceou o papel e devolveu-o com um sorriso desdenhoso.
— Essa não é a minha letra.
— Sei disso; afirma-se que é uma cópia exata do original.
Mrs. Crosbie leu então as palavras da carta, e ao fazê-lo uma terrível mudança operou-se nela. O rosto sem cor ficou feio de ver. Esverdeou-se. A carne pareceu fugir de súbito e a pele esticou sobre os ossos. Os lábios retraíram-se, mostrando os dentes: parecia fazer uma careta. Olhou para Mr. Joyce com olhos que saltavam das órbitas. Ele via agora uma face inexpressiva de morte.
— Que significa isto? — sussurrou ela. Sua boca estava tão seca que ela não pôde emitir mais que um som rouco. Não era mais uma voz humana.
— Isso é o que lhe compete dizer.
— Eu não escrevi. Juro que não escrevi.
— Tome cuidado com o que diz. Se o original for de seu punho, seria inútil negá-lo.
— Pode ser forjado.
— Seria difícil prová-lo. E seria fácil provar que era verdadeiro.
Um arrepio percorreu seu corpo franzino. Mas grandes gotas de suor apareciam na testa. Tirou um lenço da bolsa e enxugou as mãos. Relanceou novamente a carta e olhou de soslaio para Mr. Joyce.
— Não tem data. Se foi escrita por mim e se não me lembro de nada, talvez seja uma carta de alguns anos atrás. Se me der tempo, tentarei recordar-me das circunstâncias.
— Já observei que não tem data. Se esta carta estivesse nas mãos da promotoria, os criados seriam interrogados. Bem cedo teriam descoberto se alguém levara uma carta a Mr. Hammond no dia de sua morte.
Mrs. Crosbie cerrou as mãos violentamente e vacilou na cadeira como se fosse desmaiar.
— Juro que não escrevi esta carta.
Mr. Joyce ficou em silêncio por um breve instante. Afastou os olhos daquele rosto conturbado e fixou-os no chão. Refletia.
— Nestas circunstâncias não precisamos entrar mais no assunto — disse ele devagar, quebrando por fim o silêncio. — Se o possuidor desta carta achar que deve levá-la ao conhecimento da promotoria, a senhora estará preparada.
Suas palavras indicavam que nada mais lhe restava dizer, mas ele não fez nenhum movimento para retirar-se. Esperou. Pareceu-lhe que por um tempo enorme. Não olhava para Leslie, mas tinha a consciência de que ela estava imóvel. Não fazia o menor ruído. Finalmente, foi ele quem falou.
— Se não tem mais nada a contar, volto para meu escritório.
— O que seria levada a pensar uma pessoa que lesse a carta? — perguntou então ela.
— Ficaria certa de que a senhora havia mentido propositadamente — respondeu incisivo Mr. Joyce.
— Quando?
— Sua declaração estabeleceu definitivamente que não se comunicava com Hammond havia três meses pelo menos.
— Tudo isso tem sido um choque terrível para mim. Os acontecimentos daquela noite horrorosa são um pesadelo. Não é muito estranho que um detalhe tenha escapado à minha memória.
— Seria uma desgraça que a sua memória tivesse reproduzido tão exatamente todos os detalhes da entrevista com Hammond, e que a senhora houvesse esquecido um ponto de tamanha importância como esse de que, naquela noite, ele fora ao bangalô por seu expresso desejo.
— Eu não tinha esquecido isso. Mas, depois do que aconteceu, receava mencioná-lo. Pensei que ninguém acreditaria na minha história se eu admitisse que ele tinha ido lá a meu convite. Sim, acho que foi uma tolice de minha parte; mas perdi a cabeça, e depois de ter dito uma vez que não me comunicava com Hammond, vi-me obrigada a mantê-lo.
Leslie já havia recuperado a sua admirável compostura, e recebeu com ingenuidade o olhar avaliador de Mr. Joyce. A sua brandura era desarmante.
— Neste caso vão exigir que explique por que pediu a Hammond para ir vê-la quando Robert passava a noite fora.
Mrs. Crosbie fitou os olhos no advogado. Enganara-se ele ao julgá-los inexpressivos; eram antes belos e, não fosse um novo engano, tinham agora o brilho das lágrimas. A voz denotava uma leve insegurança.
— Era uma surpresa que eu preparava para Robert. O aniversário dele é no próximo mês. Eu sabia que ele desejava uma nova arma, e não preciso repetir-lhe que nada entendo dessas coisas de esporte. Eu queria falar com Geoff a esse respeito. Tencionava pedir-lhe que a comprasse para mim.
— Talvez a senhora não esteja lembrada dos termos da carta. Quer lê-la outra vez?
— Não, não quero — disse ela vivamente.
— Acha que semelhante carta seria escrita por uma senhora a pessoa de amizade um tanto remota, a fim de consultá-la sobre a compra de uma arma?
— Talvez seja um tanto extravagante e emotiva, mas eu costumo expressar-me dessa forma. Não deixo de admitir que é bem tola. (Sorriu). E afinal de contas, Geoff Hammond não era uma amizade um tanto remota. Quando esteve doente, cuidei dele como uma mãe. Pedi-lhe que viesse quando Robert estava ausente porque Robert não queria admiti-lo em casa.
Mr. Joyce cansava-se de estar sentado por tanto tempo na mesma posição. Levantou-se, e deu uns passos pela sala, escolhendo as palavras que pretendia dizer; inclinou-se depois sobre as costas da cadeira onde estivera. Falou vagarosamente, e num tom de profunda gravidade.
— Mrs. Crosbie, quero falar-lhe muito seriamente. Este caso era relativamente líquido. Havia um só ponto que me parecia exigir explicação: até onde posso julgar, a senhora desfechou nada menos do que quatro tiros contra Hammond quando ele estava caído no chão. Era difícil aceitar a possibilidade de que uma criatura frágil, assustada, habitualmente dona de si, de natureza delicada e instintos refinados, tenha cedido a uma fúria absolutamente cega. Mas, sem dúvida, era admissível. Embora Geoffrey Hammond gozasse de simpatia e de um modo geral fosse muito estimado, eu estava disposto a provar que ele era o tipo de homem capaz do crime de que a senhora o acusava em justificação do seu ato. A circunstância, descoberta após a sua morte, de que ele vivia com uma chinesa oferecia-nos algo de muito definido. Isto lhe roubava qualquer simpatia que houvesse por ele. Resolvemos aproveitar o ódio que semelhante ligação desperta no espírito de todas as pessoas respeitáveis. Disse esta manhã ao seu marido que estava certo de uma absolvição, e eu não o fazia apenas para lhe dar coragem. Eu não acreditava que os jurados precisassem deixar a sala do tribunal.
Olharam-se nos olhos. Mrs. Crosbie estava singularmente imóvel. Era um pássaro paralisado pela fascinação de uma serpente. O advogado prosseguiu no mesmo tom grave.
— Mas esta carta emprestou ao caso um aspecto inteiramente diverso. Sou o seu defensor perante a lei. vou representá-la no tribunal. Aceito a sua história na forma em que me foi contada, e orientarei a defesa de acordo com ela. É provável que eu acredite nas suas declarações, e é provável que duvide delas. O dever do patrono é persuadir o tribunal de que a prova ali trazida não é tal que justifique uma condenação, e qualquer opinião particular que ele possa ter sobre a culpabilidade ou inocência do seu cliente fica inteiramente à margem.
Mr. Joyce espantou-se ao ver nos olhos de Leslie a sombra de um sorriso. Irritado, continuou um tanto secamente.
— A senhora negará que Hammond foi vê-la atendendo ao seu pedido urgente e, posso até dizê-lo, desesperado?
Mrs. Crosbie, hesitando por um instante, pareceu considerar.
— Só podem provar que a carta foi levada ao bangalô por um dos criados. Ele foi de bicicleta.
— Não espere que os outros sejam mais tolos do que a senhora. A carta os fará investigar suspeitas que até agora não entraram na cabeça de ninguém. Não lhe direi o que me ocorreu pessoalmente quando vi a cópia. E não quero que a senhora me diga coisa alguma não ser o que é necessário para salvar o seu pescoço.
Mrs. Crosbie deu um grito agudo. Ergueu-se de um salto, pálida de terror.
— Acha que me enforcarão?
— Se chegarem à conclusão de que a senhora não matou Hammond em defesa própria, será dever dos jurados julgarem-na culpada. A pena é de morte. E será dever do juiz condená-la à morte.
— Mas o que podem provar? — perguntou ela, arfando.
— Não sei o que podem provar. A senhora o sabe. Eu não quero saber. Mas se surgirem suspeitas, se começarem a fazer investigações, se os criados forem interrogados... o que poderá ser descoberto?
Leslie encolheu-se bruscamente. Tombou no chão antes que ele pudesse ampará-la. Tinha desmaiado. Mr. Joyce olhou em volta da sala à procura de água, mas nada encontrou, e não queria ser perturbado. Estendeu-a no chão e, ajoelhando-se ao seu lado, esperou que ela voltasse a si. Quando Leslie abriu os olhos, ele ficou desconcertado pelo medo espantoso que via neles.
— Fique quieta — disse ele. — Num momento estará melhor.
Mrs. Crosbie desatou num pranto nervoso, ao passo que ele procurava sossegá-la a meia voz.
— Pelo amor de Deus, recomponha-se.
— Dê-me um instante.
A sua coragem era espantosa. Mr. Joyce via o esforço que ela empregava para recobrar o domínio de si mesma. Pouco depois estava novamente calma.
— Levante-me agora.
Ele estendeu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Tomando-lhe o braço, levou-a até a cadeira. Ela sentou-se exausta.
— Não fale comigo por enquanto.
— Está bem — respondeu ele.
Quando ela por fim recomeçou, depois de um breve suspiro, foi para dizer algo que ele não esperava.
— Acho que fiz uma enorme trapalhada.
Ele não respondeu, e mais uma vez houve silêncio. — Não é possível obter-se a carta? — perguntou finalmente ela.
— Creio que nada me diriam dela, se a pessoa que a tem em seu poder não estivesse disposta a vendê-la.
— Com quem está ela?
— Com a chinesa que vivia na casa de Hammond.
Duas manchas de cor assomaram por um instante às faces de Leslie.
— Ela quer muito dinheiro pela carta?
— Imagino que tenha uma ideia muito arguta quanto ao seu valor. Duvido que seja possível obtê-la senão por uma quantia muito grande.
— O senhor vai deixar que eu seja enforcada?
— Acha que é tão simples assim entrar na posse de uma prova desagradável? Isso é a mesma coisa que subornar uma testemunha. A senhora não tem o direito de fazer-me semelhante sugestão.
— O que me acontecerá então?
— A justiça deve seguir seu rumo.
Mrs. Crosbie empalideceu. Um leve tremor passou-lhe pelo corpo.
— Entrego-me nas suas mãos. Sem dúvida não tenho nenhum direito de pedir-lhe que faça uma coisa que não seja correta.
Mr. Joyce não estava preparado para resistir-lhe à voz um pouco trêmula que a sua compostura habitual fazia intoleravelmente comovedora. Leslie fitava-o com olhos humildes, e ele sentiu que se recusasse o seu apelo esses olhos haveriam de persegui-lo durante o resto da vida. Afinal de contas, nada faria ressuscitar o pobre Hammond. E qual seria a verdadeira explicação da carta? Não era justo concluir daquelas linhas que ela havia morto Hammond sem provocação. Mr. Joyce tinha vivido longo tempo no Oriente e o seu conceito de honra profissional talvez já não era tão agudo como o fora vinte anos atrás. Ficou a olhar para o soalho. Resolveu-se a fazer uma coisa que sabia ser injustificável, mas isso lhe trancava na garganta e ele experimentava um obscuro ressentimento para com Leslie. Encontrava certo embaraço em falar.
— Não sei exatamente qual é a situação do seu marido.
— Tem uma boa quantidade de ações em minas de estanho e uma pequena parte em dois ou três seringais. Acho que poderia conseguir dinheiro.
— Mas ele precisaria saber para que fim.
Leslie calou-se por um momento. Parecia pensar. — Ele ainda me ama. Faria qualquer sacrifício para salvar-me. É necessário que ele veja a carta?
Mr. Joyce franziu levemente as sobrancelhas, e ela, rápida em notá-lo, prosseguiu:
— Robert é um velho amigo seu. Não lhe peço que faça nada por mim, peço-lhe que salve um homem bondoso, um tanto simplório, que nunca lhe fez mal nenhum.
Mr. Joyce não respondeu. Levantou-se para ir embora e Mrs. Crosbie, com a graça que lhe era natural, estendeu-lhe a mão. Estava abalada com a cena e tinha o olhar cansado, mas fazia uma corajosa tentativa para despedi-lo com urbanidade.
É muita bondade sua dar-se tamanho incômodo por minha causa. Nem lhe posso dizer o quanto estou agradecida.
Mr. Joyce voltou ao escritório. Sentou-se no seu gabinete e ali ficou, imóvel, sem nada procurar fazer, ponderando o assunto. A imaginação trazia-lhe muitas ideias estranhas. Estremeceu levemente. Por fim soava na porta a batida discreta que ele estava esperando. Ong Chi Seng entrou.
— Eu já ia sair para o lanche, senhor — disse ele.
— Não sei se o senhor deseja alguma coisa de mim antes que eu vá.
— Parece-me que não. Marcou outra hora para Mr. Reed?
— Sim, senhor. Ele voltará às três.
— Muito bem.
Ong Chi Seng caminhou até a porta, e levou à maçaneta os dedos compridos e finos. Depois, como se mudasse de ideia, fez meia volta.
— O senhor deseja que eu diga alguma coisa ao meu refelido amigo?
Embora Ong Chi Seng falasse inglês tão admiravelmente, ainda tinha uma dificuldade com a letra "R", trocando-a às vezes por "L" em certas palavras.
— Que amigo? — A respeito da carta que Mrs. Crosbie escreveu ao falecido Hammond, senhor.
— Ah! Tinha-me esquecido isso. Mencionei o assunto a Mrs. Crosbie e ela afirma que não escreveu semelhante coisa. Trata-se evidentemente de uma falsificação.
Mr. Joyce tirou a cópia do bolso e entregou-a a Ong Chi Seng. Ong Chi Seng ignorou o gesto.
— Neste caso, senhor, suponho que não haverá nenhuma objeção se o meu amigo entregar a carta ao promotor público.
— Nenhuma. Mas eu não vejo qual a vantagem que o seu amigo teria nisso.
— O meu amigo, senhor, acha que isso é seu dever no interesse da justiça.
— Sou a última pessoa a meter-me no caminho de alguém que deseja cumprir seu dever, Chi Seng.
Os olhos do advogado e os do secretário chinês encontraram-se. Nem a sombra de um sorriso lhes pairava nos lábios, mas ambos se compreendiam perfeitamente.
— Sei-o muito bem, senhor — disse Ong Chi Seng —, mas de acordo com o meu estudo do caso Crosbie sou de opinião que o aparecimento de semelhante carta será prejudicial ao nosso cliente.
— Eu sempre tive em alto apreço a sua acuidade legal, Chi Seng.
— Ocorreu-me, senhor, que se eu pudesse persuadir aquele meu amigo a fazer que a chinesa possuidora da carta a entregasse em suas mãos, isso pouparia grandes dificuldades.
Mr. Joyce, distraidamente, desenhava figuras no mata-borrão.
— Suponho que o seu amigo seja um negociante. Em que circunstâncias acha que ele seria induzido a abrir mão da carta?
— Ele não tem a carta. A carta está com a chinesa. Ele é apenas um parente da chinesa. Ela é uma mulher ignorante; não sabia o valor da carta até que o meu amigo a esclareceu.
— E qual foi o valor estabelecido por ele?
— Dez mil dólares.
— Deus do céu! Onde diabo acha você que Mrs. Crosbie vai arranjar dez mil dólares? Afirmo-lhe que a carta é falsa.
Mr. Joyce olhou para Ong Chi Seng enquanto falava. O secretário não se abalou com a exclamação. Continuou ao lado da escrivaninha, cortês, insensível e observador.
— Mr. Crosbie possui uma oitava parte do Seringal Betong e uma sexta parte do Seringal do Rio Selantan. Tenho um amigo que lhe emprestará o dinheiro sob essas garantias.
— Você tem um vasto círculo de amizades, Chi Seng.
— Sim, Senhor.
— Bem, pois pode dizer a todos eles que vão para o inferno. Eu nunca aconselharia Mr. Crosbie a dar mais de cinco mil dólares por uma carta que pode ser facilmente explicada.
— A chinesa não quer vender a carta, senhor. O meu amigo teve dificuldade em persuadi-la. É inútil oferecer-lhe menos do que a soma mencionada.
Mr. Joyce olhou para Ong Chi Seng durante três minutos pelo menos. O secretário suportou o exame sem embaraço.
De olhos baixos, assumia uma atitude respeitosa. Mr. Joyce conhecia o seu homem. iam finório, este Chi Seng, pensava ele; quanto não irá ganhar com isto?
— Dez mil dólares é uma quantia muito grande.
— Mr. Crosbie sem dúvida preferirá pagá-la a ver a esposa enforcada.
Mr. Joyce fez nova pausa. Que mais saberia Chi Seng, além do que dizia? Devia estar bem seguro do terreno, uma vez que se mostrava tão pouco disposto a regatear. Aquela soma fora fixada porque a pessoa que orientava o negócio, fosse ela quem fosse, sabia ser essa a maior quantia que Robert era capaz de conseguir.
— Onde está a chinesa agora? — perguntou Mr. Joyce.
— Está na casa do meu referido amigo, senhor.
— Ela virá aqui?
— Creio ser melhor que o senhor a procure. Posso levá-lo à casa esta noite e ela lhe dará a missiva. É mulher muito ignorante, senhor, e não entende de cheques.
— Eu não pensava em lhe dar um cheque. Levarei o dinheiro comigo.
— Levar menos de dez mil dólares, senhor, apenas seria desperdiçar um tempo precioso.
— Compreendo.
— Então, depois do lanche, vou informar o meu amigo.
— Perfeitamente. Espere-me na frente do clube às dez horas.
— Com muito prazer, meu senhor.
Ong Chi Seng fez uma pequena curvatura para Mr. Joyce e deixou a sala. Mr. Joyce também saiu para o lanche. Foi ao clube e ali, como havia esperado, encontrou Robert Crosbie. Estava sentado a uma mesa cheia de gente; e ao passar por ele, à procura de um lugar, Mr. Joyce tocou-o no ombro.
— Precisamos trocar duas palavras antes de você sair — disse ele.
— Não há dúvida. Quando quiser, avise-me.
Mr. Joyce tinha resolvido a maneira como atacar a questão. Jogou uma partida de bridge após o lanche, a fim de dar tempo a que o clube se esvaziasse. Para tratar de semelhante assunto não queria levar Crosbie ao seu escritório. Pouco depois Crosbie entrou no salão de jogo e. ficou a olhar até que a partida terminou. Os outros parceiros saíram aos seus negócios e os dois foram deixados a sós.
— Aconteceu uma coisa bem desagradável, meu velho — disse Mr. Joyce, numa voz que procurava tornar o mais natural possível. — Parece que sua esposa mandou uma carta a Hammond pedindo-lhe que fosse visitá-la na noite em que ele foi morto.
— Mas isso é impossível — exclamou Crosbie. — Ela sempre declarou que não tinha nenhuma comunicação com Hammond. Sei com certeza que fazia uns dois meses que ela não lhe punha os olhos em cima.
— O fato é que a carta existe. Está em poder da chinesa com quem Hammond vivia. Sua esposa pretendia fazer-lhe um presente de aniversário, e queria que Hammond a ajudasse na escolha. No estado de perturbação emotiva em que ela ficou após a tragédia, esqueceu-se de tudo a esse respeito, e tendo inicialmente negado que houvesse qualquer comunicação com Hammond, receou dizer que cometera um engano. Foi muito lamentável, é claro, mas acho que não foi estranho.
Crosbie não falou. No seu rosto largo e vermelho havia uma expressão de completa perplexidade, e Mr. Joyce ficou ao mesmo tempo aliviado e exasperado com a sua falta de compreensão. Ele era um homem estúpido, e Mr. Joyce não tinha paciência com a estupidez. Mas a sua angústia desde a catástrofe havia tocado um ponto sensível no coração do advogado; e Mrs. Crosbie atingira o alvo quando lhe pedira que a ajudasse, não por ela, mas pelo marido.
— Não é preciso dizer-lhe que será muito embaraçoso se essa carta for parar nas mãos da promotoria. A sua mulher mentiu, e ela seria obrigada a explicar a mentira. As coisas ficam um pouco alteradas se Hammond não se intrometeu na sua casa como uma visita indesejável, mas sim porque fora convidado. Seria fácil despertar nos jurados uma certa indecisão de espírito.
Mr. Joyce hesitou. Enfrentava agora a sua decisão. Se fosse ocasião de pilhéria, teria rido ao refletir que ele dava um passo tão grave, e que o homem por quem esse passo era dado não tinha a menor noção de sua gravidade. Se Crosbie pensasse no assunto, quiçá imaginasse que Mr. Joyce procedia da mesma forma que qualquer advogado no exercício ordinário da profissão.
— Meu caro Robert, você não é apenas meu cliente, mas meu amigo. Acho que devemos obter essa carta. Isso custará um bom dinheiro. Se não fosse assim, eu preferiria não lhe dizer nada sobre esse assunto.
— Quanto?
— Dez mil dólares.
— É muito dinheiro. Com a baixa, mais isto e mais aquilo, é quase tudo o que eu tenho.
— Pode arranjá-lo agora?
— Acho que sim. Charlie Meadow dará esse dinheiro com a garantia das minhas apólices do estanho e dos dois seringais em que tenho parte.
— Então vai consegui-lo?
— É absolutamente necessário?
— Se você quiser que a sua mulher seja absolvida.
Crosbie ficou muito vermelho. A boca deprimiu-se estranhamente.
— Mas... — não podia encontrar as palavras, tinha o rosto purpúreo — mas eu não entendo. Ela pode explicar. Você não quer dizer que ela seria condenada? Não são capazes de enforcá-la só porque acabou com uma praga.
— Claro que não vão enforcá-la. Somente poderão condená-la por homicídio simples. Provavelmente escaparia com dois ou três anos.
Crosbie ergueu-se de um salto. O horror contorcia-lhe o rosto vermelho.
— Três anos!
Então algo pareceu assomar à sua vagarosa inteligência. A escuridão daquele espírito era atravessada por um relâmpago súbito, e embora as trevas subsequentes continuassem igualmente profundas, restava a memória de certa coisa que não fora vista mas talvez apenas lobrigada. Mr. Joyce viu que as manzorras vermelhas de Crosbie, rudes e ásperas por trabalhos tão diversos, tremiam.
— Qual era o presente que ela ia fazer-me?
— Disse ela que desejava oferecer-lhe uma nova arma.
Mais uma vez aquele rosto largo e vermelho tornou-se purpúreo.
— Quando é que você precisa estar com o dinheiro?
Na sua voz havia agora algo de esquisito. — As dez horas da noite. Talvez você possa levá-lo ao meu escritório até as seis.
— A mulher vai lá?
— Não, eu vou até ela.
— Eu levo o dinheiro. Vou com você.
Mr. Joyce olhou-o novamente. — Acha que é necessário fazer isso? Creio que seria melhor se me deixasse tratar sozinho deste assunto.
— É o meu dinheiro, não é? Vou de qualquer modo.
Mr. Joyce encolheu os ombros. Os dois homens levantaram-se e apertaram as mãos. Mr. Joyce olhou curiosamente para Crosbie.
Às dez horas encontraram-se no clube deserto.
— Tudo está em ordem? — perguntou Mr. Joyce.
— Tudo. Tenho o dinheiro no bolso.
— Então vamos.
Desceram a escadaria. O carro de Mr. Joyce esperava-os na praça, silenciosa àquela hora, e quando se dirigiam para ele Ong Chi Seng surgiu da sombra de uma casa. O secretário sentou-se ao lado do chofer e deu-lhe um endereço. Passaram pelo Hotel de L'Europe e dobraram à Casa do Marinheiro a fim de entrar na Victoria Street. As lojas chinesas ainda estavam abertas, ociosos demoravam-se aqui e ali, e na rua os jinriquixás, os automóveis e carros de aluguel emprestavam à cena um ar atarefado. Subitamente o carro parou e Chi Seng voltou-se para trás.
— Aqui, senhor, será melhor andarmos a pé — disse ele. Desceram e o chinês tomou a frente. Os outros seguiam-no a um ou dois passos. Pouco depois eram convidados a deter-se.
— Espere aqui, senhor. Vou entrar e falar ao meu amigo.
Chi Seng entrou numa loja, aberta para a rua, onde havia três ou quatro chineses atrás do balcão. Era uma dessas lojas estranhas nas quais nada há exposto e não se pode saber o que venderão ali. Viram-no dirigir-se a um homem corpulento, vestido de linho branco, com uma grossa corrente de ouro atravessada ao peito, e o homem lançar um olhar rápido para a escuridão da rua. Depois, deu uma chave a Chi Seng e Chi Seng voltou. Acenou para os dois homens que esperavam e enfiou-se numa porta ao lado da loja. Os outros seguiram-no e acharam-se ao pé de uma escada.
— Se esperarem um instante, acendo um fósforo — disse ele, sempre expedito. — Subam, por favor.
Levava um fósforo japonês à frente, mas a sua luz não dissipava a escuridão, e os outros o seguiam às apalpadelas. No primeiro andar abriu uma porta e, entrando, acendeu um bico de gás.
— Tenham a bondade de entrar — disse ele.
Era uma pequena sala quadrada, com uma janela, e cuja única mobília consistia em duas baixas camas chinesas cobertas por uma esteira. A um canto havia uma grande arca, de fechadura complicadamente trabalhada, sobre a qual estava uma bandeja velha com um cachimbo de ópio e uma lâmpada. Havia na sala o odor leve e acre da droga. Sentaram-se e Ong Chi Seng ofereceu-lhes cigarros. Em seguida a porta era aberta pelo chinês gordo que tinham visto atrás do balcão. Desejou-lhes boa noite em excelente inglês e sentou-se ao lado do compatriota.
— A chinesa não se demorará — disse Chi Seng.
Um rapaz da loja trouxe uma bandeja com bule e xícaras e ofereceu-lhes uma xícara de chá. Crosbie recusou. Os chineses falavam entre si a meia voz, mas Crosbie e Mr. Joyce continuavam calados. Por fim ouviu-se uma voz lá fora; alguém chamava em tom baixo, e o chinês foi até a porta. Abriu-a, falou umas poucas palavras, e introduziu uma mulher. Mr. Joyce olhou para ela. Muito ouvira a seu respeito desde a morte de Hammond, mas ainda não a tinha visto. Era uma pessoa de corpo cheio, não muito moça, com um rosto largo e fleumático, estava empoada e pintada e as suas sobrancelhas eram uma fina linha negra, mas dava a impressão de ser mulher de caráter. Vestia um casaquinho azul claro e saia branca, roupa que não era bem europeia nem chinesa, mas nos pés trazia pequeninas sandálias de seda. Usava pesadas correntes de ouro em torno do pescoço, braceletes de ouro nos pulsos, brincos de ouro e complicados alfinetes de ouro no cabelo negro. Entrou lentamente, com o" ar de uma mulher segura de si mesma, mas com um certo peso no andar, e sentou-se na cama, ao lado de Ong Chi Seng. Este lhe disse alguma coisa e ela, inclinando a cabeça, lançou um olhar descuidado para os dois brancos.
— Ela trouxe a carta? — perguntou Mr. Joyce.
— Sim, senhor. Crosbie nada disse, mas tirou do bolso um maço de notas de quinhentos dólares. Contou vinte e entregou-as a Chi Seng.
— Veja se está certo.
O secretário contou-as e deu-as ao chinês gordo. — Muito certo, senhor.
O chinês contou-as mais uma vez e meteu-as no bolso. Falou novamente à mulher e ela tirou uma carta do seio. Deu-a a Ong Chi Seng, que passou os olhos por ela.
— Este é o documento exato, senhor — disse ele, e ia entregá-lo a Mr. Joyce quando Crosbie o pegou.
— Deixe-me ver isto — disse ele.
Mr. Joyce olhou-o ler e depois estendeu a mão. — É melhor que eu fique com isso.
— Não, vou guardá-la comigo. Custou-me muito dinheiro.
Mr. Joyce não replicou. Os três chineses observaram o pequeno incidente, mas o que pensaram a respeito, ou se pensaram, era impossível dizer diante de seus rostos impassíveis. Mr. Joyce levantou-se.
— O senhor ainda precisa de mim esta noite? — disse Ong Chi Seng.
— Não. — Ele sabia que o secretário desejava ficar a fim de receber a sua parte do dinheiro; virou-se para Crosbie. — Vamos?
Crosbie não respondeu, mas levantou-se. O chinês foi até a porta e abriu-a. Chi Seng encontrou um toco de vela e acendeu-o para iluminar a escada, e os dois chineses acompanharam-nos à rua. Deixaram a mulher serenamente sentada na cama, fumando um cigarro. Chegados à rua, os chineses deixaram-nos e tornaram a subir as escadas.
— O que vai fazer com essa carta? — perguntou Mr. Joyce.
— Guardá-la.
Andaram até onde o carro os esperava e Mr. Joyce ofereceu-se para levar o amigo. Crosbie sacudiu a cabeça.
— Quero caminhar. — Hesitou um pouco e esfregou os pés no chão. — Na noite da morte de Hammond eu vim a Singapura em parte para comprar uma arma nova que um conhecido meu queria vender. Boa noite.
Crosbie desapareceu rapidamente na escuridão.
Mr. Joyce tinha toda razão a respeito do julgamento. Os jurados compareceram ao tribunal inteiramente resolvidos a absolver Mrs. Crosbie. A própria atitude dela era uma prova. Contou a sua história com simplicidade e inteireza. O promotor público era um homem bondoso e via-se que não tinha grande prazer em sua tarefa. Fez-lhe as perguntas necessárias em maneira deprecativa. O seu discurso de acusação na realidade bem poderia ter sido um discurso de defesa, e os jurados não demoraram cinco minutos a considerar o seu veredito popular. Foi impossível impedir a grande manifestação de aplauso com que o recebeu a multidão que enchia a sala do tribunal. O juiz cumprimentou Mrs. Crosbie e ela estava em liberdade.
Ninguém havia expressado mais violenta reprovação à conduta de Hammond do que Mrs. Joyce; era uma mulher leal com suas amizades e insistira em que os Crosbie se hospedassem com ela após o julgamento, até que arranjassem a partida, pois juntamente com todos os outros, não tinha a menor dúvida sobre a sentença. Estava fora de questão para a brava, querida e pobre Leslie retornar ao bangalô em que tivera lugar a horrível catástrofe. O julgamento findou meia hora após o meio-dia e quando chegaram à casa dos Joyce esperava-os um soberbo almoço. Serviram-se coquetéis, e Mrs. Joyce, cujo Millionaire Cocktail era famoso em todos os Estados malaios, bebeu à saúde de Leslie. Era ela uma mulher loquaz, viva, e estava muito animada. Isto era uma felicidade, pois os outros permaneciam silenciosos. Mrs. Joyce não o notava, o marido nunca tinha muito a dizer, e os outros dois estavam naturalmente exaustos com a longa tensão que tiveram de sofrer. Durante a refeição a dona da casa conduziu um monólogo brilhante e animado. Serviu-se depois o café.
— Agora, crianças — disse ela na sua maneira alegre e alvoroçada —, vocês precisam descansar e depois do chá vão passear comigo até o mar.
Mr. Joyce, que só almoçava em casa excepcionalmente, tinha que retornar ao escritório.
— Acho que não poderei ir, Mrs. Joyce — disse Crosbie. — Preciso voltar para o seringal.
— Mas não hoje? — exclamou ela.
— Sim, agora mesmo. Tenho negócios urgentes que já estão muito negligenciados. Mas ficarei muito agradecido se a senhora hospedar Leslie até resolvermos o que fazer.
Mrs. Joyce ia argumentar, mas o marido impediu-a. — Se ele precisa ir, precisa, e não se fala mais nisso.
Havia qualquer coisa na voz do advogado que a fez olhar rapidamente para ele. Calou-se e houve um momento de silêncio. Depois Crosbie tornou a falar.
— Se me permitirem, sairei agora mesmo a fim de chegar antes do anoitecer. — Levantou-se da mesa. — Vem comigo até a porta, Leslie!
— Naturalmente.
Saíram juntos da sala de jantar. — Acho que isso é uma desconsideração da parte dele — disse Mrs. Joyce. — Ele não há de ignorar que, justamente agora, Leslie desejaria ficar ao seu lado.
— Estou certo de que ele não iria se não fosse absolutamente necessário.
— Bem, vou ver se o quarto de Leslie já está arrumado. Ela precisa de completo descanso, não é?, e também de divertimentos.
Mrs. Joyce deixou a sala e Joyce tornou a se sentar. Dentro em pouco ouviu Crosbie pôr o motor em movimento e arrancar ruidosamente pelo caminho arenoso do jardim. Levantou-se e entrou na sala de visitas. Mrs. Crosbie estava sentada numa cadeira, olhando para o espaço, e na sua mão havia uma carta aberta. O advogado reconheceu-a. Leslie relanceou-lhes os olhos quando ele entrou e ele viu que ela estava mortalmente pálida.
— Ele sabe — sussurrou ela.
Mr. Joyce aproximou-se dela e tirou-lhe a carta da mão. Acendeu um fósforo e ateou fogo ao papel. Leslie viu-o arder. Quando ele não pôde segurá-lo mais, deixou-o cair no chão de mosaico, e ambos viram o papel recurvar-se e enegrecer. Depois ele o desfez em cinzas com o pé.
— O que ele sabe?
Leslie olhou-o longa, demoradamente, e uma estranha expressão lhe veio aos olhos. De desprezo ou desespero? Mr. Joyce não sabia dizer.
— Ele sabe que Geoff era meu amante.
Mr. Joyce não fez gesto algum nem disse palavra.
— Foi meu amante durante anos. Fez-se meu amante quase imediatamente ao voltar da guerra. Nós sabíamos quanto cuidado era preciso ter. Quando nos tornamos amantes fingi que ele me aborrecia, e ele raramente vinha ao bangalô quando Robert estava. Eu costumava ir de carro até um lugar que conhecíamos e ali me encontrava com ele, duas ou três vezes por semana, e quando Robert ia a Singapura, ele vinha tarde ao bangalô, quando os criados já haviam se acomodado para dormir. Víamo-nos constantemente, durante todo esse tempo, e ninguém suspeitava. E ultimamente, há um ano, ele começou a mudar. Eu não sabia por quê. Não podia acreditar que eu não significasse mais nada para ele. Ele sempre o negava: Eu ficava furiosa. Fazia cenas. Às vezes eu achava que ele tinha ódio de mim. Oh, se o senhor soubesse quanta angústia sofri! Passei pelo inferno. Eu sabia que ele não me queria mais, mas não o deixava ir. Desgraça! Desgraça! Eu o amava. Daria tudo por ele. Ele era toda a minha vida. E depois ouvi dizer que ele vivia com uma chinesa. Eu não podia acreditar. Não queria acreditar. Finalmente, eu a vi com meus próprios olhos, na aldeia, carregada de braceletes de ouro e de colares, uma chinesa gorda, velha. Horrível! No povoado todos sabiam que ela era amante dele. E quando passei por ela, ela me olhou e eu vi que ela sabia que eu também era amante dele. Mandei chamá-lo.
“Disse-lhe que precisava vê-lo. O senhor leu a carta. Foi loucura escrevê-la. Eu não sabia o que estava fazendo. Pouco se me dava. Fazia dez dias que eu não o via. Era uma existência. Na última vez que nos despedimos ele me tomou nos braços e beijou-me, e disse que eu não me preocupasse. E saiu dos meus braços para os dela.”
Leslie, que falava em voz baixa, veementemente, parou e torceu as mãos.
— Essa carta maldita. Sempre tínhamos sido tão cautelosos. Ele sempre rasgava tudo que eu lhe escrevia assim que acabava de ler. Eu não podia saber que ele ia deixar essas linhas! Ele veio, e eu disse que sabia tudo a respeito da chinesa. Ele negou. Disse que era apenas escândalo. Fiquei fora de mim. Não sei quanta coisa lhe disse. Oh, tive ódio dele. Magoei-o fibra por fibra. Disse-lhe tudo que era capaz de feri-lo. Podia ter cuspido na cara dele. E afinal chegou a vez dele. Disse-me que estava enjoado, farto de mim e que nunca mais queria me ver. Disse-me que eu o aborrecia mortalmente. E depois admitiu que a história da chinesa era verdade. Disse que a conhecia há muitos anos, de antes da guerra, e que era ela a única mulher que realmente lhe significava alguma coisa, que o resto era simples passatempo. E disse estar satisfeito em que eu o soubesse, e que agora, finalmente, eu o deixaria em paz. Não sei o que aconteceu então, eu estava fora de mim, via tudo vermelho. Apanhei o revólver e atirei. Ele deu um grito e eu vi que tinha acertado. Ele fugiu cambaleando para a varanda. Corri atrás dele e tornei a atirar. Ele caiu, e então eu fiquei perto dele, atirando, atirando, até que o revólver deixou de detonar, e eu vi que não havia mais bala.
Deteve-se por fim, respirando a custo. Seu rosto não era mais humano, estava contraído de crueldade, dor e ódio. Nunca se teria pensado que aquela mulher tranquila e refinada fosse capaz de uma paixão tão diabólica. Mr. Joyce deu um passo atrás. Estava absolutamente espantado com ela. Aquilo não era um rosto, era uma máscara medonha e convulsa. Então ouviram uma voz que chamava da outra sala, uma voz alta, amiga e alegre. Era Mrs. Joyce.
— Vem, Leslie, minha querida, teu quarto está pronto. Deves estar caindo de sono.
As feições de Mrs. Crosbie recompuseram-se gradativamente. Aquelas paixões, tão claramente delineadas, iam desaparecendo, abrandando, como se alisa com a mão um papel amarrotado, e num momento o rosto ficava sereno, liso e claro. Estava um tanto pálida, mas os seus lábios se abriram num sorriso afável e encantador. Era mais uma vez a mulher distinta e bem educada.
— Já vou, Dorothy. Sinto dar-te todo este incômodo, minha querida.
Post-Scriptum
Com exceção de Singapura, cidade que tem muito que fazer para se ocupar com ninharias, escolhi nomes imaginários para as cenas de ação destes meus contos. Algumas dessas localidades menores das regiões banhadas pelo Mar da China são muito suscetíveis e seus habitantes se alvoroçam quando, numa obra de ficção, sugere-se que as condições de sua existência nem sempre são tais que possam contar com a aprovação dos círculos suburbanos em que vivem satisfeitos seus primos e suas tias. É mesmo de espantar o viajante a descoberta de que esses ingleses que passam a maior parte da vida no vasto Oriente ligam tanta importância a questões de campanário, e talvez ele se admire por vezes de que essa gente vá até as Celebes para encontrar lá um novo Bedford Park. Como são pessoas práticas, e ocupadas na maioria com assuntos práticos, não atribuem muita imaginação ao escritor e, sabendo que ele esteve nesta ou naquela localidade e travou relações com Fulano ou Beltrano, chegam logo à conclusão de que as personagens apresentadas não são senão retratos deles próprios.
Vivendo, em pleno Oriente, com toda a estreiteza de uma cidadezinha de província, têm eles os defeitos e as fraquezas provincianas e parecem sentir um prazer malicioso em procurar os modelos das personagens, especialmente quando tolas, mesquinhas ou viciosas, que o autor incluiu na sua narrativa. Pouco versados em artes e letras, não compreendem que o caráter e a aparência de uma personagem de conto são ditados pelas exigências do enredo. Não lhes ocorre tampouco que as pessoas reais sejam demasiado nebulosas para aparecer numa obra de imaginação. Nós vemos as pessoas reais apenas em superfície, mas para os propósitos da ficção elas devem ser vistas em volume; e a fim de criar uma personagem viva é necessário combinar elementos fornecidos por uma dúzia de fontes diversas. O fato de o leitor, empregando sem proveito algum uma hora de lazer inútil, reconhecer numa personagem um traço, mental ou físico, de alguma pessoa de suas relações que ele sabe ser conhecida também pelo autor, não justifica que aplique o nome dessa pessoa à personagem descrita e diga: isto é um retrato. Uma obra de ficção — e talvez não seja descabido generalizar, dizendo toda obra de arte — é um compromisso que o autor faz dos fatos da sua experiência com as idiossincrasias da sua personalidade. Se, por coincidência, ela parecer uma cópia da vida, isso não passará de um incidente raro e desprovido de importância. Foi assim que o escultor grego de uma estátua famosa acrescentou mais um dedo ao pé de uma mulher, sem dúvida porque julgava aumentar assim a esbelteza e a elegância desse pé. Os fatos não são mais do que a tela em que o artista traça um desenho sugestivo. Tomo pois a liberdade de declarar que as personagens destes contos são imaginárias, mas como certo incidente narrado numa delas, Atavismo, foi sugerido por um contratempo pessoal, desejo frisar particularmente que não vai aí alusão a nenhum dos meus companheiros naquela perigosa aventura.
Dizem que quando alguém leva consigo para o mar um pedaço dessa árvore, por menor que seja, surgirão ventos contrários que lhe impedirão a viagem, ou tempestades a pôr em perigo a sua vida. Também dizem que quem se colocar à sua sombra em noite de lua cheia ouvirá, misteriosamente sussurrados na escura galharia, os segredos do futuro. São fatos que jamais foram contraditados; mas dizem ainda que nos amplos estuários, quando o mangue, com o correr do tempo, logrou conquistar à água as terras pantanosas, a casuarina ali se instala por sua vez, solidificando e fertilizando o solo até que esteja pronto para receber uma vegetação mais variada e luxuriante; então, desempenhada a sua tarefa, vai se extinguindo ante a impiedosa invasão das miríades de habitantes da selva. Ocorreu-me que A casuarina não seria mau título para um volume de contos em torno de ingleses residentes na Península Malaia e em Bornéu; pois imaginei que essa gente, vinda após os desbravadores que haviam franqueado essas terras à civilização ocidental, estava da mesma forma destinada, uma vez cumprida a sua missão e tornada a região pacífica, ordeira e sofisticada, a ceder lugar a uma geração mais variada, porém menos aventurosa; e fiquei extremamente desapontado quando, ao fazer indagações, soube que não havia a menor dose de verdade no que me tinham dito. É dificílimo encontrar título para uma coleção de contos; dar-lhe o nome do primeiro é fugir à dificuldade e ilude o leitor, fazendo-o supor que vai ler um romance; um bom título deveria, ainda que vagamente, ter relação com todos os contos reunidos no livro. Os melhores títulos, todavia, já foram usados. Estava eu num dilema. Refleti, porém, que um símbolo (como acentua mestre François Rabelais numa divertida passagem) pode simbolizar qualquer coisa; e lembrei-me de que a casuarina se ergue à beira-mar, emaciada e tosca, protegendo a terra contra a fúria dos ventos, e assim poderia muito bem sugerir esses plantadores e administradores que, apesar de todos os seus defeitos, afinal de contas levaram aos povos entre os quais habitam a tranquilidade, a justiça e a prosperidade, e imaginei que eles também, ao contemplar a casuarina, rude, cinzenta e triste, algo deslocada em meio à exuberância dos trópicos — que eles também deviam recordar-se da sua terra natal e, pensando um momento nas urzes de uma charneca de Yorkshire ou nas giestas de um baldio de Sussex, veriam nessa intrépida árvore, que faz o que pode num ambiente desfavorável, um símbolo das suas existências de exilados. Em suma, eu poderia encontrar uma dezena de razões para manter o meu título, mas a mais convincente delas, já se vê, é que não consegui descobrir outro melhor.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_CASUARINA.jpg
Antes da festa
Mrs. Skinner gostava de chegar na hora. Já estava vestida, de seda preta como convinha à sua idade, sem contar que guardava luto pelo genro. Pôs a "toque". Tinha as suas dúvidas acerca desta, pois a aigrette que a enfeitava bem poderia provocar ásperas críticas por parte de algumas das suas amigas, a quem certamente encontraria na festa. Além disso, era revoltante matar aquelas lindas aves brancas, ainda em cima na época do acasalamento, para lhes arrancar as penas. Mas eram tão bonitas, tão chiques, que teria sido tolice recusá-las, para não falar na ofensa feita ao genro. Fora ele que as trouxera de Bornéu, pensando dar-lhe tanta alegria com elas! Kathleen fora um pouco malcriada a esse respeito; sem dúvida estava arrependida após o que acontecera, mas a verdade é que Kathleen nunca tinha gostado realmente de Harold. Em pé diante da mesa-toucador, Mrs. Skinner ajustou a "toque" na cabeça (afinal era o único chapéu apresentável que tinha) , e cravou nela um grampo com uma grande bola de azeviche. Se lhe fizessem alguma observação sobre as plumas, tinha uma resposta pronta.
"Sei que isto é um horror", diria, "e por mim nunca as teria comprado, mas foi o meu pobre genro que as trouxe, da última vez que esteve aqui em licença."
Isso explicaria as plumas e seria uma escusa para usá-las. Todos tinham sido muito gentis. Mrs. Skinner tirou um lenço limpo de uma gaveta e borrifou-o com um pouco de água-de-colônia. nunca usava perfumes porque isso lhe parecia uma frivolidade, mas a água-de-colônia era tão, refrescante! Já estava quase pronta; seu olhar arredou-se do espelho e pôs-se a vaguear lá fora, através da janela. O cônego Heywood teria um dia maravilhoso para o seu garden party. O ar estava tépido e o céu azul; as árvores ainda não tinham perdido o fresco verdor da primavera. Mrs. Skinner sorriu ao ver a netinha no pequenino jardim dos fundos da casa, passando o ancinho no seu canteiro de flores. Quem dera que Joan não fosse tão pálida! Fora um erro fazê-la permanecer tanto tempo nos trópicos. Era séria demais para a sua idade, nunca a viam correr de um lado para outro; distraía-se com jogos tranquilos, que ela própria inventava, e regava o seu jardim. Mrs. Skinner alisou o peito do vestido, apanhou as luvas e desceu.
Kathleen estava sentada diante da mesa de escrever, no vão da janela, ocupada com as listas que andava organizando; pois era secretária honorária do Clube Feminino de Golfe e quando havia competição tinha muito que fazer. Mas também ela já se, arrumara para a festa.
— Vejo que afinal resolveste por o blusão — disse Mrs. Skinner.
Haviam discutido ao almoço sobre se Kathleen devia por o blusão ou o vestido de chiffon preto. O blusão era preto e branco e Kathleen o achava muito chique, mas não era propriamente um traje de luto. Contudo, Millicent pronunciara-se a favor dele.
— Por que havíamos de ir todas como se tivéssemos voltado de um enterro? Já faz oito meses que Harold morreu.
Mrs. Skinner achara que ela dava mostra de pouco sentimento. Millicent andava esquisita desde que voltara de Bornéu.
— Estás pensando em tirar já o luto, meu bem? — perguntara.
Millicent não respondera diretamente. — Hoje não se usa mais luto como em outros tempos. Fez uma pequena pausa e quando prosseguiu, o tom da sua voz pareceu estranho a Mrs. Skinner. Evidentemente Kathleen também o notou, pois lançou um olhar de curiosidade à irmã. — Tenho certeza que Harold não havia de querer que eu usasse luto indefinidamente por ele.
— Aprontei-me cedo porque queria falar com Millicent — disse Kathleen em resposta à observação da mãe.
— Ah! sim?
Kathleen não explicou. Pôs as listas de parte e, com o cenho franzido, leu por segunda vez a carta de uma senhora que se queixava da injustiça do comitê em baixar-lhe o handicap de vinte e quatro para dezoito. A secretária honorária de um clube feminino de golfe precisa ter muita diplomacia. Mrs. Skinner começou a por as luvas novas. As persianas mantinham a sala fresca e envolta em penumbra. Ela olhou para o grande búcero de madeira, pintado em cores alegres, que Harold deixara confiado à sua guarda; a escultura lhe parecia estranha e bárbara, mas o genro tinha-lhe muita estima. Possuía algum significado religioso e o cônego Heywood ficara muito impressionado com ela. Na parede, por cima do sofá, havia armas malaias cujo nome ela esquecera e aqui e além, sobre as mesas, objetos de bronze e prata que Harold lhes mandara em diversas ocasiões. Gostara do genro em vida. deste. Seus olhos procuraram involuntariamente a fotografia dele, que costumava estar em cima do piano, junto com as das suas filhas, da neta, da irmã e do filho desta.
— Que é isso, Kathleen, onde está o retrato de Harold?
Kathleen olhou. O retrato já não se achava no seu lugar. — Alguém o tirou daí — disse ela. Levantou-se, surpresa e intrigada, e dirigiu-se para o piano. As fotografias tinham sido rearranjadas de maneira que não deixassem nenhuma lacuna.
— Talvez Millicent o quisesse ter no quarto — observou Mrs. Skinner.
— Eu teria reparado nele. Além disso, Millicent tem várias fotografias de Harold, que traz fechadas à chave.
Mrs. Skinner achara muito esquisito a filha não ter nenhum retrato do marido no quarto. Chegara a tocar certa vez nesse assunto, porém Millicent não lhe respondera. Millicent andava singularmente taciturna desde que tinha voltado de Bornéu. Não tinha animado as mostras maternas de simpatia. Parecia pouco disposta a falar da sua grande perda. O pesar não produz o mesmo efeito em todos. Mrs. Skinner dissera-lhe que era melhor deixá-la em paz. A lembrança do marido desviou-lhe o pensamento para a festa.
— O pai perguntou se eu achava que ele devia pôr a cartola. Respondi que pelas dúvidas era melhor fazê-lo.
Seria uma festa magnífica. Tinham encomendado sorvetes de morango e baunilha a Boddy, o confeiteiro, mas os Heywood preparariam o café gelado em casa. A concorrência seria grande. Eles tinham sido convidados para fazer conhecimento com o Bispo de Hong Kong, que estava hospedado em casa do cônego, seu velho companheiro de universidade, e ia falar sobre as missões da China. Mrs. Skinner, cuja filha tinha residido oito anos no Oriente e cujo genro fora Residente num distrito de Bornéu, estava toda interessada. O assunto, naturalmente, a tocava muito mais de perto do que àqueles que nunca tinham tido nada que ver com as Colônias.
"Que pode saber da Inglaterra quem só a Inglaterra conhece?", como dizia Mr. Skinner.
Nesse momento ele entrou na sala. Era advogado, como também o fora o pai, e tinha banca em Lincoln's Inn Fields. Todos os dias de manhã ia a Londres e voltava à tardinha. Se podia acompanhar a mulher e as filhas ao garden party do cônego era porque este, muito acertadamente, havia escolhido um sábado para a sua festa. Fazia muito boa figura de fraque e calças sal-e-pimenta. Não era propriamente uma janota, mas vestia com correção. Tinha o aspecto de um respeitável advogado de família, e de fato o era. Sua firma nunca aceitava negócios que não fossem perfeitamente lícitos; quando um cliente o procurava para lhe confiar alguma questão pouco limpa ele assumia um ar grave.
— Não me parece que a sua causa seja daquelas que nos interessam especialmente. Seria preferível que se dirigisse a outra firma.
Puxava um bloco de notas e escrevia um nome e um endereço. Arrancava a folha e a estendia ao cliente.
— No seu lugar eu procuraria estes advogados. Se mencionar o meu nome, estou certo de que farão o possível para servi-lo.
Mr. Skinner era muito calvo e raspava toda a barba. Tinha lábios pálidos, finos e comprimidos, mas os seus olhos azuis eram tímidos. As faces eram sem cor e o rosto coberto de rugas.
— Vejo que você pôs as calças novas — disse Mrs. Skinner. — Achei que a oportunidade era boa. Estava perguntando comigo se conviria por uma flor na lapela.
— Eu não faria isso, pai — observou Kathleen. — Não acho que seja de muito bom gosto.
— Muita gente vai fazê-lo — disse Mrs. Skinner.
— Somente empregados de escritório e. pessoas dessa espécie — tornou Kathleen. — Os Heywood tiveram de convidar toda a gente, como sabem. Além disso, nós estamos de luto.
— Gostaria de saber se haverá coleta depois da conferência do Bispo — disse Mrs. Skinner.
— Não creio — respondeu o marido. — Acho que não seria de muito bom gosto — concordou Kathleen.
— É melhor ir pelo seguro — decidiu Mr. Skinner. — Vou contribuir em nome de todos nós. Estava perguntando a mim mesmo se dez xelins seriam suficientes ou se devia dar uma libra.
— Se tiver de dar alguma coisa, convém que seja uma libra, pai — disse Kathleen.
— Verei quando chegar o momento. Não quero dar menos do que os outros, mas por outro lado não vejo razão para dar mais do que o necessário.
Kathleen guardou os seus papéis na gaveta da secretária e levantou-se. Olhou as horas no relógio de pulso.
— Millicent já está pronta? — perguntou Mrs. Skinner.
— Temos tempo de sobra. O convite é para as quatro e não convém que cheguemos muito antes das quatro e meia. Disse a Davis que trouxesse o carro às quatro e quinze.
Em geral era Kathleen quem guiava o carro, mas em ocasiões solenes como essa Davis, o jardineiro, vestia seu uniforme e fazia as vezes de chofer. Isso dava melhor impressão à chegada e era natural que Kathleen não desejasse guiar com o seu blusão novo. Ao ver a mãe enfiar nos dedos, com esforço, um par de luvas que ainda não tinham sido usadas, lembrou-se de que precisava pôr as suas também. Cheirou-as para verificar se ainda se sentia o odor do líquido usado na limpeza. Estava muito fraco. Duvidava que alguém o notasse.
Afinal abriu a porta e Millicent entrou. Pusera o seu traje de luto. Mrs. Skinner não podia habituar-se com ele, mas, fosse como fosse, Millicent teria de usá-lo durante um ano. Era pena que não lhe ficasse bem; assentava muito em certas pessoas. Tinha posto uma vez o chapéu de Millicent, com a sua ourela branca e o seu comprido véu, e achava que ele lhe dava uma bonita aparência. Esperava, já se vê, que o seu querido Alfred lhe sobrevivesse, mas se tal não acontecesse ela jamais tiraria o luto. Como a Rainha Vitória. Com Millicent o caso mudava de figura. Millicent era muito mais moça, tinha apenas trinta é seis anos; que tristeza enviuvar nessa idade! Era pouco provável que arranjasse novo casamento. Kathleen, com trinta e cinco anos, também já estava um pouco velha para casar. Na última vez em que Millicent e Harold tinham vindo à Inglaterra ela sugerira que levassem Kathleen consigo para o Oriente; Harold parecia disposto a fazê-lo, porém Millicent disse que isso não daria certo. Mrs. Skinner não compreendia por quê. Seria uma oportunidade para ela. Está claro que não queriam desfazer-se de Kathleen, mas uma moça precisava casar e o fato era que todos os homens a quem conheciam na Inglaterra já estavam casados. Dizia Millicent que o. clima de lá era tremendo e, na verdade, ela estava com má cor. Ninguém diria que Millicent tinha sido a mais bonita das duas. Kathleen tornara-se mais esbelta com os anos; alguns a achavam muito magra, mas depois de cortar o cabelo, com as faces vermelhas de jogar rife ao sol e ao vento, Mrs. Skinner achava-a linda. Ninguém poderia dizer o mesmo da pobre Millicent, que perdera por completo a linha; nunca tinha sido alta e agora que engordara parecia atarracada. Estava gorda demais; isso, sem dúvida, devia-se ao calor dos trópicos que não deixava fazer exercício. Sua pele estava descorada e turva e os olhos azuis, que eram o que ela possuía de mais bonito, tinham adquirido uma tonalidade completamente pálida.
"Ela devia fazer alguma coisa para afinar o pescoço", refletiu Mrs. Skinner. "Está ficando horrivelmente tronchudo."
Certa ocasião falara nisso ao marido. Ele respondeu que Millicent já não era muito criança; podia ser, mas isso não era motivo para que uma pessoa se descuidasse de si. Mrs. Skinner tomou a resolução de falar seriamente à filha. Mas devia respeitar a sua dor, está claro: esperaria até que houvesse passado um ano. Não lhe desagradava nada ter esse motivo para adiar uma palestra em que não podia pensar sem certo nervosismo. Porque era visível que Millicent havia mudado. O seu rosto tinha uma expressão casmurra que fazia com que a mãe não se sentisse bem a. vontade com ela. Mrs. Skinner gostava de exprimir em voz alta tudo que lhe passava pela cabeça, porém Millicent, quando se fazia uma observação (simplesmente para dizer alguma coisa, já se vê), tinha o hábito embaraçoso de não responder, deixando a gente em dúvida sobre se ela ouvira ou não. Por vezes Mrs. Skinner achava isso tão irritante que, para não dirigir algumas palavras ásperas à filha, era forçada a lembrar-se de que o pobre Harold morrera havia apenas oito meses.
A luz da janela incidia no rosto maciço da viúva, que caminhava silenciosamente para o grupo. Kathleen, que estava de costas para essa luz, observou por um instante a irmã.
— Millicent, quero dizer-te uma coisa. Estive jogando golfe com Gladys Heywood hoje de manhã.
— Ganhaste? — perguntou Millicent. Gladys Heywood era a única filha solteira do cônego. — Ela me contou a teu respeito uma coisa que acho que tu deves saber.
Os olhos de Millicent fixaram-se, além da irmã, na meninazinha que regava as flores no jardim.
— Disseste a Annie que servisse o chá a Joan na cozinha, mamãe? — perguntou ela.
— Sim, ela vai tomá-lo com os criados.
Kathleen olhou calmamente para a irmã. — O Bispo passou dois ou três dias em Singapura na volta — prosseguiu. — Ele gosta muito de viajar. Esteve em Bornéu e falou com muitos conhecidos teus.
— Gostará de fazer conhecimento contigo, meu bem — disse Mrs. Skinner. — Ele conhecia o pobre Harold?
— Sim, encontraram-se uma vez em Kuala Solor. Lembra-se muito bem dele. Diz que ficou horrorizado ao saber da sua morte.
Millicent sentou-se e começou a pôr as luvas pretas. Mrs. Skinner achou estranho que ela ouvisse essas observações num silêncio absoluto.
— A propósito, Millicent — disse ela —, o retrato de Harold desapareceu. Foste tu que o tiraste daí?
— Sim, eu o guardei.
— Pensei que gostasses de tê-lo em cima do piano.
Mais uma vez Millicent calou-se. Era mesmo um hábito exasperante.
Kathleen virou-se um pouco para encarar a irmã. — Millicent, por que nos disseste que Harold tinha morrido de febre?
A viúva não fez o menor gesto, fitando em Kathleen um olhar firme, mas as suas faces pálidas cobriram-se subitamente de rubor. Não respondeu uma palavra.
— Meu Deus, que queres dizer, Kathleen? — perguntou Mrs. Skinner, surpresa.
— O Bispo diz que Harold se suicidou.
Mrs. Skinner soltou um grito de pasmo, mas seu marido estendeu a mão pedindo silêncio.
— Isso é verdade, Millicent?
— Mas por que não nos disseste?
Millicent demorou um instante a responder. Revolvia entre os dedos, distraidamente, um objeto de bronze de Brunei que estava em cima da mesa ao seu lado. Também aquilo tinha sido um presente de Harold.
— Achei preferível, no interesse de Joan, que o pai dela passasse por ter morrido de febre. Não queria que ela viesse a saber disso.
— Tu nos deixaste numa situação muito esquerda — volveu Kathleen, franzindo de leve o sobrolho. — Gladys Heywood me disse que achava mal feito eu não lhe ter contado a verdade. Tive a maior dificuldade em convencê-la de que eu não sabia absolutamente nada a esse respeito. Ela me disse que o cônego está bastante aborrecido. Depois de nos conhecermos durante tantos anos, e diante da amizade que sempre mantivemos com eles, sem falar que foi ele quem te casou, acha que podíamos ter tido mais franqueza. Em todo caso, se não lhe queríamos dizer a verdade ao menos não devíamos ter contado uma mentira.
— Devo dizer que estou inteiramente solidário com ele nesse ponto — acudiu Mr. Skinner em tom ácido.
— Eu, naturalmente, disse a Gladys que nós não tínhamos culpa nenhuma. Limitamo-nos a repetir a eles o que tu nos tinhas dito.
— Espero que não tenham suspendido a partida de golfe por causa disso — comentou Millicent.
— Francamente, minha querida, a sua observação me parece das mais impróprias! — exclamou Mr. Skinner.
Pôs-se em pé, dirigiu-se para a lareira vazia e, levado pela força do hábito, colocou-se diante dela separando as abas do fraque.
— Era um assunto que me dizia respeito — disse Millicent —, e se me pareceu conveniente guardar segredo sobre isso, por que não havia de fazê-lo?
— Dir-se-ia que não tens nenhuma afeição a tua mãe, pois que nem a ela quiseste contar — disse Mrs. Skinner.
Millicent deu de ombros. — Tu devias saber que isso seria descoberto mais cedo ou mais tarde — observou Kathleen.
— Por quê? Eu não esperava que dois velhos ministros bisbilhoteiros se pusessem a comentar a minha vida por não terem outro assunto em que falar.
— Quando o Bispo disse que tinha estado em Bornéu, era natural que os Heywood lhe perguntassem se ele tinha conhecido vocês.
— Nada disso vem ao caso — disse Mr. Skinner. — Minha opinião é que tu nos devias ter contado a verdade de qualquer modo, e nós então teríamos decidido sobre o melhor caminho a seguir. Como advogado, asseguro-te que sempre dá mau resultado tentar esconder certas coisas.
— Pobre Harold! — disse Mrs. Skinner, enquanto as lágrimas começavam a correr pelas suas faces pintadas de ocre. — Como isso é horrível! Ele sempre foi bom genro para mim. Que foi que o levou a cometer um ato tão horroroso?
— O clima.
— Acho melhor que nos ponhas ao corrente de todos os fatos, Millicent — disse o pai.
— Kathleen te contará.
Kathleen hesitou. O que tinha para dizer era estarrecedor. Parecia horrível que uma coisa daquelas pudesse acontecer a uma família como a sua.
— O Bispo diz que ele se degolou.
Mrs. Skinner conteve a respiração e dirigiu-se impulsivamente para a filha viúva. Queria tomá-la nos braços..
— Minha pobre filha! — soluçou ela.
Millicent, porém, desvencilhou-se do seu abraço. — Por favor, não me desarranjes, mamãe. Não suporto que me agarrem assim.
— Francamente, Millicent! — disse Mr. Skinner, franzindo o sobrolho. — A atitude da filha parecia-lhe muito censurável. Mrs. Skinner enxugou cuidadosamente os olhos com o lenço e voltou para a sua cadeira, soltando um suspiro e sacudindo de leve a cabeça.
Kathleen remexia nervosa a longa corrente que usava ao pescoço.
— Parece absurdo que eu tenha sido informada por uma amiga dos pormenores da morte de meu cunhado. Isso nos deixa com ar de tolos. O Bispo deseja muito ver-te, Millicent; quer dizer-te o quanto simpatiza com a tua dor. — Fez uma pausa, porém Millicent não falou. — Ele diz que Millicent estava fora com Joan e ao voltar encontrou o pobre Harold morto na cama.
— Deve ter sido um grande choque — observou Mr. Skinner.
Sua esposa pôs-se de novo a chorar, mas Kathleen pousou-lhe a mão suavemente no ombro.
— Não chores, mamãe. Vais ficar com os olhos vermelhos e os outros acharão isso muito esquisito.
Todos guardaram silêncio enquanto Mrs. Skinner secava os olhos e fazia um bem sucedido esforço para se dominar.
Parecia-lhe singularíssimo que nesse momento estivesse usando no "toque" as plumas que Harold lhe dera.
— Tenho mais uma coisa para te dizer — falou Kathleen.
Millicent tornou a olhar para a irmã, sem ansiedade, os olhos firmes mas atentos. Tinha o ar de alguém que está à espera de um ruído qualquer e receia perdê-lo.
— Não desejo ofender-te, minha querida, mas ainda há uma coisa que precisas saber — prosseguiu Kathleen. — Diz o Bispo que Harold bebia.
— Que horror, minha querida! — exclamou Mrs. Skinner. — Dizerem uma coisa tão chocante! Foi Gladys Heywood quem te contou? Que foi que lhe respondeste?
— Eu disse que isso era absolutamente falso.
— Aí está em que dá andar com segredos! — exclamou Mr. Skinner com irritação. — É sempre assim. Quando se procura encobrir uma coisa começam a surgir boatos de toda sorte, mil vezes piores do que a verdade.
— Disseram ao Bispo, em Singapura, que Harold tinha se matado num acesso de delirium tremens. Acho que, no interesse de todos nós, tu devias desmentir isso, Millicent.
— É medonho dizer-se semelhante coisa de uma pessoa falecida — disse Mrs. Skinner. — Isso será tão prejudicial a Joan quando ela crescer!
— Mas que fundamento tem essa história, Millicent? — perguntou o pai. — Harold sempre foi muito abstêmio.
— Aqui — respondeu a viúva.
— Então ele bebia?
— Como uma esponja.
A resposta foi tão inesperada e o tom tão sarcástico que todos os três estremeceram.
— Millicent, como podes falar nesses termos do teu marido que está morto? — exclamou a mãe, juntando as mãos muito bem enluvadas. — Não consigo entender-te. Andas tão esquisita desde que voltaste! Eu nunca teria acreditado que uma filha minha fosse capaz de ficar tão fria diante da morte do marido.
— Não te inquietes com isso, mãe — disse Mr. Skinner. — Podemos deixar esse assunto para mais tarde.
Foi até a janela, olhou o jardinzinho banhado de sol e tornou a voltar para o interior da sala. Tirou o pince-nez do bolso e começou a limpá-lo com o lenço, embora não tivesse nenhuma intenção de pô-lo. Millicent contemplava-o, e os seus olhos tinham uma inconfundível expressão de ironia que quase chegava a ser cínica.
Mr. Skinner estava aborrecido. A semana de trabalho terminara e ele estava livre até segunda-feira de manhã. Embora houvesse dito à esposa que o garden party era uma grande maçada e que teria preferido mil vezes tomar chá sossegadamente no seu próprio jardim, era com ansiedade que aguardava a festa. Não fazia muito caso das tais missões da China, mas seria interessante conhecer o Bispo. E agora surgia aquilo! Era um desses assuntos em que não gostava de se ver envolvido; que coisa mais desagradável do que ouvir dizer de repente que o seu genro era um bêbado e um suicida!
Millicent alisava pensativamente os punhos brancos das mangas. A sua calma o irritava; mas, em vez de se dirigir a ela, falou à filha mais moça.
— Por que não te sentas, Kathleen? Acaso faltam cadeiras na sala?
Kathleen aproximou uma cadeira e sentou-se sem pronunciar uma palavra. Mr. Skinner parou em frente de Millicent e encarou-a.
— Naturalmente eu percebo por que razão nos disseste que Harold tinha morrido de febre. Acho que foi um erro, porque essas coisas têm de vir à luz mais cedo ou mais tarde. Ignoro até que ponto o que o Bispo contou aos Heywood coincide com os fatos, mas se queres ouvir o meu conselho conta-nos tudo da maneira mais circunstanciada possível, para que depois vejamos o que se deve fazer. Não podemos esperar que a história fique com o cônego Heywood e Gladys. Num lugar como este o povo não pode deixar de falar. Em todo caso, a situação se tornaria muito mais fácil para todos nós se conhecêssemos a verdade inteira.
Mrs. Skinner e Kathleen acharam que ele se exprimia muito bem. Ficaram à espera da resposta de Millicent. Esta ouvira o pai com um rosto impassível; o rubor súbito já desaparecera e suas faces voltaram a assumir a habitual cor pálida e turva.
— Acho que não vão gostar muito quando eu lhes disser a verdade.
— Fica sabendo que podes contar com a nossa simpatia e a nossa compreensão — acudiu gravemente Kathleen.
Millicent relanceou os olhos para ela e a sombra de um sorriso perpassou pelos seus lábios cerrados. Considerou-os um por um, vagarosamente. Mrs. Skinner teve a desagradável impressão de que ela os olhava como se fossem manequins de uma casa de modas. Parecia viver num mundo diferente e não ter qualquer relação com eles.
— Devo lhes dizer que eu não amava Harold quando me casei com ele — disse Millicent em tom pensativo.
Mrs. Skinner estava a ponto de soltar uma exclamação quando foi detida por um rápido gesto do marido, apenas esboçado mas perfeitamente inteligível após tantos anos de vida em comum. Millicent prosseguiu. Falava em voz calma, devagar, e o seu tom quase não mudava de expressão.
— Estava com vinte e sete anos e ninguém mais parecia interessado em casar comigo. É verdade que ele tinha quarenta e quatro, já era um pouco velho, mas ocupava uma boa posição, não é mesmo? Eu não tinha probabilidade de encontrar melhor partido.
Mrs. Skinner sentiu novamente vontade de chorar, mas lembrou-se da festa.
— Agora vejo por que escondeste o retrato dele — disse lugubremente.
— Não fales assim, mãe! — exclamou Kathleen.
Essa fotografia fora tirada quando ele estava noivo de Millicent e era um excelente retrato de Harold. Mrs. Skinner sempre o achara um belo homem. Era de físico reforçado, alto e um pouco gordo talvez, mas tinha muito aprumo e sua presença era imponente. Já naquele tempo começava a encalvecer, mas o fato é que os homens ficam calvos muito cedo hoje em dia, e ele dizia que os "topis" (os capacetes de cortiça, como sabem) faziam cair o cabelo. Tinha um bigodinho preto e o rosto fortemente bronzeado pelo sol. O que possuía de mais bonito eram, por certo, os olhos, rasgados e castanhos como os de Joan. Sua palestra era interessante. Kathleen achava-o pomposo, mas Mrs. Skinner não pensava assim.; não lhe desagradava que os homens falassem com autoridade; e quando notou, pouco depois, que ele sentia atração por Millicent, começou a gostar muito dele. Harold mostrava-se sempre muito atencioso com Mrs. Skinner e esta o escutava com ar de verdadeiro interesse quando ele lhe falava do seu distrito ou das feras que tinha caçado. Dizia Kathleen que ele era muito presumido, mas Mrs. Skinner pertencia a uma geração que aceitava sem discutir a alta opinião que os homens fizessem de si próprios. Millicent não tardou a perceber de que lado soprava o vento e, embora não tivesse dito nada à mãe, esta sabia que se Harold a pedisse em casamento ela aceitaria.
Estava Harold hospedado em casa de uma família que tinha passado trinta anos em Bornéu e dizia muito bem da ilha. Nada impedia que uma mulher vivesse ali com conforto; naturalmente, os filhos tinham de vir para a Inglaterra quando tivessem feito sete anos; Mrs. Skinner, porém, achava desnecessário preocupar-se com isso por enquanto. Convidou Harold para jantar e disse-lhe que ele os encontraria sempre em casa à hora do chá. Harold parecia não ter o que fazer e quando se aproximou o fim da sua visita aos velhos amigos ela convidou-o para vir passar duas semanas em sua casa. Foi ao terminar este período que Harold e Millicent trataram casamento. Tiveram uma bonita festa de núpcias, foram passar a lua de mel em Veneza e depois seguiram para o Oriente. Millicent escreveu de vários portos em que o navio fez escala. Parecia muito feliz.
— Foram muito amáveis comigo em Kuala Solor — disse ela. (Kuala Solor era a capital do Estado de Sembulu.) — Fomos para a casa do Residente e todos nos convidavam para jantar. Uma ou duas vezes ouvi homens convidando Harold para tomar um drink, mas ele recusava, dizendo que com o casamento havia começado vida nova. Não compreendi por que eles riam. Mrs. Gray, a mulher do Residente, disse-me que todos estavam muito satisfeitos por ver Harold casado e que a vida de um homem solteiro nos postos da selva era horrivelmente solitária. Quando partimos de Kuala Solor, Mrs. Gray despediu-se de mim com um jeito tão singular que fiquei admirada. Era como se ela estivesse confiando Harold solenemente aos meus cuidados.
Os outros a ouviam em silêncio. Kathleen não tirava os olhos do rosto impassível da irmã; Mr. Skinner olhava fixo, à sua frente, as armas malaias, cris e parangs, penduradas na parede acima do sofá em que sua mulher estava sentada.
— Somente quando voltei a Kuala Solor, um ano e meio depois, foi que compreendi a razão dessas maneiras esquisitas. — Millicent emitiu um pequeno som estranho, como o eco de um riso escarninho. — Já então eu estava a par de muita coisa que ignorava antes. Harold veio à Inglaterra naquela ocasião para se casar. Não lhe importava muito com quem. Lembras-te das voltas que demos para apanhá-lo, mamãe? Não precisávamos ter tanto trabalho.
— Não entendo o que queres dizer, Millicent — disse Mrs. Skinner com certa acrimônia, pois não gostara da insinuação. — Eu via que ele simpatizava contigo.
Millicent sacudiu os ombros maciços.
— Era um bêbado impenitente. Costumava deitar-se todas as noites com uma garrafa de uísque e esvaziá-la antes do amanhecer. O Secretário Geral disse-lhe que ele teria de pedir demissão se não deixasse de beber. Deu-lhe uma última oportunidade, dizendo que ele podia tirar a sua licença e vir à Inglaterra. Aconselhou-o a que se casasse, a fim de que ao voltar tivesse alguém para cuidar dele. Harold casou comigo porque precisava de uma guarda. Em Kuala Solor faziam apostas sobre quanto tempo eu conseguiria mantê-lo afastado da bebida.
— Mas ele te amava! — interrompeu Mrs. Skinner. — Não imaginas como ele se referia a ti quando conversava comigo. Nessa ocasião de que falas, quando foste a Kuala Solor para ter Joan, ele me escreveu uma carta tão linda a teu respeito!
Millicent tornou a olhar para a mãe e a sua tez pálida se cobriu de profundo rubor. Suas mãos, caídas no regaço, puseram-se a tremer de leve. Pensava naqueles primeiros meses de casada. A lancha do governo conduzira-os à embocadura do rio e passaram a noite no bangalô que Harold dizia, gracejando, ser a sua residência de veraneio. No dia seguinte subiram o rio num prau. Os romances que tinha lido faziam-na imaginar os rios de Bornéu escuros, estranhos e sinistros; mas o céu era azul, sarapintado de nuvenzinhas brancas, e o verde dos mangues e das nipas, lavado pela água corrente, reluzia ao sol. Aos dois lados estendia-se a floresta ínvia e à distância, formando silhueta contra o céu, erguiam-se os contornos ásperos de uma montanha. O ar da manhãzinha era puro e vivificante. Millicent tinha a impressão de penetrar numa terra farta e amiga, a sensação de uma ampla liberdade. Procuravam com os olhos, nas margens, os símios encarapitados nos galhos das emaranhadas árvores, e em dado momento Harold apontou-lhe alguma coisa que parecia um tronco a boiar na água e ele disse ser um crocodilo. O Vice-residente, vestido com calça de brim e capacete de cortiça, esperava-os no cais flutuante e uma dúzia de soldadinhos muito corretos formava linha para lhes prestar as honras de estilo. O Vice-residente foi-lhe apresentado. Chamava-se Simpson.
— Caramba, Sr. Residente! — disse ele a Harold. — Como estou contente por vê-lo de volta! Isto aqui estava chatíssimo sem o senhor.
O bangalô do residente, cercado de um jardim onde vicejava em estado bravio uma variada floração de cores alegres, ficava no cimo de um outeiro de pouca altura. Tinha uma aparência levemente deteriorada e a mobília era pouca, mas as peças eram frescas e muito espaçosas.
— O kampong fica ali — disse Harold, apontando. Millicent seguiu a direção do seu dedo e ouviu o som de um gongo entre os coqueiros. Isso lhe deu uma sensaçãozinha esquisita no coração.
Se bem não tivesse muito que fazer, os dias iam passando agradavelmente. Ao amanhecer um criado lhes trazia chá e ficavam na varanda, gozando a fragrância da manhã (Harold de sarong e camiseta, ela de chambre) até chegar a hora do breakfast. Depois Harold ia para o escritório e Millicent passava uma hora ou duas aprendendo malaio. Após o almoço ele voltava para o escritório, enquanto ela ia fazer a sesta. Uma xícara de chá lhes restaurava as energias; davam uma caminhada ou jogavam golfe no campo que Harold tinha preparado numa clareira plana da floresta, abaixo do bangalô. As seis horas caía a noite e Mr. Simpson aparecia para tomar um drink. Palravam até a hora do jantar, que era servido tarde, e às vezes Harold jogava xadrez com Mr. Simpson. As noites, com o seu ar aveludado, eram fascinantes. Os, pirilampos convertiam as moitas situadas logo abaixo da varanda em faróis de luz fria, trêmula e cintilante, e as árvores em flor impregnavam a atmosfera de perfumes suaves. Após o jantar liam os jornais saídos de Londres seis semanas atrás, e em seguida deitavam-se. Millicent saboreava a existência de mulher casada, senhora da sua casa, e gostava dos criados nativos, com os seus sarongs alegres, que andavam de pés descalços pelo bangalô, silenciosos mas amigos. O ser esposa do Residente lhe dava uma agradável sensação de importância. Causava-lhe impressão a fluência com que Harold falava o malaio, o seu ar de mando, a sua dignidade. De quando em quando ia ao tribunal para Ouvi-lo julgar. A multiplicidade dos seus deveres e a competência com que ele os desempenhava enchiam-na de respeito. Mr. Simpson lhe disse que ninguém em Bornéu compreendia melhor os nativos do que Harold. Ele possuía essa combinação de firmeza, diplomacia e bom humor indispensável a quem trata com aquela raça tímida, vingativa e desconfiada. Millicent começou a sentir uma certa admiração pelo marido.
Estavam casados há cerca de um ano quando dois naturalistas ingleses vieram passar alguns dias no bangalô, em viagem para o interior. Traziam muito boas recomendações do Governador e Harold disse que queria recebê-los com todas as honras. A chegada dos dois homens foi um incidente agradável. Millicent convidou Mr. Simpson para jantar (ele residia no Forte e só jantava com eles nos domingos) e após a refeição os homens formaram uma mesa de bridge. Millicent recolheu-se pouco depois, mas faziam tamanha bulha que durante algum tempo não a deixaram dormir. Ignorava a que horas foi despertada por Harold, que entrou no quarto a cambalear. Ficou calada. Ele resolveu tomar um banho antes de se deitar. O banheiro ficava por baixo do quarto de dormir. Desceu a escada que levava até lá. Sem dúvida escorregou, pois houve um grande estardalhaço e ele pôs-se a rogar pragas. Depois teve vômitos violentos. Ela o ouviu lavar-se às baldadas e pouco depois Harold tornou a subir a escada, caminhando dessa vez com grande cautela, e enfiou-se na cama. Millicent fingiu que dormia. Sentia-se revoltada. Harold estava bêbado. Resolveu falar-lhe nisso pela manhã. Que pensariam dele os naturalistas? Mas pela manhã ele tinha um ar tão digno que lhe faltou coragem para tocar no assunto. As oito horas Harold e ela instalaram-se para o breakfast, em companhia dos dois hóspedes. Harold correu os olhos pela mesa.
— Mingau de aveia! Millicent, os teus hóspedes talvez aceitem um pouco de molho inglês como breakfast, mas não creio que se sintam muito tentados por alguma outra coisa. Quanto a mim, contento-me com um uísque e soda.
Os naturalistas riram, mas um pouco envergonhados. — O seu marido é um pavor — disse um deles.
— Eu não julgaria ter desempenhado condignamente os deveres de hospitalidade se não os mandasse tontos para a cama na primeira noite da sua visita — volveu Harold, com a sua maneira de falar positiva e solene.
Millicent teve um sorriso ácido, mas foi um alívio para ela saber que os hóspedes tinham-se embriagado tanto quanto o marido. Nessa noite não os deixou sós e o grupo dispersou-se a uma hora razoável. Mas ficou satisfeita quando os estranhos prosseguiram a viagem. A vida no bangalô retornou ao seu curso plácido. Alguns meses depois Harold fez um giro de inspeção no distrito e voltou com um forte acesso de malária. Era a primeira vez que ela via a doença de que tanto ouvira falar, e quando Harold recobrou a saúde não se admirou de o ver tão trêmulo. Achou estranhos os seus modos. Ao voltar do escritório ele punha-se a encará-la com os olhos vidrados; ficava em pé na varanda, a vacilar levemente, mas sempre digno, e fazia longas arengas sobre a situação política da Inglaterra; ao perder o fio do discurso olhava para ela com um ar de malícia travessa que a sua dignidade natural tornava um pouco desconcertante, e dizia:
— Esta maldita malária arrasa a gente. Ah! minha mulherzinha, mal sabes tu quanto custa ser um edificador do império!
Ela achou que Mr. Simpson começava a tomar um ar preocupado, e uma ou duas ocasiões em que se achavam a sós ele esteve a ponto de lhe dizer alguma coisa, mas a sua timidez o fazia emudecer no último momento. Essa impressão tornou-se tão forte que a pôs nervosa. Uma tarde em que Harold, inexplicavelmente, se demorou mais que de costume no escritório ela resolveu interrogá-lo.
— Que é que tem para me dizer, Mr. Simpson? — indagou de repente.
Ele corou e hesitou.
— Nada. Por que pensa que eu tenha alguma coisa para lhe dizer?
Era Mr. Simpson um moço magro e desengonçado, de vinte e quatro anos, com uma bela cabeleira ondulada que ele se dava grande trabalho para alisar com goma. Tinha os pulsos inchados e escalavrados pelas picadas de mosquitos. Millicent encarou-o com um olhar firme.
— Se é alguma coisa que diz respeito a Harold, não lhe parece mais generoso falar com franqueza?
Ele fez-se escarlate e remexeu-se inquieto na cadeira de rotim. Millicent insistiu.
— Receio que me ache muito arrojado — disse ele afinal. — É uma sujeira falar do meu chefe nas costas dele. A malária é uma doença infernal e depois de um ataque a gente fica escangalhado.
Tornou a hesitar. Os cantos dos seus lábios caíram como se ele estivesse a ponto de chorar. Millicent achou-lhe um ar de menino.
— Tranquilize-se, eu serei mais silenciosa do que um túmulo — sorriu ela, procurando ocultar a sua apreensão. — Diga-me, por favor.
— Acho que é uma pena seu marido ter uma garrafa de uísque no escritório. Assim é tentado a beber muito mais amiúde.
A voz de Mr. Simpson estava rouca de agitação. Millicent sentiu um arrepio percorrê-la de repente. Dominou-se, pois sabia que não devia assustar o rapaz se quisesse arrancar-lhe todo o segredo. Simpson estava pouco disposto a falar. Millicent instou com ele, adulando-o, apelando para o seu sentimento de dever, e finalmente pôs-se a chorar. Então ele lhe contou que Harold tinha passado as duas últimas semanas constantemente embriagado, que os nativos andavam falando e diziam que ele não tardaria a voltar ao mesmo estado de antes do casamento. Costumava beber demais nesse tempo; mas quanto a pormenores, apesar de todas as tentativas de Millicent Mr. Simpson negou-se terminantemente a dá-los.
— Acha que ele está bebendo neste momento? — perguntou ela.
— Não sei.
Millicent sentiu-se de súbito escaldar de vergonha e raiva. O Forte (chamavam-no assim porque era ali que se guardavam as armas e as munições) também servia como casa do tribunal. Ficava em frente ao bangalô do Residente, cercado de um jardim. O sol ia entrando e ela não necessitava de por chapéu. Levantou-se e foi até lá. Encontrou Harold sentado no gabinete situado aos fundos do grande salão em que ministrava justiça. Tinha uma garrafa de uísque diante de si. Fumava cigarros e falava a três ou quatro malaios que o escutavam em pé, com sorrisos ao mesmo tempo obsequiosos e escarninhos. Ele tinha o rosto vermelho.
Ao ver entrar Millicent os nativos sumiram. — Vim ver o que estavas fazendo — disse ela.
Harold levantou-se, pois sempre a tratava com uma polidez requintada, e deu um bordo. Sentindo-se pouco firme nas pernas, assumiu uma atitude majestosa e circunspecta.
— Senta-te, minha querida, senta-te. Fui detido pelo acúmulo de serviço.
Ela olhou-o com raiva. — Você está embriagado!
Harold encarou-a com os olhos um tanto saltados e uma expressão altaneira passou-lhe vagarosamente pelo rosto largo e carnudo.
— Não faço a mais remota ideia do que queres dizer.
Ela, que vinha pronta para lançar-lhe em rosto uma torrente de censuras indignadas, rompeu de súbito a chorar. Deixou-se cair numa cadeira e tapou o rosto. Harold considerou-a um instante e as lágrimas começaram a correr pelas suas faces também. Caminhou para Millicent com os braços estendidos e caiu pesadamente de joelhos. Tomou-a nos braços e apertou-a contra si, a soluçar.
— Perdoa-me, perdoa-me! Eu te prometo que isto não tornará a acontecer. É essa maldita malária.
— É uma coisa tão humilhante! — gemeu ela.
Harold chorava como uma criança. Havia algo de patético no sentimento de inferioridade daquele homenzarrão solene. Volvidos alguns instantes Millicent alçou o olhar. Os olhos dele, súplices e contritos, procuravam os seus.
— Tu me dás a tua palavra de honra que nunca mais porás na boca um gole de bebida?
— Sim, sim! Eu a detesto!
Foi então que ela lhe disse que estava grávida. Harold ficou radiante.
— Era justamente disso que eu precisava. Isso me conservará no bom caminho.
Voltaram ao bangalô. Harold tomou banho e foi dormir um pouco. Depois de jantar conversaram longamente, com calma. Ele confessou que antes de casar tinha-se excedido por vezes na bebida. Naqueles fins de mundo era fácil contrair maus hábitos. Concordou com tudo que Millicent disse. Durante os meses que se passaram antes de ela ir dar a luz em Kuala Solor, Harold mostrou-se excelente marido, terno, atencioso, cheio de afeição e muito desvanecido dela; foi irrepreensível. Uma lancha veio buscar Millicent, que devia passar seis semanas fora, e ele prometeu lealmente não beber um só gole durante a sua ausência. Pousou-lhe as mãos nos ombros.
— Jamais quebro uma promessa — disse com o seu jeito grave. — Mas ainda que não a tivesse dado, acreditas que enquanto passas por esta provação eu seria capaz de te dar um desgosto?
Joan nasceu. Millicent ficou em casa do Residente e Mrs. Gray, a esposa deste, mulher madura e de coração bondoso, a tratou com muito afeto. Durante as longas horas que passavam juntas as duas mulheres pouco tinham que fazer senão conversar, e com o correr do tempo Millicent veio a conhecer todo o passado alcoólico do marido. A coisa com que achou mais difícil conformar-se foi o ter sido Harold avisado de que só seria conservado no seu posto com a condição de que voltasse casado da Inglaterra. Isto lhe despertou um ressentimento surdo, e quando soube que ele tinha sido um bêbado incorrigível foi tomada de vaga inquietação. Tinha um medo horrível de que ele não resistisse à tentação durante a sua ausência. Voltou para casa com a criança e uma ama. Pernoitou na foz do rio e mandou um mensageiro anunciar a sua chegada. Quando a lancha se aproximou do cais flutuante ela o esquadrinhou ansiosamente com os olhos. Lá estava Harold em companhia de Mr. Simpson, e os corretos soldadinhos formavam fila. Ela sentiu-se esfriar, pois notou que Harold vacilava um pouco, como um homem que procura manter o equilíbrio num barco balouçado pelas ondas. Estava embriagado.
Não foi um regresso muito alegre. Millicent quase havia esquecido a mãe, o pai e a irmã que a ouviam em silêncio. Nesse momento despertou do seu sonho e tornou a aperceber-se da presença dos outros. Os acontecimentos que estava narrando pareciam tão remotos!
— Compreendi então que o odiava — disse ela. — Seria capaz de matá-lo.
— Oh, Millicent, não fales assim! — exclamou sua mãe. — Não esqueças que o pobre homem já morreu.
Millicent olhou para ela e uma carranca anuviou-lhe por um instante o rosto impassível. Mr. Skinner remexeu-se desassossegadamente.
— Continua — pediu Kathleen.
— Quando ele descobriu que eu já sabia de tudo, deixou as cerimônias de lado. Dentro de três meses teve outro ataque de delirium tremens.
— Por que não o deixaste? — perguntou Kathleen.
— De que serviria isso? Em quinze dias ele seria demitido do serviço. Quem ia sustentar-nos, a mim e a Joan? Era preciso ficar. Quando ele estava no seu perfeito juízo eu não tinha motivo para queixas. Ele não tinha nenhuma paixão por mim, mas era-me afeiçoado; quanto a mim, não tinha casado por amor, mas porque queria casar. Fiz o possível para impedir que a bebida lhe chegasse às mãos; consegui que Mr. Gray proibisse a remessa de uísque de Kuala Solor, mas ele o arranjava com os chineses. Vigiava-o como um gato vigia um rato. Tudo em vão, ele era mais esperto do que eu. Começou a descurar dos deveres. Eu receava que fossem fazer queixa. Estávamos a dois dias de viagem de Kuala Solor e isso era o que nos salvava, mas alguém deve ter falado, pois Mr. Gray me escreveu em particular, avisando-me. Mostrei a carta a Harold. Ele esbravejou, disse fanfarronadas, mas percebi que ficara assustado e durante dois ou três meses não tocou na bebida. Depois recomeçou. E assim continuou a nossa vida, até chegar a época da licença.
"Antes de virmos para cá, roguei e implorei a ele que tivesse cuidado. Não queria que nenhum de vocês soubesse com que espécie de homem eu tinha casado. Durante todo o tempo que passou na Inglaterra ele se comportou e antes de partirmos eu o preveni. Criara muita amizade a Joan, sentia muito orgulho dela, e Joan por sua vez lhe era muito afeiçoada. Sempre gostou mais dele do que de mim. Perguntei-lhe se queria que a sua filha crescesse sabendo-o um bêbado, e descobrir que afinal tinha um meio de dominá-lo. A ideia o aterrorizou. Disse-lhe que eu não consentiria em semelhante Coisa e a primeira vez que Joan o visse embriagado levá-la-ia embora imediatamente. Ficou branco como cal ao me ouvir dizer isso. Nessa noite eu me ajoelhei e agradeci a Deus o ter encontrado um meio de salvar meu marido.
"Ele me disse que faria mais uma tentativa se eu o ajudasse. Resolvemos unir as nossas forças na luta. E como ele se esforçou! Quando sentia que a tentação se tornava irresistível, vinha para o meu lado. Como sabem, ele tinha uma certa tendência para a pomposidade; comigo era tão humilde que parecia uma criança; estava na minha dependência. Talvez não me amasse quando casou comigo, mas agora me amava, a mim e a Joan. Eu o tinha detestado pela humilhação que me causava, porque quando ele estava bêbado e tentava ser grave e imponente, tornava-se repulsivo. Mas comecei a sentir então uma coisa estranha, que não era amor, mas uma ternura tímida, esquisita. Ele era algo mais do que meu marido, era como uma criança que eu tivesse levado debaixo do coração durante longos e intermináveis meses. Orgulhava-se tanto de mim... E, sabem de uma coisa? Eu também estava orgulhosa. Os seus compridos discursos já não me irritavam, e os seus ares majestosos me pareciam apenas divertidos e encantadores. Afinal vencemos. Durante dois anos ele não pôs uma gota de uísque na boca. Perdeu por completo a atração pela bebida. Até fazia pilhérias a esse respeito.
"Mr. Simpson já nos tinha deixado e em lugar dele tínhamos outro moço, chamado Francis.
— "Sabe, Francis? Eu sou um borracho regenerado — disse-lhe Harold certa vez. — Se não fosse minha mulher há muito que me teriam posto no olho da rua. Eu tenho a melhor esposa do mundo, Francis!
"Não fazem ideia do que significava para mim ouvi-lo dizer isso. Sentia que valera a pena ter passado por tudo aquilo. Eu era tão feliz!"
Millicent calou-se. Pensava no largo rio, de águas amarelas e turvas, a cuja margem vivera tantos anos. As garças, brancas e lustrosas aos raios trêmulos do ocaso voavam baixo para jusante, em bando célere, e espalhavam-se. Dir-se-ia um murmúrio de notas claras, suaves, puras e primaveris, arpejo divino que uma mão invisível arrancasse a uma harpa também invisível. Passavam esvoaçando entre as margens verdejantes, envoltas pelas sombras do crepúsculo, como os pensamentos felizes de um espírito satisfeito.
— Então Joan adoeceu. Passamos três semanas em grande ansiedade. Só havia médico em Kuala Solor e tínhamos de nos contentar com o tratamento ministrado por um farmacêutico nativo. Quando ela sarou, levei-a para a foz do rio a fim de que respirasse um pouco de ar marinho. Ficamos lá uma semana. Era a primeira vez que eu me separava de Harold desde que tinha ido ter Joan em Kuala Solor. Havia, não muito longe, uma aldeia de pescadores, de cabanas construídas sobre estacas, mas na realidade estávamos completamente sós. Eu pensava muito em Harold, e com tanta ternura... De repente compreendi que o amava. Quando o prau nos veio buscar fiquei muito contente porque ia contar-lhe. Achava que isso teria uma importância para ele! Não lhes posso descrever como me sentia feliz. Enquanto subíamos o rio o chefe dos barqueiros me disse que Mr. Francis fora em diligência ao interior para prender uma mulher que matara o marido. Havia dois dias que estava ausente.
"Fiquei surpresa ao ver que Harold não me viera esperar, no cais. Sempre fora muito escrupuloso nessas coisas. Dizia que marido e mulher deviam tratar-se com a mesma cortesia com que tratavam os conhecidos. Eu não imaginava que espécie de ocupação podia tê-lo retido. Subi o pequeno outeiro do bangalô. A ama vinha atrás, carregando Joan. O bangalô estava estranhamente silencioso. Não avistei nenhum criado. Aquilo era incompreensível; acaso Harold teria saído porque não me esperava àquela hora? Subi a escada. Joan tinha sede e a ama levou-a à casa dos criados para dar-lhe de beber. Harold não se achava na sala de estar. Chamei-o, mas não ouvi resposta. Fiquei desapontada, porque desejava encontrá-lo ali. Fui ao nosso quarto. Harold, afinal, não tinha saído: estava na cama, dormindo. Achei muita graça nisso, pois ele sempre afirmou que não dormia de tarde; dizia ser um hábito que os brancos contraíam desnecessariamente. Aproximei-me da cama, pisando de mansinho. "Queria dar-lhe uma surpresa. Abri o mosquiteiro. Ele estava deitado de costas, vestido apenas com um sarong, e ao lado tinha uma garrafa de uísque vazia. Estava embriagado.
"A coisa começara de novo. Todos aqueles anos de luta tinham sido inúteis. O meu sonho se despedaçara. Não havia mais esperanças. Fui tomada por um acesso de raiva."
O rosto de Millicent tornou a cobrir-se de um rubor carregado e ela apertou com força os braços da cadeira em que estava sentada.
— Segurei-o pelos ombros e sacudi-o com toda a força. "Miserável!" gritei. "Miserável!" Estava tão furiosa que não me lembro do que disse nem do que fiz. Continuei a sacudi-lo. Não podem fazer ideia da aparência repulsiva que ele tinha, aquele homem enorme e gordo, seminu; havia dias que não se barbeava, estava com a cara intumescida e arroxeada. Resfolegava fortemente. Chamei-o aos gritos, mas ele não fez caso. Tentei puxá-lo para fora da cama, mas era pesado demais. Estava caído ali como um cego. "Abre os olhos!" gritei. Tornei a sacudi-lo. Sentia um ódio dele! Odiava-o ainda mais porque durante uma semana o tinha amado de todo o coração. Ele me traíra, ele me traíra! Queria dizer-lhe que animal abominável ele era, mas não conseguia causar-lhe a menor impressão. "Tu hás de abrir os olhos!" gritei. Estava decidida a fazer com que ele olhasse para mim.
A viúva passou a língua nos lábios secos. O ritmo da sua respiração acelerara-se. Fez um silêncio.
— Se ele se achava nesse estado, acho que o melhor seria deixar que continuasse dormindo — disse Kathleen.
— Havia um parang na parede, ao lado da cama. Sabem como Harold gostava dessas curiosidades.
— O que é um parang? — perguntou Mrs. Skinner.
— Não sejas tola, mãe — respondeu o marido em tom irritadiço. — Aí tens um na parede, bem atrás de ti.
Apontou para a espada malaia em que, por uma razão ou outra, os seus olhos tinham-se fixado inconscientemente. Mrs. Skinner afastou-se depressa para o outro canto do sofá, com um pequeno gesto assustado, como se alguém lhe tivesse dito que havia uma cobra enroscada junto dela.
— De repente o sangue esguichou do pescoço de Harold. Tinha um grande talho vermelho, de través.
— Em nome de Deus, Millicent — gritou Kathleen, pondo-se em pé e quase pulando para ela, — que é que tu queres dizer?
Mrs. Skinner, boquiaberta, fitava na filha os olhos escancarados.
— O parang já não estava na parede. Estava caído na cama. Então Harold abriu os olhos. Eram iguaizinhos aos de Joan.
— Não compreendo — disse Mr. Skinner. — Como poderia ele ter se matado se se encontrava no estado que descreves?
Kathleen pegou o braço da irmã e sacudiu-a com fúria.
— Millicent, explica-te pelo amor de Deus!
Millicent desvencilhou-se. — O parang estava na parede, já te disse. Não sei o que aconteceu. Vi aquele sangue todo e Harold abriu os olhos. Morreu quase em seguida. Não chegou a dizer uma palavra, apenas teve uma espécie de arfada.
Mr. Skinner recobrou finalmente o uso da voz. — Mas desgraçada, isso foi um homicídio!
Millicent, com a face pintalgada de manchas vermelhas, lançou-lhe um olhar carregado de ódio e desprezo que o fez recuar todo encolhido. Mrs. Skinner soltou uma exclamação.
— Não foste tu, Millicent, não é mesmo?
A resposta de Millicent fez com que todos eles sentissem o sangue gelar nas veias.
— Não sei quem mais poderia ter sido! — disse ela, rindo por entre os dentes.
— Meu Deus! — murmurou Mr. Skinner.
Kathleen mantinha-se em pé, aprumada, com as mãos no coração, como se as batidas deste fossem intoleráveis.
— E que sucedeu então? — perguntou ela.
— Pus-me aos gritos. Fui até a janela e abri-a com um empurrão. Chamei a ama. Ela atravessou o pátio com Joan. "Não, Joan não!" gritei. "Não deixe que ela venha!" Ela chamou o cozinheiro e mandou-o tomar conta da criança. Pedi-lhe que se apressasse. Quando ela entrou eu lhe mostrei Harold. "O Tuan se matou!" gritei. Ela soltou um guincho e fugiu correndo. Ninguém quis chegar perto. Estavam todos loucos de medo. Escrevi uma carta a Mr. Francis contando-lhe o que acontecera e pedindo-lhe que voltasse imediatamente.
— Contando-lhe o que acontecera? Que queres dizer com isso?.
Disse que ao voltar da foz do rio eu encontrara Harold com o pescoço cortado. Como sabem, nos trópicos é preciso sepultar depressa os defuntos. Arranjei um esquife chinês e os soldados cavaram uma sepultura atrás do Forte. Quando Mr. Francis chegou fazia dois dias que Harold estava enterrado. Ele era um criançola. Podia fazer com ele o que entendesse. Disse-lhe que tinha encontrado o parang na mão de Harold e não havia a menor dúvida que ele se matara durante um acesso de delirium tremens. Mostrei-lhe a garrafa vazia. Os criados disseram que ele andava bebendo muito desde que eu tinha partido para a beira-mar. Em Kuala Solor contei a mesma história. Todos me trataram com muita bondade e o Governador me concedeu uma pensão.
Durante alguns momentos ninguém falou. Afinal Mr. Skinner se refez do seu espanto.
— Eu exerço uma profissão jurídica. Tenho certas obrigações como advogado. A nossa clientela sempre foi das mais respeitáveis. Tu me colocas numa posição monstruosa.
Procurava, atabalhoadamente, as frases que brincavam de esconder no seu cérebro confuso. Millicent lançou-lhe um olhar desdenhoso.
— Que pretendes fazer?
— Não há dúvida nenhuma que foi um homicídio. Julgas que eu vou pactuar com uma coisa dessas?
— Não digas tolices, pai! — volveu Kathleen com aspereza. — Tu não podes denunciar a tua própria filha.
— Tu me colocaste numa posição monstruosa — repetiu ele.
Millicent tornou a dar de ombros. — Fizeram questão que eu lhes contasse... Além disso, há muito que eu guardo comigo esse segredo. Já era tempo de compartilharem dele também.
Nesse momento a criada abriu a porta.
— Davis está aí com carro, patrão.
Kathleen teve a presença de espírito de lhe responder alguma coisa e a criada se retirou.
— É melhor irmos de uma vez — disse Millicent.
— Eu não posso ir à festa agora! — exclamou Mrs. Skinner, com horror. — Estou com os nervos muito abalados. Como vamos enfrentar os Heywood? E o Bispo que te quer ser apresentado!
Millicent fez um gesto de indiferença. Os seus olhos conservavam aquela expressão irônica.
— Temos de ir, mãe — disse Kathleen. — Pareceria tão esquisito se ficássemos em casa! — Virou-se furiosa para Millicent: — Oh, eu acho isso tudo de uma inconveniência horrível!
Mrs. Skinner lançou um olhar desamparado ao marido. Este dirigiu-se para ela e deu-lhe a mão para ajudá-la a levantar-se do sofá.
— Infelizmente temos de ir, mãe — disse ele.
— E eu que pus na "toque" a aigrette que Harold me deu com as suas próprias mãos! — gemeu Mrs. Skinner.
Ele a conduziu para fora da sala, seguido de perto por Kathleen. Millicent ia um ou dois passos atrás.
— Acabarão se acostumando, sabem? — disse ela calmamente. — No começo isso não me saía da cabeça mas agora esqueço por vezes durante dois ou três dias consecutivos. Se houvesse perigo seria diferente.
Não lhe responderam. Atravessaram o hall e saíram pela porta da frente: As três senhoras sentaram-se no banco de trás e Mr. Skinner ao lado do chofer. O auto era de tipo antigo e não tinha arranque automático. Enquanto Davis se dirigia para o radiador a fim de dar volta na manivela Mr. Skinner virou-se para trás e encarou Millicent com uma expressão petulante.
— Eu não devia ser informado disso. Acho que procedeste com muito egoísmo.
Davis instalou-se ao volante e a família seguiu para o garden party do cônego.
(Título original: Before the Party.)
O navio do oriente
Estendida na sua espreguiçadeira, Mrs. Hamlyn observava indolentemente os passageiros que subiam pela prancha. O navio tinha aportado a Singapura durante a noite e desde então estava tomando carga; os guindastes haviam estrondeado o dia inteiro e o ouvido dela acabou habituando-se àquele clamor insistente. Tinha almoçado no Hotel Europa e, à falta de coisa melhor, andara num jinriquixá pelas ruas alegres e superpovoadas da cidade. Singapura é o ponto de encontro de muitas raças. Os malaios, se bem que nativos da terra, não gostam de viver em cidades e são pouco numerosos; são os chineses, vivos, flexíveis e industriosos, que apinham as ruas; os tamis de tez escura andam silenciosamente com os pés descalços, como se fossem forasteiros de passagem numa terra estranha, mas os bengalis, insinuantes e prósperos, sentem-se à vontade e senhores de si no seu ambiente; os astutos e obsequiosos japoneses parecem muito atarefados com assuntos secretos e urgentes; e os ingleses com os seus capacetes de cortiça e as suas roupas de brim branco, passam em disparada em automóveis ou muito descansados nos seus jinriquixás, com um ar negligente e despreocupado. Os dominadores desses povos prolíficos aceitam a sua autoridade com tom de sorridente indiferença. Mrs. Hamlyn, cansada e assoleada, esperava que o navio prosseguisse na longa travessia do Oceano Índico.
Quando Mrs. Linsell subiu a bordo acompanhada do médico ela abanou uma mão bastante grande, pois era uma mulher de avantajadas proporções. Vinha no navio desde Yokohama e observava, divertida, com ácida ironia, a intimidade que se estabelecera entre os dois. Linsell era um oficial de marinha que estivera adido à embaixada britânica em Tóquio e ela admirava-se da indiferença com que ele via as atenções do médico para com sua mulher. Dois novos passageiros subiram à prancha e Mrs. Hamlyn entreteve-se em procurar descobrir, pelo jeito deles, se eram solteiros ou casados. Ali bem perto havia um grupo de homens sentados em cadeiras de rotim — plantadores, segundo lhe pareceu à vista das roupas cagues e dos chapéus de feltro dobrado e aba larga. Não davam descanso ao criado do convés com os seus contínuos pedidos. Falavam alto e riam, pois a bebida provocara em todos eles uma hilaridade frívola. Era evidente que se tratava de um bota-fora dado a um do grupo, mas Mrs. Hamlyn não saberia dizer qual deles seria seu companheiro de viagem. Já faltava pouco para a partida. Outros passageiros chegaram, depois Mr. Jephson subiu devagar a prancha, com ar digno. Era cônsul e ia em licença à Inglaterra. Tinha embarcado em Xangai e imediatamente tratara de mostrar-se amável para com Mrs. Hamlyn. Na ocasião, porém, ela sentia-se pouco inclinada ao flerte. Sua testa anuviou-se à lembrança do motivo que a fazia voltar à Inglaterra. Passaria o Natal no mar, longe de todos aqueles que se interessavam por ela. Sentiu uma ligeira dorzinha no coração. Aborrecia-se por ver que um assunto que estava tão resolvida a afastar da suas cogitações teimava em insinuar-se-lhe no espirito, apesar da resistência deste.
Mas um sino de aviso bateu sonoramente e houve um movimento geral entre os homens sentados ao lado dela.
— Bem, vamos dando o fora antes que nos levem junto — disse um deles.
Levantaram-se e dirigiram-se para a prancha. Começaram os apertos de mão, e então ela percebeu qual deles era o viajante. Não havia nada de interessante no aspecto do homem em quem pousaram os olhos de Mrs. Hamlyn, mas como não tinha coisa melhor que fazer olhou-o mais demoradamente. Era um homenzarrão de mais de seis pés de altura, forte e corpulento; vestia uma enxovalhada roupa de brim cáqui e o chapéu era velho e surrado. Seus amigos desceram mas continuaram a trocar caçoadas com ele do cais, e Mrs. Hamlyn notou que o homem tinha um forte sotaque irlandês; sua voz era cheia, sonora e jovial.
Mrs. Linsell tinha descido. O médico veio sentar-se ao lado de Mrs. Hamlyn. Contaram um ao outro as pequenas aventuras que tinham tido durante o dia. O sino tornou a tocar e instantes depois o navio afastava-se lentamente do cais. O irlandês acenou um último adeus aos seus amigos e voltou devagar para a cadeira em que tinha deixado algumas revistas e jornais. Fez uma inclinação de cabeça ao médico.
— É algum conhecido seu? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Fui-lhe apresentado no clube, antes do almoço. Chama-se Gallagher e é plantador.
Após a algazarra do porto e o alvoroço ruidoso da partida, o silêncio do navio fazia um agradável contraste. Deslizaram devagar em frente de uns rochedos cobertos de vegetação (o ancoradouro da P. & O. — Peninsular and Oriental Steamship Company — ficava numa angra retirada e encantadora) e entraram no porto principal. Viam-se fundeados ali navios de todas as nacionalidades em grande multidão, vapores de passageiros, rebocadores, cargueiros, barcaças; e mais além, por trás do quebra-mar, avistavam-se os mastros amontoados dos juncos nativos, floresta de troncos nus e verticais. A luz doce da tardinha dava um toque de mistério à movimentada cena e tinha-se a impressão de que todas aquelas embarcações, suspendendo por um instante a sua atividade, estavam à espera de algum acontecimento de especial importância.
Mrs. Hamlyn dormia mal. Costumava subir para o convés ao romper da alvorada. Repousava-lhe o coração inquieto ver as últimas e pálidas estrelas desvanecerem-se ante a invasão da luz, e àquela hora o mar vidrento muitas vezes tinha uma imobilidade que parecia tornar insignificantes todas as angústias terrenas. A luz era lânguida e sentia-se um frêmito agradável no ar. Mas na manhã seguinte, quando se dirigiu para a extremidade do tombadilho de passeio, encontrou alguém que lá havia chegado antes dela. Era Mr. Gallagher. Contemplava o litoral baixo de Sumatra, que o sol nascente, como um mágico, parecia fazer surgir do mar escuro. Ela teve uma surpresa e ficou um tanto agastada, mas antes que pudesse retirar-se ele a viu e fez-lhe um cumprimento com a cabeça.
— Levantou-se cedo, não? Aceita um cigarro? Estava de pijama e chinelos. Tirou a cigarreira do bolso do casaco e a estendeu. Ela hesitou. Vestia apenas um roupão e uma touca de rendas que pusera em cima dos cabelos despenteados. Devia estar feita um espantalho. Mas tinha motivos para querer mortificar a sua alma.
— Creio que uma mulher de quarenta anos não tem direito a preocupar-se com a sua aparência — sorriu Mrs. Hamlyn, como se ele devesse perceber os pensamentos vãos que lhe enchiam a cabeça. Aceitou o cigarro. — Mas o senhor também se levantou cedo.
— Sou plantador. Há tantos anos que tenho de me levantar às cinco da manhã que não sei como me desfarei desse hábito.
— Ele não o tornará muito benquisto na Inglaterra. Podia examinar-lhe melhor o rosto agora que não estava semioculto por um chapéu. Esse rosto, que não tinha nenhuma beleza, era no entanto agradável. O homem havia engordado excessivamente e as suas feições, que na mocidade deviam ser bastante regulares, tornaram-se pesadas. A pele era vermelha e opada. Mas os olhos escuros ressumbravam alegria e, embora ele não pudesse ter menos de quarenta e cinco anos, conservava ainda os cabelos pretos e abundantes. Dava uma impressão de grande força. Era um homem pesado, desgracioso e comum; se não fosse a camaradagem de bordo Mrs. Hamlyn jamais teria pensado em conversar com ele.
— Vai à Inglaterra em licença? — arriscou ela.
— Não, vou para ficar.
Uma centelha brilhou nos seus olhos negros. Era de gênio comunicativo e antes de Mrs. Hamlyn tornar a descer para tomar o seu banho ele contou-lhe muita coisa da sua existência. Passara vinte e cinco anos nos Estados Malaios Federados e durante os dez últimos tinha administrado uma propriedade em Selantan. Ficava a cem milhas de qualquer lugar civilizado e levava-se ali uma existência muito solitária; mas tinha feito dinheiro; aproveitara a alta da borracha e, com uma astúcia inesperada em homem que parecia tão improvidente, empregara as suas economias em títulos do governo. Agora que tinha sobrevindo a baixa estava pronto para se aposentar.
— De que parte da Irlanda é o senhor? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— De Galway.
Mrs. Hamlyn fizera certa vez uma excursão em automóvel pela Irlanda e recordava-se vagamente de uma cidade triste e taciturna, com grandes armazéns de pedra, desmoronados e desertos, fazendo face ao mar melancólico. Teve uma sensação de verdor e chuva macia, de silêncio e resignação. Seria lá que Mr. Gallagher pretendia passar o resto da sua vida? Ele falava da sua terra com um ardor todo juvenil. A ideia de um homem tão cheio de vitalidade no meio daquele mundo de sombras cinzentas era tão incongruente que Mrs. Hamlyn ficou intrigada.
— Sua família mora lá? — perguntou.
— Não tenho família. Minha mãe e meu pai já morreram. Que me conste, não tenho um único parente no mundo.
Estava com todos os planos feitos — havia vinte e cinco anos que os vinha fazendo — e sentia-se contente por ter com quem falar dessas coisas que durante tanto tempo fora obrigado a discutir consigo mesmo. Pretendia comprar uma casa e um automóvel. Ia criar cavalos. Não se interessava pela caça com armas de fogo. Tinha matado muita caça grossa nos seus primeiros anos nos Estados Malaios, mas perdera o gosto a esse esporte. Não compreendia que se matassem os animais da selva: vivera tanto tempo na sua vizinhança! Mas podia correr a caça a cavalo, com cães.
— Acha que sou muito pesado? — perguntou.
Mrs. Hamlyn, sorridente, olhou-o dos pés à cabeça, estudando-o.
— O senhor deve pesar uma tonelada.
Ele riu. Os cavalos irlandeses eram os melhores do mundo e Gallagher sempre tratara de se conservar em forma. Numa plantação de borracha caminha-se como o diabo e ele jogava muito tênis. Não tardaria a emagrecer na Irlanda. Depois casaria. Mrs. Hamlyn contemplava em silêncio o mar, que a luz tenra do sol nascente já começara a colorir. Soltou um suspiro.
— Achou fácil desenraizar-se? Não há ninguém de quem traga saudades? Eu julgaria que ao cabo de tantos anos, por mais ansioso de voltar que estivesse, o senhor sentisse um aperto no coração ao ver chegar finalmente a hora.
— Pois eu parti contentíssimo. Estava saturado! Nunca mais quero por os olhos nessa terra nem na gente daqui.
Um ou dois passageiros madrugadores tinham começado a passear no convés. Mrs. Hamlyn lembrou-se de que estava muito pouco vestida e desceu.
Nos dois dias seguintes ela quase não viu Mr. Gallagher, que passava o tempo na sala de fumar. Devido a uma greve o vapor não tocaria em Colombo. Os passageiros prepararam-se para uma agradável travessia do Oceano Índico. Entretinham-se com jogos de convés, bisbilhotavam a respeito uns dos outros, flertavam. A proximidade do Natal lhes deu uma ocupação, pois alguém tinha sugerido um baile à fantasia e as senhoras trataram de fazer os seus costumes. A primeira classe reuniu-se em assembleia para resolver se deviam convidar os passageiros da segunda e, apesar do calor, a discussão foi animada. As senhoras achavam que os passageiros de segunda classe iam sentir-se constrangidos. No dia de Natal era de esperar que eles se excedessem na bebida e podiam surgir incidentes desagradáveis. Todos os opinantes fizeram questão de frisar que não pretendiam fazer distinção de classes; ninguém era tão esnobe que pensasse existir alguma diferença entre passageiros de primeira e de segunda classe como tais, mas realmente seria mais generoso não colocar estes últimos numa posição falsa. Eles se divertiriam muito mais se tivessem uma festa à parte no seu salão. Por outro lado ninguém queria ofendê-los, e está claro que nesta época era preciso ser democrata (isto foi dito em resposta à esposa de um missionário da China, a qual afirmara ter viajado durante trinta e cinco anos nos navios da P. & O. e nunca ter ouvido falar em convidar os passageiros de segunda classe para um baile no salão de primeira) , e ainda que eles não se divertissem talvez desejassem vir. Mr. Gallagher, arrancado muito a contragosto A mesa de jogo porque se previa uma votação parelha, foi solicitado pelo cônsul a dar sua opinião. Levava consigo para a pátria, na segunda classe, um homem que fora seu empregado na plantação. Ergueu o corpo maciço do canapé em que estava sentado.
— Pessoalmente, só tenho uma coisa para dizer: trago comigo o homem que tomava conta das nossas máquinas. É um esplêndido rapaz e tão digno quanto eu de comparecer à festa dos senhores. Mas não virá, porque eu pretendo embebedá-lo de tal maneira no dia de Natal que por volta das seis horas ele estará imprestável e não terá outro remédio senão ir para a cama.
Mr. Jephson, o cônsul, sorriu com um lado s6 da cara. Devido à sua posição oficial fora escolhido para presidir à reunião e desejava que se levasse o assunto a sério. Costumava dizer que tudo que merece ser feito merece ser bem feito.
— Depreendo das suas observações — disse ele com certa acrimônia — que a questão debatida por nós não lhe parece ter grande importância.
— Acho que ela não vale uma pitada de tabaco — respondeu Gallagher, com os olhos a cintilar.
Mrs. Hamlyn riu. Afinal fizeram o plano de convidar os passageiros de segunda classe, dirigindo-se, porém, em particular ao capitão e apontando-lhe a conveniência de negar seu consentimento a que eles entrassem no salão da primeira. Foi na noite desse mesmo dia que Mrs. Hamlyn, depois de vestir-se para o jantar, subiu para o convés ao mesmo tempo que Mr. Gallagher.
— Chegou bem na hora do coquetel, Mrs. Hamlyn — disse ele jovialmente.
— Aceitaria um com prazer. Para falar a verdade, estou precisando de um estimulante.
— Por quê? — sorriu ele.
Mrs. Hamlyn achou atraente o seu sorriso mas não quis responder à pergunta.
— Já lhe disse no outro dia — falou em tom alegre. — Estou com quarenta anos.
— Nunca vi uma mulher que insistisse tanto nesse fato.
Entraram no bar e o irlandês pediu um martini seco para ela e um gin pahit para si. Tinha vivido muito tempo no Oriente para beber outra coisa.
— O Sr. está com soluços — observou Mrs. Hamlyn.
— Sim, passei toda a tarde com isto — respondeu ele negligentemente. — É interessante, começaram assim que perdemos a terra de vista.
— Sem dúvida passarão depois do jantar.
Tomaram os coquetéis, o segundo sino bateu e eles desceram para o salão de refeições.
— A Sra. não joga bridge? — perguntou Gallagher ao se separarem.
— Não.
Mrs. Hamlyn não notou que dois ou três dias se passaram sem que ela visse Gallagher. Estava muito ocupada com os seus pensamentos. Acorriam-lhe em multidão enquanto costurava; introduziam-se entre ela e o romance com que procurava enganar-lhes a insistência. Tinha esperado que quando o navio a afastasse da cena da sua infelicidade aquele tormento teria alívio; mas pelo contrário, cada dia que a aproximava mais da Inglaterra aumentava a sua angústia. Pensava com terror no vazio desolado da existência que a aguardava; depois, desviando o espirito exausto de uma perspectiva que a consternava, punha-se a considerar, como o já tinha feito inúmeras vezes, a situação de que se evadira.
Fazia vinte anos que estava casada. Era muito tempo e por certo não podia esperar que o marido ainda estivesse doidamente apaixonado por ela; não o estava por ele, mas eram bons amigos e compreendiam-se muito bem. Em confronto com a média dos casais podiam considerar-se bastante felizes. Mas de repente descobriu que ele estava enamorado. Não teria feito objeção a um flerte; aliás ele já tivera alguns e ela costumava caçoar com ele a esse respeito; Mr. Hamlyn não se aborrecia com isso, sentia-se até um pouco lisonjeado, e ambos riam juntos dessas inclinações que não eram profundas nem sérias. Mas o caso agora era diverso. Ele estava tão apaixonado quanto um rapaz de dezoito anos. E tinha cinquenta e dois! Aquilo era ridículo, indecente. Ele amava sem bom senso nem prudência: quando ela chegou a tomar conhecimento daquele horror já nenhum estrangeiro em Yokohama o ignorava. Após o primeiro choque de espanto e raiva, pois ninguém teria esperado dele semelhante loucura, Mrs. Hamlyn tentou convencer-se de que poderia ter compreendido, e portanto perdoado, se ele se tivesse enamorado de uma moça. Os homens maduros amiúde perdem a cabeça por garotas, e após ter passado vinte anos no Extremo Oriente ela sabia que a quadra dos cinquenta é a idade perigosa para os homens. Mas ele não tinha justificação. Estava enamorado de uma mulher oito anos mais velha do que Mrs. Hamlyn. Isso era grotesco e fazia com que ela, sua mulher, parecesse completamente ridícula. Dorothy Lacom estava à beira dos cinquenta. Havia dezoito anos que ele a conhecia, pois Lacom, como Mr. Hamlyn, era negociante de sedas em Yokohama. Durante todo esse tempo tinham-se visto três ou quatro vezes por semana, e uma vez em que por acaso se encontraram juntos na Inglaterra tinham compartilhado uma casa à beira-mar. Mas quê! Até um ano atrás não houvera entre eles mais que uma amizade brincalhona. Era incrível! Não se podia negar que Dorothy era uma mulher vistosa; tinha bonita figura, talvez um tanto opulenta mas ainda cheia de garbo; ousados olhos negros, boca vermelha e cabelos magníficos; mas tudo isso ela tivera há muitos anos. Estava com quarenta e oito. Quarenta e oito!
Mrs. Hamlyn pediu logo explicações ao marido. A princípio ele jurou que não havia uma palavra de verdade naquilo de que o acusavam, porém ela tinha as suas provas; ele encasmurrou-se e acabou confessando aquilo que já não podia negar. Disse então uma coisa surpreendente:
— Que importância tem isso para ti?
Ela se enraiveceu. Replicou-lhe com irado desdém. Foi loquaz, encontrando na sua amargura íntima coisas ofensivas para dizer. Ele escutou-a com calma.
— Não fui tão mau marido para ti durante os vinte anos em que estivemos casados. Já faz muito tempo que não somos mais do que amigos. Tenho-te grande afeição e esta em nada se alterou. Não estou roubando nada para dar a Dorothy.
— Mas que motivo de queixa encontras em mim?
— Nenhum. É impossível haver melhor esposa do que tu.
— Como podes dizer isso enquanto tens a coragem de me tratar com tanta crueldade?
— Não é que eu queira ser cruel, mas não posso proceder de outro modo.
— Mas a troco de que foste enamorar-te dela?
— Como posso saber? Acaso pensas que eu o queria?
— Não podias ter resistido?
— Tentei fazê-lo; creio que ambos tentamos.
— Falas como se tivesses vinte anos. Mas se tanto um como o outro já andam na casa dos cinquenta. Ela tem oito anos mais do que eu. Isso me transforma numa perfeita idiota.
Ele não respondeu. Mrs. Hamlyn não compreendia as emoções que tumultuavam no seu peito. Seria o ciúme que a sufocava, a cólera ou simplesmente o orgulho ferido?
— Não permitirei que isso continue. Se se tratasse apenas de vocês dois eu me divorciaria, mas há também o marido dela e os filhos. Santo Deus, não vês que se fossem moças em vez de rapazes ela já poderia ser avó?
— É muito provável.
— Que sorte não termos filhos!
Ele estendeu uma mão afetuosa como para acariciá-la, mas ela recuou com horror.
— Tu me tornaste o alvo de riso de todas as minhas amigas. No interesse de todos nós estou disposta a silenciar, mas só com a condição de que isto termine de uma vez e para sempre.
Ele baixou os olhos e pôs-se a brincar pensativamente com um bibelô japonês que estava em cima da mesa.
— Repetirei a Dorothy o que me disseste — respondeu por fim.
Mrs. Hamlyn fez-lhe um pequeno cumprimento, sem proferir palavra, e saiu do quarto. Estava demasiado furiosa para notar que a sua atitude era um tanto melodramática.
Ficou à espera de que o marido lhe contasse o resultado da sua conversa com Dorothy Lacom, mas ele não tornou a referir-se ao incidente. Mostrava-se calmo, polido e silencioso; afinal ela foi obrigada a interpelá-lo.
— Esqueceste o que eu te disse no outro dia? — perguntou em tom frígido.
— Não. Falei com Dorothy. Ela me pediu para te dizer que lamenta profundamente ter-te causado tamanho sofrimento. Desejaria vir ver-te mas receia que isso não te agrade.
— Qual foi a decisão a que chegaram?
Ele hesitou. Estava muito sério, mas a sua voz tremia um pouco.
— Temo que seja inútil fazer uma promessa que nós não poderíamos cumprir.
— Nesse caso o assunto está resolvido — respondeu ela.
— Devo dizer-te que se intentasses um processo de divórcio nós seríamos obrigados a contestar. Não conseguirias as provas necessárias e perderias a demanda.
— Não pensava em fazer isso. Vou voltar à Inglaterra e consultar um advogado. Hoje em dia essas coisas podem-se arranjar facilmente e eu apelarei para a tua generosidade. Não duvido que possas restituir-me a liberdade sem envolver Dorothy Lacom no assunto.
Ele suspirou.
— Que confusão medonha, não é mesmo? Eu não desejo que te divorcies de mim, mas está claro que farei o possível para que se cumpra a tua vontade.
— Mas que é que tu esperas? — exclamou ela com um novo ímpeto de cólera. — Esperas que eu me resigne a fazer papel de tola?
— Lamento imenso ter de colocar-te numa posição humilhante. — Olhou-a com uma — expressão torturada. — Estou certo de que nós não fizemos nada para nos apaixonar um pelo outro. Nem eu nem ela esquecemos a nossa idade: Dorothy, como dizes, já poderia ser avó, e eu sou um cavalheiro calvo e gordo de cinquenta e dois anos. Quando a gente se enamora aos vinte anos, pensa que o seu amor durará eternamente, mas aos cinquenta conhece-se muito bem a vida e o amor e sabe-se que ele só pode durar pouco. — Falava em voz baixa e pesarosa. Dir-se-ia que estava vendo em imaginação a tristeza do outono e as folhas a desprender-se das árvores. Olhou gravemente para ela. — E nesta idade a gente sente que seria loucura repelir o ensejo de felicidade que o destino caprichoso nos dá. É certo que isto estará terminado dentro de cinco anos, talvez dentro de seis meses. A vida é monótona e cinzenta, e a felicidade é tão rara! A morte dura tanto tempo!
Mrs. Hamlyn sentiu uma dor pungente ao ouvir o marido, homem positivo e prático, falar num tom que lhe era completamente novo. Adquirira ele de súbito uma personalidade ardente e trágica que ela não conhecia. Os vinte anos de existência em comum não tinham nenhum poder sobre ele e Mrs. Hamlyn via-se impotente em face da sua resolução. O único remédio era ir embora. E assim, cheia de ressentimento e decidida a obter o divórcio com que o tinha ameaçado, achava-se agora a caminho da Inglaterra..
O mar liso, que brilhava ao sol como uma folha de vidro, era tão vazio e hostil como a vida em que não havia lugar para ela. Pelo espaço de três dias nenhuma outra embarcação violou aquela solidão infinita. De quando em quando a sua superfície igual era momentaneamente perturbada pela fuga precipitada de algum peixe voador. O calor era tamanho que os mais intrépidos passageiros tinham abandonado os jogos de convés e nessa hora (era depois do almoço) aqueles que não descansavam nos seus camarotes estavam estendidos nas espreguiçadeiras. Linsell caminhou em direção a ela e sentou-se.
— Onde está Mrs. Linsell? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Oh, não sei. Anda por aí.
A sua indiferença a exasperava. Seria possível que ele não visse que sua mulher e o médico começavam a interessar-se demais um pelo outro? E contudo, não havia muito tempo atrás ele não teria suportado isso. Fora um casamento romântico. Quando se tornaram noivos, Mrs. Linsell ainda estava na escola e ele era pouco mais que um menino. Deviam ter formado um belo e encantador casal, a sua mocidade e o seu amor recíproco sem dúvida eram muito tocantes. E eis que ao cabo de tão pouco tempo estavam cansados um do outro. Era de cortar o coração. como fora mesmo que o seu marido tinha dito?
— Sem dúvida a senhora pretende residir em Londres? — perguntou Linsell preguiçosamente, para dizer alguma coisa.
— Acho que sim — respondeu Mrs. Hamlyn.
Era-lhe difícil conformar-se com o fato de não ter para onde ir e de não interessar a ninguém que ela fosse viver aqui ou ali. Uma associação de ideias qualquer fê-la pensar em Gallagher. Invejava-lhe a ansiedade com que voltava à sua terra natal e sentia-se tocada, achando graça ao mesmo tempo, ao lembrar-se da exuberante imaginação com que ele descrevera a casa onde pretendia morar e a mulher com que tencionava casar. As suas amigas de Yokohama, a quem confiara a decisão de divorciar-se, tinham-lhe garantido que ela tornaria a casar. Não desejava tentar segunda vez uma coisa que tanto a decepcionara, e além disso a maioria dos homens teria vacilado em propor casamento a uma mulher de quarenta anos. Mr. Gallagher, por exemplo, idealizava uma jovem de formas roliças.
— Onde está Mrs. Gallagher? — perguntou ela ao submisso Linsell. — Há uns dois dias que não o vejo.
— Então não sabia? Ele está doente.
— Coitado! Que é que ele tem?
— Tem soluços.
Mrs. Hamlyn riu. — Mas soluço é doença?
— O médico de bordo está bem preocupado. Tem tentado todos os meios, mas não consegue fazê-los parar.
— Que coisa esquisita!
Não pensou mais nisso, mas no dia seguinte de manhã, encontrando-se por acaso com o médico de bordo, perguntou-lhe como ia Mr. Gallagher. Ficou surpreendida ao ver aquele rosto alegre e juvenil anuviar-se e assumir uma expressão de perplexidade.
— Receio que o pobre homem esteja muito mal.
— Com soluços? — exclamou ela, assombrada. Era uma indisposição que realmente não se podia levar a sério.
— É que ele não pode conservar o alimento no estômago. Não consegue dormir. Está numa exaustão horrível. Tentei todos os meios de que pude lançar mão. — O médico hesitou. — A menos que eu consiga deter esses soluços muito depressa... não sei o que acontecerá.
Mrs. Hamlyn assustou-se. — Mas ele é tão forte! Pareceu-me tão cheio de vida!
— Queria que o visse agora.
— Ele não se incomodaria se eu o fosse ver?
— Venha comigo.
Gallagher fora removido do seu camarote para a enfermaria de bordo. Ao aproximar-se desta ouviram um alto soluço. É um som que, talvez por estar associado à ideia de bebedeira, tem qualquer coisa de cômico. Mas o aspecto de Gallagher produziu um choque em Mrs. Hamlyn. Emagrecera muito e a pele do seu pescoço pendia em dobras flácidas. O rosto, sob o bronzeado do sol, estava pálido. Os olhos, outrora cheios de riso e de alegria, pareciam desvairados e torturados. Seu grande corpo era incessantemente sacudido pelos soluços e estes já nada tinham de cômicos; a Mrs. Hamlyn, sem que ela soubesse por que razão, eles pareceram singularmente terrificantes. Gallagher sorriu ao vê-la entrar.
— Sinto muito vê-lo nesse estado — disse ela.
— Mas fique sabendo que não vou morrer — respondeu ele com um arfar. — Hei de chegar às verdes plagas de Erin, ora se não.
Ao lado dele estava sentado um homem que se ergueu quando Mrs. Hamlyn e o médico entraram.
— Este é Mr. Pryce — disse o médico. -Era o encarregado das máquinas na propriedade de Mr. Gallagher.
Mrs. Hamlyn inclinou a cabeça. Era esse o passageiro de segunda classe a quem Gallagher se referira quando haviam discutido a festa que pretendiam dar no dia de Natal. Era um homem de pequena estatura, mas vigoroso, com uma fisionomia impudente e simpática e um ar seguro de si.
— Está contente de voltar para a sua terra? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— E não haveria de estar, dona? — respondeu ele.
A entonação destas poucas palavras revelou a Mrs. Hamlyn que se tratava de um cockney e, reconhecendo esse tipo prazenteiro, bem-humorado, sensato e despreocupado, sentiu-se tomada de simpatia por ele.
— O senhor não é irlandês? — perguntou sorrindo.
— Eu não, miss. Minha terra é Londres, e lhe garanto que não ficarei triste por tornar a vê-la.
Mrs. Hamlyn nunca se ofendia quando lhe davam o tratamento de "miss".
— Bem, patrão, vou andando — disse ele a Gallagher, esboçando um gesto em direção a um boné que não tinha na cabeça.
Mrs. Hamlyn perguntou ao doente se podia fazer alguma coisa por ele e dentro de um ou dois minutos retirou-se em companhia do médico. O pequeno cockney esperava-a na porta.
— Posso lhe falar um instante, miss?
— Claro que sim.
A enfermaria ficava à ré. Ambos se encostaram na amurada e olharam lá embaixo o "poço", onde os marinheiros indígenas e os criados de bordo fora de serviço descansavam em cima das coberturas das escotilhas.
— Não sei bem como começar — disse Pryce, hesitante, com a fisionomia vivaz e jovial estranhamente demudada numa expressão grave. — Há quatro anos que trabalho com Mr. Gallagher e é preciso caminhar muito para encontrar um homem melhor do que ele.
Tornou a hesitar. — Isso não me agrada nem um pouco, essa é que é a verdade.
— O que não lhe agrada?
— Bem, se quer que eu lhe diga, ele está perdido e o médico não sabe. Eu já disse a ele, mas não quer me escutar.
— Não desanime, Mr. Pryce. É verdade que o doutor é moço, mas eu o acho muito competente e, como sabe, ninguém morre de soluços. Tenho certeza de que Mr. Gallagher estará melhor dentro de um ou dois dias.
— Sabe quando isso começou? Assim que perdemos a terra de vista. Ela disse que ele não chegaria a ver seu país.
Mrs. Hamlyn virou-se para encará-lo. Media três boas polegadas mais do que ele.
— O que quer dizer com isso? — A minha opinião é que lhe puseram feitiço, se é que me entende. De nada adianta a medicina. A senhora não conhece essas mulheres malaias como eu as conheço.
Mrs. Hamlyn passou por um momento de susto, mas justamente por se ter assustado deu de ombros e riu.
— Ora, Mr. Pryce, isso são tolices! — Foi o que o doutor disse quando eu lhe falei. Mas pode escrever o que estou lhe dizendo: ele vai morrer antes de avistarmos terra outra vez.
O homem falava com tanta seriedade que Mrs. Hamlyn, vagamente inquieta, sentiu-se impressionada mau grado seu.
— Mas por que motivo haviam de ter posto feitiço em Mr. Gallagher?
— Bom, isso é uma coisa meio pau de contar a uma senhora.
— Conte-me, por favor!
Pryce estava tão embaraçado que em qualquer outra ocasião Mrs. Hamlyn teria tido dificuldade em ocultar o seu divertimento.
— Mr. Gallagher viveu muitos anos num fim de mundo. Naturalmente é uma vida muito cacete e a senhora sabe como são os homens, miss.
— Estive vinte anos casada — respondeu ela sorrindo. — Perdão, madame. Pois o fato é que ele tinha uma moça malaia em casa. Não sei quanto tempo isso durou, acho que uns dez ou doze anos. Bom, quando ele resolveu voltar para a terra ela não disse nada. Ficou sentada no mesmo lugar, sem dar um pio. Mr. Gallagher pensava que ela ia dar o estrilo, mas não... Deixava-a bem amparada, é claro. Deu-lhe uma casinha e providenciou para que lhe pagassem uma mesada. Ele não era sovina, é preciso que se reconheça, e a mulher já sabia há algum tempo que ele ia embora. Não chorou nem nada. Quando ele encaixotou todas as suas coisas e mandou despachar, ela viu levarem tudo sem se mexer do seu lugar. E quando ele vendeu a mobília aos chins ela não disse uma palavra. Ele lhe daria tudo que ela precisasse. E quando chegou a hora de Mr. Gallagher ir tomar o vapor ela ficou sentada nos degraus da varanda, olhando, sem falar. Ele quis lhe dizer adeus, como qualquer um teria feito, mas a senhora acredita que ela nem se mexeu? "Você não quer me dizer adeus?" perguntou ele. A mulher fez uma cara esquisita, e sabe o que ela disse? "Você vai", disse ela; esses nativos têm um jeito engraçado de falar, não falam como nós; "você vai", disse ela, "mas eu lhe digo: você não chegará até o seu país. Quando a terra se sumir no mar a morte virá para o seu lado, e antes que aqueles que forem com você tornem a ver terra a morte o terá levado consigo." Fiquei com uma impressão!
— E que foi que Mr. Gallagher disse? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Oh, a senhora sabe como ele é. Achou graça, nada mais. "Então passar muito bem", disse ele; saltou para o carro e pisamos no mundo.
Mrs. Hamlyn via a estrada ensolarada avançar por entre as plantações de borracha com as suas árvores verdes e garbosas, muito bem espaçadas, com o seu silêncio, depois serpentear por uma encosta acima e tornar a mergulhar na selva emaranhada. O automóvel corria, guiado por um malaio afoito, com os seus passageiros brancos, passando diante de casas malaias afastadas da estrada, entre coqueiros, isoladas e taciturnas, e atravessando movimentadas aldeias com os seus mercados apinhados de gente pequena, de pele escura e vestida com sarões de cores alegres. Depois, por volta do anoitecer, alcançava a cidade moderna e vistosa, com os seus clubes e os seus campos de golfe, a sua população branca e a sua estação onde os dois homens podiam tomar o trem para Singapura. E a mulher continuava sentada nos degraus do bangalô, vazio até que o novo administrador viesse ocupá-lo, e observava a estrada, via o carro ganhar velocidade e não tirava os olhos dele senão quando se perdia nas trevas da noite.
— Que tipo tinha ela? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Bem, para mim todas essas mulheres malaias se parecem — respondeu Pryce. — Naturalmente já não era muito moça, e a senhora sabe como são essas nativas; engordam que é um horror.
— Gorda?
Esta ideia, inexplicavelmente, encheu Mrs. Hamlyn de consternação.
— Mr. Gallagher sempre levou uma vida farta, se é que me entende.
A ideia de corpulência restituiu Mrs. Hamlyn imediatamente ao bom senso. Sentia-se aborrecida consigo mesma porque durante um instante estivera a ponto de aceitar a explicação do pequeno cockney.
— Isso é completamente absurdo, Mr. Pryce. Uma mulher gorda não pode lançar feitiço sobre ninguém a mil milhas de distância. O fato é que as mulheres gordas têm uma vida cheia de dificuldades.
— Ria quanto quiser, miss, mas tome nota do que estou dizendo: se não se tomar uma providência qualquer o patrão está perdido. E não é a medicina que vai salvá-lo, pelo menos a medicina dos brancos.
— Faça uso do bom senso, Mr. Pryce. Essa senhora gorda não tinha nenhum motivo de queixa contra Mr. Gallagher. De acordo com os hábitos do Oriente ele parece tê-la tratado muito bem. Por que quereria mal a ele?
— A gente não sabe de que modo elas encaram essas coisas. Um homem pode viver vinte anos com uma dessas nativas, mas pensa que ele é capaz de compreender aquela alma negra? Nunca!
Mrs. Hamlyn não pôde sorrir desta linguagem melodramática, pois Pryce falava com uma intensidade que impressionava. E ninguém sabia melhor do que ela que o coração dos seres humanos, seja a sua pele amarela, parda ou branca, é impenetrável.
— Mas ainda que ela estivesse furiosa com ele, ainda que o Odiasse e quisesse matá-lo, o que poderia fazer? — Era estranho que Mrs. Hamlyn, com as suas perguntas, estivesse inconscientemente procurando tranquilizar-se. — Não existe veneno que comece a produzir efeito depois de seis ou sete dias.
— Eu não disse que era veneno.
— Desculpe, Mr. Pryce — sorriu ela —, mas não me fará acreditar em feitiços, sabe?
— A senhora vive no Oriente?
— Há vinte anos, por temporadas.
— Bem, se a senhora sabe do que eles são capazes e do que não são, é mais entendida do que eu. — Cerrou o punho e deu um soco na amurada com uma violência furiosa e repentina. — Estou farto dessa maldita terra. Ela me deu nos nervos. Nós, brancos, não podemos com eles, essa é que é a verdade. Se me dá licença, acho que vou tomar uma pinga. Estou muito nervoso.
Fez um cumprimento abrupto com a cabeça e deixou-a. Mrs. Hamlyn observou o homenzinho atarracado e metido numa velha roupa cague, enquanto se afastava raspando com os pés no chão, descia a escotilha para o convés do meio e, atravessando-o com a cabeça curvada, desaparecia no bar da segunda classe. Não saberia explicar por que motivo ele a deixara presa de uma vaga inquietação. Não conseguia apagar na imaginação aquele quadro de uma mulher corpulenta, que já não era jovem, com um sarong, uma blusa colorida e adornos de ouro, sentada nos degraus de um bangalô e contemplando uma estrada deserta. O seu rosto maciço estava pintado, mas os olhos grandes e secos não tinham expressão. Os homens que iam no automóvel eram como colegiais que fossem passar as férias em casa. Gallagher soltava um suspiro de alívio. Na manhãzinha, sob o céu límpido, ele fervilhava de animação. O futuro parecia uma estrada ensolarada que vagueava através de uma vasta planície coberta de árvores.
Mais tarde, nesse mesmo dia, Mrs. Hamlyn perguntou ao médico como ia o seu doente. O médico sacudiu a cabeça.
— Não posso mais. Não sei mais o que fazer. Franziu o sobrolho, desgostoso. — É mesmo pouca sorte dar com um caso destes. Até na Inglaterra seria um caroço, e a bordo então nem se fala...
Era de Edimburgo, mas formara-se havia pouco e estava fazendo aquela viagem a título de férias, antes de se instalar na clínica. Sentia-se vítima de uma injustiça. Queria divertir-se, mas aquela misteriosa doença o preocupava mortalmente. Faltava-lhe experiência, por certo, mas estava fazendo tudo quanto era possível e exasperava-se por suspeitar que os passageiros o julgassem um ignorante.
— Sabe o que Mr. Pryce pensa? — perguntou Mrs. Hamlyn. — Nunca ouvi asneira igual. Disse ao capitão e ele está danado. Não quer que se fale nisso. Acha que pode perturbar os passageiros.
— Pode contar com a minha discrição. O médico perscrutou-a com o olhar. — Sem dúvida não acredita que possa haver a menor dose de verdade nessas tolices?
— Claro que não. — Ela olhou para o mar que brilhava por todos os lados, azul, oleoso e imóvel. — Vivi muito tempo no Oriente. Acontecem lá coisas esquisitas.
— Isto está começando a me atacar os nervos — disse o médico.
Ali perto dois pequenos japoneses jogavam malha no convés. Estavam muito corretos e asseados com as suas camisas de tênis, calças brancas e sapatos de bocaxim. Pareciam muito europeus, até anunciavam a contagem um ao outro em inglês, e no entanto Mrs. Hamlyn sentiu-se vagamente perturbada ao observá-los nesse momento. Pelo fato de usarem um travesti com tanta facilidade, havia nessas criaturas qualquer coisa de sinistro. Também ela não estava boa dos nervos.
E de repente, ninguém saberia dizer como, espalhou-se por todo o navio o boato de que Gallagher estava enfeitiçado. As senhoras, sentadas nas cadeiras do convés, tagarelavam à meia-voz enquanto cosiam os trajes de fantasia para o baile do Natal e os homens, na sala de fumar, comentavam o assunto diante dos seus coquetéis. Bom número de passageiros que tinham vivido largo tempo no Oriente extraíam casos estranhos e inexplicáveis dos escaninhos da memória. Era, por certo, absurdo acreditar seriamente que Gallagher estivesse sendo vítima de um sortilégio maligno. Essas coisas eram impossíveis; e contudo, havia tais e tais fatos que ninguém conseguira explicar. O médico teve de confessar-se incapaz de apontar uma causa para o estado de Gallagher. Podia dar uma explicação fisiológica, mas por que motivo ele fora atacado de súbito por aqueles pavorosos espasmos? Isso ele não dizia. Sentindo-se vagamente exposto à censura, procurava defender-se.
— Casos como este um médico pode passar a vida inteira sem encontrar um só. Que azar!
Comunicava-se pelo rádio com os navios próximos e recebia daqui e dali sugestões para o tratamento.
— Já experimentei tudo que eles me aconselham — dizia com irritação. — O médico do vapor japonês fala em adrenalina. Como diabo vou arranjar adrenalina no meio do Oceano Índico?
Havia qualquer coisa de impressionante na ideia daquele navio a singrar um mar deserto enquanto mensagens invisíveis lhe chegavam de todas as partes. Naquele momento ele parecia ser o centro do mundo, apesar de estar singularmente só. Na enfermaria, o doente, sacudido pelos implacáveis espasmos, arfava em luta com a morte. Então os passageiros perceberam que a rota do navio fora alterada e ouviram dizer que o capitão tinha resolvido aportar a Adem. Gallagher seria posto em terra e conduzido ao hospital, onde lhe podiam dispensar cuidados que a bordo eram impossíveis. O chefe das máquinas teve ordem de acelerar a marcha do navio. Este, que era velho, começou a tremer todo sob o esforço. Os passageiros tinham-se acostumado ao ruído e à vibração das máquinas, mas o aumento dessa vibração lhes sacudia os nervos, dando-lhes uma sensação nova. Ao invés de passar ao subconsciente, fustigava-lhes a sensibilidade, de modo que cada um deles ganhou um interesse pessoal no caso. Entretanto, o mar imenso continuava órfão de embarcações e eles pareciam estar atravessando um mundo vazio. Então a vaga inquietação que descera sobre o navio e que ninguém queria reconhecer converteu-se num positivo mal-estar. Os passageiros ficaram irritadiços e começaram a explodir disputas em torno de assuntos que em outra ocasião qualquer teriam parecido insignificantes. Mr. Jephson dizia as suas rançosas piadas, mas já ninguém o recompensava com um sorriso. Os Linsell tiveram uma altercação e Mrs. Linsell foi ouvida tarde da noite a filar voltas pelo convés como marido, proferindo em voz baixa e tensa uma torrente de censuras impetuosas. uma noite, a respeito de uma partida de bridge, houve uma discussão violenta na sala de fumar e a subsequente reconciliação foi acompanhada de uma bebedeira geral. Pouco falavam em Gallagher, mas este raramente saía dos pensamentos. Examinavam a carta marítima. O médico dizia agora que Gallagher não podia viver mais de dois ou três dias e os passageiros discutiam com acrimônia sobre o tempo mais curto em que seria possível alcançar Adem. O que lhe acontecesse após o desembarque não lhes interessava; apenas não queriam que ele morresse a bordo.
Mrs. Hamlyn visitava Gallagher todos os dias. Com a mesma rapidez com que após uma chuva primaveril, nos trópicos, a gente vê a erva crescer diante dos seus olhos, ela o via finar-se agora. Já a pele lhe pendia flácida em volta dos ossos e a sua papada semelhava uma papada de peru. As faces estavam encovadas. Notava-se agora o quanto era grande a sua armadura óssea, que, debaixo do lençol, lembrava o esqueleto de algum gigante pré-histórico. Estava geralmente com os olhos cerrados, no torpor da morfina, mas sacudido sempre pelas terríveis convulsões, e quando de tempos a tempos abria os olhos estes tinham um tamanho sobrenatural, encarando vagamente as pessoas, perplexos e perturbados, do fundo das órbitas ossudas. Mas quando reconhecia Mrs. Hamlyn, ao sair do seu estupor, obrigava os lábios a entreabrir-se num sorriso de bravura.
— Como vai, Mr. Gallagher? — perguntava ela. -- Vou indo, vou indo. Hei de ficar bom quando nos livrarmos deste maldito calor. Meu Deus, como estou aflito por dar um mergulho no Atlântico! Daria tudo por uma boa meia hora de nado. Quero sentir no peito o mar frio e cinzento de Galway.
Mas um soluço sacudia-o do alto da cabeça até as solas dos pés. Mr. Pryce e a enfermeira revezavam-se em cuidar dele. A fisionomia do pequeno cockney já não tinha aquela expressão de jovialidade impudente; estava, ao invés, bastante casmurra.
— O capitão mandou me chamar ontem — disse ele a Mrs. Hamlyn quando se viram a sós. — Passou-me uma jiribanda daquelas.
— A que respeito? — Diz ele que não quer ouvir falar nessas histórias de feitiço. Que isso estava assustando os passageiros e que eu tivesse tento na língua, senão ia justar contas com ele. A culpa não é minha. Eu nunca disse uma palavra, a não ser à senhora e ao doutor.
— Todo o navio anda falando disso. — Eu sei. Pensa que sou só eu que o digo? Todos esses malaios e chineses sabem o que ele tem. Pensa que nós podemos ensinar muita coisa a essa gente? Eles sabem que não é uma doença natural.
Mrs. Hamlyn ficou calada. Sabia, pelas criadas de alguns passageiros, que ninguém no navio, a não ser os brancos, duvidava de que a mulher a quem Gallagher tinha deixado no distante Estado de Selantan o estava matando pouco a pouco com a sua magia. Todos tinham a convicção de que ao avistarem os penhascos escalvados da Arábia a alma do irlandês. separar-se-ia do seu corpo.
— Diz o capitão que se ouvir contar que eu andei tentando alguma mandinga ele vai mandar me fechar na cabina durante o resto da viagem — falou Pryce de repente, com um ar mal-humorado.
— Que quer dizer com mandinga?
Ele a considerou um instante com ferocidade, como se ela também fosse alvo da cólera que sentia contra o capitão.
— O doutor já experimentou tudo o que sabe, passou radiogramas para todos os lados, e que adiantou isso? Faça o favor de me dizer. Então ele não vê que o homem está à morte? Agora só temos um meio de salvá-lo.
— Que meio?
— Ele está morrendo por obra de magia e só com a magia pode ser salvo. Oh, não me diga que isso é impossível. Já vi com os meus olhos. — Sua voz alteou-se, irritada e estridente. — Já vi um homem arrancado das goelas da morte, como quem diz, quando mandaram chamar um pawang, isso que nós chamamos um curandeiro, e ele começou a fazer as suas tricas. Estou lhe dizendo que vi com os meus olhos!
Mrs. Hamlyn ficou calada. Pryce lançou-lhe um olhar penetrante.
— Um desses marinheiros nativos é curandeiro, tal qual os pawang dos Estados Malaios. Ele diz que fará a coisa. Só precisa de um animal vivo. Um galo serve.
— Para que quer ele um animal vivo? — perguntou Mrs. Hamlyn, franzindo levemente o sobrolho.
O cockney olhou-a com viva desconfiança. — Se quer ouvir o meu conselho, faça que não sabe de nada. Mas uma coisa eu lhe digo: não deixarei pedra por virar enquanto não tiver salvo o patrão. E se o capitão souber disso e me mandar trancafiar na cabina, paciência.
Nesse momento Mrs. Linsell aproximou-se e Pryce foi embora, fazendo aquele seu curioso gesto de saudação. Mrs. Linsell queria que Mrs. Hamlyn lhe ajustasse o costume que estava fazendo para o baile à fantasia, e enquanto desciam à cabina referiu ansiosamente à possibilidade de que Mr. Gallagher morresse no dia de Natal. Nesse caso não seria possível dar o baile. Tinha dito ao médico que nunca mais lhe falaria se tal coisa acontecesse e ele prometera manter o homem com vida, fosse lá como fosse, até depois do Natal.
— Seria muito bom para ele também — disse Mrs. Linsell.
— Para quem? — perguntou Mrs. Hamlyn.
— Para o pobre Mr. Gallagher. Naturalmente ninguém gosta de morrer no dia de Natal, não é mesmo?
— Na verdade, não sei — respondeu Mrs. Hamlyn.
Essa noite, após um sono breve, ela acordou a chorar. Ficou consternada ao ver que estivera chorando enquanto dormia. Era como se a fraqueza da carne a dominasse e, com a vontade vencida, ela se encontrasse indefesa em face do sofrimento. Revolveu na mente, como já havia feito tantas vezes, os pormenores do desastre que tão profundamente a afetara. Repetiu as conversas com o marido, desejando ter dito isto e censurando-se porque dissera aquilo. Quem lhe dera ter permanecido na tranquila ignorância daquela paixão! Não teria sido melhor meter o orgulho no bolso e fechar os olhos à dolorosa verdade? Era uma mulher experiente e bem sabia que ao separar-se do marido perdia muito mais do que o seu amor: perdia uma posição sólida e segura, de amplos recursos, e o apoio de uma situação oficial. Tinha notícia de muitas mulheres separadas dos maridos, a viver equivocamente de pequenos rendimentos, e sabia quão depressa as pessoas amigas se cansavam delas. E estava só, tão só quanto o navio que cruzava às pressas aquele mar despovoado, tão só quanto o homem sem amigos que agonizava na enfermaria de bordo. Mrs. Hamlyn compreendeu que os seus pensamentos a tinham levado de vencida e que já não lhe seria fácil dormir. Fazia muito calor dentro da cabina. Olhou o relógio: era entre quatro e quatro e meia. Tinha de esperar ainda duas intermináveis horas antes que o dia lhe trouxesse o seu pouco de conforto.
Enfiou um quimono e subiu para o convés. A noite era sombria e embora não houvesse nuvens as estrelas não estavam visíveis. O velho navio, ofegante e trêmulo, avançava a todo vapor no meio das trevas. O silêncio tinha algo de sobrenatural. Mrs. Hamlyn caminhava de pés descalços pelo convés, lentamente, às tateadas. Estava tão escuro que ela não podia distinguir nada. Chegou à extremidade do tombadilho de passeio e encostou-se à amurada. De súbito estremeceu e a sua atenção fixou-se num ponto, uma claridade bruxuleante que avistara no convés de baixo. Debruçou-se com cautela. Era uma pequena fogueira e Mrs. Hamlyn via apenas o clarão porque as chamas eram ocultadas pelos troncos nus de alguns homens acocorados ao seu redor. A beira do círculo ela adivinhou uma figura atarracada, de pijama. Os demais eram nativos, mas esse era um europeu. Devia ser Pryce, e ela imediatamente compreendeu que se estava realizando alguma tenebrosa cerimônia de exorcismo. Aguçou o ouvido e distinguiu uma voz baixa que resmuneava um rosário de palavras desconhecidas. Pôs-se a tremer. Embora os sentisse demasiado absortos na sua prática para suspeitar que alguém os pudesse estar observando, não se atrevia a mexer-se. De repente, cortando o silêncio da noite como um pedaço de seda que se rasgasse em dois, ouviu-se o canto de um galo. Mrs. Hamlyn quase deixou escapar um grito. Mr. Pryce tentava salvar a vida do seu amigo e patrão com um sacrifício aos estranhos deuses do Oriente. A voz continuava, baixa e insistente. Notou-se então um movimento no círculo escuro; estava acontecendo alguma coisa que ela não sabia o que fosse; o galo cacarejou, furioso e assustado, e seguiu-se um som estranho e indescritível. O mágico estava degolando a ave. Silêncio, depois alguns gestos vagos que ela não pôde acompanhar, e dentro em pouco lhe pareceu que alguém apagava as brasas com os pés. As figuras indistintas dissolveram-se na noite e tudo voltou à tranquilidade. Ela tornou a ouvir a vibração regular das máquinas.
Mrs. Hamlyn ainda ficou alguns instantes sem se mover, presa de estranha emoção, depois caminhou lentamente pelo convés. Encontrou uma espreguiçadeira e estendeu-se nela. Ainda estava trêmula. Não podia fazer senão conjeturas sobre o que havia acontecido. Não saberia dizer quanto tempo ficou ali, mas finalmente sentiu que não tardaria a amanhecer. Ainda não era dia, mas também já não era noite. Já podia distinguir a amurada do navio contra a escuridão da noite. Avistou então um vulto que caminhava na sua direção. Era um homem de pijama.
— Quem é? — gritou, nervosa.
— Não é ninguém, é o médico — respondeu uma voz amiga.
— Ah! Que está fazendo aqui a estas horas?
— Estava com Gallagher. — O doutor sentou-se ao lado dela e acendeu um cigarro. — Dei-lhe uma hipodérmica bem forte e ele se aquietou.
— Estava muito mal?
— Julguei que fosse expirar. Estava observando-o. De repente ele sentou-se na cama e começou a falar em malaio. Não entendi coisa alguma, é lógico. Ele repetia sem cessar a mesma palavra.
— Talvez fosse um nome, o nome de uma mulher.
— Queria sair da cama. Ainda tem força como o diabo. Caramba, tive de lutar com ele! Receava que ele se atirasse ao mar. Parecia pensar que alguém o estava chamando.
— Quando foi isso? — perguntou Mrs. Hamlyn devagar.
— Entre quatro e quatro e meia. Por quê?
— Nada.
Mrs. Hamlyn teve um arrepio.
Mais tarde, ainda pela manhã, quando a vida de bordo já reassumira o seu curso cotidiano, Mrs. Hamlyn cruzou-se com Pryce no convés, mas ele limitou-se a fazer-lhe uma breve saudação e seguiu o seu caminho desviando vivamente os olhos. Tinha um ar cansado e tresnoitado. Mrs. Hamlyn tornou a pensar naquela mulher, com adornos de ouro na negra e espessa cabeleira, sentada nos degraus do bangalô vazio, olhando para a estrada que corria entre os renques simétricos de seringueiras.
Fazia um calor pavoroso. Ela compreendia agora por que a noite fora tão escura. O céu já não estava azul, mas de um branco morto e igual; a sua superfície era muito uniforme para dar a impressão de nuvens; era como se o calor pairasse como uma mortalha no ar superior. Não soprava brisa e o mar, tão incolor quanto o céu, estava liso e brilhante como a tinta na cuba de um tintureiro. Os passageiros andavam apáticos; quando caminhavam pelo convés punham-se a ofegar e bagas de suor lhes brotavam da testa. Falavam em voz baixa. Uma espécie de aura sobrenatural, inquietante, envolvia o navio e ninguém tinha ânimo para rir. Foi despertando neles uma sensação de ressentimento; estavam vivos, com saúde, e exasperavam-se porque ali tão perto um homem agonizava e este fato (que em suma não lhes dizia respeito) os afetava de forma tão misteriosa. Na sala de fumar, diante de um gin sling, um plantador exprimiu brutalmente o que todos eles pensavam, embora ninguém quisesse confessá-lo:
— Bem, se ele vai mesmo dar a casca seria bom que se aviasse, para acabar com isso duma vez. Já ando com tremeliques.
O dia pareceu interminável. Mrs. Hamlyn deu graças ao céu quando chegou a hora do jantar. Sentou-se à mesa do médico.
— Quando chegaremos a Adem? — perguntou-lhe. — Amanhã. O capitão diz que avistaremos terra entre as cinco e as seis da manhã.
Ela deitou-lhe um olhar vivo. O moço encarou-a um instante, depois baixou os olhos e corou. Lembrara-se de que a mulher, a mulher gorda sentada nos degraus do bangalô, tinha dito que Gallagher não tornaria a ver terra. Por acaso ele, o jovem médico cético e positivo, estaria vacilando por fim? Franziu de leve o sobrolho e, como se fizesse um esforço para dominar-se, tornou a olhar para ela.
— Confesso-lhe que não lamentarei ter de deixar o meu doente no hospital de Adem.
O dia seguinte era véspera de Natal. Quando Mrs. Hamlyn despertou do seu sono agitado, já ia amanhecendo. Olhou pela vigia do camarote e notou que o céu estava claro e prateado; a bruma dissipara-se durante a noite e a manhã resplandecia. Subiu para o convés mais aliviada e encaminhou-se para a proa. Uma estrela retardatária luzia palidamente, junto a linha do horizonte. O mar tinha reflexos trêmulos, como se brisa vadia passasse sobre ele os dedos brincalhões. A luz era deliciosamente suave, ténue como um bosque a abrolhar na primavera, e tão cristalina que lembrava as águas sussurrantes de um regato nas montanhas. Ela virou-se para olhar o sol, que se erguia rosado no nascente, e viu o doutor que vinha na sua direção. Vestia o seu uniforme; não se deitara durante toda a noite; tinha os cabelos desgrenhados e caminhava de ombros curvados, como se estivesse morto de cansaço. Ela compreendeu logo que Gallagher morrera. Quando o moço chegou perto, notou que ele chorava. Tinha um ar tão jovem nesse momento que o coração de Mrs. Hamlyn se encheu de piedade. Tomou-lhe a mão.
— Coitadinho! Você está que não se aguenta.
— Fiz o que pude — disse ele. — Tanto empenho em salvá-lo!
Falava com voz embargada e Mrs. Hamlyn percebeu que o moço estava a ponto de ter um acesso de nervos.
— Quando foi que ele morreu? — perguntou.
O médico cerrou os olhos, tentando dominar-se, e seus lábios tremeram.
— Há poucos minutos.
Mrs. Hamlyn suspirou. Não encontrou palavras para lhe dizer. Seu olhar vagueava pelo mar sereno, eterno e desapaixonado, que se estendia para todos os lados, infinito como a dor humana. Mas de repente esse olhar se deteve num ponto determinado, pois à frente deles, no horizonte, avistava-se qualquer coisa que semelhava uma nuvem escarpada e maciça. Os seus contornos, no entanto, eram muito angulosos para serem os de uma nuvem. Ela tocou no braço do médico.
— O que é aquilo?
Ele olhou um instante naquela direção e Mrs. Hamlyn o viu empalidecer sob o bronzeado da pele.
— É terra.
Mrs. Hamlyn pensou mais uma vez na malaia gorda, sentada em silêncio nos degraus do bangalô de Gallagher. Saberia ela o que acontecera?
Sepultaram-no com o sol alto. Estavam todos reunidos no convés inferior e sobre os quartéis das escotilhas, passageiros de primeira e de segunda, despenseiros brancos e oficiais europeus. O missionário leu o serviço fúnebre.
"O homem, nascido da mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Surge e é cortado como a flor; foge também como a sombra e não permanece."
Pryce olhava para o chão com o sobrolho franzido, os dentes cerrados. Não chorava o morto, pois tinha o peito a arder em cólera. O médico e o cônsul estavam ao lado um do outro. O rosto do cônsul tinha uma correta expressão de persa oficial, mas o do médico, que se barbeara e vestira um uniforme limpo, com os seus alamares de ouro, estava pálido e torturado. Os olhos de Mrs. Hamlyn passaram dele para Mrs. Linsell. Estava aconchegada ao marido, chorando, e ele lhe segurava ternamente a mão. Mrs. Hamlyn não saberia dizer por que a vista do casal a afetava tanto. Nesse momento de dor, com os nervos desorganizados, a mulherzinha procurava por instinto a proteção e o apoio do marido. Mas um estremecimento percorreu Mrs. Hamlyn e ela fixou os olhos nas junturas do convés, pois não queria ver o que ia passar-se. Houve uma pausa na leitura e várias pessoas moveram-se. Um dos oficiais deu uma ordem. A voz do missionário prosseguiu:
"Já que aprouve ao Senhor Todo-poderoso, na sua infinita misericórdia, chamar a si a alma do nosso querido irmão, nós confiamos o seu corpo ao abismo para que aí se decomponha, à espera da ressurreição da carne, quando o mar devolver os seus mortos."
Mrs. Hamlyn sentiu que lágrimas ardentes lhe corriam pelas faces. Ouviu-se um baque surdo na água e a voz do missionário continuou a falar.
Terminado o ofício religioso os passageiros dispersaram-se; os da segunda classe voltaram aos seus alojamentos e uma sineta os chamou para o almoço. Mas os da primeira puseram-se a vaguear a esmo no tombadilho de passeio. A maioria dos homens entrou na sala de fumar e procurou animar-se tomando uísque soda e gin slings. O cônsul pendurou um aviso na tabuleta colocada na porta do salão de refeições, convocando uma reunião dos passageiros. A maior parte destes já imaginava o que se tinha em vista e à hora marcada foram chegando. Estavam alegres como nunca haviam estado durante a semana que se passara e puseram-se a conversar cheios de animação temperada por uma reserva decorosa. O cônsul, de monóculo encaixado no olho, disseque os tinha chamado para discutirem a questão do baile à fantasia no dia seguinte. Sabia que todos sentiam a mais profunda simpatia por Mr. Gallagher. Desejaria propor que eles se combinassem para enviar uma mensagem condigna aos parentes do falecido, mas os papéis deste tinham sido examinados pelo comissário de bordo sem que se encontrasse a menor indicação sobre um parente ou amigo com quem fosse possível comunicarem-se. Segundo as aparências, o falecido Mr. Gallagher estava completamente só no mundo. Entretanto, ele (o cônsul) tomava a liberdade de exprimir o seu sincero pesar ao médico, que, ele tinha certeza, fizera quanto estava em si nas circunstâncias.
— Apoiado, apoiado! — disseram os passageiros.
Todos ali haviam sofrido uma grande provação, prosseguiu o cônsul, e podia parecer a alguns que, em respeito à memória do falecido, era preferível adiar o baile à fantasia para a noite de Ano Bom. Ele, porém — declarava-lhes francamente — não era dessa opinião, e estava convencido de que Mr. Gallagher não o teria desejado. Em todo caso, era uma questão que cumpria resolver por maioria de votos. O médico ergueu-se e agradeceu ao cônsul e aos passageiros as generosas referências à sua pessoa; fora de fato uma grande provação, mas ele estava autorizado pelo capitão a anunciar o desejo expresso deste, de que se levassem a cabo todas as festividades do dia de Natal como se nada houvesse acontecido. Acrescentou, em confidência, que o capitão achava que o estado de espírito dos passageiros tinha-se tornado um tanto mórbido e todos haviam de lucrar se se divertissem bastante no dia de Natal. Depois levantou-se a senhora do missionário para dizer que eles não deviam pensar apenas em si mesmos; a Comissão de Diversões decidira armar um pinheiro de Natal para as crianças logo após o jantar da primeira classe e as crianças esperavam ver todos fantasiados; seria uma lástima decepcioná-las; ela não cedia a palma a ninguém no respeito aos mortos e simpatizava com todos aqueles cuja tristeza não os predispunha a dançar na ocasião; ela própria sentia o coração pesado, mas achava que seria mero egoísmo ceder a um sentimento que não podia trazer proveito a ninguém. Não esquecessem os pequeninos! Isto causou grande impressão nos passageiros. Desejavam esquecer o surdo terror que havia pairado sobre o navio durante tantos dias. Estavam vivos e queriam gozar a vida, mas pensavam, cheios de inquietude, que seria decente mostrar um certo pesar. O caso mudava de figura uma vez que podiam fazer o que desejavam por motivos altruísticos. Quando o cônsul pediu que se fizesse a votação, todos os presentes, salvo Mrs. Hamlyn e uma velha senhora que sofria de reumatismo, ergueram Avidamente o braço.
— Vencem os votos favoráveis disse ele. — Tomo a liberdade de dar os meus parabéns à assembleia por uma decisão muito sensata.
A reunião ia dispersar-se quando um plantador se pós em pé e disse que desejava apresentar uma sugestão. Não lhes parecia que nas circunstâncias seria mais justo convidar os passageiros de segunda classe? Todos eles tinham assistido ao serviço fúnebre naquela manhã. O missionário saltou da cadeira e apoiou a moção. Os acontecimentos daqueles últimos dias haviam aproximado a todos, disse ele, e em presença da morte todos os homens eram iguais. O cônsul tornou a dirigir a palavra à assembleia. O assunto fora discutido numa reunião anterior e chegara-se à conclusão de que seria mais agradável aos passageiros de segunda realizarem a sua festa à parte, mas as circunstâncias já não eram as mesmas e ele era positivamente de parecer que cumpria alterar a decisão anterior.
— Apoiado, apoiado! — disseram os passageiros.
Uma onda de sentimento democrático empolgou a todos e a moção foi aprovada por aclamação. Separaram-se desanuviados, sentindo-se o generosos e caritativos Todos pagaram drinks uns aos outros na sala de fumar.
E assim, nessa noite Mrs. Hamlyn pôs o seu traje de fantasia. Não tinha a menor disposição para uma noitada alegre e durante um momento pensou em alegar doença, mas sabia que ninguém lhe daria crédito e receou que a julgassem afetada. Fantasiou-se de Carmen e não pôde resistir à tentação vaidosa de fazer-se tão atraente quanto possível. Pintou os cílios e passou rouge nas faces. O costume ficava-lhe bem. Ao soar da trompa dirigiu-se para o salão e foi recebida com lisonjeiras exclamações de surpresa. O cônsul, sempre humorista, estava fantasiado de dançarina de balé. O seu aparecimento provocou gostosas gargalhadas. O missionário e a mulher, acanhados mas Satisfeitos consigo, estavam estupendos como manshus. Mrs. Linsell, de Colombina, mostrava tanto quanto possível as bonitas pernas. Seu marido era um xeque árabe e o médico, um sultão malaio.
Fizera-se uma subscrição para prover de champanha a mesa do jantar e este foi uma pândega. A companhia fornecera balas de estalo em que se encontravam barretes de papel de variadas formas, que os -passageiros puseram à cabeça. Atiravam-se serpentinas e jogavam balõezinhos de um lado ao Outro da sala. Riam e soltavam gritos. Estavam muito alegres. Ninguém poderia dizer que não se estavam divertindo. Assim que terminou o jantar passaram para o salão onde os aguardava o pinheiro de Natal, com as velas acesas. Trouxeram as crianças e estas receberam os seus presentes entre guinchos de prazer. Deu-se então início ao baile. Os passageiros da segunda classe rodeavam timidamente a parte do convés reservada aos dançadores e de quando em quando dançavam uns com os outros.
— Folgo em tê-los aqui — disse o cônsul, dançando com Mrs. Hamlyn. — Eu sou pela democracia e acho que eles mostram muito bom senso em não quererem misturar-se.
Mrs. Hamlyn, porém, deu pela falta de Pryce e na primeira oportunidade perguntou a um dos passageiros de segunda classe onde se achava ele.
— Curando a bebedeira — responderam-lhe. — Nós o pusemos na cama esta tarde e fechamos à chave a porta do camarote.
O cônsul convidou-a novamente para dançar. Estava muito faceto. De súbito Mrs. Hamlyn sentiu que já não podia suportar aquilo, a bulha da orquestra de amadores, as pilhérias do cônsul, a alegria dos dançadores. Não sabia por que motivo a jovialidade dessa gente que, dentro do seu navio, atravessava a noite e o mar solitário, a enchia de um repentino horror. Quando o cônsul lhe devolveu a liberdade ela esgueirou-se dali e, olhando para trás a fim de ver se ninguém dera pela sua retirada, subiu a escotilha para o.convés superior. Tudo ali estava envolto em trevas. Dirigiu-se de mansinho para um ponto em que estaria livre de intrusos, mas ouviu um riso abafado e lobrigou, a um canto escuro, uma colombina e um sultão malaio. Mrs. Linsell e o médico já haviam reatado o flerte que a morte de Gallagher viera interromper.
Toda essa gente já havia afastado do espírito, com uma espécie de ferocidade, a lembrança do pobre homem sem família que morrera entre eles de forma tão estranha. Não sentiam compaixão alguma dele, antes se ressentiam pelo momento de inquietude por sua causa. Agarravam-se à vida com avidez. Diziam piadas, namoravam, mexericavam. Mrs. Hamlyn lembrou-se do que tinha dito o cônsul: que entre os papéis de Mr. Gallagher não fora encontrada nenhuma carta, o nome de um só amigo a quem se pudesse enviar a notícia da sua morte, e não saberia dizer por que isso lhe parecia intoleravelmente trágico. Há qualquer coisa de misterioso num homem capaz de levar uma existência tão solitária neste mundo. Quando se lembrava de tê-lo visto embarcar em Singapura, havia tão pouco tempo ainda, tão saudável e robusto, tão cheio de vida, quando pensava nos seus intrépidos planos de futuro, era tomada de consternação. Terrificavam-na estas palavras do ofício fúnebre: "O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e cheio de inquietação. Surge e é cortado como a flor..." Ano após ano ele tinha feito os seus planos de futuro; tinha tamanho anseio de vida e tanta coisa para que viver... E justamente quando ia colher o fruto... Oh, aquilo era de cortar o coração; fazia parecer insignificantes todas as demais aflições deste mundo. A morte, com o seu mistério, era a única coisa de real importância.
Mrs. Hamlyn debruçou-se sobre a amurada e contemplou o céu estrelado. Por que os homens procuravam ser infelizes? Que chorassem a morte das criaturas amadas, pois a morte era sempre terrível, mas quanto ao resto, valia a pena tornar-se desgraçado, albergar no peito a maldade, ser vão e descaridoso? Pensou mais uma vez em si, no marido e na mulher a quem ele dedicava um amor tão inexplicável. Também ele dissera que nós temos muito pouco tempo para sermos felizes e que a morte dura uma eternidade. Mrs. Hamlyn refletiu longamente, concentradamente, e de súbito, como um relâmpago de verão que rasga as trevas da noite, fez uma descoberta que a encheu de trêmula surpresa: tinha visto que o seu coração já não abrigava nenhuma cólera contra o marido nem ciúme da sua rival. Em algum remoto horizonte da sua consciência foi nascendo uma ideia e, como o sol matinal, banhou-lhe a alma numa luz terna e bem-aventurada. Na tragédia da morte daquele irlandês desconhecido ela hauria exaltação e coragem para uma grande resolução. O seu coração começou a pulsar depressa; estava impaciente por levá-la a efeito. Um ímpeto apaixonado de sacrifício se havia apoderado dela.
A música cessara, estava findo o baile; a maioria dos passageiros devia ter ido para a cama e o resto estava sem dúvida na sala de fumar. Mrs. Hamley desceu para o seu camarote sem encontrar ninguém no caminho. Apanhou o bloco de papel e escreveu uma carta ao marido:
"Meu querido. Hoje é dia de Natal e quero dizer-te que o meu coração está cheio de bons sentimentos para com vocês dois. Fui muito tola e desrazoável. Creio que deveríamos deixar aqueles a quem amamos ser felizes como eles o entendem e amá-los o bastante para que isso não nos faça sofrer. Quero dizer-te que eu te concedo de bom grado essa ventura que de forma tão estranha surgiu na tua existência. Já não tenho ciúmes, não me sinto ofendida nem desejo vingar-me. Não julgues que eu seja infeliz ou que a solidão me seja muito pesada. Se um dia sentires necessidade de mim, volta para o meu lado e eu te acolherei com alegria, sem uma palavra de censura, sem a menor má vontade. Estou muito reconhecida pelos anos de felicidade e de ternura que me deste e em troca desejo oferecer-te uma afeição que não exige nada de ti e é, penso eu, absolutamente desinteressada. Guarda boas lembranças de mim e sê feliz, feliz, feliz..."
Assinou e pôs a carta num envelope. Embora ela só pudesse ser remetida quando chegassem a Port Said, fez questão de colocá-la imediatamente na caixa. Depois de fazê-lo começou a despir-se e olhou-se no espelho. Os seus olhos brilhavam e as faces tinham ganhado cor debaixo do rouge. O futuro já não lhe parecia desolado, mas róseo de esperança. Estendeu-se na cama e logo mergulhou num sono profundo e sem sonhos.
(Título original: P. & O.)
O posto avançado
O novo assistente chegou à tarde. Ao ser informado de que o prahu estava à vista, o residente, Sr. Warburton, pôs o capacete colonial e desceu até o cais flutuante. A guarda, composta de oito pequenos soldados daiaques, prestou-lhe continência à sua passagem. O residente notou com satisfação que exibiam aparência marcial, fardas asseadas e limpas, fuzis reluzentes. Eram o seu orgulho. Do cais podia observar a curva do rio, onde o barco ia aparecer dentro de um momento. Com as calças de linho irrepreensivelmente limpas, os sapatos brancos, sobraçando uma bengala de Malaca de castão dourado, presente do sultão de Perak, tinha um aspecto de real elegância. Aguardava o novo companheiro com sentimentos contraditórios. O distrito decerto dava trabalho demais para um homem só, e nas inspeções periódicas à região a seu cargo notara a inconveniência de deixar o posto nas mãos de um funcionário nativo; mas, como tinha sido ali por muito tempo o único homem branco, não podia encarar a chegada de outro sem certa desconfiança. Estava habituado à solidão. Durante a guerra não vira uma cara inglesa num período de três anos. Convidado certa vez a alojar um inspetor de plantações, sentiu-se tomado de pânico, e, no dia em que o forasteiro devia chegar, depois de ter preparado tudo para o acolher escreveu-lhe uma nota comunicando que fora obrigado a partir rio acima; fugiu e ficou fora até ser informado por um mensageiro de que o hóspede havia partido.
O prahu apareceu no trecho largo do rio. Tripulavam-no prisioneiros indígenas, condenados a diversas penas, e que dois guardas esperavam no cais para voltar com eles ao cárcere. Eram uns camaradas robustos, práticos do rio, que remavam num ritmo poderoso. Quando o barco atingiu a costa, um homem saiu de sob o toldo de folhas de palmeira e saltou na praia. A guarda apresentou armas.
— Afinal chegamos. Palavra de honra, estou machucado como todos os diabos! Trouxe-lhe sua correspondência.
Falava com exuberante jovialidade. O Sr. Warburton estendeu-lhe polidamente a mão:
— O Sr. Cooper, não é?
— Ele mesmo. Será que esperava outra pessoa?
Havia na pergunta um intuito faceiro, mas o residente não sorriu:
— Meu nome é Warburton. Vou-lhe mostrar sua residência. Eles vão levar sua mochila.
Tomando a frente a Cooper na vereda estreita, conduziu-o a um cercado com um pequeno bangalô no meio:
— Procurei torná-lo tão habitável quanto possível;; deve fazer uma porção de anos que ninguém mora mais aqui.
A casa, construída sobre estacas, consistia numa longa sala que dava para uma varanda larga; atrás, nos dois lados de um corredor, havia dois quartos de dormir.
— Isto me serve perfeitamente — disse Cooper. — Calculo que deseja tomar um banho e mudar de roupa. Terei muitíssimo prazer se quiser jantar comigo esta noite. As oito horas, está bem?
— Para mim, tanto faz esta ou aquela hora. Com um sorriso cortês, mas levemente embaraçado, o residente retirou-se. Voltou ao Fortim, onde ficava a sua própria morada. A impressão que lhe dera Allen Cooper não fora muito favorável; mas, homem direito, sabia ser injusto formular uma opinião depois de encontro tão rápido. O assistente parecia ter trinta anos; alto e magro, de rosto pálido, onde não se distinguia nem uma manchinha de cor, um rosto todo num único tom. Tinha o nariz grande e arqueado e olhos azuis. Quando, ao entrar no bangalô, retirou o capacete e o atirou a um criado, o Sr. Warburton observou que o seu crânio grande, coberto de cabelos castanhos cortados rente, contrastava de modo estranho com a pele fraca e fina. Usava um short cáqui e uma camisa da mesma cor, ambos coçados e sujos, e um capacete surrado que não recebia limpeza havia vários dias. Mas o Sr. Warburton lembrou-se de que o moço acabara de passar uma semana num navio de cabotagem e as últimas quarenta e oito horas no fundo de um prahu!
— "Veremos o aspecto que ele tem na hora do jantar." Entrou no próprio quarto, onde as suas coisas estavam dispostas com tanta ordem como se tivesse um camareiro inglês, despiu-se e, descendo pelas escadas à barraca de banho, tomou um banho de chuveiro frio. A concessão que fazia ao clima consistia apenas em usar smoking branco; quanto ao resto, vestia com tanto cuidado como se jantasse no seu clube de Pall Mall, camisa engomada e colarinho alto, meias de seda e sapatos envernizados. Hospedeiro atento, foi à sala de jantar ver se a mesa estava posta convenientemente. Alegravam-na umas orquídeas, a prataria brilhava, os guardanapos estavam dobrados em formas estudadas, velas matizadas espalhavam um luz suave do alto de candelabros de prata. O Sr. Warburton sorriu aprobativamente e voltou ao salão para esperar o hóspede. Cooper chegou. Estava ainda com o short cáqui, a camisa cáqui e o paletó surrado com que saltara. O sorriso de saudação gelou-se no rosto do residente.
— Olá, você está de uma elegância) — disse Cooper. Não sabia que você ia fazer isso. Imagine que quase botei um sarong.
— Não tem a menor importância. Suponho que seus criados estavam muito ocupados.
— Não era necessário incomodar-se e vestir-se por minha causa.
— Não foi por sua causa. Visto-me sempre para o jantar. — Mesmo quando está sozinho?
— Especialmente quando estou sozinho — replicou o Sr. Warburton fitando-o tom frieza.
Surpreendendo uma cintilação maliciosa nos olhos de Cooper, enrubesceu, zangado. O Sr. Warburton era homem de temperamento ardente, como o revelava o rosto vermelho de feições marciais e os cabelos ruivos, agora já meio brancos; os olhos azuis, observadores e geralmente frios, sabiam fuzilar num acesso de ira. Mas era homem de sociedade e, pelo menos assim pensava, homem justo. Devia fazer o possível para se dar com aquele rapaz.
— Quando eu vivia em Londres, frequentava círculos em que não se vestir para o jantar cada noite seria tão extravagante como não se lavar cada manhã. Quando cheguei a Bornéu, não vi nenhum motivo para abandonar um hábito tão bom. Na época da guerra, durante três anos não vi um único homem branco" Nem por isso deixei de vestir-me uma única vez sequer, desde que me sentisse bastante bem disposto para ir jantar. Você não passou ainda muito tempo nesta terra; creia-me, não há meio melhor para a gente manter a confiança em si próprio, de que necessita. Quando um branco cede, por menos que seja, às influências que o rodeiam, em breve perde o respeito de si mesmo, e uma vez que perdeu o respeito de si mesmo, pode estar certo de que os nativos também não demorarão em faltar-lhe com o respeito.
— Bem, se você espera que com este calor eu ponha camisa engomada e colarinho duro, receio causar-lhe uma desilusão.
— Quando você jantar em seu próprio bangalô, vestirá naturalmente como bem entender; mas quando me der o prazer de jantar comigo, talvez acabe admitindo que não é excessiva cortesia usar o traje habitual na sociedade civilizada.
Dois criados malaios, de sarong e songkok, de lindos paletós brancos e botões de bronze, entrara um trazendo pahits de gim, outro uma bandeja com azeitona e enchovas. O Sr. Warburton lisonjeava-se com ideia de ter o melhor cozinheiro de Bornéu, um chinês, e dava-se muito incômodo para arranjar a melhor comida possível nas difíceis condições do lugar. Punha em prática muita habilidade para fazer o melhor uso dos seus materiais.
— Não quer examinar o menu? — perguntou, oferecendo-o a Cooper.
O cardápio estava escrito em francês e os pratos tinham nomes sonoros. O serviço era feito pelos dois criados. Em cantos opostos da sala dois outros agitavam imensos leques, pondo em movimento o ar abafado. A comida era suntuosa, o champanha excelente.
— Janta assim todos os dias? — perguntou Cooper. O Sr. Warburton deitou um olhar negligente ao menu. — Não notei que o jantar fosse diferente do costumeiro — disse. — Por mim, como muito pouco, mas faço questão de que me sirvam um jantar decente todas as noites. Assim o cozinheiro não perde a prática e é uma ótima disciplina para os criados.
A conversa arrastava-se. O Sr. Warburton era de uma cortesia esmerada, e talvez achasse um prazer algo malicioso em observar o encabulamento que isto causava ao seu companheiro. Cooper passara apenas poucos meses em Sembulu, e o Sr. Warburton não tardou a esgotar todas as perguntas sobre amigos que tinha em Kuala Solor.
— A propósito — recomeçou — não encontrou um rapaz chamado Hennerley? Deve ter chegado há pouco.
— Encontrei, sim. Está na polícia. É um sujeito muito ordinário.
— Nunca teria pensado que ele fosse isto. Seu tio é meu amigo Lord Barraclough. Ainda outro dia tive uma carta de Lady Barraclough pedindo-me que tomasse conta dele.
— Realmente, ouvi dizer que ele é aparentado com este ou com aquele. Suponho que foi assim que obteve o emprego. Ele esteve em Eton e Oxford, e não se esquece de fazê-lo saber . a todos.
— Você me surpreende — disse o Sr. Warburton. — Toda a família dele esteve em Eton e Oxford durante centenas de anos. Para mim, ele devia considerar isto uma coisa natural.
— Pois é um pedante danado. — Você, qual foi a escola que frequentou? — Eu nasci em Barbado. Formei-me lá. — Estou vendo. O Sr. Warburton conseguiu dar a essa breve resposta um caráter tão ofensivo, que Cooper corou e ficou um momento sem falar.
— Pois eu recebi duas ou três cartas de Kuala Solor — continuou o Sr. Warburton — e tinha a impressão de que o jovem Hennerley fizera muito sucesso. Dizem que é sportsman de primeira ordem.
— Ah, sim, é muito popular. É exatamente o camarada de que eles precisavam em K. S. Por mim, não tenho esse sportsman de primeira ordem em grande estima. Afinal de contas, que importa que um homem saiba jogar golfe ou tênis melhor do que os outros? Mesmo que no bilhar saiba fazer um furo de setenta e cinco, que é que tem? Eles lá na Inglaterra dão uma importância danada a essa besteira toda.
— Você acha? Pois eu tinha a impressão de que o sportsman de primeira ordem não se saíra da guerra pior do que outro qualquer.
— Se você toca em guerra, aí é que eu sei de que estou falando. Servi no mesmo regimento que Hennerley e posso dizer-lhe que os seus homens não podiam aturá-lo de maneira nenhuma.
— Como pode saber?
— Pois se eu mesmo fui um desses homens!
— Ah, você não teve patente?
— Muita oportunidade tive de ter patente. Eu era o que se chamava colonial. Não tinha estado em nenhuma public school e faltava-me pistolão. Todo o tempo daquela guerra dos diabos, passei nas fileiras!
Cooper franziu as sobrancelhas. Percebia-se-lhe nitidamente o esforço para não explodir em invectivas. O Sr. Warburton observava-o, apertando os olhinhos azuis, observava-o e julgava-o. Mudando de assunto, pôs-se a falar-lhe da tarefa que devia executar, e, quando o relógio bateu dez horas, levantou-se:
— Bem, não quero retê-lo mais tempo. Deve estar cansado da viagem.
Apertaram-se as mãos. — Ah! já me ia esquecendo. Escute — disse Cooper. — Talvez você me possa arranjar um criado. Aquele que eu tinha não apareceu mais desde que parti de K. S. Depois de levar para bordo a minha mochila e tudo mais, desapareceu. Só dei pela falta dele quando já descíamos o rio.
— Vou falar com meu mordomo. Sem a menor dúvida, encontrará alguém para você.
— Muito bem. Diga-lhe que me mande o rapaz, e se eu gostar da cara dele, topo.
A lua estava no céu, de modo que não se precisava de lanterna. Cooper saiu do Fortim e dirigiu-se ao seu bangalô.
— "Quero saber por que diabo eles me mandaram um camarada desses — refletia Warburton. — Se é essa a espécie de gente que eles nos vão mandar de agora em diante, estamos bem arranjados."
Foi dar um passeio no jardim. O Fortim estava construído no topo de um pequeno morro e o jardim descia até à margem do rio, onde havia um caramanchão. O residente costumava ir até lá depois do jantar, fumar o seu charuto. Mais de uma vez, do rio que lhe corria aos pés subia uma voz, a voz de algum malaio demasiado tímido para se aventurar a manifestar-se à luz do dia, e uma acusação ou uma queixa lhe chegava docemente aos ouvidos, uma informação ou um palpite útil, que de outra maneira nunca viria ao seu conhecimento, eram-lhe comunicados num sussurro. Jogou-se com todo o peso do corpo numa cadeira de rotim. Cooper! Um camarada invejoso, malcriado, intrometido, cheio de vaidade, convencido. Mas a irritação do Sr. Warburton não pôde resistir à silenciosa beleza da noite. O ar recendia às flores de doce perfume de uma árvore plantada à entrada do caramanchão; os vaga-lumes prosseguiam seu voo lento e prateado, cintilando com branda luz. A Lua desenhava na largo rio um caminho para os leves pés da noiva de Siva, e na margem oposta uma fila de palmeiras recortava sobre o céu sua delgada silhueta. A paz infiltrou-se na alma do Sr. Warburton.
Era uma criatura original, e tivera uma carreira bastante fora do comum. Aos vinte e um anos herdara considerável fortuna, de umas cem mil libras, e ao deixar Oxford atirara-se à vida alegre que nesse tempo (agora o Sr. Warburton tinha quarenta e cinco anos) se oferecia ao filho de uma boa família. Tinha seu apartamento em Mount Street, seu coche e, em Warwickshire, seu pavilhão de caça. Ia a todos os pontos de reunião da alta sociedade. Bonito, divertido e generoso, era uma figura da sociedade londrina do começo do século, quando ela ainda não perdera nem o exclusivismo nem o brilho. A guerra dos bôers, que a sacudira, já estava esquecida; a guerra mundial, que devia destruí-la, era profetizada apenas pelos pessimistas. Não era coisa desagradável ser um jovem rico naqueles dias, e durante a estação via-se sobre a lareira de Warburton um mundo de convites para saraus ininterruptos. Warburton exibia-os com certa satisfação, pois era um esnobe. Não um esnobe tímido, um pouco envergonhado de se deixar impressionar pelos seus superiores, nem um esnobe que procurasse a intimidade de pessoas que se houvessem tornado famosas na política ou nas artes, nem o esnobe deslumbrado pela riqueza; era o esnobe comum, simples e inadulterado, apaixonado por qualquer lorde. Melindroso e de gênio vivo, preferiria a repreensão de uma pessoa de qualidade à lisonja de um plebeu. Seu nome tinha um lugar insignificante no Peerage de Burke, e era divertidíssimo observar com que ingenuidade costumava lembrar o longínquo parentesco que o ligava à família nobre a que pertencia; entretanto, nunca disse palavra a respeito do honesto industrial de Liverpool a quem, por intermédio de sua mãe, Gubbins em solteira, devia a sua fortuna. Constituía o pesadelo de sua vida elegante pensar que em Cowes, por exemplo, ou em Ascot, enquanto conversasse com uma duquesa ou um príncipe de sangue real, um de seus parentes de Liverpool poderia querer vir conhecê-lo.
Essa fraqueza era tão óbvia que não tardaria a tornar-se notória, mas a sua extravagância salvou-a de ser simplesmente desprezível. Os :grandes que ele adorava riam dele, mas no íntimo do ser achavam tal adoração bastante natural. Pobre Warburton era um esnobe terrível, sem dúvida, mas afinal de contas não deixava de ser um ótimo camarada. Sempre estava pronto a endossar uma letra para um fidalgo sem dinheiro, e em caso de aperto a gente podia sempre contar com ele para uma centena de libras. Dava bons jantares. Jogava mal o whist, mas não se importava com o que perdia, contanto que a companhia fosse seleta. Jogador, sim, por sinal jogador infeliz, mas sabia perder, e era impossível não admirar a calma com que perdia de uma assentada quinhentas libras. A paixão das cartas, quase tão forte como a paixão dos títulos, arruinava-o. Levava uma vida dispendiosa, e suas perdas no jogo eram enormes. Porém as mais pesadas teve-as em: corridas e na Bolsa. Tinha certa simplicidade de caráter. e parceiros inescrupulosos encontravam nele uma presa ingênua. Não sei se chegou a compreender que seus amigos elegantes riam dele pelas costas, mas penso que um instinto obscuro lhe dizia que devia mostrar-se invariavelmente despreocupado de seus interesses. Caiu nas mãos de prestamistas. Aos trinta e quatro anos estava arruinado.
Demasiadamente imbuído do espírito de sua classe, não hesitou na escolha do que devia fazer. Quando a um homem de sua situação se esgotavam todos os recursos, ele ia para as colônias. Ninguém ouviu um lamento sequer do Sr. Warburton. Não se queixou por lhe haver um de seus amigos nobres aconselhado uma especulação desastrosa, não importunou a nenhum de seus devedores para lhe devolverem o dinheiro emprestado; pagou as suas dívidas (nisto foi o sangue menosprezado do fabricante de Liverpool que se manifestou, mas felizmente Warburton nem o suspeitava), não pediu ajuda a ninguém e, sem nunca ter feito qualquer trabalho, procurou um meio de vida. Permanecia alegre, indiferente e cheio de humor. Não seria ele que havia de incomodar fosse quem fosse com o relato de seus infortúnios. O Sr. Warburton era um esnobe, mas era também um gentleman.
O único favor que pediu a um dos grandes amigos com quem diariamente convivera durante vários anos foi uma recomendação. O sábio homem, que então era sultão de Sembulu, chamou-o a seu serviço. Na véspera de partir, foi jantar no clube pela última vez.
— Ouvi dizer que você vai embora, Warburton — disse-lhe o velho Duque de Hereford.
— É verdade. Parto para Bornéu. — Deus do Céu! Que é que você vai fazer lá? Oh, estou arrebentado... — Está mesmo? Pois sinto muito. De qualquer maneira, avise-nos quando voltar. Estimo que passe uma boa temporada.
— Sem dúvida. Caça não falta por lá.
O duque inclinou a cabeça e passou para outra mesa. Poucas horas depois o Sr. Warburton via a costa da Inglaterra desaparecer na névoa e deixava atrás de si — tudo o que, a seu ver, fazia a vida digna de ser vivida.
Haviam decorrido vinte anos. Ele mantinha animada correspondência com várias grandes damas, e suas cartas eram loquazes e divertidas. Nunca perdeu a paixão pelas pessoas de título; lia atentamente o noticiário do Times (que lhe chegava com seis semanas de atraso) sobre as idas e vindas dessa gente. Estudava a fundo a página consagrada aos nascimentos, falecimentos e enlaces, e nunca deixava de enviar a sua carta de parabéns ou de pêsames. Os jornais ilustrados informavam-no acerca do aspecto das pessoas, e, por ocasião de suas visitas periódicas à Inglaterra, quando retomava as suas relações como, se nunca se tivessem interrompido, informava-se a respeito de qualquer figura nova que aparecesse à tona da sociedade. O seu interesse pelas altas rodas continuava tão vivo como quando ele fazia parte delas. Continuava a achá-la a única coisa importante do mundo.
Insensivelmente, porém, outro interesse entrara na sua vida. A posição em que se encontrava lisonjeava-lhe a vaidade. Já não era o sicofanta que suspirava por um sorriso dos grandes, mas um senhor cuja palavra tinha força de lei. Gostava da guarda de soldados daiaques que apresentavam as armas quando ele passava; da possibilidade que tinha de julgar seus próximos; da faculdade de compor as desavenças de chefes rivais. Quando, já fazia tempo, os caçadores de, cabeças se haviam tornado incômodos, partira para castigá-los, não sem um estremecimento de orgulho. A vaidade extrema inspirava-lhe uma coragem intrépida, e corria uma história bonita sobre a maneira como entrara, de sangue frio, sozinho, numa aldeia fortificada de paliçadas, para reclamar a entrega de um pirata sedento de sangue. Tornara-se um administrador hábil; era severo, justo e honesto.
Aos poucos foi concebendo afeição profunda aos malaios. Interessou-se pelos seus costumes e hábitos. Não se cansava de ouvir-lhes a palestra, admirava-lhes as virtudes e perdoava-lhes os vícios com um sorriso e um encolher de ombros.
— No meu tempo — dizia — tive relações íntimas com alguns dos maiores gentlemen da Inglaterra, mas nunca encontrei gentlemen mais finos do que alguns malaios de honrosa descendência a quem sinto orgulho em chamar meus amigos.
Admirava a cortesia e as maneiras distintas dos indígenas, sua delicadeza e suas paixões rápidas. O instinto lhe ensinava exatamente como tratá-los. Tinha para com eles verdadeira ternura. Jamais esquecia, porém, que era um gentleman inglês, e não tinha indulgência com os brancos que adotavam costumes nativos. Incapaz de concessões, não imitou o exemplo de tantos outros brancos que se casavam com mulheres malaias, porque uma ligação de tal natureza, embora consagrada pelo uso, parecia-lhe falta não somente de bom gosto como também de dignidade. Um homem a quem Alberto Eduardo, príncipe de Gales, chamara de Jorge, não podia ter ligação de qualquer espécie com nativos.
Mas ultimamente, ao voltar a Bornéu, de suas visitas à Inglaterra, sentia uma espécie de alívio. Seus amigos, como ele mesmo, já não eram jovens, e havia uma geração nova que o considerava um velho cavalheiro enfadonho. Tinha a impressão de que a Inglaterra de hoje perdera grande parte do que ele amara na Inglaterra de sua mocidade. Mas Bornéu permanecia o mesmo. Era agora a sua pátria. Tencionava servir o maior tempo possível, e no íntimo do coração esperava morrer antes de ser forçado a retirar-se. Determinou, aliás, no seu testamento, que, morresse onde morresse, lhe trouxessem o corpo a Sembulu para enterrá-lo no meio daquele povo a quem amava, perto do murmúrio do rio que corria suavemente.
Mas estas emoções guardava-as bem escondidas aos olhos dos homens; e ninguém, vendo-o tão guapo, vigoroso e bem disposto, o rosto forte e bem barbeado e os cabelos branquejantes, podia-lhe suspeitar um sentimento tão profundo.
Sabia como o serviço do posto tinha de ser feito, e durante os dias seguintes acompanhou o assistente com olhos suspeitosos. Logo, porém, se convenceu de que era consciencioso e competente. A única falha que nele achava eram suas maneiras bruscas para com os nativos.
— Os malaios são ariscos e muito sensíveis — disse-lhe. — Penso que acabará persuadindo-se que a gente obtém resultados muito melhores se procura ser sempre cortês, paciente e bondoso.
Cooper soltou um riso curto e áspero: — Nasci em Barbados e fiz a guerra na África. Acho que há pouca coisa relativa aos negros que eu não saiba.
— Por mim, eu não sei nada — respondeu o Sr. Warburton, azedo. — Mas não é deles que estamos falando. Estamos falando de malaios.
— Será que eles não são negros? — Você é muito ignorante — respondeu o Sr. Warburton. E não disse mais nada. No primeiro domingo depois da chegada de Cooper, convidou-o para o jantar. Fazia tudo cerimoniosamente, e, embora na véspera se houvessem encontrado no escritório e depois, às seis horas, bebido juntos, na varanda do Fortim, gim e tônicos, mandou-lhe ao bangalô, por um criado, um convite polido. Cooper, se bem que de má vontade, veio de smoking, e o Sr. Warburton, conquanto satisfeito de ver atendido o seu desejo, observou com desdém que a roupa do jovem estava mal cortada e que a camisa não lhe assentava bem. Mas o residente estava de bom humor naquela noite.
— A propósito — disse-lhe ao apertar-lhe a mão. — Falei com o meu mordomo para que lhe arranjasse um criado, e ele recomendou o sobrinho. Vi-o e tenho a impressão de que é um rapaz vivo e de boa vontade. Deseja vê-lo?
— Tanto faz.
— Ele está esperando. O Sr. Warburton fez vir o seu mordomo e mandou-o chamar o sobrinho. Ao cabo de um momento apareceu um rapaz alto e esbelto, dos seus vinte anos. Tinha os olhos grandes e escuros e um bom perfil, ótima aparência no seu sarong, um pequeno casaco branco e um fez sem borla, de veludo cor de ameixa. Atendia pelo nome de Abas. O Sr. Warburton fitou-o com aprovação, e, à medida que lhe falava, num malaio fluente e correto, o seu tom insensivelmente se foi abrandando. Tinha certa inclinação para o sarcasmo nas relações com gente branca, mas com os malaios exibia uma feliz mistura de condescendência e gentileza. Estava no lugar do sultão. Sabia perfeitamente como devia preservar a sua própria dignidade e, ao mesmo tempo, como por um nativo à vontade.
— Serve? — perguntou o Sr. Warburton, voltando-se para Cooper.
— Serve. Isto é, não me parece mais patife do que qualquer outro dos seus patrícios.
O Sr. Warburton informou o rapaz que estava admitido e mandou-o embora.
— Você tem muita sorte em encontrar um criado destes — disse a Cooper. — Pertence a uma família muito boa, que veio de Malaca há perto de cem anos.
— Pouco me importa o criado que me limpa os sapatos e me traz uma bebida quando quero tenha ou não sangue azul nas veias. Só exijo é que faça o que eu lhe digo e cuide da sua tarefa.
O Sr. Warburton mordeu os beiços, mas não respondeu.
Foram jantar. A comida era excelente, o vinho bom. Graças à influência destes os dois conversaram não somente sem acrimônia, mas até com amizade. O Sr. Warburton gostava de tratar-se bem, e adotara o hábito de na noite de domingo tratar-se ainda um pouco melhor. Começou a pensar que não procedera bem com Cooper. Evidentemente, não era um gentleman, mas disso não tinha culpa, e conhecendo-o melhor a gente podia até descobrir que era um ótimo sujeito. Suas falhas, afinal de contas, deviam ser falta de educação. Inegavelmente fazia bem o seu serviço, era um trabalhador rápido, consciencioso e competente. Quando chegaram à sobremesa, o Sr. Warburton estava em boa disposição para com toda a humanidade.
— Como é o seu primeiro domingo aqui, vou-lhe dar um porto muito especial. Restam-me apenas umas duas dúzias de garrafas, e guardo-as para ocasiões especiais:
Deu instruções ao mordomo e em breve a garrafa chegou. Enquanto a abria, o Sr. Warburton observou o rapaz:
— Recebi este porto de meu velho amigo Charles Hollington. Ele o conservou durante uns quarenta anos, e já faz tempo que eu o conservo aqui. Era conhecido como dono da melhor adega da Inglaterra.
— É um vendedor de vinhos? — Não exatamente — sorriu o Sr. Warburton. — Estava falando de Lorde Hollington de Castle Reagh. É um dos pares mais ricos da Inglaterra. Um velho amigo com quem me dou muito. Estive em Eton com o irmão dele.
Era uma oportunidade a que o Sr. Warburton nunca sabia resistir, e logo contou uma pequena anedota cuja graça única parecia consistir no fato de ele haver conhecido um lorde. O porto, era ótimo sem dúvida alguma; bebeu um copo, depois mais um. Perdia toda a precaução. Havia meses que não falava com um branco. Começou a contar histórias, nas quais aparecia em companhia dos grandes. Ouvindo-o, a gente pensaria que em certa época se formavam os gabinetes e se decidia a política de acordo com a sugestão que ele soprava ao ouvido de uma duquesa ou atirava à mesa para ser adotada com gratidão por um conselheiro confidencial do soberano. Os dias de outrora, de Ascot, Goodwood e Cowes, reviviam. Mais um porto. E vinham os grandes saraus de Yorkshire e da Escócia, por onde ele andara todos os anos.
— Eu tinha então um camareiro, certo Foreman, o melhor dos que já me serviram. Sabe por que me deixou? Na sala do mordomo, as criadas das senhoras e os criados dos gentlemen sentam-se conforme a hierarquia de seus amos. Pois ele disse-me que estava farto de assistir a contínuos saraus em que eu era o único plebeu. É que ele tinha sempre de ficar na extremidade da mesa, e quando o prato lhe chegava os melhores bocados já se tinham sumido. Contei esta história ao velho Duque de Hereford, e ele riu muito. — "Por Deus — disse — se eu fosse rei da Inglaterra, nomearia você visconde somente para dar uma oportunidade ao seu criado." — "Senhor Duque — respondi — empregue-o no seu serviço. o melhor camareiro que eu já tive." — "Está certo, Warburton — concordou ele — se serve para você, deve servir para mim também. Mande-o um dia destes."
Depois vinha Monte Carlo, onde o Sr. Warburton e o grão-duque Fiodor, jogando de parceria, rebentaram a banca uma noite; e depois Marienbad. Em Marienbad o Sr. Warburton jogara bacará com Eduardo VII.
— É claro, nesse tempo ele era apenas príncipe de Gales. Parece-me que o estou ouvindo dizer-me: "Jorge, se você jogar no cinco, perderá até a camisa." Tinha razão. Penso até que ele nunca disse nada mais certo em toda a sua vida. Era um homem admirável. Eu sempre digo que era o maior diplomata da Europa. Mas naqueles dias eu não passava de um jovem maluco, não tinha juízo para seguir esse conselho. Se o tivesse feito, se nunca tivesse jogado no cinco, talvez não estivesse aqui hoje."
Cooper observava-o. Seus olhos castanhos, profundamente encaixilhados nas órbitas, tinham um olhar duro e arrogante, e nos lábios havia um sorriso de escárnio. Ouvira falar bastante acerca do Sr. Warburton em Kuala Solor. Era boa praça, sem dúvida, e percorria o seu distrito com a pontualidade de um relógio. Mas que esnobe, meu Deus! Riam dele sem malícia, pois era impossível não gostar de homem tão generoso e amável. Cooper já tinha ouvido a história do Príncipe de Gales e da partida de bacará. Mas escutava-o sem indulgência. Desde o começo ficara ressentido com as maneiras do residente.
Muito sensível, molestava-o o sarcasmo cortês do Sr. Warburton, bem como o seu jeito de acolher uma observação de que discordava com silêncio aniquilador. Cooper vivera pouco na Inglaterra, e tinha particular aversão aos ingleses. Detestava particularmente os ex-alunos das public schools, da parte dos quais sempre receava uma atitude protetora. Temia de tal maneira as pessoas que pudessem dar-se ares importantes com ele, que, para preveni-las, ele mesmo se deu primeiro tais ares que o fizeram passar por insuportavelmente presumido.
— Bem — disse afinal — de qualquer maneira a guerra nos fez um benefício: esfacelou o poder da aristocracia. A guerra dos bôers o fez estremecer, e 1914 acabou com ele.
— De fato, as grandes famílias da Inglaterra estão condenadas à morte — disse o Sr. Warburton com a complacente melancolia de um émigré que lembrasse a corte de Luís XV. — Já não tem recursos para viver nos seus esplêndidos palácios, e sua hospitalidade principesca daqui a pouco será apenas uma recordação.
— O que, para mim, é a coisa mais certa do mundo.
— Meu pobre Cooper, que pode saber você das glórias da Grécia e do esplendor de Roma?
O Sr.. Warburton esboçou um gesto largo. Por um instante seus olhos pareceram sonhadores, cheios de uma visão do passado.
Pois acredite que estamos fartos de toda esta podridão. O que a gente quer é um governo de negócios, com homens de negócios. Eu nasci numa colônia da Coroa, e praticamente passei toda a minha vida nas colônias. Não dou uma dúzia de alfinetes por um lorde. O que estraga a Inglaterra, é o esnobismo. E se há uma coisa que eu detesto neste mundo é um esnobe.
Um esnobe! O rosto do Sr. Warburton ruborizou-se; os olhos fuzilaram-lhe de raiva. Era a palavra que o perseguira durante a vida toda. As grandes damas cuja companhia desfrutava quando moço, embora não considerassem excessiva a conta em que ele as tinha, haviam-lhe atirado mais de uma vez — até às grandes damas acontece ficarem zangadas — essa palavra terrível. Sabia, não podia deixar de saber, que havia gente odiosa que o chamava esnobe. Como aquilo. era incorreto! Pois ele mesmo não conhecia defeito mais detestável que o esnobismo. Afinal de contas, gostava era de viver com gente da sua laia, não se sentia bem senão na companhia deles; mas, pelo amor de Deus, como é que alguém podia chamar a isso de esnobismo? Não eram aves da mesma plumagem?
— Estou perfeitamente de acordo com você — respondeu. — Um esnobe é um homem que admira ou menospreza outro por ser este outro de situação social mais elevada que a dele. É o defeito mais comum da classe média inglesa.
Percebeu nos olhos de Cooper uma centelha de malícia. O assistente levou a mão à boca para esconder um sorriso largo que lhe aflorava aos lábios, tornando-o assim bem mais perceptível. As mãos do Sr. Warburton tremiam um pouco.
Provavelmente Cooper nunca soube quão gravemente ofendera o seu chefe. Embora fosse ele mesmo muito sensível, mostrava estranha insensibilidade aos sentimentos dos outros.
O serviço forçava-os a se encontrarem de vez em quando durante o dia, e às seis horas reuniam-se para beber um copo na varanda do Sr. Warburton. Era um hábito já estabelecido na região, e que o Sr. Warburton não quebraria por nada neste mundo. Mas faziam as refeições separados, Cooper no seu bangalô e o Sr. Warburton no Fortim. Terminado o trabalho no escritório, iam passear até o cair da noite, mas passeavam separados. Havia poucas veredas na região, onde o mato cingia por todos os lados as plantações da aldeia, e quando o Sr. Warburton via, de longe, o seu assistente caminhar a passos largos e negligentes, preferia dar um rodeio a encontrá-lo. Cooper, com a sua falta de maneiras, com a alta opinião que tinha de seu próprio juízo e com a sua intolerância, acabara por enervá-lo; mas somente depois de ele já haver passado alguns meses no posto é que se deu um incidente que transformou a antipatia do residente em vivo ódio.
O Sr. Warburton foi obrigado a fazer uma viagem de inspeção, e deixou o posto ao cargo de Cooper com mais confiança, visto que se convencera definitivamente de que se tratava de um camarada competente. Só não gostava da sua falta de indulgência. Era honesto, justo e consciencioso, mas não tinha simpatia para com os nativos. O Sr. Warburton divertia-se com certa amargura ao ver que esse homem, que se considerava a si mesmo como igual a qualquer outro, considerava tantos outros homens como inferiores a ele. Era duro, não tinha paciência com a mentalidade indígena e aterrorizava. Não tardou o Sr. Warburton a notar que os malaios antipatizavam com ele e, ao mesmo tempo, o temiam. Isto não lhe desagradava de todo, pois não gostaria muito que a popularidade do seu assistente rivalizasse com a sua.
O residente fez, pois, os seus requintados preparativos, partiu para a expedição e voltou ao cabo de três semanas. Entretanto o correio tinha chegado. A primeira coisa que lhe feriu os olhos ao entrar em seu salão foi um monte de jornais abertos. Cooper, que fora ao seu encontro, entrou com ele. O Sr. Warburton voltou-se para um dos criados que tinham ficado atrás e perguntou-lhe severamente o que queriam dizer aqueles jornais abertos. Cooper apressou-se em dar uma explicação:
— Queria ler tudo sobre o assassinato de Wolverhampton, e por isso apossei-me de seus Times. Trouxe todos de volta. Sabia que não se importaria com isso.
O Sr. Warburton virou-se para ele, branco de raiva: — Pois eu me importo. Importo-me até muito.
— Então sinto muito — disse Cooper com compostura. — Mas o fato é que simplesmente não pude esperar até sua volta.
— Admira-me que não tenha também aberto as minhas cartas.
Cooper, imóvel, sorria da exasperação do chefe: — Vamos e venhamos, não é exatamente a mesma coisa. Afinal de contas eu não podia imaginar que você se importaria que eu olhasse seus jornais. Eles nada contêm de particular.
— Pois eu acho inconvenientíssimo que qualquer pessoa leia meus jornais antes de mim.
Aproximou-se do monte de jornais; havia uns trinta números no mínimo:
— Acho a sua conduta simplesmente impertinente. Estão todos misturados.
— É facílimo pô-los em ordem — ponderou Cooper. E acompanhou-o à escrivaninha.
— Não toque neles! — gritou o Sr. Warburton.
— Parece-me infantil fazer uma cena por uma coisa à toa como esta.
— Como se atreve a falar-me assim?
— Vá para o inferno! — disse Cooper.
E saiu bruscamente da sala. O Sr. Warburton, tremendo de raiva, ficou contemplando seus jornais. O maior prazer de sua vida fora destruído por aquelas mãos calosas e grosseiras. A maior parte das pessoas que vivem fora dos centros, quando o correio chega, rasgam com impaciência o invólucro dos seus jornais e, tomando os mais recentes, começam por percorrer as últimas notícias do país. Não era este o caso do Sr. Warburton. O seu jornaleiro tinha ordem de escrever na cinta de cada número a respectiva data. Ao chegar o pacote, o Sr. Warburton olhava para estas datas e numerava os exemplares com seu lápis azul. O mordomo, por sua vez, tinha ordem de por na varanda um exemplar todas as manhãs, com a taça de chá, e era para o Sr. Warburton um especial prazer rasgar a cinta enquanto servia a bebida, e ler o matutino. Dava-lhe isto a impressão de viver na Inglaterra. Cada segunda-feira lia o Times da segunda-feira de seis semanas atrás, e assim por diante a semana inteira. Nos domingos lia The Observer. Tal como o seu hábito de vestir smoking para o jantar, era mais um vínculo que o ligava à civilização. E orgulhava-se de, por mais interessantes que fossem as notícias, nunca ter cedido à tentação de abrir um jornal antes do tempo marcado. Durante a guerra a incerteza chegava a ser às vezes intolerável, e quando lhe acontecia ler que se iniciara um assalto, experimentava verdadeira agonia, à qual poderia ter escapado da maneira mais simples do mundo, abrindo o jornal do dia seguinte, que lá esperava numa prateleira. Fora a prova mais difícil a que já se tinha exposto, mas saíra-se dela vitoriosamente. E o louco daquele animal rasgara os lindos pacotes para saber se alguma horrível mulher matara ou não o seu hediondo marido.
O Sr. Warburton chamou o mordomo e pediu-lhe outras cintas. Dobrou os jornais tão bem quanto pôde, envolveu cada um deles com uma cinta e numerou-os. Mas era uma tarefa melancólica.
— Nunca o perdoarei — disse. — Nunca.
Naturalmente o mordomo o acompanhara na expedição; o Sr. Warburton nunca viajava sem ele, pois o rapaz sabia exatamente como ele queria as coisas e o residente não era da espécie de viajantes da jângal que consentem em desistir de parte de suas comodidades; entretanto, no período decorrido desde a sua chegada o mordomo já encontrara tempo de tagarelar um pouco nos quartos dos criados. Soube que Cooper tivera desinteligência com o pessoal. Todos o abandonaram, menos o jovem Abas. Abas queria ir-se embora também, mas, como fora colocado por seu tio conforme as ordens do residente, não se atreveu a partir sem a autorização do tio.
— Eu lhe disse que fez bem, Tuan — contou o mordomo. — Mas Abas está infeliz. Ele diz que o lugar não é bom e pergunta se pode partir com os outros.
— Não, ele deve ficar. O Tuan tem de ter criados. Os que partiram foram substituídos?
— Não, Tuan. Ninguém quer ir.
O Sr. Warburton franziu as sobrancelhas. Cooper era um insolente e um louco, mas, ocupando uma posição oficial, devia ter o número conveniente de criados. Não era possível que sua casa não fosse decentemente servida.
— Onde estão os homens que se foram?
— Estão no kampong.
— Procure-os hoje de noite e diga-lhes que espero que voltem à casa de Tuan Cooper amanhã bem cedinho.
— Eles dizem que não vão.
— Se eu mandar?
O mordomo estava com o Sr. Warburton fazia quinze anos e conhecia cada entonação da voz do amo. Não tinha medo dele, pois haviam atravessado juntos muitas dificuldades; uma vez, no mato, o residente salvara-lhe a vida, e em outra ocasião, arrastados os dois pela corrente, o residente se teria afogado no rio se não fosse o mordomo; sabia, porém, quando o residente devia ser obedecido sem questionar.
— Vou já ao kampong — disse. O Sr. Warburton esperou que o seu subordinado aproveitasse a primeira ocasião para se desculpar daquela grosseria; mas Cooper, como acontece aos homens de educação defeituosa, não tinha jeito para expressar um arrependimento. Assim, quando no dia seguinte se encontraram no escritório, não se referiu ao caso. Como o Sr. Warburton estivera fora durante três semanas, era indispensável conversarem demoradamente. No fim da palestra, o Sr. Warburton despediu-o:
— Muito obrigado. Acha que é só isso. Cooper voltou-se para sair, mas o Sr. Warburton deteve-o: — Ouvi dizer que teve algum desentendimento com o seu pessoal.
Cooper soltou um riso desagradável: — Tentaram me chantagear. Tiveram a insolência de fugir; todos, menos o incompetente do Abas... até compreendeu como estava bem de vida, mas eu aguentei o repuxo... Todos eles voltaram ao serviço.
— O que quer dizer com isso?
— Esta manhã todos estavam de volta, ocupados nas suas tarefas, o cozinheiro chinês e todos os demais. Todos estavam lá, como se nada houvesse acontecido. Até parecia que eles tinham direito ao lugar. Provavelmente acabaram compreendendo que não sou tão bobo como pensavam.
— Nada disso... Voltaram por minha ordem expressa.
Cooper corou levemente: — Gostaria muito que não se metesse nos meus assuntos particulares.
— Esses assuntos não são particulares. Se seus criados fogem, isso o torna ridículo. Você tem toda a liberdade de se tornar ridículo, mas não posso admitir que os outros escarneçam de você. É inadmissível que sua casa não seja convenientemente servida. Mal ouvi que seus criados o deixaram, dei-lhes ordem imediatamente para voltarem hoje de manhã. É só isso.
O Sr. Warburton fez um sinal com a cabeça para significar que a entrevista chegara ao fim. Mas Cooper não deu importância:
— Quer saber o que eu fiz? Chamei-os e despedi toda a corja. Dei-lhes dez minutos para saírem do cercado.
O Sr. Warburton encolheu os ombros: — O que o leva a pensar que encontrará outros?
— Mandei meu auxiliar cuidar do negócio.
O Sr. Warburton refletiu um instante: — Acho que você se comportou muito levianamente. Andará acertado se de agora em diante se lembrar de que os bons patrões fazem os bons criados.
— Tem mais alguma coisa para me ensinar?
— Gostaria de lhe ensinar modos, mas seria trabalho árduo e não tenho tempo a perder. Vou ver se lhe arranjo outro pessoal.
— Não se incomode por minha causa. Sou capaz de resolver o assunto sozinho.
O Sr. Warburton riu amarelo. Tinha a intuição de que Cooper antipatizava não menos com ele do que ele com Cooper, e sabia que não há nada mais irritante do que a gente se ver forçada a aceitar favores da pessoa que detesta.
— Permita-me dizer-lhe que não tem mais probabilidade de encontrar aqui, presentemente, criados malaios ou chineses do que um mordomo inglês ou um cozinheiro francês. Ninguém quererá servi-lo a não ser que eu mande. Quer que providencie?
— Não.
— Bem, como quiser. Até logo.
O Sr. Warburton acompanhou o desenvolvimento da situação com azedo humorismo. O auxiliar de Cooper foi incapaz de persuadir malaios, daiaques ou chineses a entrarem a serviço de tal patrão. Abas, o criado que lhe ficou fiel, só sabia cozinhar a comida nativa, e Cooper, embora não tivesse paladar fino, sentia a garganta revoltada com o eterno arroz. Não havia carregador de água, e no auge do calor Cooper precisava tomar vários banhos por dia. Xingava Abas, mas este lhe opunha uma resistência soturna, recusando-se a fazer mais do que julgava necessário. Era irritante saber que o rapaz não permanecia com ele senão a instâncias do residente. As coisas continuaram neste pé quinze dias, quando, certa manhã, encontrou em casa os mesmos criados a quem despedira. Teve um acesso de raiva, mas tomara juízo, e dessa vez deixou-os ficar, sem dizer uma palavra. Engolia a humilhação, mas o desprezo impaciente que sentira pelas idiossincrasias do Sr. Warburton transformou-se em ódio sombrio: com a peça que lhe pregara, o residente o tornara objeto de escárnio de todos os nativos.
Agora os dois homens já não tinham contato um com o outro. Romperam até o costume, consagrado pelo tempo, de beber às seis da tarde um copo com qualquer homem branco que estivesse no posto, independentemente de simpatias ou antipatias. Vivia cada um na sua própria casa como se o outro não existisse. Agora que Cooper entrara na rotina, pouco tinham que discutir no escritório. Os recados ao assistente, o Sr. Warburton mandava-os pela ordenança; as instruções, enviava-as em cartas formais. Viam-se constantemente, sem dúvida, mas não trocavam meia dúzia de palavras por semana. O fato de não poderem deixar de se ver enervava ambos. Incubavam o antagonismo, e o Sr. Warburton, ao dar seu passeio diário, não podia pensar em outra coisa senão no quanto detestava o assistente.
O que havia de espantoso era imaginar que, segundo todas as probabilidades, viveriam assim, encarando-se reciprocamente com aquela inimizade mortal, até o Sr. Warburton partir em licença, quer dizer, dali a uns três anos. Ele não tinha motivo para mandar uma queixa ao quartel-general, pois Cooper cumpria seu dever muito bem e naquele momento não era fácil encontrar gente. Chegavam-lhe, é verdade, algumas vagas queixas; alusões insinuavam que os nativos achavam Cooper muito áspero. Decerto havia entre eles um sentimento de insatisfação. Mas, do exame de casos concretos, tudo o que o Sr. Warburton podia concluir reduzia-se a isto: Cooper mostrara severidade nos casos em que a brandura não seria descabida ou se revelara insensível nas circunstâncias em que ele, Warburton, teria sido compreensivo; nada fizera, porém, que autorizasse uma repreensão. O Sr. Warburton, no entanto, vigiava-o. Muitas vezes o ódio torna os homens clarividentes: assim, tinha o residente a suspeita de que Cooper tratava os nativos sem consideração, embora dentro da lei, simplesmente por sentir que era este o melhor modo de exasperar o seu chefe. Um dia talvez se deixasse ir longe demais. Ninguém sabia melhor do que o Sr. Warburton quanto o calor incessante nos pode tornar irritáveis e como é difícil manter o autodomínio depois de uma noite passada em claro. Sorria consigo mesmo: cedo ou tarde, Cooper se entregaria em suas mãos.
Quando chegou afinal, a oportunidade, o Sr. Warburton riu alto. Cooper encarregava-se dos prisioneiros que faziam estradas, construíam barracas, remavam quando era necessário mandar o prahu rio acima ou rio abaixo, mantinham a cidade em ordem e ocupavam-se, em geral, de alguma tarefa útil. Os bem comportados até executavam serviços caseiros. Cooper apertava-os. Gostava de vê-los trabalhar, de descobrir tarefas para eles. Bem cedo os prisioneiros compreenderam que queriam empregá-los em trabalhos inúteis, e logo trabalharam mal. Cooper castigava-os prolongando as horas de trabalho, contra o regulamento. Mal informado da coisa, o Sr. Warburton, sem transmitir a informação ao subordinado, deu instruções para que se restabelecesse o horário antigo. Cooper, ao sair para seu passeio, ficou aturdido de ver os prisioneiros voltarem vagarosamente à cadeia; tinha dado ordens para que não cessassem o trabalho antes do anoitecer. Perguntou ao guarda de plantão por que terminavam mais cedo, e foi-lhe respondido que eram ordens do residente.
Branco de raiva, correu ao Fortim. O Sr. Warburton, em sua calça de linho irrepreensivelmente limpa e seu elegante capacete, de bengala na mão, ia saindo com seus cães, para dar a voltinha da tarde. Observara Cooper, e sabia que chegaria pelo caminho da margem do rio. Cooper subiu a escada aos saltos e enfrentou o residente:
— Gostaria de saber por que diabos você contrariou minha ordem de que os prisioneiros deviam trabalhar até as seis! — bradou, fora de si.
O Sr. Warburton escancarou seus frios olhos azuis e assumiu uma expressão de viva surpresa:
— Está doido? Ou será tão ignorante que não saiba que não se fala nesse tom com o superior?
— Vá para o inferno! Os prisioneiros são da minha alçada e você não tem o direito de se intrometer nisso. Faça você seu trabalho, e eu farei o meu. Não compreendo por que diabos quer me ridicularizar. Todos aqui ficaram sabendo que contrariou minha ordem.
O Sr. Warburton manteve-se imperturbável:
— Você não tinha o direito de dar a ordem que deu. Contrariei-a porque era dura e tirânica. Aliás, acredite-me, contribuí bem menos para torná-lo ridículo do que você mesmo.
— Você antipatizou comigo desde o momento em que cheguei aqui. Fez tudo para tornar minha situação insustentável, só porque eu não quis lamber suas botas. Você me apunhalou porque eu não quis bajulá-lo.
Balbuciando de raiva, Cooper aproximava-se de um terreno perigoso. Os olhos do Sr. Warburton, de repente, tornaram-se mais frios e mais penetrantes:
— Você está enganado. Vi que você é uma pessoa ordinária, mas fiquei inteiramente satisfeito com a maneira como desempenhava a sua tarefa.
— Você é um esnobe. Um esnobe danado. Viu que sou uma pessoa ordinária porque eu não tinha estado em Eton. Bem me disseram em K. S. o que me esperava. Então não sabe que é motivo de riso em toda a região? Não sei como não dei uma gargalhada quando você me contou sua famosa história sobre o príncipe de Gales. Que hilaridade no clube quando a contaram! Palavra de honra, prefiro ser o ordinário que sou a ser o esnobe que você é.
Desta vez tocara na ferida. — Se não sair da minha casa neste instante, desanco-o! — gritou o Sr. Warburton.
O outro aproximou-se dele e encarou-o de perto: — Pois me toque! Por Deus, gostaria de ver você bater em mim. Quer que lhe diga outra vez? Esnobe, esnobe.
Cooper tinha três polegadas a mais que o Sr. Warburton, e era moço, forte, musculoso. O Sr. Warburton era barrigudo e tinha cinquenta e quatro anos. Seu punho cerrado abateu-se, mas Cooper segurou-o pelo braço e empurrou-o para trás:
— Não seja louco. Lembre-se de que eu não sou um gentleman. Sei como usar as minhas mãos.
Soltou um grito inarticulado e, com uma careta no rosto pálido e anguloso, pulou as escadas da varanda. O Sr. Warburton, cujo coração, de raiva, batia nas costelas, caiu numa poltrona, exausto. Durante um terrível momento esteve a ponto de chorar. Mas de repente percebeu que o mordomo se achava na varanda, e instintivamente retomou o domínio de si mesmo. O criado avançou e trouxe-lhe um copo de uísque e soda. Sem uma palavra bebeu-o de um gole.
— O que quer me dizer? — perguntou ao rapaz, procurando forçar os lábios para um sorriso.
— Tuan, o Tuan assistente é um homem mau. Abas quer de novo deixá-lo.
— Diga que espere um pouco. Escreverei para Kuala Solor e pedirei que o Tuan Cooper vá para outro lugar.
— O Tuan Cooper não é bom com os malaios.
— Deixe-me.
O rapaz retirou-se em silêncio, deixando o Sr. Warburton sozinho com seus pensamentos. Via o clube de Kuala Solor, os homens sentados em torno da mesa, à janela, de roupas de flanela, forçados, com o cair da noite, a abandonar os terrenos de golfe e tênis, bebendo uísque e gin pahits e rindo enquanto contavam a famosa história do príncipe de Gales e dele, Warburton, em Marienbad. A vergonha e o sofrimento o esquentavam. Um esnobe! Todos eles o consideravam um esnobe. E ele que sempre os considerara ótimos rapazes, que sempre fora gentleman o bastante para não fazê-los se sentirem de segunda categoria! Agora odiava-os. Mas o ódio que eles lhe inspiravam nada era comparado ao que sentia em relação a Cooper. E se houvessem chegado às vias de fato, Cooper poderia ter lhe dado uma sova. Lágrimas de mortificação percorriam sua face vermelha e gorda. Ficou sentado ali horas a fio, fumando cigarros e cigarros e desejando estar morto.
Enfim o mordomo voltou e perguntou se não queria se vestir para o jantar.
Levantou-se da cadeira, cansado, pôs a camisa engomada e o colarinho alto: Sentou-se à mesa decorada com gosto, e era servido, como de costume, por dois criados, enquanto dois outros agitavam grandes leques. A uma distância de duzentas jardas, ali no bangalô, Cooper tomava uma refeição imunda, vestindo apenas um sarong e um baju, descalço, e, enquanto comia, lia provavelmente um romance policial.
Depois do jantar o Sr. Warburton sentou-se para escrever uma carta. O sultão estava ausente, mas ele escreveu, particular e confidencialmente, ao substituto. Cooper executava o seu trabalho muito bem, mas o fato era que não podia se dar com ele de modo nenhum. Ambos enervavam terrivelmente um ao outro, e por isso consideraria grande favor se Cooper pudesse ser transferido para qualquer outro posto.
Expediu a carta na manhã seguinte por um correio especial. A resposta veio ao cabo de uma quinzena, com a correspondência mensal. Era uma nota particular, concebida nestes termos:
"Meu Caro Warburton,
Não querendo responder-lhe oficialmente, escrevo-lhe em meu nome estas poucas linhas. Naturalmente, se você insistir, levarei o assunto ao sultão, mas acho que seria muito mais oportuno você deixar de mão o caso. Sei que Cooper é um diamante tosco, mas é um rapaz de valor, fez bem sua parte da guerra, e por tudo isso acho que lhe devemos dar todas as oportunidades. Parece-me que você é um pouco inclinado demais a atribuir importância à posição social das pessoas. Lembre-se de que os tempos mudaram. Sem dúvida, é uma coisa ótima alguém ser um gentleman, mas é ainda melhor ser competente e saber trabalhar. A meu ver, se você se mostrar tolerante, acabará se dando muito bem com Cooper.
Afetuosamente seu,
Richard Temple."
A carta caiu das mãos do Sr. Warburton. Era fácil ler nas entrelinhas. Dick Temple, que ele conhecia de vinte anos antes, Dick Temple, que procedia de uma família até muito boa de um dos condados, considerava-o um esnobe, e por isso não atendia ao seu pedido. O Sr. Warburton sentiu-se de repente sem ânimo de viver. O mundo de que ele fazia parte havia passado, e o futuro pertencia a outra geração, mais vulgar, representada por Cooper, a quem ele odiava de todo coração. Estendeu a mão para encher o copo. A esse gesto, o mordomo aproximou-se.
— Não sabia que você estava aqui.
O rapaz apanhou a carta no chão. Ah, era aquela que ele esperava!
— Será que o Tuan Cooper vai embora, Tuan?
— Não.
— Haverá uma desgraça.
Durante um momento as palavras não transmitiram nada a sua lassidão. Mas foi um momento só. Ergueu-se na poltrona e olhou para o rapaz com a mais viva atenção:
— Que quer dizer com isso?
— O Tuan Cooper não procede direito com Abas.
O Sr. Warburton encolheu os ombros. Poderia lá um homem da espécie de Cooper saber como tratar criados! Conhecia bem o tipo: ora seria grosseiramente familiar com eles, ora se mostraria rude e irrefletido.
— Então mande Abas voltar à família dele.
— O Tuan Cooper retém o salário dele para que ele não possa fugir. Faz três meses que não lhe paga nada. Digo-lhe que tenha paciência, mas ele está muito irritado e não quer ouvir meu conselho. Se o Tuan continuar a tratá-lo mal, haverá uma desgraça.
— Fez bem em me falar. Que louco! Conhecia tão mal os malaios que pensava poder maltratá-los sem consequências? Se um dia amanhecesse com um kriss nas costas, seria bem feito.
Sim, um kriss. O coração do Sr. Warburton como que ficou parado por um instante. Era só deixar as coisas seguirem seu curso normal, e um belo dia ficaria livre de Cooper. Lembrou-se da expressão "passividade magistral", e teve um leve sorriso. E o coração tornou a bater-lhe um pouco mais fortemente, pois via o homem a quem odiava de bruços numa das veredas da jângal, com uma faca enterrada nas costas: fim digno daquele valentão ordinário. O Sr. Warburton soltou um suspiro. Era seu dever avisá-lo; não podia deixar de fazê-lo. Escreveu uma breve nota formal a Cooper convidando-o a comparecer ao Fortim imediatamente.
Ao cabo de dez minutos Cooper estava diante dele. Desde o dia em que o Sr. Warburton quase lhe batera, não se falaram mais. Não o convidou a sentar-se.
— Queria me falar? — perguntou Cooper. Estava desalinhado, uma limpeza duvidosa. Tinha o rosto e as mãos cobertos de pústulas vermelhas, por haver coçado até sangrar os pontos da pele mordidos por mosquitos. O rosto comprido e chupado tinha um aspecto sombrio.
— Vim a saber que está novamente em desinteligência com os criados. Abas, sobrinho do meu mordomo, queixa-se de que você lhe retém o salário há três meses. Considero isso um procedimento sumamente arbitrário. O rapaz quer deixá-lo, e eu decerto não o reprovo. Tenho que insistir para que pague o que lhe deve.
— Eu não desejo que ele me deixe. Estou retendo o salário dele como garantia do seu bom comportamento.
— Você não conhece o caráter malaio. Os malaios são muito sensíveis às ofensas e ao ridículo. São apaixonados e vingativos. É meu dever avisá-lo que, se você empurrar esse moço além de certo ponto, correrá grande risco.
Cooper abafou um riso insolente: — O que acha que ele vai fazer?
— Acho que ele vai matá-lo.
— Que lhe importa isso?
— De fato, importa-me muito pouco — replicou o Sr. Warburton com um riso leve. — Suportaria com grande força de alma. Mas considero minha obrigação oficial dar-lhe um aviso oportuno.
— Pensa então que estou com medo de um maldito negro?
— Que esteja ou não, isso me é de todo indiferente.
— Pois fique sabendo de uma coisa. Eu sei muito bem cuidar dos meus negócios. Esse Abas é um malandro, um ladrão ordinário, e se continuar com suas macaquices, por Deus, vou torcer o pescoço dele.
— Era tudo o que eu tinha a dizer — declarou o Sr. Warburton. — Boa-noite.
Despediu-o com um gesto de cabeça. Cooper corou e, depois de ficar um momento sem saber o que fizesse ou dissesse, deu as costas e saiu da sala tropeçando. O Sr. Warburton ficou olhando com um sorriso glacial nos lábios. Cumprira seu dever. Mas o que teria pensado se soubesse que Cooper, de volta a seu bangalô, tão silencioso e triste, se atirara na cama e, perdendo toda a serenidade, em sua terrível solidão começara a chorar, com o peito sacudido por soluços dolorosos e as magras faces molhadas de lágrimas pesadas?
Depois, raras vezes o Sr. Warburton vira Cooper, e nunca mais lhe falara. Lia o seu Times todas as manhãs, executava seu trabalho no escritório, fazia exercícios, vestia-se para o jantar e ia sentar-se à margem do rio fumando seu charuto. Quando encontrava Cooper, fazia que não o via. Ambos, embora nem um instante sequer esquecessem a proximidade, agiam como se o outro não existisse. O tempo não lhes abrandava a animosidade. Cada um deles vigiava as ações do outro e sabia o que o outro estava fazendo. O Sr. Warburton, embora tivesse na mocidade sido um ótimo atirador, acabou, com os anos, por sentir certo horror a matar os bichos na jângal, ao passo que nos domingos e feriados Cooper saía sempre com sua espingarda. Se pegasse alguma coisa, era um triunfo sobre o Sr. Warburton; se não, o Sr. Warburton encolhia os ombros com um sorriso de desprezo. Esses caixeiros bancando sportsmen!
O Natal foi ruim para ambos. Jantaram sozinhos, cada qual no seu quarto, e embriagaram-se por gosto. Eram os dois únicos brancos num raio de duzentas milhas, e moravam à distância de um grito. No começo do ano Cooper pegou uma febre, e o Sr. Warburton, voltando a encontrá-lo, notou com surpresa como emagrecera. Tinha um aspecto doentio e gasto. A solidão, tanto menos natural quanto não era devida a uma necessidade, enervara-o totalmente. Ao Sr. Warburton, aliás, também, de tal modo que muitas vezes não conseguia dormir. Passava as noites em claro, meditando. Cooper bebia muito, e sem dúvida nenhuma a crise não se faria esperar; entretanto, em seus contatos com os nativos evitava cuidadosamente fazer qualquer coisa que o pudesse expor a uma repreensão do residente. Os dois homens estavam empenhados numa guerra terrível e silenciosa. Era como um teste de pertinácia. Passavam-se os meses, e nenhum dos dois dava sinais de enfraquecimento. Eram como homens que morassem em regiões de eterna escuridão, de alma oprimida à ideia de que o dia nunca raiaria para eles. Parecia que sua vida continuaria para sempre na monotonia soturna e repelente daquele ódio.
E quando, afinal, o inevitável aconteceu, golpeou o Sr. Warburton com toda a força de um acontecimento inesperado. Cooper acusou o criado Abas de ter-lhe roubado roupas, e como o rapaz negasse o roubo, pegou-o pela nuca e o fez rolar pelas escadas do bangalô. O rapaz pediu as contas, ao que Cooper lhe atirou ao rosto todas as afrontas que sabia. Se o encontrasse dentro do cercado ao cabo de uma hora, o entregaria à polícia. No dia seguinte o rapaz esperou-o fora do Fortim na sua passagem para o escritório, e pediu-lhe o ordenado outra vez. Cooper bateu-lhe no rosto com o punho cerrado. O criado caiu no chão e foi embora com o nariz gotejando sangue.
Cooper continuou e sentou-se à sua mesa. Mas não podia prestar atenção ao trabalho. O golpe que dera acalmou sua irritação e compreendeu que tinha se excedido. Estava aborrecido, sentia-se mal, miserável e sem ânimo. O Sr. Warburton trabalhava na peça contígua. Por um instante pensou em ir contar o que fizera. Fez um movimento com a cadeira, mas logo se lembrou do glacial desdém com que o residente escutaria a história. Parecia estar vendo seu sorriso protetor. Durante um momento receou o que Abas faria. Warburton tivera razão em avisá-lo. Suspirou. Que loucura acabara de cometer! Mas encolheu os ombros, impaciente. Não se importava com tudo aquilo: destino grandioso o que o esperava! Tudo aquilo era culpa de Warburton. Se não o tivesse acolhido com antipatia, nada teria acontecido. Desde o começo transformara sua vida num inferno, aquele esnobe. Mas todos eles eram assim... só porque ele, Cooper, era um colonial. Também que safadeza não lhe terem dado sua patente na guerra! Não se batera tão bem quanto qualquer outro? Todos eles não passavam de uma cambada de esnobes nojentos. Preferia levar o diabo a ceder. Sem dúvida, Warburton teria ciência do acontecido: o demônio do velho sabia de tudo. Mas não estava com medo. Nenhum malaio de Bornéu lhe metia medo, e Warburton que se danasse..
Tinha razão em pensar que o Sr. Warburton viria a saber de tudo. O mordomo contou-lhe o caso durante o lanche.
— Onde está agora o seu sobrinho?
— Não sei, Tuan. Foi embora.
O Sr. Warburton não falou mais. Depois do lanche dormiu um pouco, como de costume, mas desta vez acordou bem cedinho. Seus olhos se dirigiram maquinalmente para o bangalô onde Cooper descansava.
Idiota! O Sr. Warburton teve alguns momentos de hesitação. Sabia aquele homem o perigo que enfrentava? Devia chamá-lo. Cada vez, porém, que procurava raciocinar com Cooper, este o insultava. Uma onda de raiva brotou de repente do coração do Sr. Warburton: as veias sobressaíram em sua fronte e cerrou os punhos. Tinha advertido aquele grosseirão: agora, ele que aguentasse as consequências. Não tinha nada com isso, e se acontecesse alguma coisa não teria a menor culpa. Mas talvez eles lá em Kuala Solor acabassem por se arrepender de não haver, seguindo seu conselho, transferido Cooper para outro lugar.
Passou a noite numa inquietação estranha. Depois do jantar ficou passeando na varanda. Quando o criado ia se recolher, o Sr. Warburton perguntou-lhe se Abas tinha sido visto durante o dia.
— Não, Tuan. Acho que talvez tenha voltado à aldeia do irmão da mãe.
O Sr. Warburton lançou-lhe um olhar penetrante, mas o mordomo fitava a terra e os olhos dos dois não se encontraram. O Sr. Warburton desceu ao rio e foi sentar-se no caramanchão. A paz, porém, era-lhe negada. O rio corria num silêncio ominoso. Assemelhava-se a uma cobra enorme deslizando indolente em direção ao mar. As árvores da jângal, nas margens, estavam carregadas de intensa ameaça. Nenhum pássaro cantava. Nenhum sopro agitava as folhas das cássias. Tudo em torno dele parecia esperar alguma coisa.
Caminhou até à estrada, através do jardim. Dali avistava muito bem o bangalô de Cooper. Havia luz na sala, e os acentos de um ragtime flutuavam ao longo da estrada. Cooper fazia funcionar a vitrola. O Sr. Warburton estremeceu. Nunca pudera vencer uma instintiva antipatia contra esse ritmo. Não fosse isso teria ido falar com Cooper. Voltou e se deitou. Passou muito tempo lendo antes de conciliar o sono. Mas mal dormiu, teve sonhos terríveis, e de repente foi despertado por um grito. Sem dúvida, fazia parte dos sonhos, pois nenhum grito vindo de fora, do bangalô, por exemplo, podia ser ouvido no quarto de dormir. Passou o resto da noite em claro. Em certo momento ouviu um ruído de passos apressados e de vozes confusas, o mordomo penetrou repentinamente no quarto sem o fez na cabeça, e o coração do Sr. Warburton parou um instante:
— Tuan, Tuan!
O Sr. Warburton saltou da cama: — Já vou.
Calçou os chinelos, vestiu um sarong e de paletó do pijama entrou no cercado de Cooper. Este jazia no leito com a boca aberta, um kriss cravado no coração. Fora morto durante o sono. O Sr. Warburton estremeceu, não por não ter esperado espetáculo exatamente igual, mas por sentir em si uma exultação ardente e brusca. Seus ombros se aliviaram de um grande peso.
Cooper já estava frio. O Sr. Warburton retirou o kriss da ferida — a custo, pois fora cravado com extraordinária violência — e olhou-o. Reconhecia-o. A arma lhe tinha sido oferecida por um negociante semanas antes e sabia que Cooper a comprara.
— Onde está Abas? — perguntou com severidade.
— Abas está na aldeia do irmão da mãe.
O sargento da polícia nativa estava à cabeceira do leito: — Chame dois homens e vá à aldeia prendê-lo.
O Sr. Warburton fez o que era de necessidade imediata, dando ordens com ar firme, em palavras breves e peremptórias. Depois voltou ao Fortim. Fez a barba, tomou banho e entrou na sala de jantar. Ao lado do prato, o Times o esperava, envolto na cinta. Serviu-se de frutas, enquanto o mordomo derramava o chá e outro criado trazia um prato de ovos. O Sr. Warburton comeu com apetite. O mordomo esperava a seu lado.
— O que há? — perguntou o Sr. Warburton.
— Tuan, Abas, meu sobrinho, passou a noite toda na casa do irmão da mãe. Isto pode ser provado. O tio jura que ele não deixou o kampong.
O Sr. Warburton olhou para ele franzindo a testa, carrancudo:
— Tuan Cooper foi morto por Abas. Você sabe tão bem quanto eu. Deve-se fazer justiça.
— Tuan, não mandará enforcá-lo?
O Sr. Warburton hesitou um momento, e, posto que a voz se mantivesse firme e severa, vislumbrou-se uma alteração no seu olhar. Era apenas um rápido clarão instantâneo, mas o malaio notou e nos seus olhos acendeu-se um olhar interrogativo de compreensão.
— A provocação foi muito forte. Abas será condenado à pena de prisão.
Houve uma pausa, que o Sr. Warburton aproveitou para servir-se de compota.
— Depois que ele cumprir uma parte da sentença, vou colocá-lo em minha casa como criado. Você pode ensinar-lhe seus deveres. Não duvido que na casa do Tuan Cooper tenha adquirido maus hábitos.
— Abas deve se denunciar, Tuan?
— Seria conveniente.
O mordomo retirou-se. O Sr. Warburton pegou o Times, e com gesto elegante rasgou a cinta. Gostava de desdobrar as páginas pesadas, de ouvir seu sussurro. A manhã, fresca e pura, era uma delícia, e seus olhos passaram um bom momento percorrendo o jardim com olhar amigo. Seu espírito fora aliviado de um grande peso. Voltou às colunas em que se noticiavam os nascimentos, falecimentos e enlaces. Era o que sempre olhava primeiro. Um nome conhecido atraiu sua atenção. Finalmente Lady Ormskirk tivera um filho. Por Jorge!, a velha senhora deve ter ficado contente. Mandaria pelo próximo correio um bilhete de parabéns.
Abas daria um ótimo criado. Aquele imbecil do Cooper!
(Título original: The Outstation.)
A força das circunstâncias
Estava sentada na varanda, esperando o marido para o almoço. O criado malaio havia baixado as persianas quando a manhã começara a esquentar, mas Doris levantara parcialmente uma delas a fim de olhar para o rio, que tinha a branca palidez da morte sob o sol sufocante do meio-dia. Um nativo remava numa canoa tão pequena que mal aparecia à tona d'água. As cores do dia eram pálidas e cinéreas — nada mais que os cambiantes variados do calor. (Dir-se-ia uma melodia oriental, em tom menor, que exacerba os nervos com a sua ambígua monotonia; o ouvido aguarda impaciente uma resolução, mas debalde). As cigarras soltavam com frenética energia o seu apito estridente, contínuo e monótono como o sussurrar de um regato nas pedras. Mas de súbito abafaram-se os gorjeios sonoros de um pássaro, ricos e melífluos, e por um instante ela sentiu um aperto esquisito no coração, lembrando-se dos melros na Inglaterra.
Ouviu então os passos do marido no caminho de cascalho atrás do bangalô, o caminho que conduzia à casa do tribunal onde ele estivera trabalhando, e levantou-se da cadeira para recebê-lo. Ele subiu correndo a pequena escada — pois o bangalô era construído sobre pilares — e o criado recebeu-lhe das mãos, à porta, o capacete de cortiça. Entrou na peça que fazia as vezes de sala e de comedor e os seus olhos iluminaram-se de alegria ao vê-la.
— Alô, Doris. Estás com fome?
— Sinto uma fome de lobo. — Não levarei mais de um minuto para tomar banho, depois poderemos comer.
— Não demores — sorriu Doris.
Ele desapareceu no interior do quarto de vestir e ela ouviu-o assobiar alegremente ao mesmo tempo que arrancava as roupas do corpo e as atirava ao chão, com aquela negligência que Doris não cessava de lhe censurar. Tinha vinte e nove anos, mas ainda era um colegial; nunca se tornaria adulto. Fora talvez por isso que se enamorara dele, pois nem o amor mais apaixonado poderia convencê-la de que ele fosse bonito. Era um homenzinho redondo, com uma cara vermelha de lua cheia e olhos azuis. Tinha a pele cheia de espinhas. Doris examinara-o cuidadosamente e fora forçada a confessar que ele não possuía um único traço que se pudesse elogiar. Tinha-lhe dito muitas vezes que ele não era em absoluto o seu tipo.
— Eu nunca pretendi ser uma beleza — ria ele. — Não sei o que vejo em ti.
Mas está claro que o sabia muito bem. Ele era um homenzinho jovial que não levava nada muito a sério e ria constantemente. Fazia-a rir também. Achava a vida divertida e tinha um sorriso encantador. Quando estava com ele Doris sentia-se feliz e bem disposta. Comovia-se com a profunda afeição que lia naqueles alegres olhos azuis. Era muito bom ser amada assim. Certa vez, sentada no seu colo, durante a lua de mel, tomara-lhe o rosto nas mãos e lhe dissera:
— És um homenzinho gordo e feio, Guy, mas tens encanto. Não posso deixar de te amar.
Uma onda de emoção a invadiu e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Viu-lhe o rosto contorcer-se por um instante na veemência do seu sentimento, e foi em voz trêmula que ele respondeu:
— É um horror a gente descobrir que se casou com uma mulher mentalmente retardada.
Ela soltou um riso gutural. Era a resposta característica que esperava dele.
Custava crer que, nove meses atrás nem sequer sabia da sua existência. Conhecera-o numa pequena praia onde estava passando um mês de férias com a mãe. Doris era secretária de um parlamentar. Guy estava na Inglaterra em licença. Os dois se achavam hospedados no mesmo hotel e ele não tardou a contar-lhe toda a sua existência. Tinha nascido em Sembulu, onde seu pai servira durante trinta anos sob o segundo sultão, e ao deixar a escola entrara para o mesmo serviço. Tinha grande apego ao país em que vivia.
— Afinal sou um estrangeiro aqui — disse ele a Doris. — Minha terra é Sembulu.
E agora Sembulu era a terra dela também. Findo o mês de férias, Guy a pedira em casamento. Era a filha única de uma viúva e não podia afastar-se para tão longe, mas quando chegou o momento, sem compreender bem o que se passava consigo, deixou-se empolgar por uma emoção inesperada e aceitou. Fazia já quatro meses que estavam instalados naquele pequeno posto das selvas, que ele dirigia. Doris sentia-se muito feliz.
Disse-lhe uma vez que estivera resolvida a recusá-lo. — Lamentas não ter feito isso? — perguntou ele com um alegre sorriso nos olhos azuis e cintilantes.
— Teria sido a maior idiotice da minha vida. Que sorte o destino, o acaso ou o que quer que seja ter intervindo e resolvido o assunto por mim!
Ouviu Guy descer a escada que levava ao quarto de banho. Era um homem barulhento e mesmo com os pés descalços não sabia andar em silêncio. Mas ao chegar lá embaixo soltou uma exclamação. Pronunciou duas ou três palavras no dialeto local, que ela não compreendia. Ouviu então alguém falar-lhe, não em voz alta mas num murmúrio sibilante. Francamente, era uma importunação porem-se à sua espera para lhe falar quando ele ia tomar banho. Guy tornou a falar e, embora o fizesse em voz baixa, ela percebeu que ele estava agastado. A outra voz subiu de tom: era uma voz de mulher. Doris imaginou que se tratasse de uma queixa qualquer. Estava nos hábitos das mulheres malaias aproximarem-se daquela forma sub-reptícia. Mas pelo visto ela não conseguiu grande coisa com Guy, pois Doris ouviu este dizer: "sai daqui". Estas palavras ao menos ela compreendeu. Depois ouvi-o fechar a porta e correr o ferrolho. Começou a lavar-se com ruído (Doris ainda achava graça no sistema da terra: os banheiros ficavam ao nível do solo, embaixo do quarto de dormir; entrava-se numa grande tina com água e enxaguava-se o corpo com um baldinho), e dentro de dois minutos tornou a aparecer na sala de jantar. Ainda trazia os cabelos úmidos. Sentaram-se para o almoço.
— Felizmente eu não sou desconfiada nem ciumenta — riu ela. — Não sei se devo aprovar essas animadas palestras com senhoras enquanto tomas banho.
O rosto de Guy, de ordinário tão alegre, tinha uma expressão mal-humorada ao entrar, mas já se desanuviara.
— Não gostei muito de encontrá-la lá embaixo.
— Foi o que depreendi do tom da tua voz. Achei mesmo que foste um pouco áspero com a moça.
— Que raio de atrevimento por-se à espera da gente assim!
— O que ela queria?
— Ah! não sei. É uma mulher do kampong. Teve uma briga com o marido ou coisa que o valha.
— Será a mesma que andava por aí hoje de manhã?
Ele franziu levemente o sobrolho. — Alguém andava por aí?
— Sim, eu entrei no teu quarto de vestir para ver se tudo estava bem arrumadinho, depois desci ao banheiro. Notei que alguém saía esgueirando-se pela porta enquanto eu descia a escada, prestei atenção e vi que era uma mulher.
— Falaste-lhe?
— Perguntei-lhe o que queria e ela respondeu alguma coisa, mas não entendi.
— Não vou consentir que toda espécie de vagabundos andem rondando a minha casa — disse ele. — Essa gente não tem o direito de vir aqui.
Sorriu, mas Doris, com a aguda percepção de uma mulher enamorada, reparou que ele sorria apenas com os lábios e não também com os olhos, como lhe era habitual, e perguntou de si para si o que o estaria aborrecendo.
— Que fizeste esta manhã? — perguntou ele?
— Ora, pouca coisa. Fui dar uma volta.
— Pelo kampong?
— Sim. Vi um homem que fez um macaco acorrentado trepar numa árvore para apanhar cocos e achei isso emocionante.
— Um número, não é mesmo?
— Mas Guy, entre os meninos que estavam olhando havia dois muito mais claros do que os outros. Seriam mestiços, por acaso? Falei-lhes, mas não entendiam uma palavra de inglês.
— Há duas ou três crianças mestiças no kampong — respondeu Guy.
— A quem pertencem elas?
— A mãe é uma das garotas da aldeia.
— Quem é o pai?
— Oh, minha querida, essa é uma pergunta que achamos um pouco perigoso fazer por estas bandas. — Guy fez uma pausa. — Muitos têm mulheres nativas e depois, quando voltam para a Inglaterra ou se casam, dão-lhes uma pensão e as mandam de volta para a aldeia.
Doris refletiu. A indiferença com que ele falava lhe parecia um tanto calejada. Foi quase com um franzir de sobrolho no seu rosto franco, aberto e bonito de jovem inglesa que ela perguntou:
— Mas e quanto aos filhos?
— Tenho certeza de que não lhes falta nada. De acordo com os seus recursos, o homem em geral trata de que sejam decentemente instruídos. Eles conseguem lugares de escriturários nas repartições do governo, sabes? Vivem muito bem.
Ela dirigiu-lhe um sorriso em que havia um leve toque de tristeza.
— Não podes esperar que eu ache o sistema excelente.
— Não deves ser muito dura — respondeu ele, retribuindo-lhe o sorriso.
— Não estou sendo dura, mas dou graças por não teres tido uma mulher malaia. Como isso seria detestável! Imagina se aqueles dois garotinhos fossem teus...
O criado mudou os pratos. O menu da casa nunca variava muito. Começavam o almoço com um peixe do rio, completamente insípido, sendo necessário acrescentar-lhe boa quantidade de "ketchup" a fim de torná-lo aceitável ao paladar, depois passavam a um ensopado qualquer. Guy temperou-o com molho inglês.
— O velho sultão dizia que isto não era terra para mulheres brancas — prosseguiu daí a pouco. — Até animava, os homens a... viverem em companhia de mulheres nativas. A situação, está claro, já não é a mesma. O país está completamente pacificado e acho que nós já aprendemos a enfrentar o clima.
— Mas Guy, o mais velho desses meninos não tinha mais de sete ou oito anos e o outro tinha uns cinco!
— Leva-se uma vida muito solitária nestes postos da selva. Muitas vezes um branco passa seis meses inteiros sem ver outro branco. A gente vem para cá ainda guri. — Deu-lhe aquele sorriso encantador que transfigurava o seu rosto redondo e feio. — Há certas atenuantes, sabes?
Sempre achara irresistível esse sorriso. Era o melhor argumento de Guy. Os olhos dela fizeram-se novamente doces e ternos.
— Não duvido que haja. — Estendeu a mão por cima da mesa e pousou-a sobre a dele. — Tive muita sorte em apanhar-te tão moço. Francamente, seria para mim um choque terrível ouvir dizer que tinhas vivido assim.
Ele tomou-lhe a mão e apertou-a na sua.
— És feliz aqui, meu bem?
— Incrivelmente feliz.
Estava muito fresca e bonita no seu vestido de linho. O calor não a abatia. Não possuía mais que a louçania da mocidade, embora os seus olhos castanhos fossem bonitos; mas tinha uma cativante franqueza de expressão e os seus cabelos escuros e curtos eram lustrosos e trazia-os bem penteados. Dava a impressão de uma moça animosa e ao vê-la adquiria-se a convicção de que o parlamentar para quem trabalhara tivera nela uma secretária muito competente.
— Enamorei-me desta terra à primeira vista — disse ela. — Apesar de ficar tanto tempo sozinha não me aborreci uma única vez.
Havia, naturalmente, lido romances que se passavam no Arquipélago Malaio e formara a impressão de uma terra sombria, atravessada por grandes rios ameaçadores e coberta de uma selva silenciosa, impenetrável. Quando o pequeno vapor de cabotagem os deixou na boca do rio, onde um grande bote tripulado por uma dúzia de daiaques os esperava para conduzi-los ao posto, ela foi tomada de assombro ante a beleza do cenário, que lhe pareceu acolhedor e não terrificante. Tinha uma alegria que ela não esperava, uma alegria que lembrava o gorjeio jovial dos pássaros nas árvores. Em ambas as margens cresciam mangues e nipas, e por trás ficava o verde espesso da floresta. Ao longe estendiam-se montanhas azuis, serras e mais serras até onde podia alcançar a vista. Doris não teve uma impressão de clausura ou de melancolia, mas antes de um espaço amplo e livre em que a fantasia exultante podia vaguear deleitada. O verde reluzia ao sol e o céu respirava alegria. Aquela terra benévola parecia oferecer-lhe uma acolhida sorridente.
Continuavam a remar, costeando uma das margens. Um casal de pombos passou por cima deles, voando muito alto. Um relâmpago de cor, qual joia viva, cruzou-lhes o caminho. Era um martim-pescador. Dois macacos estavam sentados num galho, um ao lado do outro, com as caudas pendentes. No horizonte, do outro lado do rio largo e turvo, além da selva, via-se uma série de nuvenzinhas brancas, as únicas que havia no céu; dir-se-ia uma fila de bailarinas, vestidas de branco, vivas e folgazãs, a esperar no fundo do palco que subisse a cortina. O coração de Doris encheu-se de júbilo; e nesse momento, recordando-se daquilo tudo, seus olhos pousaram no marido com uma afeição reconhecida e confiante.
E como fora divertido arrumar a sala de estar! Era muito espaçosa. Quando ela chegou havia no assoalho uma esteira suja e rasgada; nas paredes de tábuas sem pintura estavam penduradas (demasiado alto) reproduções fotográficas de quadros da Academia, escudos daiaques e parangs. Toalhas de tecido daiaque, em cores sombrias, forravam as mesas sobre as quais repousavam objetos de bronze de Brunei, em grande precisão de limpeza, latas de cigarros vazias e pedaços de prata malaia. Havia uma tosca prateleira com edições baratas de romances e alguns velhos livros de viagem com maltratadas encadernações de couro; outra prateleira estava repleta de garrafas vazias. Era uma habitação de solteiro, desarranjada e fria; e, embora a fizesse sorrir, pareceu-lhe intoleravelmente patética. Guy levava ali uma existência desolada, sem conforto. Doris rodeou-lhe o pescoço com os braços e beijou-o.
— Meu pobre querido! — exclamou rindo.
Era muito habilidosa e não tardou a tornar a peça habitável. Arrumou uma coisa aqui, outra ali, eliminando o que não pode aproveitar. Os presentes de núpcias prestaram grande auxílio. Ficou uma sala de estar acolhedora e confortável, com maravilhosas orquídeas em vasos de vidro e enormes arbustos em flor dentro de grandes cachepots. Ela sentia um orgulho desmedido de possuir a sua casa (até então só tinha vivido em mesquinhos apartamentos) e de tê-la tornado encantadora para ele.
— Estás satisfeito comigo? — perguntou-lhe ao terminar.
— Muito — sorriu Guy.
Esta resposta propositadamente circunspecta era, na opinião dela, um grande elogio. Que delícia compreenderem-se tão bem! Ambos eram avessos a externar qualquer emoção e só em raros momentos deixavam o seu tom costumeiro de caçoada irônica.
Acabaram de almoçar e ele estirou-se numa espreguiçadeira para fazer a sesta. Doris tomou o caminho do seu quarto. Admirou-se um pouco quando, ao passar pelo marido, este a puxou para si e, obrigando-a a curvar-se, beijou-a nos lábios. Não tinham o hábito de trocar essas manifestações de carinho a qualquer hora do dia.
— A barriga cheia te põe sentimental, meu pobre rapaz — caçoou ela.
— Vai-te daqui e que eu não torne a por-te os olhos em cima, pelo menos durante duas horas.
— Não vás roncar.
Deixou-o. Tinham-se levantado ao nascer do sol. Dentro de cinco minutos estavam ferrados no sono.
Doris foi despertada pelo barulho que o marido fazia no banheiro. As paredes do bangalô formavam uma espécie de caixa de ressonância e nada do que um deles fazia passava despercebido ao outro. Sentia muita preguiça para se mexer, mas ao ouvir o criado por a mesa para o chá saltou da cama e desceu correndo para o seu banheiro particular. O contato da água fresca era delicioso. Quando entrou na sala Guy estava tirando as raquetes das prensas, pois eles jogavam tênis à tardinha, quando o ar começava a refrescar. A noite caía às seis horas.
A quadra de tênis ficava a duzentos ou trezentos metros do bangalô. Depois do chá, ansiosos por não perder tempo, dirigiram-se para lá.
— Olha — disse Doris, — lá está a garota que eu vi hoje de manhã.
Guy voltou-se com um movimento vivo. Seus olhos pousaram um momento na mulher nativa, mas não disse nada.
— Que sarong bonito ela tem! — observou Doris. — Onde será que o arranjou?
Passaram por ela. Era pequena e esguia, com os olhos rasgados, escuros e cintilantes da sua raça, e uma grande cabeleira cor de azeviche. Ficou imóvel ao vê-los passar, encarando-os de forma estranha, Doris percebeu então que ela não era tão moça quanto lhe parecera a princípio. Tinha as feições um tanto maciças e a pele escura, mas era muito bonita. Segurava um bebê nos braços. Doris sorriu de leve ao vê-lo, mas o rosto da mulher permaneceu impassível. Não olhava para Guy, apenas para Doris, e ele seguiu o seu caminho como se não a tivesse visto. Doris voltou-se para o marido.
— Não achas essa criança um encanto?
— Não reparei.
O aspecto do seu rosto a intrigou. Estava branco e as espinhas que tanto a afligiam pareciam mais vermelhas do que nunca.
— Notaste as mãos e os pés dela? Parecem os de uma duquesa.
— Todos os nativos têm mãos e pés bonitos — respondeu ele, mas sem a sua jovialidade habitual. Era como se falasse forçado. Mas Doris tinha o pensamento em outra parte.
— Quem será ela? Não sabes?
— É uma das garotas do kampong.
Tinham chegado à quadra. Ao dirigir-se para a rede a fim de verificar se estava bem esticada, Guy olhou para trás. A mulher — continuava no mesmo lugar. Os olhares de ambos se cruzaram.
— Queres que eu sirva? — perguntou Doris.
— Sim, as bolas estão do teu lado.
Jogou muito mal. Costumava dar-lhe quinze pontos de vantagem e vencer, mas nessa tarde ela ganhou com facilidade. Além disso, jogou em silêncio. Em geral era ruidoso, gritando sem cessar, amaldiçoando-se quando perdia uma bola e zombando dela quando colocava uma fora do seu alcance.
— Você não está em forma, moço — gritou-lhe Doris.
— Que esperança! — disse ele.
Começou a rebater as bolas com violência, tentando derrotá-la, e deu com todas elas na rede. Doris nunca o tinha visto com uma expressão tão dura. Seria possível que ele estivesse raivoso por estar jogando mal? Caiu o crepúsculo e cessaram de jogar. A mulher continuava exatamente na mesma posição e mais uma vez olhou-os passar com uma cara inexpressiva.
Os criados já haviam erguido as persianas da varanda e sobre a mesa, entre as duas espreguiçadeiras, achavam-se algumas garrafas e um sifão. Era a essa hora que tomavam o primeiro drink do dia. Guy misturou dois gin slings. O vasto rio estendia-se diante deles e a selva, na outra margem, estava envolta no mistério da noite que se aproximava. Um nativo remava sem ruído contra a corrente, com dois remos, em pé à proa do bote.
— Joguei como um idiota — disse Guy, rompendo o silêncio. — Estou um pouco esquisito hoje.
— Sinto muito. Espero que não seja alguma febre.
— Oh, não. Amanhã estarei de novo bem disposto.
Fecharam-se as trevas. As rãs coaxavam sonoramente e de quando em quando se ouviam as notas breves de algum pássaro noturno. Vaga-lumes atravessavam a varanda e davam as Arvores . próximas a aparência de pinheiros de Natal, iluminados por velas pequeninas, envoltos numa suave cintilação. Doris julgou ouvir um pequeno suspiro. Isso a deixou vagamente perturbada. Guy era sempre tão alegre!
— Que é, meu rapaz? — perguntou com doçura. — Conte pra mamãe.
— Não é nada. Hora de outro drink — respondeu ele em tom animado.
No dia seguinte recuperara a costumeira alegria. Chegou a correspondência. O vapor costeiro passava pela foz do rio duas vezes por mês, a primeira rumo às minas de carvão e a segunda voltando de lá. Na viagem de ida trazia correspondência, que Guy mandava buscar num bote. Essa ocasião constituía o grande acontecimento daquelas existências monótonas. Durante um ou dois dias limitavam-se a correr os olhos por tudo quanto havia chegado, cartas, jornais ingleses e jornais de Singapura, revistas e livros, reservando para as semanas seguintes uma leitura mais detida. Arrancavam-se das mãos os periódicos ilustrados. Se Doris não estivesse tão absorta, teria notado talvez que se operara uma transformação em Guy. Ter-lhe-ia — sido difícil descrevê-la e ainda mais difícil explicá-la. Os olhos dele tinham uma expressão vigilante e os seus lábios uma leve contração de ansiedade.
Depois, volvida talvez uma semana, certa manhã em que ela estava sentada na penumbra da sala, a estudar uma gramática malaia (pois tratava diligentemente de aprender a língua) ouviu um tumulto no pátio. Distinguiu a voz do criado da casa que falava em tom irado, a voz de outro homem, talvez o aguadeiro, e a de uma mulher, estridente e injuriosa. Pareceu-lhe que os contendores chegavam às vias de fato. Foi até à janela e abriu os postigos. O aguadeiro segurava uma mulher pelo braço e a arrastava para fora, enquanto o criado a empurrava por trás com ambas as mãos. Doris reconheceu imediatamente a mulher a quem tinha visto uma manhã a vadiar pelo pátio e, na tarde do mesmo dia, perto da quadra de tênis. Ela apertava contra o peito uma criança de colo. Todos três berravam furiosos.
— Parem! — gritou Doris. — Que estão fazendo?
Ao som da sua voz o aguadeiro soltou repentinamente a mulher e esta, ainda empurrada por trás, caiu ao chão. Fez-se um silêncio súbito e o criado da casa, carrancudo, fitou os olhos no espaço. O aguadeiro hesitou um instante, depois escapuliu-se. A mulher pôs-se em pé devagar, ajeitou a criança nos braços e ficou impassível, encarando Doris. O criado disse-lhe alguma coisa que esta não poderia ter ouvido mesmo que compreendesse a língua. A mulher não demonstrou por qualquer alteração da sua fisionomia que essas palavras lhe diziam respeito, mas foi retirando-se vagarosamente. O criado seguiu-a té o portão. Quando voltou Doris o chamou, mas o homem fez-se desentendido. Ela estava começando a zangar-se; tornou a chamá-lo em tom mais áspero.
— Venha cá imediatamente!
Ele enveredou de súbito para o bangalô, evitando o olhar irado da patroa. Subiu os degraus e deteve-se à porta. Olhou para ela com expressão mal-humorada.
— Que estava fazendo com aquela mulher? — perguntou ela bruscamente.
— Tuan disse: não deixa ela vir aqui.
— Você não deve tratar uma mulher desse modo. Não admito isso. Vou contar ao Tuan o que vi você fazer.
O criado não respondeu. Desviou o olhar, mas Doris sentiu que ele a observava por entre as compridas pestanas. Mandou-o embora.
— Bem, é só.
Ele virou-se sem dizer uma palavra e voltou para os aposentos dos criados. Doris estava exasperada e não pôde mais concentrar a atenção nos exercícios de malaio. Pouco depois o criado veio pôr a mesa para o almoço. De súbito dirigiu-se para a porta.
— O que é? — perguntou ela.
— Tuan vem vindo. Saiu para receber o chapéu das mãos de Guy. O seu ouvido aguçado distinguira o som de passos antes que ela pudesse percebê-lo. Guy não subiu imediatamente os degraus como costumava fazer; demorou-se um pouco e Doris imaginou logo que o criado descera ao seu encontro para informá-lo do incidente daquela manhã. Deu de ombros. Evidentemente, o malaio queria ser o primeiro a dar a sua versão do caso. Mas ficou assombrada quando Guy entrou. Estava mortalmente pálido.
— Santo Deus, Guy, que foi que houve?
O rosto dele fez-se de súbito muito vermelho.
— Nada. Por quê?
A surpresa de Doris foi tamanha que o deixou passar para seu quarto sem dizer uma palavra daquilo que pretendia comunicar-lhe assim que ele chegasse. Guy demorou-se mais tempo que de costume para tomar banho e trocar de roupa. Quando entrou o almoço estava na mesa.
— Guy — disse ela ao sentarem-se —, aquela mulher que vimos no outro dia esteve aqui novamente hoje de manhã.
— Foi o que me contaram.
— Os criados a estavam tratando com brutalidade. Tive de intervir. Positivamente, deves falar a esse respeito.
Embora o malaio entendesse muito bem o que ela dizia, não deu sinal de ter ouvido. Estendeu-lhe tranquilamente as torradas.
— Ela foi avisada de que não devia vir aqui. Mandei que a pusessem para fora se tornasse a aparecer.
— Era preciso que fossem tão brutais?
— A mulher não queria ir. Não acho que eles tenham sido mais brutais do que o necessário.
— É um horror ver tratarem assim uma mulher. Ela tinha uma criança de colo nos braços.
— Não é bem uma criança de colo. Já tem três anos.
— Como sabes disso?
— Conheço-a muito bem. Ela não tem o menor direito de vir aqui amolar a paciência de todo mundo.
— O que ela quer?
— Quer fazer exatamente o que fez: provocar escândalo. Doris guardou silêncio por alguns instantes. O tom do marido a surpreendia. As respostas deste eram concisas. Falava como se ela não tivesse nada que ver com tudo aquilo. Achou-o um tanto ríspido. Estava nervoso e irritadiço.
— Duvido que possamos jogar tênis esta tarde — disse ele. — Está me parecendo que vamos ter uma tormenta.
Quando ela acordou já tinha começado a chover e era impossível sair. Durante o chá Guy esteve silencioso e pensativo. Doris foi buscar as suas costuras e pôs-se a trabalhar. Ele sentou-se para ler os jornais ingleses que ainda não tinha percorrido da primeira à última página; mas estava desassossegado; começou a caminhar de um lado para outro no vasto aposento, depois saiu para a varanda. Olhou a chuva que não queria parar. Em que estaria pensando? Doris sentia uma vaga inquietação.
Só depois que jantaram ele se resolveu a falar. Durante a frugal refeição procurara mostrar-se tão alegre como de costume, mas o esforço era visível. A chuva cessara e a noite estava estrelada. Foram sentar-se na varanda. A fim de não atrair os insetos tinham apagado a lâmpada na sala de estar. Lá embaixo, com uma indolência possante e formidável, silencioso, misterioso e fatal, o rio rolava as suas águas. Tinha a terrível resolução e a inexorabilidade do destino.
— Doris, tenho uma coisa para te contar — falou ele de súbito.
Fê-lo numa voz muito estranha. Seria fantasia ou ele estava mesmo tendo dificuldade em controlar essa voz? O coração de Doris confrangeu-se por vê-lo tão angustiado. Tomou-lhe docemente a mão, mas ele retirou-a.
— A história é um tanto longa. Infelizmente não é muito bonita e acho difícil contar-te. Peço-te que não me interrompas nem digas nada enquanto eu não houver terminado.
Ela não podia distinguir-lhe o rosto na escuridão, mas sentia que ele devia ter uma expressão torturada. Não respondeu uma palavra. Guy falava em voz tão baixa que mal quebrava o silêncio da noite.
— Eu tinha apenas dezoito anos quando vim para cá, diretamente da escola. Passei três meses em Kuala Solor, depois fui enviado para um posto das margens do rio Sembulu. Havia ali, está claro, um residente com a esposa. Eu morava na casa do tribunal, mas fazia as refeições com eles e passava lá os serões. Foi uma temporada muito agradável. Então o sujeito que estava aqui adoeceu e teve de voltar para a Inglaterra. Estávamos com falta de homens por causa da guerra e nomearam-me seu substituto. Era muito moço, é claro, mas falava a língua como um nativo e eles não tinham esquecido o meu pai. Fiquei radiante por me ver dono de mim mesmo.
Calou para bater a cinza do cachimbo e tornar a enchê-lo. Quando acendeu o fósforo Doris notou, sem olhar para ele, que a sua mão tremia.
— Nunca tinha vivido sozinho. Em casa, naturalmente, tinha meu pai, minha mãe e em geral uma empregada. Na escola, está visto, não faltavam companheiros. Tanto durante a viagem como em Kuala Solor e no meu primeiro posto, estive sempre cercado de gente branca: Era como se estivesse ainda em família. Parecia viver sempre no meio de uma multidão. Gosto de ter companhia. Sou um camarada barulhento. Gosto de me divertir. Tudo me faz rir, e a gente precisa ter alguém com quem rir. Mas aqui era diferente. De dia estava tudo muito bem: eu tinha o meu serviço e podia conversar com os daiaques. Embora ainda se dedicassem à caça de cabeças naquela época e eu tivesse algumas amolações com eles de vez em quando, eram uns tipos muito decentes.. Dava-me muito bem com eles. Gostaria, é claro, de ter um branco com quem cavaquear, mas a companhia dos daiaques sempre era melhor do que nada e para mim a coisa se tornava mais fácil porque eles não me consideravam como um estranho. Além disso eu gostava do serviço. De noite é que era um tanto triste ficar sentado na varanda sozinho, tomando, o meu gim, mas sempre havia o recurso da leitura. Depois os empregados malaios andavam por aí. O meu criado particular chamava-se Abdul. Tinha conhecido meu pai. Quando me cansava de ler, era só dar um grito e podia entreter o tempo com ele.
“As noites é que davam cabo de mim. Depois do jantar os empregados fechavam tudo e iam dormir no kampong. Eu ficava completamente só. Não se ouvia um ruído no bangalô, a não ser de vez em quando o grito do chikchak. Vinha de repente, no meio do silêncio, e me fazia pular. Ouvia lá no kampong o som de um gongo ou o espoucar dos fogos chineses. Estavam se divertindo bem perto de mim e eu tinha de ficar onde estava. Cansava-me de ler. Não poderia me sentir mais preso se estivesse na cadeia. Aquilo se repetia noite após noite. Experimentava tomar dois ou três uísques, mas não há muita graça em beber sozinho e isso não me animava; só conseguia me deixar indisposto no dia seguinte. Experimentei deitar-me logo depois de jantar, mas não podia dormir. Ficava estendido na cama, sentindo cada vez mais calor, e o sono nada de vir... No fim não sabia o que fazer. Safa, que noites compridas! Andava tão abatido e tão amargurado que às vezes — hoje me rio ao pensar nisso, mas eu tinha então apenas dezenove anos e meio — que às vezes me punha a chorar.
“Pois bem, uma noite, depois do jantar, Abdul tirou a mesa e quando ia sair tossiu para me chamar a atenção. Perguntou-me se não achava triste passar as noite sozinho em casa. "Oh, não, isso não é nada", disse eu. Não queria que ele soubesse o papel ridículo que eu estava fazendo, mas creio que ele sabia muito bem. Ficou ali parado, sem falar, e percebi que o rapaz queria me dizer alguma coisa. "Que é?" perguntei-lhe. "Desembuche logo." Então ele disse que se eu quisesse uma garota para viver comigo em casa, ele sabia de uma que estava disposta. Era uma pequena muito boazinha e ele podia recomendá-la. Não me daria incômodo algum e seria uma companhia para mim no bangalô. Podia consertar as minhas roupas... Eu estava horrivelmente deprimido. Tinha chovido o dia inteiro e não pude fazer nenhum exercício. Sabia que ia passar horas e horas sem conseguir dormir. Ele me disse que aquilo não me sairia muito caro, a família da pequena era pobre e contentar-se-ia com um pequeno presente. Duzentos dólares de Singapura. "O senhor olha", disse ele. "Se não gostar manda embora." Perguntei onde estava ela. "Aqui mesmo. Vou chamar." Dirigiu-se para a porta. Ela estava esperando nos degraus, com a mãe. Entraram e sentaram-se no chão. Dei-lhes uns doces. A pequena estava acanhada, é claro, mas bastante senhora de si, e quando lhe falei ela sorriu para mim. Era muito moça, quase uma criança; disseram-me que tinha quinze anos. Era muito bonita e tinha posto a sua melhor roupa. Pusemo-nos a conversar. Ela falava pouco, mas ria muito quando eu caçoava com ela. Abdul disse que quando a pequena me conhecesse melhor eu ia ver que não lhe faltava assunto. Mandou-a vir sentar-se ao meu lado. Ela fez um risinho e recusou, mas a mãe lhe disse que viesse e eu me arredei para lhe dar lugar na cadeira. A pequena corou e riu, mas veio e aninhou-se junto a mim. O criado riu também. "Está vendo, ela já simpatizou consigo. Quer que ela fique?" "Você quer ficar?" perguntei à garota. Ela escondeu o rosto no meu ombro, rindo-se. Era uma criaturinha suave e pequenina. "Está bem, então que fique", disse eu.”
Guy curvou-se para diante e serviu-se de uísque e soda. — Posso falar agora? — perguntou Doris. — Espera um instante, ainda não terminei. Eu não tinha nenhum amor a ela, nem mesmo no começo. Só a aceitei para ter uma companhia no bangalô. Creio que se não fosse isso eu teria enlouquecido, ou então daria para beber. Tinha chegado ao limite da minha resistência. Era muito moço para viver completamente só. Nunca amei ninguém senão a ti. — Hesitou um momento. Ela viveu aqui até o ano passado, quando fui à Inglaterra em licença. É a mulher que tens visto a rondar pelo kampong.
— Sim, eu já tinha adivinhado. Ela levava uma criança nos braços. É teu filho?
— Sim. Uma menina.
— É a única?
— No outro dia viste dois meninos no kampong. Falaste-me deles.
— Então ela tem três filhos?
— Tem.
— És um verdadeiro pai de família.
Doris percebeu o gesto brusco que lhe arrancou esta observação, mas ele não disse nada.
— Ela não sabia que estavas casado senão quando apareceste aqui de repente com uma mulher branca?
— Sabia que eu ia me casar.
— Quando o soube?
— Mandei-a de volta para a aldeia antes de partir. Disse-lhe que estava tudo terminado e dei-lhe o que lhe tinha prometido. Ela não ignorava que aquilo era apenas um arranjo temporário. Eu já estava farto. Disse-lhe que ia casar com uma mulher branca.
— Mas nessa ocasião ainda não me conhecias.
— Sim, bem sei. Mas tinha resolvido casar durante a minha estada na Inglaterra. — Guy soltou aquele seu costumeiro risinho gutural. — Confesso-te que já começava a desanimar quando te conheci. Enamorei-me de ti à primeira vista e compreendi que havias de ser tu ou ninguém mais.
— Por que não me contaste isso? Não achas que seria mais justo dar-me um ensejo de julgar por mim mesma? Não te ocorreu que seria um choque para uma moça vir a descobrir que o seu marido tinha vivido dez anos com outra mulher e tinha três filhos dela?
— Não podia esperar que tu compreendesses. As condições aqui são muito especiais. Esse é o procedimento habitual. Cinco homens em seis fazem a mesma coisa. Pareceu-me que ficarias chocada e não quis te perder. É que eu estava tão apaixonado por ti! E ainda estou, querida. Nada levava a crer que tu virias a descobrir essa história. Eu não esperava voltar para cá. É raro que um homem volte para o mesmo posto depois de uma licença. Quando chegamos, ofereci dinheiro a ela com a condição de que se mudasse para outra aldeia. No princípio ela concordou, mas depois mudou de ideia.
— Por que me contas isso agora?
— Ela anda fazendo as cenas mais pavorosas. Não sei como descobriu que tu ignoravas a história, mas assim que o fez começou a fazer chantagem comigo. Arrancou-me um horror de dinheiro. Dei ordens para que não a deixassem entrar no pátio. Esta manhã ela fez aquele escândalo só para te chamar a atenção. Queria me amedrontar. Isso não podia continuar assim. Achei que a única solução era confessar tudo de vez.
Depois que ele terminou fez-se um longo silêncio. Finalmente pousou a mão sobre a dela.
— Tu compreendes, não é verdade, Doris? Reconheço que fui culpado.
Doris não moveu a mão, que ele sentiu fria debaixo da sua.
— Ela tem ciúme?
— Sem dúvida, tinha toda sorte de proveitos quando vivia aqui e deve andar descontente por ter perdido a chuchadeira. Mas assim como eu não lhe tinha amor também ela nunca o teve a mim. As mulheres nativas nunca se interessam realmente pelos homens brancos, sabes?
— E as crianças?
— Oh, as crianças não passam necessidade. Eu as sustento. Assim que os garotos tiverem bastante idade vou pô-los na escola em Singapura.
— Não representam nada para ti?
Ele hesitou. — Quero ser inteiramente franco contigo. Eu sentiria muito se lhes acontecesse alguma desventura. Quando o primeiro estava para chegar julguei que lhe teria muito mais afeição do que tinha à mãe. Creio que isso teria acontecido se ele fosse branco. Está claro que em pequenino era muito engraçadinho, muito tocante, mas eu não tinha a impressão de que era meu. Creio que é isso mesmo: não sinto que eles me pertencem. As vezes me tenho censurado isso porque me parecia desnaturado, mas a verdade é que eu os vejo com tanta indiferença como se fossem filhos de um outro. A gente ouve dizer muita sandice a respeito de filhos, por parte de pessoas que nunca tiveram nenhum.
Doris já ouvira tudo. Guy esperou que ela falasse, porém ela não disse nada. Ficou imóvel na sua cadeira.
— Desejas saber mais alguma coisa, Doris? — disse ele por fim.
— Não. Estou com um pouco de dor de cabeça. Acho que vou me deitar. — Sua voz era firme como sempre. — Não sei bem o que dizer. É natural, isso foi tão inesperado... Preciso que me dês tempo para refletir.
— Estás muito zangada comigo?
— Não, de modo algum. Só que... necessito ficar algum tempo sozinha. Não te mexas. Vou para a cama.
Levantou-se da espreguiçadeira e pousou-lhe a mão no ombro.
— A noite está muito quente. Gostaria que fosses dormir no teu quarto de vestir. Boa-noite.
E se retirou. Ele a ouviu fechar à chave a porta do quarto. No outro dia estava pálida e Guy compreendeu que ela não tinha dormido. A sua atitude não revelava ressentimento. Falava como de costume, mas sem espontaneidade; tocava num assunto e noutro como se estivesse conversando com um estranho. Nunca tinham brigado, mas pareceu a Guy que aquele era o tom em que ela falaria se houvessem tido um desentendimento e a subsequente reconciliação a deixasse ainda ofendida. A expressão dos seus olhos o intrigava; tinha a impressão de ler neles uma espécie de temor. Logo depois do jantar ela disse:
— Não me sinto muito bem esta noite. Acho que vou direito para a cama.
— Oh, minha pobrezinha, como eu lamento isso! — exclamou ele.
— Não é nada. Dentro de um ou dois dias estarei boa.
— Mais tarde vou lá para dizer boa noite.
— Não, não vás. Quero ver se durmo logo.
— Bem, então dá-me um beijo antes de ir. Viu-a corar. Pareceu hesitar um instante, depois, desviando os olhos, curvou-se para ele. Guy tomou-a nos braços e procurou-lhe os lábios, porém ela desviou o rosto e ele beijou-a na face. — Doris afastou-se depressa e ele ouviu mais uma vez a chave girar de mansinho na fechadura. Deixou-se cair pesadamente na cadeira. Tentou ler, mas o seu ouvido estava atento aos menores ruídos no quarto da esposa. Esta dissera que ia deitar-se, mas ele não a ouviu mexer-se. Aquele silêncio lhe provocava um nervosismo inexplicável. Tapou a lâmpada com a mão e notou que havia luz debaixo da porta: ela não havia apagado o seu lampião. Que estaria fazendo? Guy largou o livro. Não se teria surpreendido se ela se encolerizasse e fizesse uma cena, ou se houvesse chorado; saberia enfrentar uma situação dessas; mas a calma de Doris o assustava. Depois, que significava aquele medo que ele percebera com tanta clareza nos seus olhos? Tornou a pensar em tudo quanto lhe havia dito na noite anterior. Como expor o caso de outro modo? Afinal de contas, o principal era que ele tinha feito o mesmo que faziam todos e a coisa já estava terminada muito tempo antes de conhecê-la. É verdade que via agora ter procedido como um tolo, mas é errando que se aprende. Guy pôs a mão no peito. Que dor esquisita sentia ali! Deve ser isto o que querem dizer quando falam em ter o coração partido — disse com seus botões. — Quanto tempo isso vai durar?
Devia bater na porta e dizer que precisava falar com ela? Era melhor que tudo se esclarecesse de uma vez. Tinha de fazê-la compreender. Mas o silêncio o atemorizava. Nem um ruído! Talvez fosse melhor deixá-la em paz. Fora um choque para ela, naturalmente. Devia dar-lhe o tempo que ela quisesse. Afinal, Doris sabia quão extremosamente ele a amava. Paciência, nada mais; talvez ela estivesse procurando vencer a crise sozinha; devia dar-lhe tempo; devia ter paciência.
Pela manhã perguntou a ela se tinha dormido melhor. — Sim, muito melhor — respondeu ela.
— Estás muito zangada comigo? — perguntou Guy com um ar lastimoso.
Doris deu-lhe um olhar claro e franco. — Nem um pouco.
— Oh, minha querida, que alegria para mim! Fui um bruto, um animal. Sei que deves ter achado isso odioso. Mas. perdoa-me, por favor. Ando tão amargurado!
— Eu te perdoo, sim. Nem sequer te censuro.
Ele fez-lhe um sorrisinho triste. Os seus olhos tinham a expressão de um cão batido.
— Não achei muito agradável dormir sozinho estas duas noites.
Doris desviou os olhos e o seu rosto tornou-se um pouco mais pálido.
— Mandei tirar a cama do meu quarto. Tomava muito espaço. Mandei pôr uma caminha de campanha no lugar dela.
— Minha querida, que estás dizendo...
Então Doris pousou nele o olhar firme. — Não quero mais viver contigo como tua mulher.
— Nunca mais?
Ela sacudiu a cabeça. Guy olhou-a com expressão intrigada. Mal podia dar crédito ao que ouvia. O seu coração começou a bater com força, dolorosamente.
— Mas isso é uma grande injustiça que me fazes, Doris!
— Achas que era muito justo trazer-me para cá em semelhantes circunstâncias?.
— Mas tu disseste que não me censuravas!
— Isso é bem verdade, mas a outra coisa é diferente. Não me seria possível fazê-lo.
— Mas como vamos viver juntos desta forma?
Doris pôs os olhos no chão e pareceu refletir profundamente.
— Ontem à noite, quando quiseste me beijar nos lábios, eu... quase tive náuseas.
— Doris!
Ela fitou-lhe de repente um olhar frio e hostil.
— A cama em que eu dormia não era a cama em que ela teve esses filhos? — Viu-o corar violentamente. — Oh, isso é horrível! Como pudeste fazer uma coisa dessas? — Doris torceu as mãos e os seus dedos vergados, torturados, pareciam cobras se enroscando. Mas fez um grande esforço e dominou-se. — Minha decisão está tomada. Não quero ser dura contigo, mas há certas coisas que não podes exigir de mim. Já ponderei tudo isso. Desde que me contaste não tenho pensado em outra coisa, noite e dia, até ficar exausta. O meu primeiro impulso foi levantar e ir embora imediatamente. O vapor estará aí em dois ou três dias.
— Então o meu amor nada significa para ti?
— Sim, eu sei que tu me amas. Não vou embarcar. Quero dar uma oportunidade a nós. Eu te queria tanto, Guy! — Sua voz quebrou-se, porém ela não chorou. — Desejo razoável. Sabe Deus que eu não quero ser injusta contigo. Tu me darás tempo, Guy?
— Não entendo bem o sentido do que dizes.
— Apenas quero que me deixes tranquila. Tenho medo dos meus próprios sentimentos.
Não se enganara, pois... ela estava de fato atemorizada.
— Que sentimentos?
— Por favor, não me perguntes. Não quero dizer nada que possa ofender-te. Talvez ainda consiga vencê-los. Deus sabe quanto eu o desejo. Vou tentar. Dá-me seis meses. Farei tudo que puder por ti, menos essa coisa. — Doris fez um gesto de súplica. — Nada impede que sejamos felizes juntos. Se tu me amas de verdade, hás de... hás de ter paciência.
Ele deu um profundo suspiro.
— Muito bem. Naturalmente não desejo forçar-te a fazer uma coisa que não te agrade. Seja como queres.
Ainda ficou alguns instantes pesadamente sentado, como se houvesse envelhecido de repente e lhe custasse um grande esforço mover-se. Por fim levantou-se.
— Vou indo para o escritório.
Pegou o chapéu de cortiça e saiu. Passou-se um mês. As mulheres sabem esconder o que sentem melhor do que os homens e um estranho que os visitasse nunca teria adivinhado que Doris tinha, um aborrecimento sequer. Mas em Guy a tensão era visível; o seu rosto redondo e bem-humorado alongara-se e os seus olhos tinham uma expressão faminta e torturada. Observava Doris. Ela mostrava-se alegre e caçoava com ele como costumava fazer outrora. Jogavam tênis e conversavam sobre isto e aquilo. Mas era evidente que ela estava apenas representando um papel e finalmente, incapaz de conter-se por mais tempo, ele tentou falar mais uma vez das suas relações com a malaia.
— Ora, Guy, é inútil voltarmos a esse assunto — respondeu Doris jovialmente. — Já ficou dito tudo que havia para dizer a esse respeito e eu não te culpo de nada.
— Por que me castigas, então?
— Meu pobre rapaz, eu não quero castigar-te. Não tenho culpa se... — Deu de ombros. — A alma humana é muito esquisita.
— Não te entendo.
— Não procures entender. Estas palavras, que poderiam ter parecido ríspidas, ela as adoçou com um sorriso afável e amigo. Todas as noites, ao recolher-se, inclinava-se sobre Guy e beijava-o de leve na face. Tocava-lhe apenas com os lábios. Era como uma mariposa que roçasse por ele no seu voo.
Passou-se o segundo mês, o terceiro, e de súbito acabaram aqueles seis meses que tinham parecido tão intermináveis. Guy se perguntou se ela ainda se lembraria. Prestava agora uma atenção concentrada a tudo o que ela dizia, a cada expressão do seu rosto, a cada gesto das suas mãos. Doris continuava impenetrável. Tinha-lhe pedido seis meses; pois bem, ele lhos dera.
O vapor de cabotagem passou pela foz do rio, deixou o correio e seguiu o seu curso. Guy empregou-se diligentemente em escrever as cartas que ele levaria na viagem de regresso. Passaram-se dois ou três dias. Era uma terça-feira e o prau partiria na quinta ao amanhecer, para esperar o vapor. A não ser às horas de refeição, quando Doris se esforçava por animar a conversa, pouco se falavam nos últimos tempos. Depois do jantar, como de costume, cada um apanhou o seu livro e pôs-se a ler. Mas quando o criado acabou de tirar a mesa e foi embora Doris largou o seu.
— Guy, eu tenho uma coisa para te dizer. O coração de Guy deu um salto repentino e ele sentiu-se mudar de cor.
— Oh, meu bem, não faças essa cara, a coisa não é tão terrível — riu ela.
Mas ele julgou distinguir um leve tremor na sua voz.
— E então?
— Quero pedir-te uma coisa.
— Minha querida, eu farei tudo neste mundo por ti. Estendeu a mão para tomar a dela, mas Doris retirou a sua.
— Quero que me deixes ir para casa.
— Tu! — exclamou Guy, consternado. — Quando? Por quê?
— Já suportei esta situação o mais que podia. Estou no fim das minhas forças.
— Quanto tempo queres ficar por lá? Para sempre?
— Não sei. Acho que sim. — E, cobrando decisão: — Sim, para sempre.
— Oh, meu Deus!
Sua voz embargou-se e ela julgou que ele fosse chorar.
— Oh, Guy, não me censures. Sinceramente, não é minha culpa. Não posso proceder de outro modo.
— Tu me pediste seis meses. Aceitei as tuas condições. Não podes dizer que eu te haja importunado.
— Não, não!
— E Procurei ocultar o quanto isso me era penoso.
— Eu sei. Sou muito grata. Foste imensamente bom para mim. Escuta, Guy, eu quero te dizer mais uma vez que não te censuro uma só das coisas que fizeste. Afinal eras um rapaz novo e procedeste como todos procediam; eu sei o que é esta solidão daqui. Oh, meu caro, como eu te lastimo! Desde o começo compreendi isso. Foi por essa razão que te pedi seis meses. O bom senso me diz que estou fazendo de um argueiro um cavaleiro. Não sou razoável; estou sendo injusta contigo. Mas é que o bom senso não tem nada com o caso; toda a minha alma está em revolta.. Quando vejo essa mulher e as crianças na aldeia as minhas pernas se põem a tremer. Tudo nesta casa: quando penso naquela cama em que eu dormia, fico toda arrepiada... Tu não imaginas o que eu tenho suportado.
— Creia que a convenci a ir embora. Também pedi transferência.
— Isso não adiantaria. Ela estaria sempre presente. Tu pertences a eles, não pertences a mim. Talvez eu me tivesse conformado se fosse um filho só, mas três! E os meninos já estão grandes; durante dez anos viveste com ela. — Doris desabafou então de todo; estava desesperada: — É uma coisa física, nada posso contra ela, é mais forte do que eu. Penso naqueles braços escuros e magros a te apertarem e fico cheia de náusea. Penso em ti com essas criancinhas pretas nos braços... Oh, é revoltante! O teu contato me é odioso. Todas as noites, para te beijar, eu tinha de fazer um esforço, tinha de cerrar os punhos e obrigar-me a tocar com os lábios na tua face. — Pusera-se a entrelaçar e a soltar os dedos alternativamente, numa angústia nervosa, e a sua voz se descontrolara. — Sei que agora a culpada sou eu. Sou uma mulher tola, histérica. Pensei que poderia vencer isto. Não posso, e agora nunca mais conseguirei fazê-lo. Sou eu mesma a causadora desta miserável situação. Estou pronta a sofrer as consequências; se achares que devo ficar, eu fico, mas se ficar morrerei. Imploro-te que me deixes ir.
Então as lágrimas que ela contivera por tanto tempo romperam os diques e Doris abandonou-se a um pranto amargurado. Era a primeira vez que ele a via chorar.
— Naturalmente não quero te prender aqui contra a tua vontade — disse em voz rouca.
Ela reclinou-se na cadeira, exausta, com as feições convulsas. Era horrivelmente penoso ver assim entregue à dor aquela fisionomia habitualmente tão plácida.
— Como eu lamento isto, Guy! Estraguei tua vida, mas estraguei a minha também. E podíamos ter sido tão felizes!
— Quando queres ir? Na quinta-feira?
— Sim.
Ela deu-lhe um olhar lastimoso. Guy escondeu o rosto nas mãos. Finalmente tornou a levantar os olhos.
— Estou morto de cansaço — murmurou.
— Deixas que eu vá?
— Sim.
Durante dois minutos, talvez, ficaram sentados ali sem dizer uma palavra. Ela teve um estremecimento ao ouvir o chikchak soltar o seu grito penetrante, rouco e estranhamente humano. Guy levantou, saiu para a varanda Debruçou-se no parapeito e olhou a água que corria mansamente. Ouviu Doris entrar no quarto.
No outro dia levantou-se mais cedo que de costume e foi bater na porta.
— O que é?
— Tenho que subir o rio hoje. Vou voltar tarde.
— Está bem.
Doris compreendeu. Ele arranjara aquele pretexto para se ausentar, a fim de não vê-la arrumar suas coisas. Foi um trabalho aflitivo. Depois de por as suas roupas nas malas correu os olhos pela sala de jantar, notando um por um os objetos que lhe pertenciam. Seria horrível levá-los. Deixou tudo, exceto a fotografia de sua mãe. Guy só voltou às dez horas da noite.
— Desculpa-me não ter vindo jantar. O chefe da aldeia aonde fui tinha uma porção de assuntos que era preciso resolver.
Ela viu seus olhos vagueando pela sala e notando que o retrato de sua mãe já não se achava no lugar habitual.
— Já estás com tudo pronto? — perguntou ele. — Dei ordem ao barqueiro para trazer o bote ao amanhecer.
— Eu disse ao criado que me acordasse às cinco.
— Vou dar-te algum dinheiro. — Guy dirigiu-se para a escrivaninha e preencheu um cheque. Tirou algumas cédulas de uma gaveta. — Isto é para a viagem até Singapura. Poderás descontar lá o cheque.
— Muito obrigada.
— Desejas que eu te acompanhe até a foz do rio?
— Oh, acho que seria melhor nos despedirmos aqui.
— Muito bem. Acho que vou me deitar. Não tive descanso o dia todo e estou mais morto que vivo.
Foi para o quarto sem sequer tocar na mão dela. Dentro de poucos minutos ela o ouviu se jogar na cama. Deixou-se ficar algum tempo sentada, contemplando aquela sala em que fora tão feliz e em que tanto sofrera. Deu um suspiro profundo. Levantou-se e foi para o seu quarto. Toda a bagagem estava pronta, salvo uma ou duas coisas de que ela necessitava para passar a noite.
Estava escuro quando o criado os acordou. Vestiram-se às pressas. O breakfast estava à espera. Pouco depois ouviram o bote encostar lá embaixo ao cais flutuante e os criados desceram com a bagagem. Mal fingiam comer. As trevas foram-se adelgaçando e o rio tomou um aspecto fantasmal. Ainda não era dia, mas também já não era noite. No meio do silêncio as vozes dos nativos soavam muito claras no cais. Guy relanceou os olhos para o prato de sua mulher, intacto.
— Se já terminaste, podíamos ir descendo. Deve ser hora de partir.
Doris levantou-se da mesa sem dizer nada. Foi ao quarto para ver se não havia esquecido nada e depois, um ao lado do outro, desceram os degraus. Um caminho serpeante conduzia até o rio. No cais a guarda nativa estava formada em linha, com os seus elegantes uniformes; apresentaram armas à passagem de Guy e Doris. O patrão do bote estendeu a mão a Doris para ajudá-la a embarcar. Depois de fazê-lo ela virou-se e olhou para Guy. Desejava tanto dizer-lhe uma última palavra de conforto, pedir-lhe perdão mais uma vez Mas parecia ter perdido o uso da fala.
Ele estendeu-lhe a mão. — Bem, adeus. Espero que faças uma ótima viagem. Apertaram-se a mão. Guy fez um sinal com a cabeça ao patrão e o bote largou. A aurora nevoenta ia avançando pouco a pouco pelo rio, mas a noite ainda se ocultava entre as árvores escuras da floresta. Ele deixou-se ficar no cais até que o bote desapareceu nas sombras da manhã. Então soltou um suspiro e voltou. Inclinou distraidamente a cabeça quando a guarda tornou a apresentar armas. Mas ao entrar no bangalô chamou o criado. Percorreu a sala pegando todas as coisas que pertenciam a Doris.
— Guarde tudo numa caixa. Não há necessidade de ficarem por aí.
Depois foi sentar-se na varanda e viu o dia crescer gradualmente, como uma dor amarga, assoberbante e imerecida. Por fim consultou o seu relógio. Eram horas de ir para o escritório.
De tarde não pôde dormir. Sentia uma dor de cabeça torturante. Apanhou a espingarda e foi dar uma volta na floresta. Não deu um tiro, desejava apenas caminhar para cansar-se. Ao cair o sol voltou e tomou dois ou três drinks. Era tempo de se vestir para o jantar — mas que necessidade havia disso agora? Seria melhor por-se à vontade. Vestiu uma folgada jaqueta nativa e um sarong. Era o traje que costumava usar antes da vinda de Doris. Ficou com os pés descalços. Comeu apaticamente o seu jantar, depois o criado tirou a mesa e foi embora. Guy sentou-se para ler The Tatler. Reinava no bangalô um silêncio profundo. Não conseguia ler. O jornal caiu-lhe no regaço. Estava extenuado. Não podia pensar. Sentia um estranho vazio no cérebro. O chikchak fazia muito barulho nessa noite; o seu grito rouco e repentino parecia escarnecer dele. Era incrível que aquele som estentóreo pudesse sair de goela tão pequena. Daí a pouco ele ouviu uma tosse discreta.
— Quem está aí?
Houve uma pausa. Guy olhava para a porta. O chikchak soltou uma risada áspera. Um garotinho entrou timidamente e deteve-se no limiar. Era um menino mestiço, de camiseta esfarrapada e sarong: o mais velho de seus dois filhos.
— O que queres? — perguntou Guy.
O menino veio para o meio da sala e sentou-se no chão, dobrando as pernas à moda do Oriente.
— Quem te mandou aqui?
— Minha mãe me mandou. Ela diz: não precisas de nada?
Guy considerou atentamente o menino. Este nada mais disse. Ficou à espera, baixando timidamente os olhos. Então Guy mergulhou o rosto nas mãos, numa profunda e amarga meditação. Para que lutar? Estava acabado. Acabado. Era melhor render-se. Recostou-se na cadeira e suspirou profundamente.
— Diz a tua mãe que arrume as coisas. Ela pode voltar.
— Quando? — perguntou o menino, impassível. Lágrimas ardentes corriam pelo engraçado rosto de Guy, redondo e cheio de espinhas.
— Esta noite.
(Título original: The Force of Circumstance.)
Atavismo
Os dois praus desciam velozes a correnteza, a poucos metros um do outro. No da frente iam dois homens sentados. Depois de sete semanas passadas a percorrer aqueles rios era um alívio saber que iam finalmente pernoitar numa casa civilizada. Para Izzart, que estava em Bornéu desde o tempo da guerra, as casas daiaques e as suas festas não constituíam novidade; mas Campion, embora fosse novo ali e a princípio tivesse achado divertidos os estranhos costumes da terra, ansiava agora por uma cadeira em que sentar-se e uma cama para dormir. Os daiaques eram hospitaleiros, mas não se podia dizer que as suas casas fossem muito confortáveis e os entretenimentos que ofereciam — aos hóspedes eram de uma monotonia que acabava fatigando. Todas as tardes, quando os viajantes encostavam ao cais, o maioral descia ao rio para recebê-lo, carregando uma bandeira e acompanhado pelas pessoas mais importantes do clã. Eram conduzidos para a casa comunal — verdadeira aldeia sob um mesmo teto, construída sobre estacas, à qual se tinha acesso por um tronco de árvore com toscos degraus entalhados — e entre o rufar de tambores e o som dos gongos percorriam-na de extremo a extremo em longa procissão. De ambos os lados, cerradas multidões de gente escura, sentada de cócoras, encaravam silenciosamente os brancos à sua passagem. Esteiras limpas eram desenroladas e os hóspedes sentavam-se. O chefe trazia um frango vivo e, segurando-o pelas patas, balançava-o três vezes sobre as cabeças dos recém-vindos e invocava os espíritos em altas vozes. Então várias pessoas faziam-lhes presente de ovos. Bebia-se arak. Uma garota, criatura pequenina e tímida com a graça de uma flor mas com algo de hierático no rosto imóvel, segurava uma taça junto aos lábios do homem branco até que este a houvesse esvaziado, e então um grande grito se elevava nos ares. Os homens começavam a dançar, um após outro, cada qual batendo o compasso com os pés, armado de escudo e parang, com o acompanhamento do gongo e do tambor. Ao cabo de algum tempo eram os visitantes conduzidos a uma das peças que davam para a longa plataforma onde os habitantes da casa faziam vida em comum. Encontravam ali o jantar à sua espera. As garotas davam-lhes de comer em colheres chinesas: Todos ficavam um pouco embriagados e conversavam até pela madrugada.
Mas a viagem estava finda e eles iam a caminho da costa. Tinham partido ao amanhecer. No começo o rio era muito raso e as suas águas límpidas corriam sobre um fundo de pedregulho; as árvores inclinavam-se sobre ele, só deixando descoberta uma faixa de céu azul; agora, porém, ele se alargara e os homens já não usavam varas e sim remos. As árvores — bambus, sagueiros selvagens que semelhavam enormes penachos de plumas de avestruz, árvores de folhas imensas e árvores de folhagem plumosa como a acácia, coqueiros e arequeiras com os seus longos estipes eretos e brancos — as árvores das margens tinham uma violenta, uma incrível luxuriância. De espaço a espaço, nu e descarnado, via-se o esqueleto de um tronco ferido pelo raio ou morto de velhice, e a sua alvura formava um vivo contraste no meio de todo aquele verde. Aqui e além, soberanos rivais da floresta, alterosas árvores se erguiam acima do nível comum. Havia também as parasitas; grandes tufos de folhas verdes e lustrosas na forquilha de dois galhos ou trepadeiras floridas cobrindo a esparramada folhagem como um véu de noiva. Por vezes enroscavam-se em volta de um alto tronco, qual bainha de esplendor, e lançavam longos braços floridos de ramo em ramo. Havia algo de emocionante naquela exuberância selvagem e apaixonada; tinha o atrevido abandono de uma mênade desenfreada no séquito do deus.
O dia começava a declinar e o calor já não era tão opressivo. Campion consultou o velho relógio de prata que trazia ao pulso. Não deviam estar longe do seu destino.
— Que espécie de sujeito é Hutchinson? — perguntou ele.
— Não o conheço. Creio que é um tipo muito decente.
Hutchinson era o Residente, em cuja casa iam passar a noite. Tinham enviado um daiaque numa canoa para anunciar a sua chegada.
— Bem, espero que ele tenha uísque em casa. Já bebi arak que chegue para o resto da vida.
Campion era o engenheiro de minas que o Sultão, em viagem para a Inglaterra, tinha conhecido em Singapura e, encontrando-o sem emprego definido, encarregara-o de fazer em Sembulu uma prospecção de minerais que pudessem ser explorados com proveito. Mandou instruções a Willis, o Residente de Kuala Solor, para que lhe desse todas as facilidades, e Willis o confiara aos cuidados de Izzart porque este falava malaio e daiaque como um nativo. Era a terceira viagem que faziam ao interior e Campion estava pronto para apresentar o seu relatório. Alcançariam o Sultan Ahmed, que devia passar pela foz do rio dois dias depois, ao amanhecer, e se tudo corresse bem estariam em Kuala Solor na mesma tarde. Estavam ambos contentes por voltar. Havia tênis, golfe, bilhar, uma cozinha relativamente boa e os confortos da civilização. Izzart também estava satisfeito com a perspectiva de ter outra companhia que não a de Campion. Deu-lhe um olhar de soslaio. Campion era um homenzinho calvo, de cabeça enorme, e se bem que não pudesse ter menos de cinquenta anos, era forte e musculoso. Tinha olhos azuis, vivos e cintilantes, e um bigode grisalho, irregular e ralo, parecendo um restolhal. Raramente era visto sem um velho cachimbo de roseira brava entre os dentes cariados e descorados. Não era asseado nem correto no vestir; as suas calças curtas de brim cáqui estavam em farrapos e a sua camiseta esburacada; no momento tinha à cabeça um velho e amolgado capacete de cortiça. Vagueava pelo mundo desde os dezoito anos e tinha estado na África do Sul, na China, no México. Era bom companheiro; sabia contar uma anedota e estava sempre disposto a emborcar alguns copos com o primeiro que encontrasse. Acertavam-se os dois muito bem, mas Izzart nunca se sentira completamente à vontade com ele. Embora rissem e gracejassem um com o outro, embora se embebedassem juntos, parecia-lhe que não havia entre eles uma verdadeira intimidade; apesar das suas relações cordiais, não eram mais que simples conhecidos. Era ele muito sensível à impressão que causava nos outros e sob a jovialidade de Campion percebia uma certa frieza; aqueles olhos azuis e brilhantes já o tinham aquilatado e era vagamente irritante para Izzart que Campion tivesse formado uma opinião a seu respeito e ele não pudesse saber ao certo qual era essa opinião. Exasperava-o a possibilidade de que esse homenzinho vulgar não o tivesse em muito boa conta. Queria ser estimado e admirado. Queria ser benquisto. Queria que as pessoas a quem encontrava concebessem uma feição desmedida por ele, a fim de poder rejeitá-las ou conferir-lhes a sua amizade um tanto condescendente. Sua inclinação era ser familiar com toda a gente, mas paralisava-o o receio de ser mal acolhido; por vezes tinha sensação inquietante de que as suas demonstrações efusivas surpreendiam aqueles a quem as prodigalizava.
Por casualidade nunca havia encontrado Hutchinson, se bem que o conhecesse muito bem de referência, da mesma forma que Hutchinson o conhecia. Tinham muitos amigos comuns sobre quem conversar. Hutchinson cursara a escola de Winchester e Izzart sentia-se contente por lhe poder dizer que estivera em Harrow...
O prau dobrou uma curva do rio e de súbito avistaram o bangalô, erguido sobre uma pequena eminência. Dentro de poucos minutos divisaram o cais flutuante, e sobre este, no meio de um grupinho de nativos, um vulto vestido de branco que abanava para eles.
Hutchinson era um homem alto e corpulento, de cara vermelha. Sua aparência fazia esperar uma criatura jovial e segura de si e não era pequena a surpresa que se tinha ao descobrir que ele era desconfiado e até um pouco tímido. Ao apertar a mão aos hóspedes (Izzart apresentou-se primeiro, depois apresentou Campion) e ao conduzi-los para o bangalô, embora fosse visível a sua preocupação de ser cortês não era difícil perceber que lhe custava entreter a conversa. Levou-os para a varanda, onde encontraram copos, uísque e soda sobre uma mesa. Puseram-se à vontade em espreguiçadeiras. Cônscio do leve embaraço de Hutchinson em presença dos estranhos, Izzart expandiu-se. Foi muito cordial e loquaz. Começou a falar das relações comuns que tinham em Kuala Solor e dentro em pouco conseguiu encaixar, de passagem, a informação de que tinha estado em Harrow.
— O senhor esteve em Winchester, não é verdade? — perguntou.
— Estive.
— Por acaso terá conhecido George Parker, que serviu no meu regimento? Ele também esteve em Winchester. Calculo que fosse mais moço do que o senhor.
Izzart sentia que o fato de terem cursado essas escolas era um laço a uni-los, ao mesmo tempo que excluía Campion, que evidentemente não gozara de tal privilégio. Beberam dois ou três uísques. Daí a meia hora Izzart estava chamando o dono da casa de Hutchie. Estendia-se muito sobre o "seu regimento", em que recebera o comando de uma companhia durante a guerra, e sobre os alegres companheiros que eram os outros oficiais. Mencionou dois ou três nomes que dificilmente poderiam ser estranhos a Hutchinson. Não eram pessoas com quem Campion tivesse probabilidade de haver-se encontrado e Izzart deu-lhe na cabeça com gosto quando ele pretendeu reconhecer uma das pessoas em apreço.
— Billie Meadows? Conheci um camarada com esse nome em Sinaloa, há muitos anos — disse Campion.
— Oh, não creio que fosse o mesmo — retrucou Izzart sorrindo. — Billie deve ser hoje Par do Reino. Ele é o Lord Meadows que cria cavalos de corrida. Era o proprietário de Spring Carrots, não se lembram?
Aproximava-se a hora do jantar. Depois de lavar-se e escovar-se eles tomaram um par de gin pahits. Sentaram-se à mesa. Havia quase um ano que Hutchinson não ia a Kuala Solor e três meses que não via outro homem branco. Esforçava-se por tratar regiamente as visitas. Vinho não lhes podia servir, mas havia uísque em abundância e depois do jantar ele trouxe uma preciosa garrafa de Beneditino. Estavam muito alegres. Riam muito e tagarelavam sem cessar. Izzart sentia-se no paraíso. Parecia-lhe que jamais gostara tanto de um sujeito como de Hutchinson. Insistiu com ele para que fosse a Kuala Solor logo que pudesse. Haviam de fazer lá uma pândega das boas. Campion era excluído da conversa por Izzart, com a intenção maliciosa de pô-lo no seu lugar, e por Hutchinson em razão da sua timidez. Algum tempo depois, depois de soltar grandes bocejos, ele anunciou que ia deitar-se. Hutchinson conduziu-o ao seu quarto e quando voltou Izzart lhe disse:
— Ainda não vai para a cama, não é mesmo?
— Qual nada! Vamos tomar outro drink. Continuaram a conversar. Tanto um como o outro ficaram um pouco embriagados. Lá pelas tantas Hutchinson confessou a Izzart que vivia com uma garota malaia e tinha dois filhos dela. Mandara-os sumir enquanto Campion estivesse ali.
— Ela deve estar dormindo a estas horas — disse ele, relanceando os olhos para uma porta que Izzart sabia ser a do seu quarto, — mas eu gostaria de ver os garotinhos de manhã.
Nesse momento ouviu-se um fraco choro e, exclamando "olá, o diabrete está acordado!", Hutchinson dirigiu-se para a porta e abriu-a. Daí a momentos tornou a sair do quarto com uma criança nos braços e seguido por uma mulher.
— Estão lhe nascendo os dentes — disse Hutchinson — e isso o deixa desassossegado.
A mulher vestia sarong e uma fina blusa branca. Estava descalça. Era moça, com belos olhos escuros, e quando Izzart lhe falou ela deu-lhe um sorriso alegre e cativante. Sentou-se e acendeu um cigarro. Respondeu sem embaraço, mas também sem efusão, às perguntas polidas de Izzart. Hutchinson perguntou-lhe se queria um uísque com soda, porém ela recusou. Quando os dois homens se puseram a conversar de novo em inglês ela continuou sentada, muito tranquila, embalando-se levemente na cadeira e ocupada sabe Deus em que calmas reflexões.
— É uma excelente garota — disse Hutchinson. — Cuida da casa e nunca dá incômodos. Naturalmente, num lugar como este não se pode fazer outra coisa.
— Eu é que nunca o farei — disse Izzart. — Afinal a gente pode lembrar-se de casar e então começam a surgir encrencas. Mas quem é que quer casar? Que vida esta para uma mulher branca! Eu não pediria a uma mulher branca que viesse viver aqui por nada deste mundo.
— Naturalmente, é uma questão de gosto. Quanto a mim, faço questão de que os meus filhos tenham uma mãe branca, se algum dia os tiver.
Hutchinson baixou os olhos para a criancinha escura que tinha nos braços e sorriu de leve.
— É interessante como a gente toma afeição a eles. Quando são nossos, não tem muita importância que sejam um pouco tisnados.
A mulher deitou um olhar à criança e, levantando-se, disse que ia pô-la na cama.
— Acho bom irmos deitar todos — disse Hutchinson. — Já deve ser muito tarde.
Izzart foi para o seu quarto e abriu de par em par os postigos que o seu criado Hassan tinha fechado. Soprou a vela para não atrair os mosquitos e sentou-se junto à janela, contemplando a noite suave. O uísque que tinha bebido fazia com que se sentisse muito desperto e não tinha vontade de se deitar. Tirou a roupa de brim, pôs um sarong e acendeu um charuto. O seu bom humor desaparecera. Fora a vista de Hutchinson contemplando ternamente a criança mestiça que o tinha posto fora dos eixos.
— Eles não têm o direito de fazer isso — disse de si para si. — Essas crianças não têm nenhum futuro neste mundo. Absolutamente nenhum!
Passou pensativamente a mão nas pernas nuas e peludas. Teve um leve arrepio. Embora houvesse feito o que podia para desenvolver as barrigas das pernas, estas pareciam caniços. Detestava-as. Tinha sempre o pensamento inquieto posto nelas. Eram pernas de nativo. Entretanto, pareciam feitas sob medida para uma bota de montar. Outrora, de uniforme, ele fazia bela figura. Era um homem alto e vigoroso. com mais de seis pés de estatura, tinha cabelos pretos e um bonito bigode preto. Os seus olhos, escuros e muito móveis, eram admiráveis. Era um homem bem apessoado e não o ignorava. Vestia bem, desalinhadamente quando o desalinho era de estilo e elegantemente quando a ocasião o exigia. Adorava a vida militar e foi um golpe amargo para ele quando, terminada a guerra, teve de abandoná-la. Suas ambições eram simples. Queria ter mil libras por ano, dar jantares finos e usar uniforme. Suspirava por Londres.
Sua mãe, entretanto, vivia lá, e sua mãe o atrapalhava. Como poderia apresentá-la se um dia se tornasse noivo da moça de boa família (com algum dinheiro) a quem pretendia fazer sua esposa? Como seu pai morrera havia muito e no fim da sua carreira tinha servido no mais remoto de todos os Estados Malaios, Izzart estava bastante seguro de que pessoa alguma em Sembulu sabia da existência dela, mas vivia no terror de que alguém, encontrando-a por acaso em Londres, escrevesse de lá para contar que ela era uma mestiça. Era uma linda criatura quando o pai de Izzart, engenheiro a serviço do governo, a desposara; mas estava transformada agora numa velha gorda, de cabelos grisalhos, que passava o dia inteiro sentada a fumar cigarros. Tinha Izzart doze anos quando o pai morreu e já sabia falar o malaio com muito mais fluência do que o inglês. Uma tia ofereceu custear-lhe a educação e Mrs. Izzart acompanhou o filho à Inglaterra. Costumava viver em apartamentos mobilados cujos aposentos, com as suas cortinas orientais e as suas pratas malaias, eram superaquecidos e mal ventilados. Andava eternamente de pendência com as proprietárias por causa do seu hábito de deixar tocos de cigarro pelo chão. Izzart sentia-se revoltado ao ver a maneira por que ela fazia amizade com essas senhoras: durante algum tempo mantinham uma familiaridade chocante, depois ficavam de mal e, após uma cena violenta, ela ia embora batendo as portas. Sua única diversão era o cinema, a que ia todos os dias. Em casa usava um chambre velho e espalhafatoso, mas para sair vestia-se — com que desalinho, santo Deus! — de cores extravagantes, fazendo a mortificação do filho tão janota. Questionava com ela amiúde, Mrs. Izzart o fazia perder a paciência e sentir-se envergonhado; e no entanto tinha por ela uma ternura profunda; era uma espécie de laço físico entre os dois, algo mais forte do que a afeição comum entre mãe e filho, de modo que apesar dos defeitos que o exasperavam ela era a única pessoa no mundo com quem se sentia inteiramente à vontade.
Foi devido à posição do pai e ao seu conhecimento do malaio — pois a mãe sempre lhe falava nessa língua — que depois da guerra, encontrando-se sem o que fazer, ele conseguiu entrar para o serviço do Sultão de Sembulu. Tinha feito sucesso. Era hábil em toda espécie de jogos, forte e bom atleta. Na hospedaria dos viajantes, em Kuala Solor, podiam ser vistas as taças que ele conquistara em Harrow, na corrida e no salto, e a estas havia acrescentado outras posteriormente, ganhas em campeonatos de tênis e golfe. Com o seu abundante repertório de assuntos de conversa era um elemento valioso em qualquer reunião social e a sua jovialidade punha tudo em animação. Devia ser um homem feliz e era desgraçado. Desejava imensamente ser benquisto e tinha a impressão, mais forte do que nunca nesse momento, de que a popularidade lhe fugia. Perguntava de si para si se porventura os homens de Kuala Solor, com quem vivia em tão bons termos, suspeitavam de que ele tinha sangue nativo nas veias. Sabia muito bem o que esperar se algum dia descobrissem. Não diriam então que ele era um alegre companheiro, e sim que tomava liberdades demais; achá-lo-iam descuidado e incompetente como todos os mestiços, e quando ele falasse em casar com uma mulher branca teriam um riso de mofa. Oh, como isso era injusto! Que diferença podia fazer aquela gota de sangue nativo nas suas veias? E no entanto, por causa dela, estariam sempre na expectativa de um fracasso em algum momento crítico. Todos sabiam que não se podia confiar num eurasiano, mais cedo ou mais tarde tinha-se uma desilusão com ele; Izzart também o sabia, mas perguntava consigo se tais fracassos não se deviam ao fato de que todos os esperavam. Nunca davam um ensejo aos coitados.
Mas um galo cantou sonoramente. Devia ser muito tarde e ele começava a sentir frio. Enfiou-se na cama. Quando Hassan lhe trouxe o chá pela manhã Izzart tinha uma terrível dor de cabeça, e quando desceu para o breakfast nem sequer pôde olhar para as papas de aveia e o "bacon" com ovos que lhe puseram na frente. Hutchinson também não se sentia muito disposto.
— Acho que fomos um pouco longe na noite passada — disse este, sorrindo para ocultar o seu leve embaraço.
— Estou com uma ressaca infernal — volveu Izzart.
— Quanto a mim, o meu café será um uísque com soda — acrescentou Hutchinson.
Izzart não pedia outra coisa. Foi de cara torcida que ambos viram Campion fazer, com saudável apetite, uma substanciosa refeição. Campion caçoava deles.
— Izzart, você está verde! Nunca vi cor mais cabulosa.
Izzart enrubesceu. A sua tez trigueira sempre fora para ele um ponto sensível. Mas forçou uma risada alegre.
— Uma de minhas avós era espanhola — respondeu, e sempre que não me sinto muito bem a cor aparece. Lembro-me de ter quebrado a cara a um guri em Harrow porque ele me chamou de mestiço.
— Você é moreno disse Hutchinson. — Os malaios nunca lhe perguntam se você não tem sangue nativo?
— Perguntam sim, os canalhas!
Um bote partira de manhã cedo, com os apetrechos, a fim de alcançar antes deles a foz do rio e avisar o comandante do Sultan Ahmed, se porventura chegasse antes da hora esperada, de que eles iam a caminho. Campion e Izzart embarcariam logo após o almoço para alcançar o ponto de pernoite antes da passagem da pororoca, uma grande vaga que sobe certos rios, por sua disposição topográfica especial, e sucede que o rio em que estavam viajando tinha pororoca. Hutchinson lhes falara disso na noite anterior e Campion, que nunca tinha visto coisa semelhante, estava muito interessado.
— É uma das melhores de Bornéu. Vale a pena vê-la — disse Hutchinson.
Contou-lhes que os nativos, aguardando o momento oportuno, cavalgavam a pororoca e eram arrastados rio acima com uma rapidez aterrorizante. Ele mesmo o fizera uma vez.
— Nunca mais! Que susto eu passei!
— Eu gostaria de experimentar — disse Izzart.
— É muito emocionante, mas palavra que quando a gente está dentro de uma frágil canoa e sabe que se os nativos não escolherem o momento exato será engolido por aquele vagalhão e não terá nenhuma possibilidade de escapar... Não, não é assim que eu concebo o esporte.
— Eu atravessei muitas corredeiras no meu tempo — disse Campion.
— Que corredeiras! Espere para ver essa pororoca. É uma das coisas mais apavorantes que já vi. Sabe que só neste rio morrem afogados nela pelo menos uma dúzia de nativos por ano?
Passaram quase toda a manhã na varanda e Hutchinson mostrou-lhes a casa do tribunal. Depois foram servidos gin pahits. Tomaram dois ou três. Izzart começou a sentir-se mais disposto e quando afinal o almoço ficou pronto ele comeu com excelente apetite. Hutchinson tinha-se gabado do seu caril malaio e todos eles se atiraram com voracidade aos pratos fumegantes e suculentos. Hutchinson insistia com os seus hóspedes para que bebessem.
— Vocês não têm nada que fazer senão dormir. Por que não vão tomar chuva?
Não podia resignar-se a deixá-los partir tão cedo. Como era bom, ao cabo de tanto tempo, ter homens brancos com quem conversar! Tratou de prolongar a refeição. Não os deixava descansar os maxilares. Iam jantar miseravelmente aquela noite na casa comunal e não teriam nada para beber senão arak. Pois então que aproveitassem aquela pechincha! Campion insinuou uma ou duas vezes que eram horas de partir, mas Hutchinson — e Izzart também, pois agora se sentia muito a seu gosto — garantiram-lhe que havia tempo de sobra. Hutchinson mandou vir a preciosa garrafa de Beneditino. Tinham-lhe feito uma brecha na noite passada; por que não terminá-la de vez antes de irem embora?
Quando desceu afinal com eles para o rio estavam todos muito alegres e nenhum dos três ia muito firme das pernas. A parte mediana do bote era coberta por um toldo de nipa, sob o qual Hutchinson mandara estender um colchão. A tripulação era composta de presos trazidos da cadeia para conduzir os brancos rio abaixo. Vestiam sarões imundos, com a marca da prisão. Estavam à espera, junto aos seus remos. Izzart e Campion Apertaram a mão de Hutchinson e deixaram-se cair no colchão. O bote largou. O rio turvo, dilatado e plácido, reluzia ao calor daquela tarde luminosa como bronze polido. Diante deles, à distância, avistava-se a ribanceira com o seu emaranhado de árvores verdes. Estavam sonolentos, mas Izzart, pelo menos, sentia um curioso prazer em resistir por algum tempo ao torpor que o invadia. Resolveu não se entregar ao sono senão depois que houvesse acabado o seu charuto. Afinal a bagana começou a queimar-lhe os dedos e ele jogou-a no rio.
— Vou dormir uma boa soneca.
— E a pororoca?
— Oh, quanto a isso não há perigo. Não precisamos nos preocupar com ela.
Deu um longo e sonoro bocejo. Parecia ter chumbo nos membros. Houve um momento em que sentiu uma deliciosa sonolência, depois não teve consciência de mais nada. Foi despertado de súbito por Campion, que o sacudia.
— Olhe, o que é aquilo?
— O que é o quê?
Respondeu de mau humor, pois ainda estava pesado de sono, mas acompanhou com os olhos o gesto de Campion. Seu ouvido não percebia som algum, mas ao longe avistou duas ou três ondas de crista branca que se seguiam umas às outras. Seu aspecto não era muito alarmante.
— Oh, aquilo deve ser a pororoca.
— O que vamos fazer? — gritou Campion.
Izzart ainda não estava bem acordado. Sorriu da voz atemorizada do seu companheiro.
— Não se preocupe. Esses camaradas entendem do riscado. Eles sabem o que devem fazer. Talvez levemos alguns borrifos.
Mas enquanto eles pronunciavam estas poucas palavras a pororoca avizinhou-se mais, avançando com grande rapidez, e Izzart percebeu que as ondas eram muito mais altas do que ele julgara. Um pouco apreensivo, apertou o cinto para que a calça não escorregasse no caso de virar o bote. Daí a um momento as vagas estavam em cima deles. Era um grande paredão de água a dominá-los e podia ter dez ou doze pés de altura, mas só se podia medi-lo com o horror. Era evidente que nenhum bote poderia aguentar. A primeira onda passou por cima, encharcando-os, enchendo parcialmente o bote de água, e logo após outra onda os colheu. Os barqueiros puseram-se aos gritos, forcejando nos remos como doidos, e o patrão berrou uma ordem. Mas nada podiam fazer contra aquela torrente impetuosa e dava medo vê-los perder por completo o controle do barco. A força das águas virou-o de costado e ele foi arrastado assim, aos trambolhões, sobre a crista da pororoca. O terceiro vagalhão arremessou-se sobre eles e o bote começou a afundar. Izzart e Campion safaram-se atabalhoadamente do lugar coberto em que estavam deitados. De repente o bote começou a ceder debaixo de seus pés e eles acabaram se debatendo na água encapelada e turbilhonante. O primeiro impulso de Izzart foi ganhar a margem a nado, mas seu criado Hassan gritou-lhe que se agarrasse ao bote. Foi o que todos fizeram por um ou dois minutos.
— Você está bem? — gritou-lhe Campion.
— Sim, estou gostando do banho — respondeu Izzart.
Imaginava que as ondas passariam à medida que a pororoca subisse o curso do rio e que em alguns minutos, no máximo, eles se encontrariam de novo em águas tranquilas. Esquecia que estavam sendo transportados na crista do vagalhão. As ondas arremessavam-se sobre eles. Agarravam-se à amurada e à base da armação que sustentava o toldo de nipa. Então uma onda maior colheu o bote e este virou, caindo sobre eles e fazendo-os perder o apoio; não pareciam ter mais que um casco escorregadio para se segurar e as mãos de Izzart resvalavam inutilmente na superfície engraxada. Mas o bote continuou a girar sobre si e ele se agarrou desesperadamente na amurada, que no entanto logo lhe escorregou das mãos naquele movimento circular. Pegou a armação do toldo, mas o bote não cessava de girar e mais uma vez ele procurou se agarrar ao casco. O bote dava voltas com uma horrível regularidade. Pareceu-lhe que era porque todos se agarravam do mesmo lado e quis mandar a tripulação passar para o outro. Não conseguiu se fazer entender. Todos gritavam e as ondas os malhavam com um rugido surdo e furioso. Cada vez que o bote caía de borco em cima deles, Izzart era jogado para o fundo, mas subia de novo para a tona valendo-se do apoio da amurada e da armação do toldo. A luta era medonha. Daí a pouco começou a perder o fôlego e sentiu que as forças o abandonavam. Sabia que não poderia resistir muito mais tempo, mas não sentia medo, pois a sua fadiga já era tamanha que pouco lhe importava o que acontecesse. Hassan achava-se ao seu lado e Izzart lhe disse que estava ficando muito cansado. Pensou que o melhor seria procurar ganhar a margem, — que não parecia estar a mais de sessenta metros de distância, mas Hassan suplicou-lhe que não o fizesse. Continuavam a ser arrastados no meio daquelas ondas fervilhantes e ferozes. O bote — volteava sem cessar e eles acompanhavam-lhe os movimentos, andando à roda como esquilos numa gaiola. Izzart engolia muita água. Sentia-se quase perdido. Hassan não o podia auxiliar, mas era um conforto tê-lo ali, pois Izzart sabia que o rapaz, acostumado à água desde criança, era um grande nadador; Depois, sem que ele soubesse por que, o bote imobilizou-se durante um minuto ou dois com o fundo para baixo e ele pôde agarrar-se à amurada. Era um precioso ensejo de tomar fôlego. Nesse momento duas canoas, com malaios cavalgando a pororoca, passaram velozmente por eles. Gritaram por socorro, mas os malaios desviaram os olhos e seguiram adiante. Tinham visto os brancos e não queriam se envolver em qualquer contratempo que lhes acontecesse. Foi uma agonia vê-los passar, insensíveis e indiferentes na sua segurança. Mas de súbito o bote pôs-se de novo a girar, lentamente, e recomeçou a mísera e exaustiva luta. Era de desesperar. Mas o breve descanso fora proveitoso a Izzart, que pôde lutar ainda por algum tempo. Depois tornou a sentir-se tão sem fôlego que lhe parecia que o seu peito ia rebentar. Estava com as forças exauridas e duvidava que fossem suficientes para nadar até a margem. De súbito ouviu um grito:
— Izzart, Izzart! Socorro! Socorro!
Era a voz de Campion, esganiçando-se num guincho de angústia. Izzart sentiu um choque em todos os nervos do seu corpo.
Campion, Campion ... Que lhe importava Campion? O medo apoderou-se dele, um medo cego, animal, e deu-lhe novas forças. Não respondeu.
— Ajuda-me, depressa — disse a Hassan.
Este o compreendeu imediatamente. Por milagre, um dos remos boiava bem perto deles e o malaio deu-lhe um empurrão, pondo-o ao alcance de Izzart. Colocou uma mão sob o braço deste e ambos afastaram-se do bote com uma braçada. O coração de Izzart batia com violência e ele respirava com dificuldade. Sentia-se horrivelmente fraco. As ondas fustigavam-lhe o rosto. A margem parecia tão longe! Jamais poderia alcançá-la. De repente o criado gritou que tinha tocado no fundo. Izzart colocou-se em posição vertical mas não encontrou pé; deu mais umas braçadas, exausto, os olhos fixos na margem, depois fez nova tentativa e sentiu os pés afundando numa lama espessa. Graças a Deus! Tocou para diante, patinhando; lá estava a margem ao alcance das suas mãos, uma lama negra em que se atolava até os joelhos. Subiu de rastos, doido por sair da água cruel, e ao alcançar o alto encontrou uma pequena chapada coberta de altos juncos. Ele e Hassan deixaram-se cair ao solo e durante algum tempo ficaram estendidos, imóveis, como mortos. Estavam tão cansados que não podiam mexer-se. A lama negra os cobria da cabeça aos pés.
Mas daí a pouco o cérebro de Izzart recomeçou a funcionar e uma angústia súbita o sacudiu. Campion afogara-se. Que horror! Como iria explicar o desastre quando voltasse a Kuala Solor? Seria responsabilizado; devia ter se lembrado da pororoca, mandando o patrão ganhar a margem e amarrar o bote quando o visse aproximar-se. A culpa não era dele e sim do patrão, que conhecia o rio. Por que diabo não tivera o bom senso de buscar um abrigo? Como podia crer na possibilidade de aguentar aquela pavorosa torrente? Izzart tremia por todo o corpo ao lembrar-se la muralha de água fervilhante que se abatera sobre eles. Tinha de encontrar o cadáver e levá-lo para Kuala Solor. Acaso algum homem da tripulação ter-se-ia afogado também? Sentia-se muito fraco para se mexer, mas Hassan levantou-se e torceu o seu sarong para secá-lo; correu os olhos pelo rio e virou-se vivamente para Izzart.?
— Tuan, aí vem um bote.
Os juncos não deixavam Izzart ver nada.
— Dá um grito. Hassan desapareceu das vistas e avançou por um galho de árvore que se estendia por cima d'água. Pôs-se a chamar aos gritos e a abanar com a mão. Daí a pouco Izzart ouviu vozes. Houve um rápido colóquio entre o criado e os remadores do bote, e Hassan tornou a aparecer.
— Eles viram quando nós viramos, Tuan, e vieram logo que a pororoca passou. Há uma casa comunal no outro lado.
Izzart teve por um instante a impressão de que lhe faltaria coragem para confiar-se mais uma vez àquela água traiçoeira.
— E o outro Tuan? — perguntou. — Eles não sabem.
— Se ele se afogou terão de procurar o corpo. — Um outro bote subiu o rio. Izzart não sabia o que fazer. Tinha o cérebro entorpecido. Hassan pôs-lhe o braço em volta dos ombros e ajudou-o a levantar-se. Abriu caminho por entre o cerrado juncal e ao chegar à beira d'água encontrou dois daiaques numa canoa. O rio tinha voltado ao seu aspecto calmo e indolente; o grande vagalhão passara e ninguém teria sonhado que tão pouco tempo atrás aquela superfície plácida era como um mar enfurecido. Os daiaques repetiram-lhe o que haviam contado a Hassan. Izzart não se animava a falar. Tinha a impressão de que se dissesse uma palavra explodiria em prantos. Hassan ajudou-o a entrar no bote e os daiaques começaram a atravessar o rio. Ele tinha uma vontade doida de fumar, mas os cigarros e os fósforos, que trazia no bolso de trás das calças, estavam encharcados. A travessia do rio pareceu-lhe interminável. A noite caiu e quando chegaram ao outro lado já cintilavam as primeiras estrelas. Desembarcou e um dos daiaques o conduziu à casa comunal. Mas Hassan agarrou o remo que ele largara e voltou com o outro para o meio do rio. Dois ou três homens e algumas crianças desceram ao encontro de Izzart, que se dirigiu para a casa no meio de um parlatório confuso. Galgou a escada e foi conduzido, entre saudações e agitados comentários, para o lugar em que dormiam os moços. Estenderam-se às pressas esteiras de rotim para lhe fazer uma cama em que ele se deixou cair extenuado. Trouxeram-lhe um jarro de arak e ele tomou um grande sorvo. A bebida áspera e ardente queimou-lhe a garganta, mas reconfortou-o. Tirou a camisa e a calça e pôs um sarong enxuto que lhe emprestaram. Deu com os olhos por acaso no fino crescente da lua, reclinado nas alturas, e essa vista lhe causou um prazer agudo, quase sensual. Não pôde deixar de refletir que nesse momento ele bem podia ser um cadáver boiando rio acima, levado pela maré.
A lua nunca lhe parecera mais bela. Começou a sentir fome e pediu arroz. Uma das mulheres foi prepará-lo. Sentindo-se mais calmo, pôs-se a pensar de novo nas explicações que daria em Kuala Solor. Ninguém podia censurar-lhe com justiça o fato de ter pegado no sono. Não estava bêbado, por certo (Hutchinson seria testemunha disso) e como poderia esperar que o patrão do bote fosse cometer aquela asneira? Tudo simples azar. Não podia pensar em Campion, porém, sem estremecer. Afinal trouxeram-lhe um prato de arroz e Izzart dispunha-se a comer quando um homem entrou correndo e se dirigiu para ele.
— O Tuan chegou!
— Que Tuan?
Saltou do leito de esteiras. Notou uma comoção na porta e deu um passo à frente. Hassan vinha rapidamente na sua direção, surgido das trevas. Então ouviu uma voz.
— Izzart, você está aí?
Campion adiantou-se para ele.
— Bem, cá estamos juntos de novo. Nossa! Escapamos de boa, hein? Você parece estar muito bem instalado aqui. Por Deus que um drink viria muito a propósito agora!
As roupas encharcadas grudavam-se em seu corpo. Estava enlameado e descabelado, mas com excelente disposição.
— Não sabia para onde diabos eles queriam me trazer. Tinha me resignado a passar a noite na margem do rio. Pensei que você tivesse se afogado.
— Aqui tem um pouco de arak — disse Izzart. Campion levou o jarro à boca, bebeu, cuspiu e tornou a beber.
— Que droga! Mas por Deus que é forte! — Olhou para Izzart, arreganhando os dentes cariados e escuros. — Escute, meu velho, você parece estar precisando de um banho.
— Vou me lavar depois.
— Está certo, eu também. Diga-lhes que me arranjem um sarong. Como foi que você escapou? — E, sem esperar pela resposta: — Eu já tinha me dado por perdido. Devo a vida a esses dois valentes aí. — Indicou com um movimento jovial de cabeça dois dos presos daiaques, a quem Izzart reconheceu vagamente como tendo feito parte da tripulação. — Estavam agarrados ao maldito bote, um à direita e o outro à esquerda, e não sei como perceberam que eu estava no fim. Não poderia aguentar nem um minuto mais. Indicaram-me, com sinais, que podíamos fazer uma tentativa de alcançar a margem a nado, mas me pareceu que eu não teria forças para tanto. Caramba, nunca me senti tão esfalfado na minha vida! Não sei como eles o conseguiram, mas o fato é que pegaram aquele colchão em que estivemos deitados e fizeram com ele um rolo. Ah! não resta dúvida que são uns valentes! Não compreendo por que não se salvaram simplesmente, sem se preocuparem comigo. Deram-me o colchão. O salva-vidas me pareceu miserável, mas compreendi a força do provérbio que diz que quem está se afogando se agarra à primeira palha que encontra. Segurei aquele diabo de negócio e entre os dois, não sei como, eles me arrastaram para a margem.
O perigo de que se salvara tornava Campion agitado e loquaz, mas Izzart mal escutava o que ele dizia. Ouviu mais uma vez, tão distintamente como se as palavras fizessem vibrar naquele momento o ar, o angustiado pedido de socorro de Campion, e sentiu-se esfriar. Um terror cego tomou-lhe conta dos nervos. Campion continuava, a falar: aquilo não teria por fim esconder os seus pensamentos? Izzart considerou-lhe os claros olhos azuis, procurando ler neles uma intenção oculta sob a torrente de palavras. Não tinham esses olhos um brilho duro, uma expressão, de cínica zombaria? Saberia ele que Izzart tinha fugido, abandonando-o à sua sorte? Corou fortemente. Afinal, que poderia ter feito? Num momento como aquele era cada um por si e Deus por todos. Mas que diriam em Kuala Solor se Campion lhes contasse que Izzart o abandonara? Devia ter ficado junto ao bote, e agora desejava de todo o coração tê-lo feito — mas não pudera, tinha sido mais forte do que ele Quem podia culpá-lo? Ninguém que tivesse visto aquela torrente furiosa. Oh, aquela água, aquela exaustão que quase o tinha feito chorar!
— Se você está com tanta fome quanto eu, vamos cair com força neste arroz — disse ele.
Campion comeu vorazmente, mas depois de engolir um ou dois bocados Izzart verificou que não tinha apetite. Campion falava sem cessar. O outro o ouvia desconfiado. Achou que devia ficar com o espírito alerta e bebeu mais arak. Começou a sentir-se um pouco tonto.
— Vou me ver numa camisa de onze varas em Kuala Solor — disse ele para sondar o terreno.
— Não sei por quê.
— Fui encarregado de cuidar de você. Não acharão muito bonito eu tê-lo deixado quase se afogar.
— Não foi sua culpa. Foi culpa daquele imbecil do patrão. Afinal, o importante é que nos salvamos. Com a breca, houve um momento em que me vi perdido. Gritei por você pedindo socorro. Não sei se você me ouviu.
— Não, não ouvi nada. Fazia uma barulheira do inferno, hein?
— Talvez você já tivesse escapado. Não sei exatamente quando se safou.
Izzart olhou-o com atenção. Seria fantasia sua ou os olhos de Campion tinham mesmo uma expressão esquisita?
— Era uma confusão medonha — disse ele. — Eu estava já sem forças. O meu criado me atirou um remo e me deu a entender que você estava fora de perigo. Disse-me que você tinha alcançado a margem.
O criado devia ter dado o remo a Campion e dito a Hassan, o forte nadador, que ajudasse o outro. Estaria imaginando de novo que Campion lhe dava um olhar vivo e penetrante?
— Quisera ter sido mais prestativo — disse Izzart.
— Oh, tenho certeza de que você teve trabalho de sobra para se salvar — respondeu Campion.
O chefe da casa trouxe-lhes taças de arak e ambos beberam muito. A cabeça de Izzart começou a girar e ele sugeriu que se deitassem. Tinham-lhes preparado duas camas com mosquiteiros. Partiriam ao amanhecer para terminar a descida do rio. A cama de Campion ficava ao lado da sua e daí a poucos minutos ouviu-o roncar. Tinha ferrado no sono assim que se deitara. Os moços da casa comunal e os presos da tripulação do bote conversaram até tarde da noite. Izzart tinha uma horrível dor de cabeça e não podia pensar. Quando Hassan o acordou, ao romper do dia, ele teve a impressão de que não havia dormido. As roupas dos dois ingleses estavam lavadas e enxutas, mas ambos tinham um aspecto muito enlameado ao tomarem o estreito caminho do rio, onde os esperava um prau. Os barqueiros remavam descansadamente. A manhã estava linda e o grande lençol de água plácida reluzia sob a luz suave.
— Caramba, é um prazer estar vivo! — disse Campion.
Estava sujo e barbudo. Respirava em haustos profundos, a boca torta entreaberta numa expressão sorridente. Via-se que ele achava o ar delicioso. Encantava-se com o espetáculo do céu azul, do sol e do verde das árvores. Izzart sentiu-lhe ódio. Tinha certeza de que as suas maneiras haviam mudado nessa manhã. Não sabia o que fazer. Estava a ponto de apelar para a sua generosidade. Ele se conduzira mal, mas lamentava-o e tudo daria para ter novamente uma oportunidade; afinal qualquer um podia ter procedido como ele, e se Campion o denunciasse ele estava perdido. Teria de deixar Sembulu e o seu nome ficaria desacreditado em Bornéu e nos Estabelecimentos do Estreito. Se fizesse uma confissão a Campion, obteria deste uma promessa de guardar segredo — mas cumpriria ele tal promessa? Considerou aquele homenzinho de maneiras evasivas: como confiar em tal criatura? Izzart pensou no que tinha dito na noite anterior. Não era a verdade, por certo, mas quem poderia sabê-lo? Em todo caso, quem poderia provar que ele não julgara sinceramente que Campion estava salvo? Este podia dizer o que quisesse, era a palavra dum contra a do outro; bastava rir, dar de ombros e responder que seu companheiro perdera a cabeça e não sabia o que estava dizendo. Além disso, não era certo que Campion não tivesse aceitado a sua explicação; naquela medonha luta com a morte ele não podia ter formado uma ideia clara de coisa alguma. Izzart tinha a tentação de voltar ao assunto, mas receava que isso despertasse suspeitas em Campion. Devia ficar calado. Era a sua única salvação. E, quando chegassem a Kuala Solar, trataria de ser o primeiro a dar a sua versão do caso.
— Eu me sentiria completamente feliz se tivesse alguma coisa que fumar — disse Campion.
— Arranjaremos cigarros a bordo. Campion riu de leve. — A alma humana é contraditória. No primeiro momento senti-me tão contente por estar vivo que não pensei em mais nada, mas agora estou começando a lamentar a perda das minhas notas, das minhas fotografias e do meu aparelho de barbear. — Izzart formulou de si para si o pensamento que se ocultava no fundo do seu cérebro, mas a que durante toda a noite ele negara acesso à consciência:
"Quem me dera que ele se tivesse afogado! Só assim eu estaria tranquilo."
— Lá está ele! — gritou Campion de repente.
Izzart virou-se para olhar. Tinham chegado à foz do rio e lá estava o Sultan Ahmed a esperá-los. Izzart esfriou: esquecera que o navio tinha um capitão inglês e seria preciso contar a este a aventura. Que iria dizer-lhe. Campion? O capitão chamava-se Bredon e Izzart encontrara-se muitas vezes com ele em Kuala Solor. Era um homenzinho rude, de bigode preto e maneiras despachadas.
— Apressem-se — gritou ao vê-los chegar. — Estou esperando desde o nascer do sol.
Mas quando os dois subiram para bordo ele fez uma cara consternada. — Ué, o que foi que lhes aconteceu?
— Dê-nos um drinque e lhe contaremos a história — respondeu Campion com o seu sorriso de viés.
— Venham comigo.
Sentaram-se debaixo do toldo. Havia ali uma mesa com copos, uma garrafa de uísque e água de soda. O capitão deu uma ordem e dentro de poucos minutos o vapor punha-se ruidosamente em marcha.
— Fomos apanhados pela pororoca — disse Izzart. Sentia a necessidade de dizer alguma coisa. Tinha a boca horrivelmente seca apesar do drink.
— Não me diga! Foi uma sorte não morrerem afogados. Como foi isso?
Dirigia-se a Izzart porque o conhecia, mas foi Campion quem respondeu. Relatou todo o episódio com exatidão. Izzart o escutava com uma atenção concentrada. Campion falou no plural ao referir a primeira parte da história, mas quando chegou ao momento em que eles tinham sido jogados à água passou para o singular. No começo disse o que eles tinham feito, agora dizia o que lhe acontecera, a ele, excluindo Izzart da narrativa. Este não sabia se devia sentir-se aliviado ou alarmado. Por que o outro não o mencionava? Seria porque naquela luta mortal ele não tinha pensado senão em si, ou... Ou por acaso ele sabia?
— E a você, que foi que aconteceu? — perguntou o capitão Bredon voltando-se para Izzart.
Este ia responder quando Campion falou: — Antes de ser levado para o outro lado do rio eu pensava que ele se tivesse afogado. Não sei como escapou. Creio que nem ele mesmo sabe.
— Salvei-me por um tris — ajuntou Izzart, rindo. Por que motivo Campion tinha dito aquilo? Seu olhar cruzou-se com o dele. Julgou notar-lhe um brilho irônico. Era horrível não ter certeza de nada. Sentiu medo e vergonha. Não haveria um meio de orientar a conversa, quer naquele momento, quer mais tarde, de modo que lhe fosse possível saber se era aquela a história que ele pretendia contar em Kuala Solor? Nada havia nela que despertasse suspeitas. Mas ainda que ninguém mais soubesse; Campion sabia! Tinha ganas de matá-lo.
— Bem, o que me parece é que os dois tiraram a sorte grande — disse o capitão.
Dali a Kuala Solor era perto. Enquanto subiam o rio Sembulu Izzart observava taciturnamente as margens. De ambos os lados viam-se os mangues e as nipas banhados pela água e, por trás, o verde carregado da floresta. Aqui e além, entre árvores de fruta, apareciam casas malaias erguidas sobre estacas. Quando encostaram às docas a noite ia caindo. Goring, o inspetor da polícia, veio a bordo e apertou-lhes a mão. De momento estava morando na hospedaria dos viajantes, e enquanto ia interrogando os passageiros nativos informou-os de que encontrariam lá outro homem, chamado Porter. Todos eles se veriam ao jantar. Os criados levaram as bagagens e apetrechos e Campion e Izzart puseram-se a caminho. Tomaram banho, mudaram de roupa, e às oito e meia reuniram-se os quatro na sala comum para tomar gin pahits.
— Que história é essa que Bredon me contou, de que os dois estiveram a ponto de se afogar? — perguntou Goring ao vê-lo entrar.
Izzart sentiu um rubor cobrir-lhe as faces, mas Campion interveio sem lhe dar tempo de responder e pareceu-lhe certo que o outro o fazia a fim de narrar o episódio como mais lhe convinha. Izzart ardia de vergonha. Nem uma palavra era dita em seu menoscabo, nem uma palavra mesmo a seu respeito. Perguntou consigo se aqueles dois homens que escutavam, Goring e Porter, não achariam estranho o ser ele assim excluído do caso. Observou Campion atentamente enquanto este prosseguia na narrativa, com bastante humorismo; não disfarçava o perigo que tinham corrido, mas fazia pilhéria em torno, levando os dois ouvintes a rir daquelas aperturas.
— O mais engraçado — disse Campion — é que quando cheguei ´à outra margem estava preto de lama, da cabeça aos pés. Senti a necessidade de cair n'água e tomar um banho, mas quem é que ia me convencer a entrar de novo naquele maldito rio? "Não senhor", disse cá comigo, "vou assim mesmo." E quando entrei na casa comunal e vi Izzart tão preto como eu, compreendi que ele tinha sentido a mesmíssima coisa.
Riram, e Izzart também forçou uma risada. Notou que Campion tinha contado a história nos mesmos termos que usara com o capitão do Sultan Ahmed. Só podia haver uma explicação para isso: ele sabia de tudo, e tinha tomado a sua resolução sobre o que devia dizer. A habilidade com que Campion expunha os fatos, evitando tudo aquilo que pudesse trazer descrédito, era diabólica. Mas por que essa moderação? Ele não podia deixar de sentir desprezo e raiva do homem que tranquilamente o abandonara num momento de perigo mortal. De súbito, num relâmpago, Izzart compreendeu: ele estava reservando a verdade para contá-la a Willis, o Residente. Apavorou-se ao pensar em fazer frente a Willis. Podia negar, mas de que serviria isso? Willis não era nenhum tolo. Mandaria chamar Hassan, e não se podia confiar na discrição deste; Hassan o trairia. Então ele estaria liquidado. Willis o aconselharia a voltar para a Inglaterra.
Estava com uma tremenda dor de cabeça. Depois do jantar recolheu-se ao seu quarto, pois queria estar só a fim de traçar um plano de ação. Veio-lhe então uma ideia que o fez sentir ao mesmo tempo frio e calor: o segredo que tinha guardado por tanto tempo não era segredo para ninguém. Adquiriu instantaneamente essa certeza. Donde vinham aqueles olhos brilhantes e aquela pele trigueira que tinha? Por que falava ele o malaio com tanta facilidade e por que aprendera tão depressa a língua dos daiaques? Eles sabiam, ora se não! Que imbecil tinha sido em pensar que os outros acreditassem naquela história da avó espanhola! Deviam rir à socapa quando lha ouviam contar, chamando-o de amarelo pelas costas. Veio-lhe então outro pensamento torturante. Perguntou consigo se não seria por causa dessa desgraçada gota de sangue nativo que ao ouvir o pedido de socorro de Campion lhe faltara a coragem. Afinal, qualquer um podia ser tomado de pânico num momento como aquele; e por que, em nome de Deus, havia de sacrificar a sua vida para salvar a de um homem que não lhe interessava em absoluto? Seria loucura! E contudo eles diriam em Kuala Solor que era justamente o que esperavam; não teriam contemplações com ele.
Finalmente deitou-se, mas quando adormeceu, depois de virar-se de um lado para outro sabe Deus quanto tempo, foi acordado por um sonho aterrador. Estava de novo no meio daquela torrente furiosa, com o bote a dar volta e mais voltas; agarrava-se com desespero à amurada, sentia aquela angústia de vê-la escorregar-lhe das mãos, com a água a esbravejar em torno. Despertou de todo antes do amanhecer. Sua única salvação era falar com Willis e contar-lhe a história antes do outro. Refletiu cuidadosamente no que diria e escolheu os próprios termos que pretendia usar:
Levantou-se cedo e, a fim de não se encontrar com Campion, saiu sem comer. Caminhou pela estrada até a hora em que sabia que" o Residente devia estar na repartição, e então voltou sobre os seus passos. Mandou anunciar o seu nome e foi introduzido no gabinete de Willis. Era este um homenzinho idoso, de cabelos grisalhos e ralos, cara amarela e comprida.
— Estimo vê-lo de volta são e salvo — disse ele apertando a mão de Izzart. — Que história é essa que ouvi contar, de que estiveram a ponto de morrer afogados?
Izzart, com uma roupa limpa de brim branco, o chapéu de cortiça imaculado, era uma bela figura de homem. Seu cabelo não tinha um fio fora do lugar, o bigode estava corretamente aparado. Tinha um porte aprumado e marcial.
— Achei que devia vir contar-lhe imediatamente, porque o senhor me havia encarregado de zelar por Campion.
— Venha de lá.
Izzart contou a sua história. Fez pouco do perigo, dando a entender a Willis que este não fora grande. O bote não teria virado se eles não tivessem partido tão tarde.
— Procurei levar Campion mais cedo, mas ele tinha tomado um ou dois drinks e a verdade é que não queria se mexer.
— Ele estava na chuva?
— Quanto a isso não sei — respondeu Izzart com um sorriso bem-humorado, — mas não garanto que estivesse perfeitamente lúcido.
Continuou com a sua história. Achou um meio de insinuar que Campion tinha perdido um pouco a cabeça. Naturalmente aquilo era de apavorar um homem que não fosse bom nadador; ele, Izzart, preocupara-se mais com Campion do que consigo próprio. Sabia que o único meio de escapar era conservar a calma e no momento em que o bote virou tinha visto que Campion estava amedrontado.
— Era muito natural — observou o Residente.
— Está claro que fiz o que pude por ele, sir, mas a verdade é que não podia fazer muito.
— Bem, o principal é que ambos se salvaram. Seria bastante embaraçoso para todos nós se ele se tivesse afogado.
— Achei prudente vir expor-lhe os fatos antes que o senhor falasse com Campion. Ele me parece inclinado a descrevê-los de uma forma extravagante. Não há necessidade de exagerar.
— Em conjunto, as narrativas de ambos concordam entre si — disse Willis com um pequeno sorriso.
Izzart encarou-o, confuso.
— Não falou com Campion esta manhã? Goring contou que tinha havido um contratempo e passei por lá ontem de noite depois do jantar, a caminho de casa. O senhor já tinha ido deitar-se.
Izzart sentiu que se punha a tremer e fez um grande esforço para manter a compostura.
— A propósito, o senhor salvou-se primeiro, não foi?
— Na verdade não sei, sir. Compreende, a confusão era grande.
— Deve ter sido assim, se o senhor chegou à outra margem antes dele.
— Sim, creio que o senhor tem razão. — Bem, obrigado por me ter vindo contar — disse Willis, erguendo-se da cadeira.
Ao fazê-lo derrubou alguns livros que estavam em cima da mesa. Eles caíram ao chão com um baque repentino. Esse som inesperado fez com que Izzart estremecesse violentamente, contendo a respiração. O Residente lançou-lhe um olhar vivo.
— Que é isso? O senhor não parece estar lá muito bom dos nervos.
Izzart não podia dominar o seu tremor. — Lamento muito, sir — murmurou ele.
— Sem dúvida foi um choque para si. Devia descansar durante alguns dias. Por que não pede ao doutor que lhe dê alguma coisa para tomar?
— Não dormi muito bem esta noite. O Residente sacudiu a cabeça para indicar que compreendia. Izzart deixou o gabinete e ao sair para a rua um conhecido seu deteve-se para felicitá-lo. Todos já sabiam do incidente. Voltou para a hospedaria dos viajantes. Enquanto caminhava repetia de si para si a história que tinha contado ao Residente. Seria realmente a mesma que Campion contara? Nem sequer suspeitava que o Residente já havia falado com este. Que tolice cometera em ir deitar-se tão cedo! Não devia ter perdido Campion de vista. Por que motivo o Residente o escutara sem dizer nada? Izzart começou a amaldiçoar-se por ter insinuado que Campion estava embriagado e perdera a cabeça. Tinha dito isso para desacreditá-lo, mas compreendia agora que fora uma estupidez. E qual o motivo daquela alusão de Willis ao fato de ele ter sido o primeiro a salvar-se? Talvez ele também estivesse contemporizando, talvez pretendesse fazer indagações. Willis era um homem muito astuto. Mas que seria exatamente o que Campion tinha dito? Tinha de sabê-lo, custasse o que custasse. Os pensamentos de Izzart estavam em ebulição e era com dificuldade que os controlava. Mas precisava manter a calma. Sentia-se como um animal acossado. Não acreditava que Willis o estimasse; por uma ou duas vezes, na repartição, ele lhe censurara a sua negligência. Talvez estivesse apenas esperando até ter pleno conhecimento dos fatos. Izzart achava-se à beira da histeria.
Entrou na hospedaria dos viajantes. Lá estava Campion, sentado numa espreguiçadeira, com as pernas estendidas. Lia os jornais recebidos durante a sua ausência na selva. Izzart sentiu uma onda de ódio ao olhar para aquele homenzinho mal vestido que o tinha na palma da mão.
— Olá! — disse Campion, alçando os olhos. — Onde foi que você esteve?
Izzart julgou ler-lhe nos olhos uma ironia zombeteira. Cerrou os punhos e a sua respiração tornou-se precipitada.
— Que foi que você andou dizendo de mim a Willis? — perguntou abruptamente.
Tão áspero era o tom em que ele formulou esta pergunta inesperada que Campion lhe lançou um olhar levemente surpreendido.
— Não creio que tenha falado muito a seu respeito. Por quê?
— Ele esteve aqui esta noite. Izzart considerava-o com atenção, as sobrancelhas franzidas numa carranca de cólera. Procurava ler os pensamentos de Campion.
— Disse a ele que você estava com dor de cabeça e tinha ido se deitar. Ele queria saber do nosso contratempo.
— Acabo de falar com ele. Izzart andava de um lado para outro no vasto aposento sombreado. Embora ainda fosse cedo o sol já escaldava, ofuscante. Ele se sentia preso numa rede; estava cego de raiva; tinha ímpetos de agarrar Campion pelo pescoço e estrangulá-lo, e contudo, como não sabia contra que lutar, sentia-se impotente. Estava cansado e indisposto, com os nervos abalados. De repente a cólera que lhe emprestava forças abandonou-o e ele se encheu de desânimo. Dir-se-ia que nas suas veias corria água — em vez de sangue; sentiu desfalecer-lhe o coração e fraquejar as pernas. Percebeu que se não tomasse cuidado ia por-se a chorar. Foi tomado por um horrível abatimento.
— Diabos o levem, tomara que nunca lhe tivesse posto os olhos em cima! — gritou lastimosamente.
— Mas... de que se trata? — perguntou Campion, assombrado.
— Ora, deixe de fingimento! Há dois dias que andamos com disfarces e já estou farto disso. — A sua voz alteou-se, assumindo um tom estridente muito estranho em homem tão robusto e possante. — Estou farto, compreende? Eu me pus ao fresco, deixando que você se afogasse. Sei que procedi como um frouxo. Não pude me dominar.
Campion levantou-se vagarosamente da cadeira. — Mas do que você está falando?
A sua voz tinha um tom de surpresa tão genuíno que fez Izzart estacar. Um arrepio desceu-lhe pela espinha.
— Quando você pediu socorro eu estava tomado de pânico. Agarrei-me a um remo e pedi a Hassan que me ajudasse a escapar.
— Era a coisa mais sensata que você podia fazer.
— Não pude ajudá-lo. Não pude fazer coisa alguma.
— Claro que não. Foi uma tolice minha gritar. Isso era gastar fôlego, e o fôlego era a coisa mais preciosa para mim na ocasião.
— Quer dizer, então, que você não sabia?
— Quando aqueles camaradas me estenderam o colchão eu pensava que você ainda estava agarrado ao bote. Supunha ter escapado antes de você.
Izzart levou ambas as mãos à cabeça e soltou um grito rouco de desespero.
— Meu Deus, que idiota eu sou!
Os dois homens encararam-se durante algum tempo. O silêncio parecia interminável.
— Que é que você vai fazer agora? — perguntou Izzart finalmente.
— Ora, meu caro, não se preocupe. Já tenho passado muitos sustos na minha vida para culpar os outros de covardia. Não contarei isso a ninguém.
— Sim, mas você sabe.
— Dou-lhe a minha palavra. Pode confiar em mim. Além disso, o meu serviço aqui está terminado e vou voltar para casa. Pretendo tomar o primeiro vapor para Singapura. — Houve uma pausa, durante a qual Campion considerou Izzart pensativamente. — Só lhe queria pedir uma coisa. Fiz muitas amizades aqui e há um ou dois pontos em que sou bem sensível. Quando você contar a história do nosso naufrágio, eu lhe ficaria reconhecido se não desse a entender que fiz feio. Não gostaria que os rapazes daqui pensassem que eu tinha perdido a coragem.
Izzart ficou escarlate. Lembrou-se do que dissera ao Residente. Quase chegava a parecer que Campion tinha escutado atrás da porta. Pigarreou e disse:
— Não sei por que você me julga capaz disso.
Campion teve um risinho gutural e bonachão. Os seus olhos cintilaram.
— Coisas do atavismo — respondeu; e, arreganhando os dentes cariados e escuros: — Fume um charuto, meu caro rapaz.
(Título original: The Yellow Streak.)
A carta
Fora do cais o sol escaldava. Uma fila de automóveis, caminhões, ônibus, carros particulares e jornaleiros, corria acima e abaixo pela rua apinhada, e cada chofer fazia soar a sua buzina; os jinriquixás esgueiravam-se agilmente entre a turba, e os cules ofegantes achavam fôlego para berrarem uns aos outros; cules, carregando pesados fardos, passavam a meio trote e gritavam aos transeuntes que lhes abrissem caminho; vendedores ambulantes apregoavam as suas mercadorias. Singapura é o ponto de encontro de uma centena de povos; e homens de todas as cores, tâmils negros, chins amarelos, malaios pardos, armênios, judeus e bengalis, chamavam-se em vozes roucas. Mas dentro do escritório dos Srs. Ripley, Joyce e Naylor havia uma aprazível frescura; a casa parecia obscurecida após o revérbero poeirento da rua, e agradavelmente silenciosa depois daquela contínua barulheira. Mr. Joyce achava-se no seu gabinete particular, sentado à mesa, com um ventilador elétrico à frente. Inclinado para trás, com os cotovelos nos braços da cadeira, tinha as mãos unidas pelas pontas dos dedos entreabertos. Repousava o olhar nos volumes surrados da Coletânea de Leis, que se enfileiravam diante dele numa comprida prateleira. Em cima de um armário, viam-se caixas de charão, quadradas, nas quais estavam pintados os nomes de vários clientes.
Bateram à porta. — Entre. Um secretário chinês, muito limpo na sua roupa de linho branco, abriu a porta.
— Mr. Crosbie está aí, senhor. Falava um excelente inglês, acenTuando com precisão todas as palavras, e Mr. Joyce muitas vezes se admirava da extensão do seu vocabulário. Ong Chi Seng era cantonês, e estudara advocacia no Inn of Court, em Londres. Viera trabalhar um ano ou dois com os Srs. Ripley, Joyce e Naylor a fim de preparar-se para advogar com escritório próprio. Era diligente, obsequioso, e de caráter exemplar.
— Mande-o entrar — disse Mr. Joyce.
Levantou-se para apertar a mão do visitante e convidá-lo a sentar-se. Quando este assim o fez, achou-se exposto à luz. O rosto de Mr. Joyce permaneceu na sombra. Era um homem silencioso por índole, e ficou a olhar para Robert Crosbie, durante um minuto, sem dizer palavra. Crosbie era um tipo sólido, com mais de um metro e oitenta de altura, musculoso e de ombros largos. Era plantador de borracha, enrijado no constante exercício de caminhar pelos seringais, e no tênis, a sua única distração quando findava o dia de trabalho. Estava bastante queimado pelo sol. As mãos peludas, os pés metidos em sapatos grosseiros, eram enormes; Mr. Joyce deu consigo a pensar que um golpe daquele robusto punho mataria facilmente um tâmul franzino. Mas não havia dureza nos seus olhos azuis: eram suaves e confiantes; o rosto, de feições grossas e indistintas, era aberto, franco e honesto. Mas nesse momento havia nele uma expressão de profunda tristeza. Estava contraído e macilento.
— Parece-me que você não tem dormido muito há uma ou duas noites — disse Mr. Joyce.
— Não tenho, não.
Mr. Joyce observou o velho chapéu de feltro, de abas largas e duplas, que Crosbie tinha colocado sobre a mesa; correu depois os olhos para as suas calças curtas, de cáqui, que mostravam as coxas cobertas de pelos ruivos, para a camisa de tênis aberta ao pescoço, sem gravata, e para o casaco enxovalhado, também de cáqui, cujas mangas estavam viradas para cima. O homem dava a impressão de que acabava de chegar de uma longa caminhada por entre os seringais. Mr. Joyce franziu ligeiramente o sobrolho.
— Você precisa recompor-se, homem. Precisa manter a cabeça no lugar.
— Oh, estou muito bem. — Viu sua mulher hoje? — Não, vou vê-la agora de tarde. Você compreende, é uma enorme vergonha o fato de a terem prendido.
— Acho que se viram obrigados a isso — observou Mr. Joyce na sua voz suave e parelha.
— Pois eu pensava que a deixariam em liberdade sob fiança.
— A acusação é muito séria.
— É detestável. Ela fez o que qualquer mulher honesta faria em seu lugar. Acontece que em dez mulheres, nove não teriam coragem para isso. Leslie é a melhor criatura do mundo. Ela não seria capaz de matar uma mosca. Ora, deixemo-nos de coisas, meu caro. Estou casado com ela há doze anos, e pensa você que eu não a conheço? Deus do céu, se eu tivesse apanhado o sujeito, torcia-lhe o pescoço. Matava-o sem um momento de hesitação. Você faria o mesmo.
— Mas meu caro, todos estão do seu lado. Ninguém é capaz de dizer uma única palavra em favor de Hammond. Vamos tirá-la de lá. Acho que nem os jurados nem o juiz irão ao tribunal sem estarem resolvidos a absolver.
— Toda a história é uma farsa — disse Crosbie violentamente. — Em primeiro lugar, ela nunca devia ter sido presa, e é terrível, depois de tudo o que ela passou, submetê-la à provação de um julgamento. Nem uma só das pessoas que encontrei, desde que cheguei em Singapura, homem ou mulher, deixou de dizer-me que Leslie estava absolutamente justificada. Acho que é horrível mantê-la na prisão durante todas estas semanas.
— A lei é a lei. Afinal de contas, ela confessa que matou o homem. Isso é terrível, e eu o lamento muitíssimo, tanto por você como por ela.
— Não tem importância nenhuma.
— Mas permanece o fato de que o crime foi cometido, e numa comunidade civilizada um julgamento é inevitável.
— Acabar com um bicho daninho é crime? Ela o matou como teria matado um cão hidrófobo.
Mr. Joyce tornou a inclinar-se na sua cadeira e mais uma vez uniu as mãos pelas pontas dos dedos entreabertos. O gesto parecia formar a armação de pequeno telhado. Esteve um momento em silêncio.
— Eu faltaria ao meu dever como seu consultor legal — disse ele por fim, numa voz plana, fitando o cliente com os seus olhos castanhos e frios — se não lhe mencionasse um ponto que me causa certa ansiedade. Se sua esposa tivesse disparado contra Hammond um só tiro, tudo seria absolutamente fácil e resolvido. Por infelicidade, ela fez seis disparos.
— A explicação dela é perfeitamente simples. Naquelas circunstâncias qualquer pessoa teria feito o mesmo.
— Suponho — disse Mr. Joyce — e sem dúvida acho que a explicação é muito razoável. Mas de nada serve fecharmos os olhos diante dos fatos. Sempre é um bom recurso colocar-se a gente no lugar do adversário, e eu não posso negar que se fosse o promotor concentraria o meu interrogatório em torno desse ponto.
— Mas meu caro, isso é perfeitamente idiota. Mr. Joyce lançou um olhar penetrante a Robert Crosbie. A sombra de um sorriso pairou-lhe nos lábios bem formados. Crosbie era um bom sujeito, mas dificilmente poderia ser dado como inteligente.
— Acho que isso não tem importância — respondeu o advogado. — Apenas julguei que era um ponto mencionável. Vocês não têm, agora, muito que esperar, e quando tudo estiver terminado recomendo-lhe que faça uma viagem com a esposa, e esqueçam tudo o que houve. Embora tenhamos certeza quase absoluta de conseguir uma absolvição, um julgamento destes é coisa que causa ansiedade, e vocês dois precisarão de um descanso.
— Acho que eu vou precisar mais do que Leslie. Ela tem resistido maravilhosamente. Meu Deus, é uma mulherzinha muito corajosa.
— Sim, tem-me surpreendido a maneira como ela se mantém senhora de si — disse o advogado. — Eu nunca teria pensado que ela fosse capaz de tamanha determinação.
Os deveres de advogado tinham-lhe exigido uma série de entrevistas com Mrs. Crosbie desde a sua prisão. Apesar de a terem cercado de todas as atenções cabíveis, havia o fato de que ela se encontrava na cadeia, à espera de ser julgada por homicídio, e não seria para admirar se os nervos lhe falhassem. Parecia suportar tranquilamente a. provação. Lia muito, fazia quanto exercício lhe era possível, e por deferência das autoridades trabalhava na almofada de rendas que sempre fora o entretenimento das suas longas horas de lazer. Quando Mr. Joyce a viu, ela usava um vestido leve, simples e correto, tinha o cabelo cuidadosamente penteado e as unhas polidas. A sua atitude era de calma e compostura. Chegou a gracejar sobre os pequenos inconvenientes da sua posição. Havia certa despreocupação no modo por que ela falava da tragédia, e isto sugeriu a Mr. Joyce que apenas a sua boa educação impedia de achar um tanto ridícula uma situação que era eminentemente séria. Tal coisa o surpreendeu, pois nunca a julgara capaz de fazer humorismo.
Conhecia-a desde muitos anos. Quando ela visitava Singapura, geralmente vinha jantar com ele e a esposa, e por uma ou duas vezes passara com eles um fim de semana na sua casa a beira-mar. A sua esposa tinha ficado quinze dias com ela no seringal, e diversas vezes encontrara Geoffrey Hammond. Os dois casais entretinham amizade, embora não em caráter íntimo, e foi por este motivo que Robert Crosbie correra a Singapura imediatamente após a catástrofe e suplicara a Mr. Joyce que se encarregasse em pessoa da defesa de sua infeliz esposa.
A história que ela lhe contara na sua primeira entrevista não fora mudada no mínimo detalhe. Narrara-a tão friamente nessa ocasião, poucas horas após a tragédia, como o fazia agora. Narrava-a concatenadamente, em voz plana e parelha, e seu único sinal de confusão era quando um leve rubor lhe chegava às faces no momento em que descrevia um ou dois dos seus incidentes. Era ela a última mulher a quem se esperasse acontecer semelhante coisa. Com trinta e poucos anos, era uma criatura frágil, nem baixa nem alta, e antes graciosa que bonita. Com os punhos e tornozelos muito delicados, era contudo muito franzina e podia-se ver-lhe os ossos das mãos através da pele branca; as meias eram grossas e azuis. Rosto sem cor, ligeiramente pálido, e lábios brancos. Não se lhe notava a cor dos olhos. Tinha um abundante cabelo castanho claro, com ligeira ondulação natural; cabelos que com um pequeno arranjo ficariam lindíssimos, mas não se podia imaginar que Mrs. Crosbie fosse capaz de recorrer a semelhante recurso. Era uma mulher quieta, agradável e modesta. Tinha maneiras atraentes, e se não era muito popular, devia-o a uma certa timidez. Isto era bastante compreensível, pois a mulher de um plantador passa uma vida solitária, mas na sua casa, entre as pessoas que conhecia, Mrs. Crosbie era encantadora no seu modo tranquilo. Mrs. Joyce, após a sua estada de quinze dias, disse ao marido que Leslie sabia receber agradavelmente. Nela, afirmou, havia mais do que pudessem pensar; tratando-a, ficava-se surpreso com tudo o que lera e pelo seu modo consumado de dirigir uma palestra.
Seria a última mulher do mundo a cometer um assassinato.
Mr. Joyce despediu Robert Crosbie com as palavras tranquilizadoras que pôde encontrar e, outra vez a sós no gabinete, folheou as páginas do sumário. Mas o gesto era maquinal, pois todos os seus detalhes lhe eram familiares. O caso representava a sensação do dia, e era discutido em todos os clubes, em todas as mesas de jantar, abaixo e acima da península, de Singapura e Penang. Os fatos expostos por Mrs. Crosbie eram muito simples. O marido tinha ido a Singapura a negócios, e ela estava sozinha à noite. Jantou só, tarde, um quarto para as nove, e depois da refeição sentou-se na sala de estar, a tecer as suas rendas. A sala dava para a varanda. Não havia ninguém no bangalô, e os criados estavam recolhidos às suas acomodações, nos fundos do cercado. Surpreendeu-se quando ouviu passos no caminho saibroso do jardim, passos de pés calçados, antes de um branco que de um nativo, pois não ouvira ruído de automóvel a aproximar-se, e não podia imaginar quem a viesse visitar àquela hora da noite. Alguém subiu os poucos degraus que levavam ao bangalô, atravessou a varanda, e apareceu à porta da sala em que ela se encontrava. No primeiro momento não reconhecera o visitante. Estava sentada ao pé de uma lâmpada com velador, e ele lhe ficava às costas, no escuro.
— Posso entrar? — perguntou o homem.
Ela nem lhe reconheceu a voz.
— Quem é? — perguntou. Como estivesse de óculos para trabalhar, tirou-os enquanto falava.
— Geoff Hammond.
— Claro. Entre e tome alguma coisa.
Mrs. Crosbie levantou-se e apertou-lhe cordialmente a mão. Estava um pouco surpresa em vê-lo, pois embora fossem vizinhos, nem ela nem Robert mantinham ultimamente grande amizade com ele, e havia algumas semanas que não o avistava. Era ele gerente de um seringal que distava quase oito milhas, e ela não podia atinar com o motivo de semelhante visita àquela hora tardia.
— Robert não está em casa — disse ela. — Teve que ficar esta noite em Singapura.
— É pena. Sinto-me um tanto sozinho à noite, e lembrei-me de chegar até aqui e saber como passavam.
— Como é que veio? Não ouvi ruído de automóvel.
— Deixei o carro lá na estrada. Achei que talvez já estivessem deitados.
Isso era natural. Os plantadores levantam-se de madrugada a fim de fazer a chamada dos seringueiros, e ficam satisfeitos em deitar-se pouco depois do jantar. Com efeito, no dia seguinte o carro de Hammond foi encontrado a uma distância de quarto de milha.
Estando Robert ausente, não havia uísque e soda na sala. Leslie não chamou o criado, que provavelmente dormia, mas foi buscar a bebida. O visitante serviu-se de um copo e encheu o cachimbo.
Geoff Hammond tinha uma legião de amigos na colônia. Aproximava-se então dos quarenta anos, mas ali chegara quando rapaz. Fora um dos primeiros a apresentar-se ao irromper a guerra, e portara-se muito bem. Um ferimento no joelho fez que ele fosse dispensado do exército após dois anos, mas Hammond voltou aos Estados Malaios Confederados trazendo duas condecorações. Era um dos melhores jogadores de bilhar em toda a colônia. Tinha sido excelente bailarino e ótimo tenista, mas embora não mais pudesse dançar, nem o seu tênis, devido ao joelho, fosse tão bom como antes, possuía o dom da popularidade e gozava de estima geral. Era um tipo de boa aparência, alto, de atraentes olhos azuis e uma linda cabeça coberta de cabelos negros e crespos. Pessoas experientes diziam que sua única falta era gostar demais das mulheres, e depois da catástrofe sacudiam a cabeça e juravam ter sabido sempre que isso o levaria à desgraça.
Hammond, pois, começou a falar com Leslie sobre os assuntos locais, as próximas corridas em Singapura, o preço da borracha, e sobre as probabilidades de matar um tigre que ultimamente vira nas redondezas. Ansiosa por aprontar as rendas em certa data, pois desejava mandá-las para o aniversário da mãe, na Inglaterra, tornou a por os óculos e puxou para a sua cadeira a mesinha onde estava a almofada.
— Eu gostaria que você não usasse esses óculos enormes — disse ele. — Não sei por que uma mulher bonita deva fazer o possível para parecer feia.
Mrs. Crosbie ficou um tanto desapontada com esta observação. Hammond nunca empregara aquele tom para com ela. Achou que seria melhor não levá-lo a sério.
— Não tenho a pretensão de ser uma beleza deslumbrante, e se quiser saber, sou obrigada a dizer-lhe que pouco me importa que você me ache feia ou não.
— Mas eu não penso que você seja feia. Acho que é muito, muito bonita.
— Muito gentil — respondeu ela, ironicamente. — Mas neste caso somente posso julgá-lo sem espírito.
Ele riu por entredentes. Mas levantou-se da cadeira e sentou-se noutra mais próxima.
— Você não será capaz de negar que tem as mãos mais lindas do mundo — disse ele.
E fez um gesto como se fosse pegar uma delas. Mrs. Crosbie deu-lhe uma pancadinha.
— Não seja tolo. Sente-se onde estava antes e fale sensatamente, senão vou mandá-lo para casa.
Ele não se moveu. — Então não sabe que estou apaixonado por você?
Ela continuou impassível. — Não. Não. acredito um instante nisso, e ainda que fosse verdade, não quero que você o diga.
Surpreendia-se tanto mais com as suas palavras porque, nos sete anos em que o conhecia, nunca recebera dele uma atenção especial. Quando ele voltara da guerra, tinham-se visto com frequência, e em certa ocasião, ele tendo adoecido, Robert o trouxera para o bangalô no seu carro.
Hammond passou quinze dias com os Crosbie. Mas seus interesses eram diferentes, e a relação nunca se desenvolvera em amizade. Durante os últimos dois ou três anos pouco o tinham visto. Uma que outra vez ele aparecia para jogar tênis, e de quando em quando o encontravam numa festa, mas comumente lhes acontecia passar um mês inteiro sem o verem.
Hammond serviu-se de mais um uísque. Havia nele qualquer coisa de estranho, e isto a deixava um tanto inquieta. Leslie desconfiou que ele já estivera a beber. — No seu lugar, eu não beberia mais — disse ela, ainda bem humorada.
Ele esvaziou o copo e colocou-o na mesinha.
— Julga que lhe falo deste modo porque estou bêbado? — perguntou ele abruptamente.
— Essa é a explicação mais óbvia, não é?
— Pois não é. Gostei de você desde o primeiro momento em que a vi. Calei-me enquanto pude, mas agora não posso mais. Eu gosto de você, eu quero você, eu amo você.
Ela levantou-se e pôs cuidadosamente a almofada para um lado.
— Boa noite — disse ela.
— Ainda não vou.
Por fim ela começou a perder a paciência. — Mas você não está vendo, pobre tolo, que eu nunca amei ninguém a não ser Robert, e mesmo que eu não gostasse dele, você seria a última pessoa a me interessar.
— Que me importa isso? Robert não está aqui.
— Se você não se retirar imediatamente, chamo os criados e mando tirá-lo daqui.
— Eles não podem ouvir.
Leslie já estava zangada de fato. Fez um movimento em direção à varanda, de onde certamente seria ouvida pelo criado, mas ele a segurou por um braço.
— Solte-me — gritou ela furiosa.
— Assim não. Agora você é minha.
Ela abriu a boca e gritou pelo criado, mas com um gesto rápido Hammond lhe pôs a mão nos lábios. A seguir, sem que ela soubesse qual o seu intento, ele a havia tomado nos braços e beijava-a apaixonadamente. Leslie lutou, esquivando os lábios da sua boca ardente.
— Não, não, não! — gritou ela. — Deixe-me. Não quero.
Sentia-se confusa quanto ao que sucedera depoiss. Lembrava-se precisamente de tudo o que fora dito antes, mas nesse momento as palavras dele lhe chegavam aos ouvidos por entre uma névoa de medo e terror. Ele parecia implorar-lhe amor. Irrompeu em violentos protestos de paixão. E durante todo o tempo mantinha-a no seu abraço tempestuoso. Leslie estava desamparada, pois ele era um homem sólido e robusto, e ela estava com os braços dobrados para trás; os seus repelões de nada lhe valiam, e as forças começavam a faltar-lhe; receava desmaiar, e o seu hálito quente junto ao rosto dela enojava-a até o desespero. Ele beijava-lhe a boca, os olhos, as faces, o cabelo. A pressão dos seus braços estava a matá-la. Viu-se erguida no ar. Procurou dar-lhe pontapés, mas isto o fez apertá-la ainda mais. Carregava-a agora. Já não falava mais, mas Leslie via que o seu rosto estava pálido e os olhos acesos de desejo. Conduzia-a para o quarto de dormir. Não era mais um homem civilizado, mas um selvagem; E enquanto corria bateu numa mesa que havia no caminho. O defeito no joelho deixava-o um pouco inseguro sobre os pés, e com o peso da mulher nos braços, caiu. Num instante ela se desvencilhou dele. Correu em volta do sofá. Mas Hammond já estava em pé e atirava-se para ela. Havia um revólver na escrivaninha. Leslie não era mulher nervosa, mas Robert passava a noite fora, e ela pretendia levar a arma para o quarto quando se recolhesse. Por isso é que o revólver estava ali. Agora, tomava-a um frenesi de terror. Não sabia o que estava fazendo. Ouviu um estampido. Viu Hammond cambalear. Dar um grito. Dizer qualquer coisa, que ela não sabia o que era. Sair aos tropeços da sala para a varanda. Uma fúria apoderava-se dela, estava fora de si, perseguiu-o, sim, era isso mesmo, ela o devia ter perseguido, embora de nada se lembrasse, perseguiu-o atirando maquinalmente, disparo após disparo, até que as seis cápsulas ficaram vazias. Hammond caiu no chão da varanda. Encolhido. Ensanguentado.
Quando os criados acudiram, sobressaltados pelos tiros, encontraram-na em pé junto a Hammond, ainda com o revólver na mão, e Hammond sem vida. Mrs. Crosbie ficou olhando para eles, durante um momento, sem falar. Os criados formavam um grupo assustado e confuso. Ela deixou cair o revólver, e sem uma palavra voltou-se e caminhou para a sala de estar. Viram-na entrar no seu quarto e torcer a chave na fechadura. Ninguém se atrevia a tocar no cadáver, mas todos o olhavam com olhos aterrorizados, e falavam em voz baixa uns com os outros. Pouco depois o criado-chefe recuperava a calma; era um chinês sensato, e havia muitos anos que estava com os Crosbie. Robert tinha ido a Singapura no seu motociclo, e o carro estava na garagem. O criado mandou buscá-lo; deviam ir imediatamente ao comissário do distrito e informá-lo do que havia acontecido. Apanhou o revólver e meteu-o no bolso. O comissário, um homem chamado Whiters, morava nos arredores da cidade mais próxima, que distava cerca de trinta e cinco milhas. A viagem levou-lhes hora e meia. Quando chegaram, encontraram todos adormecidos, e foi preciso acordar todos os criados. Dentro em pouco Whiters apareceu e foi informado do ocorrido. O criado-chefe apresentou-lhe o revólver como prova do que dizia.
O comissário entrou no quarto para vestir-se, mandou trazer o carro, e pouco depois voltava com eles pela estrada deserta. A manhã ia rompendo quando o homem chegou ao bangalô de Crosbie. Subiu correndo os degraus da varanda, e estacou diante do corpo de Hammond, que jazia onde tinha caído. Estava frio.
— Onde está a senhora? — perguntou ele ao criado-chefe. O chinês apontou para o quarto de dormir. Whiters foi até a porta e bateu. Não houve resposta. Bateu novamente.
— Mrs. Crosbie — chamou ele.
— Quem é?
— Withers.
Houve outra pausa. A chave girou na fechadura e a porta abriu lentamente. Leslie estava diante dele. Não se havia deitado e tinha o mesmo negligé que pusera para o jantar. Imóvel, olhava em silêncio para o comissário.
— Seu criado foi me buscar — disse ele. — Hammond. O que a senhora fez?
— Ele quis me violentar e eu o matei.
— Deus do céu! Venha para cá, então. A senhora tem que contar exatamente o que aconteceu.
— Agora não. Não posso. Dê-me tempo. Mande chamar meu marido.
Whiters era um homem jovem, e não sabia exatamente o que fazer numa emergência que ficava tão fora de suas obrigações. Leslie recusou-se a dizer coisa alguma até que finalmente chegou Robert. Narrou então o fato aos dois homens, e desde esse primeiro momento, embora tivesse repetido a história muitas e muitas vezes, nunca alterara um mínimo detalhe.
O ponto a que Mr. Joyce aludia eram os disparos. Como advogado aborrecia-se por Leslie ter atirado não uma, mas seis vezes, e o exame do cadáver demonstrou que quatro dos tiros haviam sido desfechados junto ao corpo. Quase se podia dizer que quando o homem caíra ela se aproximara e descarregara nele o conteúdo do revólver. Leslie confessava que a sua memória, tão precisa quanto ao que havia precedido, aqui lhe falhava. Nada lhe acudia ao espírito. Isto indicava uma fúria cega; mas fúria cega era a última coisa que se poderia ter esperado daquela mulher sossegada e modesta. Mr. Joyce conhecia-a e de muitos anos, e nunca a julgara uma pessoa emotiva; durante as semanas após a tragédia fora espantosa a sua compostura.
Mr. Joyce encolheu os ombros. — O fato — refletiu ele — é que, suponho eu, nunca se pode dizer quantas possibilidades de selvageria se escondem na maior parte das mulheres respeitáveis.
Bateram na porta. — Pode entrar. O secretário chinês entrou e fechou a porta. Fechou-a suavemente, com deliberação, mas de modo decisivo, e avançou para a mesa ante a qual sentava-se Mr. Joyce.
— É-me possível aborrecê-lo, senhor, com uma palestra de poucas palavras em caráter particular? — perguntou ele.
A precisão requintada com a qual o secretário costumava se expressar-se divertia um tanto Mr. Joyce, que sorriu francamente.
— Aborrecimento nenhum, Chi. Seng — replicou ele. — O assunto a cujo respeito desejo falar-lhe, senhor, é delicado e confidencial.
— Vá dizendo.
Mr. Joyce mirou os olhos argutos do seu secretário. Como sempre, Ong Chi Seng vestia-se de acordo com a grande moda local. Calçava sapatos de verniz muito lustrosos e meias de seda em cores vivas. Na gravata preta havia um pregador de pérola e rubi, e no quarto dedo da mão esquerda um anel de brilhante. Do bolso do casaco impecável e branco, sobressaíam uma caneta-tinteiro de ouro e um lápis também de ouro. Usava um relógio-pulseira, de ouro, e a cavaleiro do nariz, um pince-nez invisível. Tossiu discretamente.
— O assunto se relaciona com o caso Crosbie, senhor.
— Sim?
— Determinada circunstância chegou ao meu conhecimento, senhor, circunstância essa que me parece dar-lhe um novo aspecto.
— Que circunstância?
— Chegou a meu conhecimento, senhor, que existe uma carta da ré para a infortunada vítima da tragédia.
— Isso não me causaria grande surpresa. Não duvido que, nestes últimos sete anos, Mrs. Crosbie tenha tido várias ocasiões para escrever a Mr. Hammond.
Mr. Joyce tinha em alta conta a inteligência do secretário e as suas palavras visavam esconder o que pensava.
— Isso é muito provável, senhor. Mrs. Crosbie frequentemente deve ter se comunicado com o falecido, para convidá-lo para jantar, por exemplo, ou propor-lhe uma partida de tênis. Foi o que primeiramente me ocorreu quando o assunto veio à minha atenção. Todavia, a carta em questão foi escrita, senhor, no dia da morte de Mr. Hammond.
Mr. Joyce não pestanejou. Continuou a olhar para Ong Chi Seng com o sorriso meio divertido que geralmente mostrava ao falar-lhe.
— Quem foi que lhe disse isso?
— As circunstâncias foram trazidas a meu conhecimento, senhor, por uma pessoa de minha amizade.
Mr. Joyce sabia que não lhe adiantava insistir.
— Sem dúvida, estará o senhor lembrado de que Mrs. Crosbie declarou, no seu depoimento, que até a noite fatal não havia se comunicado com o falecido durante várias semanas.
— Tem a carta aí?
— Não a tenho, senhor.
— O que ela diz?
— O amigo a que me referi forneceu-me uma cópia. Gostaria de examiná-la?
— Sim.
Ong Chi Seng tirou de um bolso interno uma volumosa carteira. Estava cheia de papéis, notas de dólar de Singapura e cupons de cigarros. Dessa confusão o secretário extraiu meia folha de papel de notas e colocou-a diante de Mr. Joyce. A carta dizia o seguinte:
R. passará a noite fora. Tenho absoluta necessidade de ver-te. Espero-te às onze horas. Estou desesperada, e se não vieres não responderei pelas consequências. Deixa o carro na estrada.
L.
A cópia estava escrita na letra cheia que os chineses aprendem nas escolas estrangeiras. Havia uma singular incoerência entre a caligrafia tão incaracterística e aquelas palavras fatais.
— Qual seu motivo para achar que este bilhete foi escrito por Mrs. Crosbie?
— Tenho, senhor, inteira confiança na veracidade de meu informante — respondeu Ong Chi Seng. — E o assunto pode ser muito facilmente posto à prova. Mrs. Crosbie, sem dúvida alguma, estará habilitada a dizer-lhe de imediato se escreveu ou não semelhante carta.
Desde o começo da conversa Mr. Joyce não havia tirado os olhos do rosto sério do secretário. Não sabia dizer agora se discernia nele uma leve expressão de zombaria.
— É inconcebível que Mrs. Crosbie tenha escrito essa carta — disse Mr. Joyce.
— Se esta é sua opinião, senhor, o assunto acha-se por certo encerrado. O meu referido amigo falou-me a respeito apenas por julgar que, estando eu no seu escritório, o senhor possivelmente gostaria de saber da existência desta carta antes de ser feita uma comunicação ao promotor público.
— Quem tem o original? — perguntou vivamente Mr. Joyce.
Ong Chi Seng não deu mostra de ter percebido nesta pergunta e no tom uma mudança de atitude.
— Sem dúvida estará lembrado de que, após a morte de Mr. Hammond, descobriu que ele mantinha relações com uma chinesa. A carta encontra-se presentemente em poder dela. — Essa era uma das coisas que com maior veemência tinham voltado a opinião pública contra Hammond. Veio a se saber que durante vários meses ele tivera uma chinesa em casa. Nenhum deles falou por um momento. Na verdade, tudo já fora dito e cada um entendia perfeitamente o outro.
— Fico-lhe agradecido, Chi Seng. Vou tratar do assunto.
— Muito bem, senhor. Deseja que a esse respeito eu entre em comunicação com o meu referido amigo?
— E também seria bom que você não perdesse contato com ele — respondeu Mr. Joyce com gravidade.
— Sim, senhor.
Silenciosamente, tornando a fechar a porta com deliberação, o secretário retirou-se da sala e deixou M. Joyce entregue a suas reflexões. O advogado olhou para a cópia, em letra correta e impessoal, da carta de Leslie. Vagas suspeitas o perturbavam. Eram elas tão desconcertantes que recorreu a um esforço para afastá-las do espírito. Haveria uma explicação simples para essa carta, e Leslie sem dúvida poderia dá-la imediatamente, mas, diabo! era necessário uma explicação. Levantou-se da cadeira, pôs a carta no bolso, e apanhou o chapéu. Quando saiu, Ong Chi Seng escrevia atarefadamente na sua escrivaninha.
— Vou sair por alguns instantes, Chi Sen — disse ele. — Mr. George Reed tem audiência marcada para as doze horas. Saberei dizer onde foi, o senhor?
Mr. Joyce sorriu-lhe de leve.
— Pode dizer que não tem a mínima ideia.
Mas o advogado sabia perfeitamente bem que Ong Chi Seng estava inteirado de que ele ia à prisão. Embora o crime tivesse ocorrido em Belanda e o julgamento devesse ter lugar em Belanda Bharu, não havendo na cadeia local comodidades para a detenção de uma branca, Mrs. Crosbie fora levada para Singapura.
Ao ser introduzida na sala em que ele a esperava, Leslie estendeu-lhe a mão delgada, distinta, e recebeu-o com um sorriso agradável. Como sempre, vestia simples e corretamente, e o seu abundante cabelo claro estava arranjado com atenção.
— Eu não esperava recebê-lo esta manhã — disse ela, graciosamente.
Era como se estivesse na sua casa, e Mr. Joyce quase que a ouvia chamar o criado e dizer-lhe que servisse gim ao visitante.
— Como está? — perguntou ele.
— Com a melhor saúde, agradecida. — Um lampejo de zombaria passou-lhe pelos olhos. — Este lugar é admirável para uma cura de repouso.
O guarda retirou-se, deixando-os a sós. — Sente-se — pediu ela. Mr. Joyce ocupou uma cadeira. Não sabia exatamente por onde começar. Leslie achava-se em tal disposição que lhe parecia quase impossível dizer-lhe o que ele tinha vindo dizer. Embora ela não fosse bonita, havia algo de agradável na sua aparência. Tinha elegância, mas a elegância da boa educação, onde nada havia dos artifícios de sociedade. Bastava olhar-se para ela a fim de saber de onde ela vinha e qual o ambiente em que vivia. A fragilidade emprestava-lhe um singular refinamento. Era impossível associá-la à mais vaga ideia de grosseria.
— Espero ver Robert agora à tarde — disse ela, na sua voz fluente e bem humorada. (Era um prazer ouvi-la falar. O tom de voz era bem um característico de sua classe).
— Coitado, isto tem sido uma verdadeira provação para os seus nervos. Agradeço que tudo esteja terminado em poucos dias.
— Faltam apenas cinco. — Bem o sei. Todas as manhãs, quando me acordo, digo para mim mesma: "Menos um". — Sorriu. — É como eu fazia no colégio quando as férias estavam próximas.
— A propósito, tenho razão em pensar que a senhora, antes da catástrofe, havia semanas que não se comunicava com Hammond?
— Tenho absoluta certeza disso. A última vez que nos encontramos foi num jogo de tênis na casa dos MacFarrens. Não acho que tivesse trocado mais de duas palavras com ele. Como sabe, há duas pistas, e nós não jogamos na mesma partida.
— E não escreveu a ele?
— Oh, não.
— Está bem certa disso?
— Certíssima — respondeu ela, com um breve sorriso. — Não havia por que escrever, afora algum convite para jantar ou jogar tênis, e fazia meses que isso não acontecia.
— Em certa época eram excelentes as suas relações com ele. Qual o motivo de terem cessado os convites?
Mrs. Crosbie encolheu os ombros franzinos. — Acontece que às vezes nos cansamos das pessoas. Não tínhamos grande coisa em comum. Sem dúvida, quando ele esteve doente Robert e eu fizemos por ele tudo o que pudemos, mas nestes últimos um ou dois anos ele passou bastante bem, e era muito popular. Recebia um grande número de convites, e não nos parecia haver necessidade de convidá-lo demasiado.
— Tem plena certeza de tudo isso?
Mrs. Crosbie hesitou por um momento: — Bem, acho que posso falar-lhe nisso. Chegara aos nossos ouvidos que ele vivia com uma chinesa, e Robert disse que não o admitiria em nossa casa. Eu mesma a tinha visto.
Mr. Joyce, sentado numa cadeira de braços, de espaldar reto, repousava o queixo na mão e tinha os olhos fixos em Leslie. Seria ilusão ter vislumbrado nas suas pupilas negras, no momento em que ela fazia esse comentário, um súbito e rapidíssimo fulgor vermelho? O efeito foi inquietador. Mr. Joyce mexeu-se na cadeira. Juntou as pontas dos dedos entreabertos. E falou muito lentamente, escolhendo as palavras.
— Creio que devo mencionar-lhe a existência de uma carta de seu punho a Geoff Hammond.
O advogado observou-a atentamente. Ela não fez um só movimento, nem se lhe mudou a cor do rosto, mas demorou um tempo apreciável a responder.
— Antigamente, eu muitas vezes lhe escrevi bilhetes convidando-o para isto ou aquilo, ou para que me trouxesse alguma coisa quando eu sabia que ele ia a Singapura.
— Essa carta lhe pede que venha vê-la porque Robert ia a Singapura.
— Isso é impossível. Nunca fiz semelhante coisa.
— Convém que a leia, então. Tirou do bolso e a entregou. Ela relanceou o papel e devolveu-o com um sorriso desdenhoso.
— Essa não é a minha letra.
— Sei disso; afirma-se que é uma cópia exata do original.
Mrs. Crosbie leu então as palavras da carta, e ao fazê-lo uma terrível mudança operou-se nela. O rosto sem cor ficou feio de ver. Esverdeou-se. A carne pareceu fugir de súbito e a pele esticou sobre os ossos. Os lábios retraíram-se, mostrando os dentes: parecia fazer uma careta. Olhou para Mr. Joyce com olhos que saltavam das órbitas. Ele via agora uma face inexpressiva de morte.
— Que significa isto? — sussurrou ela. Sua boca estava tão seca que ela não pôde emitir mais que um som rouco. Não era mais uma voz humana.
— Isso é o que lhe compete dizer.
— Eu não escrevi. Juro que não escrevi.
— Tome cuidado com o que diz. Se o original for de seu punho, seria inútil negá-lo.
— Pode ser forjado.
— Seria difícil prová-lo. E seria fácil provar que era verdadeiro.
Um arrepio percorreu seu corpo franzino. Mas grandes gotas de suor apareciam na testa. Tirou um lenço da bolsa e enxugou as mãos. Relanceou novamente a carta e olhou de soslaio para Mr. Joyce.
— Não tem data. Se foi escrita por mim e se não me lembro de nada, talvez seja uma carta de alguns anos atrás. Se me der tempo, tentarei recordar-me das circunstâncias.
— Já observei que não tem data. Se esta carta estivesse nas mãos da promotoria, os criados seriam interrogados. Bem cedo teriam descoberto se alguém levara uma carta a Mr. Hammond no dia de sua morte.
Mrs. Crosbie cerrou as mãos violentamente e vacilou na cadeira como se fosse desmaiar.
— Juro que não escrevi esta carta.
Mr. Joyce ficou em silêncio por um breve instante. Afastou os olhos daquele rosto conturbado e fixou-os no chão. Refletia.
— Nestas circunstâncias não precisamos entrar mais no assunto — disse ele devagar, quebrando por fim o silêncio. — Se o possuidor desta carta achar que deve levá-la ao conhecimento da promotoria, a senhora estará preparada.
Suas palavras indicavam que nada mais lhe restava dizer, mas ele não fez nenhum movimento para retirar-se. Esperou. Pareceu-lhe que por um tempo enorme. Não olhava para Leslie, mas tinha a consciência de que ela estava imóvel. Não fazia o menor ruído. Finalmente, foi ele quem falou.
— Se não tem mais nada a contar, volto para meu escritório.
— O que seria levada a pensar uma pessoa que lesse a carta? — perguntou então ela.
— Ficaria certa de que a senhora havia mentido propositadamente — respondeu incisivo Mr. Joyce.
— Quando?
— Sua declaração estabeleceu definitivamente que não se comunicava com Hammond havia três meses pelo menos.
— Tudo isso tem sido um choque terrível para mim. Os acontecimentos daquela noite horrorosa são um pesadelo. Não é muito estranho que um detalhe tenha escapado à minha memória.
— Seria uma desgraça que a sua memória tivesse reproduzido tão exatamente todos os detalhes da entrevista com Hammond, e que a senhora houvesse esquecido um ponto de tamanha importância como esse de que, naquela noite, ele fora ao bangalô por seu expresso desejo.
— Eu não tinha esquecido isso. Mas, depois do que aconteceu, receava mencioná-lo. Pensei que ninguém acreditaria na minha história se eu admitisse que ele tinha ido lá a meu convite. Sim, acho que foi uma tolice de minha parte; mas perdi a cabeça, e depois de ter dito uma vez que não me comunicava com Hammond, vi-me obrigada a mantê-lo.
Leslie já havia recuperado a sua admirável compostura, e recebeu com ingenuidade o olhar avaliador de Mr. Joyce. A sua brandura era desarmante.
— Neste caso vão exigir que explique por que pediu a Hammond para ir vê-la quando Robert passava a noite fora.
Mrs. Crosbie fitou os olhos no advogado. Enganara-se ele ao julgá-los inexpressivos; eram antes belos e, não fosse um novo engano, tinham agora o brilho das lágrimas. A voz denotava uma leve insegurança.
— Era uma surpresa que eu preparava para Robert. O aniversário dele é no próximo mês. Eu sabia que ele desejava uma nova arma, e não preciso repetir-lhe que nada entendo dessas coisas de esporte. Eu queria falar com Geoff a esse respeito. Tencionava pedir-lhe que a comprasse para mim.
— Talvez a senhora não esteja lembrada dos termos da carta. Quer lê-la outra vez?
— Não, não quero — disse ela vivamente.
— Acha que semelhante carta seria escrita por uma senhora a pessoa de amizade um tanto remota, a fim de consultá-la sobre a compra de uma arma?
— Talvez seja um tanto extravagante e emotiva, mas eu costumo expressar-me dessa forma. Não deixo de admitir que é bem tola. (Sorriu). E afinal de contas, Geoff Hammond não era uma amizade um tanto remota. Quando esteve doente, cuidei dele como uma mãe. Pedi-lhe que viesse quando Robert estava ausente porque Robert não queria admiti-lo em casa.
Mr. Joyce cansava-se de estar sentado por tanto tempo na mesma posição. Levantou-se, e deu uns passos pela sala, escolhendo as palavras que pretendia dizer; inclinou-se depois sobre as costas da cadeira onde estivera. Falou vagarosamente, e num tom de profunda gravidade.
— Mrs. Crosbie, quero falar-lhe muito seriamente. Este caso era relativamente líquido. Havia um só ponto que me parecia exigir explicação: até onde posso julgar, a senhora desfechou nada menos do que quatro tiros contra Hammond quando ele estava caído no chão. Era difícil aceitar a possibilidade de que uma criatura frágil, assustada, habitualmente dona de si, de natureza delicada e instintos refinados, tenha cedido a uma fúria absolutamente cega. Mas, sem dúvida, era admissível. Embora Geoffrey Hammond gozasse de simpatia e de um modo geral fosse muito estimado, eu estava disposto a provar que ele era o tipo de homem capaz do crime de que a senhora o acusava em justificação do seu ato. A circunstância, descoberta após a sua morte, de que ele vivia com uma chinesa oferecia-nos algo de muito definido. Isto lhe roubava qualquer simpatia que houvesse por ele. Resolvemos aproveitar o ódio que semelhante ligação desperta no espírito de todas as pessoas respeitáveis. Disse esta manhã ao seu marido que estava certo de uma absolvição, e eu não o fazia apenas para lhe dar coragem. Eu não acreditava que os jurados precisassem deixar a sala do tribunal.
Olharam-se nos olhos. Mrs. Crosbie estava singularmente imóvel. Era um pássaro paralisado pela fascinação de uma serpente. O advogado prosseguiu no mesmo tom grave.
— Mas esta carta emprestou ao caso um aspecto inteiramente diverso. Sou o seu defensor perante a lei. vou representá-la no tribunal. Aceito a sua história na forma em que me foi contada, e orientarei a defesa de acordo com ela. É provável que eu acredite nas suas declarações, e é provável que duvide delas. O dever do patrono é persuadir o tribunal de que a prova ali trazida não é tal que justifique uma condenação, e qualquer opinião particular que ele possa ter sobre a culpabilidade ou inocência do seu cliente fica inteiramente à margem.
Mr. Joyce espantou-se ao ver nos olhos de Leslie a sombra de um sorriso. Irritado, continuou um tanto secamente.
— A senhora negará que Hammond foi vê-la atendendo ao seu pedido urgente e, posso até dizê-lo, desesperado?
Mrs. Crosbie, hesitando por um instante, pareceu considerar.
— Só podem provar que a carta foi levada ao bangalô por um dos criados. Ele foi de bicicleta.
— Não espere que os outros sejam mais tolos do que a senhora. A carta os fará investigar suspeitas que até agora não entraram na cabeça de ninguém. Não lhe direi o que me ocorreu pessoalmente quando vi a cópia. E não quero que a senhora me diga coisa alguma não ser o que é necessário para salvar o seu pescoço.
Mrs. Crosbie deu um grito agudo. Ergueu-se de um salto, pálida de terror.
— Acha que me enforcarão?
— Se chegarem à conclusão de que a senhora não matou Hammond em defesa própria, será dever dos jurados julgarem-na culpada. A pena é de morte. E será dever do juiz condená-la à morte.
— Mas o que podem provar? — perguntou ela, arfando.
— Não sei o que podem provar. A senhora o sabe. Eu não quero saber. Mas se surgirem suspeitas, se começarem a fazer investigações, se os criados forem interrogados... o que poderá ser descoberto?
Leslie encolheu-se bruscamente. Tombou no chão antes que ele pudesse ampará-la. Tinha desmaiado. Mr. Joyce olhou em volta da sala à procura de água, mas nada encontrou, e não queria ser perturbado. Estendeu-a no chão e, ajoelhando-se ao seu lado, esperou que ela voltasse a si. Quando Leslie abriu os olhos, ele ficou desconcertado pelo medo espantoso que via neles.
— Fique quieta — disse ele. — Num momento estará melhor.
Mrs. Crosbie desatou num pranto nervoso, ao passo que ele procurava sossegá-la a meia voz.
— Pelo amor de Deus, recomponha-se.
— Dê-me um instante.
A sua coragem era espantosa. Mr. Joyce via o esforço que ela empregava para recobrar o domínio de si mesma. Pouco depois estava novamente calma.
— Levante-me agora.
Ele estendeu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Tomando-lhe o braço, levou-a até a cadeira. Ela sentou-se exausta.
— Não fale comigo por enquanto.
— Está bem — respondeu ele.
Quando ela por fim recomeçou, depois de um breve suspiro, foi para dizer algo que ele não esperava.
— Acho que fiz uma enorme trapalhada.
Ele não respondeu, e mais uma vez houve silêncio. — Não é possível obter-se a carta? — perguntou finalmente ela.
— Creio que nada me diriam dela, se a pessoa que a tem em seu poder não estivesse disposta a vendê-la.
— Com quem está ela?
— Com a chinesa que vivia na casa de Hammond.
Duas manchas de cor assomaram por um instante às faces de Leslie.
— Ela quer muito dinheiro pela carta?
— Imagino que tenha uma ideia muito arguta quanto ao seu valor. Duvido que seja possível obtê-la senão por uma quantia muito grande.
— O senhor vai deixar que eu seja enforcada?
— Acha que é tão simples assim entrar na posse de uma prova desagradável? Isso é a mesma coisa que subornar uma testemunha. A senhora não tem o direito de fazer-me semelhante sugestão.
— O que me acontecerá então?
— A justiça deve seguir seu rumo.
Mrs. Crosbie empalideceu. Um leve tremor passou-lhe pelo corpo.
— Entrego-me nas suas mãos. Sem dúvida não tenho nenhum direito de pedir-lhe que faça uma coisa que não seja correta.
Mr. Joyce não estava preparado para resistir-lhe à voz um pouco trêmula que a sua compostura habitual fazia intoleravelmente comovedora. Leslie fitava-o com olhos humildes, e ele sentiu que se recusasse o seu apelo esses olhos haveriam de persegui-lo durante o resto da vida. Afinal de contas, nada faria ressuscitar o pobre Hammond. E qual seria a verdadeira explicação da carta? Não era justo concluir daquelas linhas que ela havia morto Hammond sem provocação. Mr. Joyce tinha vivido longo tempo no Oriente e o seu conceito de honra profissional talvez já não era tão agudo como o fora vinte anos atrás. Ficou a olhar para o soalho. Resolveu-se a fazer uma coisa que sabia ser injustificável, mas isso lhe trancava na garganta e ele experimentava um obscuro ressentimento para com Leslie. Encontrava certo embaraço em falar.
— Não sei exatamente qual é a situação do seu marido.
— Tem uma boa quantidade de ações em minas de estanho e uma pequena parte em dois ou três seringais. Acho que poderia conseguir dinheiro.
— Mas ele precisaria saber para que fim.
Leslie calou-se por um momento. Parecia pensar. — Ele ainda me ama. Faria qualquer sacrifício para salvar-me. É necessário que ele veja a carta?
Mr. Joyce franziu levemente as sobrancelhas, e ela, rápida em notá-lo, prosseguiu:
— Robert é um velho amigo seu. Não lhe peço que faça nada por mim, peço-lhe que salve um homem bondoso, um tanto simplório, que nunca lhe fez mal nenhum.
Mr. Joyce não respondeu. Levantou-se para ir embora e Mrs. Crosbie, com a graça que lhe era natural, estendeu-lhe a mão. Estava abalada com a cena e tinha o olhar cansado, mas fazia uma corajosa tentativa para despedi-lo com urbanidade.
É muita bondade sua dar-se tamanho incômodo por minha causa. Nem lhe posso dizer o quanto estou agradecida.
Mr. Joyce voltou ao escritório. Sentou-se no seu gabinete e ali ficou, imóvel, sem nada procurar fazer, ponderando o assunto. A imaginação trazia-lhe muitas ideias estranhas. Estremeceu levemente. Por fim soava na porta a batida discreta que ele estava esperando. Ong Chi Seng entrou.
— Eu já ia sair para o lanche, senhor — disse ele.
— Não sei se o senhor deseja alguma coisa de mim antes que eu vá.
— Parece-me que não. Marcou outra hora para Mr. Reed?
— Sim, senhor. Ele voltará às três.
— Muito bem.
Ong Chi Seng caminhou até a porta, e levou à maçaneta os dedos compridos e finos. Depois, como se mudasse de ideia, fez meia volta.
— O senhor deseja que eu diga alguma coisa ao meu refelido amigo?
Embora Ong Chi Seng falasse inglês tão admiravelmente, ainda tinha uma dificuldade com a letra "R", trocando-a às vezes por "L" em certas palavras.
— Que amigo? — A respeito da carta que Mrs. Crosbie escreveu ao falecido Hammond, senhor.
— Ah! Tinha-me esquecido isso. Mencionei o assunto a Mrs. Crosbie e ela afirma que não escreveu semelhante coisa. Trata-se evidentemente de uma falsificação.
Mr. Joyce tirou a cópia do bolso e entregou-a a Ong Chi Seng. Ong Chi Seng ignorou o gesto.
— Neste caso, senhor, suponho que não haverá nenhuma objeção se o meu amigo entregar a carta ao promotor público.
— Nenhuma. Mas eu não vejo qual a vantagem que o seu amigo teria nisso.
— O meu amigo, senhor, acha que isso é seu dever no interesse da justiça.
— Sou a última pessoa a meter-me no caminho de alguém que deseja cumprir seu dever, Chi Seng.
Os olhos do advogado e os do secretário chinês encontraram-se. Nem a sombra de um sorriso lhes pairava nos lábios, mas ambos se compreendiam perfeitamente.
— Sei-o muito bem, senhor — disse Ong Chi Seng —, mas de acordo com o meu estudo do caso Crosbie sou de opinião que o aparecimento de semelhante carta será prejudicial ao nosso cliente.
— Eu sempre tive em alto apreço a sua acuidade legal, Chi Seng.
— Ocorreu-me, senhor, que se eu pudesse persuadir aquele meu amigo a fazer que a chinesa possuidora da carta a entregasse em suas mãos, isso pouparia grandes dificuldades.
Mr. Joyce, distraidamente, desenhava figuras no mata-borrão.
— Suponho que o seu amigo seja um negociante. Em que circunstâncias acha que ele seria induzido a abrir mão da carta?
— Ele não tem a carta. A carta está com a chinesa. Ele é apenas um parente da chinesa. Ela é uma mulher ignorante; não sabia o valor da carta até que o meu amigo a esclareceu.
— E qual foi o valor estabelecido por ele?
— Dez mil dólares.
— Deus do céu! Onde diabo acha você que Mrs. Crosbie vai arranjar dez mil dólares? Afirmo-lhe que a carta é falsa.
Mr. Joyce olhou para Ong Chi Seng enquanto falava. O secretário não se abalou com a exclamação. Continuou ao lado da escrivaninha, cortês, insensível e observador.
— Mr. Crosbie possui uma oitava parte do Seringal Betong e uma sexta parte do Seringal do Rio Selantan. Tenho um amigo que lhe emprestará o dinheiro sob essas garantias.
— Você tem um vasto círculo de amizades, Chi Seng.
— Sim, Senhor.
— Bem, pois pode dizer a todos eles que vão para o inferno. Eu nunca aconselharia Mr. Crosbie a dar mais de cinco mil dólares por uma carta que pode ser facilmente explicada.
— A chinesa não quer vender a carta, senhor. O meu amigo teve dificuldade em persuadi-la. É inútil oferecer-lhe menos do que a soma mencionada.
Mr. Joyce olhou para Ong Chi Seng durante três minutos pelo menos. O secretário suportou o exame sem embaraço.
De olhos baixos, assumia uma atitude respeitosa. Mr. Joyce conhecia o seu homem. iam finório, este Chi Seng, pensava ele; quanto não irá ganhar com isto?
— Dez mil dólares é uma quantia muito grande.
— Mr. Crosbie sem dúvida preferirá pagá-la a ver a esposa enforcada.
Mr. Joyce fez nova pausa. Que mais saberia Chi Seng, além do que dizia? Devia estar bem seguro do terreno, uma vez que se mostrava tão pouco disposto a regatear. Aquela soma fora fixada porque a pessoa que orientava o negócio, fosse ela quem fosse, sabia ser essa a maior quantia que Robert era capaz de conseguir.
— Onde está a chinesa agora? — perguntou Mr. Joyce.
— Está na casa do meu referido amigo, senhor.
— Ela virá aqui?
— Creio ser melhor que o senhor a procure. Posso levá-lo à casa esta noite e ela lhe dará a missiva. É mulher muito ignorante, senhor, e não entende de cheques.
— Eu não pensava em lhe dar um cheque. Levarei o dinheiro comigo.
— Levar menos de dez mil dólares, senhor, apenas seria desperdiçar um tempo precioso.
— Compreendo.
— Então, depois do lanche, vou informar o meu amigo.
— Perfeitamente. Espere-me na frente do clube às dez horas.
— Com muito prazer, meu senhor.
Ong Chi Seng fez uma pequena curvatura para Mr. Joyce e deixou a sala. Mr. Joyce também saiu para o lanche. Foi ao clube e ali, como havia esperado, encontrou Robert Crosbie. Estava sentado a uma mesa cheia de gente; e ao passar por ele, à procura de um lugar, Mr. Joyce tocou-o no ombro.
— Precisamos trocar duas palavras antes de você sair — disse ele.
— Não há dúvida. Quando quiser, avise-me.
Mr. Joyce tinha resolvido a maneira como atacar a questão. Jogou uma partida de bridge após o lanche, a fim de dar tempo a que o clube se esvaziasse. Para tratar de semelhante assunto não queria levar Crosbie ao seu escritório. Pouco depois Crosbie entrou no salão de jogo e. ficou a olhar até que a partida terminou. Os outros parceiros saíram aos seus negócios e os dois foram deixados a sós.
— Aconteceu uma coisa bem desagradável, meu velho — disse Mr. Joyce, numa voz que procurava tornar o mais natural possível. — Parece que sua esposa mandou uma carta a Hammond pedindo-lhe que fosse visitá-la na noite em que ele foi morto.
— Mas isso é impossível — exclamou Crosbie. — Ela sempre declarou que não tinha nenhuma comunicação com Hammond. Sei com certeza que fazia uns dois meses que ela não lhe punha os olhos em cima.
— O fato é que a carta existe. Está em poder da chinesa com quem Hammond vivia. Sua esposa pretendia fazer-lhe um presente de aniversário, e queria que Hammond a ajudasse na escolha. No estado de perturbação emotiva em que ela ficou após a tragédia, esqueceu-se de tudo a esse respeito, e tendo inicialmente negado que houvesse qualquer comunicação com Hammond, receou dizer que cometera um engano. Foi muito lamentável, é claro, mas acho que não foi estranho.
Crosbie não falou. No seu rosto largo e vermelho havia uma expressão de completa perplexidade, e Mr. Joyce ficou ao mesmo tempo aliviado e exasperado com a sua falta de compreensão. Ele era um homem estúpido, e Mr. Joyce não tinha paciência com a estupidez. Mas a sua angústia desde a catástrofe havia tocado um ponto sensível no coração do advogado; e Mrs. Crosbie atingira o alvo quando lhe pedira que a ajudasse, não por ela, mas pelo marido.
— Não é preciso dizer-lhe que será muito embaraçoso se essa carta for parar nas mãos da promotoria. A sua mulher mentiu, e ela seria obrigada a explicar a mentira. As coisas ficam um pouco alteradas se Hammond não se intrometeu na sua casa como uma visita indesejável, mas sim porque fora convidado. Seria fácil despertar nos jurados uma certa indecisão de espírito.
Mr. Joyce hesitou. Enfrentava agora a sua decisão. Se fosse ocasião de pilhéria, teria rido ao refletir que ele dava um passo tão grave, e que o homem por quem esse passo era dado não tinha a menor noção de sua gravidade. Se Crosbie pensasse no assunto, quiçá imaginasse que Mr. Joyce procedia da mesma forma que qualquer advogado no exercício ordinário da profissão.
— Meu caro Robert, você não é apenas meu cliente, mas meu amigo. Acho que devemos obter essa carta. Isso custará um bom dinheiro. Se não fosse assim, eu preferiria não lhe dizer nada sobre esse assunto.
— Quanto?
— Dez mil dólares.
— É muito dinheiro. Com a baixa, mais isto e mais aquilo, é quase tudo o que eu tenho.
— Pode arranjá-lo agora?
— Acho que sim. Charlie Meadow dará esse dinheiro com a garantia das minhas apólices do estanho e dos dois seringais em que tenho parte.
— Então vai consegui-lo?
— É absolutamente necessário?
— Se você quiser que a sua mulher seja absolvida.
Crosbie ficou muito vermelho. A boca deprimiu-se estranhamente.
— Mas... — não podia encontrar as palavras, tinha o rosto purpúreo — mas eu não entendo. Ela pode explicar. Você não quer dizer que ela seria condenada? Não são capazes de enforcá-la só porque acabou com uma praga.
— Claro que não vão enforcá-la. Somente poderão condená-la por homicídio simples. Provavelmente escaparia com dois ou três anos.
Crosbie ergueu-se de um salto. O horror contorcia-lhe o rosto vermelho.
— Três anos!
Então algo pareceu assomar à sua vagarosa inteligência. A escuridão daquele espírito era atravessada por um relâmpago súbito, e embora as trevas subsequentes continuassem igualmente profundas, restava a memória de certa coisa que não fora vista mas talvez apenas lobrigada. Mr. Joyce viu que as manzorras vermelhas de Crosbie, rudes e ásperas por trabalhos tão diversos, tremiam.
— Qual era o presente que ela ia fazer-me?
— Disse ela que desejava oferecer-lhe uma nova arma.
Mais uma vez aquele rosto largo e vermelho tornou-se purpúreo.
— Quando é que você precisa estar com o dinheiro?
Na sua voz havia agora algo de esquisito. — As dez horas da noite. Talvez você possa levá-lo ao meu escritório até as seis.
— A mulher vai lá?
— Não, eu vou até ela.
— Eu levo o dinheiro. Vou com você.
Mr. Joyce olhou-o novamente. — Acha que é necessário fazer isso? Creio que seria melhor se me deixasse tratar sozinho deste assunto.
— É o meu dinheiro, não é? Vou de qualquer modo.
Mr. Joyce encolheu os ombros. Os dois homens levantaram-se e apertaram as mãos. Mr. Joyce olhou curiosamente para Crosbie.
Às dez horas encontraram-se no clube deserto.
— Tudo está em ordem? — perguntou Mr. Joyce.
— Tudo. Tenho o dinheiro no bolso.
— Então vamos.
Desceram a escadaria. O carro de Mr. Joyce esperava-os na praça, silenciosa àquela hora, e quando se dirigiam para ele Ong Chi Seng surgiu da sombra de uma casa. O secretário sentou-se ao lado do chofer e deu-lhe um endereço. Passaram pelo Hotel de L'Europe e dobraram à Casa do Marinheiro a fim de entrar na Victoria Street. As lojas chinesas ainda estavam abertas, ociosos demoravam-se aqui e ali, e na rua os jinriquixás, os automóveis e carros de aluguel emprestavam à cena um ar atarefado. Subitamente o carro parou e Chi Seng voltou-se para trás.
— Aqui, senhor, será melhor andarmos a pé — disse ele. Desceram e o chinês tomou a frente. Os outros seguiam-no a um ou dois passos. Pouco depois eram convidados a deter-se.
— Espere aqui, senhor. Vou entrar e falar ao meu amigo.
Chi Seng entrou numa loja, aberta para a rua, onde havia três ou quatro chineses atrás do balcão. Era uma dessas lojas estranhas nas quais nada há exposto e não se pode saber o que venderão ali. Viram-no dirigir-se a um homem corpulento, vestido de linho branco, com uma grossa corrente de ouro atravessada ao peito, e o homem lançar um olhar rápido para a escuridão da rua. Depois, deu uma chave a Chi Seng e Chi Seng voltou. Acenou para os dois homens que esperavam e enfiou-se numa porta ao lado da loja. Os outros seguiram-no e acharam-se ao pé de uma escada.
— Se esperarem um instante, acendo um fósforo — disse ele, sempre expedito. — Subam, por favor.
Levava um fósforo japonês à frente, mas a sua luz não dissipava a escuridão, e os outros o seguiam às apalpadelas. No primeiro andar abriu uma porta e, entrando, acendeu um bico de gás.
— Tenham a bondade de entrar — disse ele.
Era uma pequena sala quadrada, com uma janela, e cuja única mobília consistia em duas baixas camas chinesas cobertas por uma esteira. A um canto havia uma grande arca, de fechadura complicadamente trabalhada, sobre a qual estava uma bandeja velha com um cachimbo de ópio e uma lâmpada. Havia na sala o odor leve e acre da droga. Sentaram-se e Ong Chi Seng ofereceu-lhes cigarros. Em seguida a porta era aberta pelo chinês gordo que tinham visto atrás do balcão. Desejou-lhes boa noite em excelente inglês e sentou-se ao lado do compatriota.
— A chinesa não se demorará — disse Chi Seng.
Um rapaz da loja trouxe uma bandeja com bule e xícaras e ofereceu-lhes uma xícara de chá. Crosbie recusou. Os chineses falavam entre si a meia voz, mas Crosbie e Mr. Joyce continuavam calados. Por fim ouviu-se uma voz lá fora; alguém chamava em tom baixo, e o chinês foi até a porta. Abriu-a, falou umas poucas palavras, e introduziu uma mulher. Mr. Joyce olhou para ela. Muito ouvira a seu respeito desde a morte de Hammond, mas ainda não a tinha visto. Era uma pessoa de corpo cheio, não muito moça, com um rosto largo e fleumático, estava empoada e pintada e as suas sobrancelhas eram uma fina linha negra, mas dava a impressão de ser mulher de caráter. Vestia um casaquinho azul claro e saia branca, roupa que não era bem europeia nem chinesa, mas nos pés trazia pequeninas sandálias de seda. Usava pesadas correntes de ouro em torno do pescoço, braceletes de ouro nos pulsos, brincos de ouro e complicados alfinetes de ouro no cabelo negro. Entrou lentamente, com o" ar de uma mulher segura de si mesma, mas com um certo peso no andar, e sentou-se na cama, ao lado de Ong Chi Seng. Este lhe disse alguma coisa e ela, inclinando a cabeça, lançou um olhar descuidado para os dois brancos.
— Ela trouxe a carta? — perguntou Mr. Joyce.
— Sim, senhor. Crosbie nada disse, mas tirou do bolso um maço de notas de quinhentos dólares. Contou vinte e entregou-as a Chi Seng.
— Veja se está certo.
O secretário contou-as e deu-as ao chinês gordo. — Muito certo, senhor.
O chinês contou-as mais uma vez e meteu-as no bolso. Falou novamente à mulher e ela tirou uma carta do seio. Deu-a a Ong Chi Seng, que passou os olhos por ela.
— Este é o documento exato, senhor — disse ele, e ia entregá-lo a Mr. Joyce quando Crosbie o pegou.
— Deixe-me ver isto — disse ele.
Mr. Joyce olhou-o ler e depois estendeu a mão. — É melhor que eu fique com isso.
— Não, vou guardá-la comigo. Custou-me muito dinheiro.
Mr. Joyce não replicou. Os três chineses observaram o pequeno incidente, mas o que pensaram a respeito, ou se pensaram, era impossível dizer diante de seus rostos impassíveis. Mr. Joyce levantou-se.
— O senhor ainda precisa de mim esta noite? — disse Ong Chi Seng.
— Não. — Ele sabia que o secretário desejava ficar a fim de receber a sua parte do dinheiro; virou-se para Crosbie. — Vamos?
Crosbie não respondeu, mas levantou-se. O chinês foi até a porta e abriu-a. Chi Seng encontrou um toco de vela e acendeu-o para iluminar a escada, e os dois chineses acompanharam-nos à rua. Deixaram a mulher serenamente sentada na cama, fumando um cigarro. Chegados à rua, os chineses deixaram-nos e tornaram a subir as escadas.
— O que vai fazer com essa carta? — perguntou Mr. Joyce.
— Guardá-la.
Andaram até onde o carro os esperava e Mr. Joyce ofereceu-se para levar o amigo. Crosbie sacudiu a cabeça.
— Quero caminhar. — Hesitou um pouco e esfregou os pés no chão. — Na noite da morte de Hammond eu vim a Singapura em parte para comprar uma arma nova que um conhecido meu queria vender. Boa noite.
Crosbie desapareceu rapidamente na escuridão.
Mr. Joyce tinha toda razão a respeito do julgamento. Os jurados compareceram ao tribunal inteiramente resolvidos a absolver Mrs. Crosbie. A própria atitude dela era uma prova. Contou a sua história com simplicidade e inteireza. O promotor público era um homem bondoso e via-se que não tinha grande prazer em sua tarefa. Fez-lhe as perguntas necessárias em maneira deprecativa. O seu discurso de acusação na realidade bem poderia ter sido um discurso de defesa, e os jurados não demoraram cinco minutos a considerar o seu veredito popular. Foi impossível impedir a grande manifestação de aplauso com que o recebeu a multidão que enchia a sala do tribunal. O juiz cumprimentou Mrs. Crosbie e ela estava em liberdade.
Ninguém havia expressado mais violenta reprovação à conduta de Hammond do que Mrs. Joyce; era uma mulher leal com suas amizades e insistira em que os Crosbie se hospedassem com ela após o julgamento, até que arranjassem a partida, pois juntamente com todos os outros, não tinha a menor dúvida sobre a sentença. Estava fora de questão para a brava, querida e pobre Leslie retornar ao bangalô em que tivera lugar a horrível catástrofe. O julgamento findou meia hora após o meio-dia e quando chegaram à casa dos Joyce esperava-os um soberbo almoço. Serviram-se coquetéis, e Mrs. Joyce, cujo Millionaire Cocktail era famoso em todos os Estados malaios, bebeu à saúde de Leslie. Era ela uma mulher loquaz, viva, e estava muito animada. Isto era uma felicidade, pois os outros permaneciam silenciosos. Mrs. Joyce não o notava, o marido nunca tinha muito a dizer, e os outros dois estavam naturalmente exaustos com a longa tensão que tiveram de sofrer. Durante a refeição a dona da casa conduziu um monólogo brilhante e animado. Serviu-se depois o café.
— Agora, crianças — disse ela na sua maneira alegre e alvoroçada —, vocês precisam descansar e depois do chá vão passear comigo até o mar.
Mr. Joyce, que só almoçava em casa excepcionalmente, tinha que retornar ao escritório.
— Acho que não poderei ir, Mrs. Joyce — disse Crosbie. — Preciso voltar para o seringal.
— Mas não hoje? — exclamou ela.
— Sim, agora mesmo. Tenho negócios urgentes que já estão muito negligenciados. Mas ficarei muito agradecido se a senhora hospedar Leslie até resolvermos o que fazer.
Mrs. Joyce ia argumentar, mas o marido impediu-a. — Se ele precisa ir, precisa, e não se fala mais nisso.
Havia qualquer coisa na voz do advogado que a fez olhar rapidamente para ele. Calou-se e houve um momento de silêncio. Depois Crosbie tornou a falar.
— Se me permitirem, sairei agora mesmo a fim de chegar antes do anoitecer. — Levantou-se da mesa. — Vem comigo até a porta, Leslie!
— Naturalmente.
Saíram juntos da sala de jantar. — Acho que isso é uma desconsideração da parte dele — disse Mrs. Joyce. — Ele não há de ignorar que, justamente agora, Leslie desejaria ficar ao seu lado.
— Estou certo de que ele não iria se não fosse absolutamente necessário.
— Bem, vou ver se o quarto de Leslie já está arrumado. Ela precisa de completo descanso, não é?, e também de divertimentos.
Mrs. Joyce deixou a sala e Joyce tornou a se sentar. Dentro em pouco ouviu Crosbie pôr o motor em movimento e arrancar ruidosamente pelo caminho arenoso do jardim. Levantou-se e entrou na sala de visitas. Mrs. Crosbie estava sentada numa cadeira, olhando para o espaço, e na sua mão havia uma carta aberta. O advogado reconheceu-a. Leslie relanceou-lhes os olhos quando ele entrou e ele viu que ela estava mortalmente pálida.
— Ele sabe — sussurrou ela.
Mr. Joyce aproximou-se dela e tirou-lhe a carta da mão. Acendeu um fósforo e ateou fogo ao papel. Leslie viu-o arder. Quando ele não pôde segurá-lo mais, deixou-o cair no chão de mosaico, e ambos viram o papel recurvar-se e enegrecer. Depois ele o desfez em cinzas com o pé.
— O que ele sabe?
Leslie olhou-o longa, demoradamente, e uma estranha expressão lhe veio aos olhos. De desprezo ou desespero? Mr. Joyce não sabia dizer.
— Ele sabe que Geoff era meu amante.
Mr. Joyce não fez gesto algum nem disse palavra.
— Foi meu amante durante anos. Fez-se meu amante quase imediatamente ao voltar da guerra. Nós sabíamos quanto cuidado era preciso ter. Quando nos tornamos amantes fingi que ele me aborrecia, e ele raramente vinha ao bangalô quando Robert estava. Eu costumava ir de carro até um lugar que conhecíamos e ali me encontrava com ele, duas ou três vezes por semana, e quando Robert ia a Singapura, ele vinha tarde ao bangalô, quando os criados já haviam se acomodado para dormir. Víamo-nos constantemente, durante todo esse tempo, e ninguém suspeitava. E ultimamente, há um ano, ele começou a mudar. Eu não sabia por quê. Não podia acreditar que eu não significasse mais nada para ele. Ele sempre o negava: Eu ficava furiosa. Fazia cenas. Às vezes eu achava que ele tinha ódio de mim. Oh, se o senhor soubesse quanta angústia sofri! Passei pelo inferno. Eu sabia que ele não me queria mais, mas não o deixava ir. Desgraça! Desgraça! Eu o amava. Daria tudo por ele. Ele era toda a minha vida. E depois ouvi dizer que ele vivia com uma chinesa. Eu não podia acreditar. Não queria acreditar. Finalmente, eu a vi com meus próprios olhos, na aldeia, carregada de braceletes de ouro e de colares, uma chinesa gorda, velha. Horrível! No povoado todos sabiam que ela era amante dele. E quando passei por ela, ela me olhou e eu vi que ela sabia que eu também era amante dele. Mandei chamá-lo.
“Disse-lhe que precisava vê-lo. O senhor leu a carta. Foi loucura escrevê-la. Eu não sabia o que estava fazendo. Pouco se me dava. Fazia dez dias que eu não o via. Era uma existência. Na última vez que nos despedimos ele me tomou nos braços e beijou-me, e disse que eu não me preocupasse. E saiu dos meus braços para os dela.”
Leslie, que falava em voz baixa, veementemente, parou e torceu as mãos.
— Essa carta maldita. Sempre tínhamos sido tão cautelosos. Ele sempre rasgava tudo que eu lhe escrevia assim que acabava de ler. Eu não podia saber que ele ia deixar essas linhas! Ele veio, e eu disse que sabia tudo a respeito da chinesa. Ele negou. Disse que era apenas escândalo. Fiquei fora de mim. Não sei quanta coisa lhe disse. Oh, tive ódio dele. Magoei-o fibra por fibra. Disse-lhe tudo que era capaz de feri-lo. Podia ter cuspido na cara dele. E afinal chegou a vez dele. Disse-me que estava enjoado, farto de mim e que nunca mais queria me ver. Disse-me que eu o aborrecia mortalmente. E depois admitiu que a história da chinesa era verdade. Disse que a conhecia há muitos anos, de antes da guerra, e que era ela a única mulher que realmente lhe significava alguma coisa, que o resto era simples passatempo. E disse estar satisfeito em que eu o soubesse, e que agora, finalmente, eu o deixaria em paz. Não sei o que aconteceu então, eu estava fora de mim, via tudo vermelho. Apanhei o revólver e atirei. Ele deu um grito e eu vi que tinha acertado. Ele fugiu cambaleando para a varanda. Corri atrás dele e tornei a atirar. Ele caiu, e então eu fiquei perto dele, atirando, atirando, até que o revólver deixou de detonar, e eu vi que não havia mais bala.
Deteve-se por fim, respirando a custo. Seu rosto não era mais humano, estava contraído de crueldade, dor e ódio. Nunca se teria pensado que aquela mulher tranquila e refinada fosse capaz de uma paixão tão diabólica. Mr. Joyce deu um passo atrás. Estava absolutamente espantado com ela. Aquilo não era um rosto, era uma máscara medonha e convulsa. Então ouviram uma voz que chamava da outra sala, uma voz alta, amiga e alegre. Era Mrs. Joyce.
— Vem, Leslie, minha querida, teu quarto está pronto. Deves estar caindo de sono.
As feições de Mrs. Crosbie recompuseram-se gradativamente. Aquelas paixões, tão claramente delineadas, iam desaparecendo, abrandando, como se alisa com a mão um papel amarrotado, e num momento o rosto ficava sereno, liso e claro. Estava um tanto pálida, mas os seus lábios se abriram num sorriso afável e encantador. Era mais uma vez a mulher distinta e bem educada.
— Já vou, Dorothy. Sinto dar-te todo este incômodo, minha querida.
Post-Scriptum
Com exceção de Singapura, cidade que tem muito que fazer para se ocupar com ninharias, escolhi nomes imaginários para as cenas de ação destes meus contos. Algumas dessas localidades menores das regiões banhadas pelo Mar da China são muito suscetíveis e seus habitantes se alvoroçam quando, numa obra de ficção, sugere-se que as condições de sua existência nem sempre são tais que possam contar com a aprovação dos círculos suburbanos em que vivem satisfeitos seus primos e suas tias. É mesmo de espantar o viajante a descoberta de que esses ingleses que passam a maior parte da vida no vasto Oriente ligam tanta importância a questões de campanário, e talvez ele se admire por vezes de que essa gente vá até as Celebes para encontrar lá um novo Bedford Park. Como são pessoas práticas, e ocupadas na maioria com assuntos práticos, não atribuem muita imaginação ao escritor e, sabendo que ele esteve nesta ou naquela localidade e travou relações com Fulano ou Beltrano, chegam logo à conclusão de que as personagens apresentadas não são senão retratos deles próprios.
Vivendo, em pleno Oriente, com toda a estreiteza de uma cidadezinha de província, têm eles os defeitos e as fraquezas provincianas e parecem sentir um prazer malicioso em procurar os modelos das personagens, especialmente quando tolas, mesquinhas ou viciosas, que o autor incluiu na sua narrativa. Pouco versados em artes e letras, não compreendem que o caráter e a aparência de uma personagem de conto são ditados pelas exigências do enredo. Não lhes ocorre tampouco que as pessoas reais sejam demasiado nebulosas para aparecer numa obra de imaginação. Nós vemos as pessoas reais apenas em superfície, mas para os propósitos da ficção elas devem ser vistas em volume; e a fim de criar uma personagem viva é necessário combinar elementos fornecidos por uma dúzia de fontes diversas. O fato de o leitor, empregando sem proveito algum uma hora de lazer inútil, reconhecer numa personagem um traço, mental ou físico, de alguma pessoa de suas relações que ele sabe ser conhecida também pelo autor, não justifica que aplique o nome dessa pessoa à personagem descrita e diga: isto é um retrato. Uma obra de ficção — e talvez não seja descabido generalizar, dizendo toda obra de arte — é um compromisso que o autor faz dos fatos da sua experiência com as idiossincrasias da sua personalidade. Se, por coincidência, ela parecer uma cópia da vida, isso não passará de um incidente raro e desprovido de importância. Foi assim que o escultor grego de uma estátua famosa acrescentou mais um dedo ao pé de uma mulher, sem dúvida porque julgava aumentar assim a esbelteza e a elegância desse pé. Os fatos não são mais do que a tela em que o artista traça um desenho sugestivo. Tomo pois a liberdade de declarar que as personagens destes contos são imaginárias, mas como certo incidente narrado numa delas, Atavismo, foi sugerido por um contratempo pessoal, desejo frisar particularmente que não vai aí alusão a nenhum dos meus companheiros naquela perigosa aventura.
Willian Somerset Maugham
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















