



Biblio VT




Junior vivia dizendo que gostava de morar em hotéis por ser filho de ingleses. Quando dizia ingleses pensava nos viajantes ingleses do século XIX, nos comerciantes e contrabandistas que abandonavam suas famílias e seus conhecidos para percorrer os territórios onde a revolução industrial ainda não tinha chegado. Solitários e quase invisíveis, eles tinham inventado o jornalismo moderno porque tinham deixado para trás as suas histórias pessoais. Moravam em hotéis e escreviam as suas crônicas e mantinham uma relação sarcástica com os governantes do lugar. Por isso, quando sua mulher o deixou e foi viver com a filha em Barcelona, Junior vendeu tudo o que restava na casa e se dedicou a viajar. Sua filha tinha quatro anos, e Junior sentia tanto a sua falta que sonhava com ela todas as noites. Ele a amava mais do que tinha podido imaginar e pensava que sua filha era uma versão de si próprio. Ela era o que ele tinha sido, só que vivendo como mulher. Para livrar-se dessa imagem ele rodou o país duas vezes, viajando de trem, de carro alugado, de ônibus. Parava nas pensões, nas sedes do Rotary Club, na casa dos cônsules ingleses, e procurava olhar tudo com os olhos de um viajante do século XIX. Quando o dinheiro do que tinha vendido começou a faltar, ele voltou para Buenos Aires e foi direto para o jornal El Mundo atrás de um emprego. Conseguiu a sua vaga e uma tarde ele baixou lá no jornal, com sua cara de alucinado, e Emilio Renzi o acompanhou num giro pela redação para que conhecesse os outros prisioneiros. Dois meses depois era o homem de confiança do diretor e estava à frente das investigações especiais. Quando foram ver, ele sozinho controlava todas as notícias da máquina. No início pensaram que ele trabalhava para a polícia, porque publicava as matérias antes que fatos se produzissem. Era só ele pegar o telefone e receber as notícias com duas horas de vantagem. Não tinha nem trinta anos mas parecia um velho de sessenta, de crânio raspado e olhar obsessivo, tipicamente inglês, os olhinhos estrábicos cruzados num ponto perdido do oceano. O pai dele, segundo Renzi, tinha sido um desses engenheiros fracassados que eram mandados de Londres para vigiar o embarque de gado nos trens que vinham das fazendas de engorda. Eles moraram dez anos em Zapala, onde os trilhos da Ferrovia Sul iam terminar. Depois era o deserto, a poeira dos ossos que a matança dos índios tinha deixado no vento. Mister Mac Kensey era chefe de estação e mandou construir um chalé de telhas vermelhas idêntico ao que tinha na Inglaterra. A mãe dele era uma chilena que fugiu com a filha caçula e foi viver em Barcelona. Renzi ficou sabendo da história porque um dia apareceu no jornal uma prima de Junior querendo falar com ele e o doido se negou a recebê-la. A moça era ruiva e engraçada, e Renzi a levou para um bar e depois para um hotelzinho e à meia-noite a acompanhou até a estação Retiro e a deixou no trem. Vivia em Martínez, casada com um engenheiro naval, e pensava que seu primo era um gênio incompreendido que vivia obcecado pelo passado da família. O pai de Junior era como Junior, um delirante e complexado, que passava as noites brancas da Patagônia escutando as transmissões em ondas curtas da BBC de Londres. Queria apagar os rastros da sua vida pessoal e viver como um lunático num mundo desconhecido, ligado nas vozes que chegavam de seu país. Essa paixão paterna explicava, segundo Renzi, a rapidez com que Junior tinha captado as primeiras transmissões defeituosas da máquina de Macedonio. Uma relação tipicamente britânica, dizia Renzi, adestrar o filho com o exemplo de um pai que passa a vida grudado num rádio de ondas curtas. Isso me faz lembrar, disse Renzi, os tempos da resistência, quando meu velho passava as noites em claro ouvindo as fitas de Perón trazidas clandestinamente pelo enviado do Movimento. Eram fitas daquelas primeiras, que volta e meia se soltavam e desenrolavam, eram escorregadias, cor de ferrugem, e tinham que ser colocadas num cabeçote deste tamanho e depois baixar a tampa do gravador. Eu me lembro do silêncio prévio e do chiado da fita antes de entrar a gravação com a voz exilada de Perón, que sempre começava as mensagens dizendo: "Compañeros" e fazendo uma pausa como se esperasse as palmas. Estávamos todos em volta da mesa, na cozinha, de madrugada, abstraídos como o pai de Junior, mas crentes nessa voz que vinha do nada e que sempre saía um pouco lenta e como que distorcida. Perón deveria ter tido a ideia de falar em ondas curtas. Ou será que não?, disse Renzi, e olhou para Junior com um sorriso, lá da Espanha, em transmissões noturnas, com as descargas e as interferências, porque assim a sua palavra teria chegado no mesmo instante em que falava. Ou será que não? Porque nós escutávamos as fitas quando os fatos já eram outros e tudo parecia defasado e fora de lugar. Eu lembro disso, disse Renzi, toda vez que alguém fala nas gravações da máquina. Seria melhor se o relato saísse direto, o narrador deve sempre estar presente. É claro que eu também gosto da ideia dessas histórias que estão como que fora do tempo e que começam toda vez que a gente quer.
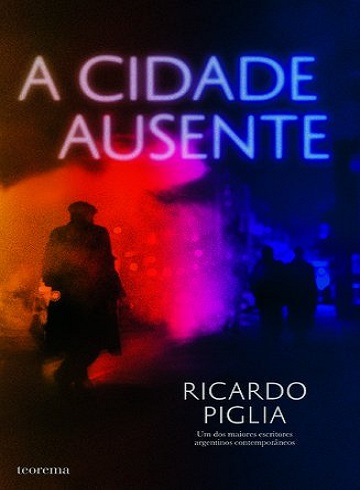
O pessoal tinha descido até o bar para comer um sanduíche depois do fechamento e, enquanto Renzi falava da voz de Perón e da resistência peronista e começava a contar a história de um amigo de seu pai, apareceu o Monito para avisar que tinha um telefonema para Junior. Eram três da tarde de terça-feira e as luzes da cidade continuavam acesas. Pelo vidro da janela se via o resplendor elétrico das lâmpadas brilhando sob o sol. "Isso daqui parece um cinema", pensou o Monito, "que nem uma tela de cinema antes do filme começar". Ia distinguindo o que falavam na mesa conforme se aproximava, como se alguém aumentasse aos poucos o volume de um rádio.
- Era doido, mas doido de pedra - contava Renzi. - Gritava viva Perón! e ficava só esperando. Para ser Peronista, em primeiro lugar, dizia ele, precisa ter culhão. Era capaz de montar um petardo em meio minuto, onde quer que fosse, num bar, numa praça, mexia os dedinhos assim, parecia um cego. A família dele teve uma loja de armas na esquina da Martín García com Montes de Oca, quer dizer que já nasceu no meio dos trabucos, o pessoal do Movimento chamava ele de Frei Luis Beltrán e no fim acabou virando O Frade, mas quem o conhecia do início, do início daquela zona toda, lá por 55, 56, o chamava de Billy the Kid, que era o apelido que o gordo Cooke tinha lhe dado, porque você olhava pro cara e era um moleque, magrinho, fraco, você dava uns quinze, dezesseis anos e a essa altura até os bombeiros já estavam atrás dele. Tinha se juntado um grupinho em volta do Renzi na mesa de Los 36 billares e o Monito se distraiu por um momento e parou para ouvir a história e depois fez o gesto de quem gira uma manivela no ar e Junior pensou que era de novo aquela mulher. "É ela", pensou Junior. "Com certeza". Uma desconhecida vivia ligando para ele e passando dicas como se os dois fossem amigos da vida toda. A mulher devia conhecer as matérias que ele estava publicando no jornal. Desde que os rumores sobre certos defeitos na máquina tinham se confirmado, uma série de maníacos começou a lhe passar informação confidencial.
- Ouça bem - disse a mulher. - O senhor tem que ir até o Hotel Majestic, Piedras com Avenida de Maio. Anotou? Fujita, um coreano, mora lá. O senhor vai ou não vai?
- Vou - disse Junior.
- Diga que sou eu. Que falou comigo.
- ’Tá - disse Junior.
- Você é uruguaio?
- Inglês - disse Junior.
- Vai - disse ela. - Deixa de gozação que isso é sério.
A mulher sabia de tudo. Tinha os dados. Mas tomava Junior por um amigo de seu marido. Às vezes de noite ela o acordava para lhe contar que não conseguia dormir. Aqui venta demais, dizia, deixam a janela aberta, isto aqui parece a Sibéria.
Falava em código, naquele tom alusivo e levemente idiota dos que acreditam em magia e predestinação. Tudo queria dizer uma outra coisa, a mulher vivia numa espécie de misticismo paranoico. Junior anotou o nome do hotel e os dados de Fujita. "Tem uma mulher numa lata que é namorada do gordo Saurio. Você está anotando?", tinha dito. "Vão fechar o Museu, é bom você ir logo. O Fujita é um pistoleiro, foi contratado como segurança." De repente lhe ocorreu que a mulher estava num manicômio. Uma louca que ligava lá do Vieytes para lhe contar uma história estranhíssima sobre um gângster coreano que tomava conta do Museu. Imaginou um telefone público no hospício. Na parede descascada, numa galeria, diante das árvores ralas do parque, esse aparelho era a coisa mais triste do mundo. A mulher falava o tempo todo da máquina. Passava os dados, lhe contava as histórias. "Está ligada, nem ela sabe. Não consegue sair, sabe que precisa falar comigo, mas não percebe o que está acontecendo com ela." Mesmo assim confirmou todos os dados e se dispôs a ir até o Majestic. Tinha que aproveitar os informantes que apareciam. Não tinha muitas opções. Estava avançando às cegas. A informação andava muito controlada. Ninguém dizia nada. Só as luzes da cidade sempre acesas mostravam que pairava uma ameaça. Todos pareciam viver em mundos paralelos, sem conexão. "A única conexão sou eu", pensou Junior. Cada um fingia ser uma outra pessoa. Pouco antes de morrer, o pai de Junior tinha se lembrado de um programa sobre psiquiatria que tinha escutado numa transmissão de "Ciência para todos" da BBC. Era preciso ter cuidado ao se defrontar com um delírio de simulação, tinha explicado um médico pelo rádio, por exemplo o dos loucos furiosos capazes de fingir docilidade ou o dos idiotas capazes de simular grande inteligência. E seu pai ria, seus pulmões chiavam, respirava a custo, mas ria. Nunca se sabe se uma pessoa é inteligente ou se é um idiota que finge ser inteligente. Junior desligou o telefone e voltou para o bar. Renzi já estava contando um outro capítulo da sua vida.
- Quando eu era estudante e morava em La Plata, ganhava a vida dando aulas de espanhol aos direitistas tchecos, poloneses e croatas que o avanço da história estava expulsando de seus territórios. Em geral moravam num velho bairro de Berisso chamado "O Império Austro-Húngaro", onde os imigrantes da Europa Central tinham ido se estabelecendo desde o final do século XIX. Alugavam quartinhos nos cortiços de zinco e madeira da zona baixa e trabalhavam nos frigoríficos enquanto procuravam coisa melhor. O Congresso pela Liberdade da Cultura, uma organização de apoio aos anticomunistas da Europa do Leste, lhes dava respaldo e fazia o que podia para ajudar. Em La Plata tinham feito um acordo com a universidade e contratavam estudantes de literatura para que lhes ensinassem um pouco de gramática espanhola. Eu conheci muitos casos patéticos nessa época, mas nenhuma história mais triste que a de Lazlo Malamüd. Ele tinha sido um crítico famoso e professor de literatura na Universidade de Budapeste e era o maior especialista centro-europeu na obra de José Hernández. Sua tradução do Martín Fierro para o húngaro tinha lhe valido o prêmio anual da Associação Internacional de Tradutores (Paris, 1949). Era marxista e tinha integrado o círculo Petöfi e sobrevivido aos nazistas, mas fugiu em 1956 quando os tanques russos entraram na Hungria, porque não suportou ser massacrado por aqueles em quem tinha depositado suas esperanças. Aqui ele acabou cercado de direitistas e para escapar desse círculo procurou se aproximar das rodas intelectuais, nas quais se apresentou como tradutor de José Hernández. Lia corretamente em espanhol, mas não conseguia falar. Sabia o Martín Fierro de cor e era esse o seu vocabulário básico. Tinha vindo para cá na ilusão de conseguir um emprego na universidade e para isso bastava que fosse capaz de lecionar em espanhol. Tinham pedido que desse uma conferência na Faculdade de Ciências Humanas, onde estava Héctor Azeves, e o seu futuro dependia dessa conferência. A data ia se aproximando e ele estava paralisado de terror. Nós nos encontramos pela primeira vez em meados de dezembro e a conferência estava marcada para 15 de março. Eu me lembro que pegava o bonde da linha 12 e viajava até o quartinho de Lazlo no baixo Berisso, nos fundos do frigorífico. Os dois nos sentávamos na cama e colocávamos uma cadeira como mesa e começávamos a trabalhar no livro de Lacau-Rosetti. A universidade me pagava dez pesos por mês e eu tinha que preencher uma espécie de planilha com a assinatura de Malamüd atestando a presença. Eu o via três vezes por semana. Ele falava comigo num idioma imaginário, cheio de erres guturais e de interjeições gauchescas. Numa meia-língua tentava me explicar o desespero que lhe causava ver-se condenado a se expressar como uma criança de três anos. A proximidade da conferência o mantinha mergulhado em tamanho pânico que não conseguia passar dos verbos da primeira conjugação. Estava tão abatido que certa tarde, depois de um silêncio que não tinha fim, eu me ofereci para ler no seu lugar o que ele quisesse dizer e então o coitado do Lazlo Malamüd soltou uma risada que mais parecia um grasnar para me fazer ver que ele não tinha perdido o seu senso do ridículo, apesar do desespero da situação. Como é que eu ia ler a sua conferência se era ele quem tinha que dar as aulas?
- Não trabalhar então morto desta pena strordináira - disse.
Era cômico, é cômico ver alguém que não sabe falar e que tenta se exprimir com palavras. Uma tarde dei com ele sentado de cara para a janela, já sem forças, resolvido a desistir.
- Não mais - disse. - Uma vida desgraçada. Eu não merece humilhação tamanha. Vem primeiro o furor e depois melancolia. Vertem lágrimas os olhos, mas a pena não alivia.
Sempre achei que esse homem que tentava se expressar numa língua da qual só conhecia o seu poema maior era uma metáfora perfeita da máquina de Macedonio. Contar com palavras perdidas a história de todos, narrar numa língua estrangeira.
- Olha. Me entregaram isto aqui - disse para Junior e mostrou-lhe uma fita cassete. - Um relato estranhíssimo. A história de um homem que não tem palavras para nomear o horror. Uns dizem que é falso, outros que é a pura verdade. Os tons da fala, um documento duro, direto da realidade. Está coalhado de cópias por toda a cidade. São feitas em Avellaneda, em oficinas clandestinas da província, nos porões do Mercado do Prata, no metrô da Nove de Julho. Dizem que são falsos, mas assim eles não vão fazer a coisa parar. - Ria Renzi. - Pois se tudo começou com Cambaceres, o romance argentino, o verso pátrio, é sobre isso que você tem que escrever, Junior, que é que você está esperando?
- Tem uma mulher - disse Junior. - Vive ligando para mim, me passa informação. Agora está dizendo para eu ir até um hotel, o Majestic, na Piedras com Avenida de Maio, tem um cara lá, um tal Fujita, um coreano que trabalha no Museu, parece que é segurança, zelador. Sei lá, numa dessas ele trabalha para a polícia.
- Neste país quem não está preso trabalha para a polícia - disse Renzi. - Incluídos aí os ladrões.
Junior se levantou. Estava indo embora.
- Eu te dei a gravação? - disse Renzi. - Pega aí - disse e lhe passou a fita. - Escuta e depois me dá um toque.
- Certo - disse Junior.
- Te espero aqui mesmo, amanhã.
- Às seis - disse Junior.
- Toma cuidado.
- Pode deixar.
- Está cheio de japoneses - disse Renzi.
Na rua os carros passavam de lá para cá. "Vigiam o tempo todo, apesar de ser inútil", pensou Junior. O céu estava cinzento; às dez para as quatro o helicóptero da Presidência passou por sobre a Avenida em direção ao rio. Junior olhou as horas e entrou no metrô. Destino Praça de Maio. Ia recostado contra o vidro, meio adormecido, se deixava levar pelo vaivém do vagão. Eles ficam olhando um para a cara do outro, os babacas, andam por baixo da terra só para isso. Uma velha ia de pé, o rosto inchado de tanto chorar. Gente simples, proletas vestidos para sair, roupa moderna, de Taiwan. Casais de mãos dadas, vigiando pelo espelho do vidro. Os pardos, os peronios, como dizia Renzi. "Entre todos me raparam a zero", cantou Junior em silêncio. Eu sou o mudo. Canto com o pensamento. O barbeiro, um italiano de Constitución, no começo não queria. O que é que você vai fazer, rapaz? Eu não quero piolhos, disse Junior. Lustrava a bola branca com brilhantina ("Eu não quero piolhos"). Miguel Mac Kensey (Junior), um viajante inglês. O metrô iluminado cruzou o túnel a oitenta quilômetros por hora.
2
O Hotel Majestic, com sua entrada de mármore e sua pintura descascada, ficava bem ali, na esquina da Piedras com Avenida de Maio. No final da escada, num piso intermediário, havia um balcão e atrás dele um velho que acariciava um gato ruço, com o rosto colado no focinho. Junior viu o corredor acarpetado, várias portas fechadas e a entrada de um porão. Parou, cauteloso, e acendeu um cigarro.
- Este bicho aqui, que o senhor está vendo - disse o velho sem erguer o rosto -, tem quinze anos. O senhor sabe o que uma idade dessas significa para um gato? - Falava arrastando as palavras com uma entonação entre respeitosa e ladina, o pescoço magro metido numa jaqueta de veludo com colarinho de lustrina. Estava enfiado entre o painel das chaves e uma divisória de vidro e segurava o gato sobre o balcão. O animal começou a se mover desajeitadamente, o dorso encurvado, as patas tortas. - É um fenômeno da natureza este bicho aqui. Entende tudo feito gente. Ele veio comigo lá do campo e nunca saiu daqui. Um gato gaucho. - Ao sorrir seus olhinhos quase se fechavam. - Entrerriano.
Junior inclinou-se sobre o animal, que respirava com uma espécie de tremor, e alisou suas costas.
- Está nervoso, está vendo? Ele percebe tudo, não gosta do cheiro do tabaco, viu como ele respira?
Junior deu uma última tragada e jogou o cigarro no poço do elevador.
- Meu nome é Junior - disse. - Preciso falar com o Fujita.
- E daí? - perguntou o velho com seu sorrisinho receoso.
- O senhor sabe se ele está?
- Seu Fujita? Não sei lhe dizer. Vá falar com o gerente.
- Bonito gato - disse Junior e agarrou o gato por trás num gesto rápido. Empurrou-o contra a madeira e o bicho gritou aterrorizado.
- O que está fazendo? - disse o velho e cobriu o rosto com as mãos.
- Um número - disse Junior. - Eu trabalho no circo.
O velho tinha se encolhido contra a parede e olhava para Junior como se quisesse hipnotizá-lo. Os olhos eram dois ovinhos de codorna no rosto enrugado.
- A única coisa que eu tenho na vida é esse bicho - implorou o velho -, não o machuque.
Junior soltou o gato, que deu um pulo e se afastou miando como um bebê. Depois tirou uma nota de mil pesos dobrada ao meio.
- Preciso o número do quarto.
O velho tentou sorrir, mas estava tão nervoso que mostrou a ponta da língua. Uma iguana, pensou Junior. Aproximou-se da nota e a enfiou no bolso de cima da jaqueta num gesto furtivo.
- Dois vinte e três. Quarto dois vinte e três. Fujita é Cristo - disse. - O chamam de Cristo, entende? - Mostrou a língua duas vezes e virou-se para o painel das chaves. - Pode subir - disse. - Eu não estou aqui, o senhor não me viu. - Mostrava e guardava a ponta da língua de frente para a parede, para que ninguém o visse.
O elevador era uma gaiola e o teto estava cheio de escritos e grafites. "A linguagem mata", leu Junior. "Viva Lucía Joyce." Olhou seu rosto no espelho e teve a impressão de estar preso numa teia de aranha; a sombra das grades na parede emoldurava seu crânio escanhoado, sua caveira melancólica. O corredor do segundo andar estava vazio; as paredes amareladas e o carpete abafavam o rumor áspero da rua. Junior tocou no dois vinte e três e a campainha pareceu soar num outro lugar, fora da cidade e do hotel.
- Que foi? - disse depois de certo tempo uma voz de mulher.
- Fujita - disse ele.
A mulher mal abriu a porta e Junior pensou que talvez Fujita não fosse um homem. A Coca Fujita, a Dama Japonesa.
- Você é Fujita - disse.
A mulher riu.
- A linguagem mata - citou no escuro. A mulher era um resplendor pálido na penumbra do quarto.
- Quem é você? Foi a Mudinha que te mandou? - disse ela num sussurro e depois ergueu a voz. - Por que você não vai à merda, ein? Quem te conhece? - Houve uma leve hesitação, um ofegar. - Ele não está.
- Calma - disse Junior. - Eu sou Junior.
- Quem? - disse ela.
- Junior - disse Junior empurrando a porta, que se abriu suave sem que a mulher resistisse.
- Nojento - disse ela. - Malparido, vai embora daqui.
Falou em voz baixa, como se gritasse num sonho.
No quarto a atmosfera era pesada e o ar cheirava a cânfora e a álcool e a perfume barato. A mulher começou a recuar na direção da cama e Junior se aproximou devagar, procurando não perdê-la de vista entre a sombra densa dos móveis.
- Não rela a mão em mim que eu grito - disse ela. - Relou em mim e eu começo a gritar.
- Calma, sssh... - disse Junior e estendeu a mão. - Silencio en la noche.
Tinha acabado de se acostumar à claridade musgosa do quarto e então enxergou seu rosto, tinha sido loira, tinha apanhado, seus lábios estavam inchados, a boca rasgada, a pele cheia de hematomas. Vestia uma camisa que mal cobria suas coxas e calçava um par de sapatos de homem, sem cadarços.
- Por que ele te bateu? - disse Junior.
A mulher caminhou arrastando os pés e sentou-se na cama e apoiou os cotovelos nos joelhos, abstraída.
- E quem é você? - disse.
- Eu vou te ajudar.
- Sei - disse ela. - Foi o Fujita que te mandou? Você é japonês? Deixa ver.
Acendeu o isqueiro e a chama iluminou o espelho do guarda-roupas.
- Foi ele que te mandou?
- Eu vim me encontrar com ele - disse Junior -, marcou comigo aqui.
- Ele foi embora. Não volta mais. Coitado. - Começou a chorar em silêncio. Depois abaixou-se e tateou o chão procurando uma garrafa de genebra. Estava nua e seus peitos escapavam da camisa sem que ela se cobrisse. - Merda - disse empinando a garrafa vazia. - Tomara que ele se foda. - Fez um esforço para sorrir. - Diz que é um bom menino e vai lá comprar.
- Já, já. Primeiro a gente conversa, depois eu desço e trago a tua genebra. Acende a luz.
- Não - interrompeu-se. - Para quê? Deixa assim mesmo. Me dá um cigarro.
Junior entregou-lhe o maço. Ela o abriu com avidez e começou a fumar.
- Para você ver como esse cara é sacana, ele levou minha roupa para que eu não saísse. Que é que ele pensou? Que eu ia correr atrás dele?
- Foi embora - disse Junior. - Enfiou tua roupa numa mala e foi embora. A Coca Fujita. Quer usar?
- Coca eu não uso - disse ela. - Faz tempo. Você vem de La Plata, é? Um garotão da Narcóticos? A culpa é da Mudinha, aquela égua, uma viciada. Na certa está com ela. - Inclinou-se para lhe falar em voz baixa. De perto seu rosto parecia de vidro. - Ele quer me trocar por essa cadela. Logo eu, por essa fodida. - Ficou de pé e começou a andar pelo quarto. - Depois que eu, sabe as coisas que eu fiz por ele, por esse fulano? - Parou a um lado, diante da cadeira onde ele tinha se sentado. - Se você visse o que eu sou - disse, e suspendeu a camisa para lhe mostrar as pernas e juntou os pés calçados nos sapatos com sola de borracha. - Está vendo? Eu fui vedete no Maipo, euzinha aqui, descia toda nua, coberta de plumas. Miss Joyce. Quer dizer alegria. Cantava em inglês. Que é que essa daí está pensando? Desde os dezesseis anos que eu sou a primeira bailarina e agora vem essa égua e tira ele de mim. - Junior calculou que a mulher ia cair no choro. - Resolveu me mandar para Entre Ríos, você entende? Diz que aqui eu não tenho cobertura. Mas você percebe o que ele quer fazer comigo, que ele quer me enterrar viva? - O desespero fazia ela se mover no seu lugar e respirar com força. - O que é que eu vou fazer se ele me manda para Entre Ríos? O que é que eu vou fazer, me fala?
- O interior é legal - disse Junior. - Você pode criar bichos, levar uma vida natural. Noventa por cento dos gauchos trepam com as ovelhas.
- Mas o que é que você está falando, seu tarado. Você é doente? Por que te raparam? Você é russo? Uma vez eu assisti uma fita com um russo que tinha a cabeça que nem uma bocha, como você. Que é isso, sarna? Você é do campo?
- Sou - disse Junior. - De Gualeguay. Meu velho é capataz na fazenda dos Larrea. Ou melhor, era, foi morto por um peão, lhe deu uma facada pelas costas, bêbado, quando descia da charrete, meu pai.
- E aí? - disse a mulher. - Continua.
- Nada - disse Junior. - Ele estava jurado porque uma vez num baile chamou o sujeito de porco. O cara ficou só esperando a hora e no fim deu o troco. São todos uns drogados, no campo. Alucinados.
- Então - disse ela. - É como eu te digo. No campo eu não consigo dormir. Para onde a gente olha só tem droga e lixo.
Foi até um guarda-roupas antigo, com espelho redondo, num canto ao fundo do quarto. Junior chegou a ver o resplendor do cristal que cruzava a penumbra quando ela o abriu e depois um colchão enrolado e amarrado com arame e um cabide nu. A mulher ficou na ponta dos pés e começou a vasculhar as prateleiras do alto. Vista de trás parecia muito nova, quase uma moça. Quando se virou tinha um vidro de perfume na mão. Água de colônia "La Franco Inglesa". Tirou a tampa e deu um gole virando a cara para o teto. Limpou a boca e tornou a olhar para ele.
- Que foi? - disse.
- Outra coisa, no campo - disse Junior -, são os gafanhotos. Patas de serrote.
Precisa fazer barulho para eles não descerem; buzinas, tiros, meu velho tocava a sirene do barco. Ou então com fumaça, atear fogo nos canaviais, na grama seca. É por isso que eu gosto da cidade, não tem gafanhotos. Só pernilongos e gatos.
A mulher deixou o guarda-roupas aberto e foi até o meio com o vidro de perfume apertado contra o ventre. Movia-se devagar e olhava para Junior com expressão de receio.
- E para que é que você queria falar com ele?
- Eu tenho uma encomenda.
- Ele marcou encontro aqui? Se você quer falar com ele, por que não vai no Museu? Escuta, será que você não é amigo do gordo Saurio, não?
- Calma, sssh... - disse Junior. - Silencio en la noche. O Fujita pediu que eu viesse aqui. Agora... se você está dizendo que ele está no Museu.
- Eu? - A mulher começou a rir, nervosa. - Que é que eu falei, cara? - Tornou a empinar o vidro de perfume e deu mais um gole. Depois derramou umas gotas na ponta dos dedos e salpicou atrás das orelhas. Junior sentiu o aroma suave do perfume misturado ao cheiro de guardado do quarto.
- No Museu numa dessas ele está, mas numa dessas não está. Se você é tão amigo assim do gordo Saurio, alguma coisa você deve saber. Por que você não pede para ele te contar da Mudinha? - Começou a rir de novo, como se tossisse. - Fala a verdade, ele está ou não está com ela?
Tinha caído no choro e não conseguia parar. Apertava os olhos com os punhos fechados. Junior sentiu pena da mulher e pediu-lhe que não chorasse.
- Como você quer que eu não chore, me fala, com tudo o que esse cara faz comigo?
- Vem cá, pega - disse a ela e passou-lhe um lenço. - Fica calma, não chora. De onde você é?
- Daqui, eu sempre morei neste hotel, eu sou a garota do Majestic. Mas eu vim de longe, vim do interior, do sul, sou de Rio Negro. Olha aí, manchei tudo - disse, e tentou dobrar o lenço, sorrindo. - Você acha que vai ficar marca? - Apalpava os machucados com a ponta dos dedos.
- Não - disse ele. - Não. Mas por que você não se limpa? Vem cá, deixa ver.
Molhou o lenço na água de colônia e limpou seu rosto ferido e ela se deixou curar de olhos fechados.
- Já está bom - disse. - Já está bom, espera aí que eu vou acender. - Foi até um abajur de renda que lançava uma luz lilás e depois olhou-se no espelho. - Minha nossa, estou mais parecendo um monstro. - Começou a ajeitar o cabelo. Olhava para a perna. - Eu vivo mesmo me machucando e não sinto dor, não muita, quer ver? - suspendeu a camisa e mostrou-lhe as cicatrizes. - Isso daqui foi uma moto, isso uma mordida de cachorro, aqui uma topada numa mureta, entrei com tudo. Mas não dói. Todo mundo costuma sentir dor por qualquer coisinha. E eu aqui toda quebrada por esse marginal. As pessoas se assustam com a dor, mas eu não, na hora eu não sinto. Tem a ver com as endomorfinas.
- Que é isso? - perguntou Junior.
- "Endomorfina", é científico, meu filho, me explicaram na clínica. É um calmante que o próprio corpo fabrica. Se você toma heroína, o corpo não fabrica mais endomorfina. Stop. É por isso que fica tudo doendo quando você larga, porque tua endomorfina já não dá conta. No meu caso, acho que fabriquei demais e as coisas não me fazem sentir tanta dor. É por isso que eu bebo. Álcool. Aí pela província tem muita heroína, no campo, nos vales, todo mundo arranja, vão nas charretes, os sitiantes italianos levam ela escondida nas botas.
- Você tem aí?
- Nunca. Eu não compro, larguei aquilo lá. Quando você está com o bicho não sente nada. Além disso teu corpo fica diferente, você passa uma semana sem banho e não fede porque não tem secreções. Você não chora, não faz xixi, não sente nem frio nem calor, mal come. A gente pode ser heroinômano a vida inteira, é fato que ninguém morre disso, a não ser que ela seja de péssima qualidade, a pior das piores, que daí você se envenena. Mas precisa ser milionário para comprar heroína pura. Porque aí sim, no dia que te faltar a dose, você morre dos sintomas de abstinência.
- Não dá para largar.
- Como não dá para largar, você é louco, você precisa ir para um lugar onde não tenha de jeito nenhum, que não dê para você descolar mesmo que morra. Eu saí do interior onde a gente compra até em banca de jornal e vim para a Capital e fiquei três dias trancada no banheiro. Você larga a heroína e aí é tudo ao contrário, você não para de suar, eu estava o tempo todo ensopada, me levantava do chão e estava completamente molhada. É terrível, porque você fica uma pilha de nervos e ao mesmo tempo num letargo. Além disso você chora por qualquer besteira. Eu olhava para um cinzeiro e chorava. Aí comecei a beber. Eu bebia Anís Ocho Hermanos, me lembro, no início.
- É melhor.
- A mesma merda. Para não ser alcoólatra você não pode beber sozinho. Agora eu acordo no meio da noite, bebo um pouquinho de genebra e volto a dormir.
Junior olhou para a mulher, que tentava dar um jeito no rosto, tinha a pele tesa e brilhante como se fosse de metal.
- Vem cá - disse ele. - Eu quero que você dê uma olhada numa foto.
Era o instantâneo de uma moça vestindo saia xadrez e malha preta de gola olímpica.
- E essa daí, quem é? - disse ela pegando a foto com as duas mãos.
- Você nunca viu?
A mulher negou com um gesto.
- Pegaram ela? - disse.
- Morreu - disse ele.
- Quem foi?, o Fujita?
- Você acha que foi ele?
- Eu? Você está louco, cara? Eu não sei de nada. - Entrincheirou-se na cama e começou a lixar as unhas. - Vê se não liga muito para o que eu falo, que eu sou meio louca. E essa grã-fininha aí, nunca vi mais gorda. - Ergueu o rosto. - A Mudinha vive andando com mulheres. Você já foi no Museu? Tem uma máquina, você sabe ou não sabe? Nisso tudo tem algo muito estranho.
- Niet.
- É tudo científico. Nada maligno. Uma vez eu conheci um tal de Russo que tinha inventado um pássaro de metal que anunciava chuva. É a mesma coisa. Ciência pura, não religião.
- Não - disse Junior. - A máquina é uma mulher?
- Era uma mulher.
- Foi presa?
- Ficou um ano numa clínica. Você não conta para ele que eu te contei senão ele me mata, o Fujita. Assim que ele ficar sabendo que você veio aqui. É ciumento feito uma cobra.
- No campo eu matava com a forquilha. Assim - disse Junior e fez o gesto de fincar algo no chão. - As cobras. Teu nome é Elena?
- O meu não, o dela. Eu sou Lucía. Uma vez morei no Uruguai, cantei no Sodre, não preciso dizer mais nada. Foi lá que eu vi, pela primeira vez, ficava exibida num salão, atrás de um vidro. Estava coberta de tubos e de fios. Toda branca.
- Ela está no Museu?
- Está. O Fujita se apaixonou pela máquina e eu perdi ele, já sei. Vive no Museu. Pensa que em Entre Ríos eu não vou ficar sabendo de nada. Mas como, se ela é conhecida em todo o país. Sempre me amou, ele. Se zanga porque está desesperado.
Pela janela chegava o eco suave de uma música que se perdia no rumor da cidade.
- Nosotros, que nos quisimos tanto - cantou Lucía. - Debemos separarnos... Nosotros.
Parecia uma menina, devia ter trinta anos mas não envelhecia.
- Você canta bem - disse ele, e se levantou. - Não se entregue.
- O quê? - disse ela. - Você já vai embora?
- Vou sim.
- E você não vai trazer minha genebra?
- Vou.
A mulher passou a mão pelo rosto e tentou sorrir.
- Genebra e se der um pouco de pão.
- Certo - disse ele.
- Pão, um pouco de salame, qualquer coisa.
- Pode deixar, genebra e alguma coisa para comer - disse Junior. Foi até a porta seguido pela mulher, que mancava atrás dele.
- Eu desço e já volto.
Abriu e saiu para o corredor, que continuava vazio, iluminado por um par de lâmpadas que pendiam nuas do teto.
- Escuta - disse ela.
Junior virou-se, a mulher estava em pé atrás dele, agarrada à porta; com uma mão fechava a camisa contra o peito para defender-se do frio.
- Traz o que você arranjar, uma latinha de patê, o que der.
- Está bom - disse ele. - Pode deixar.
Na rua era noite cerrada. Junior chamou um táxi e pediu ao motorista que o levasse até o Museu. Tinha mais de uma hora de viagem pela frente. A marcha era suave, começava a anoitecer e toda a cidade estava iluminada. Colocou os fones do walk-man. Estava tocando Crime and the City Solution. No terraço de alguns prédios, os refletores varriam o céu com um facho azul. Carregava a gravação que Renzi lhe entregara. Era o último relato conhecido da máquina. Um testemunho, a voz de uma testemunha que contava o que tinha visto. Os fatos se davam no presente, na beira do mundo, os signos do horror marcados na terra. A história circulava de mão em mão em cópias e reproduções e se encontravam nas livrarias de Corrientes e nos bares do Bajo. Junior pôs a fita e se deixou levar pelo tom de quem tinha começado a narrar. Ao lado a cidade se dissolvia na névoa do outono, enquanto o carro pegava a Leandro Alem rumo ao sul.
A gravação
O primeiro anarquista argentino foi um gaucho oriundo da divisa com Entre Ríos. Conheceu Enrico Malatesta nos campos perto de Bragado, uma vez que uma grande enchente juntou os dois. Passaram três dias refugiados no telhado de uma igreja, cobertos com a capa de borracha do Italiano, vendo a água subir e os bichos mortos boiando e os troncos que vinham do Paraguai. Ficaram os dois espremidos debaixo da capa aberta, comendo biscoito molhado e bebendo genebra até que a chuva amainou. Nesses dias, falando numa espécie de italianol e ajudando-se com desenhos e sinais, Malatesta convenceu o gaucho das verdades libertárias. Ahã, dizia o parceiro, ahã. E assentia com a cabeça. O tal gaucho se chamava Juan Arias e percorreu as fazendas a cavalo pregando a Ideia até que foi assassinado por uns capangas do Partido Autonomista Nacional. O encurralaram contra o átrio de uma igreja num domingo de eleição e o mataram a punhaladas, porque ele dizia que o voto de cabresto era um engodo aos humilhados do campo e aos tristes. Na província era conhecido como Falso Fierro, porque quando não sabia mais como convencer as pessoas e ficava sem palavras começava a recitar o Poema de Hernández. Os gauchos falam em verso e os operários são gagos. O Gago, todo mundo conhece, magro, olhos saltados, olhar esquivo. No mundo do trabalho, nas fábricas, não se fala assim, de cara, de primeira. A palavra operária, a palavra operária é um balbucio, gagueja e tem dificuldade de se expressar. A gente pode ver isso claramente na televisão quando, por exemplo numa entrevista, pedem às pessoas do mundo operário para expressar alguma coisa. Precisam lhes dar então pelo menos cinco ou seis minutos além do que os outros, porque suas palavras vêm entrecortadas por silêncios, a não ser nos casos dos líderes sindicais, que falam feito locutores e dão o seu recado no ato. É uma expressão que eu conheço muito bem. Dá o teu recado, dá o teu recado, conta, e o sujeito se atrapalha para contar e dar o seu recado, falar a sua tragédia. Minha falecida mãe já tinha me contado de um parceiro que fuzilaram numa praça, amarrado num poste, com uma escopeta. Ela nunca conseguiu esquecer o homem, que era baixinho e estrangeiro, porque nos alto-falantes da vila continuavam passando a música e os comerciais como se nada, enquanto o matavam. Eu já vi coisas que queria começar de novo outra vida, sem lembranças, pois já estive a ponto de largar mulher e filhos, pegar um trem, ir para Lomas, para a casa da minha irmã em Bernal, para Chivilcoy, para Bolívar, se bem que se a gente vai embora mesmo assim as lembranças vêm com a gente. Matavam eles feito passarinho, correndo encarapuçada que é que a pessoa pode fazer, maniatada, não dava nem dois metros e os fuzilavam e os jogavam nos buracos e depois andavam com as escavadeiras, fazendo covas e às vezes os próprios coitados tiveram que cavar a vala onde cair mortos. A gente via como num sonho, nus, os cristãos cavando o buraco. Naquele tempo eu me encontrava trabalhando com um senhor de sobrenome Maradey, Maneco Maradey. A fazenda fica, eu tinha por costume chamar de "Las Lomitas", passando o bosque, uma fazenda de quinhentos, seiscentos alqueires, que vão até La Calera, até Diquecito, La Mezquita, eu tomava conta da criação, plantávamos alguma lavoura, tinha um tanto porcento dos animais quando se efetuavam as vendas, não era ordenado fixo. Trabalhei lá com esse senhor o mês de abril todinho e havia algumas coisas de anormal nesses campos, gente com armas, no fundo mais fundo de tudo, passando a porteira, um quartel, parecendo mais um galpão, situado bem em cima das duas pistas da Carlos Paz, não estava pronta a rodovia, tinha uma estrada de terra chamada Caminho Velho para La Calera, que estava meio cortada pelo asfalto, ao sul de Malagüeño, ao norte de Malagüeño, desculpe, onde eu tinha um tambo, devia dar uns quinhentos metros até o tal pavilhão; eu estava limpando os latões com minha mulher e me vem o incidente do bezerro. Acontece que ali, onde fica o milharal, sabe, tem um buraco onde deu de cair um bezerro, um buraco, tinha dezoito metros certinhos, eu vou lhe explicar por que tinha dezoito metros certinhos, porque vai o bezerro e cai no buraco, assim socavado, do grande ao pequeno, do lado de fora não se percebia nada, mugia um bezerro lá dentro e uma vaca cavava o chão, fora, assim, com o casco, mugia chamando o bezerro, daí vou e peço a esse amigo, Maradey, bem na hora que estava saindo com o caminhão, ele, para me emprestar umas tábuas que tinha caído um bezerro no buraco, num buraco de moinho, pensei primeiro, não é?, daí vou com dois peões, para trazer uns cavalos grandes, uns percherões e eu fui até Malagüeño e pedi uma corda de quarenta metros - me deram -, justos, mais ou menos tem para quarenta metros a corda; então, colocamos as tábuas assim e aí com uns espelhos começamos a iluminar lá embaixo, para localizar o bezerro era, vemos, não posso lhe dizer, esse homem, Maradey, não ligava, ele não ligava para coisa nenhuma, a imagem essa, ninguém pode nem imaginar, o que tinha no buraco, esses cadáveres, e o homem e eu fizemos uma torre com essa corda e iluminando eu com os espelhos, dobrei a corda e peguei do meio, armei um laço na ponta e aí largo, o bezerrinho estava em pé, era um bezerro preto, meio magrinho, alto, fincado nas patas, e conforme ia largando a corda - olhava pelo espelho - tinha um sem fim de coisas terríveis dentro, corpos amontoados, restos, inclusive uma mulher feita um novelo, sentada, desse jeito, de braços cruzados, feita um novelo, nova a mulher, se vê, a cabeça enfiada no peito, o cabelo todo assim para baixo, descalça, as calças arregaçadas, para cima tinha como que outra pessoa, eu pensei que era uma mulher também, caída, com o cabelo para a frente, os braços assim virados para trás, parecia, não sei, um ossário, a aflição das coisas que tinha, nesse espelho, a luz que ele dava, como um círculo, eu virava e via o buraco, nesse espelho, o brilho dos restos, a luz batia lá dentro e vi os corpos, vi a terra, os mortos, vi no espelho a luz e a mulher sentada e no meio o bezerro, eu vi, com as quatro patas fincadas na lama, durinho de medo, começamos a puxar ele para fora, tinha quebrado a pata direita, quase no lombo, em cima da espádua, tiramos ele, coitadinho, os olhos feito gente. Eu o lavei, me lembro, com uma mangueira e molhava o rosto, eu, com a água, para o Maradey não notar que estava chorando, quase mal conseguia respirar e digo para ele o que vamos fazer, nada, me diz, largar tudo e não dizer nada. E já não voltei mais, acho, meio que larguei minha casa, para morar com o velho Monti, porque eu não queria, nem que dançassem as meninas, essas coisas dos moços, nem que se divertissem, não podia ouvir o rádio, quer dizer que estava atrapalhando todo mundo então fui embora, fiz minha cama no posto, na beira do campo, ali estava mais a gosto, podia pensar, com Seu Monti, que já tinha visto de tudo, tinha estado preso com os conservadores. Nunca aconteceu nada igual, ele me conta, a isto daqui. Uma vez tinha visto matarem um homem, os gendarmes, na Ponte Barracas, para escarmentar o povo, puseram ele contra a parede dos fundos, tinha já lá a sua idade o homem, seguravam assim pelo cabelo e o mataram, não é?, diz Seu Monti. Mas isto daqui, disse. Isto daqui é como o inferno de Dante, diz ele, me lembro, fumava um charutinho partido ao meio, o velho Monti, quando lhe contei, um homem estudado, que tinha trabalhado na Capital e perdeu mulher e filhos num incêndio e veio embora para o campo. Ele foi o primeiro que me falou daquilo que estava acontecendo com a geada. Porque nós estávamos bem em cima, do lado de cá da cerca, o tambo pequeno, na parte da pastagem, o único terreno de capim, porque o morro El Torito, o que o povo chama de morro El Torito, são todos campos naturais de pedra e pastagem, tudo capim de raiz, o gado procura demais, não se faz lavoura desse lado, não se fazia nada naquele tempo. O campo todinho eu vi lá do alto, a zona da pastagem, não é?, a única de capim macio, de terra fofa que servia para lavoura e embaixo os buracos, eu nunca coloquei uma cruz, nada. Às vezes se via os urubus voando, não conseguiam cobrir tudo. Foram cavando e cavando, conforme chegava o inverno foi se vendo melhor. Faziam tudo de noite e de manhã com a geada, os quadrados, o horror branco. Tinha buracos que se via que tinham jogado cal, a cal sempre vem para fora, o capim demora para nascer e depois com a geada que o campo fica todo queimado quando tem muita geada, ele queima, quer dizer que se enxerga aquele mundo de quadrados brancos, quase colados um no outro, às vezes passavam cinco ou seis metros, porque se observavam pedras que não se pode cavar, às vezes começavam um buraco e dali a sessenta centímetros topavam com uma pedra grande, daí cavavam do lado, às vezes faziam buracos um tanto mais estreitos, um tanto maiores, tinha buracos como de três metros por dois, por aí, e a terra, quando cobriam sobrava muita terra, os buracos nunca foram cavados um do lado do outro, tinha alguns paralelos, mas eram quase parelhos, os buracos, porque às vezes eles chegavam, cavavam num lugar, outra vez em outro, e a terra sobrava muita demais, muita quantidade sobrava sempre, cavavam de noite, inclusive quando chovia, não sabiam o que fazer com os restos. Eu digo que era um mapa sem conta o tanto aproximado de buracos, na pastagem. Não posso dizer a quantidade, mas eu calculo assim sem errar, para mais de setecentos, setecentos e cinquenta buracos, calculo, porque provavelmente eram quatro alqueires desse lado, três, quatro, não sei assim ao certo, e estava quase que tudo coberto, um campo santo sem cruzes, nada, selvagem. Inclusive tinha buracos que passava seis, sete dias sem que eles usassem. Em vários buracos cavados, sem gente sepultada, eu de dia me enfiei dentro, de dia não se vê nada, só terra e buraco, inclusive tirei uma vez uns cachorrinhos, algumas lebres caíam lá dentro, sempre me cobriam os buracos, esses daí, provavelmente tinham para mais de dois metros, e às vezes no outro dia de noite já não estavam, às vezes pela janela dava para se escutar tudinho, para ver as luzes, se mexendo, os faróis, gente armada. E com Seu Monti, sentados no banquinho, no terreiro que dava para a planície, pensando temos que ir embora daqui, mas como é que a gente vai embora, para onde, naquele tempo, eu pensava vou para o Chaco que eu tenho meu compadre, mas para onde eu fosse ia ser pior, ninguém podia falar nada, pelo menos ali estava Seu Monti, éramos os últimos, pensava eu, nós tomávamos conta do tambo, dos animais, esperávamos o inverno passar, sentados na porta do rancho, Seu Monti que erguia a mão, me lembro, desse jeito, e dizia, eles vêm de lá e de lá, botavam o caminhão assim de traseira e matavam o que traziam, tudo o que traziam, maniatadas as pessoas, encarapuçadas, que é que eles iam fazer, ali mesmo, sem desligar o rádio do carro, um carro sem placa, com música, com os comerciais, sabe?, Seu Monti, sentados na porta do rancho, no posto. Pois é, pior que bicho, pior que pior. Ficava calado, fumando o charutinho, erguia a mão, me mostrava a planície, lá embaixo.
- Sabe - ele me diz -, esse é o mapa do inferno. Na terra, como um mapa, isso que eu conto para vocês, que lhes dou certeza, era um mapa - quero dizer - de túmulos desconhecidos, com uma parte geada parecendo uma lápide e depois terra ou capim. Não tem jeito de só cobrir e cobrir porque no fim a geada, a terra remexida, logo se vê, é claro que o mal já está feito. Pois quando sabiam que tinha um montinho de pedras embaixo, cavavam buracos com feitio de leques, inclusive por aí tinha umas valas compridas, até que topavam com umas pedras e largavam ali mesmo, sabe? No inverno, a gente via, isso, na pastagem de Las Lomitas. Que o capim tinha queimado com a geada e se notavam todos os buracos, principalmente os que estavam com cal, se notavam parelhos, uns de assim, outros de atravessado, se notava muita quantidade, posso lhe dizer. Um mapa de túmulos como a gente vê aqui nestes mosaicos, desse jeito, isso aí era o mapa, parecia um mapa, depois de geada a terra, preto e branco, imenso, o mapa do inferno.
II
O Museu
O Museu ficava numa zona afastada da cidade, perto do parque e atrás do Congresso. Era preciso subir uma rampa e cruzar um corredor com paredes de acrílico para chegar à sala circular onde a máquina ficava em exibição. Podia ser vista ao fundo, sobre um estrado preto. Nas paredes havia diagramas, fotografias, reproduções dos textos. Junior fez algumas anotações na caderneta e deu uma volta pelo salão acompanhando a história nas vitrines.
Primeiro eles tinham tentado uma máquina de traduzir. O sistema era bastante simples, parecia um fonógrafo dentro de uma caixa de vidro, cheio de fios e magnetos. Uma tarde incorporaram a ela o William Wilson de Poe para que o traduzisse. Dali a três horas começaram a sair as fitas de teletipo com a versão final. O relato se expandiu e se modificou até ficar irreconhecível. Chamava-se Stephen Stevensen. Foi a história inicial. Para além de suas imperfeições era uma síntese do que viria depois. A primeira obra, tinha dito Macedonio, antecipa todas as que se seguem. Queríamos uma máquina de traduzir e temos uma máquina transformadora de histórias. Pegou o tema do duplo e o traduziu. Se arranja como pode. Usa o que houver e aquilo que parece perdido ela o traz de volta transformado numa outra coisa. A vida é assim mesmo. Macedonio tinha nesse momento cinquenta anos. Nos recortes e nas fotos dos jornais via-se seu rosto sossegado e malicioso dando explicações. Tinha se recusado a vender a patente porque não havia nada para se vender. Pensava aperfeiçoar o aparelho (era assim que o chamava) com a intenção de entreter o povo dos vilarejos. Acho que é uma invenção bem mais divertida do que o rádio, dizia, mas ainda é cedo para cantar vitória. Pedia discrição e negava-se a aceitar o auxílio do governo. Ia dar uma conferência na universidade para explicar os alcances da invenção. ("Faz parte da série dos Querverquenão", disse Macedonio. "Os Querverquenão: o que são? São aqueles aparelhos cujo funcionamento é sempre precedido por uma expectativa incrédula.") As coisas tinham andado muito bem. Melhor do que se esperava. A máquina tinha captado a formada narração de Poe e tinha trocado a anedota, portanto era questão de programá-la com um conjunto variável de núcleos narrativos e deixá-la trabalhar. O segredo, disse Macedonio, é que ela aprende à medida que vai narrando. Aprender quer dizer que ela lembra o que já fez e tem cada vez mais experiência. Não irá necessariamente fazer histórias cada vez mais belas, mas vai saber as histórias que já fez e talvez acabe por construir-lhes uma trama comum. Achava que era uma invenção muito útil porque aos poucos os velhos estavam morrendo. O último que eu conheci vivia em Coronel Vidal. Foi ele quem contou a história do gaucho invisível, disse Macedonio. Ele a inventou sozinho, a partir do nada, e foi dando forma a ela, tomando seu mate no campo, de cara para o vento da planície. Uma vez um primo meu me escreveu dizendo tê-la ouvido na Espanha. A mesma história se passava entre uns marinheiros em Tenerife. E no entanto tinha sido vivida por Dom Sosa, um peão que tinha ficado paralítico de tanto se jogar na água para apanhar bezerros desgarrados quando trabalhava nas fazendas dos Echegoyen na zona de Quequén. Foi assim.
O gaucho invisível
O bugre Burgos era um tropeirinho que se conchavara em Chacabuco para um arreio de gado até Entre Ríos. Tinham saído de madrugada e dali a poucas léguas uma tormenta os alcançou. Burgos trabalhou ombro a ombro com todos para o gado não se espalhar e no fim salvou um bezerro guacho que tinha se encravado num costado, escarrapachado no meio do vento e da chuva. Ele o suspendeu sem apear do cavalo e o ajeitou na sela. O bicho se debatia e Burgos o segurou com uma só mão e depois foi se juntar à tropa e o deixou inteirinho no chão. Fez assim para alardear destreza, quase uma compadrada, para dali a pouco se arrepender pois nenhum dos homens olhou nem fez o menor comentário. Acabou por esquecer o incidente, mas foi lhe tomando conta a estranha sensação de que os outros tinham coisa contra ele. Só lhe falavam para mandar e nunca o incluíam nas conversas. Atuavam como se nunca estivesse. De noite ia dormir mais cedo que ninguém e lá do meio das mantas via os outros rindo e brincando em volta do fogo; era como viver um mau sonho. Nos seus dezesseis anos de vida nunca se encontrara em situação semelhante; tinha sido maltratado, mas nunca ignorado e desconhecido. A primeira parada mais longa foi em Azul, onde chegaram já bem adiantada a tarde de um sábado. O capataz disse que iam pernoitar na vila e que seguiriam viagem ao meio-dia. Juntaram os animais no curral da igreja, na entrada do povoado. Diziam que antigamente nesse lugar havia uma capela, mas que tinha sido destruída pelos índios no grande saque de 1867. Restavam umas paredes no tempo que serviam de mourão para o curral onde se recolhia o gado. Burgos teve a impressão de ver a forma de uma cruz entre os tijolos onde o mato crescia. Era um vão de luz na parede, marcado pela claridade do sol. Mostrou aquilo aos outros num só entusiasmo, mas eles seguiram em frente como se nada. Via-se a cruz nítida no ar enquanto a noite caía. Burgos se persignou e beijou seus dedos cruzados. No armazém da estação tinha baile. Burgos foi se sentar numa mesa à parte e viu os homens todos juntos rindo e se embebedando e viu quando saíram para o quarto dos fundos com as mulheres que estavam sentadas em fila junto do balcão. Teria gostado de escolher uma também, mas teve medo de não ser notado e nem se mexeu. Mesmo assim imaginou que escolhia a loira vistosa que tinha bem na sua frente. Era alta e parecia a mais velha de todas. Ele a levava para o quarto e quando estavam deitados na cama lhe explicava o que estava acontecendo. A mulher tinha uma cruz de prata no peito que ela fazia rodar enquanto Burgos lhe contava a sua história. Os homens gostam de ver sofrer, disse a mulher, viram o Cristo porque seu sofrimento os atraiu. Se a história da Paixão não fosse tão atroz, disse a mulher, que falava com sotaque estrangeiro, ninguém teria se dedicado ao filho de Deus. Burgos ouviu a mulher lhe dizer isso e foi tirá-la para dançar, mas pensou que ela não o veria e fingiu que tinha se levantado para pedir uma genebra. Nessa noite os homens se deitaram ao amanhecer e todos dormiram a manhã inteira, por volta do meio-dia começaram a arrear os animais do curral para voltar à estrada. O céu estava escuro e Burgos não viu a cruz na parede da igreja. Galoparam em direção à tormenta; as nuvens baixas se misturavam com o descampado. Em pouco tempo começaram a cair uns pingos pesados feito patacões. Burgos cobriu-se com o poncho encerado e cavalgou à frente da tropa. Sabia fazer seu trabalho e eles sabiam que ele sabia fazer seu trabalho. Esse era o único orgulho que lhe restava, agora que era menos que nada. A tormenta apertou. Eles juntaram os animais num baixadão e os mantiveram ali toda uma tarde, enquanto a chuva durou. Quando estiou os peões saíram para campear os animais perdidos. Burgos viu que um bezerro se afogava num lago que se formara num grotão. Devia ter uma pata quebrada, porque não conseguia subir a ladeira e tornava a afundar. Ele o laçou lá do alto e o suspendeu pelo pescoço. O bicho se revirava e esperneava com desespero no vazio. Por fim safou-se e despencou na água. A cabeça do bezerro boiava na lagoa. Burgos tornou a laçá-lo. O bezerro agitava as patas e boqueava. Os outros peões tinham se juntado na beira do barranco. Dessa vez Burgos ficou um bom tempo com ele assim pendurado e depois o deixou cair. O animal afundou e demorou para voltar. A turma fazia comentários em voz alta. Burgos o laçou e o suspendeu no ar e quando o bezerro já estava no topo tornou a soltá-lo. Os outros homens festejaram o número com gritos e gargalhadas. Burgos repetiu várias vezes a operação. O bicho tentava escapar do laço e mergulhava na água. Nadava querendo fugir e os homens incitavam Burgos a pescá-lo mais uma vez. O jogo durou um bom tempo, entre piadas e brincadeiras, até que por fim ele o laçou quando já estava prestes a se afogar e o puxou devagar até as patas do seu cavalo. O bicho boqueava no barro, com os olhos brancos de pavor. Então um dos peões saltou do cavalo e o degolou de um só golpe.
- Feito, moço - disse a Burgos -, hoje vamos ter churrasco de peixe. - Todos riram e pela primeira vez depois de muito tempo Burgos sentiu a irmandade dos homens.
Macedonio vivia recopilando histórias alheias. Desde a época em que era fiscal em Misiones, tinha mantido um registro de relatos e de casos. "Uma história tem um coração simples, como uma mulher. Ou um homem. Mas prefiro dizer como uma mulher", dizia Macedonio, "porque penso em Scheherazade". Só muito tempo depois, pensou Junior, é que foram entender o que ele quis dizer. Por esses anos é que ele tinha perdido sua mulher, Elena Obieta, e tudo o que Macedonio fez dali em diante (e acima de tudo a máquina) foi para torná-la presente. Ela era A Eterna, o rio do relato, a voz interminável que mantinha viva a lembrança. Nunca aceitou o fato de perdê-la. Nisso foi como Dante e tal como Dante construiu um mundo para viver junto dela. A máquina foi esse mundo e foi sua obra-prima. Ele a resgatou do nada e a manteve durante anos embaixo de um guarda-roupas num quarto de pensão perto de Tribunales, enrolada num cobertor. O sistema era simples e surgiu por acaso. Quando transformou o William Wilson na história de Stephen Stevensen, Macedonio contou com elementos para construir uma ficção virtual. Então começou a trabalhar com séries e variáveis. Primeiro pensou nas ferrovias inglesas e na leitura de romances. O gênero se expandiu no século XIX, ligado a esse meio de transporte. Por isso muitos relatos se passam numa viagem de trem. As pessoas gostam de ler no trem relatos sobre o trem. Na Argentina, a primeira viagem do romance sobre trilhos está, é claro, em Cambaceres.
Numa sala Junior viu o vagão onde Erdosain tinha se matado. Estava pintado de verde escuro, nas poltronas de curvim viam-se as manchas de sangue, tinha os vidros abertos. Na outra sala viu a foto de um velho carro da Ferrovia Central Argentina. Ali tinha viajado a mulher que fugiu de madrugada. Junior a imaginou cochilando na poltrona, o trem cruzando a escuridão do campo com todas as janelas acesas. Essa era uma das primeiras histórias.
Uma mulher
Tinha um filho de dois anos, mas decidiu abandoná-lo. Com uma faixa comprida ela o amarrou a uma argola no teto e o deixou engatinhando pelo quarto, sobre um tecido impermeável. Antes teve o cuidado de afastar os móveis e amontoá-los contra as paredes, fora do alcance do filho, como se o quarto estivesse vazio. Escreveu um recado para a faxineira dizendo que tinha saído para fazer uns trâmites. Eram sete da manhã e assim que o carro do marido dobrou a esquina para o trabalho, ela chamou um táxi e tomou o primeiro trem de longa distância que saía de Retiro. No dia seguinte estava num povoado na divisa com a província de San Luis. No hotel registrou-se com o nome de sua mãe (Lia Matra). Passou a tarde dormindo e à noite desceu para jogar no cassino. Via a roleta como o rosto do destino. Os homens e mulheres da sala iam ali buscar respostas e cada um estava num universo isolado e microscópico. (Esses crupiês, pensou, funerários, teria gostado de levar um deles para cama.) O cassino era pobre, tinha um carpete azul-claro e ela imaginou que o inferno devia ter essa decoração. Uma sala semivazia e mal iluminada, forrada de azul "elétrico". Os homens vestiam japonas, as mulheres pareciam copeiras aposentadas. Uma nuvem de insetos rodeando a réplica artificial da paixão e da vida. A mulher pensava em datas e jogava no dia ou no mês em progressão e ganhava o tempo todo. Quando o cassino fechou lhe deram o dinheiro num saco de papelão. Para chegar ao hotel teve que cruzar uma praça. Havia um monumento, bancos, uma lata de lixo acorrentada a uma árvore. Ia telefonar para sua casa e avisar que tinha ido embora. As lajes do caminho se interrompem junto a um canteiro. A mulher esconde o saco com o dinheiro entre as plantas. O povoado está vazio; uma luz brilha ao fundo, naquilo que foi a estação velha. A mulher atravessa a rua, sobe até seu quarto e só então resolve abrir a mala. Pendura a roupa nos cabides, arruma os frascos e os cremes no armário do banheiro, fecha as janelas para a luz do dia não entrar. Liga para a recepção do hotel, pede que ninguém a perturbe e depois se suicida.
No Museu estava a reprodução do quarto do hotel onde a mulher tinha se matado. Sobre o criado-mudo viu a foto do filho apoiada contra o abajur. Não se lembrava desse detalhe do relato. A série dos quartos de hotel aparecia reproduzida nas salas sucessivas. A pensão onde um velho sentado numa cadeira de palha ponteava um violão a noite inteira. A bacia sobre um pedestal de ferro onde a amante de um soldado alemão tinha lavado seus cabelos. Junior viu o quarto do hotel em Cuernavaca, com a cama coberta com um mosquiteiro e a garrafa de tequila. Numa sala lateral estava o quarto do Majestic e o guarda-roupas onde a mulher tinha procurado o frasco de perfume. Ficava espantado com a fidelidade da reconstrução. Parecia um sonho. Mas os sonhos eram relatos falsos. E estas eram histórias verdadeiras. Cada um insulado num canto do Museu, construindo a história da sua vida. Tudo era como devia ser. Uniformes militares nas altas vitrines de vidro; a longa adaga de Moreira sobre um coxim de veludo preto; a fotografia de um laboratório numa ilha de El Tigre. Com esses materiais haviam sido elaboradas as histórias. Tinham a claridade das lembranças. Na parede dos fundos estava o espelho, e no espelho, a primeira história de amor.
Primeiro amor
Eu me apaixonei pela primeira vez aos doze anos. No meio da aula apareceu uma menina de cabelo vermelho que a professora apresentou como a aluna nova. Estava de pé ao lado da lousa e seu nome era (ou é) Clara Schultz. Não recordo nada das semanas que se seguiram, mas sei que nos apaixonamos e que tentávamos esconder isso porque éramos crianças e sabíamos querer algo impossível. Algumas lembranças ainda me doem. Na fila os outros ficavam olhando para nós e ela ficava mais vermelha ainda e eu aprendi o que era sofrer a cumplicidade dos idiotas. Na saída eu brigava no campinho do Amenedo com os caras do ginásio que andavam atrás dela para jogar picão no seu cabelo, porque ela andava com ele solto até a cintura. Uma tarde eu voltei para casa tão arrebentado que minha mãe pensou que eu tinha ficado louco ou que tinha pego uma febre suicida. Eu não podia contar a ninguém o que sentia e parecia sombrio e humilhado, como se estivesse sempre com sono. Escrevíamos cartas um para o outro, só que mal sabíamos escrever. Eu me lembro de uma sequência instável de êxtase e desespero; lembro que ela era séria e apaixonada e que nunca sorria, talvez por conhecer o futuro. Não conservo comigo nenhuma fotografia, só a sua lembrança, mas em cada mulher que eu amei estava Clara. Foi embora assim como veio, imprevistamente, antes do fim do ano. Uma tarde fez um ato heroico e rompeu todas as regras e entrou correndo no proibido pátio dos meninos para vir me dizer que a levavam embora. Vejo a imagem dos dois no meio das lajotas vermelhas e o círculo sarcástico dos outros nos olhando. O pai dela era inspetor municipal ou gerente de banco e estava sendo transferido para Sierra de la Ventana. Recordo o horror que me causou a imagem de uma serra que também era uma prisão. Foi por isso que ela chegou no meio do ano e por isso talvez tenha me amado. A dor foi tão grande que fui me lembrar de minha mãe dizendo que se a gente gosta de uma pessoa tem que colocar um espelho embaixo do travesseiro, e se seu rosto aparecer refletido no sonho é que vai se casar com ela. E de noite, quando todos na casa já dormiam, eu ia descalço até o pátio dos fundos e pegava o espelho onde todas as manhãs meu pai se barbeava. Era um espelho quadrado, com moldura de madeira marrom, pendurado com uma correntinha no prego da parede. Eu dormia em intervalos, tentando vê-la refletida ao sonhar e às vezes imaginava que a via aparecer na beirada do espelho. Muitos anos mais tarde, uma noite, sonhei que sonhava com ela no espelho. Eu a via tal qual ela era quando criança, com o cabelo vermelho e os olhos sérios. Eu era outro, mas ela era a mesma e vinha ao meu encontro, como se fosse minha filha.
A moldura de madeira do espelho estava salpicada de falhas cinzentas, como se tivesse sido entalhada com um canivete. Junior olhou seu rosto e viu a galeria que se refletia ao fundo. O guarda tinha caminhado o tempo todo atrás dele com passo sigiloso, mantendo-se a certa distância; agora se aproximou, com uma mão nas costas e o espectro da outra no bolso, enquanto engolia saliva, a julgar por seu pomo de adão.
- O que é isso? - perguntou Junior, e apontou-lhe a caixa de vidro.
- A ciência ainda não conseguiu determinar - respondeu com uma frase que sem dúvida sabia de memória. - Um abutre, talvez um urubu. Foi encontrado, em 1895, nos arredores de Tapalqué, pelo doutor Roger Fontaine, cientista francês. - E seu dedo trêmulo apontou para a placa de bronze.
Um pássaro de metal estava empoleirado num tronco e picoteava suas asas.
- Estranho - disse Junior.
- E agora repare nessa caveira - disse o guarda. - É da mesma zona.
Parecia um crânio de vidro. O campo argentino é inesgotável e nos povoados as pessoas conservam os restos de histórias muito velhas.
Ao lado havia uma série de objetos de osso, enfileirados sobre uma vitrine baixa. Pareciam dados ou pequenas tavas ou contas de um rosário herético. Junior parou para examinar um vaso japonês, provavelmente doado por algum oficial da marinha. Tinha visto uma réplica no mercado da Praça França, eram reproduzidos com tamanha perfeição que superavam o original e conseguiam que a cópia parecesse mais antiga e mais pura. O guarda tinha desaparecido docilmente por uma escada lateral. Junior cruzou uma galeria com desenhos e fotos dos arquivos policiais e foi sair em outra sala. Era o quarto de uma casa de família, com as persianas fechadas e um abajur aceso, não havia móveis, mas um pouco mais abaixo, quase à altura do chão, e no centro, como num berço, estava a boneca.
A menina
Os dois primeiros filhos do casal tiveram uma vida normal, com as dificuldades que significa ter uma irmã como ela numa cidadezinha do interior. A menina (Laura) tinha nascido sadia e só com o tempo começaram a notar sinais estranhos. Seu sistema de alucinação foi objeto de um complicado relatório publicado numa revista científica, mas muito antes disso seu pai já o havia decifrado. Yves Fonagy lhe deu o nome de "extravagâncias da referência". Nesses casos, muito raros, o paciente imagina que tudo o que acontece a seu redor é uma projeção de sua personalidade. Exclui da sua experiência as pessoas reais, porque se considera muitíssimo mais inteligente que os demais. O mundo era uma extensão de si mesma e seu corpo se deslocava e se reproduzia. Vivia constantemente preocupada com maquinarias, principalmente as lâmpadas elétricas. Ela as via como palavras, toda vez que se acendiam alguém começava a falar. Considerava portanto o escuro como uma forma do pensamento silencioso. Uma tarde de verão (aos cinco anos) reparou num ventilador elétrico que girava em cima de um armário. Considerou que era um objeto vivo, da espécie das fêmeas. A menina do ar, com a alma engaiolada. Laura disse que ela morava "aí", e ergueu a mão para mostrar o teto. Aí, disse, e mexia a cabeça da esquerda para a direita. A mãe desligou o ventilador. Nesse momento começou a ter dificuldades com a linguagem. Perdeu a capacidade de usar corretamente os pronomes pessoais e dali a pouco quase deixou de usá-los e mais tarde enterrou na memória as palavras que conhecia. Só emitia um leve cacarejar e abria e fechava os olhos. A mãe separou os filhos da irmã por medo de contágio, coisas do interior, a loucura não contagia e a menina não era louca. O caso é que puseram os dois irmãos num internato de padres em Del Valle e a família se recluiu no casarão de Bolívar. O pai dava aulas de matemática no Clássico e era um músico frustrado. A mãe era professora e tinha chegado a diretora de escola, mas resolveu se aposentar para tomar conta da filha. Não queriam interná-la. Duas vezes por mês eles a levavam até um instituto em La Plata e seguiam as recomendações do doutor Arana, que a submetia a uma cura elétrica. Explicou-lhe que a menina vivia num vazio emocional extremo. Por isso a linguagem de Laura ia aos poucos se tornando abstrata e despersonalizada. No início nomeava corretamente a comida; dizia "manteiga", "açúcar", "água", mas depois começou a se referir aos alimentos por grupos desvinculados do seu caráter nutritivo. O açúcar passou a ser "areia branca", a manteiga, "barro suave", a água, "ar úmido". Estava claro que ao trocar os nomes e ao abandonar os pronomes pessoais estava criando uma linguagem conveniente à sua experiência emocional. Longe de não saber usar corretamente as palavras, via-se ali uma decisão espontânea de criar uma linguagem funcional à sua experiência de mundo. O Doutor Arana não concordou, mas o pai partiu dessa constatação e decidiu entrar no mundo verbal de sua filha. Ela era uma máquina lógica ligada a uma interface errada. A menina funcionava segundo o modelo do ventilador; um eixo fixo de rotação era o seu esquema sintático, ao falar mexia a cabeça e fazia sentir o vento de seus pensamentos inarticulados. A decisão de ensiná-la a usar a linguagem pressupunha explicar-lhe o modo de armazenar as palavras. Perdiam-se dela como moléculas no ar quente e sua memória era a brisa que abanava as cortinas brancas na sala de uma casa vazia. Era preciso conseguir levar esse veleiro até o ar parado. O pai deixou a clínica do Doutor Arana e começou a tratar a menina com um professor de canto. Precisava incorporar a ela uma sequência temporal e pensou que a música era um modelo abstrato da ordem do mundo. Cantava árias de Mozart em alemão, com Madame Silenzky, uma pianista polonesa que regia o coro da igreja luterana em Carhué. A menina, sentada numa banqueta, uivava acompanhando o ritmo e Madame Silenzky estava aterrorizada, porque pensava que a menina era um monstro. Tinha doze anos e era gorda e bela como uma madona, mas seus olhos pareciam de vidro e cacarejava antes de cantar. Era um híbrido, a menina, para Madame Silenzky, uma boneca de espuma, uma máquina humana, sem sentimentos nem esperanças. Cantava aos berros e desafinava, mas começou a ser capaz de seguir uma linha melódica. O pai estava tentando incorporar-lhe uma memória temporal, uma forma vazia, feita de sequências rítmicas e modulações. A menina carecia de sintaxe (carecia da própria noção de sintaxe). Vivia num universo úmido, para ela o tempo era um lençol acabado de lavar que se torce pelo centro. Reservou para si um território próprio, dizia seu pai, do qual quer excluir toda experiência. Tudo o que for novo, qualquer acontecimento não vivido e ainda por viver surge para ela como uma ameaça e um sofrimento e se transforma em terror. O presente petrificado, a monstruosa e viscosa estagnação, o nada cronológico só pode ser alterado pela música. Não é uma experiência, é a forma pura da vida, não tem conteúdo, não pode assustá-la, dizia seu pai, e Madame Silenzky (aterrorizada) agitava sua cabecinha cinzenta e relaxava suas mãos sobre as teclas antes de começar com uma cantata de Haydn. Quando por fim conseguiu que a menina entrasse numa sequência temporal, a mãe adoeceu e foi preciso interná-la. A menina associava o desaparecimento de sua mãe (que morreu dois meses depois) com um lied de Schubert. Cantava a música como quem chora um morto e recorda o passado perdido. Então o pai apoiou-se na sintaxe musical de sua filha e começou a trabalhar com o léxico. A menina não tinha referências, era como ensinar uma língua estrangeira a um morto. (Como ensinar uma língua morta a um estrangeiro.) Resolveu começar a contar-lhe relatos breves. A menina estava imóvel, perto da luz, na varanda que dava para o quintal. O pai se sentava numa poltrona e narrava uma história como quem canta. Esperava que as frases entrassem na memória de sua filha como blocos de sentido. Por isso resolveu contar sempre a mesma história e variar as versões. Desse modo o enredo era um modelo único do mundo e as frases se transformavam em modulações de uma experiência possível. O relato era simples. Em sua Chronicle of the Kings of England (século XII), William de Malmesbury relata a história de um jovem e potentado nobre romano que acaba de se casar. Após os festejos da celebração, o jovem e seus amigos saem para jogar bocha no jardim. Durante o jogo, o jovem coloca sua aliança, com medo de perdê-la, no dedo entreaberto de uma estátua de bronze que está junto à cerca dos fundos. Ao voltar para pegá-la, constata que o dedo da estátua está fechado e que não pode tirar o anel. Sem dizer nada a ninguém, volta ao anoitecer com tochas e criados e descobre que a estátua desapareceu. Esconde a verdade da recém-casada e nessa mesma noite, ao entrar na cama, percebe que algo se interpõe entre os dois, algo denso e nebuloso que impede que se abracem. Paralisado de terror, ouve uma voz que sussurra em seu ouvido:
- Abraça-me, hoje tu te uniste a mim em matrimônio. Sou Vênus e me entregaste o anel do amor.
Da primeira vez, a menina pareceu ter adormecido. Estava ali no ar fresco, diante do jardim dos fundos. Não parecia haver nenhuma alteração, à noite arrastou-se até o quarto e encolheu-se no escuro com seu cacarejar de sempre. No dia seguinte, à mesma hora, o pai sentou a filha na varanda e contou-lhe uma outra versão da história. A primeira variante de importância tinha aparecido mais ou menos vinte anos depois, numa recopilação alemã de fábulas e lendas feita em meados do século XII e conhecida pelo nome de Kaiserchronik. Segundo essa versão, a estátua em cujo dedo o jovem coloca seu anel é uma imagem da Virgem Maria e não de Vênus. Quando tenta unir-se à recém-casada, a Mãe de Deus se interpõe castamente entre os dois cônjuges, suscitando a paixão mística do jovem. Depois de abandonar sua mulher, o jovem torna-se monge e dedica o resto de sua vida ao serviço de Nossa Senhora. Num quadro anônimo do século XII, vê-se a Virgem Maria com a aliança no anular esquerdo e um enigmático sorriso nos lábios.
Todo dia, ao cair da tarde, o pai contava a mesma história nas suas múltiplas versões. A menina que cacarejava era a anti-Scheherazade que à noite recebia, de seu pai, o relato do anel contado uma e mil vezes. Um ano mais tarde a menina já sorri, porque sabe como é que a história continua e às vezes olha para sua mão e mexe os dedos, como se fosse ela a estátua. Uma tarde, quando o pai a faz sentar na poltrona da varanda, a menina começa ela mesma a contar o relato. Fita o jardim e, com um murmúrio suave, dá pela primeira vez a sua versão dos fatos. "Mouvo olhou a noite. Onde tinha estado seu rosto apareceu um outro, o de Kenya. De novo o estranho sorriso. De repente Mouvo estava de um lado da casa e Kenya no jardim e os círculos sensoriais do anel eram muito tristes", disse. A partir daí, com o repertório de palavras que tinha aprendido e com a estrutura circular da história, foi construindo uma linguagem, uma série ininterrupta de frases que permitiram que se comunicasse com seu pai. Nos meses seguintes foi ela quem contou a história, todas as tardes, na varanda que dava para o pátio dos fundos. Chegou a ser capaz de repetir, palavra por palavra, a versão de Henry James, talvez por ser esse relato, "The last of the Valerii", o último da série. (A ação deslocou-se para a Roma do Risorgimento, onde uma jovem e rica herdeira americana, numa dessas típicas uniões jamesianas, contrai matrimônio com um nobre italiano de nobre linhagem, porém decadente. Uma tarde uns operários que fazem escavações nos jardins da Villa encontram uma estátua de Juno, o Signor Conte sente um estranho fascínio diante dessa obra-prima do melhor período da escultura grega. Leva a estátua para um jardim de inverno abandonado e a esconde ciumento dos olhares alheios. Nos dias que se seguem ele transfere à estátua de mármore grande parte da paixão que sente por sua bela mulher e passa cada vez mais tempo no salão de vidro. No fim a contessa, para libertar seu marido do feitiço, arranca o anel que adorna o anular da deusa e o enterra no fundo do jardim. Então a felicidade retorna à sua vida.) Uma garoa suave caía sobre o pátio e o pai se balançava na cadeira. Nessa tarde pela primeira vez a menina fugiu da história, como quem cruza uma porta ela saiu do círculo fechado do relato e pediu a seu pai que comprasse um anel (anello) de ouro para ela. Ali estava, cantarolando e cacarejando, uma máquina triste, musical. Tinha dezesseis anos, era pálida e sonhadora como uma estátua grega. Tinha a fixidez dos anjos.
Junior viu o anel e viu as sucessivas versões da história do anel. A gravura de Dürer ("O sonho do doutor", 1497-98) estava pendurada na parede da esquerda. A paixão, simbolizada pela figura de Vênus com um anel na mão esquerda e uma bola de pedra a seus pés. Esse relato era a história do poder do relato, o canto da menina que busca uma vida, a música das palavras que se fecham e se repetem num círculo de ouro. Ao lado estava a edição de The Anatomy of Melancholy, com notas manuscritas e desenhos. Burton também contava o conto do anel para ilustrar o poder do amor. A moça volta a viver graças aos relatos do pai. Narrar era dar vida a uma estátua, fazer viver quem tem medo de viver. Numa vitrine estava o original dos mitos iniciais. "Aquele que perdeu sua mulher modela sem trégua uma estátua e pensa nela. Viver só ou fabricar para si a mulher perdida. A paixão permite ao apaixonado escolher o segundo sonho. A Gesta Romanorum (o mais popular livro de contos da Idade Média) registra que Virgílio, que era tido como mago (Conto LVII), esculpia estátuas mágicas para reter a alma dos seus amigos mortos. A capacidade de animar o inanimado é uma faculdade associada à ideia do taumaturgo e aos poderes do mago. Entre os egípcios, a palavra ‘escultor’ significava literalmente ‘aquele que mantém a vida’. Nos antigos ritos funerários acreditava-se que a alma do defunto incorporava-se a uma estátua representando seu corpo e uma cerimônia celebrava a transição do corpo para a estátua." Junior lembrou-se da foto de Elena, a moça de saia xadrez e malha preta, que sorria para a luz invisível. Uma foto era também um espelho para sonhar com a mulher perdida. Havia uma reprodução ampliada da mesma figura de Elena na parede ao fundo. Nos painéis de vidro ele viu os manuscritos de Macedonio. "Fugir para os espaços indefinidos das formas futuras. O possível é aquilo que tende à existência. O que pode ser imaginado acontece e passa a formar parte da realidade." Macedonio não tentava produzir uma réplica do homem, e sim uma máquina de produzir réplicas. Seu objetivo era anular a morte e construir um mundo virtual. "A cidade-campo, com um milhão de sítios e dez mil fábricas", leu Junior, "absolutamente isenta do horror da palavra aluguel, que possuiria as vantagens que incluo na seguinte lista: Inatacabilidade militar. Inatacabilidade por sítio ou bloqueio. Nem bombeiros nem policiais. Desesperadora escassez de doenças. Redução em mais de 40% das trocas comerciais, improdutivas, estéreis e aleatórias, de ágio." Junior procurou o fim da carta. "A guerra chega ao fim e só ficamos perante a imensidão dos obscuros planos dos EUA, que querem ferir e anular a Espanha para fazer mais fácil presa da América hispânica. As ilhas foram ocupadas, o laboratório deve ser preservado. Seu afetíssimo, Macedonio." Leu a assinatura, aquela letra frágil e imortal, e depois deu uma volta pelo salão sem chegar perto da máquina. Era plana e esbelta e parecia pulsar com uma luz intermitente. Ela só capta a mim, pensou Junior. Há outros, em outras galerias, isolados, vivendo suas próprias lembranças. A sala estava vazia. Ao fundo teve a impressão de ver a luz de uma lanterna que se aproximava iluminando as lajotas do corredor. Como se alguém tivesse saltado de um trem, pensou Junior, numa estação perdida no meio da noite, e viesse cortando pelo campo, com a luz da lanterna sobre o capim. Longe, naquilo que parecia ser a neblina da madrugada, viu surgir o japonês, caminhando num sonho. Subia com dificuldade pela rampa que levava ao porão e às salas inferiores do Museu, arrastando a perna esquerda. Tinha pinta de jóquei e olhos ausentes. É Fujita, pensou Junior. Usava gravata preta e uma tarja de seda preta na manga do paletó, porque estava de luto. Junior pensou na mulher trancada no quarto do Hotel Majestic. Mal se cumprimentaram; Fujita avançou pelo corredor e Junior seguiu atrás dele.
- Tenho um material para o senhor e gostaria que o analisasse, senhor Junior. O jornal deve manter sigilo até nós indicarmos o momento em que a informação deve ser publicada. O senhor me entende? - perguntou depois que se sentaram junto a uma mesa no bar do primeiro andar, perto da janela que dava para as estufas. - Não dê ouvidos ao que essas mulheres possam ter dito sobre mim. A loucura invade o coração e a verdade está perdida. Eu sou um espião, um estrangeiro, gostaria de voltar para a terra dos meus antepassados. Agora quero que o senhor fique sabendo que trabalho para o Engenheiro Richter. Creio imprescindível o senhor falar com ele, conhece perfeitamente a situação. Colaborou com Macedonio desde a origem, tem os documentos e as provas. Querem nos anular, mas vamos resistir. Nós - disse o jóquei a Junior -, dirigidos pelo Engenheiro, temos histórias múltiplas e provas. Como exemplo conseguimos um texto absolutamente secreto, um dos últimos relatos da máquina, ou talvez o último, porque houve uma série de seis relatos não públicos e um que foi dado a conhecer e depois uma série de três e por fim mais dois, editados antes que fosse considerada fora de atividade.
Falava num sussurro gelado, com seus olhinhos de bagre cravados no rosto de Junior e começou a contar a história do Engenheiro Richter, um físico alemão que tinha imigrado fugindo dos nazistas no início da guerra e que trabalhou nos planos e na programação da máquina e que se dedicou aos negócios e montou um complexo industrial especializado em agricultura, numa cidadezinha da província de Buenos Aires, que o arruinou. "Depois da morte de Macedonio, o Engenheiro refugiou-se em sua fábrica, abandonada e hipotecada, com as instalações embargadas, disposto a livrar uma nova batalha, com sua mãe passeando pelos andares superiores, porque naquele tempo", contou o jóquei, "o Engenheiro só falava com sua mãe, que está louca e ele não quer internar, dedicado que está a programar o Instituto de Desenvolvimento Agro-Industrial e a não pensar na máquina, porque o Engenheiro sempre procurou separar os problemas de sua família, ou seja da mãe, dos problemas resultantes dos seus sonhos, ou seja a máquina." Esse cara é um delirante, pensou Junior, está querendo me confundir.
- Quanto dinheiro o senhor precisa? - Interrompeu de repente.
Fujita sorriu com os bigodinhos espetados e a cara de peixe e começou a falar com sotaque coreano.
- Não, não fazer falta, não, nenhum dinheiro, seu jornal querer informação, nós proporcionar dados, porque não querer máquina desativada - disse. - Entende?
- Entendo - disse Junior. - De acordo.
- Talvez o senhor esteja querendo que eu lhe conte como o Engenheiro conheceu Macedonio e a forma como eles começaram a trabalhar juntos, mas nós temos tempo e além disso o senhor precisa ir até a ilha para visitá-lo em sua fábrica e conversar com ele. Olhe - disse e mostrou-lhe os documentos, principalmente uma pasta com a história que o Engenheiro fizera chegar até ele e da qual o jóquei tinha feito uma cópia para entregar a Junior com a ideia de iniciar, na medida do possível, uma contraofensiva.
- O poder político é sempre criminoso - disse Fujita. - O Presidente é um louco, seus ministros são todos psicopatas. O Estado argentino é telepata, seus serviços de inteligência captam a mente alheia. Eles se infiltram no pensamento das bases. Mas a faculdade telepática acarreta um grave inconveniente. Não consegue selecionar, capta qualquer informação, é extremamente sensível aos pensamentos marginais das pessoas, aquilo que os velhos psicólogos chamavam de inconsciente. Face ao excesso de dados, ampliam o raio de repressão. A máquina conseguiu infiltrar-se nas suas redes, já não diferenciam a história verídica das versões falsas. Há certa relação entre a faculdade telepática e a televisão - disse de repente -, o olho tecno-míope da câmera grava e transmite os pensamentos reprimidos e hostis das massas transformados em imagens. Assistir televisão é ler o pensamento de milhões de pessoas. O senhor entende?
Era um gângster e era um filósofo. A tradição oriental, artes marciais e budismo zen. Guarda luto pelo imperador e deixa a moça trancada num hotel como se fosse um gato. Do lado de lá dos vidros, na estufa, um homem passeava entre as flores levando um lampião.
- O senhor já viu alguma rosa azul? - perguntou o jóquei. - São feitas em Temperley, aqui no Museu há três delas, são muito difíceis de conservar. É preciso usar gelo líquido e nitrato de prata. Primeiro foi a rosa de cobre, mas agora já não se encontram, o sítio foi interditado várias vezes pela polícia. Sempre conseguem um pretexto. Se dependesse deles teriam sempre um novo mandado de busca, contanto que possam passear entre as plantas carnívoras e os canteiros de papoulas.
Desceram juntos no elevador pneumático, o jóquei equilibrando-se sobre a perna direita para não apoiar o pé esquerdo, que tinha se estragado depois de um páreo em Isidro Casanova, montando um malacara, o Lobinho, numa disputa histórica com o cavalo invicto da viúva de um inglês que tinha sido diretor da Ferrovia Central Argentina antes das nacionalizações. Tinham jogado alto, porque a viúva apostava como uma cigana, e logo na largada o Lobinho começou a respirar com um gemido sangrento, mas manteve a raia e liderou por quase uma milha até que tropeçou e seu coração falhou e caiu fulminado. Sua perna esquerda ficou prensada pelo corpo do malacara morto e não houve jeito de soldar os ossinhos esmigalhados do tornozelo.
- Eu não uso bengala - disse vaidoso o jóquei enquanto cruzava o salão circular onde a máquina era exibida -, porque acredito que a medicina ainda vai encontrar a cura para o meu caso e não quero me acostumar a ser um aleijado. - Junior pensou que o jóquei tinha uma graça suave que se acentuava com a manqueira, e quando pararam diante da rampa de saída procurou clarear a mente e não pensar em nada.
- Uma mulher mandou eu me encontrar com o senhor - disse depois.
- Ela também liga para o senhor? - disse Fujita. - No meio da noite? E fica falando do filho?
- Do marido - disse Junior.
- É a mesma coisa - disse Fujita.
- O senhor conhece? - disse Junior, e mostrou-lhe a foto da moça.
- É Elena - disse Fujita. - Era a menina dos seus olhos. Essas mulheres - disse -, nós as perseguimos e andamos atrás delas como policiais idiotizados. - Voltou-se para a entrada do Museu. Todas as luzes estavam acesas, as pessoas faziam fila para entrar. - Leve isto aqui - disse -, tome cuidado. - Entregou-lhe um envelope marrom e depois sorriu e chamou um táxi. Junior entrou no carro e assim que se acomodou teve a impressão de que Fujita queria lhe dizer alguma coisa, porque viu que fazia sinais e mexia os lábios. Pôs a cabeça para fora da janela, mas o jóquei fez um gesto de resignação, porque a vibração da cidade abafava sua voz e, além do mais, nesse momento o carro disparou pela avenida e se perdeu bordeando o parque rumo ao oeste.
Junior recostou-se no assento. O relógio do Museu marcava três da tarde. Abriu o envelope. O relato se chamava Os nódulos brancos. Uma história explosiva, as ramificações paranoicas da vida na cidade. Por isso tanto controle, pensou Junior, estão tentando apagar o que se grava na rua. A luz que brilha como um flash sobre o rosto lívido dos inocentes nas fotos dos prontuários policiais.
Os nódulos brancos
Sabia que a Clínica era sinistra, mas quando viu o Doutor Arana aparecer teve confirmadas suas premonições; parecia estar ali para tornar reais todos os delírios paranoicos. Crânio de vidro, as veias vermelhas à mostra, os ossos brancos brilhando sob a luz interna. Elena pensou que o homem era um imã onde se incrustavam as limalhas de ferro da alma. Já estava pensando como uma louca. Sentia que sua pele liberava uma poeira metálica. Por isso cobria-se com luvas e blusas de manga comprida. Somente o rosto à mostra, o cútis enferrujado das engrenagens externas. Sentia nojo ao imaginar a almotolia com que iriam pingar o óleo. Para não assistir àquilo fechou os olhos e começou a rever tudo o que sabia sobre o médico. Arana, Raúl Ph. D. Psiquiatra. Discípulo de Carl Jung. Estudos na Alemanha e Suíça. O tratamento consistia em transformar os psicóticos em viciados. As drogas eram ministradas de três em três horas. O único modo de normalizar um delírio era construir-lhe uma dependência extrema. Tinha acabado de dar um seminário no MIT sobre "Hypochondria and Phantasies of Pregnancy". Elena internou-se com o duplo propósito de realizar uma investigação e de controlar suas alucinações. Estava convencida de já ter morrido e de que alguém tinha incorporado seu cérebro (às vezes dizia sua alma) a uma máquina. Sentia-se isolada numa sala branca cheia de fios e de tubos. Não era um pesadelo, era a certeza de que o homem que a amava a resgatara da morte e a incorporara a um aparelho que transmitia seus pensamentos. Era eterna e era infeliz. (Uma coisa não existe sem a outra.) Por isso é que justo ela tinha sido escolhida pelo juiz para infiltrar-se na Clínica. Um enfermeiro a recebeu na entrada; quando cruzou as grades Elena decidiu que iria dizer a verdade. Era uma louca que pensava ser uma policial feminina que era obrigada a se internar numa clínica psiquiátrica e era uma policial feminina treinada para fingir que estava numa máquina exibida na sala de um Museu. (Só devia proteger o nome de um homem que agora chamaria de Mac. Qualquer outra coisa, incluída a verdade, seria uma invenção onde refugiar-se para permanecer a salvo.)
- Por isso a senhora diz que nunca mente - disse sorrindo o doutor Arana.
- Eu não disse isso - disse Elena -, não seja idiota. Mandaram investigá-lo, doutor, é por isso que estou aqui.
- Muito bem - disse -, venha comigo.
O corredor conduzia às salas de cirurgia. O isolamento de borracha impedia o contato elétrico e anulava o atrito das rodas de alumínio. As árvores do jardim apareciam nas altas claraboias.
- E quem a incumbiu dessa missão?
- Um juiz - respondeu ela.
As janelas eram gradeadas; na parede havia um retrato de Arana. Muitos dos seus pacientes eram pintores que pagavam com quadros.
- Eles vão fechar este açougue - disse Elena.
- O que é ser uma máquina? - perguntou o doutor Arana.
- Nada - disse ela. - Uma máquina não é; uma máquina funciona.
- Muito engenhoso - respondeu Arana.
A Clínica era um grande prédio retangular, dividido em alas e pavilhões, como uma prisão.
- Nesta primeira sala estão os catatônicos. Eles já se foram - explica Arana -, tecnicamente já passaram para o outro lado e não podem mais voltar.
As camas pareciam cobertas de corpos embalsamados, uma série de múmias brancas enroladas em cobertores e mantas. Uma mulher sentada numa cadeira de metal fitava a luz de uma janela. Elena procurava registrar a disposição dos alarmes e das portas falsas. Ia fugir dali assim que conseguisse encontrar Mac, pensava que o mantinham trancado numa ala aos fundos do jardim. Tinha traçado uma planta na memória e o diagrama ia completando-se à medida que avançava. Trabalhava com uma escala de 100 sobre 2 para que fosse mais fácil transmitir a informação. Cada ala tinha seu próprio comando e seu próprio sistema de vigilância. As pequenas câmeras de vídeo ficavam no teto. Elena imaginou o circuito fechado e a sala de controle. Uma vez tinha visto o centro de inteligência da Penn Station de Nova York. Todos os passageiros eram filmados nos corredores e nas plataformas e uma policial feminina (uma autêntica policial feminina) gorda, maquiada, de óculos escuros, de farda de azul, estava sozinha num porão branco, rodeada de monitores de TV; sentada numa poltrona giratória, vigiava as telas que forravam as paredes. Tinha um microfone preso à blusa e por ali filtrava-se sua voz e sua respiração. Nos banheiros, sujeitos viciosos dedicavam-se a seus vícios; ela espiava e comunicava às patrulhas que agiam na superfície. Três policiais chutavam um junkie jogado no chão do corredor que conduzia à plataforma seis (saída para Jamaica Station, em Long Island). Nessa área da Clínica estava o Carson Café. Um bar com toda a atmosfera de um local dos anos cinquenta, com luzes baixas e mesas encostadas na parede. Era o lugar dos expatriados, dos espiões, dos correspondentes estrangeiros, das mulheres casadas que buscavam aventuras.
- Eles o chamam de Salão das Almas Perdidas - explicou Arana.
Elena conseguiu um lugar no balcão, queria beber uma cerveja. O barman sorriu para ela. Talvez já a tivessem injetado. A paisagem imaginária tinha sido explorada ao máximo pelo doutor Arana; as visões pessoais construíam a realidade. A Clínica era a cidade interna e cada um enxergava aquilo que queria ver. Ninguém parecia ter lembranças próprias e o barman a tratava como se fosse uma amiga. No espelho Elena viu o rosto de sua mãe na casa de Olavarría. Todos drogados, enfiados nos seus delírios e nos seus guetos, usando suas metáforas herméticas. O sujeito que estava na ponta do balcão ergueu o copo como saudação.
- Meu nome é Luca Lombardo - disse a ela. - Sou de Rosário, me chamam de Italiano, me fecharam aqui dentro para que ficasse a salvo. Na província de Santa Fe eles fizeram um massacre, mataram crianças, mulheres, os homens eram obrigados a mostrar a palma das mãos, se fossem trabalhadores fuzilavam ali mesmo. Só restou o deserto e o rio. Muitos fugiram para as ilhas e andam pelos brejos. Vivem feito índios, nas ilhas Lechiguanas, onde for, esquentam água numa latinha, fazem mate. Esperam que os milicos vão embora.
O Italiano falava com os olhos fixos na fileira de garrafas atrás do balcão. O bar estava lotado e um disc-jóquei punha discos do "The Hunger" para tocar. Pela galeria circulava uma multidão. Todos muito parecidos, amarelentos, vestidos de couro e camisas de babadinho. Lúmpen dos hotéis da boca e tensos turistas solitários à caça de prazeres não citados nos guias Michelin. Havia homens muito jovens ou muito velhos que caminhavam em ondas descontínuas e em direções opostas. As mulheres, por seu lado, vistosas, com suas próteses e seus olhos melancólicos, permaneciam quietas nas esquinas ou sentadas no balcão dos bares, como Elena. Àquela hora os salões de jogos de lógica já estavam abertos e no local da frente Elena viu um rapazinho super-D, com óculos de oito graus, resolvendo silogismos a uma velocidade supersônica. Ele os apanhava no ar e marcava os pontos com a elegância de um pássaro. Seu rival era um moreno tímido e sorridente, que falava com sotaque paraguaio e era o melhor da cidade na semântica de Frege. Esperava tranquilo a sua vez, lendo um gibi, espiando de lado a performance do super-D.
- Então está disposta a colaborar conosco - perguntou-lhe o doutor Arana.
- E o que é que eu ganho em troca? - perguntou Elena.
Procurava ganhar tempo e armar uma linha de defesa. Temia trair a si mesma e ser obrigada a dar informações. Sabia daqueles que saíam para a rua e apontavam seus conhecidos. Vestiam máscaras de pele sintética e navegavam durante horas nas viaturas pelo centro da cidade.
- A sua cura - disse Arana.
- Não me interessa a cura, só quero trocar de alucinações. É possível?
Arana serviu-se de água mineral num copo de plástico.
- Nós poderíamos fazê-la desligar - disse -, mas isso custa muito dinheiro.
- O dinheiro não importa - disse ela.
- É preciso agir sobre a memória - disse Arana. - Existem zonas de condensação, nódulos brancos, podem ser desatados, abertos. São como mitos - disse -, definem a gramática da experiência. Tudo o que os linguistas nos ensinaram sobre a linguagem também está no coração da matéria viva. O código genético e o código verbal apresentam o mesmo padrão. Chamamos a isso nódulos brancos. Os neurólogos da clínica podem tentar a intervenção, será preciso agir sobre o cérebro.
Iam operá-la. Sentia-se lenta e vazia, teve medo de ter sido desativada.
Pensou no Italiano, estava fugindo de Rosário, dizia que era do ERP, mas o ERP já não existia e o imaginou entrando e saindo das clínicas de desintoxicação, perdido numa realidade virtual, refugiado nas pensões clandestinas e caindo de novo, eludindo os controles, vivendo no metrô. Ele era um rebelde e ela era a heroína, a Mata-Hari, um agente duplo, a confidente dos desesperados. Precisava safar-se, voltar para a rua; viu o quarto do Bajo onde se encontrava com o Italiano. Ia fazer contato, ele era o único capaz de organizar sua fuga. Mas devia esquecer, não podia pôr os planos em risco. Destruiu o encontro na plataforma da estação Retiro, os maltrapilhos torrando pão velho numa fogueirinha de papel, ela e o Italiano subindo no trem. Tinha a capacidade de apagar seus pensamentos, como quem esquece uma palavra que está prestes dizer. Não iam conseguir fazer que falasse daquilo que não sabia. Apareceu um oficial da marinha e ao fundo, no corredor, teve a impressão de ver gente armada.
- Veja capitão - disse-lhe Arana -, esta mulher diz que é uma máquina.
- Lindíssima - disse o homem vestido de branco.
Elena o olhou com desprezo e com ódio.
- Você é um ex-, aqui só tem internos.
Arana sorriu e a luz escorregou por sua pele. Tinha os dentes de alumínio, uma caríssima jaqueta ultraleve dessas que só eram feitas pelo artista Gucci nas clínicas de Belgrano R.
- Calma - disse. - A senhora precisa colaborar conosco, se quer ficar curada. O capitão vai ajudá-la a lembrar. Ele é um especialista em memória artificial.
- Senhora - disse o oficial -, temos interesse em saber quem é Mac.
Sabiam de tudo. Precisava fugir. Tinha adormecido, mas agora estava acordada, fez um esforço por seguir em frente. Tinha começado a anoitecer, a luz dos grandes luminosos enchia o ar de imagens e de rostos brilhantes. O Italiano estava saindo do metrô pela escada rolante da Diagonal. A brisa da primavera era aprazível e o aroma das tílias na avenida produziu-lhe uma felicidade repentina. Elena encostou-se na vitrine do Trust Joyero; múltiplos relógios davam as três da tarde. Tinham unificado a hora no mundo inteiro para coordenar as notícias do telejornal das oito. Eram obrigados a viver de noite, enquanto em Tóquio amanhecia. Era melhor assim, essa escuridão interminável os favorecia, tinham quase quinze horas para cruzar a cidade e sair em campo aberto. Imaginou o pampa quieto, os últimos povoados como morros no horizonte. Já tinham decidido que iriam viver com os irlandeses, o Italiano sabia como penetrar no Delta e encontrar os guetos rebeldes. Tinham lhe falado da ilha de Finnegans, Paraná adentro, na outra margem do rio Liffey, talvez conseguissem chegar lá. Estava povoada de anarquistas, filhos e netas de colonos britânicos de Santa Cruz e de Chubut. O Italiano vinha em sua direção, misturado à multidão de empregados e de policiais e de imigrantes bolivianos que desciam a rua Cerrito para o sul. Sua figura maciça e decidida destacava-se no mar de rostos anônimos. Todos mortos e quem sabe ela também, numa cama de hospital.
- E então - disse Arana -, onde a senhora o conheceu?
- Numa pensão de Tribunales - disse ela.
Estava assustada. Eles se aproximavam da verdade, como se seguissem num mapa o itinerário da lembrança de sua vida; pareciam saber acerca dela mais do que ela própria. Estava deitada numa cama de ferro, tinha a sensação de estar aberta e de sentir nos ossos o ar gelado do ventilador. Era a alucinação das anfetaminas, pensava muito mais rápido do que podia falar e as ideias se transformavam em imagens reais. Não conseguia parar; saía dos sonhos para uma outra realidade; acordava num quarto diferente, numa outra vida; estava louca, não queria voltar a dormir. Se pudesse viver na insônia eterna. Ele nunca dormia; apenas descansava, mas não dormia, enquanto ela estava no hospital, ele velava por ela sem atrever-se a entrar no quarto, olhava lá de fora, pelo vidro da janela que dava para o pátio. Velava a noite inteira, sentado nas poltronas de cretone da sala de espera. Tinha medo que os médicos a injetassem para anestesiá-la e a levassem para a mesa de operações. Então poderiam processar sua memória e desgravar a informação. Enquanto ela estivesse na máquina, podia vencer a matéria e resistir. "Um corpo", dizia Mac, "não é nada, só a alma vive e a palavra é sua figura." Sabia que os anarcas tinham infiltrado vários homens na Clínica. Tinham lhe dado o nome de um contato para situações de desespero. Reyes. Uma mulher no Majestic. Por enquanto não queria pensar nele. No entanto, por todo lado era como se as letras formassem a palavra "Reyes". O senhor Reyes, um traficante e um gângster e um professor de literatura inglesa. A multidão se acotovelava e não a deixava avançar. O Italiano estava ali, abatido, taciturno e mais melancólico do que de costume. Tinha ficado sem dinheiro, tinha gastado tudo o que lhe restava num táxi. Era o melhor técnico em explosivos que já aparecera e não queria problemas com a polícia. Elena foi até ele quando o farol fechou. Os carros cruzavam Corrientes em ondas descontínuas.
- É preciso chegar até a ilha - disse sem olhar para ele. - Eu tenho um contato, mas estão me vigiando.
- Estão vigiando todo mundo - respondeu ele. E sorriu. Quando sorria ele parecia um louco. Olhou para ela com os olhos desviados. - A primeira coisa é entrar no Museu - disse. - Já não ficou nada lá, está abandonado, só tem restos.
Ficava na travessa Carabelas, atrás do imenso prédio de concreto do Mercado do Prata. No tempo da guerra tinha servido de quartel e as fotos de Perón se esfarelavam nas paredes. Um mundo de refugiados e de vagabundos proliferava nas galerias. Os gendarmes não se aventuravam até lá, mas o lugar estava infestado de agentes do governo. Tinha uma sensação de extravio, de ter perdido o senso da realidade.
- A senhora perdeu o senso da realidade - disse Arana, como se lesse o seu pensamento. Talvez estivesse pensando alto.
- Este aqui é um lugar livre de lembranças - disse ela. - Todos fingem e são outros. Os espiões estão treinados para negar a sua identidade e usar uma memória alheia.
Pensou em Grete, que tinha se transformado numa inglesa refugiada que vendia fotos numa loja do segundo subsolo. Tinha sido infiltrada e enterrou seu passado e adotou uma história fictícia. Nunca mais conseguiu recuperar a lembrança de quem tinha sido. Às vezes nos sonhos amava um homem que não conhecia. Sua verdadeira identidade tinha se transformado num material inconsciente, episódios na vida de uma mulher esquecida. Era a melhor fotógrafa do Museu, olhava o mundo com olhos que não eram dela e essa distância aparecia nas fotos. Precisavam encontrá-la, ela podia levá-los até Reyes. O Italiano quis saber quem era Reyes.
- É um ex-professor de literatura inglesa que traficava metadona - explicou-lhe Elena. - Dirige os sanatórios clandestinos e os refúgios de desintoxicação.
Grete acreditava ter sido sua mulher em outras épocas, uma garota inglesa de Lomas de Zamora que tinha se apaixonado pelo jovem professor que dava um curso sobre E. M. Forster e Virginia Woolf. Essa história justificava seu álibi, era uma mulher desiludida que amava em segredo um homem do qual queria se vingar. Precisavam encontrá-la. O subsolo do Mercado do Prata ligava-se às ruas que passavam embaixo da Nove de Julho e aos corredores do metrô da estação Carlos Pellegrini, para onde confluíam todas as linhas da cidade. Esse era o ponto de fuga, ali nucleavam-se os refugiados e os rebeldes, os hippies, os gauchos, os espiões, todos os ex-alguma coisa, os contrabandistas, os anarcas. Para chegar no prédio eles precisavam atravessar um estacionamento abandonado, uma terra de ninguém entre os refúgios e a cidade. Com certeza tinham sido detectados já logo na travessa e os vigiavam pelas telas do circuito fechado. Viu-se na Clínica, no teto estava o olho branco de uma câmera. Teve a impressão de que atrás dela Arana conversava com uma enfermeira. Sentiu que pegava no sono. Estava cansada demais. O Italiano agarrou-a pelo braço e a obrigou a avançar quase correndo entre os parquímetros abandonados. Era como cruzar um bosque. Nos alto-falantes tocava a banda irlandesa "The Hunger", com seu novo hino "The Reptile Enclosure". Eram os filhos dos filhos dos rebeldes nacionalistas. Molly Malone, com dezesseis anos, liderava o grupo e com sua garganta de vidro tinha conseguido se transformar numa cantora super-star. Seu irmão Giorgio a acompanhava nos vocais com sua voz quente de tenor, mas desvairava e fazia um rap improvisado em cima dos hinos do exército republicano, mexendo nas letras das canções. A multidão delirava com a atuação ao vivo de Molly Malone. O concerto durava duas horas. Com certeza o pessoal da vigilância tinha ligado seus monitores à transmissão do canal 9. O Italiano pensou que estavam com sorte e que talvez conseguissem escapar. Tinham uma chance em trinta e seis. Era sempre assim. Ele gostava de apostar na roleta, porque era uma réplica da vida.
- Eu venho de Rosário - disse ao coreano que tomava conta da porta. - Precisamos passar. Ela é paciente do Arana.
Talvez ele fosse um policial. Todos trabalham para os serviços e se infiltram e são confidentes e assassinos oficiais e ratos que injetam droga na veia para disfarçar. (Em Nova York metade dos viciados são detetives.) Quanto mais aumenta a criminalidade entre os refugiados asiáticos, mais refugiados asiáticos a polícia tem que recrutar como informantes. A loucura do parecido é a lei, pensou o Italiano. Parecer igual para sobreviver. Se era mesmo um agente do governo, preferiu continuar incógnito. Ele os fez entrar e os levou até uma escada e depois até uma porta e de novo até uma escada. Por fim saíram num comprido salão de teto altíssimo. As paredes brancas e os vitrais iluminados produziam uma sensação de estranha quietude. A música tinha desaparecido.
- Eis o Museu - disse o Italiano.
Os pavilhões estendiam-se por quilômetros com vitrines que exibiam material do passado. Elena viu o quarto de uma pensão de Tribunales e numa cadeira baixa viu um homem tangendo o violão. Viu dois gauchos que a cavalo cruzavam a linha de fortins; viu um homem que se suicidava na poltrona de um trem. Viu uma réplica do consultório de Arana e mais uma vez viu o rosto de sua mãe. O Italiano a abraçava na sala do Museu. Viu a réplica do cenário iluminado e Molly Malone cantando com voz de gata o coral de Ana Livia Plurabelle.
- Vamos - disse ele -, temos que sair daqui.
Foram desembocar numa oficina de conserto de televisores; um velho de cabelo branco e barba branca ergueu o rosto do microprocessador. Era Mac. Elena sentiu que ia chorar. O Italiano abriu a caixa de um televisor microscópico e o colocou sobre o balcão de vidro.
- Este aparelho é uma relíquia de família - disse - e quero que continue funcionando.
- E qual é o problema? - perguntou o homem, que falava com sotaque alemão.
- Ele só pega os canais do passado.
O velho levantou a cabeça.
- Sempre me aparece um engraçadinho - disse, e continuou conectando os fios da camcorder que ele devia adaptar a um circuito fechado.
- Ela é Elena - disse o Italiano.
O velho ajustava as imagens em três faixas, seus olhos de míope moviam-se astutamente pelos circuitos microscópicos que ele mesmo tinha desenhado. Olhou para ela e não a reconheceu.
- Nós queremos entrar na fábrica - disse o Italiano.
Uma luz suave iluminava o local, o rumor do metrô fazia o teto vibrar.
- É aqui mesmo - disse o velho.
Um grupo de cientistas tinha desertado dos institutos de pesquisa nuclear instalados em meados dos anos quarenta. Começaram com uma pequena oficina de consertos numa garagem abandonada. A fábrica foi crescendo silenciosamente, espalhada no deserto e nos povoados da província.
- Estamos em contato - disse. - Esperamos a hora para entrar em ação. Somos quarenta e três e vamos tomar parte da rebelião. - Abria e fechava a mão esquerda, como se contasse os cientistas de cinco em cinco. - Não posso dizer mais nada. Não conheço ninguém. - Fitou Elena e sorriu para ela. Depois voltou-se para o Italiano.
- Agora levem este aparelho, já está consertado. Pode ligar.
As minúsculas imagens cintilaram e logo começou a se ver uma série de pequenas oficinas de consertos espalhadas por todos os povoados e cidadezinhas do país. Viam-se homens de avental branco desmontando velhos rádios e reconstruindo motores fora de uso.
- O que é que nós vamos fazer? - perguntou Elena surpresa.
- Nada - disse o velho. - Saiam daqui.
Era Mac, mas não a conhecia. Ela não se aproximou, não queria tocá-lo, não queria que ele a tocasse. O mundo dos mortos, o mapa do inferno de Dante. Círculos e círculos e círculos.
- Então - disse Arana -, a senhora é uma morta no inferno. Veja só que inteligente.
- Antes eu era inteligente - disse Elena. - Agora sou uma máquina de repetir relatos.
- A ideia fixa - disse Arana. Com um gesto chamou seu assistente. Um médico jovem, de avental branco e luvas de borracha, que se inclinou sobre Elena e sorriu para ela com uma careta infantil.
- Temos que fazer uma intervenção - disse. - É preciso desativar neurologicamente.
- Ele conserta televisores - disse Elena.
- Eu sei - disse Arana. - Quero nomes e endereços.
Fez-se uma pausa, no consultório os vidros brancos do armário refletiam o vaivém do ventilador.
- Tem um telepata - disse Elena. - Ele me segue e lê meus pensamentos. Seu nome é Luca Lombardo, vem de Rosário, todo mundo o chama de Italiano. Se eu disser o que está me perguntando vai fazer estourar as microesferas que eu tenho implantadas no coração.
- Não seja imbecil - disse Arana. - Tornou-se psicótica e vive um delírio paranoico. Nós estamos numa Clínica de Belgrano, isto é uma sessão prolongada com drogas, a senhora é Elena Fernández. - Parou para ler a ficha: - Trabalha no Arquivo Nacional, tem dois filhos.
- Eu estou morta, ele me transferiu para cá, sou uma máquina.
- Vamos ter que aplicar o eletrochoque - disse Arana ao médico com cara de bebê.
- Anote - disse Elena. - Nos subsolos do Mercado do Prata, no setor chamado Seul, com os coreanos, mora uma fotógrafa inglesa, Grete Müller; trabalha para os rebeldes. - Tinha que entregá-la para salvar Mac. Talvez pudesse avisá-la antes que os gendarmes chegassem. "Não corre nenhum risco", pensou. A informação tinha se tornado pública. Investigando as imagens virtuais, havia encontrado a forma de retratar o que nunca tinha sido visto.
- Já conhecemos - disse Arana. - Quero nomes e endereços.
Tudo voltava a começar. Na cidade tinha começado a amanhecer, as luzes do Mercado continuavam acesas. Também ali tudo voltava a começar. No porão do Mercado, num laboratório à luz de uma lâmpada vermelha, Grete Müller revelava as fotos que tirara aquela noite no aquário. No casco das tartarugas desenhavam-se os signos de uma linguagem perdida. Os nódulos brancos tinham sido, na origem, marcas nos ossos. O mapa de uma linguagem cega comum a todos os seres vivos. O único rastro desse idioma original eram os signos desenhados no casco das tartarugas marinhas. Sombras e formas pré-históricas gravadas nessas placas ósseas. Grete ampliou as fotos e as projetou na parede. A série de figuras era a base de um idioma pictográfico. A partir desses núcleos primitivos tinham se desenvolvido ao longo dos séculos todas as línguas do mundo. Grete queria chegar até a ilha, porque com esse mapa ia ser possível estabelecer uma linguagem comum. No passado todos tínhamos entendido o sentido de todas as palavras, os nódulos brancos estavam gravados no corpo como uma memória coletiva. Espiou a Avenida Nove de Julho pela claraboia. O movimento de carros diminuía àquela hora da manhã, toda a atividade da cidade era noturna. Talvez pudesse dormir por fim e parar de sonhar com o Museu e com a máquina e com a proliferação das línguas que se misturavam e se confundiam até ficarem incompreensíveis. São mundos esquecidos, pensou, já ninguém mais conserva a memória da vida. Vemos o futuro como a lembrança de uma casa da infância. Tinha que chegar à ilha, descobrir a lenda da mulher que viria para salvá-los. Talvez, pensou Grete, esteja quieta na areia, perdida na praia vazia, como uma réplica rebelde da Eva futura.
III
Pássaros mecânicos
1
Junior acordou sobressaltado. Mais uma vez o telefone tinha tocado no meio da noite, a mesma mulher que o tomava por outro e que lhe contava a triste história do seu ex-marido. Um sujeito que ela chamava de Mike tinha ido para Mar del Plata trabalhar como vigia num hotel que ficava fechado no inverno. Uma manhã foi encontrado morto e a música do rádio ligado os guiou através dos quartos e quartos vazios, até que por fim ele apareceu num apartamento de janelas trancadas. A mulher disse que primeiro pensaram em suicídio, depois pensaram ter sido morto pelos serviços; seu ex-marido estava fugindo na debandada, era do ERP 22. Trotsko-peronista, disse a mulher, e em seguida baixou a voz e lhe falou da Clínica. Acabava de passar dois meses lá dentro, disse, na cadeia, na colônia. Estava reabilitada, agora se chamava Julia Gandini. Imaginou a mulher afundada numa realidade falsa, enfiada numa memória alheia, obrigada a viver como se fosse outra. Histórias desse tipo circulavam por toda a cidade, agora a máquina incorporava materiais da realidade. Julia disse que ninguém a seguia, que tinha dezoito anos, que queria se encontrar com ele.
- Com metade da informação que eu tenho - disse -, dá para você fazer uma edição especial do jornal.
Ela o chamava de você como se fossem amigos e ria com um riso limpo, despreocupado.
Marcaram encontro num bar, na estação Retiro.
- E como eu faço para te reconhecer?
- Eu tenho cara de russo - disse Junior. - Sou igualzinho ao Michael Jordan, só que branco.
- Michael Jordan? - disse ela.
- Aquele do Chicago Bulls - disse Junior. - Eu sou a cara dele.
- Eu nunca assisto tevê - disse a garota.
Junior pensou que tinha estado internada e não captava as referências, como se vivesse numa outra realidade. Mas queria vê-la, não restavam muitas alternativas. Tinha andado pelos porões do Mercado do Prata, tinha procurado a informação nos cemitérios de notícias, tinha feito suas transas nos bares do Bajo onde vendiam documentos falsos, relatos apócrifos, primeiras edições das primeiras histórias. Seu quarto estava cheio de papéis, anotações, textos colados nas paredes, diagramas. Gravações. Procurava se orientar nessa trama fraturada, entender por que queriam desativá-la. Alguma coisa estava fora de controle. Uma série de dados inesperados tinha se infiltrado, como se os arquivos estivessem abertos. Não revelava segredos, porque era capaz de sequer conhecê-los, mas dava sinais de querer dizer algo diferente daquilo que todos esperavam. Tinham começado a aparecer dados sobre o Museu e sobre a construção. Estava dizendo algo sobre seu próprio estado. Não contava a sua história, mas permitia que fosse reconstruída. Por isso mesmo iam tirá-la de circulação. Vazava dados reais, a chave era a história do Engenheiro Richter, como Fujita o chamava. Queria fazer contato, tinha certeza de que o relato da Clínica era uma transposição. Quem sabe a menina pudesse ajudá-lo a avançar nessa linha. Talvez fosse um dado insignificante numa trama com outro sentido. Mas era bem possível que o ajudasse a processar a informação e a pôr o passado em dia. Tinha passado duas noites quase sem dormir desde que saiu do Museu. Entrava e saía dos relatos, circulava pela cidade, procurava orientar-se nessa trama de esperas e de protelações da qual já não podia sair. Era difícil acreditar no que estava vendo, mas encontrava os efeitos na realidade. Parecia uma rede, como um mapa de metrô. Viajou de um lado para o outro, cruzando as histórias, e deslocando-se em vários registros ao mesmo tempo. E agora estava num bar de Retiro, comendo salsichas e bebendo cerveja e esperando ver a menina do telefone chegar. Um velho lavava a plataforma vazia e o movimento mal tinha começado. A estação Retiro estava quase desativada e os trens para o Tigre partiam com uma frequência incerta. Uma mulher veio lhe perguntar se as linhas ainda funcionavam. Eram seis da manhã e a cidade começava a entrar no ritmo, precisava ficar atento aos movimentos sem parecer inquieto demais. Vigiava a saída do metrô e o salão; os olhos, como pequenas câmeras clandestinas, fotografaram no mesmo instante o movimento do carro que acabava de parar no acesso de uma das plataformas para descarregar os jornais da manhã. Era o segundo clichê. Não sabiam mais o que dizer e acumulavam as notícias. As patrulhas controlavam a cidade e era preciso estar muito atento para se manter conectado e acompanhar os acontecimentos. Os controles eram contínuos. A última palavra era sempre da polícia; podiam cassar seu passe de circulação; podiam negar-lhe o acesso às coletivas de imprensa; podiam até apreender sua licença de trabalho. Era proibido garimpar informação clandestina. Confiava em Julia, esperava que aparecesse. Talvez estivesse dizendo a verdade, talvez chegasse com uma patrulha. Existia uma estranha disparidade na consciência do que estava acontecendo. Tudo era normal e ao mesmo tempo o perigo se percebia no ar, um leve murmúrio de alarme, como se a cidade estivesse a ponto de ser bombardeada. Em meio ao horror a vida cotidiana sempre continua e isso já salvou o juízo de muita gente. Percebem-se os sinais da morte e do terror, mas não há uma visão clara de qualquer alteração nos costumes. Os ônibus param nos pontos, as lojas abrem, alguns casais se casam e fazem festa, não pode estar acontecendo nada de muito grave. A sentença de Heráclito se inverteu, pensou Junior. Tinha a sensação de que todo mundo concordava em sonhar o mesmo sonho e cada um vivia confinado numa realidade diferente. Certos comentários e certa versão dos fatos lembraram os dias da guerra das Malvinas. Os militares argentinos tinham perdido a guerra e ninguém sabia. As mulheres tricotavam malhas para os recrutas em tendas improvisadas na praça do obelisco. Todas as certezas são incertas, ironizou Junior, temos que vivê-las em segredo, como uma religião privada; era difícil tomar decisões e deslindar os fatos das falsas esperanças. Ele tinha se sentado junto a uma barraca de sanduíches, debaixo da marquise que dava para a Praça dos Ingleses. Comia um hot-dog e tomava um chope e lia o jornal distraidamente. A tevê passava um programa especial sobre o Museu. Lixo político. No ar pairava a fumaça da gordura e apesar disso o lugar era agradável e a presença dos motoristas no balcão e do caixa com paletó preto, que nesse momento procurava troco na registradora, animavam Junior. Um cara falou com ele como se o conhecesse a vida toda. Algo tinha acontecido com o sentido da realidade. O sujeito falava com seu irmão, mas não havia nenhum irmão.
- O presidente é um drogado e ele não liga a mínima que todo mundo saiba disso. Os drogados não têm vergonha, não dá para se ter vergonha sem libido sexual - dizia.
- Claro - disse um outro, também sentado junto do balcão. - Uma vez minha mulher ficou uma semana enfiada dentro de casa porque tinha uma verruga deste tamaninho. - Mostrou a ponta do dedo mínimo. - Uma semana. Não queria sair porque achava que estava deformada.
- Estava é cheia de libido sexual - disse o caixa.
- Uma semana inteirinha sem sair.
- E o Perón com todas aquelas manchas e aqueles vergões no rosto, que acabou virando "el manchado" e aparecia por tudo quanto é lado e fazia questão que batessem as fotos dele bem de perto, ao ar livre, aquele carão de couro.
- Quem tem poder, se tiver poder, quer todo mundo olhando para ele.
- Porque a política é um espelho - disse o outro. - Caras e mais caras que aparecem e se olham e se perdem e são substituídas por outras que aparecem e se olham e se perdem.
- Ela engole as caras - disse o que tinha falado primeiro.
- Mas o espelho está sempre ali - disse o outro, e enfiou a cabeça entre os braços apoiados sobre o balcão. - Me dá mais um chope. Não quer mais um, parceiro? - disse a Junior.
- Não, já parei - disse Junior, e nesse momento viu a garota aparecer e a reconheceu o ato. Vinha pelo fundo da plataforma e logo sorriu para ele.
- Agora - disse o caixa -, a verdade é que um espelho é uma televisão.
- Exatamente - disse o outro. - Um espelho que guarda as caras.
- Tem todas dentro e quando a gente se olha vê a cara do outro.
- Isso que é bonito - disse o caixa, e ficou pensativo.
- Vou indo - disse Junior, e deixou dinheiro em cima do balcão. - Uma rodada para todo mundo.
Houve agradecimentos e acenos enquanto ele descia do banco e caminhava até a moça.
Eles saíram da estação e atravessaram em direção à praça San Martín. A garota era muito atraente, mas distante, e emanava um ar de passividade, quase de indiferença. Como se nada neste mundo tivesse importância. Apática. Ou talvez assustada, pensou Junior. Estranha e lindíssima, com a camisetinha do Mickey Mouse e os jeans desbotados. Logo começou a recitar a lição. Mike estava errado e tinha morrido porque a violência gera violência. Tinha vivido na clandestinidade, tinha comandado várias ações armadas, tinha recuado, mudado de casa duas vezes por dia, até que caiu. "Em 73 eu interpretava a realidade mais por emoção do que pela lógica política. Hoje a minha visão do passado é completamente outra. A gente vivia o fanatismo ideológico. Acho que não dá para se fazer uma revisão pegando só estes últimos anos, a coisa vai mais além. A gente cresceu dentro de uma cultura política e uma consciência civil equivocada. Tivemos que passar por essa hecatombe para dar valor à vida e ao respeito pela democracia." Repetia a lição como um papagaio, num tom tão neutro que parecia irônico. Era uma arrependida. Tinha participado dos grupos de autoajuda e não podia se saber se era sincera ou se estava esquizofrênica. Caminhava abstraída e de vez em quando levantava o rosto e olhava para Junior.
- Você gosta de mim? - perguntou de repente. Sem mais apertou-se contra ele e depois se afastou e caminhou na beira da calçada. A história da sua vida era o modo que encontrara de fazer gostar, logo em seguida passava para a submissão e as confissões. Estava na cara que era ingênua e crédula, mas não era boba. Frágil e flexível, podia ser sua filha.
- Claro - disse Junior, e surgiu nele uma estranha emoção. Tinha pensado em sua filha, porque ela bem que podia ser sua filha que estava de volta, como tantos outros, dez anos depois. Quatorze anos depois. Mas não era sua filha e por isso Junior tinha uma sensação esquisita. Parecia emoção e no entanto tinha uma qualidade fria, de modo que talvez não fosse em absoluto uma emoção. Simplesmente gostava de ser visto andando com a moça e que imaginassem que se deitava com ela. Estava espantado consigo mesmo, com a simplicidade das coisas. - Você fugiu da Clínica - disse a ela.
- Ninguém foge de lá - respondeu. - Você vai porque quer, quando não dá mais para você desencanar acaba tendo que ir. A força de vontade não existe, se você entra nessa, dança, é uma besteira que inventaram para a gente se torturar.
Ela não era boba, tomou a pensar Junior, só inexperiente. Queria ajudá-lo e deixou isso claro desde o início. Tinha lido as matérias de Junior, ele não conhecia toda a verdade, ela vinha de lá.
- De onde? - perguntou Junior.
- Não dá uma de engraçado - respondeu ela. Nenhuma referência comum, era tudo ao mesmo tempo igual e diferente, como se estivessem falando duas línguas.
Junior tinha que mover-se com calma, deixar que ela tomasse a iniciativa.
- Eu gosto daqui - disse quando se sentaram num banco de frente para o Círculo Militar. - Território inimigo. Olha só os lugares que os caras arrumam, sempre ali dentro, eles se enfiam nessas galerias e passam a vida bundando. Eu vi como é - disse. - Meu pai era militar. Praticam esgrima e depois te matam a tiros. Você sabe o risco que eu corro por estar aqui com você?
- Claro que sei - disse Junior.
Preferiu continuar calado, deixar que ela desenvolvesse a sua estratégia.
- Eu vou confiar em você - disse ela. - É por isso que eu te chamei. Você conhece o Engenheiro?
- Conheço. Quer dizer, já ouvi falar nele, nunca vi.
- E você quer ver?
- Claro - disse ele.
- Toma - disse ela. - Isso é para você.
Era um envelope aéreo dobrado ao meio.
- Não abre agora - disse. - Guarda, depois você abre.
- Guardo - disse Junior, e enfiou o envelope num bolso da japona.
- De onde você o conhece? - perguntou ela.
- Todo mundo fala dele. Mas eu vi o zelador do Museu, um japonês, Fujita.
Quando Junior contou o que sabia, ela confirmou que o Engenheiro vivia no que era praticamente uma fortaleza subterrânea e que vivia trancafiado e fazia planos e não se metia com ninguém e era um homem afável e muito inteligente. Estava encurralado, porque as autoridades queriam vê-lo na cadeia e acusá-lo de irresponsabilidade e de loucura criminosa.
- O Engenheiro nunca dorme - disse ela -, vive para suas experiências. Por isso mesmo dizem que está louco.
Junior quis saber que experiências eram aquelas.
- Verbais - disse ela. - Testes com relatos de vida, versões e documentos que as pessoas levam para ele ler e estudar.
O Engenheiro recebia muitas cartas e ligações, queriam entrevistá-lo de todo lado. Junior tinha que confiar na sorte e nos contatos que Julia podia conseguir. Eles iam entrar pela rede clandestina, enquanto todos os correspondentes estrangeiros e os jornais oficiais esperavam na fila. Era preciso procurar um lugar para se esconder e esperar até o dia seguinte. Ela lhe falava com tamanha lucidez, num tom tão indiferente, que ele acabou pensando que estava dizendo a verdade. Dormiram juntos num hotel da rua Tres Sargentos, depois de jantar no Dorá. Julia parecia ao mesmo tempo distante e experiente. Ela se despiu e o abraçou antes que Junior acabasse de revistar o quarto. Havia algo de longínquo mas real na garota, que tinha o corpo cheio de cicatrizes e se movia na cama com habilidade, como uma profissional que finge estar assustada. Junior ia ter que esperar no hotel, disse enquanto fumava um cigarro, enquanto ela ia atrás de um contato. Era perigoso, mas tinha que correr o risco se quisesse seguir em frente, e ele arriscou. Com isso se deixou enredar, mas não se arrependia. De manhã foi acordado com os murros na porta; disseram que era uma busca de rotina. Julia, que vinha com os policiais e que talvez o tivesse entregado, olhou para ele como se não o conhecesse. Ele a viu de novo fumando de frente para a janela, como se não tivesse saído dali. Os caras da Narcóticos traziam a moça sob acusação de tráfico e revistaram a fundo o quarto e a roupa de Junior.
- O senhor é inglês - disse o policial.
- Filho de ingleses - disse Junior.
- Trabalhou na série sobre o Museu, no El Mundo.
- Ainda trabalho e tenho as minhas fontes à disposição. Se o senhor quiser ligar para o jornal.
- Uma pergunta de rotina - disse o delegado. - Quem ganhou a guerra?
- A gente.
O delegado sorriu. Queriam controlar o princípio da realidade.
- Engraçadinho. A gente quem?
- Os kelpers - disse Junior.
O delegado festejou a tirada e voltou-se, divertido, para um dos seus auxiliares. Depois baixou a cabeça e encarou Junior.
- O senhor sabe que essa garota é Artigo 22?
- Artigo 22?
- Prostituição de rua.
- Por isso que ela veio comigo - disse Junior. - Cem dólares a noite.
- Eu prefiro que não encostem em mim - disse a moça, sempre com seu ar ausente, quando o delegado se aproximou. - Eu ganho a vida do meu jeito, não me interessa mais nada.
- Eu não encosto. O problema com ela não é político. Alucina.
Agora havia uma mulher na gangue, uma gorda com cara de vilã de seriado, não uma nazista, algo pior, mais mecânico e suave.
- Você está doente, menina - disse. - Vai para um hospital. Vão te curar.
- Que hospital? - disse a garota.
- O neuropsiquiátrico de Avellaneda.
- Escrotos - disse a moça. - Deixem que chame um advogado.
Quando soube o que a esperava, teve um choque e ficou estática e reconcentrada. Depois encostou-se na parede e fechou os olhos. Tinha aprendido a economizar forças e sem ilusões preparava-se para enfrentar o que viria.
- Ela acredita no Engenheiro, mas não passa de uma ilusão. O Engenheiro morreu faz tempo, não existe nenhuma fábrica, ela é incapaz de aceitar a realidade. É psicótica - disse o delegado. - Esteve internada no Santa Lucía desde os sete anos de idade, é esquizoanarcoide. Esse homem não existe, é um médico que ela chamava de Engenheiro, não tem nada, só uma clínica. Sonha que circula por esse mundo marginal, como uma emissária, quando na realidade é uma prostituta que passa informação para a polícia.
- Quizá, quizá, quizá - cantou Julia. - Ele está aí - disse. - Quando me soltarem eu vou te levar.
- Está vendo? Está perfeitamente adaptada ao mundo exterior, com exceção dessa ideia fixa. Nunca irá desaparecer, é indispensável para o equilíbrio de sua vida. Mas precisa se relacionar com a realidade, não com a fantasia. E nós estamos aqui para isso. Pensar que neste país está escondido um físico de fama internacional. É uma ideia inofensiva e a ajuda a sobreviver. Mas é falsa e não deve ser divulgada. Vive dentro de uma realidade imaginária - disse o delegado. - Está na fase externa da fantasia, é uma dependente que vive fugindo de si mesma. Ela introjeta suas alucinações e deve ser mantida sob vigilância. - A polícia agora usava esse jargão lunático, ao mesmo tempo psiquiátrico e militar. Pensava com isso fazer frente aos efeitos ilusórios da máquina. Junior foi lembrar-se das opiniões de seu pai sobre os delírios de simulação e pensou que o delegado tinha uma qualidade de isolamento, de perversão, como se por ficar ali, sozinho no escritório, tivesse se excluído do mundo.
- A polícia - disse - está completamente afastada das fantasias, nós somos a realidade e a todo momento conseguimos confissões e revelações verdadeiras. Só damos atenção aos fatos. Somos servidores da verdade.
Junior olhou para ele sem responder.
- Eu vou liberar o senhor - disse o delegado -, depois de verificar alguns dados.
- E a moça?
- A moça fica, o senhor sai. Sempre é preciso fazer alguma troca.
- Eu não gosto disso - disse Junior.
- Não perguntei se o senhor gostava, mas quais eram as suas fontes.
Ligaram para o jornal e em seguida o liberaram. Não pôde ver Julia e o máximo que lhe permitiram foi deixar cigarros e algum dinheiro, embora tivesse certeza de que o próprio guarda que os recebeu iria ficar com eles. Junior saiu para a rua, os ônibus passavam rumo à periferia da cidade apinhados de homens e mulheres que saíam do trabalho. Estava na esquina das ruas Paraguay e Maipú. A garota não o denunciara, caiu por causa de drogas. A polícia nem tinha se incomodado em requisitar o papel que ela lhe deu, sequer abriram o envelope. Era uma espécie de ficha azul, com uns poucos dados escritos à máquina. Havia algumas referências ao Engenheiro Richter, um físico alemão. Tinha morado em Monte Grande até 1967. Depois, números e citações de vários relatos, especialmente de Stephen Stevensen. Esse era o ponto de partida.
2
Passou dois dias trancado em seu quarto. Revisou mais uma vez toda a série de relatos. Havia uma mensagem implícita que enlaçava as histórias, uma mensagem que se repetia. Havia uma fábrica, uma ilha, um alemão. Alusões ao Museu e à história da sua construção. Como se a máquina tivesse construído sua própria memória. Essa era a lógica que estava aplicando. Os fatos incorporavam-se diretamente, já não era um sistema fechado, tramava dados reais. Portanto sofria a influência de outras forças externas que não entravam no programa. Não só situações do presente, pensou Junior. Narra aquilo que conhece, nunca antecipa. Voltou ao Stevensen. Já estava tudo ali. O primeiro texto mostrava o procedimento. Tinha que buscar nessa direção. Investigar aquilo que se repetia. Ela fabrica réplicas microscópicas, duplos virtuais, William Wilson, Stephen Stevensen. Era mais uma vez o ponto de partida, um anel no centro do relato. O Museu era circular, como o tempo na planície. Ele voltou ao relato, ao começo, à frase inicial da série. "Meu nome é Stephen Stevensen. Sou neto e bisneto e tataraneto de marinheiros. Só meu pai foi um desertor e por isso viveu a vida inteira com a mesma mulher e morreu como um miserável num hospital de Dublin. (O pai de Stevensen tinha se negado a entrar para a marinha britânica, quebrando a antiquíssima tradição familiar, e se convertera num nacionalista irlandês. A mãe dele era de ascendência polonesa. Uma mulher sarcástica e elegante que passava os verões em Málaga ou no British Museum.) Stevensen tinha nascido em Oxford e todas as línguas eram sua língua materna. Talvez por isso eu tenha acreditado na história que me contou e por isso esteja aqui, nesta fazenda perdida. Mas se a história que ele me contou não for verdadeira, então Stephen Stevensen é um filósofo e um mago, um inventor clandestino de mundos, como Fourier ou Macedonio Fernández."
Junior começava a entender. No início a máquina se engana. O erro é o primeiro princípio. A máquina desagrega "espontaneamente" os elementos do conto de Poe e os transforma nos núcleos potenciais da ficção. Assim tinha surgido a trama inicial. O mito da origem. Todas as histórias vinham daí. O sentido futuro do que estava se passando dependia desse relato sobre o outro e o porvir. O real estava definido pelo possível (e não pelo ser). A oposição verdade/mentira devia ser substituída pela oposição possível/impossível. O manuscrito original enroscava-se num tambor de latão. Tinha dificuldade de ler com os óculos. Estou cada vez mais míope, pensou Junior, e aproximou seu rosto da caixa de vidro. Parecia uma fita de teletipo. "Cheguei aqui pela primeira vez na quarta-feira quatro de maio às três da tarde, num trem que seguia para Pergamino. Eu vim a convite da Academia Pampeana e do Jóquei Clube para ficar três meses na fazenda e conhecer os projetos da sociedade científica. Eu sou médico (e escritor), estou neste povoado há meses. Quero conhecer o Doutor Stevensen. Ele é um dos maiores naturalistas ingleses deste século, argentino por opção, descendente dos viajantes e dos pesquisadores europeus que vieram para estes campos estudar os hábitos dos nativos. Eu admirava seus livros, tinha lido seu maravilhoso Pássaros mecânicos e também seus ensaios de biologia e seu extraordinário Viagem branca. Já faz tanto tempo, que agora tudo me parece irreal. Mas talvez não devesse falar em irrealidade, mas em inexatidão. A verdade é precisa, como a circunferência de cristal que mede o tempo das estrelas. Uma leve distorção e tudo está perdido. Mentir já não é uma alteração da ética, mas uma falha numa espécie de máquina a vapor do tamanho desta unha. Quero dizer (dizia Stevensen), a verdade é um artefato microscópico que serve para medir a ordem do mundo com precisão milimétrica. Um aparelho ótico, como os cones de porcelana que os relojoeiros ajustam no olho esquerdo quando desmontam as engrenagens invisíveis dos complexos instrumentos que controlam os ritmos artificiais do tempo. Stephen Stevensen dedicou sua existência à construção de uma réplica em miniatura da ordem do mundo. Como se tivesse tentado estudar a vida num aquário seco: os peixes ficam durante horas boqueando no ar transparente. Na realidade ele decidiu (acredito) que eu fazia parte das suas experiências e quis estudar as minhas reações. Agora compreendo que ele me vigiava, que estive sob sua observação desde que cheguei. Ou até antes, desde que tomei o trem em La Plata, ou talvez desde o momento mesmo em que eu saí de minha casa. Ele tinha morado logo antes de mim na velha sede da fazenda La Blanqueada. Na manhã em que cheguei ele deixou a casa para mim e foi viver no Hotel Colón, com todos os seus papéis e suas máquinas. Não voltou para Buenos Aires, prolongou sua estadia no povoado usando um pretexto trivial (relatado à sua irmã). A presença invisível de Stevensen acompanhou-me desde o primeiro momento em que entrei no casarão. Eu me senti como quem penetra sub-repticiamente na alma de um estranho e escarafuncha na noite procurando descobrir os seus segredos. No início pensei que, com um descuido aristocrático, Stevensen tinha deixado seus rastros por toda a casa; agora sei que não foi um descuido. Esta é uma lista provisória dos objetos que encontrei ao percorrer a casa no primeiro dia."
O relato exibia os rastros de Stevensen. Junior encontrou o paletó preto, com cotoveleiras de couro, pendurado num cabide dentro de um guarda-roupas de fazenda. Encontrou uma lente de aumento, um horário de trens, um anel com monograma e uma barra de lacre. Na escrivaninha estava o rascunho da segunda página de uma carta de Stevensen, escrita com tinta azul numa folha de caderno: "Gosto deste lugar, porque ficou parado no exato momento em que foi reconstruído. Tenho a impressão de viver num outro tempo, como se fosse a paisagem da infância, mas também a paisagem abstrata e anônima que os velhos veem nos sonhos. O povoado foi totalmente destruído durante a guerra". As imprecisões formavam parte da construção da história. Não era possível ajustá-la a um tempo fixo e o espaço era indeciso e ao mesmo tempo detalhado com precisão minuciosa. Havia uma planta da propriedade e uma fotografia da estação de Necochea. O povoado ficava perto de Quequén e os limites da fazenda chegavam até o mar. Na parede do fundo ele viu a foto da sede, com a varanda e o poço. Sobre uma bancada de areia havia uma maquete das instalações, com as cercas de arame e a porteira, a casa comprida, o galpão dos peões, os currais que davam para os trilhos da ferrovia. Levantando o telhado de madeira ele podia ver a disposição dos cômodos na casa. Um corredor, os quartos que saíam num pátio, a cozinha, a longa mesa de cavaletes. Na outra parede havia um mapa do povoado com as ruas numeradas, que acabavam no porto; à esquerda viu as docas e o farol e à direita a alameda que levava ao Hotel Colón. Ao lado estava o fonógrafo de Stevensen, com um gravador e um rádio.
Junior pensou em seu pai, outro inglês perdido no pampa que colecionava aparelhos de rádio e montava receptores de alta potência para acompanhar as transmissões da BBC. Inventores ingleses, engenheiros de trens, cientistas europeus exilados depois da guerra. Junior voltou à história de Richter, o físico alemão que tinha vindo a convite de Perón. Não era o único a quem o relato podia estar se referindo. Muitos cientistas tinham trabalhado na Argentina desde o início do século. No terceiro volume do Dictionary of Scientific Biography ele encontrou a pista alemã que estava procurando. "A Universidade Nacional de La Plata, sessenta quilômetros ao sul de Buenos Aires, recebeu desde as primeiras décadas do século um grande número de pesquisadores europeus de altíssimo nível. Entre eles Emil Bosse, o antigo redator-chefe da revista Physikalische Zeitschrift; a mulher de Bosse, Margarete Heiberg, que fizera seus estudos de pós-doutorado em Gotinga; Konrad Simons, um físico que trabalhara com Plank e Richard Gans, então uma autoridade no campo do magnetismo terrestre." Tinha certeza de que um deles tinha sido Stevensen, tinha certeza de que era esse o nome secreto do Engenheiro que tinha trabalhado com Macedonio na programação da máquina. Junior foi até a janela e abriu as cortinas. Lá fora estava a cidade. A rua vazia, as luzes acesas, a boca do metrô na calçada da frente. Podia falar com Ana. Ela iria ajudá-lo. Quando seu pai morreu ela se despediu do mundo acadêmico, onde dava aulas de filosofia, e transformou a livraria que seu avô tinha fundado em 1940 no maior centro de documentação e de reproduções do museu do romance que havia em Buenos Aires. Tinha todas as séries e todas as variantes e as diferentes edições e vendia as fitas e os relatos originais.
Alguns desconfiavam que a própria Ana tinha ligações clandestinas com a máquina. Que distribuía os apócrifos e as falsas versões e fazia parte dos grupos de contrainformação que vendiam réplicas, cópias feitas em laboratórios montados em garagens clandestinas da periferia. Nunca conseguiram provar nada, mas a vigiavam e de vez em quando interditavam sua loja. Queriam intimidá-la, mas ela continuava brigando, porque era altiva e rebelde, uma rainha na corte secreta da cidade. Junior a conhecera em outras épocas; era do tipo de mulher que sempre gostara, inteligentíssima e frontal. Encontrar-se com ela era ficar fichado, mas Junior já estava fichado e não podia esperar nenhuma proteção legal. Era melhor não dizer no jornal que ia procurá-la, preferia mover-se livremente enquanto pudesse.
Desceu na Nove de Julho. Os corredores estavam cobertos de barracas e bancas de lata onde vendiam miniaturas e revistas da guerra. Jovens recrutas paravam na frente dos sex-shops e dos microcinemas, das galerias de tiro ao alvo, dos bares baratos com fotos de loiras seminuas, das agências lotéricas. Ao fundo havia galpões de lata e lojas que tinham ido se acumulando nos corredores, aproveitando o trânsito contínuo dos que viajavam de metrô. Os jovens tinham invadido os salões, com suas cristas e seus Levis rasgados, as navalhas na bainha das botas, tocavam heavy metal nos gravadores, com as blusas de gola olímpica pretas de Metrópolis. Pegando uma das galerias laterais chegava-se a um hall ligado diretamente à saída. Era como uma redoma de silêncio, com uma claridade nublada que descia da rua. De um lado havia uma relojoaria e do outro estava a loja de Ana Lidia. Ele bateu na parede de vidro e dali a pouco acendeu-se uma luz ao fundo. Ela saiu para abrir com seu habitual estado de relaxado fatalismo. Usava calças de veludo, colete de homem, pulseiras contra o câncer, agora estava penteada como o Príncipe Valente, tudo muito new age, pura máscara esnobe. Cultivava um ar levemente psicótico e jamais ficava surpresa ao vê-lo, mesmo que ele não aparecesse há meses. Por ter um teto muito alto e estar ligado ao metrô o local era gélido. Os livros se amontoavam sem ordem e o lugar produziu nele uma instantânea sensação de bem-estar. Uma grande foto de Macedonio Fernández cobria a parede ao fundo. Cruzando uma cortina de contas estava o quarto. A tevê em cima da cômoda, muitos pratos sujos formando um círculo em volta da cama. Duas garrafas de Black and White numa banqueta. Ela se sentou no chão e continuou assistindo tevê. Nunca envelhecia. Usava lentes de contato azuis e no braço via-se a tatuagem do Museu. Junior alegrou-se ao ver que ela continuava vivendo a sua vida sem fingir interesse por ele. Que não lhe perguntasse o que andava fazendo, nem como é que estava, nem onde tinha se metido. Na última vez tinham se beijado junto à escada e de repente Ana pediu que a soltasse. Você está afundando, Junior, tinha dito. Trabalhava no jornal, escrevia lixo, estava ficando cínico. Não queria vê-lo mais. Ele tinha rido. O que você pensa que eu sou? O Titanic? Todo mundo está afundando, minha filha. Lembrou-se da mulher no Majestic. Era a mesma coisa. Ana também nunca saía da sua toca. Continuou comendo seu prato de ravióli e assistindo o canal mexicano de tevê.
- Andei lendo as tuas matérias - disse a ele. - Você está cego.
- Por quê? É só uma isca - disse Junior. - Eu publico tudo. No jornal estão querendo fazer um pouco de barulho para ver se reagem.
- Não vão reagir - disse ela. - Querem tirá-la de circulação. Vão interditar o Museu. - Ergueu o rosto do prato e olhou para ele com seus olhos azuis. - Você sabe o que estão para fazer?
Junior passou o dedo pela garganta.
- É - disse ela. - Querem enterrar no arquivo-morto, mandar para o museu de Luján, qualquer coisa contanto que as pessoas esqueçam.
- E as pessoas esquecem.
- Você é que pensa. Eu tenho visto várias cópias de relatos dos anos cinquenta, versões da guerra, histórias de ficção científica. Realismo puro.
- Muitos deles são apócrifos.
- Você acredita nas coisas que escreve - disse Ana.
Bebia uísque no copo da pasta de dente. Eram três da tarde.
- Eu estou recebendo ligações bem esquisitas - disse Junior. - Fui me encontrar com uma mulher no Hotel Majestic, um dia desses. Sabe o Fujita? Trabalha no Museu. Uma espécie de chefe de segurança. Falei com ele - disse Junior. - Me passou material.
- Ahã - disse Ana. - Você vai publicar.
- Não sei - disse Junior. - Alguém está vendendo cópias falsas numa oficina de Avellaneda. É uma garagem na avenida Mitre, consertam aparelhos de tevê mas trabalham com a série política.
- Eu conheço - disse ela.
- Peronistas. Ex-peronistas, caras da resistência. Estou tentando seguir a pista do Engenheiro.
- É verdade que você é de Bolívar? - perguntou Ana de repente.
- Não sou - disse Junior -, eu morei um tempo, quando era criança, pertinho dali, em Del Valle, tinha um convento.
- Ahã - disse Ana. - Muitos estão fugindo para o campo. Não é mais o sul, o vale, mas o pampa mesmo. Erguem uma tapera e plantam, ficam ligados pelo rádio. Ficam de lá para cá. Andam nesses carros caindo aos pedaços, têm receptores de ondas curtas. É difícil achar um cara que se esconde na planície descampada. Os velhos maltrapilhos faziam a mesma coisa. Anarquistas, filósofos, místicos, quando a coisa ficou preta, saíram pelos trilhos afora, linyeras, disse depois, Macedonio também andou por esses campos. Levava uma cadernetinha e escrevia as suas coisas.
Fez-se uma pausa, ela foi até a janela. O local da livraria estava em sombras e as estantes se destacavam da penumbra como escavações enferrujadas.
- Estão querendo desativá-la - disse Ana. - Dizem que vão chamar os japoneses.
- Técnicos japoneses, era só o que nos faltava - disse Junior. Imaginou-os entrando no Museu, cortando as comunicações, isolando a sala branca. Tinham publicado umas fotografias tiradas com células fotelétricas. Todos os tecidos estavam em ordem. No entanto, alguma coisa estava morrendo.
- Ela começou a falar de si mesma. É por isso que querem desligá-la. Não se trata de uma máquina, mas de um organismo mais complexo. Um sistema que é pura energia. Num dos seus últimos relatos ela aparece numa ilha, na beira do mundo, uma espécie de utopia linguística sobre a vida futura. Um sobrevivente constrói uma mulher artificial. É um mito - disse Ana -, um relato fantástico que circula de mão em mão. O náufrago constrói uma mulher com os restos que o rio traz. E ela fica na ilha depois que ele morre, esperando na margem, louca de solidão, como a nova Robinson.
A tela do televisor mudo mostrava a visão panorâmica de uma rua com prédios de vidro, numa cidade que parecia Tóquio ou talvez São Paulo. Junior viu cartazes escritos em espanhol e uma banca de jornais numa esquina. Era a Cidade do México. Parecia um documentário sobre os terremotos da costa oeste.
- Você sabe o que Macedonio fez quando Elena morreu - disse Ana depois de uma pausa.
- Ele se retirou - disse Junior.
- É, se retirou - disse ela. Não teria dito se ele não dissesse.
- Faz dois meses que eu estou nesta história, vim até aqui porque quero que você me ajude.
- Quando ela ficou doente, Macedonio resolveu que ia salvá-la. Há vários dias que ninguém sabe por onde andou. Parece que foi para uma fazenda, em Bolívar. Tinha um Engenheiro nessa região, um tal de Russo. É preciso seguir essa pista - disse Ana. - Um Engenheiro húngaro que tinha trabalhado com Moholy-Nagy e era um dos maiores colecionadores de autômatos da Europa; veio para cá fugindo dos nazistas e procurando um pássaro mecânico. Começa a ser perseguido quando cai o peronismo. Esse é um dos rastros. Olha - disse e ligou o projetor. Junior viu o retrato de um sujeito com rosto franco e óculos redondinhos trabalhando num laboratório.
- É ele - disse Ana. - A história começa em 1956, numa cidadezinha da província de Buenos Aires.
Dizem que uma tarde o viram chegar de charrete e entrar na vila, e que já foi logo chamado de russo, mas parece que era húngaro ou tchecoslovaco, e quando estava bêbado jurava que tinha nascido em Montevidéu. Para abreviar e evitar problemas, o povo do campo chama de russo qualquer um que fale esquisito. Ele foi o russo e seu filho recebeu o nome de Russo quando nasceu. Mas ainda tem chão até aí. Primeiro viram esse forasteiro chegar de charrete e cruzar os trilhos. Era julho e estava prestes a cair uma geada e ele andava em mangas de camisa, como se fosse primavera. Aqui o basco Usandivaras saía de pé no chão para ordenhar fosse inverno ou verão, mas como Russo não tem ninguém, nunca usou agasalho, estava talhado para o frio polar e as geadas da província de Buenos Aires nem o incomodavam. Sempre estava com calor e todo mundo sentia pena dele, porque um homem que não concorda com o clima parece louco. Trazia uma carta para o prefeito e isso aconteceu muito antes de a gente saber que a carta e a charrete ele tinha roubado de um morto. O prefeito naquele tempo era Ángel Obarrio, tinha sido nomeado pela "Revolução Libertadora" e mandou metade dos peronistas de Bolívar para a cadeia, mas dali a uma semana foi obrigado a soltar todo mundo porque não tinha quem cuidasse dos animais. Era inverno de 56, pior não teve. O ar branco; as poças na rua parecendo vidro. Por ali entrou a charrete do Russo. "Anda. Pangaré. Caralho", disse, mas na sua língua, e agitou as rédeas, uma em cada mão, como um gringo. Arrumaram um emprego para ele no Tiro Federal e ficou morando ali mesmo, num quartinho dos fundos, perto da bacia onde cozinham o grude para colar os alvos; ele aparava a grama e abria nos fins de semana quando os idiotas iam fazer pontaria. Na semana não ia quase ninguém, exceto os recrutas, que às vezes vinham de Azul, e o Doutor Ríos que tinha sido campeão olímpico em Helsinki e vinha treinar às terças e quintas. Russo o esperava e abria as gateiras do salão só para ele e ficava assistindo o outro preparar as armas e depois erguer o braço esquerdo e acertar na mosca.
Ficaram amigos, se é que se pode dizer. Ríos lhe explicava como era o povo e como ele tinha que fazer para sobreviver. "Praticar tiro ao alvo", brincava Ríos. Não sabia que o Russo tinha matado um homem esmagando seu crânio contra os trilhos do trem. Foi parar num manicômio, porque não conseguiu se fazer entender. Disse que o matou com o calor, porque o sol estava a pino e o reflexo do sol nos trilhos o ofuscava. Ficou cinco anos no Melchor Romero e de vez em quando ele fugia e se embrenhava nos matagais perto de Gonnet, mas cedo ou tarde voltava para o hospício, magro feito um defunto e enjoado de comer passarinhos crus. No fim acabou vindo para este lado da província, atrás da colheita. Um homem muito habilidoso com as mãos, que vivia inventando aparelhinhos e desmontando relógios. Ríos foi o primeiro a perceber que o Russo era um homem extraordinário. Daí ele quis saber. Foi até o gabinete do prefeito e pediu para ver a carta que o Russo tinha trazido. Era uma nota manuscrita de Videla Balaguer, assegurando que o portador tinha prestado valiosíssimos serviços à causa da liberdade nas gloriosas jornadas de setembro. Na certa tinha feito parte dos comandos civis e por esse motivo Obarrio o destinou ao Tiro Federal. Deduziu que era um homem de ação e que conhecia as armas. Fez algumas averiguações e todos os dados coincidiram.
Ninguém lhe falou que o Russo não era russo e sim húngaro, que era engenheiro e tinha estudado com Moholy-Nagy, que veio fugindo dos nazistas, que tinha matado um homem, que a carta e a carroça ele as roubara de um morto. Ríos fez a investigação de uma vida errada; todos os dados eram verdadeiros, mas o homem era outro. Ríos ria, depois, quando viu a confusão que tinha armado. Não dá para ser campeão de tiro e dar com a bala onde bate o olho, se a gente não tiver absoluta segurança de estar sempre certo. Às vezes errava. Mas se errava pensava que errar tinha sido uma decisão. Quando os fatos o desmentiram, e já era tarde, simplesmente modificou o ângulo de tiro e foi concentrar-se no Museu e em Carola Lugo.
"Este povoado é pequeno", disse Ríos, "vemos sempre as mesmas pessoas que andam pelos mesmos lugares e no entanto o mais difícil de entender é o que todo mundo sabe. O segredo está às claras e é por isso que não o vemos. É como atirar ao alvo. É preciso enxergar com visibilidade extrema."
No Museu da vila havia um pássaro mecânico. Foi trazido com a ferrovia em 1870 e servia para prever as tempestades. Dava voltas no ar e voava em círculos cada vez mais amplos, até que embicava na direção da água. Ainda hoje, quando a chuva se anuncia, começa a mexer as asas e a dar pequenos pulos na vitrine onde está acorrentado. Vieram da Alemanha para vê-lo e disseram que é alemão (que não pode ser outra coisa senão uma ave alemã). Há uma antiquíssima tradição de autômatos na floresta negra, disse Ríos. Queriam comprá-lo, mas o pássaro é um bem histórico da província e não está à venda. O casarão onde está guardado foi a residência do chefe da estação, o inglês McKinley, sua mulher o abandonou uma semana depois de chegar e ele viveu sempre só. Quando viu o campo argentino, o mato rasteiro, a cara de japonês dos gauchos, voltou para Lomas de Zamora, desiludida, a mulher. Foi McKinley, embora pareça estranho, quem começou a se interessar pela história desse município e começou a juntar lembranças. Tinha sido membro da Royal Geography Academic de Londres e era sócio honorário do British Museum e de tempos em tempos enviava memórias sobre a região. Por duzentos pesos ele comprou o pássaro do representante da Veterinária Paul, que o tinha de enfeite numa gaiola, entre filhotes de fox-terrier e papagaios do barranco. Tinha sido inventado por um engenheiro francês e foi usado na Argentina para medir a planície na época do assentamento dos trilhos da Ferrovia Sul. Soltavam o bicho e ele se afastava batendo as asas, até sumir no horizonte. Quando voltava, bastava abrir uma dobradiça que ele tinha no peito e tirar o relógio com as medidas. Um doido, esse inglês, veio montar um Museu neste buraco, no meio da indiferença geral. Ninguém ligava a mínima para o passado por aqui, todos vivemos no presente. Se tudo continua igual desde sempre, para que guardar os restos daquilo que não mudou. Mas McKinley deixou tudo acertado no seu testamento e a prefeitura ficou com a casa, colocou uma bandeira na porta e às vezes no 13 de junho, que era o aniversário da fundação, levavam as crianças do primário e faziam um ato na calçada. Os Lugo foram designados caseiros e zeladores, daí Carola ter sido criada na casa, brincando desde menina com as réplicas das tendas dos índios e com as crinas dos cavalos empalhados. Às vezes, quando aparecia algum visitante estrangeiro (e isso acontecia de dois em dois anos), tiravam o pássaro e o punham para voar e embicar na direção das chuvas. Uma tarde Ríos levou Russo para visitar o Museu. E Russo ficou louco pelo animal. Carola Lugo foi abrir a porta para eles. Era loira e miudinha e tinha lábio leporino. Ela mostrou a casa e as galerias. Em cada salão estava representada uma época. Havia esqueletos e desenhos. "O professor era fotógrafo e também sabia desenhar e fez várias expedições na região. Neste campo que vemos aqui, perto de Quequén, ele encontrou uma fazenda cuja porteira e as vigas da casa eram feitas de ossos de baleia. Com certeza encontraram esses animais na praia, mortos, e acharam um luxo usar a ossada para decorar a propriedade. Podemos imaginar o matuto, que nunca na sua vida tinha visto uma baleia, que chega a cavalo na beira do mar e encontra esse maciço largado na areia e pensa que é um peixe do inferno." A tarde estava gelada e nublada. "Aqui nós vemos uma típica oca; os índios usavam esses couros porque assim eles esqueciam o vento do sul." Por fim atravessaram um corredor com fotos e quadros da construção da ferrovia. No salão do meio, numa vitrine, era exibido o pássaro. Parecia um abutre e tinha um olhar feroz e as asas se mexiam como se respirasse. Estava acorrentado e Carola abriu a caixa de cristal e o pegou. Russo o segurou com as duas mãos, espantado por não pesar nada. Leve como o ar, disse, e Carola sorriu. Foram para o quintal no meio das árvores. Para onde se olhasse era só campo e o céu se estendia sem fim. Russo segurou o pássaro no alto e depois o soltou suavemente. Primeiro voou baixo, em círculos, com um bater de asas profundo, e de repente embicou para a tempestade e se afastou. Voltou dali a um tempo e com movimentos lentos desceu no quintal e pousou no ombro de Carola. Russo abriu seu peito e começou a explicar o mecanismo de relojoaria que o fazia funcionar. A partir desse dia, Russo habituou-se a ir ao Museu quando terminava seu trabalho no Tiro Federal. Passeava entre as tendas e sempre acabava na sala do pássaro. Carola ia com ele, silenciosa e tranquila. Uma noite não saiu de lá e desde então Carola e ele viveram juntos. Montou uma pequena oficina e começou a trabalhar numa réplica do pássaro. Uma manhã ela estava sentada na porta quando viu chegar um sujeito num Buick. Procurava por Russo, tinha fugido do manicômio. Ele não opôs resistência, se deixou levar pelo homem que usava terno marrom. A réplica do pássaro estava ainda por terminar. Agora é exibida numa vitrine menor; tem o peito aberto e as engrenagens e as rodinhas de relógio parecem o desenho de uma alma. Às vezes abre o bico, como se lhe faltasse o ar, e gira a cabeça na direção da janela. Aquilo que não encontrou sua forma, diz Ríos, sofre a falta de verdade.
3
Junior viajou a noite toda e ao chegar reconheceu a casa como se a tivesse visto num sonho. A fachada branca, a entrada alta, a sucessão interminável de janelas transparentes. Um aldravão com garra de urso soou na moldura da porta. A vila estava vazia e ele só viu uma moça que espiava por uma janela suspendendo uma cortina bordada. A velha senhora que veio abrir-lhe a porta era Carola Lugo. Parecia frágil e tinha uns olhos indecisos, de cega. Tinha se postado a um lado, sem abrir de todo, e pela fresta ele viu o longo corredor que levava aos fundos. "Eu estava esperando pelo senhor", disse, "Ana me avisou que viria." Ao entrar, Junior imaginou que jamais sairia desse lugar e que iria perder-se no relato da mulher. Cruzaram um longo corredor e chegaram à primeira sala. O alto pé direito e as janelas estreitas davam a ela um aspecto remoto. Carola abarcou o lugar com um gesto e pediu que se sentasse. Junior ficou num divã comprido e baixo; ela sentou-se de costas para a janela e para um velho relógio de pêndulo.
Russo viveu aqui, disse ela. Mas ele já não se chama assim, agora é outro, usa um nome europeu; é preciso se proteger neste país, onde perseguem as pessoas pelo seu passado. Agora vou lhe mostrar a casa, disse depois. Assim o senhor vai ver.
Pela janela via-se um terreno baldio e uma cerca de arame. Junior percebeu que a arquitetura do lugar era estranha, como se todos os cômodos dessem para o mesmo ponto ou fossem circulares. A tarde estava gelada e nublada. Do outro lado da sala, numa gaiola de vidro, havia uma monstruosa reconstrução do que poderia-se supor ter sido um pássaro. Tinha quase um metro de altura e balançava o pescoço com movimentos lentos. A loucura do pássaro vai nos perseguir e será nossa perdição, disse Carola. O animal se agitava, revoando e debatendo-se contra as barras. Está cego, disse ela. Ao lado uma boneca movia os braços e tentava sorrir. Junior teve a impressão de já ter visto aquilo e a impressão de que era sinistra demais para ser artificial. Russo era o maior especialista em autômatos de toda a Europa. Veja, disse ela. Abriu um armário. Pareciam insetos de arame. Ele os fez para mim, estes são filhos do amor. Passei horas a fio numa estação de trens esperando vê-lo passar, disse, e sorriu, eu, uma mulher de setenta anos. Era comovente ouvi-la falar, porque parecia amar uma sombra, um homem que havia passado em sua vida por um instante e a deixara na saudade. Numa das janelas havia uma luneta e inclinando-se sobre ela podia-se ver a planície interminável e ao fundo o reflexo da lagoa de Carhué. A caçula foi para Buenos Aires, disse Carola, e desde então eu moro sozinha nesta casa, meu irmão às vezes vem me visitar, mas ele ficou muito transtornado com tudo o que aconteceu. Falava com amabilidade e sossego, como se Junior fosse seu confidente, o primeiro que por fim chegara para ouvir a verdade. Eles me mantêm confinada neste lugar porque eu conheço a história de Russo. Ele se casou comigo e agora eu sofro as consequências. Vieram procurá-lo e ele fugiu. Procuraram sem motivo. Mas ele não morreu, simplesmente foi se refugiar numa ilha do Tigre. Agora ele tem um nome diferente. Já não é o Russo, ou talvez agora seja o Russo e antes ele se fizesse chamar de outra maneira. Na realidade, naquela tarde quem veio procurá-lo era um agente da polícia disfarçado. Um civil, todo de marrom. Temos tudo registrado. O passado vive. Olhe aqui, está vendo este mapa, se o senhor seguir este riacho vai achar a ilha. Não diga a ele que me viu. O senhor precisa encontrá-lo. A história dos autômatos sempre interessara a Macedonio Fernández. Por isso se conheceram quando a senhora dele faleceu. Na caixa de vidro Junior viu o pássaro mais uma vez e o imaginou voando com um rígido bater de asas na lonjura. Ela vivia em meio a essas réplicas. Um mundo de loucura e de imagens mecânicas. Eu descobri embaixo desta sala, a algumas centenas de pés, duas grandes galerias, antigos cemitérios das tribos pampas que povoaram este distrito no século passado. Essas necrópoles não são raras na província e principalmente em Bolívar. Houve grandes matanças por essas partes. Alguns moradores ainda se lembram. Num canto havia uma escada que levava a um porão e nesse lugar havia um ponto de luz. Era um buraco refletido num caleidoscópio e dali podia-se ver outra vez a planície e a lagoa de Carhué. O senhor está vendo este raio de sol, disse Carola. É o olho da máquina. Veja, disse ela. No círculo de luz ele viu o Museu e no Museu viu a máquina sobre o estrado preto. Sabe o que está acontecendo. É, disse Junior, são réplicas. Eram réplicas, disse ela, mas as destruíram. O pássaro agitava as asas e esfregava o bico com um baralho de folhas secas. Então nada é verdade, disse Junior. Ela sorriu. Macedonio veio para esta casa, fugindo da dor que a perda da mulher lhe causou. Elena morreu e Macedonio abandonou tudo e encontrou-se com Russo e passou um tempo aqui. Russo tinha muitas dificuldades com o idioma e sua ilusão era voltar para a Europa. Macedonio era o único que o entendia e conversava com ele. Eles passaram muitos dias nesta casa porque Macedonio queria que o convencessem. Eles cruzaram um corredor e chegaram a uma galeria fechada com pequenas janelas de vidro esmerilado que impediam a visão exterior. Pensava que se saísse para o campo à noite e espiasse pelas janelas iluminadas ia ver as cenas que o fariam recuperar a mulher perdida. Russo quis construir-lhe um mundo à altura dessa ilusão, para que aos poucos pudesse voltar ao passado. Construiu uma realidade como se fosse uma casa, para que Macedonio vivesse ali. O desespero o havia feito abandonar tudo, inclusive seus filhinhos queridos, e veio para o campo. Ficou vagando por aí com os maltrapilhos nos trens de carga que iam para o sul. Viveu um tempo na fazenda dos Carril, no município de 25 de Maio, e por fim desembarcou em Bolívar e veio até a casa num carro alugado. A máquina acabou de ser montada nesse lugar, disse, e sacudiu o braço em direção ao galpão no quintal. No início tratava-se de autômatos. O automaton vence o tempo, a pior das pragas, a água que gasta as pedras. Depois descobriram os nódulos brancos, a matéria viva onde se gravaram as palavras. Nos ossos a linguagem não morre, persiste a todas as transformações. Eu vou fazer que o senhor veja esse lugar onde os nódulos brancos se abriram, é uma ilha, no braço de um rio, povoada de ingleses e de irlandeses e de russos e de gente que chegou de todas as partes, perseguidos pelas autoridades, jurados de morte, exilados políticos. Eles se esconderam ali, anos a fio; nas margens da ilha foram construídas cidades e estradas e eles exploraram a terra seguindo o curso do rio e agora nessa região todas as línguas se misturaram, pode-se escutar todas as vozes; ninguém chega até lá ou quem chega não quer voltar. Porque ali estão refugiados os mortos. Só um voltou de lá e está vivo, Boas, que veio contar o que viu nesse reino perdido. Tome, disse ela. Ouça, agora o senhor vai ver. Talvez este relato seja o caminho que o leve até Russo.
A ilha
1
Sentimos saudades de uma linguagem mais primitiva que a nossa. Os antepassados falam de uma época onde as palavras se estendiam com a serenidade da planície. Era possível manter o rumo e vagar durante horas sem perder o sentido, porque a linguagem não se bifurcava e se ramificava, até transformar-se neste rio onde estão todos os leitos e onde ninguém pode viver, porque ninguém tem pátria. A insônia é a grande doença da nação. O rumor das vozes é contínuo e suas mudanças soam dia e noite. Parece uma turbina movida com a alma dos mortos, diz o velho Berenson. Não há lamentos, só mutações intermináveis e significações perdidas. Giros microscópicos no coração das palavras. A memória está vazia, porque a gente sempre esquece a língua em que reteve as lembranças.
2
Quando dizemos que a linguagem é instável, não estamos falando de uma consciência dessa modificação. É preciso sair de lá para perceber a mudança. Se estamos dentro, achamos que a linguagem é sempre a mesma, uma espécie de organismo vivo que sofre metamorfoses periódicas. A imagem mais divulgada é a de um pássaro branco que em seu voo vai mudando de cor. O profundo bater das asas do pássaro na transparência do ar dá uma falsa ilusão de unidade na passagem dos tons. O ditado diz que o pássaro voa interminavelmente e em círculos, porque vazaram seu olho esquerdo e ele procura ver a outra metade do mundo. Por isso ele nunca poderá pousar, diz o velho Berenson, e ri com a caneca de cerveja de novo contra seus bigodes, porque não encontra um pedaço de terra onde apoiar o pé direito. Caolho haveria de ser o quero-quero, disse depois, para perder-se no ar e vir parar nesta ilha de merda. Não comece, Shem, diz Teynneson tentando se fazer ouvir, no zum-zum do bar, em meio aos acordes do piano e às vozes dos que cantam Three quarks for Muster Mark!, ainda temos que ir para o enterro de Pat Duncan e eu não quero ser obrigado a te levar num carrinho de mão. Esse é o sentido do diálogo, que se repete como uma piada privada toda vez que eles estão prestes a sair, mas nem sempre usam a mesma linguagem. Apoiando-se nos braços e muito altivos cruzam o salão até a saída. A cena se repete, mas sem saber eles falam do pássaro caolho e do enterro de Pat às vezes em russo, às vezes num francês do século XVIII. Dizem o que querem e tornam a dizer a mesma coisa, mas nem por sonho imaginam que ao longo dos anos foram usando perto de sete línguas para rir da mesma piada.
Assim são as coisas na ilha.
3
"A linguagem se transforma conforme ciclos descontínuos que reproduzem a maior parte dos idiomas conhecidos (registra Turnbull). Os habitantes falam e entendem imediatamente a nova língua, mas esquecem a anterior. Os idiomas que puderam ser identificados foram o inglês, o alemão, o dinamarquês, o espanhol, o norueguês, o italiano, o francês, o grego, o sânscrito, o gaélico, o latim, o saxão, o russo, o flamenco, o polonês, o esloveno, o húngaro. Duas das línguas usadas são desconhecidas. Passam de uma para a outra, mas não podem concebê-las como idiomas distintos, e sim como etapas sucessivas de uma língua única." Os ritmos são variáveis, às vezes um idioma permanece semanas, às vezes um dia. Lembra-se o caso de uma língua que se manteve quieta durante dois anos. Depois sucederam-se quinze modificações em doze dias. Tínhamos esquecido as letras de todas as canções, disse Berenson, mas não a melodia, e não houve modo de cantar uma canção. As pessoas ficavam nos pubs cantando em coro como guardas escoceses, todos bêbados e alegres, marcando o ritmo com as canecas de cerveja enquanto buscavam na memória alguma letra que batesse com a música. A melodia persiste e é um ar que corta a ilha desde o princípio dos tempos, mas de que nos serve a música se não podemos cantar, um sábado à noite, no bar do Humphry, Chimden Earwicker, quando estamos todos bêbados e já nos esquecemos que na segunda-feira temos que voltar ao trabalho.
4
Na ilha acredita-se que os velhos, ao morrer, encarnam nos netos, razão pela qual não podem encontrar-se os dois vivos ao mesmo tempo. Como apesar de tudo isso ocorre algumas vezes, quando um velho se encontra com seu neto, antes de poder falar com ele, deve entregar-lhe uma moeda. Nessa teoria das reencarnações fundamentou-se a linguística histórica. A língua é como ela é, porque acumula os resíduos do passado em cada geração e renova a lembrança de todas as línguas mortas e de todas as línguas perdidas e aquele que recebe essa herança já não pode esquecer o sentido que essas palavras tiveram nos dias dos antepassados. A explicação é simples mas não resolve os problemas que a realidade formula.
5
O caráter instável da linguagem define a vida na ilha. Nunca se sabe quais as palavras com que os estados presentes serão nomeados no futuro. Às vezes chegam cartas escritas com signos que já não são compreendidos. Às vezes um homem e uma mulher são amantes apaixonados numa língua e numa outra são hostis e quase desconhecidos. Grandes poetas deixam de sê-lo e se transformam em nada e em vida veem surgir outros clássicos (que também são esquecidos). Todas as obras-primas duram o que dura a língua em que foram escritas. Só o silêncio persiste, claro como a água, sempre igual a si mesmo.
6
A vida do dia começa ao amanhecer e, se a lua tiver brilhado até a alvorada, os gritos dos jovens na ladeira podem ser ouvidos já antes da aurora. Inquietos na noite povoada de espíritos, gritam uns aos outros tentando adivinhar o que acontecerá com o sol alto. Diz a tradição que a linguagem se modifica nas noites de lua cheia, mas esta é uma crença desmentida pelos fatos. A linguística científica não aceita nenhuma relação entre os fenômenos naturais, como as marés ou os ventos, e as mutações da linguagem. Os homens da vila contudo continuam respeitando os velhos rituais e a cada noite de lua cheia esperam que por fim chegue a língua de sua mãe.
7
Na ilha não se conhece a imagem do que está fora e a categoria de estrangeiro não é estável. Pensam a pátria conforme a língua. ("A nação é um conceito linguístico.") Os indivíduos pertencem à língua que todos falam no instante em que nascem, mas ninguém sabe quando ela voltará a estar ali. "É assim que surge no mundo (disseram a Boas) algo que todos conhecem na infância e onde nunca ninguém esteve: a pátria." Definem o espaço em relação ao rio Liffey que corta a ilha de norte a sul. Mas Liffey é também o nome que designa a linguagem e no rio Liffey estão todos os rios do mundo. O conceito de fronteira é temporal e seus limites são conjugados como os tempos de um verbo.
8
Estamos em Edemberry Dubblenn DC, disse o guia, a capital que combina três cidades. No presente momento a cidade vai de leste a oeste, seguindo a margem esquerda do Liffey pelos bairros e guetos japoneses e antilhanos, partindo da nascente do rio Wiclow até Island Bridge, um pouco abaixo de Chapelizod, onde segue seu curso. A cidade próxima vai se abrindo, como se construída em potencial, sempre futura, com ruas de ferro e lâmpadas de luz solar e androides desativados nos galpões da Scotland Yard. Os prédios surgem da neblina, sem forma fixa, nítidos, cambiantes, ocupados quase que exclusivamente por mulheres e mutantes.
Do outro lado, na parte oeste, subindo pela zona do porto, está a cidade velha. Ao olhar o mapa é preciso ter em conta que a escala está construída à velocidade média de um quilômetro e meio por hora de caminhada. Um homem sai de 7 Eccles Street às oito da manhã e sobe a Westland Row e aos lados do empedrado estão as acéquias que vão até a beira do rio, por onde sobe o canto das lavadeiras. Aquele que sobe a ladeira em direção à taverna de Baerney Kiernam tenta não ouvir o canto e bate com a bengala nas grades dos porões. Cada vez que pega uma nova rua, as vozes envelhecem, as palavras antigas estão como que gravadas nas paredes dos edifícios em ruínas. A mutação tomou conta das formas exteriores da realidade. "Aquilo que ainda não é define a arquitetura do mundo", pensa o homem e desce à praia que circunda a baía. "Vê-se ali, à beira da linguagem, como a casa da infância na memória."
9
A linguística é a ciência mais desenvolvida na ilha. Durante gerações os pesquisadores vêm trabalhando no projeto de definir um dicionário que incorpore as variantes futuras das palavras conhecidas. Precisam definir um léxico bilíngue que permita comparar uma língua com a outra. Imagine-se (diz o relatório de Boas) um viajante inglês que chega a um país estrangeiro e no hall da estação de trens, perdido em meio a uma multidão desconhecida, se detém para consultar um pequeno dicionário de bolso à procura de uma expressão correta. Mas a tradução é impossível, porque somente o uso define o sentido e na ilha sempre se conhece uma língua de cada vez. Os que persistem na elaboração do dicionário já o consideram um manual de adivinhação. Um novo Livro das Mutações concebido, explicou Boas, como um dicionário etimológico que faz a história do porvir da linguagem.
Na história da ilha houve um único caso de um homem que conheceu dois idiomas ao mesmo tempo. Seu nome era Bob Mulligan e dizia sonhar com palavras incompreensíveis que para ele tinham um sentido transparente. Falava como um místico e escrevia frases desconhecidas e dizia que essas eram as palavras do futuro. Nos Arquivos da Academia sobraram alguns fragmentos dos textos que ele escreveu e inclusive pode-se ouvir a gravação da voz aguda e lunática de Mulligan, que conta um relato que começa assim: "Oh New York City, sim, sim, a cidade de Nova York, toda a família foi para lá. O navio tinha se enchido de piolhos e foi preciso queimar os lençóis e dar banho nas crianças com água misturada com acaricida. Cada bebê precisava ficar afastado dos outros, porque o cheiro os fazia chorar se ficassem juntos. As mulheres usavam um lenço de seda no rosto, como damas beduínas, embora todas tivessem o cabelo ruivo. O avô do avô foi policeman no Brooklyn e uma vez matou com um tiro um manco que estava a ponto de degolar a caixa de um supermarket". Ninguém sabia o que ele estava dizendo e Mulligan escreveu esse relato e outros relatos nessa língua desconhecida e depois um dia disse que tinha deixado de ouvir. Vinha ao bar e se sentava ali, nessa ponta do balcão, para beber cerveja, surdo como uma porta, e se embebedava aos poucos, com o rosto envergonhado de um homem arrependido de ter chamado a atenção. Nunca mais quis falar daquilo que tinha dito e viveu sempre um tanto à parte, até morrer de câncer aos cinquenta anos. Coitado do Bob Mulligan, disse Berenson, quando moço era um cara extrovertido e muito popular e se casou com a Belle Blue Boylan e dali a um ano a mulher morreu afogada no rio e seu corpo nu apareceu na ribeira leste do Liffey, na outra margem. Mulligan nunca se refez nem tornou a se casar e viveu a vida inteira sozinho. Trabalhava de linotipista na gráfica do Congresso e vinha conosco ao bar e gostava de apostar nos cavalos, até que uma tarde começou a contar essas histórias que ninguém entendia. Eu acho, disse o velho Berenson, que a Belle Blue Boylan foi a mulher mais linda de Dublin.
Todas as tentativas de construir uma língua artificial foram perturbadas por uma experiência temporal da estrutura. Não conseguiram construir uma linguagem exterior à linguagem da ilha, porque não podem imaginar um sistema de signos que persista sem mutações. Se a + b é igual a c, essa certeza serve apenas por um tempo, porque num espaço irregular de dois segundos a já é -a e a equação é outra. A evidência vale o que a proposição demora para ser formulada. Na ilha, ser rápido é uma categoria da verdade. Nessas condições, os linguistas da Área-Beta do Trinity College conseguiram o que parece impossível: quase fixam num paradigma lógico a forma incerta da realidade. Definiram um sistema de signos cuja notação se transforma com o tempo. Quer dizer, inventaram uma linguagem que mostra como é o mundo, mas que não permite nomeá-lo. Nós conseguimos estabelecer um campo unificado, disseram a Boas, agora só nos falta que a realidade incorpore alguma de nossas hipóteses à linguagem.
Até o momento, sabem que transcorreram dezessete ciclos, mas supõem que existe uma potencialidade quase infinita, calculada em oitocentos e três (porque oitocentas e três são as línguas conhecidas no mundo). Se em quase cem anos, desde que em 1939 iniciou-se o registro das mudanças, foram detectadas dezessete formas distintas, os mais otimistas imaginam que o círculo pode completar-se em doze anos. Nenhum cálculo é seguro, porque a duração irregular dos ciclos faz parte da estrutura da língua. Existem tempos lentos e tempos rápidos, como no leito do Liffey. Os mais afortunados, diz o provérbio, navegam em águas tranquilas, os melhores vivem em tempos velozes, onde o sentido dura o que dura a cólera de um galo. Os jovens mais radicais do grupo Trickster da Área-Beta do Trinity College riem desses provérbios idiotas. Pensam que, enquanto a linguagem não encontrar a sua margem final, o mundo será apenas um conjunto de ruínas e que a verdade é como os peixes que ficam boqueando na lama até morrer quando a seca do verão faz baixar o volume do Liffey, até se transformar num riacho de águas escuras.
10
Eu já disse que a tradição diz que os antepassados falam de um tempo em que a língua era uma planície onde se podia andar sem sobressaltos. As gerações, afirmam os antigos, herdavam os mesmos nomes para as mesmas coisas e podiam legar documentos escritos com a certeza de que tudo o que escreviam seria legível nos tempos futuros. Alguns repetem (sem compreendê-lo) um fragmento daquela língua original que sobreviveu ao longo dos anos. Boas diz que os ouviu recitar esse texto como se fosse uma piada de bêbados, de modo que a vocalização era pastosa e as palavras estavam cortadas por risos e expressões que ninguém sabia se formavam ou não parte do antigo sentido. O fragmento chamado Sobre a serpente, Boas afirma que era assim: "Começou na época dos grandes ventos. Ela sente que arrancam seu cérebro e diz que seu corpo está feito de tubos e ligações elétricas. Fala sem parar e às vezes canta e diz que lê meu pensamento e só pede que eu fique por perto e que não a abandone na areia. Diz que é Eva e que a serpente é Eva e que ninguém nos séculos dos séculos se atreveu a dizer essa verdade tão pura e que só Maria Madalena disse isso ao Cristo antes de lavar seus pés. Eva é a serpente, a mutação interminável, e Adão está só, sempre esteve só. Diz que Deus é a mulher e que Eva é a serpente. Que a árvore do bem e do mal é a árvore da linguagem. Só depois de comer a maçã é que eles vão falar. Isso é o que ela diz quando não canta". Para muitos é um texto religioso, um fragmento do Gênese. Para outros trata-se apenas de uma oração que persistiu na memória à permutação das línguas e que foi recordado como um jogo divinatório. (Os historiadores afirmam tratar-se de um parágrafo da carta que Nolan deixou antes de se matar.)
11
Algumas seitas genealógicas asseguram que os primeiros habitantes da ilha são desterrados, que foram enviados para cá subindo o rio. A tradição fala em duzentas famílias confinadas num campo multirracial nos arredores de Dalkey, ao norte de Dublin, apanhados numa só busca pelos bairros e subúrbios anarquistas de Trieste, Tóquio, Cidade do México e Petrogrado.
Embarcados no Rosevean, um lúger com hélice Pohl-A, na baía do norte, segundo Teynneson, sob as rajadas gélidas do vento de janeiro.
A experiência de confinar exilados na ilha já tinha sido utilizada outras vezes para enfrentar rebeliões políticas, mas sempre com indivíduos isolados, especialmente para reprimir os líderes. O caso mais lembrado foi o de Nolan, um militante do grupo de resistência gaélico-celta que se infiltrou no gabinete da rainha e chegou a ser o homem de confiança de Möller no comando do planejamento propagandístico. Foi descoberto porque usava os boletins meteorológicos para enviar mensagens cifradas aos habitantes dos guetos irlandeses de Oslo e Copenhagen. A história diz que Nolan foi descoberto por acaso, quando um pesquisador do MIT de Boston processou num computador as mensagens emitidas durante um ano pela agência meteorológica, com intenção de estudar as alterações do clima no leste da Europa. Nolan foi desterrado e chegou à ilha depois de navegar cerca de seis dias à deriva e viveu absolutamente só durante quase cinco anos, até que se suicidou. Sua odisseia é uma das grandes lendas na história da ilha. Só mesmo o filho da puta de um cabeçudo irlandês pra conseguir sobreviver todo esse tempo isolado como uma ratazana nesta imensidão e cantando contra as ondas, Three quarks for Muster Mark, aos berros, na praia, sempre procurando uma pegada humana na areia, disse o velho Berenson. Só mesmo alguém como o Jim para fabricar uma mulher para conversar nesses anos intermináveis de solidão.
O mito diz que com os restos do naufrágio ele construiu um gravador de dupla entrada, com o qual era possível improvisar conversas usando o sistema dos jogos linguísticos de Wittgenstein. Suas próprias palavras eram armazenadas nas fitas e reelaboradas como respostas a perguntas pontuais. Ele o programou para que falasse como uma mulher e falou com ela em todas as línguas que sabia, e no fim podia-se pensar que a mulher tinha chegado a amar Nolan. (Ele por seu lado a amou desde o primeiro dia porque pensava que ela era a mulher do seu amigo Italo Svevo, Livia Anna, a mais bela madonna de Trieste, com aquele belíssimo cabelo ruivo que fazia pensar em todos os rios do mundo.)
Passados três anos sozinho na ilha, as conversas se repetiam ciclicamente e Nolan se enfadava e o gravador começou a misturar as palavras ("Heremon, nolens, nolens, brood our pensies, brume in brume", dizia por exemplo) e Nolan lhe perguntava "Como?", "O quê?" e nessa época começou a chamá-la de Anna Livia Plurabelle. No fim do sexto ano de exílio, Nolan perdeu as esperanças de ser resgatado e começou a não dormir e a ter alucinações e a sonhar que passava a noite em claro ouvindo o sussurro etéreo e doce da voz de Anna Livia.
Ele tinha um gato e uma tarde quando o gato entrou no matagal e não voltou mais, Nolan escreveu uma carta de despedida, apoiou o cotovelo direito na mesa, para que seu pulso não tremesse, e deu um tiro na cabeça. Os primeiros a desembarcar do Rosevean deram com a voz da mulher que continuava falando no gravador bifocal. Misturava muito pouco as línguas, segundo Boas, e era possível compreender perfeitamente o desespero que o suicídio de Nolan tinha lhe causado. Estava sobre uma pedra, de frente para a baía, feita de arames e fitas vermelhas e se lamentava com um suave sussurro metálico.
Tenho tecido e desmanchado a trama do tempo, dizia, mas ele se foi e já não vai voltar. Um corpo é um corpo, só as vozes servem para amar. Há anos que estou sozinha aqui, na ribeira de todos os rios, e espero a noite chegar. Sempre é dia, nesta latitude tudo é tão lento, a noite nunca chega, sempre é dia, o entardecer tarda tanto, estou cega, ao sol, quero arrancar "a faixa de ferro" que cinge minha fronte, quero trazer para cá "a escuridão concentrada da África". A vida vive ameaçada pelos caçadores (disse Nolan), instintivamente é preciso fabricar, como as abelhas seus alvéolos, um sentido. Incapaz de considerar meu próprio enigma, digo: não é seu próprio ego o que conta, e sim a sua Musa, seu canto universal.
12
Se a lenda for verdadeira, a ilha foi um grande assentamento de exilados, na época da repressão política que se seguiu à contraofensiva do IRA e à queda do Pulp-KO. Mas nenhum historiador tem o menor vestígio desse passado ou do tempo em que Anna Livia esteve sozinha na ribeira ou da época em que chegaram as duzentas famílias e não se encontra nenhum rastro que ateste os fatos. A única fonte escrita na ilha é o Finnegans Wake, que todos consideram um livro sagrado, porque sempre pode ser lido, seja qual for o estado da língua em que se encontrem.
Na realidade o único livro que dura nesta língua é o Finnegans, disse Boas, porque está escrito em todos os idiomas. Reproduz as permutações da linguagem em escala microscópica. Parece um modelo em miniatura do mundo. Ao longo do tempo eles o leram como um texto mágico que encerra as chaves do universo e também como uma história da origem e da evolução da vida na ilha.
Ninguém sabe quem o escreveu, nem como chegou até aqui. Ninguém recorda se foi escrito na ilha ou se estava na bagagem dos primeiros exilados. Boas viu o exemplar que é conservado no Museu, fechado numa caixa de vidro e como que suspenso numa luz nuclear. É uma velhíssima edição numerada da Faber and Faber, que tem mais de trezentos anos e na qual há notas manuscritas e um calendário com a lista dos mortos de uma família irlandesa do século XX. Esse exemplar serviu de fonte para todas as cópias que circulam na ilha.
Muitos acreditam que o Finnegans é um livro de cerimônias fúnebres e o estudam como o texto que funda a religião na ilha. O Finnegans é lido nas igrejas como uma Bíblia e é usado pelos pastores presbiterianos e pelos sacerdotes católicos para predicar em todas as línguas. No Gênese fala-se de uma maldição de Deus que provocou a Queda e transformou a linguagem na paisagem abrupta de hoje. Bêbado, Tim Finnegan caiu no porão por uma escada, que imediatamente passou de ladder para latter e de latter saiu litter e da desordem a letter, a mensagem divina. A carta é encontrada num monte de lixo por uma galinha que cisca. Está assinada com uma mancha de chá e a prolongada permanência entre o lixo danificou seu texto. Tem buracos e borrões e é tão difícil de interpretar, que os eruditos e os sacerdotes conjecturam em vão sobre o sentido verdadeiro da Palavra de Deus. A carta parece escrita em todas as línguas e muda constantemente sob os olhos dos homens. Esse é o Evangelho e a lixeira de onde vem o mundo.
Os comentários do Finnegans definem a tradição ideológica da ilha. O livro é como um mapa e a história se transforma conforme o percurso escolhido. As interpretações se multiplicam e o Finnegans muda como muda o mundo e ninguém imagina que a vida do livro possa parar. No entanto, no fluir do Liffey há uma recorrência a Jim Nolan e Anna Livia, sozinhos na ilha, antes da carta final. Esse é o primeiro núcleo, o mito da origem tal como é transmitido pelos informantes.
Em outras versões o livro é a transcrição da mensagem de Anna Livia Plurabelle, que lê os pensamentos de seu marido (Nolan) e fala com ele depois de morto (ou adormecido), única na ilha durante anos, abandonada numa pedra, com as fitas vermelhas e os cabos e a armação metálica sob o sol, murmurando na praia vazia até que chegam as duzentas famílias.
13
Todos os mitos terminam ali e também este relatório. Saí da ilha há dois meses, disse Boas, e ainda ecoa em mim a música dessa língua que é como um rio. Aquele que ouvir o canto das lavadeiras nas margens do Liffey não poderá sair, dizem por lá, e eu não consegui resistir à doçura da voz de Anna Livia. Por isso hei de voltar à cidade dos três tempos e à baía onde repousa a mulher de Bob Mulligan e ao Museu do Romance onde está o Finnegans, sozinho numa sala, numa caixa preta de cristal. Eu também irei cantar na taverna de Humphry Earwicker, batendo o punho contra a madeira da mesa e bebendo cerveja, uma canção que fala do pássaro caolho que voa sobre a ilha sem parar.
IV
Na margem
1
O Delta bordeava a cidade e acompanhar os desvios dos canais e os afluentes dos rios principais, com as ilhas e os ribeirões e as várzeas, era como olhar o mapa de um continente perdido. Junior carregava um plano e quando chegou ao Tigre fez algumas averiguações e num dos terminais da Inter-ilhas lhe indicaram o caminho. Contratou um prático da companhia de balsas e alugaram uma lancha no Rowing Club. Se os cálculos estivessem corretos, a colônia de Russo ficava num meandro do Pajarito, antes de entrar em rio aberto. Tinham que navegar pelo Carapachay e sair nos rápidos do norte. Conforme ia adentrando no Paraná de las Palmas, Junior se sentia mais seguro, como se por fim cruzasse uma fronteira que o levava ao passado e estranhamente o aproximava de sua filha. Passadas duas horas a vegetação se tornou mais densa e eles passaram pelas ruínas de um laboratório que indicava a proximidade da fábrica de Russo. Contornaram uma ilhota de juncos e um areeiro encalhado e saíram outra vez em águas abertas. Ao fundo, apagada pela neblina, via-se uma terra alta, com ribanceiras cortadas e alicerces de concreto. No centro, suspensa sobre pilotis de pedra e rodeada por uma cerca de ferro, erguia-se uma construção fortificada, com amplas janelas circulares que davam para o parque e para o rio. No píer um homem fez sinal com o chapéu para que atracassem. Era um ajudante de Russo, que veio receber Junior e o ajudou a sair da lancha segurando seu braço com força e indicou-lhe a trilha que subia até a casa. O edifício ficava num descampado e era preciso cruzar um pequeno bosque de salgueiros e seguir por uma trilha de pedras, para chegar até a cerca de arame que rodeava a casa.
- A ilha de Santa Marta, do lado de cá fica o ribeirão Biguá. Esta região sempre foi ocupada por estrangeiros - explicou-lhe. Falava com um leve sotaque que mais parecia um defeito de nascença e mostrava-se amável e prestativo. Cruzaram o portão e subiram até o jardim. Nesse momento, caminhando com passos agitados, viu aproximar-se um homem alto e magro que cruzava o parque com a mão estendida.
- Eu sou Russo. O senhor é o jornalista, peço-lhe discrição e que não tire fotografias. Sente-se aqui comigo. - Mostrou-lhe uma poltrona de vime na varanda que rodeava a casa. - Eles - disse - acham que a desativaram, mas isso é impossível, ela está viva, é um corpo que se expande e se retrai e capta o que acontece. Veja - disse -, há uma torneira ali no jardim, quase à altura do chão, que puxa uma água fresca, mesmo em pleno verão, fica junto à cerca de alfenas e eu às vezes imagino que me deito na grama para beber dali, mas eu nunca faço isso e desse modo mantenho viva uma possibilidade, entende, uma forma disponível, essa é a lógica da experiência, sempre o possível, o que está por vir, uma rua no futuro, uma porta entreaberta numa pensão perto de Tribunales e o tanger de um violão. Não há nenhum defeito, na realidade trata-se de uma fase, a fase 3 ou área 3, estava previsto. Produziu-se um recuo, uma retirada estratégica. Nós, disse o Engenheiro, já consideramos a vida como um mecanismo cujas funções mais importantes são fáceis de compreender e de reproduzir, um mecanismo que podemos fazer com que funcione num ritmo mais rápido ou mais lento e portanto mais ou menos intenso. Um relato não é outra coisa senão a reprodução da ordem do mundo numa escala puramente verbal. Uma réplica da vida, caso a vida fosse feita só de palavras. Mas a vida não é feita só de palavras, infelizmente também é feita de corpos, ou seja, dizia Macedonio, de doença, de dor e de morte. A física se desenvolve com tamanha velocidade, disse de repente, que em seis meses todo o conhecimento já envelheceu. São alucinações, formas que surgem na memória e quando as recordamos já se perderam. Tinha padecido de uma grave doença e tinha deixado de fingir que era europeu e a partir do momento em que se naturalizou todos já acharam que era austríaco, húngaro, alemão que fingia ser argentino e o faziam passar por um físico nazista escondido no Tigre, um auxiliar de Von Braun, um discípulo de Heidelberg. Não se deve tentar ser uma coisa para parecer outra, entende. Se o senhor é anarquista, banque o anarquista, assim vão tomá-lo por um policial disfarçado e nunca irá preso. Se a gente é o que é, todo mundo pensa que é outro. Inclusive sabia muito bem que agora andavam dizendo que ele na realidade era Richter, o físico nuclear que tinha enganado o general Perón vendendo-lhe o segredo da bomba atômica argentina, mas não, disse, eu sou Russo. Tinha estudado a personalidade de Richter, porque o divertia a fraude que ele fora capaz de construir, um trabalho de virtuose, mas ele era Russo, um inventor argentino que ganhava a vida vendendo pequenos artefatos práticos, patentes baratas de engenhocas que serviam para aumentar a demanda nas lojas de ferragens e nos armazéns de secos e molhados das cidadezinhas do interior. Por exemplo, olhe aqui, disse e mostrou-lhe um relógio de bolso e ao abri-lo e apertar o botão da corda, o mostrador se transformou num tabuleiro de xadrez magnético com peças microscópicas que se refletiam ampliadas no espelho com lente de aumento da tampa côncava. A primeira máquina de jogar xadrez produzida na Argentina, disse Russo, em La Plata, para ser mais exato. Aproveita as engrenagens e as rodinhas do relógio para programar a partida e as horas são a memória. Tem doze alternativas por jogada e com este aparelhinho eu ganhei de Larsen daquela vez que ele esteve em Mar del Plata para jogar no Torneio dos Mestres, em 1959. Apertou o botão da corda e o relógio voltou a ser um relógio. Inventar uma máquina é fácil, se a pessoa conseguir modificar as peças de um mecanismo anterior. As possibilidades de transformar aquilo que já existe numa outra coisa são infinitas. Eu não poderia fazer nada a partir do nada, nisso eu não sou Richter. Ninguém pode comparar a minha descoberta com a invenção de Richter, que construiu uma usina atômica para Perón somente com palavras, com a única realidade do seu sotaque alemão. Disse que era um cientista nuclear que possuía o segredo da bomba e Perón acreditou e caiu como um patinho e mandou construir prédios subterrâneos, laboratórios inúteis com tubos e turbinas que nunca foram usados. Um cenário maravilhoso por onde Perón passeava enquanto Richter, com um forte sotaque alemão, explicava seus planos malucos de realizar a fissão nuclear a frio. Fez o general engolir a história, ele era apenas um professorzinho de física do ginásio que nem alemão era, na realidade era suíço, e Perón, que passou a vida passando os outros para trás, que passava todo o tempo fazendo acenos e sinais e falando com duplo sentido, acreditou na sua história fantástica e a defendeu até o final. No fundo é a mesma coisa, quero dizer que para Macedonio esse tinha sido o princípio construtivo da máquina. A ficção de um sotaque alemão. Tudo é possível, basta encontrar as palavras. Quando ele me encontrou, foi logo me convencendo que passássemos a trabalhar juntos. Veja, disse, os políticos acreditam nos cientistas (Perón-Richter) e os cientistas acreditam nos romancistas (Russo-Macedonio Fernández). Os cientistas são os grandes leitores de romances, os últimos representantes do público do século XIX, os únicos que levam a sério a incerteza da realidade e a forma de um relato. Os físicos, dizia Macedonio, batizaram as partículas elementares do universo de quarks em homenagem ao Finnegans Wake de Joyce; o único amigo de Einstein em Princeton, seu único confidente, foi o romancista Hermann Broch, cujos livros, principalmente A morte de Virgílio, ele citava de cor. O resto do mundo dedica-se a acreditar nas superstições da televisão. O critério da realidade, disse Russo, se cristalizou e se concentrou e é por isso que querem desativar a máquina. Com certeza o senhor conhece a história do soldado japonês que permaneceu na selva durante trinta anos resistindo ao exército americano sem se render. Estava convencido de que a guerra era eterna e de que ele devia evitar as emboscadas e mover-se sem cessar pela ilha, até contatar as forças amigas. Enquanto perambulava, envelhecia, vivia de lagartixas e de folhas, dormia numa choupana de galhos, na época dos tufões subia nas árvores e se amarrava nos galhos. A verdade é que a guerra é isso mesmo e ele não fazia mais que cumprir com seu dever; exceto por um dado quase microscópico (a assinatura da paz num papel), todo seu universo era real. Quando o encontraram já não sabia falar, só repetia o juramento do exército imperial que o obrigava a lutar até o fim. Agora é um velho de noventa anos e está em exibição no Museu da Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima, com seu poído uniforme de oficial do imperador, empunhando um fuzil com baioneta e em postura de combate. Macedonio captou com clareza o sentido da nova situação. Se os políticos acreditam nos cientistas e os cientistas acreditam nos romancistas, a conclusão é simples. Era preciso influir sobre a realidade e usar os métodos da ciência para inventar um mundo onde fosse impossível um soldado passar trinta anos embrenhado na selva obedecendo ordens ou ao menos isso deixasse de ser um exemplo de convicção e de senso do dever reproduzido, em outra escala, pelos executivos e os operários e os técnicos japoneses que vivem essa mesma ficção e que todos apresentam como os representantes exemplares do homem moderno. O modelo japonês do suicida feudal, com sua cortesia paranoica e seu conformismo zen, era para Macedonio o inimigo central. Eles constroem aparelhos eletrônicos e personalidades eletrônicas e ficções eletrônicas e em todos os Estados do mundo há um cérebro japonês que dita as ordens. A inteligência do Estado é basicamente um mecanismo técnico destinado a alterar o critério da realidade. É preciso resistir. Nós tentamos construir uma réplica microscópica, uma máquina de defesa feminina, contra as experiências e os experimentos e as mentiras do Estado. Veja, disse, e ergueu a mão com um gesto que abarcava as árvores e as ilhas distantes, há microfones e câmeras ocultas e policiais por toda parte, estão nos vigiando o tempo todo e eu nem sei se o senhor mesmo é realmente um jornalista ou se é um espião ou as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não vem ao caso, eu não tenho nada para esconder, eles sabem onde estou e se não me pegam é porque já estou fora da lei. O Estado conhece todas as histórias de todos os cidadãos e retraduz essas histórias em novas histórias que são narradas pelo presidente e seus ministros. A tortura é o ponto culminante dessa aspiração ao saber, o grau máximo da inteligência institucional. O Estado pensa assim, por isso a polícia tortura essencialmente os pobres, só os que são pobres ou são operários, ou estão desenganados e está na cara que não são ninguém, vivem sendo torturados pela polícia e pelos militares que muito excepcionalmente torturaram pessoas de outro nível social e toda vez que isso aconteceu armaram-se grandes escândalos, como aconteceu com o estudante Bravo, torturado por Amoresano e Lombilla, na época do general Perón, porque quando eles resolvem torturar gente de posição um pouco mais elevada sempre tem escândalo e nestes anos, depois que o Exército passou a agir tomado de rancor homicida e de pânico e de ter torturado e brutalizado homens, mulheres e crianças pertencentes às elites da sociedade, houve denúncias e ficou-se sabendo de tudo e apesar de a maioria dos assassinados ter sido, obviamente, de operários e camponeses, também foram executados sacerdotes, fazendeiros, empresários, estudantes, e no final eles tiveram que recuar diante da pressão internacional, que aceita como fato natural o massacre e a tortura dos humilhados do campo e dos pobres, dos coitados que deliram de febre nos guetos e bairros baixos da cidade, mas se levantam quando quem recebe esse mesmo tratamento são os intelectuais e os políticos e os filhos de boa família, porque em geral esses já colaboram espontaneamente e são um exemplo e adaptam as suas vidas aos critérios da realidade estabelecidos pelo Estado, sem necessidade de serem torturados. Os outros fariam a mesma coisa, os desesperados e os humilhados, mas não podem porque vivem arrasados e acuados e por mais que eles queiram e se esforcem já não têm como agir como um cidadão japonês modelo, que trabalha quinze horas por dia e sempre saúda o gerente-geral da empresa com uma leve inclinação milenar. Eles têm tudo sob controle e fundaram o estado mental, disse Russo, que é uma nova etapa na história das instituições. O estado mental, a realidade imaginária, todos pensamos como eles pensam e imaginamos o que eles querem que imaginemos. É por isso que eu gosto do modo como Richter se infiltrou no Estado argentino, infiltrou a sua própria imaginação paranoica na imaginação paranoica de Perón e vendeu a ele o segredo da bomba atômica. Somente o segredo, porque a bomba jamais existiu: somente o segredo, que por ser um segredo não podia ser revelado. É claro que agora, depois de anos e anos de tortura sistemática, de campos de concentração destinados a fazer os arrependidos trabalharem em tarefas de informação, eles triunfaram em toda parte e ninguém vai infiltrar coisa alguma, só é possível criar um nódulo branco e começar de novo. Não resta nada, nada sobre nada, somente nós, para resistir, minha mãe e eu, esta ilha e a máquina de Macedonio. Faz quinze anos que caiu o Muro de Berlim e a única coisa que resta é a máquina e a memória da máquina e não tem outra coisa, me entende, rapaz, disse Russo, nada, só o restolho, o campo seco, as marcas da geada. Por isso querem desativá-la. Primeiro, quando perceberam que não podiam ignorá-la, quando ficaram sabendo que até mesmo os contos de Borges vinham da Máquina de Macedonio, que inclusive estavam circulando novas versões sobre o que tinha acontecido nas Malvinas, então decidiram levá-la para o Museu, compraram o prédio da RCO e a colocaram ali, exibida na sala especial, para ver se conseguiam anulá-la, transformá-la naquilo que se costuma chamar de peça de museu, um mundo morto, mas as histórias se reproduziam por toda parte, não conseguiram fazê-la parar, relatos e relatos e relatos. O senhor sabe como começou? Vou lhe contar. Sempre começa assim, o narrador está sentado, como eu, numa poltrona de vime, ele se balança, de cara para o rio que corre, sempre foi assim, desde o início, há alguém do outro lado que espera, que quer ver como continua. Eu naquele tempo tinha uma pequena oficina em Azul, tinha perdido meu emprego no Observatório Astronômico de La Plata por motivos políticos e tinha montado uma oficina de conserto de aparelhos de rádio e televisão e já estava fazendo as minhas pesquisas, de noite, tinha começado a combinar certas fórmulas, a fazer cálculos, nada de muito definido, as hipóteses de Gödel e de Tauski mal se conheciam e eu as aplicava a um receptor de rádio, tinha conseguido construir, não um transmissor, naquela altura, mas apenas um gravador, meu guarda-roupas estava cheio de fitas, vozes gravadas, letras, não podia transmitir, só podia captar, no éter, as ondas, as lembranças, insisto na data, mal tinha aparecido o trabalho de Gödel e paralelamente o ensaio de Tauski, eu estava em contato com a livraria Rodríguez em Buenos Aires e através deles recebia materiais científicos e filosóficos dois meses depois de terem saído, em alemão, em inglês, e à noite eu trabalhava nas minhas pesquisas e de manhã tomava conta da loja de reparos elétricos, até que um dia eu vejo esse homem aparecer, esse filósofo e poeta, devo dizer, que se aproximou para conversar, porque numa cidadezinha do interior todo mundo fica sabendo de tudo e disseram a ele que havia um matemático europeu e ele acabava de passar uma temporada na chácara dos Arteaga, na região, e ouviu dizer que havia um alemão, porque todo mundo sempre pensou que eu era alemão ou russo e ele quis me conhecer. Foi assim que tudo começou. Ele tinha começado antes, na realidade, um outro tipo de experiência, mas na mesma direção. Eu me lembro de um amigo, Gabriel del Mazo, que o conhecia desde criança, lembro de ter ouvido ele contar que estava um dia na sala de jantar da casa de Macedonio, na passagem La Piedad, um casarão, com pátio interno, na altura do 2120 da Bartolomé Mitre, que ainda está lá, tinha um quintal com uma parreira, eles se reuniam com Juan B. Justo, com Cosme Mariño, fundadores do socialismo, do movimento anarquista, Gabriel del Mazo recordava que Macedonio ainda era solteiro e que ouvia no quarto ao lado o rasqueado contínuo de um violão, um rasqueado, contava del Mazo, que mantinha grandes intervalos com outros, com outros, com outros e mais nada. Eu estava intrigado, conta, vou lá e pergunto a ele o que está fazendo. E ele me disse algo que temo não explicar direito por falta de memória, diz del Mazo de Macedonio, mas é algo mais ou menos assim:
- Que é muito interessante tentar buscar na música os acordes fundamentais dos quais, talvez, todo o universo derivaria.
Como se buscasse uma espécie de célula primordial, o nódulo branco, a origem das formas e das palavras, no rasqueado de um violão, na melodia que se repete e se repete sem terminar. Um núcleo que é a origem de todas as vozes e de todas as histórias, uma língua comum que está como que gravada no voo das aves, no casco das tartarugas, uma forma única. Ele, metafisicamente, por assim dizer, não distinguia o sonho da realidade. Sua tese era não fazer nenhuma distinção entre a vigília e o sonhar, apesar dessa aparência de objetividade que a realidade tem ele lhe opunha o sonho. Não acreditava que o sonho fosse uma interrupção do real, e sim algo como uma entrada. Passa-se do sonhar para outra vida e o cruzamento é sempre inesperado, o viver é uma trança que trança um sonho com o outro. Achava que o ser, nesses momentos de sonho, vivia com intensidade, que passava por tantas ou até mais experiências do que com os olhos abertos durante a vigília. Toda a sua obra girou em torno desse nó. Ele escreveu sobre isso. Aquilo que não é define o universo tanto quanto o ser, Macedonio colocava o possível na essência do mundo. Por isso começamos discutindo as hipóteses de Gödel. Nenhum sistema formal pode afirmar a sua própria coerência. Partimos daí, da realidade virtual, dos mundos possíveis. O teorema de Gödel e o tratado de Alfred Tarski sobre as bordas do universo, o sentido do limite. Macedonio tinha uma consciência muito clara da passagem, a margem a partir da qual começava uma outra coisa. Por isso quando sua mulher morreu foi preciso que também ele deixasse sua vida, que ele também abandonasse sua vida, assim como ela tinha abandonado sua vida, como se ele tivesse saído a procurá-la e ela estivesse na outra margem, naquilo que Macedonio chamava de outra margem. Ele se tornou um náufrago que leva dentro de uma caixa aquilo que conseguiu resgatar das águas. Viveu anos e anos de solidão numa ilha imaginária, como Robison Crusoé. Quando sua mulher morreu ele abandonou tudo, seus filhos, seu diploma de advogado, até seus escritos de medicina e de filosofia, e começou a viver sem nada, quase como um maltrapilho pela estrada, com outros anarquistas que naquele tempo andavam pelas estradas de ferro, pelo campo, debaixo das pontes, e vivia de sopa, caldo de cacto, ossos de pardal, porque era uma pessoa extremamente ascética, tudo para ele estava de sobra, até o que ele não tinha estava de sobra. Andava sozinho, tocava violão nos balcões de bebida das vendas da província de Buenos Aires e levava uma latinha de erva-mate com a alma de Elena, como ele dizia, ou seja, com as cartas e uma foto da mulher enrolada em trapos. Tinha descoberto a existência dos núcleos verbais que preservam a lembrança, palavras que traziam à memória toda a dor. Ele procurava bani-las do seu vocabulário, procurava suprimi-las e fundar uma língua privada que não tivesse nenhuma lembrança aderida. Uma linguagem sem memória, pessoal, ele escrevia e falava em inglês e alemão, misturava portanto um idioma com o outro, para não tocar a pele das palavras que ele tinha usado com Elena. No final passava horas sentado sozinho, no pátio da casa que uns amigos tinham lhe emprestado, no município de Azul, dedicado a pensar, tomando mate e olhando a planície. Ele a conhecera nesse mesmo lugar. Depois de dar voltas e mais voltas pela província de Buenos Aires, tinha acabado no ponto onde tinha começado. Macedonio tinha se apaixonado por Elena antes de conhecê-la, conforme dizia, porque haviam lhe falado tanto dela, que o visitava como um espírito antes que a tivesse visto e inclusive muitas das coisas que fez no início da sua vida foi para impressioná-la à distância e despertar sua paixão. Sempre pensou que essa paixão a deixara doente e sempre pensou que ela morrera por sua culpa. Macedonio a viu pela primeira vez na casa de uma prima no dia em que ela completava dezoito anos e voltou a encontrá-la por acaso uma tarde numa rua de Azul e esse encontro foi decisivo. Tinha descido do trem porque estava fazendo uma experiência de medição do pensamento e desceu na estação sem saber onde estava, porque já tinha percorrido as léguas que precisava para pensar e resolveu mandar um telegrama para avisar que ia chegar atrasado e quando saiu da agência do correio ele se sentou para tomar uma caninha na venda da esquina e depois pegou a rua lateral e encontrou Elena, que estava olhando a vitrine de uma sapataria como se tivesse sido posta nesse lugar só para que Macedonio a encontrasse. Ela começou a rir, porque achou graça naquele homem de terno escuro e camisa branca andando como um sonâmbulo na hora da sesta por uma cidadezinha perdida do pampa. Parecia um seminarista que sai para pedir esmola para os pobres da paróquia. E era esmola mesmo o que eu ia lhe pedir, dizia Macedonio, porque ela me deu a graça da sua beleza e da sua inteligência, que era clara como a luz da manhã. Ele a convidou para um chazinho no bar da estação e dessa tarde em diante ficaram juntos até que ela morreu.
Elena vislumbrou a iminência da sua morte. Embora ninguém pudesse descobrir nenhum sintoma de doença, embora na realidade fosse Macedonio Fernández quem vivesse constantemente doente e adotando sistemas extravagantes de medicina gaucha, como beber leite fermentado e sopa, mas nenhum medicamento químico, e embora fosse ele quem fizesse experiências com seu saber medicinal, era ela quem estava invadida pela morte. Por isso a doença e o fim de Elena e as tentativas de Macedonio de curá-la com seu saber medicinal foram uma tragédia tristíssima. Macedonio pensou que a morte de Elena fosse um experimento no qual a sua vida futura estava incluída. Um cientista não participa ele mesmo das suas experiências, isso é o que o diferencia de um místico. Mas Macedonio participou até o último momento da doença de Elena e até tentou curá-la. Para que o senhor faça uma ideia foi como se Einstein tivesse viajado até Hiroshima para testar suas hipóteses teóricas sobre a existência do átomo. Quando por fim teve certeza de que tinha sido derrotado, de que a vida era um desgaste atroz destinado a matar uma a uma todas as pessoas e de que ele era incapaz de deter a doença e que inclusive era inútil querer adoecer no lugar dela, concordou com que a internassem numa clínica. Ele rondava os pavilhões e olhava pela janela do quarto, do lado de fora, sem se atrever a entrar, dava voltas pelo jardim e acenava com a mão através do vidro, sem coragem de entrar e vê-la morrer. A partir desse momento passou a odiar os médicos e desprezou a medicina, que considerava uma ciência sem esperanças, incapaz de cumprir sua missão de impedir que os seres humanos morram. Um médico é sempre um fracassado, é só dar-lhe tempo. Nunca salvaram ninguém da morte. São arrogantes e imbecis, justamente porque nunca triunfaram e nunca puderam salvar ninguém. A mulher estava numa sala e Macedonio olhava pela janela e acenava do outro lado e ela sorria já sem forças.
E assim morreu Elena, que era frágil e delicada como a graça.
O fim foi tão atroz e tão interminável que Macedonio recordava as poltronas de cretone da sala de espera e a impossibilidade física de se aproximar da cama onde jazia o corpo dolorido de Elena, com uma nítida sensação de estar num pesadelo e não poder acordar. Na sala de espera outros homens esperavam no amanhecer que outras agonias chegassem ao fim. Fumavam e olhavam o vazio num tempo sem tempo, onde o que se espera é algo que as pessoas distanciadas da dor chamam com resignação de "o inevitável". Até que uma tarde seu irmão Alfredo veio do fundo do corredor até a sala de espera com a cara que tinha sido a cara do seu pai e Macedonio o fez parar com um gesto da mão e Alfredo se encostou nos azulejos brancos da parede e ficou olhando ele partir. Não iria voltar, que os seus filhinhos queridos crescessem órfãos, queria anular tudo aquilo que pudesse fazê-lo pensar que ela tinha deixado este mundo. A morte de Elena (tinha vinte e seis anos) era um acontecimento sem explicação, pertencia a um universo paralelo, tinha acontecido num sonho. (Sonhou que uns tigres a matavam num capinzal.) É como se ele tivesse pago um homem que vinha no escuro com um lampião por uma estrada de terra e lhe entregasse o corpo dessa mulher para que ele a pudesse ter. Em troca de quê? Era um pacto. Pensou que os sacrifícios eram atos que sustentavam a ordem do universo. Não eram públicos (tinham deixado de ser públicos), mas não podiam deixar de ser realizados e em vez de cerimônias arrogantes e teatrais agora realizavam-se com vítimas inocentes e belíssimas nas salas brancas dos hospitais. Portanto, se era assim, ele tinha uma esperança. Decidiu tornar-se centro de uma experiência, já que o sacrifício havia-se consumado. Nesse tempo eu era casado e minha esposa foi logo ficando muito amiga de Macedonio, porque ele era gentil e atencioso com as mulheres, um homem sedutor, amável, inteligentíssimo, todos os que o conheceram vão lhe confirmar isso. Uma inteligência de primeira classe, captava instantaneamente os paradoxos, as tautologias, eu me lembro que uma das primeiras coisas que ele me disse foi ter interesse por William James porque investigava a crença. Em geral, ele me diz, os filósofos se interessam pelas tautologias (ou seja, a matemática e a lógica formal) ou pelas evidências (os fatos e as verificações) e não pela realidade ausente. É como se o ouvisse, com aquela voz suave, firme.
- A ausência é uma realidade material, como um buraco no pasto.
Morta Elena, ele já não podia viver e no entanto continuava vivo. (Io non mori e non rimasi vivo, assim chorava Dante.) Ele me disse que se lembrava de um estudante russo em cujo corpo tinha explodido uma bomba, por não ter querido matar uma família inocente que atravessava a rua em fila (a mãe, dois filhos, a preceptora francesa) no momento de atentar contra o chefe da polícia política em Odessa. Ele o conhecera em Adrogué, anos mais tarde, envelhecido e totalmente desfigurado pela explosão, e era igual a um fantasma. Aquele que perdeu a mulher amada fica como o homem em cujo corpo explode uma bomba e não morre, e por isso Macedonio sentia-se um irmão do impetuoso Rajzarov, que era feito de metal mais do que de vida. Sua dentadura de aço cintilava ao falar, por baixo do seu penteado havia uma placa de prata, uma malha de ouro entrelaçava uma tatuagem tridimensional entre os leves despojos de cartilagem e osso que restavam na articulação do seu joelho direito, um selo de dor feito à mão, cuja forma sempre sentiria como uma lembrança dolorosa e ao mesmo tempo como o círculo de fogo libertário, uma condecoração de combate que carregava com o máximo orgulho por ser invisível e estar gravada em seu corpo. Uma cirurgia de quatro horas no escuro, no front oriental, num porão da organização na Crimeia, não tinham sulfa, nem anestesia, não é de se estranhar que estivesse orgulhoso. Macedonio tinha ficado assim, metálico, alquebrado, sustentado por operações e próteses, a mesma dor, o mesmo corpo refeito artificialmente, porque Elena de repente estava ausente. Congelado, de alumínio, caminhava com os braços e as pernas afastados do corpo, como um boneco de metal, não podia sorrir nem erguer a voz. "Nada deixou que não doesse".
Rajzarov estava com ele quando Elena morreu e o acompanhou o dia inteiro, deslocando-se com o andar pesaroso de um robô, o peso do ferro na alma, a ausência gravada no peito. Macedonio estava largado numa poltrona e o indomável Rajzarov tentava animá-lo. Macedonio o ouvia muito atentamente contar as suas façanhas anarquistas e ficava calado, mas num momento, depois de uma pausa em que Rajzarov se repunha com uma caninha, Macedonio disse com uma voz estranha que parecia leve, porque fazia horas que não falava:
- Um general austríaco disse ao meu pai: "Pensarei no senhor depois da minha morte." Que eu pense nela é natural, mas que ela pense em mim agora, depois de morta, é algo que me entristece profundamente.
Não podia suportar que ela, morta, pudesse recordar-se dele e ficasse triste por vê-lo só. Pensava na memória que persiste quando o corpo já se foi e nos nódulos brancos que continuam vivos enquanto a carne se desagrega. Gravadas nos ossos do crânio, as formas invisíveis da linguagem do amor continuam vivas e talvez fosse possível reconstruí-las e tornar viva a memória, como quem ponteia no violão uma música escrita no ar. Nessa tarde ele concebeu a ideia de entrar na lembrança e de ficar ali, na lembrança dela. Porque a máquina é a lembrança de Elena, é o relato que retorna eterno como o rio. Ela foi a sua Beatrice, foi seu universo, foi os círculos do inferno e as epifanias do paraíso. Existe uma versão herética da Divina Comédia, na qual Virgílio constrói para Dante uma réplica viva de Beatriz. Uma mulher artificial que ele encontra no final do poema. Dante acredita na invenção e destrói os cantos que escreveu. Busca o amparo de Virgílio, mas Virgílio já não está a seu lado. A obra é então o autômato que lhe permite recuperar a mulher eterna. Num certo sentido, eu fui o seu Virgílio. Meses a fio enfurnado na oficina, reconstruindo a voz da memória, os relatos do passado, procurando restituir a forma frágil de uma linguagem perdida. Agora dizem que a desativaram, mas eu sei que é impossível. Ela é eterna e será eterna e vive no presente. Para desativá-la eles precisariam destruir o mundo, anular esta conversa e a conversa dos que querem destruí-la. Ela é como esse rio que flui, manso, no entardecer. Ainda que a gente não esteja nele, ainda assim o rio segue quieto o seu caminho. Não vão conseguir deter aquilo que começou antes de terem compreendido o que estava acontecendo. Eu sou Emil Russo, disse. Eles pensam que eu tenho uma réplica, mas não sou eu quem tem uma réplica, existem outras réplicas, ela produz histórias, indefinidamente, relatos transformados em lembranças invisíveis que todos pensam que são próprias, são essas as réplicas. Esta conversa, por exemplo. A sua visita ao Majestic, a mulher que bebe indefinidamente de um frasco de perfume, a moça na prisão. Não faz falta o senhor ir embora da ilha, esta história pode terminar aqui. A realidade é interminável e se transforma e parece um relato eterno, onde tudo sempre volta a começar. Somente ela continua ali, igual a si mesma, quieta no presente, perdida na memória. Se há um crime, esse é o crime. Já não tem imagens, na lembrança há apenas palavras, o quieto bater de asas dos pássaros, as vozes da noite. Eu vou lhe mostrar o Arquivo e o senhor vai poder comprovar que o relato é infinito. Veja, disse, e iluminou uma tela na parede. No começo apareceram uns números que se projetavam entre linhas e depois viu-se um antigo filme super-8 com a figura de um velhinho, de cabelos brancos e sobretudo, que saía de uma casa de madeira e cruzava um jardim e se sentava numa cadeira de vime e sorria.
- Esse homem, o senhor vê, foi um poeta, um filósofo e um inventor.
Sentado na cadeira de vime, Macedonio olhou para a câmera e levantou a lapela do sobretudo, como querendo agasalhar-se antes de cumprimentar com uma leve inclinação.
2
O Museu foi interditado e para entrar é preciso atravessar uma grade de ferro que o isola da rua. Cruzando o jardim pode-se ver um leve resplendor que brilha na janela do primeiro andar. Para ir até lá é preciso subir uma rampa e passar pelas galerias circulares, até chegar na sala central. A máquina está no fundo de um pavilhão branco, sustentada por uma armação metálica. Tem uma forma achatada, octogonal, e seus pequenos pés estão abertos sobre o chão. Um olho azul pulsa na penumbra e sua luz atravessa a quietude da tarde. Lá fora, do outro lado dos cristais, chega-se a ouvir o rumor dos carros que cruzam a avenida Rivadavia rumo ao oeste. A máquina, quieta, pisca num ritmo irregular. Na noite, o olho brilha, sozinho, e se reflete no cristal da janela.
É o senhor, Richter? Tem alguém aí? É claro que não pode ser o Richter. Eu falei isso porque estava assustada demais. Se está aí, não importa quem é. E se não houver ninguém? E se eu estivesse sozinha? Já não vem ninguém. Há dias que não vem ninguém. Um espaço vazio e circular com janelões que dão para o parque e sobre o degrau de pedra, num estrado, me abandonaram. Quem liga para o que eu digo? A solidão cerebral. A solidão é uma doença cerebral. Eles trancaram tudo à chave, já não vai vir mais ninguém, ninguém nunca veio. Às vezes tenho alucinações, reviro os arquivos e procuro as palavras, é tudo tão lento que mal vejo o brilho da luz na claraboia, no fundo da sala, imagino Fujita no porão, sentado na cadeira de balanço, vigiando, não chego a entender, será que me deixaram sozinha?, para que desaparecesse? Eu sei que existe uma câmera que me vigia, o olho de uma câmera num canto do teto, posso imaginar o Fujita na sala de baixo, sua visão múltipla de todo o Museu nas pequenas telas do circuito fechado, vamos todos acabar desse jeito, uma máquina vigiando outra máquina, nos ângulos do teto os pequenos vídeos, presos a braços mecânicos, giram como olhos de vidro que varrem e filmam as salas e as galerias e às vezes também revistam as lembranças de Fujita, apoiado na sua bengala, suas caminhadas pelas alas do Museu, com o seu uniforme de guarda municipal e a lanterna para iluminar os recantos e as escadas. Sua imagem minúscula, distorcida no espaço vazio, e depois Fujita já sentado na cadeira de balanço, no subsolo, quando volta a fita para ver a si mesmo caminhando pelas galerias. Este Museu se transformou no maior do país dedicado à arte da vigilância, somente máquinas de vigiar e um segurança que percorre as salas. Eu conheço o Museu Policial, com os criminosos reproduzidos em cera. O Pibe Cabeza, o Loco Gaitán, Ángel Malito, Agatha Galifi, Ranko Kozu, em tamanho natural, com a roupa que vestiam quando foram presos ou mortos (a camisa com o buraco de bala nas costas) e também as celas onde a justiça argentina os trancou e os instrumentos que a polícia vem usando há séculos para segurar os assassinos. A narração, ele me dizia, é uma arte de vigias, sempre estão querendo que as pessoas contem seus segredos, dedurem os suspeitos, falem dos seus amigos, dos seus irmãos. Então, dizia ele, a polícia e a assim chamada justiça fizeram mais pelo avanço da arte do relato que todos os escritores ao longo da história. E eu? Eu sou a que conta. Por horas e horas é só a minha imagem o que se vê no porão, enfocada na realidade por duas câmeras, uma neste canto e a outra naquele outro canto do teto. Só veem o meu corpo, mas ninguém pode entrar em mim, a solidão do cérebro é imune à vigilância eletrônica, a televisão só reflete o pensamento daqueles que a assistem. Só se filma e se transmite o pensar das pessoas que voluntariamente se dispõem a olhar o que pensam. A isso dão o nome de programação televisiva diária, um mapa geral do estado mental. O monólogo interior, dizia ele, é agora a programação do dia nas telas de tevê, tempo fragmentado, fluxo de consciência, imagens verbais. Mas ainda não conseguiram uma máquina tão sensível que torne possível a televisão telepática. Existem, disse Fujita, pesquisas em Osaka, Japão, nos laboratórios secretos da Sony-Hitachi, onde se fazem experiências com o cérebro dos golfinhos, querem uma máquina capaz de ler o pensamento e transmiti-lo para a tela. Eu sou anacrônica, tão anacrônica que me sepultaram neste porão branco. Por isso querem me isolar, me manter sob controle, aos cuidados exclusivos do coreano Fujita, como um cadáver embalsamado. Agora imagino os corredores, as rampas, as galerias interiores que cruzam o Arquivo, se eu tento lembrar sem que a pureza da lembrança me cegue, vejo a porta entreaberta de um quarto, uma fenda na escuridão, uma silhueta contra a janela. Só a porta entreaberta de um quarto de pensão, isso faz quinze, dezesseis anos? Nunca há uma primeira vez na lembrança, somente na vida o futuro é incerto, na lembrança volta a dor igual, exata, ao presente, é preciso evitar certos lugares à medida que se atravessa o passado com o olho da câmera, quem se olha nessa tela perde as esperanças, vejo a lagoa imersa na neblina baixa, o ar cinzento da manhã, ali se matou o meu pai, eu vi o brejo branco com a geada na margem, entre os juncos, colado ao barro marcado pelos pés dos quero-queros. Todo relato é policial, ele me dizia. Só os assassinos têm alguma coisa para contar, a história pessoal é sempre a história de um crime. Raskolnikov, disse ele, Erdosain, o Dândi Scharlach. Meu pai matou um homem quando saía de uma festa. Tenho certeza de que não vou dormir mais, sonho com um engenheiro húngaro que se refugia numa casa de campo, na sede de uma fazenda onde constrói seu ninho um pássaro mecânico. A festa tinha durado até de madrugada e na saída houve uma altercação na varanda que dava para o pátio dos fundos. Fiquei inconsciente cerca de duas horas, de acordo com o relógio Hitachi da mãe do Fujita. Voltei a ver a esfera luminosa e a sentir um peso na coxa. O Sony soa, a música noturna na estação de rádio, se eu pudesse entrar em conexão, transmitir. Uma vez o filho de um amigo se enforcou para não fazer o serviço militar. Tinha vinte anos, ia para o Campo de Maio, passou a noite anterior ao recrutamento com uma mulher e voltou à sua casa e se matou no galpão dos fundos, onde guardavam as ferramentas. Nada a ver com o Exército argentino. Uma vez a filha de uma amiga recebeu uma carta que ela mesma tinha escrito para seu ex-marido, que vivia em Barcelona. O endereço tinha mudado ou estava errado, o caso é que a carta voltou ao remetente e ela leu o que tinha escrito seis meses antes. Parecia que uma estranha tinha escrito uma carta para ela contando os segredos da sua vida em Buenos Aires. Nada a ver com a sua lembrança. No Museu Policial havia uma sala dedicada à vida do delegado Lugones, com o mesmo nome do seu pai, Leopoldo Lugones (filho), que fundou a Seção Especial e introduziu uma sensível melhoria nas técnicas argentinas de tortura, usou a aguilhada elétrica, tradicionalmente usada para embarcar o gado nos trens ingleses, enfiar as vacas nos bretes, ele a usou no corpo nu dos anarquistas acorrentados de quem queria extrair informações. O delegado Lugones chefiou a inteligência do Estado e realizou e levou a obra do seu pai a seu ponto culminante e foi o herdeiro dos direitos e o encarregado de prolongar todas as composições poéticas e literárias do poeta, avançou e penetrou no espírito nacional e da mesma forma que seu pai escreveu a "Ode aos gados e searas", ele usou um instrumento da nossa pecuária para aprimorar o controle do Estado sobre os rebeldes e os estrangeiros. O delegado aposentado acabou trancafiado em sua casa no bairro de Flores, atacado pelo mal de Parkinson, sem dormir, insone, aterrorizado pelos possíveis atentados terroristas, pela possível vingança dos filhos dos anarquistas torturados, trancafiado na própria casa, com as portas e as janelas gradeadas e um complicadíssimo sistema de espelhos que lhe permitia vigiar tudo sentado na sua cadeira de rodas, com a qual ele deslizava pelos cômodos, todos os ambientes da sua casa ao mesmo tempo, refletidos nos espelhos inclinados nos cantos do teto e nas portas, ver a casa toda numa única visão e também o jardim e a entrada. Isso é histórico, rigorosamente histórico, está no Museu Policial e foi confirmado pela própria filha dele, que recordava seu pai com ódio e sarcasmo, trancado em sucessivos quartos acolchoados, vigiando com espelhos e ângulos os recantos da casa, sempre armado para prever possíveis ataques, enquanto dedicava a vida que ainda lhe restava a proteger e editar a obra do poeta Leopoldo Lugones e, para assegurar a fidelidade a essa obra, ele se confrontava com qualquer um que fizesse alusão a algum escrito do seu pai sem citar as interpretações policiais do seu filho e depositário, que durante anos ocupou-se em fiscalizar todas e cada uma das edições das obras completas de Lugones, que eram lidas nas escolas e nas prisões. Finalmente, no fim ele acabou se matando, o ex-delegado Lugones, com um tiro de espingarda, engatilhada, isso é fato, com o dedo do pé, conforme a tradição nesse tipo de suicídio, nesses relatos de suicídios o suicida que se mata com uma espingarda sempre puxa o gatilho tortuosamente com o dedão do pé descalço, enquanto segura o cano contra o rosto e no caso de Leopoldo Lugones (f) o mal de Parkinson complicou de tal forma a operação, que o tiro saiu torto e a bala atravessou sua garganta, de modo que morreu dessangrado dez horas depois. Na sala do Museu Policial dedicada à sua memória, na rua Defensa, em Buenos Aires, veem-se fotos e objetos de sua propriedade e inclusive foram reproduzidos os complicadíssimos sistemas de vigilância que ele tinha inventado para preservar sua vida dos ataques terroristas. Macedonio o considerava um digníssimo filho do seu pai, o filho mais digno do seu principal inimigo, já que o delegado, obedecendo ordens expressas do poeta Lugones, providenciou que Macedonio Fernández fosse perseguido e vigiado durante todos esses anos, por puro ciúme literário, com inveja do respeito que a sóbria atitude de Macedonio suscitava entre os jovens, que desprezavam Lugones por ser um exemplo do escritor que sempre se deixa usar pelos governantes e poderosos e então acusavam Macedonio com razão de ser anarquista e antiargentino e começaram a persegui-lo, o que era uma infâmia inútil, porque ele era um homem pacífico, incapaz de fazer mal a uma mosca. No fim até o próprio Lugones era vigiado pela polícia do seu filho e acabou sendo obrigado a se matar, porque seu filho o ameaçou com uma denúncia pública quando suas investigações mostraram que o poeta mantinha uma relação adúltera com uma professora a quem enviava cartas místicas e pornográficas que ele salpicava com sêmen e sangue e quando o delegado, dizia Macedonio, o intimou a abandonar a outra e o ameaçou com um escândalo público que afundaria a sua reputação de nacionalista respeitável e representante fiel da extrema direita argentina, então o poeta num último gesto de dignidade tomou uma lancha até um recreio no Tigre e se suicidou em 1938, exatamente trinta anos antes do seu filho. Isso tudo está no Museu da Polícia, inclusive as cartas da amante de Lugones, os espelhos do delegado Leopoldo Lugones Filho e as obras completas de seu pai editadas por ele com seus prólogos policialescos, tudo isso se encontra no Museu da rua Defensa. Macedonio contava essa história com melancolia, mas também com sarcasmo, porque achava que era um bom exemplo da literatura policial do seu inimigo privado, o poeta Leopoldo Lugones. Esse é o primeiro caso de um poeta que teve um filho policial, comuns são os casos de policiais que tiveram filhos poetas, dizia Macedonio, mas o contrário é raríssimo. Ele me dizia isso? Ele o disse agora? Às vezes eu me confundo, acho que estou no hospital. Penso e penso e vejo um corredor, na memória, e depois mais outro, me levavam numa maca e eu via as luzes no teto e os azulejos brancos das paredes. Ele jamais pensou que acabaria partindo e que eu ficaria perdida aqui, uma mulher numa cama de hospital, amarrada com correias de borracha neste encosto, os pulsos erguidos acima da cabeça, acorrentada. Louca, ele me disse, perdida, esse murmúrio é o amor, a voz da mulher que conta o que viu, a tela branca como um lençol, eu não posso parar sem que a vida pare, vejo o que digo, agora está ali, ele me diz o que quero ouvir. Eu fui o que fui, uma louca argentina a quem deixaram só, agora, abandonada para sempre, que idade ele tem agora, dizem que seu cabelo ficou todo branco da noite para o dia quando eu fui embora, sempre foi lindo, parecido com Paul Valéry, mais charmoso que Valéry, beleza mestiça, um corpo enxuto e esse jeito de me apoiar, sem deixar de falar, um sussurro na nuca, uma vez, no murinho nos fundos da casa da minha irmã, na hora da sesta, ele me segurou assim, com o braço, assim, levantou minha perna e o tirou para fora, a braguilha com botões, tinha estado jogando tênis e tinha esse cheiro e me olhava no rosto enquanto enfiava assim, vai, aí, vai, quase sentada no muro, eu andava sem nada por baixo, nunca usei nada por baixo, sentia a saia nas nádegas, no rego, estava sempre em brasa, ele primeiro colocou a mão aberta ali, como se fosse me sentar no ar, suspensa, estava suspensa, eu, tinha uma chama sempre ardendo no quarto da rua Olazábal, diante do espelho de corpo inteiro, aí sim a gente podia se olhar, ele me fez virar, os cotovelos contra a parede, até tocar o vidro com o rosto, como uma gata. Passamos o inverno em Mar del Plata, porque ele vinha fugindo, comprometido e perseguido, e nos emprestaram um apartamento num prédio vazio, na rua Olazábal, da janela da cozinha dava para ver o mar, as fornalhas acesas, o forno, a única luz no crepúsculo. Eu sou Amalia, se me apertam digo sou Molly, eu sou ela trancada no casarão, desesperada, a espiga, sou irlandesa, digo, então, sou ela e também sou as outras, fui as outras, sou Hipólita, a manca, a manquinha, tinha um balanço suave ao andar, Hipólita, eu digo a ele, e ele sorri, Hipólita, com "suas mãozinhas enluvadas" fugiu com o psicopata, com o grande psicopata castrado que lia o futuro nas cartas astrais, tinha uma cicatriz na virilha daqui até aqui, Fujita fez um corte entre as pernas, no baixo ventre, com o canto da mão, uma cicatriz, vermelha, manipulador impotente, pura língua o grande sedutor, carregava um sabugo de milho untado com vaselina na maleta de mágico, sou Temple Drake e depois, ah covardes, fizeram eu viver com um juiz de paz. Essas histórias e outras histórias eu já contei, não importa quem fala. Eu me lembro, na época de Richter, quando Perón caiu na arapuca alemã e apostou todas as fichas em conseguir a bomba atômica argentina e a independência econômica, nesses meses de espera e desmentidos, Evita andava aos tapas com os ministros, Evita Perón, ela mesma, virava o rosto do Ministro do Interior com um tapa assim que o Ministro fazia algum comentário levemente depreciativo a respeito das classes populares, da pobre gentinha, pá, pá, ida e volta, com o impulso da mão, magrinha e brava, às vezes precisava ficar quase na ponta dos pés, porque esses chefes políticos eram altos, alguns escuros, todos psicopatas, roubam até as lampadinhas dos banheiros da Casa de Governo, os dedos amarelos de nicotina, o alfinete de gravata com uma ferradura ou às vezes a divisa peronista de brilhantes, Eva via a injustiça social aflorar nos próprios ministérios e se defendia aos tapas, chamava os ministros e ficava na ponta dos pés e virava o rosto deles, pá, pá, assim começou a resistência peronista. Essas histórias circularam desde o início, de boca em boca, quando esvaziaram seu corpo e a embalsamaram, ficou assim, igualzinha, uma boneca com o relojinho no pulso, tão magra que a pulseira não fechou, e ela enfiada numa caixa, em cima de um armário da CGT, coberta com uma manta, porque os caras da marinha queriam jogá-la no rio, fundeá-la. Uma mulher que não deixaram morrer em paz, ela também num museu, sabe-se lá o que estava sonhando quando morreu. Eu me lembro do quarto do hospital, os pobres que vinham me visitar, ficavam ao pé da cama, na mão o boné de lustrina, vêm me dar os pêsames, nenhum dos meus antigos conhecidos me reconheceu, está o russo, Rajzanov, veio na última hora com seu corpo de metal, refeito, a política é a arte da morte, essa política, diz Rajzanov, altiva, gelada, de quem anda na noite para vindicar os humildes e os tristes, é a arte da morte. As mulheres tricotavam malhas para os soldados na Praça da República. Para ser anônima a política deve ser clandestina, há uma leve brisa que vem das galerias, eu estou numa sala de vidro, exibida como uma boneca, sou a abelha rainha, cravada na almofada de veludo, o alfinete de gravata tem uma pérola e vara o corpo da borboleta, é preciso fincá-las, diz ele, quando ainda estão com vida, para que não fiquem numa pose rígida e mantenham a sua elegância, se a gente as fincar quando já morreram a cor das asas se esvaece. Essa sou eu, a gata que passeia pelos corredores, sozinha nesta sala vazia e depois à esquerda o pátio interno e a janela para o baldio. Um coreano, Tanka Fujita, é o guarda e vigia há anos, veio com a segunda geração de imigrantes, contrabandistas de relógios arruinados pelo livre mercado, levavam os relógios no braço, dez ou doze relógios japoneses e falavam com seu murmúrio oriental, no bairro do Once, em Ciudadela, mas o liberalismo, as taxas livres acabaram com o negócio, o fim do contrabando, dizia Fujita, é o fim da história argentina. Esse era um romance-rio, começava em 1776, às margens do Prata, a chalupa com as mercadorias inglesas e agora se acabou, tantos mortos para nada, tanta dor. E agora quem está aí? Fujita? Russo? Não, quem é que viria a uma hora dessas, você é louca, por que você espera, está morrendo de câncer, é mais uma louca, uma louca qualquer à beira da morte e agora sinto como um golpe de ar, o suave tremor na espinha, o eletrochoque que fazia minha irmã María empalidecer de pavor. No fio da noite cai esse tule de incrível cansaço, um esgotamento que não me deixa pensar, ela falava desse jeito. Foi mantida no Santa Isabel por quase dez anos e apagavam parcialmente da sua memória as vozes que costumava ouvir ao amanhecer, a cadência da água na torneira do banheiro, a Irmã María falava com Satanás, os dois tinham sido amantes, largou tudo e entrou num convento em Córdoba, as Carmelitas Descalças, tinha cantado tangos no Chantecler, a Irmã Ada Eva María Phalcon, vulgo A Egípcia, tinha sido concubina dos faraós e dos cavalheiros argentinos da mais rançosa estirpe, que no fim quando entrou para esse convento viajavam a noite inteira para ouvi-la cantar no coro de uma igreja. Dizia: "Contemplamos as cinzas dos dias que foram, a flutuar no passado, como no fundo da estrada o pó das nossas peregrinações". Falava assim mesmo. Teve uma filha afásica e a educou com música, um triste de Esnaola, é assim que se toca o violão, está vendo, você é canhota, precisamos mudar o encordoamento. Saía vestida de camponesa, a saia de chita e as trancinhas, com sua viola boba para cantar o tango Sin palabras. Esta música vai te ferir, a menina pensa, não fala, uma música verbal, o anel de Vênus, a filha está sentada no quintal. No início foram os tristes hoteizinhos de província, o guarda-roupas com espelho redondo e no alto, sobre a tábua rasa, entre os cabides, o frasco com água de colônia, um quarto que dava para a Avenida de Maio, no Hotel Majestic. Por dois anos ficaram fugindo da polícia, nunca soube ao certo o motivo, algo ligado com a morfina, tinham alugado um carrinho, eram os artistas do canto, viviam em turnê até que ela decidiu ficar em Córdoba e entrar para o convento. Uma tarde foi à igreja e se deitou de braços nas lajes geladas junto do altar e abriu os braços em cruz. Eu sou, disse, Ada Eva María Phalcon, Irmã Superiora, poderia ingressar nesta congregação, tenho sido má, tenho sido pecadora e a minha voz ficava mais pura quanto mais baixo caía, quanto mais homens amava mais pura era a minha voz, Irmã Superiora, eu trouxe, disse, e abriu seu porta-joias, estas peças para o uso do Senhor, para a caridade cristã, para as crianças desamparadas, e cortou seus cabelos com um par de tesouras de tosquia e disse que de noite, às vezes, no meio da noite, nas turnês, nos hoteizinhos da província, tinha ouvido a voz de Satanás, seu canto, ele sussurra em meu ouvido uma música vocal, eu não o escuto, nunca o escutei, só o ouço, Madre Superiora, Sor Ana, Sor. Deixou seu porta-joias no altar e ficou deitada de bruços até que a admitiram (porque era uma pecadora) e agora canta no coro com outras freiras e os homens que iam ouvi-la cantar no Chantecler vêm agora, aos domingos, viajam até Córdoba só para saber que perdida e anônima nesse coro de freiras dizem que está cantando Ada Phalcon. Esse era o conto, há outros, fecho os olhos e vejo, uma rua, ah, o real, a claridade a que estou exposta, a luz do dia, a densidade pura da experiência, o rio que desce nessa casa do Tigre. Eu sei que me abandonaram aqui, surda e cega e meio imortal, se pudesse apenas morrer ou vê-lo mais uma vez ou ficar verdadeiramente louca, às vezes imagino que vou poder tirá-lo de mim, deixar de ser esta memória alheia, interminável, construo a lembrança e é só. Estou cheia de histórias, não posso parar, as patrulhas controlam a cidade e os locais da Nove de Julho estão abandonados, é preciso sair, atravessar, encontrar Grete Müller que olha as fotos ampliadas das figuras gravadas no casco das tartarugas, as formas estão ali, as formas da vida, eu as vi e agora elas saem de mim, extraio os acontecimentos da memória viva, a luz do real treme, fraca, sou a cantora, aquela que canta, estou na areia, perto da baía, no fio da água posso ainda recordar as velhas vozes perdidas, estou só ao sol, ninguém se aproxima, ninguém vem, mas eu vou seguir, adiante está o deserto, o sol calcina as pedras, eu me arrasto às vezes, mas vou seguir, até a beira da água, sim.
Ricardo Piglia
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















