



Biblio VT




Alexander Cold acordou ao amanhecer sobressaltado por um pesadelo. Sonhava que um enorme pássaro preto se atirava contra a janela com um fragor de vidros estilhaçados, entrava em casa e levava a sua mãe. No sonho, ele observava impotente como o abutre gigantesco agarrava em Lisa Cold pela roupa, com as suas garras amarelas, saindo pela mesma janela partida e desaparecendo num céu carregado de grandes nuvens negras. Acordou-o o barulho da tempestade, o vento fustigando as árvores, a chuva sobre o telhado, os relâmpagos e os trovões. Acendeu a luz com a sensação de estar num barco à deriva e acònchegou-se contra o vulto do cão enorme que dormia ao seu lado. Calculou que a poucos quarteirões da sua casa, o oceano Pacífico rugia, agigantando-se em ondas furiosas contra a muralha. Ficou a ouvir a tempestade e a pensar no pássaro preto e na sua mãe, esperando que acalmassem os batimentos de tambor que sentia no peito. Estava ainda enleado nas imagens daquele pesadelo.
O rapaz olhou para o relógio: seis e meia, horas de se levantar. Lá fora mal começara a clarear. Pressentiu que este seria um dia desastroso, um daqueles dias em que mais valia ficar na cama porque tudo corria mal. Havia muitos dias assim desde que a mãe adoecera. Às vezes o ambiente em casa era pesado, como se estivesse rio fundo do mar. Nesses dias o único alívio era fugir, sair a correr pela praia, com Poncho, até ficar sem fôlego. Mas há uma semana que não parava de chover, um verdadeiro dilúvio, e além disso um veado tinha mordido Poncho e este não queria mexer-se. Alex estava convencido de que tinha o cão mais pateta da história, o único labrador de quarenta quilos mordido por um veado. Nos seus quatro anos de vida, Poncho tinha sido atacado por mapachesl, pelo gato do vizinho e agora por um veado, sem contar as vezes em que foi borrifado por zorrilhos2 e foi preciso lavá-lo com molho de tomate para diminuir o cheiro. Alex saiu da cama sem incomodar Poncho e vestiu-se tiritando. O aquecimento ligava-se às seis, mas ainda não conseguira aquecer o seu quarto, o último do corredor.
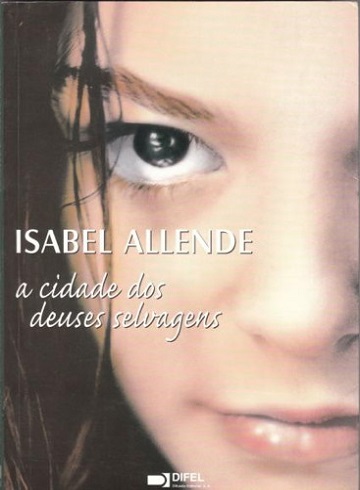
À hora do pequeno-almoço, Alex estava de mau humor e não teve disposição para aplaudir o esforço do pai em fazer panquecas.. John Cold não era exactamente um bom cozinheiro. Só sabia fazer panquecas que ficavam como tortilhas mexicanas de borracha. Para não o ofender, os filhos levavam-nas à boca, mas aproveitavam qualquer descuido para as cuspirem no caixote do lixo. Em vão tentaram treinar Poncho a comê-las: o cão era tonto, mas não tanto.
- Quando é que a mamã vai melhorar?- perguntou Nicole,
tentando espetar a panqueca elástica com o garfo.
-- Cala-te, tonta! - replicou Alex, farto de ouvir a sua irmã
mais nova fazer a mesma pergunta váriasvezes por semana.
A mamã vai morrer - comentou Andrea.
- Mentirosa! Não vai morrer nada! - guinchou Nicole.
- Vocês são umas fedelhas, não sabem o que dizem! exclamou Alex.
Vamos, meninos, acalmem-se. A mamã vai ficar boa... - interrompeu John Cold, sem convicção.
Alex sentiu raiva contra o seu pai, contra as suas irmãs, contra Poncho, contra a vida em geral e até contra a sua mãe por ter
I Mapache: mamífero da família dos Mustelídeos, semelhante ao texugo, comum na América do Norte.
2 Zorrilho: mamífero fétido, da família dos Mustelídeos, semelhante ao texugo.
adoecido. Saiu da cozinha com grandes passadas, disposto a sair sem tomar o pequeno-almoço, mas, no corredor, tropeçou no cão e caiu de bruços.
-Sai do meu caminho, tarado! - gritou-lhe. E Poncho, alegre, deu-lhe uma ruidosa lambidela na cara, que lhe deixou os óculos cheios de saliva.
Sim, definitivamente era um daqueles dias agourentos. Alguns minutos mais tarde, o pai descobriu que tinha uma roda da carrinha furada e teve de o ajudar a mudá-la. De qualquer maneira perderam minutos preciosos e as três crianças chegaram tarde às aulas. Na precipitação da saída, Alex esqueceu-se dos trabalhos de matemática, o que acabou por deteriorar a sua relação com o professor. Considerava-o um homenzinho patético que se propusera arruinar-lhe a existência. Como se não bastasse, também deixou a flauta e nessa tarde tinha ensaio. com a orquestra da escola. Ele era o solista e não podia faltar.
A flauta foi a razão pela qual Alex teve de sair durante o recreio do almoço para ir a casa. O temporal tinha passado, mas o mar ainda estava agitado e não pôde cortar caminho pela praia, porque as ondas rebentavam por cima do parapeito, inundando a rua. Foi a correr pelo caminho mais longo, porque dispunha apenas de quarenta minutos.
Nas últimas semanas, desde que a mãe adoecera, vinha uma mulher fazer as limpezas, mas nesse dia tinha avisado que não iria devido ao temporal. De qualquer forma não servia de muito porque a casa continuava suja. De fora já se notava a deterioração, como se a propriedade estivesse triste. O ar de abandono começava no jardim e espalhava-se pelos quartos até ao último recanto.
Alex pressentia que a sua família estava a desintegrar-se. A sua irmã Andrea, que fora sempre um pouco diferente das outras meninas, andava agora mascarada e mergulhava durante horas no seu mundo de fantasia, onde havia bruxas à espreita nos espelhos e extraterrestres nadando na sopa. Já não tinha idade para isso, aos doze anos devia interessar-se pelos rapazes e por furos nas orelhas, achava ele. Por outro lado, Nicole, a mais pequena da família, estava montando um zoológico, como se quisesse compensar a atenção que a mãe não podia dar-lhe. Alimentava vários mapaches e zorrilhos que rondavam a casa, tinha adoptado seis gatinhos órfãos que mantinha escondidos na garagem, salvou a vida a um passarão com uma asa partida e guardava uma cobra de um metro de comprimento dentro de uma caixa. Se a mãe encontrasse a cobra morria ali mesmo de susto, embora não fosse provável isso acontecer porque, quando não estava no hospital, Lisa Cold passava o dia na cama.
Excepto as panquecas do seu pai e umas sandes de atum com maionese, especialidade de Andrea, ninguém cozinhava naquela família há já alguns meses. No frigorífico havia apenas sumo de laranja, leite e gelados. À tarde pediam pizza ou comida chinesa por telefone. No princípio foi quase uma festa, porque cada um comia a qualquer hora o que lhe apetecia, sobretudo açúcar, mas já todos sentiam a falta da dieta saudável dos tempos normais. Alex pôde avaliar nesses meses como tinha sido enorme a presença da sua mãe e quanto pesava agora a sua ausência. Sentia tantas saudades do seu riso fácil e do seu carinho, como da sua severidade. Ela era mais rigorosa que o seu pai e mais perspicaz. Era impossível enganá-la porque tinha um terceiro olho para ver as coisas invisíveis. Já não se ouvia a voz dela cantarolando em italiano, não havia música, nem flores, nem aquele cheiro característico a bolachas acabadas de fazer e a tintas. Antigamente, a sua mãe arranjava-se de maneira a conseguir trabalhar várias horas no seu estúdio, manter a casa impecável e esperar os filhos com bolachas. Agora mal se levantava um bocadinho e andava às voltas pelos quartos com um ar perplexo, como se não reconhecesse o ambiente, consumida, com os olhos fundos e rodeados de sombras. Os seus quadros, que antes pareciam verdadeiras explosões de cor, permaneciam agora esquecidos nos cavaletes e as tintas de óleo secavam nos tubos. Lisa Cold parecia ter encolhido, era apenas um fantasma silencioso.
Alex já não tinha quem lhe coçasse as costas ou o animasse quando amanhecia sentindo-se um bicho. O pai não era homem de mimos. Iam juntos escalar montanhas, mas falavam pouco. Além disso, John Cold tinha mudado, como toda a gente na família. Já não era a pessoa serena de sempre, irritava-se com frequência, não apenas com os filhos, mas também com a mulher. Às vezes censurava Lisa aos gritos por esta não comer o suficiente ou não tomar os medicamentos, mas imediatamente se arrependia do seu arrebatamento e pedia-lhe perdão, angustiado. Estas cenas deixavam Alex a tremer: não suportava ver a mãe'sem forças e o pai com os olhos cheios de lágrimas.
Ao chegar a casa nesse dia à hora do almoço estranhou ver a carrinha do pai, que a essa hora estava sempre a trabalhar na clínica. Entrou pela porta da cozinha, que estava sempre destrancada, com a intenção de comer alguma coisa, ir buscar a flauta e sair disparado; de regresso à escola. Deu uma vista de olhos em volta e viu apenas os restos fossilizados da pizza da noite anterior. Resignado a passar fome, dirigiu-se ao frigorífico à procura de um copo de leite. Nesse instante ouviu o choro. Ao princípio pensou que eram os gatinhos de Nicole na garagem, mas imediatamente se apercebeu de que o ruído vinha do quarto dos pais. Sem coragem para espiar, de uma forma quase automática, aproximou-se e empurrou suavemente a porta entreaberta. O que viu deixou-o paralisado.
A sua mãe estava a meio do quarto em camisa de noite e descalça, sentada num banco, com a cara entre as mãos, chorando. O pai, de pé atrás dela, empunhava uma antiga navalha de barbear, que pertencera ao avô. Longas madeixas de cabelo preto cobriam o chão e os ombros frágeis da sua mãe, enquanto o seu crânio careca brilhava como mármore na luz pálida que se filtrava pela janela.
O rapaz permaneceu por alguns segundos gelado de estupor, sem compreender a cena, sem saber o que significava o cabelo pelo chão, a cabeça barbeada ou aquela navalha na mão do seu pai, brilhando a escassos milímetros do pescoço inclinado da sua mãe. Quando conseguiu reagir, um grito terrível subiu-lhe desde os pés e uma vaga de loucura sacudiu-o por completo. Lançou-se contra John Cold, atirando-o ao chão com um empurrão. A navalha fez um arco no ar, passou a roçar-lhe a testa e espetou-se no chão. A mãe começou a chamá-lo, puxando-lhe pela roupa para o separar, enquanto ele distribuía pancadas às cegas, sem ver onde caíam.
- Está tudo bem, filho, não aconteceu nada -- suplicava Lisa Cold agarrando-o com as suas escassas forças, enquanto o pai protegia a cabeça com os braços.
Finalmente, a voz da mãe penetrou-lhe na mente e a sua ira esvaziou-se num instante, dando lugar à perplexidade e ao horror pelo que tinha feito. Pôs-se de pé e retrocedeu cambaleando. Depois desatou a correr e fechou-se no quarto. Arrastou a sua secretária e trancou a porta, tapando os ouvidos para não ouvir os pais chamando-o. Permaneceu durante muito tempo apoiado contra a parede, com os olhos fechados, tentando controlar o furacão de sentimentos que o sacudia até aos ossos. A seguir dedicou-se a destruir sistematicamente tudo o que havia no quarto. Tirou os cartazes das paredes e rasgou-os um por um; agarrou no seu taco de baseboi e arremeteu contra os quadros e vídeos; esmagou a sua colecção de carros antigos e de aviões da Primeira Guerra Mundial; arrancou as páginas dos seus livros; esventrou com o seu canivete suíço o colchão e as almofadas; cortou à tesourada a sua roupa e os cobertores e por fim pontapeou o candeeiro até o deixar em fanicos. Levou a cabo esta destruição sem pressa, metodicamente, em silêncio, como quem efectua uma tarefa fundamental e só se deteve quando as forças o abandonaram e não havia mais nada para partir. O chão ficou coberto de penas e do recheio do colchão, de vidros, papéis, trapos e pedaços de brinquedos. Devastado pelas emoções e pelo esforço, deitou-se a meio daquele naufrágio, encolhido como um caracol, com a cabeça nos joelhos e chorou até adormecer.
Alexander Cold acordou horas mais tarde com as vozes das suas irmãs e demorou alguns instantes a lembrar-se do que acontecera. Quis acender a luz, mas o candeeiro estava destruído. Aproximou-se da porta às apalpadelas, tropeçou e blasfemou ao sentir que a sua mão caía em cima de um pedaço de vidro. Não se lembrava de ter deslocado a secretária e teve de empurrá-la com todo o corpo para conseguir abrir a porta. A luz do corredor iluminou o campo de batalha em que o seu quarto se tinha convertido e as caras assombradas das suas irmãs no umbral.
Estás a mudar a decoração do teu quarto, Alex? - troçou Andrea, enquanto Nicole tapava a cara para esconder o riso.
Alex fechou-lhes a porta no nariz e sentou-se no chão a pensar, comprimindo o golpe da mão com os dedos. A ideia de morrer exangue pareceu-lhe tentadora, livrava-o pelo menos de ter de enfrentar os pais depois do que tinha feito, mas imediatamente mudou de opinião. Tinha de lavar a ferida antes que esta infectasse, decidiu. Além disso, já começava a doer-lhe, devia ser um corte profundo, podia provocar-lhe o tétano... Saiu com um passo vacilante, às apalpadelas porque mal conseguia ver; os óculos tinham-se perdido no desastre e tinha os olhos inchados de chorar. Espreitou a cozinha, onde estava o resto da família, incluindo a sua mãe, com um lenço de algodão amarrado à cabeça, que lhe dava o aspecto de uma refugiada.
- Peço desculpa... -balbuciou Alex com os olhos cravados no chão.
Lisa conteve uma exclamação ao ver a camisola do filho manchada de sangue, mas quando o marido lhe fez um sinal, agarrou nas duas miúdas pelos braços e levou-as sem dizer uma palavra. John Cold aproximou-se de Alex para examinar a ferida da mão.
- Não sei o que me deu, papá... - murmurou o rapaz, sem se atrever- a erguer os olhos.
- Eu também tenho medo, filho.
- A mamã vai morrer? - perguntou Alex com um fio de voz.
- Não sei, Alexander. Põe a mão debaixo do jorro de água fria - ordenou-lhe o pai.
John Cold lavou o sangue, examinou o corte e decidiu injectar um anestésico para tirar os vidros e dar alguns pontos. Alex, que a vista de sangue costumava debilitar, desta vez suportou o tratamento sem um único gesto, contente por ter um médico na família. O pai aplicou-lhe uma pomada desinfectante e ligou-lhe a mão.
- De qualquer forma o cabelo da mamã ia cair, não é verdade? - perguntou o rapaz.
- Sim, devido à quimioterapia. É preferível cortá-lo de uma vez que vê-lo cair aos punhados. Isso é o menos, filho, voltará a crescer-lhe. Senta-te, temos de conversar.
- Desculpa-me, papá... Vou trabalhar para repor tudo o que parti.
- Está bem, suponho que precisavas de desabafar. Não falemos mais disso, tenho coisas mais importantes a dizer-te. Terei de levar Lisa a um hospital do Texas, onde lhe farão um tratamento longo e complicado. É o único sítio onde podem fazê-lo.
- E com isso curar-se-á? - perguntou o rapaz, ansiosamente.
-Assim o espero, Alexander. Irei com ela, evidentemente. Será preciso fecharmos a casa durante algum tempo.
- E o que nos acontecerá, às minhas irmãs e a mim?
-Andrea e Nicole vão viver com a avó Carla. Tu irás para junto da minha mãe - explicou-lhe o pai.
- Kate? Não quero ir para lá, papá! Por que não posso ir com
as minhas irmãs? A avó Carla pelo menos sabe cozinhar...
- Três crianças são muito trabalho para a minha sogra.
- Tenho quinze anos, papá, idade de sobra para que ao menos peças a minha opinião. Não é justo mandares-me para junto de Kate
como se eu fosse uma encomenda. É sempre a mesma coisa, tu tomas as decisões e eu tenho de aceitá-las. Já não sou uma criança! - alegou Alex, furioso.
- Às vezes ages como tal - replicou John Cold apontando para o corte na mão.
- Foi um acidente, pode acontecer a qualquer pessoa. Porto-me bem em casa de Carla, prometo-te.
- Sei que as tuas intenções são boas, filho, mas às vezes perdes a cabeça.
- Já te disse que ia pagar o que parti! - gritou Alexander, dando um murro na mesa.
- Estás a ver como perdes o controlo? De qualquer forma, Alexander, isto não tem nada a ver com a destruição do teu quarto. Já estava combinado com a minha sogra e com a minha mãe. Os três terão de ir para junto das avós, não há outra solução. Tu viajarás para Nova Iorque dentro de alguns dias - disse-lhe o pai.
- Sozinho?
- Sozinho. Receio que de agora em diante terás de fazer muitas coisas sozinho. Levas o teu passaporte, porque creio que vais iniciar uma aventura com a minha mãe.
- Onde?
- No Amazonas...
- No Amazonas?! - exclamou Alex aterrorizado - Vi um documentário sobre o Amazonas, esse sítio está cheio de mosquitos, jacarés e bandidos! Têm todo o tipo de doenças, até lepra!
- Suponho que a minha mãe sabe o que faz, não te levaria para um sítio onde a tua vida corresse perigo, Alexander.
- Kate é capaz de me empurrar para um rio infestado de piranhas, papá. Com uma avó como a minha, não preciso de inimigos - balbuciou o rapaz.
- Sinto muito, mas terás de ir de qualquer forma, filho.
- E a escola? Estamos em época de exames. Além disso, não posso abandonar a orquestra de um dia para o outro...
Alexander Cold estava no aeroporto de Nova Iorque a meio de uma multidão apressada que passava ao seu lado arrastando malas e embrulhos, empurrando, atropelando. Pareciam autómatos, metade deles com um telemóvel colado ao ouvido e falando para o ar, como dementes. Estava sozinho, com a sua mochila às costas e uma nota enrugada na mão. Levava outras três dobradas e metidas nas botas. O pai aconselhara-lhe cautela porque naquela cidade enorme as coisas não eram como na pequena povoação da costa californiana onde viviam e onde nunca acontecia nada. Os três miúdos Cold tinham crescido brincando na rua com outras crianças, conheciam toda a gente e entravam nas casas dos seus vizinhos como na sua própria casa.
O rapaz tinha viajado seis horas, atravessando o continente de um extremo ao outro, sentado ao pé de um gordo suado, cuja gordura transbordava o assento, reduzindo o seu espaço a metade. A toda a hora o homem agachava-se com dificuldade, deitava a mão a um saco de mantimentos e punha-se a mastigar alguma guloseima, sem o deixar dormir ou ver o filme em paz. Alex ia muito cansado, contando as horas que faltavam para terminar aquele suplício, até aterrarem finalmente e poder esticar as pernas. Desceu do avião aliviado, procurando a avó com o olhar, mas não a viu à porta, como esperava.
Uma hora mais tarde Kate Cold ainda não tinha aparecido e Alex começava a angustiar-se seriamente. Pedira para a chamarem duas vezes pelos microfones, sem obter resposta e agora teria de trocar a sua nota por moedas para usar o telefone. Felicitou-se pela sua boa memória. Conseguia lembrar-se do número sem vacilar, tal como se lembrava da direcção sem nunca lá ter estado, devido apenas aos postais que ela enviava de vez em quando. O telefone da avó tocou em vão, enquanto ele, mentalmente, fazia força para que ela o atendesse. O que faço agora? - murmurou, perplexo. Lembrou-se de fazer um telefonema de longa distância para o pai pedindo-lhe instruções, mas isso podia custar-lhe todas as moedas. Por outro lado, não quis portar-se como um fedelho. O que podia fazer o pai de tão longe? Não, decidiu, não podia perder a cabeça só porque a sua avó se atrasara um pouco. Talvez estivesse presa no trânsito, ou andasse às voltas no aeroporto à sua procura, cruzando-se sem se verem.
Passou outra meia hora e nessa altura já sentia tanta raiva contra Kate Cold que, se a tivesse pela frente, certamente a teria insultado. Lembrou-se das partidas violentas que ela lhe fizera durante anos, como a caixa de chocolates recheados com molho picante que lhe mandou num aniversário. Nenhuma avó normal se daria ao trabalho de tirar o conteúdo de cada bombom com uma seringa, substituindo-o por tabasco, embrulhar os chocolates em papel prateado e colocá-los novamente na caixa, só para troçar dos netos.
Lembrou-se também das histórias de terror com que os atemorizava quando ia visitá-los e como insistia em contá-las com a luz apagada. Agora essas histórias já não pareciam tão reais, mas na infância quase o tinham matado de medo. As suas irmãs ainda tinham pesadelos com os vampiros e os zombies saídos das suas tumbas que aquela avó malvada invocava na escuridão. No entanto, não podia negar que eram viciados naquelas histórias truculentas. Também não se cansavam de a ouvir falar dos perigos, reais ou imaginários, que ela tinha enfrentado nas suas viagens pelo mundo. A história preferida era a de uma cobra pitão de oito metros de comprimento que, na Malásia, tinha engolido a sua máquina fotográfica.
- É uma pena não te ter engolido a ti, avó - comentou Alex a primeira vez que ouviu a história, mas ela não se ofendeu. Essa mesma mulher ensinara-o a nadar em menos de cinco minutos, empurrando-o para uma piscina quando tinha quatro anos. Saiu a nadar pelo outro lado, por puro desespero, mas podia ter-se afogado. Com razão Lisa Cold ficava bastante nervosa quando a sogra os vinha visitar: era obrigada a duplicar a vigilância para preservar a saúde das crianças.
Depois de uma hora e meia de espera no aeroporto, Alex já não sabia o que fazer. Imaginou como Kate Cold gozaria ao vê-lo tão angustiado e decidiu não lhe dar essa satisfação. Tinha de agir como um homem. Vestiu o casacão, endireitou a mochila nos ombros e saiu para a rua. O contraste entre o aquecimento, o bulício e a luz branca dentro do edificio, e o frio, o silêncio e a escuridão da noite lá fora, quase o deitou abaixo. Não fazia ideia de que o Inverno em Nova Iorque fosse tão desagradável. Havia um cheiro a gasolina, neve suja sobre o passeio e um ventinho gelado que fustigava a cara como se fossem agulhas. Apercebeu-se de que, com a emoção das despedidas à família, se esquecera das luvas e do gorro, que nunca tinha oportunidade de usar na Califórnia e que guardava num baú na garagem, com o restante equipamento de esqui. Sentiu a ferida na mão esquerda, que até essa altura não o incomodara, começar a latejar e calculou que deveria mudar a ligadura mal chegasse a casa da avó. Não suspeitava a que distância estava do seu apartamento nem quanto custaria uma corrida de táxi. Precisava de um mapa, mas não sabia onde adquiri-lo. Comas orelhas geladas e as mãos metidas nos bolsos, pôs-se a andar até à paragem de autocarros.
- Olá, estás sozinho? - perguntou uma rapariga, aproximando-se.
A rapariga levava uma carteira de lona ao ombro, um chapéu enfiado até às sobrancelhas, as unhas pintadas de azul e uma argola de prata atravessada no nariz. Alex ficou a olhar para ela maravilhado. Era quase tão bonita como o seu amor secreto, Cecilia Burns, apesar das suas calças esfarrapadas, das suas botas de soldado e do seu aspecto bastante sujo e famélico. Como única protecção vestia um casacão curto de pele artificial cor de laranja, que mal lhe tapava a cintura. Não calçava luvas. Alex balbuciou uma resposta vaga. O pai avisara-o para não falar com estranhos, mas essa rapariga não podia representar qualquer perigo, era apenas alguns anos mais velha, quase tão magra e baixa como a sua mãe. Na verdade, ao seu lado Alex sentiu-se forte.
- Para onde vais? - insistiu a desconhecida acendendo um cigarro.
- Para casa da minha avó, que vive na Rua Catorze com a Segunda Avenida. Sabes como posso chegar até lá? - inquiriu Alex.
- Claro, eu vou para os mesmos lados. Podemos apanhar o autocarro. Sou Morgana - apresentou-se a jovem.
- Nunca tinha ouvido esse nome - comentou Alex.
- Eu mesma o escolhi. A parva da minha mãe pôs-me um nome tão vulgar como ela. E tu, como te chamas? - perguntou, expelindo o fumo pelas narinas.
- Alexander Cold. Chamam-me Alex - replicou, um pouco escandalizado por ouvi-la referir-se à família naqueles termos.
Esperaram na rua, batendo com os pés no chão coberto de neve para os aquecerem, durante uns dez minutos, que Morgana aproveitou para lhe oferecer um resumo sucinto da sua vida: há anos que não ia à escola - isso era para os estúpidos - e fugira de casa porque não suportava o padrasto, que era um porco imundo.
- Vou entrar para uma banda rock, é esse o meu sonho - acrescentou. - A única coisa de que preciso é de uma guitarra eléctrica. O que é essa caixa que tens amarrada à mochila?
- Uma flauta.
- Eléctrica?
- Não, a pilhas - troçou Alex.
Justamente quando as suas orelhas se estavam a transformar em cubinhos de gelo, apareceu o autocarro e subiram ambos. O rapaz pagou a sua passagem e recebeu o troco, enquanto Morgana revistava um bolso do seu casaco cor de laranja, e depois outro.
- A minha carteira! Acho que ma roubaram... - gaguejou.
- Tenho muita pena, menina. Tens de descer - ordenou-lhe o motorista.
- Não tenho culpa de me terem roubado! - exclamou ela quase a gritar, perante a perplexidade de Alex, que sentia horror em chamar a atenção.
- Eu também não tenho culpa. Vai à polícia - replicou secamente o motorista.
A jovem abriu a sua carteira de lona e despejou todo o conteúdo no corredor do veículo: roupa, cosméticos, batatas fritas, várias caixas e pacotes de diversos tamanhos e uns sapatos de salto alto que pareciam pertencer a outra pessoa, porque era dificil imaginá-la com eles. Revistou cada peça de roupa com uma lentidão espantosa, dando voltas à roupa, abrindo cada uma das caixas e cada um dos pacotes, sacudindo a roupa interior à vista de toda a gente. Alex desviou os olhos, cada vez mais embaraçado. Não queria que as pessoas pensassem que ele e aquela rapariga estavam juntos.
- Não posso esperar toda a noite, menina. Tens de descer - repetiu o motorista, desta vez num tom de voz ameaçador. Morgana ignorou-o. Nessa altura já tinha despido o casacão cor de laranja e estava a examinar o forro, enquanto os restantes passageiros do autocarro começavam a reclamar pelo atraso em partirem.
- Empresta-me alguma coisa! - acabou por exigir, dirigindo-se a Alex.
O rapaz sentiu derreter-se o gelo das suas orelhas e calculou que estavam a ficar vermelhas, como sempre lhe acontecia nos momentos culminantes. Eram a sua cruz, essas orelhas que sempre o traíam, sobretudo quando estava diante de Cecilia Burns, a rapariga por quem estava apaixonado desde o jardim-escola sem a mais pequena esperança de ser correspondido. Alex tinha concluído que não havia qualquer razão para Cecilia reparar nele, podendo escolher entre os melhores atletas da escola. Ele em nada se distinguia. Os seus únicos talentos eram escalar montanhas e tocar flauta, mas nenhuma rapariga com dois dedos de testa se interessava por montes ou flautas. Estava condenado a amá-la em silêncio pelo resto da sua vida, a menos que acontecesse um milagre.
- Empresta-me para a passagem - repetiu Morgana.
Em circunstâncias normais, Alex não se importava de perder o seu dinheiro, mas nesse momento não estava em condições de armar em generoso. Por outro lado, decidiu, nenhum homem podia abandonar uma mulher naquela situação. Tinha precisamente o suficiente para não ter de recorrer às notas dobradas que tinha nas botas. Pagou a segunda passagem. Morgana enviou-lhe um beijo trocista com a ponta dos dedos, mostrou a língua ao motorista, que olhava para ela indignado, apanhou rapidamente as suas coisas e seguiu Alex até à última fila do veículo, onde se sentaram juntos.
- Salvaste-me o coiro. Assim que puder, pago-te - garantiu-lhe.
Alex não respondeu. Tinha um princípio: se emprestas dinheiro a uma pessoa que não voltas a ver, é dinheiro bem gasto. Morgana provocava-lhe uma mistura de fascínio e de rejeição, era totalmente diferente de qualquer uma das raparigas da sua povoação, mesmo das mais atrevidas. Para evitar olhar para ela de boca aberta, como um tolo, fez a maior parte da longa viagem em silêncio, com os olhos fixos no vidro escuro da janela, onde Morgana se reflectia e também o seu próprio rosto magro, com óculos redondos e o cabelo escuro, como o da mãe. Quando poderia começar a barbear-se? Não se desenvolvera como vários dos seus amigos, ainda era um miúdo imberbe, um dos mais baixos da sua turma. Até Cecilia Burns era mais alta do que ele. A sua única vantagem era que, ao contrário de outros adolescentes da sua escola, tinha uma boa pele, porque, assim que lhe aparecia uma espinha, o pai o injectava com
cortisona. A mãe garantia-lhe que não se preocupasse, alguns crescem mais cedo e outros mais tarde, na família Cold todos os homens eram altos. Mas ele sabia que a herança genética era caprichosa e que bem podia sair à família da sua mãe. Lisa Cold era baixa, mesmo para uma mulher, vista detrás parecia uma miudinha de catorze anos, sobretudo desde que a doença a reduzira a um simples esqueleto. Ao pensar nela sentiu que o peito se lhe apertava e que lhe faltava o ar, como se um punho gigantesco o tivesse atingido no pescoço.
Morgana tinha tirado o seu casaco de pele cor de laranja. Por baixo levava uma camisola de manga curta de renda preta que lhe deixava a barriga à mostra e um colar de couro com pregos metálicos, como de um cão bravio.
- Morro por um cigarro - disse.
Alex apontou para o aviso que proibia fumar no autocarro. Ela deu uma vista de olhos em redor. Ninguém lhes prestava atenção. Havia vários assentos vazios à volta deles -e outros passageiros liam ou dormitavam. Verificando que ninguém reparava neles, meteu a mão na blusa e tirou do peito uma bolsinha nojenta. Deu-lhe uma pequena cotovelada abanando a bolsa diante do nariz dele.
- Erva - murmurou.
Alexander Cold recusou abanando a cabeça. Não se considerava um puritano, nem nada que se parecesse, tinha experimentado algumas vezes, como quase todos os seus colegas do secundário, marijuana e álcool mas não conseguia compreender a sua atracção, excepto pelo facto de serem proibidos. Não gostava de perder o controlo. Escalando montanhas tomara o gosto pela exaltação de ter o controlo do corpo e do espírito. Regressava esgotado, dorido e esfomeado dessas excursões com o pai, mas absolutamente feliz, cheio de energia, orgulhoso por ter vencido mais uma vez os seus temores e os obstáculos da montanha. Sentia-se electrizado, poderoso, quase invencível. Nessas ocasiões o pai dava-lhe uma palmada amistosa nas costas, em jeito de prémio pela proeza, mas não dizia nada para não lhe alimentar a vaidade. John Cold não era amigo de lisonjas, dava muito trabalho conseguir arrancar uma palavra de elogio da sua parte, mas o filho não esperava ouvi-la, bastava-lhe essa palmada viril.
Imitando o pai, Alex tinha aprendido a cumprir com as suas obrigações o melhor possível, sem se convencer de nada, mas secretamente gabava-se de três virtudes que considerava suas: coragem para escalar montanhas, talento para tocar flauta e clareza para pensar. Era mais dificil reconhecer os seus defeitos, embora se apercebesse de que havia pelo menos dois que devia tentar melhorar, tal como a sua mãe lhe fizera notar mais que uma vez: o seu cepticismo, que o fazia duvidar de quase tudo e o seu mau feitio, que o fazia explodir nas alturas menos convenientes. Isto era uma situação nova, porque há apenas alguns meses era confiante e andava sempre de bom humor. A sua mãe garantia que eram coisas da idade e que lhe passariam, mas ele não tinha a mesma certeza dela. De qualquer forma, não lhe atraía o oferecimento de Morgana. Nas ocasiões em que experimentara drogas não sentira ter voado até ao paraíso, como diziam alguns dos seus amigos. Sentira apenas que a cabeça se enchia de fumo e que ficava sem força nas pernas. Para ele não havia maior estímulo que estar suspenso de uma corda a cem metros de altura, sabendo exactamente qual era o passo que devia dar a seguir. Não, as drogas não eram para ele. O cigarro também não, porque precisava de pulmões sãos para escalar e tocar flauta. Não conseguiu evitar um breve sorriso ao recordar o método utilizado pela sua avó Kate para cortar pela raiz a sua tentação do tabaco. Ele tinha onze anos nessa altura e, apesar do pai já lhe ter feito um sermão sobre o cancro do pulmão e as outras consequências da nicotina, costumava fumar às escondidas com os amigos atrás do ginásio. Kate Cold veio passar o Natal com eles e, com o seu nariz de cão de caça, não demorou muito a descobrir o cheiro, apesar da pastilha elástica e da água-de-colónia com que ele tentava dissimulá-lo.
- Fumando tão novo, Alexander? - perguntou-lhe de muito bom humor. Ele tentou negá-lo, mas ela não lhe deu tempo - Acompanha-me, vamos dar um passeio - disse.
O rapaz entrou no carro, colocou o cinto de segurança bem apertado e murmurou entre dentes um esconjuro de boa sorte, porque a avó era uma terrorista ao volante. Com a desculpa de que, em Nova Iorque, ninguém tinha carro, conduzia como se a perseguissem. Levou-o entre estertores e travagens até ao supermercado, onde comprou quatro grandes charutos de tabaco preto. Levou-o depois até uma rua tranquila, estacionou longe de olhares indiscretos e tratou de acender um puro para cada um. Fumaram e fumaram com as portas e as janelas fechadas até o fumo os impedir de ver através das janelas. Alex sentia a cabeça andar à roda e o estômago a subir e a descer. Subitamente não aguentou mais, abriu a porta e deixou-se cair na rua como um saco, doente até à alma. A avó esperou, a sorrir, que esvaziasse o estômago, sem se oferecer para lhe segurar a testa ou consolá-lo, como teria feito a sua mãe, e depois acendeu outro charuto e entregou-lho.
- Vamos, Alexander, prova-me que és um homem e fuma outro - desafiou-o, o mais divertida possível.
Durante os dois dias seguintes o rapaz teve de ficar na cama, verde como uma lagartixa e convencido de que as náuseas e a dor de cabeça iam matá-lo. O pai julgou que era um vírus e a mãe desconfiou imediatamente da sogra, mas não se atreveu a acusá-la directamente de envenenar o neto. Desde essa altura, o hábito de fumar, que tanto êxito tinha entre alguns dos seus amigos, revolvia-lhe o estômago.
- Esta erva é do melhor que há - insistiu Morgana, apontando para o conteúdo da sua bolsinha. - Também tenho isto, se preferires - acrescentou, mostrando-lhe duas pastilhas brancas na palma da mão.
Alex voltou a fixar os olhos na janela do autocarro, sem responder. Sabia por experiência que era melhor calar-se ou mudar de assunto. Qualquer coisa que dissesse ia parecer estúpida e a rapariga pensaria que era um fedelho ou que tinha ideias religiosas fundamentalistas. Morgana encolheu os ombros e guardou os seus tesouros à espera de uma ocasião mais apropriada. Estavam a chegar ao terminal de autocarros, em pleno centro da cidade e tinham de descer.
A essa hora ainda não diminuíra nem o tráfego nem a quantidade de gente nas ruas e, embora os escritórios e o comércio já estivessem fechados, havia bares, teatros, cafés e restaurantes abertos. Alex cruzava-se com as pessoas sem lhes ver o rosto, via apenas as suas figuras envoltas em sobretudos escuros, caminhando depressa. Viu alguns vultos deitados pelo chão junto de alguns gradeamentos nos passeios, por onde saíam colunas de vapor. Compreendeu que eram vagabundos dormindo acocorados junto das saídas de aquecimento dos edifícios, única fonte de calor na noite invernosa.
As duras luzes de néon e os faróis dos automóveis davam às ruas molhadas e sujas um aspecto irreal. Pelas esquinas havia montes de sacos pretos, alguns rotos e com o lixo derramado. Uma mendiga envolta num casaco esfarrapado esgaravatava os sacos com um pau, recitando uma eterna litania num idioma inventado. Alex teve de saltar para um lado tentando evitar uma ratazana com a cauda mordidaa e sangrenta que estava a meio do passeio e não se mexera quando passaram. As buzinadelas do tráfego, as sirenes da polícia e, de vez em quando, o ulular de uma ambulância, cortavam o ar. Um homem jovem, muito alto e grotesco, passou gritando que o mundo ia acabar e colocou-lhe na mão uma folha de papel enrugada, na qual aparecia uma loura de lábios grossos meio despida que oferecia massagens. Alguém com patins e auscultadores nos ouvidos atropelou-o, atirando-o contra a parede.
- Olha por onde andas, imbecil! - gritou o agressor.
Alexander sentiu que a ferida na mão começava novamente a latejar. Pensou que estava mergulhado num pesadelo de ficção científica, numa gigantesca e pavorosa cidade de cimento, aço, vidro, poluição e solidão. Foi invadido por uma vaga de nostalgia pelo lugar junto ao mar onde tinha passado a sua vida. Aquela povoação tranquila e aborrecida, de onde tão frequentemente quisera fugir, parecia-lhe agora maravilhosa. Morgana interrompeu os seus lúgubres pensamentos.
- Estou morta de fome... Podíamos comer alguma coisa... - sugeriu.
- Já é tarde, tenho de chegar a casa da minha avó - desculpou-se.
- Calma, homem, que já te levo até lá. Estamos perto, mas calhava-nos bem meter alguma coisa na barriga - insistiu ela.
Sem lhe dar oportunidade-para recusar, arrastou-o por um braço para o interior de um local ruidoso que cheirava a cerveja, a café rançoso e a fritos. Atrás de um comprido balcão de fórmica, dois empregados asiáticos serviam uns pratos gordurosos. Morgana instalou-se num tamborete diante do balcão e pôs-se a estudar o menu, escrito a giz num quadro pregado na parede. Alex compreendeu que teria de pagar a comida e dirigiu-se à casa de banho para tirar as notas que trazia escondidas nas botas.
As paredes da casa de banho estavam cobertas de palavrões e de desenhos obscenos, no chão havia papéis amarrotados e charcos de água, que gotejava das canalizações oxidadas. Entrou num cubículo, fechou a porta com a tranca, colocou a mochila no chão e, apesar do asco, teve de sentar-se na sanita para tirar as botas, tarefa nada fácil naquele espaço reduzido e com uma mão ligada. Pensou nos germes e nas inúmeras doenças que se podem apanhar nas casas de banho públicas, como dizia o pai. Tinha de ter cuidado com o seu reduzido capital.
Contou o seu dinheiro com um suspiro. Ele não comeria e esperava que Morgana se conformasse com um prato barato. Ela não parecia ser das que comem muito. Enquanto não estivesse a salvo no apartamento de Kate Cold, aquelas três notas dobradas e voltadas a dobrar eram tudo o que possuía neste mundo. Representavam a diferença entre a salvação e morrer de fome e de frio deitado na rua, como os mendigos que vira há apenas uns instantes. Se não desse com a direcção da avó, podia sempre regressar ao aeroporto para passar a noite nalgum canto e regressar a casa no dia seguinte, para isso dispunha da passagem de volta. Calçou novamente as botas, guardou o dinheiro num compartimento da sua mochila e saiu do cubículo. Não estava mais ninguém na casa de banho. Ao passar diante do lavatório, pousou a mochila no chão, endireitou a ligadura da mão esquerda, lavou meticulosamente a mão direita com sabão, deitou bastante água na cara para desanuviar o cansaço e depois secou-se com papel. Ao inclinar-se para apanhar a mochila apercebeu-se, horrorizado, de que tinha desaparecido.
Saiu disparado da casa de banho, com o coração aos pulos. O roubo tinha decorrido em menos de um minuto, o ladrão não poderia estar longe, apressando-se, apanhá-lo-ia antes de este desaparecer entre a multidão das ruas. No local estava tudo na mesma, os mesmos empregados suados atrás do balcão, os mesmos fregueses indiferentes, a mesma comida gordurosa, o mesmo ruído de pratos e de música rock no máximo volume. Ninguém reparou na sua agitação, ninguém se voltou para olhar quando gritou que tinha sido roubado. A única diferença era Morgana já não estar sentada diante do balcão, onde a tinha deixado. Não havia rasto dela.
Alex adivinhou imediatamente quem o seguira discretamente, quem tinha esperado no outro lado da porta da casa de banho aguardando a sua oportunidade, quem levara a sua mochila num abrir e fechar de olhos. Deu uma palmada na testa. Como podia ter sido tão inocente! Morgana enganara-o como a um bebé, despojando-o de tudo excepto da roupa que tinha vestida. Tinha perdido o seu dinheiro, a passagem de volta de avião e até a sua preciosa flauta. A única coisa que lhe restava era o passaporte que, por acaso, levava no bolso do casaco. Teve de fazer um esforço tremendo, lutando contra a vontade de se pôr a chorar como um miúdo.
Quem tem boca, vai a Roma, era um dos axiomas de Kate Cold. O seu trabalho obrigava-a a viajar para lugares remotos, onde certamente muitas vezes pusera em prática esse ditado. Alex era bastante mais tímido, custava-lhe abordar um desconhecido para averiguar o que quer que fosse, mas não havia outra solução. Assim que conseguiu acalmar e recuperar a fala, aproximou-se de um homem que mastigava um hambúrguer e perguntou-lhe como poderia chegar à esquina da Rua Catorze com a Segunda Avenida. O tipo encolheu os ombros e não lhe respondeu. Sentindo-se insultado, o rapaz corou. Hesitou durante alguns minutos e acabou por abordar um dos empregados que estava atrás do balcão. O homem indicou, com a faca que tinha na mão, uma direcção vaga e deu-lhe algumas instruções aos gritos por cima do bulício do restaurante, com uma pronúncia tão incompreensível que ele não entendeu uma única palavra. Decidiu que era uma questão de lógica: tinha de averiguar para que lado ficava a Segunda Avenida e contar as ruas. Muito simples. Mas não lhe pareceu tão simples quando soube que estava na esquina da Rua Quarenta e Dois com a Oitava Avenida e calculou o que teria de percorrer com aquele frio glaciar. Agradeceu o seu treino em escalar montanhas. Se conseguia passar seis horas trepando como uma mosca pelas rochas, bem podia andar meia dúzia de quarteirões em terreno plano. Fechou o fecho do seu casaco, afundou a cabeça nos ombros, meteu as mãos nos bolsos e pôs-se a andar.
Já passava da meia-noite e começava a nevar quando o rapaz chegou à rua da avó. O bairro pareceu-lhe decrépito, sujo e feio, não havia uma árvore em lado nenhum e há um bom bocado que não se via vivalma. Pensou que só um desesperado como ele podia andar àquelas horas pelas ruas perigosas de Nova Iorque. Só se livrara de um assalto porque nenhum bandido tinha coragem de sair com aquele frio. O edificio era uma torre cinzenta a meio de muitas outras torres idênticas, rodeada de grades de segurança. Tocou à campainha e, de imediato, a voz rouca de Kate Cold perguntou quem se atrevia a incomodar àquelas horas da noite. Alex pressentiu que ela o esperava embora, evidentemente, jamais o admitisse. Estava gelado até aos ossos e nunca na sua vida precisara tanto dos braços de alguém mas quando, finalmente, a porta do elevador se abriu no décimo primeiro andar e se viu diante da avó, estava determinado a não permitir que ela o visse fraquejar.
- Olá avó - cumprimentou, o mais claramente que conseguiu, devido ao tremor constante dos dentes.
- Já te disse que não me chames avó! - repreendeu-o ela.
- Olá, Kate.
- Chegas bastante tarde, Alexander.
- Não combinámos que ias buscar-me ao aeroporto? - replicou ele tentando evitar que lhe saltassem as lágrimas.
- Não combinámos nada. Se não és capaz de vir do aeroporto à minha casa, muito menos serás capaz de vir comigo para a selva - disse Kate Cold. - Tira o casaco e as botas, vou preparar-te uma chávena de chocolate e um banho quente, mas que conste que só o faço para evitar que tenhas uma pneumonia. Tens de estar saudável para a viagem. Não esperes que, de futuro, te mime, entendido?
- Nunca esperei que me mimasses - replicou Alex.
- O que te aconteceu na mão? - perguntou ela ao ver a ligadura empapada.
- É uma longa história.
O pequeno apartamento de Kate Cold era escuro, apinhado e caótico. Duas das janelas - com os vidros imundos - davam para um pátio interior e a terceira para uma parede de azulejos com umas escadas de incêndio. Viu malas, mochilas, pacotes e caixas atirados pelos cantos, livros, jornais e revistas amontoados por cima das mesas. Havia dois crânios humanos trazidos do Tibete, arcos e flechas dos pigmeus africanos, vasos funerários do deserto de Atacama, escaravelhos petrificados do Egipto e milhares de outros objectos. Uma enorme pele de cobra estendia-se ao longo de toda uma parede. Pertencera à famosa pitão que tinha engolido a máquina fotográfica na Malásia.
Até essa altura, Alex nunca tinha visto a avó no seu ambiente natural e teve de admitir que agora, ao vê-la rodeada das suas coisas, parecia muito mais interessante. Kate Cold tinha sessenta e quatro anos, era magra e musculosa, fibra pura e pele curtida pela intempérie. Os seus olhos azuis, que tinham visto meio mundo, eram agudos como punhais. O cabelo grisalho, que ela própria cortava à tesourada sem se olhar ao espelho, espetava-se em todas as direcções, como se nunca o tivesse penteado. Gabava-se dos seus dentes, grandes e fortes, capazes de partir nozes e destapar garrafas. Também tinha orgulho de nunca ter partido um osso, nunca ter consultado um médico e ter sobrevivido, desde a ataques de malária até a mordeduras de escorpião. Bebia vodka seco e fumava tabaco negro num cachimbo de marinheiro. Vestia-se, de Inverno e de Verão, com as mesmas calças folgadas e com um casaco sem mangas, com bolsos por todos os lados, onde levava o indispensável para sobreviver em caso de cataclismo. Às vezes, quando era preciso vestir-se de uma forma mais elegante, tirava o colete e punha um colar de dentes de urso, oferta de um chefe apache.
Lisa, a mãe de Alex, tinha pânico de Kate, mas as crianças aguardavam a sua visita com ansiedade. Aquela avó extravagante, protagonista de aventuras incríveis, trazia-lhes notícias de lugares tão exóticos que tinham dificuldade em imaginá-los. Os três netos coleccionavam os seus relatos de viagens, que apareciam em diversas revistas e jornais, e os postais e fotografias que ela lhes enviava dos quatro pontos cardeais. Embora às vezes tivessem vergonha de apresentá-la aos seus amigos, no fundo sentiam-se orgulhosos por um membro da sua família ser quase uma celebridade.
Meia hora mais tarde, Alex aquecera com o banho e estava envolto num roupão, com meias de lã, devorando almôndegas de carne com puré de batata, uma das poucas coisas que ele comia com agrado e a única coisa que Kate sabia cozinhar.
- São restos de ontem - disse ela, mas Alex calculou que ela cozinhara especialmente para ele. Não quis contar-lhe a sua aventura com Morgana, para não parecer um imbecil, mas teve de admitir que lhe tinham roubado tudo o que trazia.
- Suponho que me vais dizer que aprenda a não confiar em ninguém - resmungou o rapaz, corando.
- Pelo contrário. Ia dizer para aprenderes a confiar em ti próprio. Já vês, Alexander, apesar de tudo conseguiste chegar até ao meu apartamento sem problemas.
- Sem problemas? Quase morri congelado pelo caminho! Iriam descobrir o meu cadáver no degelo da Primavera - replicou ele.
- Uma viagem de muitas milhas começa sempre aos tropeções. E o passaporte? - inquiriu Kate.
- Salvou-se porque o trazia no bolso.
- Cola-o ao peito com fita-cola porque, se o perderes, estás frito.
- O que mais lamento é a minha flauta - comentou Alex.
- Terei de te dar a flauta do teu avô. Pensava guardá-la até demonstrares algum talento, mas suponho que ficará melhor nas tuas mãos que atirada por aí - ofereceu Kate.
Procurou nos armários que cobriam as paredes do apartamento, do chão ao tecto, e entregou-lhe um estojo poeirento de cabedal preto.
- Toma, Alexander. O teu avô usou-a durante quarenta anos. Cuida bem dela.
O estojo continha a flauta de Joseph Cold, o mais célebre flautista do século, segundo a opinião dos críticos quando morrera.
- Era melhor terem-no dito quando o pobre Joseph ainda era vivo - foi o comentário de Kate quando o leu na imprensa. Tinham estado divorciados durante trinta anos mas, no seu testamento, Joseph Cold deixara metade dos seus bens à sua ex-mulher, incluindo a sua melhor flauta, que agora o neto tinha nas mãos. Alex abriu com reverência a velha caixa de couro e acariciou a flauta: era magnífica. Agarrou-a com delicadeza e levou-a aos lábios. Ao soprar, as notas saíram do instrumento com uma beleza tal que ele próprio se surpreendeu. Soava de uma forma muito diferente da flauta que Morgana lhe tinha roubado.
Kate Cold deu tempo ao neto para inspeccionar o instrumento e agradecer-lhe efusivamente, tal como ela esperava, e de imediato lhe entregou um livreco amarelado com as capas soltas: Guia de Saúde do Viajante Audaz. O rapaz abriu-o ao acaso e leu os sintomas de uma doença mortal que se adquire por comer o cérebro dos antepassados.
- Não como órgãos - disse.
- Nunca se sabe o que põem nas almôndegas - replicou a avó.
Sobressaltado, Alex observou com desconfiança os restos do seu prato. Com Kate Cold era preciso muita cautela. Era perigoso ter um antepassado como ela.
- Amanhã terás de te vacinar contra meia dúzia de doenças tropicais. Deixa-me ver essa mão, não podes viajar com uma infecção - ordenou-lhe Kate.
Examinou-o com brusquidão, concluiu que o seu filho John tinha feito um bom trabalho, despejou-lhe meio frasco de desinfectante na ferida, para prevenir, e participou-lhe que, no dia seguinte, ela própria lhe tiraria os pontos. É muito fácil – disse qualquer pessoa pode fazê-lo. Alex estremeceu. A avó via mal e usava uns óculos riscados que tinha comprado em segunda mão num mercado da Guatemala. Enquanto lhe colocava uma nova ligadura, Kate explicou-lhe que a revista International Geographic tinha financiado uma expedição ao coração da selva amazónica, entre o Brasil e a Venezuela, em busca de uma criatura gigantesca, possivelmente humanóide, que fora vista em várias ocasiões. Tinham sido encontradas pegadas enormes. Aqueles que tinham estado nas suas proximidades, diziam que aquele animal - ou aquele ser humano primitivo - era mais alto do que um urso, tinha braços bastante compridos e estava todo coberto por pêlos pretos. Era o equivalente ao abominável homem das neves dos Himalaias, em plena selva.
- Pode ser um macaco - sugeriu Alex.
- Não achas que mais alguém terá pensado nessa possibilidade? - cortou a sua avó.
- Mas não há provas de que, de facto, existe... - aventurou Alex.
- Não temos uma certidão de nascimento da Besta, Alexander. Ah! Um pormenor importante: dizem que expele um odor tão penetrante que os animais e as pessoas desmaiam ou ficam paralisados na sua presença.
- Se as pessoas desmaiam, então ninguém o viu.
- Exactamente, mas pelas pegadas sabe-se que anda sobre duas patas. E não usa sapatos, no caso de esta ser a tua próxima pergunta.
- Não, Kate, a minha próxima pergunta é se usa chapéu! - explodiu o neto.
- Não creio.
- É perigoso?
- Não, Alexander. É amabilíssimo. Não rouba, não rapta crianças e não destrói a propriedade privada. Mata apenas. Fá-lo com limpeza, sem ruído, partindo os ossos e estripando as suas vítimas com verdadeira elegância, como um profissional - troçou a avó.
- Quantas pessoas matou? - inquiriu Alex, cada vez mais inquieto.
- Não muitas, se considerarmos o excesso de população do planeta.
- Quantas, Kate?
- Vários garimpeiros, alguns soldados, alguns comerciantes... Enfim, não se sabe o número exacto.
- Matou índios? Quantos? - perguntou Alex.
- Na realidade não se sabe. Os índios só sabem contar até dois. Além disso, para eles a morte é relativa. Se julgam que alguém lhes roubou a alma, ou andou sobre as suas pegadas, ou se apoderou dos seus sonhos, por exemplo, isso é pior do que estar morto. Pelo contrário, alguém que está morto pode continuar vivo em espírito.
- É complicado - disse Alex, que não acreditava em espíritos.
- Quem te disse que a vida era simples?
Kate Cold explicou-lhe que a expedição era dirigida por um famoso antropólogo, o professor Ludovic Leblanc, que tinha passado anos investigando as pegadas do denominado Yeti ou abominável homem das neves, na fronteira entre a China e o Tibete, sem o encontrar. Também tinha estado com certa tribo do Amazonas e defendia que eram os mais selvagens do planeta: ao primeiro descuido, comiam os seus prisioneiros. Esta informação não era tranquilizadora, admitiu Kate. Serviria de guia um brasileiro chamado César Santos, que tinha passado a vida nessa região e tinha bons contactos com os índios. O homem possuía uma avioneta meio desconjuntada mas ainda em bom estado, com a qual poderiam interrar-se no território das tribos indígenas.
- Na escola, estudamos o Amazonas numa aula de ecologia - comentou Alex, que já sentia os olhos a fechar-se.
- Essa aula é suficiente, não precisas de saber mais nada - disse Kate. E acrescentou: - Suponho que estás cansado. Podes dormir no sofá e amanhã cedo começas a trabalhar para mim.
- O que devo fazer?
- O que eu te mandar. Por agora, ordeno-te que durmas. - Boa-noite, Kate... - murmurou Alex enroscando-se nas almofadas do sofá.
- Bah! - grunhiu a avó. Esperou que ele adormecesse e tapou-o com algumas mantas.
Kate e Alexander Cold estavam num avião comercial sobrevoando o Norte do Brasil. Durante horas e horas tinham visto do ar uma interminável extensão de floresta, toda do mesmo verde intenso, atravessada por rios que corriam como serpentes luminosas. O mais fantástico de todos eles era cor de café com leite.
O rio Amazonas é o mais largo e extenso da Terra, cinco vezes mais do que qualquer outro. Só os astronautas em viagem à Lua conseguiram vê-lo, à distância, em toda a sua extensão, leu Alex num roteiro turístico que a avó lhe comprara no Rio de Janeiro. Não dizia que essa região imensa, último paraíso do planeta, era destruída sistematicamente pela cobiça de empresários e aventureiros, tal como ele aprendera na escola. Estavam a construir uma estrada, uma ferida aberta em plena selva, por onde os colonos chegavam em massa e saíam às toneladas as madeiras e os minerais.
Kate informou o neto de que subiriam pelo rio Negro até ao Alto Orenoco, um triângulo quase inexplorado onde se concentrava a maior parte das tribos. Daí se supunha provir a Besta.
- Neste livro diz-se que esses índios vivem como na Idade da Pedra. Ainda nem inventaram a roda - comentou Alex.
- Não precisam dela. Não lhes serve para nada naquele terreno, não têm nada para transportar e não têm pressa de ir a lado nenhum - replicou Kate Cold, que não gostava de ser interrompida quando estava a escrever. Tinha passado uma boa parte da viagem tomando apontamentos nos seus cadernos, com uma letra minúscula e emaranhada, como caganitas de mosca.
- Não conhecem a escrita - acrescentou Alex.
- Têm, com certeza, boa memória - disse Kate.
- Não há manifestações de arte entre eles, pintam apenas o corpo e enfeitam-se com penas - explicou Alex.
- Importa-lhes pouco a posteridade ou sobressair entre os restantes. A maior parte dos nossos chamados «artistas» deveria seguir o seu exemplo - respondeu a avó.
Iam para Manaus, a cidade mais povoada da região amazónica, que tinha prosperado nos tempos da borracha, no final do século XIX.
- Vais conhecer a selva mais misteriosa do mundo, Alexander. Aí há sítios onde os espíritos aparecem em plena luz do dia - explicou Kate.
- Claro, como o abominável homem da selva que procuramos - disse o neto, sorrindo sarcástico.
- Chamam-no a Besta. Talvez não seja só um exemplar, mas vários, uma família ou uma tribo de Bestas.
- És muito crédula para a idade que tens, Kate - comentou o rapaz, sem conseguir evitar o tom sarcástico ao ver que a avó acreditava naquelas histórias.
- Com a idade adquire-se uma certa humildade, Alexander. Quanto mais anos tenho, mais ignorante me sinto. Só os jovens têm explicações para tudo. Na tua idade pode-se ser arrogante e não importa muito fazer figuras ridículas - replicou ela, secamente.
Ao descerem do avião em Manaus, sentiram o clima sobre a pele como uma toalha empapada em água quente. Aí se reuniram aos restantes membros da expedição da International Geographic. Além de Kate Cold e do neto Alexander, iam Timothy Bruce, um fotógrafo inglês com uma longa cara de cavalo e dentes amarelos de nicotina, com o seu ajudante mexicano, Joel González, e o famoso antropólogo Ludovic Leblanc. Alex imaginara Leblanc como um sábio de barbas brancas e figura imponente, mas acabou por se revelar um homenzinho de uns cinquenta anos, baixo, magro, nervoso, com uma permanente expressão de desprezo ou de crueldade nos lábios e uns olhos fundos de rato. Ia disfarçado de caçador de feras ao estilo dos filmes, desde as armas que levava à cintura, até às suas pesadas botas e um chapéu australiano enfeitado com peninhas às cores. Kate comentou entre dentes que a Leblanc só lhe faltava um tigre morto para apoiar o pé. Durante a sua juventude, Leblanc tinha passado uma curta temporada no Amazonas e escrevera um tratado volumoso sobre os índios, que causou sensação nos círculos académicos. O guia brasileiro, César Santos, que devia ir buscá-los a Manaus, não conseguiu chegar porque a sua avioneta estava avariada, de forma que os esperaria em Santa Maria de Ia Lluvia, para onde o grupo teria de se fazer transportar de barco.
Alex verificou que Manaus, situada na confluência entre o rio Amazonas e o rio Negro, era uma cidade grande e moderna, com edificios altos e um tráfego opressivo, mas a avó esclareceu-o de que ali a Natureza era indómita e em tempo de inundações apareciam jacarés e serpentes nos quintais das casas e nos buracos dos elevadores. Aquela era também uma cidade de traficantes onde a lei era frágil e se quebrava facilmente: drogas, diamante, ouro, madeiras preciosas, armas. Ainda nem há duas semanas tinham descoberto um barco de peixe... e cada peixe ia recheado de cocaína.
Para o rapaz americano, que só saíra do seu país para conhecer a Itália, terra dos antepassados da sua mãe, foi uma surpresa ver o contraste entre a riqueza de alguns e a extrema pobreza de outros, tudo misturado. Os camponeses sem terra e os trabalhadores sem emprego chegavam em massa procurando novos horizontes, mas muitos acabavam vivendo em choças, sem recursos e sem esperança. Nesse dia celebrava-se uma festa e a população andava alegre, como no Carnaval: passavam bandas de música pelas ruas, as pessoas dançavam e bebiam, muitos estavam mascarados. Hospedaram-se num hotel moderno, mas não conseguiram dormir devido ao ruído da música, dos petardos e dos foguetes. No dia seguinte, o professor Leblanc amanheceu de muito mau humor pela má noite e exigiu que embarcassem o mais depressa possível, porque não queria passar nem mais um minuto do que o indispensável naquela cidade desavergonhada, como a qualificou.
O grupo da International Geographic subiu o rio Negro, que era dessa cor devido aos sedimentos que as suas águas arrastavam, para se dirigirem a Santa Maria de Ia Lluvia, uma aldeia em pleno território indígena. A embarcação era bastante grande, com um motor antigo, ruidoso e fumegante, e um improvisado tecto de plástico para se protegerem do sol e da chuva, que caía quente como um duche várias vezes por dia. O barco ia cheio de gente, de volumes, sacos, cachos de bananas e de alguns animais domésticos em gaiolas ou simplesmente amarrados pelas patas. Dispunham de algumas mesas compridas, de uns bancos corridos para se sentarem e de uma série de redes penduradas em paus, umas por cima das outras.
A tripulação e a maior parte dos passageiros eram caboclos, como chamavam às pessoas do Amazonas, mistura de várias raças: branco, índio e negro. Iam também alguns soldados, dois jovens americanos - missionários mórmones - e uma médica venezuelana, Omayra Torres, que pretendia vacinar os índios. Era uma bela mulata de uns trinta e cinco anos, cabelo negro, pele cor de âmbar e uns olhos verdes, amendoados, de gato. Deslocava-se com graciosidade, como se dançasse ao som de um ritmo secreto. Os homens seguiam-na com os olhos, mas ela parecia não se aperceber da impressão causada pela sua beleza.
- Temos de ir bem preparados - disse Leblanc apontando para as suas armas. Falava em geral, mas era evidente que se dirigia apenas à doutora Torres. - Encontrar a Besta é o menos. O pior serão os índios. São guerreiros brutais, cruéis e traiçoeiros. Tal como descrevo no meu livro, matam para provar a sua coragem e quantos mais assassinatos cometem, mais alto se colocam na hierarquia da tribo.
- Pode explicar isso, professor? - perguntou Kate Cold, sem dissimular o seu tom de ironia.
- É muito simples, senhora... como disse que era o seu nome?
- Kate Cold - esclareceu ela pela terceira ou quarta vez. Aparentemente, o professor Leblanc tinha má memória para os nomes femininos.
- Repito: muito simples. Trata-se da competição mortal que existe na Natureza. Os homens mais violentos dominam nas sociedades primitivas. Suponho que já deve ter ouvido o termo macho alfa. Entre os lobos, por exemplo, o macho mais agressivo controla todos os outros e fica com as melhores fêmeas. Entre os humanos é a mesma coisa: os homens mais violentos mandam, obtêm mais mulheres e passam os seus genes a mais filhos. Os outros têm de se conformar com o que sobra, entende? É a sobrevivência do mais forte - explicou Leblanc.
- Quer dizer que a brutalidade é que é natural?
- Exactamente. A compaixão é uma invenção moderna. A nossa civilização protege os mais fracos, os pobres, os doentes. Do ponto de vista da genética isso é um erro terrível. Por isso a raça humana está a degenerar-se.
- O que faria o senhor com os fracos desta sociedade, professor? - perguntou ela.
- O que a própria Natureza faz: deixar que pereçam. Nesse sentido os índios são mais sábios do que nós - replicou Leblanc.
A doutora Omayra Torres, que ouvira atentamente a conversa, não conseguiu deixar de dar a sua opinião.
- Com todo o respeito, professor, não me parece que os índios sejam tão ferozes como o senhor os descreve, pelo contrário, para eles a guerra é antes de mais cerimonial: é um rito de demonstração de coragem. Pintam o corpo, preparam as suas armas, cantam, dançam e partem para uma incursão ao shabono de outra tribo. Ameaçam-se e dão uns aos outros algumas bordoadas, mas raras vezes há mais de um ou dois mortos. Na nossa civilização é ao contrário: não há cerimónia, só há massacre - disse.
- Vou oferecer-lhe um exemplar do meu livro, menina. Qualquer cientista sério lhe dirá que Ludovic Leblanc é uma autoridade neste tema... - interrompeu-a o professor.
- Não sou tão sábia como o senhor - disse a doutora Torres, sorrindo. - Sou apenas uma médica rural que trabalhou mais de dez anos por estes lados.
- Acredite em mim, minha cara doutora. Esses índios são a prova de que o homem não é mais do que um macaco assassino - replicou Leblanc.
- E a mulher? - interrompeu Kate Cold.
- Lamento dizer-lhe que as mulheres não contam para nada
nas sociedades primitivas. São apenas despojos de guerra.
A doutora Torres e Kate Cold trocaram um olhar e sorriram
ambas, divertidas.
A parte inicial da viagem pelo rio Negro acabou por ser sobretudo um exercício de paciência. Avançavam a passo de tartaruga e mal o Sol se punha tinham de parar, para evitar chocar com os troncos arrastados pela corrente. O calor era intenso, mas ao anoitecer refrescava e, para dormir, era preciso tapar-se com uma manta. Às vezes, onde o rio era limpo e calmo, aproveitavam para pescar ou nadar um pouco. Nos dois primeiros dias cruzaram-se com embarcações de diversos tipos, desde lanchas a motor e casas flutuantes até simples canoas talhadas em troncos de árvores, mas depois ficaram sós na imensidão daquela paisagem. Aquele era um planeta de água: a vida decorria navegando lentamente, ao ritmo do rio, das marés, das chuvas, das inundações. Água, água por toda a parte. Havia centenas de famílias que nasciam e morriam nas suas embarcações, sem terem passado uma noite em terra firme. Outras viviam em casas sobre estacas nas margens do rio. O transporte fazia-se pelo rio e a única forma de enviar ou receber mensagens era por rádio. O rapaz americano achava incrível que se pudesse viver sem telefone. Uma estação de Manaus transmitia mensagens pessoais sem interrupção, pondo as pessoas a par das notícias, dos seus negócios e das suas famílias. Rio acima o dinheiro circulava pouco, havia uma economia de troca, trocavam peixe por açúcar, ou gasolina por galinhas, ou serviços por uma caixa de cerveja.
Em ambas as margens do rio a selva erguia-se ameaçadora. As ordens do capitão eram claras: não se afastar por motivo algum, porque no interior do bosque se perde o sentido de orientação. Sabia-se de estrangeiros que, estando a poucos metros do rio, tinham morrido desesperados sem o encontrar. Ao amanhecer viam golfinhos rosados saltando a meio da água e centenas de pássaros cruzando os ares. Também viram manatins, grandes mamíferos aquáticos, cujas fêmeas deram origem à lenda das sereias. À noite apareciam entre o matagal pontos vermelhos: eram os olhos dos jacarés espiando na escuridão. Um caboclo ensinou Alex a calcular o tamanho do animal pela distância entre os olhos. Quando se tratava de um exemplar pequeno, o caboclo encadeava-o com uma lanterna, depois saltava para a água e agarrava-o, prendendo-lhe as mandíbulas com uma mão e a cauda com a outra. Se a separação entre os olhos fosse considerável, evitava-o como à peste.
O tempo decorria lentamente, as horas arrastavam-se eternas e, no entanto, Alex não se aborrecia. Sentava-se na proa do bote a observar a Natureza, a ler e a tocar a flauta do avô. A selva parecia animar-se e responder ao som do instrumento; até os ruidosos tripulantes e passageiros do barco se calavam para o ouvir. Essas eram as únicas ocasiões em que Kate Cold lhe prestava atenção. A escritora era de poucas palavras, passava o dia a ler ou a escrever nos seus cadernos e em geral ignorava-o ou tratava-o como a qualquer outro membro da expedição. Era inútil recorrer a ela para lhe colocar um problema de mera sobrevivência, como a comida, a saúde ou a segurança, por exemplo. Ela olhava-o de cima abaixo com evidente desdém e respondia-lhe que existem dois tipos de problemas: os que se resolviam por si sós e os que não tinham solução, de forma que não a incomodasse com palermices. Felizmente a sua mão tinha sarado rapidamente, senão ela teria sido capaz de resolver o assunto sugerindo que a amputassem. Era uma mulher de medidas extremas. Emprestara-lhe mapas e livros sobre o Amazonas, para que ele próprio tratasse de procurar as informações que lhe interessavam. Se Alex lhe comentava as suas leituras sobre os índios ou lhe falava das suas teorias sobre a Besta, ela replicava sem levantar os olhos da página que tinha à frente: «nunca percas uma boa ocasião de calares a boca, Alexander».
Tudo naquela viagem era tão diferente do mundo em que o rapaz se criara que se sentia como um visitante de outra galáxia. Já não dispunha das comodidades que antes utilizava sem pensar, como uma cama, banho, água corrente, electricidade. Dedicou-se a tirar fotografias com a máquina fotográfica da avó para levar provas, no regresso à Califórnia. Os seus amigos jamais acreditariam que tivera nas mãos um jacaré com quase um metro de comprimento!
O seu problema mais grave era alimentar-se. Fora sempre esquisito para comer e agora serviam-lhe coisas que nem sequer sabia como se chamavam. A única coisa a bordo que conseguia identificar era feijão em lata, carne seca salgada e café, nada que lhe apetecesse. Os tripulantes caçaram a tiro alguns macacos e nessa noite assaram-nos, quando o barco atracou na margem. Mas tinham um aspecto tão humano que ficou doente só de os ver: pareciam crianças queimadas. Na manhã seguinte, pescaram uma pirarucu, um peixe enorme cuja carne era deliciosa para todos menos para ele, porque se recusou a prová-la. Aos três anos tinha decidido que não gostava de peixe. A mãe, cansada de batalhar para o obrigar a comer, resignara-se desde essa altura a servir-lhe os alimentos de que ele gostava. Não eram muitos. Essa limitação mantinha-o esfomeado durante a viagem. Dispunha apenas de bananas, de uma lata de leite condensado e de vários pacotes de bolachas. A avó não parecia importar-se com a sua fome e os outros também não. Ninguém lhe deu importância.
Várias vezes por dia caía uma chuva breve e torrencial. Teve de se habituar à humidade permanente, ao facto de a roupa nunca secar completamente. Ao pôr do Sol, atacavam nuvens de mosquitos. Os estrangeiros defendiam-se empapando-se em insecticida, sobretudo Ludovic Leblanc, que não perdia a oportunidade de recitar o rol de doenças transmitidas por insectos, do tifo à malária. Tinha amarrado um grosso véu em volta do seu chapéu australiano para proteger a cara e passava uma boa parte do dia refugiado sob um mosquiteiro, que fez pendurar na popa do barco. Os caboclos, pelo contrário, pareciam imunes às picadas.
No terceiro dia, durante uma manhã radiante, a embarcação parou porque havia um problema com o motor. Enquanto o capitão tentava consertar a avaria, os restantes ficaram sob o toldo a descansar. Estava demasiado calor para se mexerem, mas Alex decidiu que era o sítio perfeito para se refrescar. Saltou para a água, que parecia baixa e calma como um prato de sopa e afundou-se como uma pedra.
- Só um tonto comprova a profundidade com os pés - comentou a avó quando ele veio à superficie, deitando água até pelas orelhas.
O rapaz afastou-se do barco a nadar - tinham-lhe dito que os jacarés preferiam as margens - e flutuou de costas na água morna durante muito tempo, com os braços e as pernas abertas, olhando para o céu e pensando nos astronautas, que conheciam a sua imensidão. Sentiu-se tão seguro que, quando alguma coisa passou velozmente e lhe roçou a mão, demorou um pouco a reagir. Sem fazer ideia do tipo de perigo que o espreitava - talvez os jacarés, no fim de contas, não se limitassem apenas à margem - começou a nadar com todas as suas forças de volta ao barco, mas deteve-o em seco a voz da avó gritando-lhe que não se mexesse. Obedeceu-lhe por hábito, apesar de o seu instinto o advertir do contrário. Manteve-se a flutuar o mais imóvel possível e nessa altura viu ao seu lado um peixe enorme. Julgou que era um tubarão e o coração parou-lhe, mas o peixe deu uma pequena volta e regressou curioso, colocando-se tão perto que conseguiu ver o seu sorriso. Desta vez o coração deu-lhe um salto e teve de se conter para não gritar de alegria. Estava a nadar com um golfinho!
Os vinte minutos seguintes, brincando com ele como fazia com o seu cão Poncho, foram os mais felizes da sua vida. O magnífico animal circulava à sua volta a grande velocidade, saltava-lhe por cima, detinha-se a poucos centímetros da sua cara, observando-o com uma expressão simpática. Às vezes passava tão perto que conseguia tocar-lhe na pele, que não era macia como tinha imaginado, mas áspera. Alex desejava que aquele momento nunca acabasse, estava disposto a ficar para sempre no rio, mas de repente o golfinho deu uma rabanada de despedida e desapareceu.
- Viste, avó? Ninguém vai acreditar nisto! - gritou, de volta ao barco, tão excitado que mal conseguia falar.
- Aqui estão as provas - disse ela a sorrir, apontando para a máquina fotográfica. Os fotógrafos da expedição, Bruce e González, também tinham captado a cena.
À medida que se interravam pelo rio Negro, a vegetação tornava-se mais voluptuosa, o ar mais espesso e aromático, o tempo mais lento e as distâncias mais incalculáveis. Avançavam como num sonho por um território alucinante. De vez em quando a embarcação ia-se esvaziando, os passageiros, com os seus embrulhos e com os seus animais, desciam junto das cabanas ou pequenas vilórias da margem. Os rádios de bordo já não recebiam as mensagens pessoais de Manaus nem atroavam com os ritmos populares, os homens calavam-se enquanto a Natureza vibrava com uma orquestra de pássaros e de macacos. Só o ruído do motor denunciava a presença humana na imensa solidão da selva. Por fim, quando chegaram a Santa Maria de Ia Lluvia, só restava a tripulação, o grupo da International Geographic, a doutora Omayra Torres e dois soldados. E os dois jovens mórmones, atacados por alguma bactéria intestinal. Apesar dos antibióticos administrados pela médica, iam tão doentes que mal conseguiam abrir os olhos e confundiam frequentemente a selva ardente com as suas montanhas nevadas do Utah.
- Santa Maria de Ia Lluvia é o último enclave da civilização - disse o capitão do barco, quando apareceu a vilória num cotovelo do rio.
- Daqui para a frente é território mágico, Alexander - disse Kate Cold ao neto.
- Ainda existem índios que não tiveram qualquer contacto com a civilização? - perguntou ele.
- Calcula-se que existam uns dois ou três mil, mas na realidade ninguém sabe com certeza - respondeu a doutora Omayra Torres.
Santa Maria de Ia Lluvia erguia-se como um erro humano a meio de uma natureza opressiva, que ameaçava engoli-la a qualquer momento. Consistia numa vintena de casas, num telheiro que fazia as vezes de hotel, noutro mais pequeno onde funcionava um hospital mantido por duas freiras, em dois pequenos armazéns, numa igreja católica e num quartel do exército. Os soldados controlavam a fronteira e o tráfico entre a Venezuela e o Brasil. De acordo com a lei também deviam proteger os indígenas dos abusos dos colonos e aventureiros, mas na prática não o faziam. Os forasteiros iam ocupando a região sem que ninguém os impedisse, empurrando os índios cada vez mais para zonas inexpugnáveis ou matando-os impunemente. No cais de Santa Maria de Ia Lluvia, tinham à sua espera um homem alto, com um perfil afiado de pássaro, feições viris e expressão aberta, com a pele curtida pela intempérie e um cabelo escuro amarrado num rabo-de-cavalo.
- Bem-vindos. Sou César Santos e esta é a minha filha Nadia - apresentou-se.
Alex calculou que a rapariga teria a idade da sua irmã Andrea, uns doze ou treze anos. Tinha o cabelo crespo e despenteado, desbotado pelo sol, os olhos e a pele cor de mel, vestia calções curtos, camisola de manga curta e umas sandálias de plástico. Usava várias tiras coloridas amarradas aos pulsos, uma flor amarela na orelha e uma longa pena verde atravessada no lóbulo da outra. Alex pensou que, se Andrea visse aqueles enfeites, copiá-los-ia imediatamente, e que se Nicole, a sua irmã mais nova, visse o macaquinho preto que a rapariga levava ao ombro, morreria de inveja.
Enquanto a doutora Torres, ajudada por duas freiras que foram recebê-la, levava os missionários mórmones para o minúsculo hospital, César Santos dirigiu o desembarque dos numerosos pacotes da expedição. Desculpou-se por não ter ido esperá-los a Manaus, como tinham combinado. Explicou que a sua avioneta tinha sobrevoado todo o Amazonas, mas era muito antiga e nas últimas semanas estavam a cair-lhe peças do motor. Uma vez que estivera prestes a despenhar-se, decidiu encomendar outro motor, que devia chegar por esses dias e, com um sorriso, acrescentou que não podia deixar órfã a sua filha Nadia. Depois levou-os ao hotel, que acabou por ser uma construção de madeira sobre estacas na margem do rio, semelhante às restantes casinhotas desconjuntadas da aldeia. Caixas de cerveja amontoavam-se por todo o lado e sobre o balcão alinhavam-se garrafas de bebidas alcoólicas. Durante a viagem, Alex tinha reparado que, apesar do calor, os homens bebiam litros e litros de álcool a toda a hora. Aquele edificio primitivo serviria de base de operações, alojamento, restaurante e bar para os visitantes. A Kate Cold e ao professor Ludovic Leblanc destinaram uns cubículos separados do resto por lençóis pendurados em cordas. Os restantes dormiriam em redes protegidas por mosquiteiros.
Santa Maria de Ia Lluvia era uma vilória sonolenta e tão remota que dificilmente aparecia nos mapas. Alguns colonos criavam umas vacas com cornos muito compridos; os restantes exploravam o ouro do fundo do rio ou a madeira e a borracha dos bosques. Alguns, mais afoitos, partiam sozinhos para a selva à procura de diamantes. Mas a maioria vegetava à espera de que alguma oportunidade caísse milagrosamente do céu. Essas eram as actividades visíveis. As secretas consistiam no tráfico de pássaros exóticos, drogas e armas. Grupos de soldados, com as suas espingardas ao ombro e as camisas empapadas de suor, jogavam às cartas ou fumavam sentados à sombra. A escassa população languidescia, meio atordoada pelo calor e pelo tédio. Alex viu vários indivíduos sem cabelo nem dentes, quase cegos, com erupções na pele, gesticulando ou falando sozinhos. Eram mineiros a quem o mercúrio tinha transtornado e que morriam aos poucos. Mergulhavam no fundo do rio para aspirarem, com grandes tubos, a areia saturada de ouro em pó. Alguns morriam afogados; outros morriam porque os seus competidores lhes cortavam os tubos de oxigénio; os restantes morriam lentamente, envenenados pelo mercúrio que usavam para separar a areia do ouro.
As crianças da aldeia, pelo contrário, brincavam felizes na lama, acompanhadas por alguns macacos domésticos e cães escanzelados. Havia vários índios, uns cobertos com camisolas de manga curta ou calções, outros tão despidos como as crianças. No começo, Alex, perturbado, não se atrevia a olhar para os seios das mulheres, mas rapidamente os olhos se habituaram e, passados cinco minutos, deixaram de lhe chamar a atenção. Aqueles índios estavam há vários anos em contacto com a civilização e tinham perdido muitas das suas tradições e costumes, como explicou César Santos. A filha do guia, Nadia, falava com eles na sua língua e em resposta eles tratavam-na como se ela fosse da própria tribo.
Se aqueles eram os ferozes indígenas descritos por Leblanc, não pareciam muito impressionantes: eram pequenos, os homens mediam menos de um metro e meio e as crianças pareciam miniaturas humanas. Pela primeira vez na sua vida, Alex sentiu-se alto. Tinham a pele cor de bronze e maçãs do rosto altas; os homens usavam o cabelo cortado em redondo como um prato à altura das orelhas, o que acentuava o seu aspecto asiático. Descendiam de habitantes do Norte da China, que tinham chegado através do Alasca, há dez ou vinte mil anos. Salvaram-se da escravidão durante a conquista, no século xvi, porque permaneceram isolados. Os soldados espanhóis e portugueses não conseguiram vencer os pântanos, os mosquitos, a vegetação, os enormes rios e cataratas da região amazónica.
Uma vez instalados no hotel, César Santos tratou de organizar o equipamento da expedição e planear o resto da viagem com a escritora Kate Cold e com os fotógrafos, porque o professor Leblanc decidiu descansar até o clima refrescar um pouco. Não suportava bem o calor. Entretanto, Nadia, a filha do guia, convidou Alex a percorrer os arredores.
Depois do pôr do Sol não se aventurem fora dos limites da aldeia, é perigoso - advertiu César Santos.
Seguindo os conselhos de Leblanc, que falava como um perito dos perigos da selva, Alex meteu as calças dentro das meias e das botas, para evitar que as vorazes sanguessugas lhe chupassem o sangue. Nadia, que andava quase descalça, riu-se.
- Depressa te habituarás aos bichos e ao calor - disse-lhe. Falava um inglês muito bom porque a mãe era canadiana.
- A minha mãe foi embora há três anos - esclareceu a menina.
- Porquê?
- Não conseguiu habituar-se a isto, tinha pouca saúde e piorou quando a Besta começou a rondar. Sentia o seu cheiro, não conseguia ficar sozinha, gritava... Por fim a doutora Torres levou-a num helicóptero. Agora está no Canadá - disse Nadia.
- O teu pai não foi com ela?
- E o que faria o meu pai no Canadá?
- E por que não te levou com ela? - insistiu Alex, que nunca ouvira falar de uma mãe que abandonasse os seus filhos.
- Porque está num manicómio. Além disso não quero separar-me do meu pai.
- Não tens medo da Besta?
- Toda a gente tem medo. Mas, se vier, Borobá avisa-me a tempo - replicou a menina, acariciando o macaquinho preto, que nunca se separava dela.
Nadia levou o seu novo amigo a visitar a aldeia, o que demorou apenas meia hora, pois não havia muito que ver. Subitamente desencadeou-se uma tempestade de relâmpagos, que cruzavam o céu em todas as direcções, e começou a chover a cântaros. Era uma chuva quente como sopa, que transformou as estreitas ruelas num lodaçal fumegante. As pessoas, no geral, procuravam abrigo debaixo de algum tecto, mas as crianças e os índios continuavam com as suas actividades, completamente indiferentes ao aguaceiro. Alex compreendeu que a sua avó teve razão ao sugerir-lhe que substituísse as suas calças de ganga por roupa leve de algodão, mais fresca e fácil de secar. Para fugir à chuva, os dois jovens meteram-se na igreja onde encontraram um homem alto e corpulento, com umas costas enormes de lenhador e o cabelo branco, que Nadia apresentou como sendo o padre Valdomero. Carecia por completo da solenidade que se espera de um sacerdote: estava de calções curtos, com o tronco nu, empoleirado numa escada a pintar as paredes com cal. Tinha no chão uma garrafa de rum.
- O padre Valdomero vive aqui desde antes da invasão das formigas - disse Nadia, apresentando-os.
- Cheguei quando esta povoação foi fundada, há quase quarenta anos, e estava aqui quando chegaram as formigas. Tivemos de abandonar tudo e fugir rio abaixo. Chegaram como uma enorme mancha escura, avançando implacáveis, destruindo tudo à sua passagem - contou o sacerdote.
- O que aconteceu nessa altura? - perguntou Alex, que não conseguia imaginar uma povoação vítima de insectos.
-Ateámos fogo às casas antes de fugirmos. O incêndio desviou as formigas e alguns meses mais tarde pudemos regressar. Nenhuma das casas que aqui vês tem mais de quinze anos - explicou.
O sacerdote tinha uma estranha mascote, um cão anfibio que, conforme disse, era nativo do Amazonas, mas a sua espécie estava quase extinta. Passava uma boa parte da sua vida no rio e podia permanecer vários minutos com a cabeça dentro de um balde de água. Recebeu os visitantes a uma distância prudente, desconfiado. O seu latido era como um trinado de pássaros e parecia estar a cantar.
- O padre Valdomero foi raptado pelos índios. O que eu não daria para ter essa sorte! - exclamou Nadia, extasiada.
- Não me raptaram, menina. Perdi-me na selva e eles salvaram-me a vida. Vivi com eles vários meses. São gente boa e livre, para eles a liberdade é mais importante que a própria vida, não podem viver sem ela. Um índio preso é um índio morto. Metem-se para dentro, deixam de comer e de respirar e morrem - contou o padre Valdomero.
- Algumas versões dizem que são pacíficos e outras que são completamente selvagens e violentos - disse Alex.
- Os homens mais perigosos que vi por estes lados não são índios, mas traficantes de armas, drogas e diamantes, seringueiros, garimpeiros, soldados e madeireiros, que infectam e exploram esta região - rebateu o sacerdote, acrescentando que os índios eram primitivos no que respeita ao aspecto material, mas muito avançados no plano mental, e que estavam ligados à natureza, tal como um filho à sua mãe.
- Fale-nos da Besta. É verdade que a viu com os seus próprios olhos, Padre? - perguntou Nadia.
- Julgo tê-la visto, mas era de noite e os meus olhos já não são os mesmos de antes - respondeu o padre Valdomero, metendo um longo gole de rum pela garganta abaixo.
- Quando foi isso? - perguntou Alex, pensando que a avó agradeceria aquela informação.
- Há alguns anos...
- O que viu, exactamente?
- Já contei muitas vezes: um gigante com mais de três metros de altura, que se deslocava muito lentamente e exalava um cheiro horrível. Fiquei paralisado de terror.
- Ela não o atacou, Padre?
- Não. Disse alguma coisa, depois deu meia volta e desapareceu no bosque.
- Disse alguma coisa? Suponho que quer dizer que emitiu ruídos, grunhidos, não é verdade? - insistiu Alex.
- Não, filho. A criatura falou, claramente. Não entendi uma única palavra, mas era sem dúvida uma linguagem articulada. Desmaiei... Quando acordei não tinha a certeza do que tinha acontecido, mas tinha esse odor penetrante colado à roupa, ao cabelo, à pele. Foi assim que soube que não tinha sonhado.
A tempestade passou tão subitamente como tinha começado e a noite surgiu clara. Alex e Nadia regressaram ao hotel, onde os membros da expedição estavam reunidos em volta de César Santos e da doutora Omayra Torres estudando o mapa da região e discutindo os preparativos da viagem. O professor Leblanc, um pouco mais reposto da fadiga, estava com eles. Pintara-se com repelente da cabeça aos pés e contratara um índio chamado Karakawe para o abanar com uma folha de bananeira. Leblanc exigiu que a expedição se pusesse em marcha para o Alto Orenoco no dia seguinte, porque ele não podia perder tempo naquela aldeia insignificante. Dispunha apenas de três semanas para apanhar a estranha criatura da selva, disse.
- Em vários anos ninguém o conseguiu, professor... - retorquiu César Santos.
- Terá de aparecer depressa, porque eu tenho de dar uma série de conferências na Europa - replicou ele.
- Espero que a Besta entenda as suas razões - disse o guia, mas o professor não deu mostras de ter percebido a sua ironia.
Kate Cold tinha contado ao neto que a Amazónia era um lugar perigoso para os antropólogos, que costumavam perder o juízo. Inventavam teorias contraditórias e lutavam entre eles aos tiros e à navalhada. Outros tiranizavam as tribos e acabavam julgando-se deuses. Um deles, enlouquecido, teve de ser levado, amarrado, de regresso ao seu país.
- Suponho que também estará ao corrente de que eu também faço parte da expedição, professor Leblanc - disse a doutora Omayra Torres, a quem o antropólogo olhava de esguelha a todo o instante, impressionado com a sua beleza opulenta.
- Nada me daria maior prazer, menina, mas...
- Doutora Torres - interrompeu-o a médica.
- Pode chamar-me Moisés - arriscou Leblanc, galanteador.
- Chame-me doutora Torres - replicou ela, secamente.
- Não poderei levá-la, minha cara doutora. Há espaço apenas para quem foi contratado pela International Geographic. O orçamento é generoso, mas não ilimitado - replicou Leblanc.
- Então os senhores também não poderão ir, professor. Pertenço ao Serviço Nacional de Saúde. Estou aqui para proteger os índios. Nenhum forasteiro pode entrar em contacto com eles sem as necessárias medidas de prevenção. Eles são muito vulneráveis às doenças, sobretudo às dos brancos - disse a médica.
- Uma constipação comum é mortal para eles. Uma tribo inteira morreu de uma infecção respiratória há três anos, quando uns jornalistas vieram filmar um documentário. Um deles tinha tosse, deu um trago do seu cigarro a um índio e contagiou dessa forma toda a tribo - acrescentou César Santos.
Nesse momento chegaram o capitão Ariosto, chefe do quartel, e Mauro Carias, o empresário mais rico dos arredores. Num sussurro, Nadia explicou a Alex que Carias era muito poderoso, tinha negócios com presidentes e generais de vários países sul-americanos. Acrescentou que não tinha o coração no corpo, mas que o levava numa pasta, e apontou para a malinha de cabedal que Carías tinha na mão. Por outro lado, Ludovic Leblanc estava bastante impressionado com Mauro Carias, porque a expedição se realizara graças aos contactos internacionais daquele homem. Foi ele quem despertou o interesse da revista International Geographic para a lenda da Besta.
- Essa criatura estranha mantém atemorizadas as gentes simples do Alto Orenoco. Ninguém quer interrar-se no triângulo onde se supõe que habita disse Carias.
- Julgo que essa zona nunca foi explorada - disse Kate Cold.
- Com efeito.
- Suponho que deve ser muito rica em minerais e pedras preciosas - acrescentou a escritora.
- A riqueza do Amazonas está sobretudo na terra e nas madeiras - respondeu ele.
- E nas plantas - interveio a doutora Omayra Torres. - Não conhecemos nem dez por cento das substâncias medicinais que aqui existem. À medida que os xamanes e curandeiros indígenas desaparecem, perdemos para sempre esses conhecimentos.
- Imagino que a Besta também interfere com os seus negócios por esses lados, senhor Carias, tal como interferem as tribos - continuou Kate Cold que, quando se interessava por um assunto, não largava a presa.
- A Besta é um problema para todos. Até os soldados a receiam - admitiu Mauro Carias.
- Se a Besta existe, encontrá-la-ei. Ainda está por nascer o homem e muito menos o animal que possa troçar de Ludovic Leblanc - replicou o professor, que costumava referir-se a si próprio na terceira pessoa.
- Conte com os meus soldados, professor. Ao contrário do que afirma o meu bom amigo Carias, são homens valentes - ofereceu o capitão Ariosto.
- Conte também com os meus recursos, caro professor Leblanc. Disponho de lanchas a motor e de um bom equipamento de rádio - acrescentou Mauro Carias.
- E conte comigo para os problemas de saúde ou para os acidentes que possam surgir - acrescentou suavemente a doutora Omayra Torres, como se não se lembrasse da recusa de Leblanc em incluí-la na expedição.
- Tal como lhe disse, menina...
- Doutora - corrigiu-o ela novamente.
- Tal como lhe disse, o orçamento desta expedição é limitado, não podemos levar turistas - disse Leblanc, enfático.
- Não sou turista. A expedição não pode continuar sem um médico autorizado e sem as vacinas necessárias.
- A doutora tem razão. O capitão Ariosto pô-lo-á ao corrente da lei - interveio César Santos, que conhecia a médica e, evidentemente, se sentia atraído por ela.
- Hum... Bom... é verdade que... - balbuciou o militar olhando, confuso, para Mauro Carias.
Não haverá problemas em incluir Omayra. Eu mesmo financiarei os seus gastos - disse o empresário, sorrindo, e pondo um braço em redor dos ombros da jovem médica.
- Obrigada, Mauro, mas não será necessário. Os meus gastos serão custeados pelo Governo- disse ela, afastando-se sem brusquidão.
Bem. Nesse caso não há mais nada para conversar. Espero que encontremos a Besta, caso contrário esta expedição será inútil - comentou Timothy Bruce, o fotógrafo.
- Confie em mim, jovem. Tenho experiência neste tipo de animais e eu mesmo desenhei umas armadilhas infalíveis. Pode ver os modelos das minhas armadilhas no meu tratado sobre o abominável homem dos Himalaias - esclareceu o professor com uma careta de satisfação, pedindo a Karakawe que o abanasse com mais brios.
- Conseguiu apanhá-lo? - perguntou Alex, com fingida inocência, pois conhecia de sobra a resposta.
- Não existe, jovem. Essa suposta criatura dos Himalaias é
uma patranha. Talvez esta famosa Besta também o seja.
- Há gente que a viu - alegou Nadia.
- Gente ignorante, sem dúvida, miúda - determinou o professor.
- O padre Valdomero não é um ignorante - insistiu Nadia.
- Quem é esse?
- Um missionário católico, que foi raptado pelos selvagens e desde essa altura enlouqueceu - interveio o capitão Ariosto. Falava inglês com uma forte pronúncia venezuelana e como mantinha sempre um cigarro entre os dentes, o que se entendia não era muito.
- Não foi raptado e também não está louco! - exclamou Nadia.
- Acalma-te, linda - disse Mauro Carias, sorrindo e acariciando o cabelo de Nadia que, imediatamente, se pôs fora do seu alcance.
- Na realidade o padre Valdomero é um sábio. Fala vários idiomas dos índios, conhece a flora e a fauna do Amazonas melhor do que ninguém. Conserta fracturas ósseas, tira dentes e nalgumas ocasiões operou cataratas dos olhos com um bisturi que ele mesmo fabricou - acrescentou César Santos.
- Sim, mas não teve muito êxito a combater os vícios em Santa Maria de Ia Lluvia ou a cristianizar os índios. Como podem ver, andam todos nus - troçou Mauro Carias.
- Duvido de que os índios precisem de ser cristianizados - rebateu-o César Santos.
Explicou que eram muito espirituais, acreditando que tudo tinha alma: as árvores, os animais, os rios, as nuvens. Para eles o espírito e a matéria não estavam separados. Não entendiam o simplismo da religião dos forasteiros, diziam que era a mesma história repetida, quando eles, pelo contrário, tinham muitas histórias de deuses, demónios, espíritos do céu e da terra. O padre Valdomero tinha desistido de explicar-lhes que Cristo morrera na cruz para salvar a humanidade do pecado, porque a ideia de sacrificio deixava os índios atónitos. Não conheciam a culpa. Também não compreendiam a necessidade de usar roupa nesse clima ou de acumular bens, se não podiam levar nada para o outro mundo quando morriam.
- É uma pena estarem condenados a desaparecer. São o sonho de qualquer antropólogo, não é verdade, professor Leblanc? - perguntou Mauro Carias, trocista.
- Com efeito. Felizmente consegui escrever sobre eles antes de sucumbirem diante do progresso. Graças a Ludovic Leblanc figurarão na história - replicou o professor, completamente impermeável ao sarcasmo do outro.
Nessa tarde, o jantar consistiu em bocados de tapir assado, feijão e tortilhas de mandioca, nada que Alex tenha querido provar, apesar de estar com uma fome de lobo.
Depois do jantar, enquanto a avó bebia vodka e fumava o seu cachimbo na companhia dos homens do grupo, Alex foi com Nadia até ao molhe. A Lua brilhava como um candeeiro amarelo no céu. Rodeava-os o ruído da selva, como uma música de fundo: gritos de pássaros, guinchos de macacos, coaxar de sapos e cantar de grilos. Milhares de pirilampos passavam fugazes ao lado deles, roçando-lhes a cara. Nadia agarrou num com a mão e meteu-o nos caracóis do seu cabelo, onde ficou a brilhar como uma luzinha. A rapariga estava sentada no molhe com os pés na água escura do rio. Alex interrogou-a sobre as piranhas, que tinha visto dissecadas nas lojas para turistas em Manaus, como tubarões em miniatura: mediam um palmo, tinham umas mandíbulas formidáveis e dentes afiados como facas.
- As piranhas são muito úteis, limpam a água de cadáveres e de lixo. O meu pai diz que só atacam se sentirem o cheiro de sangue ou se estiverem esfomeadas - explicou ela.
Contou-lhe como uma vez tinha visto um jacaré, ferido por um jaguar, que se arrastou até à água. As piranhas introduziram-se pela ferida e devoraram-no por dentro numa questão de minutos, deixando a pele intacta.
Nesse momento a rapariga ficou alerta e fez-lhe um gesto com a mão para que ficasse em silêncio. Borobá, o macaquinho, começou aos saltos, guinchando bastante agitado, mas Nadia acalmou-o num instante sussurrando-lhe alguma coisa ao ouvido. Alex ficou com a impressão de que o animal entendia perfeitamente as palavras da sua dona. Só conseguia ver as sombras da vegetação e o espelho negro da água, mas era evidente que alguma coisa tinha chamado a atenção de Nadia, porque esta se levantara. Ao longe ouvia-se o som apagado de alguém, na aldeia, dedilhando uma viola. Se voltasse a cabeça, podia ver algumas luzes das casas atrás de si, mas ali estavam sozinhos.
Nadia lançou um grito longo e agudo, que aos ouvidos do rapaz soou semelhante ao da coruja e, instantes depois, outro grito similar respondeu da outra margem. Ela repetiu a chamada duas vezes e de ambas as vezes teve a mesma resposta. Então agarrou Alex por um braço e fez-lhe um sinal para que a seguisse. O rapaz recordou a advertência de César Santos, de permanecer dentro dos limites da aldeia depois do entardecer, bem como as histórias que ouvira de víboras, feras, bandidos e bêbados armados. E o melhor era nem pensar nos índios ferozes descritos por Leblanc ou na Besta... Mas não quis parecer um cobarde aos olhos da rapariga e seguiu-a sem dizer uma palavra, empunhando o seu canivete suíço aberto.
Deixaram para trás os últimos casinhotos da aldeia e continuaram em frente com cuidado, sem outra luz além da lua. A selva era menos densa do que Alex julgava. A vegetação era densa nas margens do rio, mas depois tornava-se mais rala e era possível avançar sem grande dificuldade. Não foram muito longe antes do chamamento da coruja se repetir. Estavam numa clareira do bosque, onde a Lua podia ver-se brilhando no firmamento. Nadia parou e esperou imóvel. Até Borobá estava quieto, como se soubesse o que esperavam. De repente Alex deu um salto, surpreendido: a menos de três metros de distância materializou-se uma figura saída da noite, súbita e sigilosa, como um fantasma. O rapaz ergueu a navalha disposto a defender-se, mas a atitude serena de Nadia deteve o seu gesto no ar.
- Aia - murmurou a rapariga em voz baixa.
- Aia, aia... - replicou uma voz que a Alex não lhe pareceu humana porque soava como um sopro de vento.
A figura aproximou-se um passo e ficou muito perto de Nadia. Nessa altura os olhos de Alex já se tinham habituado um pouco à penumbra e conseguiu ver à luz da lua um homem incrivelmente velho. Parecia ter vivido séculos, apesar da sua postura erecta e dos seus movimentos ágeis. Era muito pequeno, Alex calculou que media menos do que a sua irmã Nicole, que tinha apenas nove anos. Usava um pequeno saiote de fibra vegetal e uma dúzia de colares de conchas, sementes e dentes de javali cobrindo-lhe o peito. Apele, enrugada como a de um elefante milenar, caía em pregas sobre o seu frágil esqueleto. Levava uma lança curta, um bastão de onde pendiam uma série de saquinhos de pele e um cilindro de quartzo que soava como um chocalho de bebé. Nadia levou a mão ao cabelo, soltou o pirilampo e ofereceu-lho. O ancião aceitou-o, colocando-o entre os seus colares. Ela pôs-se de cócoras e fez sinal a Alex para que fizesse o mesmo, como sinal de respeito. A seguir o índio agachou-se também e desta forma ficaram os três da mesma altura.
Borobá deu um salto e empoleirou-se nos ombros do velho, puxando-lhe as orelhas. A dona afastou-o com uma palmada e o ancião pôs-se a rir com vontade. AAlex pareceu-lhe que não tinha um único dente na boca, mas como não havia muita luz, não podia ter a certeza. O índio e Nadia embrenharam-se numa longa conversa de gestos e sons numa língua cujas palavras soavam doces, como brisa, água e pássaros. Calculou que falavam dele, porque apontavam para si. Num determinado momento o homem pôs-se de pé e agitou a sua curta lança bastante aborrecido, mas ela acalmou-o com longas explicações. Por fim, o velho tirou um amuleto do pescoço, um pedaço de osso talhado, e levou-o aos lábios, soprando-o. O som era o mesmo canto de coruja ouvido antes, que Alex reconheceu porque essas aves abundavam nas proximidades da sua casa no Norte da Califórnia. O singular ancião pendurou o amuleto em volta do pescoço de Nadia, colocou as mãos nos seus ombros em jeito de despedida e desapareceu rapidamente da mesma forma silenciosa como chegara. O rapaz podia jurar que não o vira retroceder, simplesmente esfumara-se.
- Aquele era Walimai - disse-lhe Nadia ao ouvido.
- Walimai? - perguntou ele, impressionado por aquele estranho encontro.
- Chht! Não digas em voz alta! Nunca deves pronunciar o nome verdadeiro de um índio na sua presença, é tabu. Ainda menos nomear os mortos, isso é um tabu ainda mais forte, um insulto terrível - explicou Nadia.
- Quem é?
- É um xamã, um feiticeiro muito poderoso. Fala através de sonhos e visões. Pode viajar ao mundo dos espíritos quando quer. É o único que conhece o caminho para o El Dorado.
- El Dorado? A cidade de ouro inventada pelos conquistadores? Essa é uma lenda absurda! - replicou Alex.
- Walimai esteve aí muitas vezes com a sua mulher. Anda sempre com ela - refutou a rapariga.
- A ela não a vi - admitiu Alex.
- É um espírito. Nem todos conseguem vê-la.
- Tu viste-a?
- Sim. É jovem e muito bonita.
- O que te deu o feiticeiro? Do que falaram os dois? - perguntou Alex.
- Deu-me um talismã. Com isto estarei sempre segura, ninguém, nem as pessoas, nem os animais, nem os fantasmas poderão fazer-me mal. Também serve para o chamar, basta soprar e virá. Até agora eu não podia chamá-lo, tinha de esperar que ele aparecesse. Walimai diz que vou precisar dele porque há muito perigo, o Rahakanariwa, o temível espírito do pássaro canibal, anda à solta. Quando aparece há mortes e destruição, mas eu estarei protegida pelo talismã.
- És uma menina bastante estranha... - suspirou Alex, sem acreditar em metade das coisas que ela lhe dizia.
- Walimai diz que os estrangeiros não devem ir à procura da Besta. Diz que vários morrerão. Mas tu e eu devemos ir, porque fomos chamados, porque temos a alma branca.
- Quem nos chama?
- Não sei, mas se Walimai o diz, é verdade.
- A sério que acreditas nessas coisas, Nadia? Acreditas em feiticeiros, em pássaros canibais, no El Dorado, em mulheres invisíveis, na Besta?
Sem responder, a rapariga deu meia volta e pôs-se a andar a caminho da aldeia e ele seguiu-a de perto, para não se perder.
Nessa noite, Alexander Cold dormiu sobressaltado. Sentia-se ao sabor da intempérie, como se as frágeis paredes que o separavam da selva se tivessem dissolvido e estivesse exposto a todos os perigos daquele mundo desconhecido. O hotel, construído com tábuas sobre estacas, com tecto de zinco e sem vidros nas janelas, servia apenas para se protegerem da chuva. Ao ruído exterior de sapos e outros animais juntava-se os roncos dos seus companheiros de quarto. A sua rede voltou-se algumas vezes, atirando-o de bruços para o chão, antes de se lembrar da forma correcta de a usar, colocando-se na diagonal para manter o equilíbrio. Não estava calor, mas ele estava a suar. Permaneceu acordado na escuridão durante muito tempo, debaixo do seu mosquiteiro embebido em insecticida, pensando na Besta, em tarântulas, escorpiões, serpentes e outros perigos que espreitavam na escuridão. Reviu a estranha cena a que assistira entre o índio e Nadia. O xamã tinha profetizado que vários membros da expedição morreriam.
Alex achou incrível que, em poucos dias, a sua vida tivesse levado uma volta tão espectacular, que de repente se encontrasse num lugar fantástico onde, tal como anunciara a sua avó, os espíritos passeavam entre os vivos. A realidade distorcera-se, já não sabia em que acreditar. Sentiu uma saudade enorme da sua casa e da sua família, até do seu cão Poncho. Estava muito só e muito longe de tudo o que conhecia. Se ao menos conseguisse saber como estava a sua mãe...! Mas telefonar dessa aldeia para um hospital do Texas era como tentar comunicar-se com o planeta Marte. Kate não era grande companhia ou consolo. Como avó deixava muito a desejar, nem sequer se dava ao trabalho de responder às suas perguntas, porque era de opinião que a única coisa que aprendemos é o que averiguamos por nós próprios. Defendia que a experiência é o que se obtém precisamente depois de precisarmos dela.
Estava às voltas na rede, sem conseguir dormir, quando lhe pareceu ouvir um murmúrio de vozes. Podia ser só o barulho da selva, mas decidiu investigar. Descalço e em roupa interior, aproximou-se silenciosamente da rede onde Nadia dormia juntamente com o pai, na outra extremidade da sala comum. Pôs uma mão na boca da rapariga e murmurou o nome dela ao ouvido, tentando não acordar os outros. Ela abriu os olhos, assustada, mas ao reconhecê-lo acalmou-se e desceu da rede veloz como um gato, fazendo um gesto peremptório a Borobá para ficar quieto. O macaquinho obedeceu-lhe imediatamente, enrolando-se na rede, e Alex comparou-o com o seu cão Poncho, a quem nunca conseguira fazer compreender a ordem mais simples. Saíram silenciosamente, deslizando ao longo da parede do hotel até à varanda, onde Alex tinha ouvido as vozes. Esconderam-se numa esquina da porta, comprimindo-se contra a parede e, daí, vislumbraram o capitão Ariosto e Mauro Carías sentados à volta de uma mesinha, fumando, bebendo e falando em voz baixa. Os seus rostos eram perfeitamente visíveis à luz dos cigarros e de uma espiral de insecticida que ardia em cima da mesa. Alex felicitou-se por ter chamado Nadia, porque os homens falavam em espanhol.
- Já sabes o que deves fazer, Ariosto - disse Carías. - Não será fácil.
- Se fosse fácil, não precisaria de ti e também não teria de pagar-te, homem - fez notar Mauro Carias.
- Não me agradam os fotógrafos, podem meter-nos numa embrulhada. E, quanto à escritora, deixa-me dizer-te que essa velha me parece muito astuta - disse o capitão.
- O antropólogo, a escritora e os fotógrafos são indispensáveis para o nosso plano. Sairão daqui contando exactamente a história que nos convém, isso eliminará qualquer suspeita contra nós. Assim evitamos que o Congresso mande uma comissão para investigar os factos, como aconteceu anteriormente. Desta vez haverá um grupo da International Geographic como testemunha - replicou Canas.
- Não percebo por que razão o Governo protege esse punhado de selvagens. Ocupam milhares de quilómetros quadrados que deveriam repartir-se entre os colonos, assim chegaria o progresso a este inferno - comentou o capitão.
- Tudo a seu tempo, Ariosto. Nesse território há esmeraldas e diamantes. Antes de virem os colonos cortar árvores e criar vacas, tu e eu seremos ricos. Não quero aventureiros por estes lados ainda.
- Então não os haverá. Para isso existe o exército, amigo Carias, para fazer valer a lei. Acaso não é necessário proteger os índios? - disse o capitão Ariosto, e os dois riram-se com vontade.
- Tenho tudo planeado, uma pessoa da minha confiança irá com a expedição.
- Quem?
- De momento prefiro não divulgar o seu nome. A Besta é o pretexto para o tonto do Leblanc e os jornalistas irem exactamente onde queremos e cobrirem a notícia. Eles contactarão os índios, é inevitável. Não podem interrar-se no triângulo do Alto Orenoco à procura da Besta sem darem de caras com os índios - referiu o empresário.
- O teu plano parece-me bastante complicado. Tenho gente bastante discreta, podemos fazer o trabalho sem que ninguém se inteire - garantiu o capitão Ariosto, levando o copo aos lábios.
- Não, homem! Já não te expliquei que devemos ter paciência? replicou Carias.
- Explica-me novamente o plano - exigiu Ariosto.
- Não te preocupes, do plano encarrego-me eu. Em menos de três meses teremos desocupado a zona.
Nesse instante Alex sentiu alguma coisa no pé e afogou um grito: uma serpente deslizava sobre a sua pele nua. Nadia levou um dedo aos lábios, dando-lhe a entender que não se movesse. Carias e Ariosto puseram-se de pé, alertados, e ambos puxaram simultaneamente das suas armas. O capitão acendeu a lanterna e varreu os arredores, passando com o feixe de luz a poucos centímetros do sítio onde os jovens se escondiam. Era tanto o terror de Alex que, de boa vontade, teria enfrentado as duas pistolas desde que isso lhe permitisse livrar-se da serpente, que agora se enrolava no tornozelo. Mas a mão de Nadia agarrava-o por um braço e compreendeu que não podia arriscar também a vida dela.
- Quem anda aí? - murmurou o capitão, sem levantar a voz para não atrair aqueles que dormiam no interior do hotel.
Silêncio.
- Vamos embora, Ariosto - ordenou Carias.
O militar voltou a varrer o sítio com a sua lanterna, depois ambos retrocederam até às escadas que davam para a rua, sempre com as armas na mão. Passaram um ou dois minutos antes de os jovens sentirem que podiam mexer-se sem chamar a atenção. Nessa altura a cobra já envolvia a barriga da perna, a sua cabeça estava à altura do joelho e o suor corria a rodos pelo corpo do rapaz. Nadia tirou a camisola, envolveu a sua mão direita e, com muito cuidado, agarrou na serpente perto da cabeça. De imediato, ele sentiu que o réptil o apertava mais, agitando furiosamente a cauda, mas a rapariga agarrava-o com firmeza, separando-o depois sem brusquidão da perna do seu novo amigo, até o ter pendurado na mão. Girou o braço como as pás de um moinho, adquirindo impulso e depois atirou a serpente por cima da balaustrada do alpendre, para a escuridão.
Depois voltou a vestir a camisola, tranquilamente.
- Era venenosa? - perguntou o trémulo rapaz, assim que conseguiu recuperar a voz.
- Sim, acho que era uma surucucu, mas não era muito grande. Tinha a boca pequena e não podia abrir muito as mandíbulas. Só podia morder-te num dedo, não na perna - replicou Nadia. Depois dedicou-se a traduzir-lhe a conversa entre Carias e Ariosto.
- Qual será o plano desses malvados? O que poderemos fazer? - perguntou Nadia.
- Não sei. A única coisa que me ocorre é contar à minha avó, mas não sei se acreditaria em mim. Diz que sou paranóico e que vejo inimigos e perigos em toda a parte - respondeu o rapaz.
- Por agora podemos apenas esperar e vigiar, Alex... - sugeriu ela.
Os jovens regressaram às suas redes. Alex adormeceu imediatamente, extenuado, e acordou ao amanhecer com os guinchos ensurdecedores dos macacos. A sua fome era tão voraz que, de boa vontade, teria comido as panquecas do seu pai, mas não havia nada para levar à boca e teve de esperar mais duas horas até os seus companheiros de viagem estarem prontos para tomar o pequeno-almoço. Ofereceram-lhe café preto, cerveja morna e os restos frios do tapir da noite anterior. Recusou tudo, enojado. Nunca tinha visto um tapir, mas imaginava que seria assim uma espécie de ratazana gigante. Teria uma surpresa alguns dias mais tarde ao comprovar que se tratava de um animal de mais de cem quilos, parecido com o porco, cuja carne era muito apreciada. Agarrou numa banana, mas era amarga e deixou-lhe a língua áspera, depois soube que as bananas daquela espécie tinham de ser cozinhadas. Nadia, que tinha saído muito cedo para se lavar no rio com outras raparigas, regressou com uma flor fresca na orelha e a mesma pena verde na outra, trazendo Borobá agarrado ao pescoço e meio ananás na mão. Alex tinha lido que a única fruta segura nos climas tropicais é a que nós próprios descascamos, mas decidiu que o risco de contrair tifo era preferível à desnutrição. Devorou o ananás que ela lhe oferecia, agradecido.
César Santos, o guia, apareceu momentos depois, tão bem lavado como a sua filha, convidando os restantes membros da expedição a dar um mergulho no rio. Todos o seguiram, menos o professor Leblanc, que mandou Karakawe buscar vários baldes de água para tomar banho na varanda, porque a ideia de nadar na companhia de uma jamanta não o atraía. Algumas eram do tamanho de um tapete grande e as suas caudas poderosas não só cortavam como serras, como também injectavam veneno. Alex considerou que depois da experiência com a serpente na noite anterior, não iria retroceder diante do risco de se lhe deparar um peixe, por pior fama que tivesse. Atirou-se de cabeça para a água.
- Se uma jamanta te atacar, quer dizer que estas águas não são para ti - foi o único comentário da sua avó, que foi com as outras mulheres tomar banho noutro lado.
-As jamantas são tímidas e vivem no leito do rio. Regra geral fogem quando sentem movimento na água, mas de qualquer forma convém andar arrastando os pés, para não as pisar - instruiu-o César Santos.
O banho estava delicioso e deixou-o fresco e limpo.
Antes de partirem, os membros da expedição foram convidados a ir ao acampamento de Mauro Carias. A doutora Omayra Torres desculpou-se, disse que tinha de enviar os jovens mórmones de regresso a Manaus num helicóptero do exército, porque tinham piorado. O acampamento compunha-se de vários reboques, trazidos de helicóptero e colocados em círculo numa clareira do bosque, a uma milha de Santa Maria de Ia Lluvia. As suas instalações eram luxuosas comparadas com os casinhotos de tectos de zinco da aldeia. Dispunha de um gerador de electricidade, antena de rádio e painéis de energia solar.
Carias tinha recintos semelhantes em vários pontos estratégicos do Amazonas para controlar os seus múltiplos negócios, desde a exploração de madeira até às minas de ouro, mas vivia longe dali. Diziam que em Caracas, Rio de Janeiro e Miami possuía mansões principescas e em cada uma delas mantinha uma mulher. Deslocava-se no seu jet e na sua avioneta, usava também os veículos do exército, que alguns generais amigos punham à sua disposição. Em Santa Maria de Ia Lluvia não havia aeroporto onde pudesse aterrar o seu jet, de forma que utilizava a sua avioneta bimotor que, comparada com o aviãozinho de César Santos, um decrépito pássaro de lata oxidado, parecia impressionante. O acampamento estar rodeado de arame electrificado e protegido por guardas chamou a atenção de Kate Cold.
- O que poderá ter este homem aqui que requeira tanta vigilância? - comentou com o neto.
Mauro Carias era dos poucos aventureiros que tinham enriquecido no Amazonas. Milhares e milhares de garimpeiros interravam-se, a pé ou de canoa, pela selva e pelos rios procurando minas de ouro ou jazidas de diamantes, abrindo caminho na vegetação à força de machete, sendo comidos pelas formigas, sanguessugas e mosquitos. Muitos morriam de malária, outros de balázios, outros de fome e de solidão. Os seus corpos apodreciam, em campas anónimas ou eram comidos pelos animais.
Diziam que Carías tinha começado a sua fortuna com galinhas: soltava-as na selva e depois abria-lhes o bucho à facada para apanhar as pepitas de ouro que as infelizes engoliam. Mas isso, tal como muitas outras histórias sobre o passado desse homem, devia ser um exagero, porque na realidade o ouro não crescia no chão do Amazonas como milho. De qualquer forma, Carias nunca teve de arriscar a saúde como os miseráveis garimpeiros, porque tinha boas ligações, olho para o negócio e sabia mandar e fazer-se respeitar. O que não conseguia a bem, obtinha-o pela força. Nas suas costas, muitos diziam à boca pequena que era um criminoso, mas ninguém se atrevia a dizê-lo na cara. Não se conseguia provar que tinha sangue nas mãos. A sua aparência nada tinha de ameaçador ou suspeito, era um homem simpático, bem-posto, bronzeado, com as mãos arranjadas e os dentes branquíssimos, vestido com boa roupa desportiva. Falava com uma voz melodiosa e olhava para as pessoas directamente nos olhos, como se, em cada frase, quisesse provar a sua franqueza.
O empresário recebeu os membros da expedição da International Geographic num dos reboques transformado em sala, com todas as comodidades que não existiam na aldeia. Estava acompanhado por duas mulheres jovens e atraentes, que serviam as bebidas e acendiam os cigarros, mas não diziam uma palavra. Alex pensou que não falavam inglês. Comparou-as com Morgana, a rapariga que lhe roubara a mochila em Nova Iorque, porque tinham a mesma atitude insolente. Corou ao lembrar-se de Morgana e
tornou a perguntar a si próprio como pôde ser tão inocente e deixar-se enganar daquela maneira. Elas eram as únicas mulheres visíveis no acampamento, os outros eram homens armados até aos dentes. 'O anfitrião ofereceu-lhes um almoço delicioso de queijos, carnes frias, mariscos, frutas, gelados e outros luxos trazidos de Caracas. Pela primeira vez desde que saíra do seu país, o rapaz americano pôde comer à vontade.
- Pareces conhecer muito bem esta região, Santos. Há quanto tempo vives aqui? - perguntou Mauro Canas ao guia.
- Vivi aqui toda a vida. Não conseguiria viver noutro lado - replicou este.
- Disseram-me que a tua mulher adoeceu aqui. Lamento muito... Não me admira, muito poucos estrangeiros sobrevivem neste isolamento e neste clima. E esta miúda, não vai à escola? - e Carias estendeu a mão para tocar em Nadia, mas Borobá mostrou-lhe os dentes.
- Não preciso de ir à escola. Sei ler e escrever - disse Nadia, enfática.
- E isso é suficiente, linda - disse Carías sorrindo.
- Nadia também conhece a Natureza, fala inglês, espanhol, português e várias línguas dos índios - acrescentou o pai.
- O que é isso que trazes ao pescoço, linda? - perguntou Carias com uma entoação carinhosa.
- O meu nome é Nadia - disse ela.
- Mostra-me o teu colar, Nadia - pediu o empresário, sorrindo e mostrando os seus dentes perfeitos.
- É mágico, não o posso tirar.
- Queres vendê-lo? Compro-o - troçou Mauro Carias.
- Não! - gritou ela, afastando-se.
César Santos interrompeu para se desculpar pelos modos ariscos da sua filha. Achava estranho aquele homem tão importante perder o seu tempo a brincar com uma miúda. Antes ninguém reparava em Nadia mas, nos últimos meses, a sua filha começava a chamar a atenção e isso não lhe agradava nada. Mauro Carías comentou que se a rapariga vivera sempre no Amazonas, não estava preparada para a sociedade. Que futuro a esperaria? Parecia bastante esperta e com uma boa educação poderia ir longe, disse. Ofereceu-se mesmo para a levar com ele para a cidade, onde poderia frequentar uma escola e transformar-se numa menina, como era devido.
- Não posso separar-me da minha filha mas agradeço-lhe, de qualquer forma - replicou Santos.
- Pensa bem, homem. Eu seria uma espécie de padrinho... - acrescentou o empresário.
- Também sei falar com os animais - interrompeu-o Nadia. Uma gargalhada geral recebeu as palavras de Nadia. Os únicos que não se riram foram o pai, Alex e Kate Cold.
- Se sabes falar com os animais, talvez possas servir-me de intérprete com uma das minhas mascotes. Venham comigo - convidou o empresário num tom de voz suave.
Seguiram Mauro Carias até um pátio formado pelos reboques colocados em círculo, em cujo centro estava uma jaula improvisada feita de paus e arame de galinheiro. Lá dentro passeava um grande felino com a atitude enlouquecida das feras em cativeiro. Era um jaguar negro, um dos mais belos exemplares vistos por aqueles lados, com o pêlo lustroso e os olhos hipnóticos cor de topázio. Ao vê-lo, Borobá lançou um guincho agudo, saltou do ombro de Nadia e fugiu a toda a velocidade, seguido pela garota, que chamava por ele em vão. Alex admirou-se, porque, até essa altura, nunca vira o macaco separar-se voluntariamente da sua dona. Os fotógrafos focaram de imediato as suas lentes na direcção da fera e Kate Cold tirou também do seu saco a sua pequena máquina fotográfica automática. O professor Leblanc manteve-se a uma distância prudente.
- Os jaguares negros são os animais mais temíveis da América do Sul. Não recuam perante nada, são valentes - disse Carias.
- Se o admira, por que não o liberta? Esse pobre gato estaria melhor morto que preso - ripostou César Santos.
- Soltá-lo? De maneira nenhuma, homem! Tenho um pequeno zoológico na minha casa do Rio de Janeiro. Estou à espera que chegue uma jaula apropriada para o enviar para lá.
Alex aproximara-se como se estivesse em transe, fascinado pela visão daquele felino enorme. A avó gritou-lhe uma advertência que ele não ouviu e avançou até tocar com ambas as mãos no arame que o separava do animal. O jaguar parou, lançou um grunhido formidável e fixou depois o seu olhar amarelo em Alex. Estava imóvel, com os músculos tensos, o pêlo cor de azeviche palpitante. O rapaz tirou os óculos, que usava desde os sete anos e deixou-os cair ao chão. Estavam tão perto que conseguiu distinguir cada uma das manchinhas douradas na pupila da fera, enquanto os olhos de ambos entabulavam um diálogo silencioso. Tudo desapareceu: estava sozinho diante do animal numa vasta planície de ouro, rodeado por torres negras altíssimas, sob um céu branco onde flutuavam seis luas transparentes, como medusas. Viu que o felino abria as fauces, onde brilhavam os seus grandes dentes perlados e, com uma voz humana, mas que parecia provir do fundo de uma caverna, pronunciava o seu nome: Alexander. E ele respondia com a sua própria voz, mas que também soava cavernosa: Jaguar. O animal e o rapaz repetiram três vezes essas palavras, Alexander, Jaguar, Alexander, Jaguar, Alexander, Jaguar. E então a areia da planície tornou-se fosforescente, o céu tornou-se negro e as seis luas começaram a girar nas suas órbitas e a deslocar-se como lentos cometas.
Entretanto Mauro Carias tinha dado uma ordem e um dos seus empregados trouxe um macaco arrastando-o por uma corda. Ao ver o jaguar, o macaco teve uma reacção semelhante à de Borobá, começou a guinchar, a saltar e a dar palmadas, mas sem conseguir libertar-se. Carias agarrou-o pelo pescoço e antes que alguém conseguisse adivinhar as suas intenções, abriu a jaula com um único movimento preciso e atirou o aterrorizado animalzinho lá para dentro.
Os fotógrafos, apanhados de surpresa, tiveram de fazer um esforço para se lembrarem de que tinham uma máquina fotográfica nas mãos. Leblanc seguia fascinado cada um dos movimentos do infeliz símio, que trepava pelo arame procurando uma saída, e da fera, que o seguia com os olhos, encolhendo-se, preparando o salto. Sem pensar no que fazia, Alex desatou a correr, pisando os óculos que ainda estavam no chão e reduzindo-os a fanicos. Atirou-se para a porta da jaula disposto a resgatar os dois animais, o macaco de uma morte certa e o jaguar da sua prisão. Ao ver o neto abrir a fechadura, Kate correu também, mas antes de o apanhar, dois dos empregados de Carias já o tinham agarrado pelos braços dominando-lhe a resistência. Aconteceu tudo em simultâneo e tão rapidamente que mais tarde Alex não conseguiu recordar a sequência dos factos. De uma patada, o jaguar fez o macaco cair e, de uma dentada das suas temíveis mandíbulas, despedaçou-o. O sangue esguichou em todas as direcções. Na mesma altura, César Santos tirou a pistola do cinto e disparou contra a fera um tiro certeiro na testa. Alex sentiu o impacto como se a bala lhe tivesse acertado entre os olhos e teria caído de costas se os guardas de Carías não o prendessem pelos braços, praticamente no ar.
- O que fizeste, desgraçado! - gritou o empresário, puxando também da sua arma e voltando-se para César Santos.
Os guardas soltaram Alex, que perdeu o equilíbrio e caiu ao chão, para enfrentar o guia, mas não se atreveram a pôr-lhe as mãos em cima porque este ainda empunhava a pistola fumegante.
- Pu-lo em liberdade - replicou César Santos com uma tranquilidade espantosa.
Mauro Carias fez um esforço para se controlar. Compreendeu que não podia bater-se a tiro com ele diante dos jornalistas e de Leblanc.
- Calma! - ordenou Mauro Carías aos guardas.
- Matou-o! Matou-o! - repetia Leblanc, vermelho de excitação. A morte do macaco e depois a do felino tinham-no posto histérico e agia como um ébrio.
- Não se preocupe, professor Leblanc, posso conseguir os animais que quiser. Desculpem, mas receio que este tenha sido um espectáculo pouco apropriado a corações fracos - disse Carías.
Kate Cold ajudou o neto a levantar-se, agarrou depois em César Santos por um braço e levou-o até à saída, sem dar tempo a que a situação se tornasse mais violenta. O guia deixou-se levar pela escritora e saíram, seguidos por Alex. Lá fora encontraram Nadia com o aterrorizado Borobá enrolado à cintura.
Alex tentou explicar a Nadia o que tinha acontecido entre ele e o jaguar, antes de Mauro Carias ter introduzido o macaco na jaula, mas tudo se confundia no seu espírito. Tinha sido uma experiência tão real, que o rapaz podia jurar que, por alguns minutos, estivera noutro mundo, num mundo de areias brilhantes e seis luas girando no firmamento, um mundo onde o jaguar e ele se fundiram numa só voz. Embora lhe faltassem as palavras para contar à amiga o que tinha sentido, ela pareceu compreendê-lo sem necessidade de ouvir os pormenores.
- O jaguar reconheceu-te, porque é o teu animal totémico - disse. - Todos temos o espírito de um animal, que nos acompanha. É como a nossa alma. Nem todos encontram o seu animal, só os grandes guerreiros e os xamanes, mas tu descobriste-o sem o procurares. O teu nome é Jaguar - disse Nadia.
- Jaguar?
- Alexander é o nome que te deram os teus pais. Jaguar é o teu nome verdadeiro, mas para o usares tens de ter a natureza do jaguar.
- E como é essa natureza? Cruel e sanguinária? - perguntou Alex, pensando nas fauces da fera despedaçando o macaco na jaula de Carias.
- Os animais não são cruéis como as pessoas. Matam apenas para se defenderem ou quando têm fome.
- Tu também tens um animal totémico, Nadia?
- Sim, mas ainda não me foi revelado. Encontrar o seu animal é menos importante para uma mulher, porque nós recebemos
a nossa força da terra. Nós somos a Natureza - disse ela.
- Como sabes tudo isso? - perguntou Alex, que j á duvidava menos das palavras da sua nova amiga. - Walimai ensinou-me.
- O xamã é teu amigo?
- Sim, Jaguar, mas eu não disse a ninguém que falo com Walimai, nem sequer ao meu pai.
- Porquê?
- Porque Walimai prefere a solidão. A única companhia que suporta é a do espírito da sua mulher. Só raramente aparece nalgum shabono para curar uma doença ou participar numa cerimónia dos mortos, mas nunca aparece aos nahab.
- Na ha b?
- Forasteiros.
- Tu és forasteira, Nadia.
- Walimai diz que eu não pertenço a lado nenhum, que não
sou índia nem estrangeira, nem mulher nem espírito.
- Nesse caso, o que és? - perguntou Jaguar.
- Eu sou, apenas - replicou ela.
César Santos explicou aos membros da expedição que subiriam o rio em lanchas a motor, interrando-se nas terras indígenas até às cataratas do Alto Orenoco. Aí montariam o acampamento e, sendo possível, desbastariam uma franja do bosque para improvisar uma pista de aterragem. Ele voltaria a Santa Maria de Ia Lluvia para buscar a sua avioneta, que serviria de ligação rápida com a aldeia. Disse que nessa altura o novo motor já teria chegado e seria
simplesmente uma questão de instalá-lo. Com o aviãozinho poderiam ir à inexpugnável zona das montanhas onde, segundo o testemunho de alguns índios e aventureiros, a mitológica Besta poderia ter a sua guarida.
- Como consegue, uma criatura gigantesca como aquela, subir e descer por um terreno que supostamente nós não conseguimos escalar? - perguntou Kate Cold.
- Já averiguaremos - replicou César Santos.
- Como se deslocam os índios por ali sem uma avioneta? - insistiu ela.
- Conhecem o terreno. Os índios conseguem trepar palmeiras altíssimas com troncos cobertos de espinhos. Também conseguem escalar as paredes de rocha das cataratas, que são lisas como espelhos - disse o guia.
Passaram uma boa parte da manhã carregando as lanchas. O professor Leblanc levava mais volumes que os fotógrafos, incluindo uma provisão de água engarrafada, que usava até para se barbear, porque temia as águas infectadas de mercúrio. Foi inútil César Santos repetir-lhe que acampariam contra a corrente, longe das minas de ouro. Por sugestão do guia, Leblanc tinha contratado Karakawe para seu assistente pessoal, o índio que o abanava na noite anterior, para que o servisse durante o resto da travessia. Explicou que sofria das costas e não podia carregar o menor peso.
Desde o começo dessa aventura, Alexander teve a responsabilidade de cuidar das coisas da avó. Esse era um aspecto do seu trabalho, pelo qual ela lhe dava uma remuneração mínima, que seria paga no regresso, desde que a desempenhasse bem. Todos os dias, Kate Cold apontava no seu caderno as horas de trabalho do neto e fazia-o assinar a página, mantendo assim as contas certas. Num momento de sinceridade, ele contara-lhe como tinha partido tudo o que havia no quarto antes de começar a viagem. Ela não achou grave porque era de opinião de que se precisa de muito pouco neste mundo, mas ofereceu-lhe um salário para o caso de ele pensar repor o que destruíra. A avó viajava com três mudas de roupa de algodão, vodka, tabaco, champô, sabonete, repelente de insectos, mosquiteiro, cobertor, papel e uma caixa de lápis, tudo dentro de um saco de lona. Levava também uma máquina fotográfica automática, das mais ordinárias, que tinha provocado gargalhadas desdenhosas aos fotógrafos profissionais Timothy Bruce e Joel González. Kate deixou-os rir-se sem fazer comentários. Alex levava ainda menos roupa que a avó, mais um mapa e dois livros. Ao cinto, pendurara o canivete suíço, a flauta e uma bússola. Ao ver o instrumento, César Santos explicou-lhe que não lhe serviria de nada na selva, onde não se podia avançar em linha recta.
- Esquece-te da bússola, rapaz. O melhor é seguires-me sem nunca me perderes de vista - aconselhou.
Mas a Alex agradava-lhe a ideia de poder localizar o Norte onde quer que estivesse. O relógio, por outro lado, não lhe serviria de nada, porque o tempo no Amazonas não era como no resto do planeta, não se media em horas, mas no amanhecer, nas marés, estações e chuvas.
Os cinco soldados disponibilizados pelo capitão Ariosto, e Matuwe, o guia índio contratado por César Santos, iam bem armados.
Matuwe e Karakawe tinham adoptado esses nomes para se entenderem com os forasteiros. Só os seus familiares e amigos íntimos
podiam chamá-los pelos seus nomes verdadeiros. Ambos tinham deixado as suas tribos muito jovens, para se educarem nas escolas dos missionários, onde foram cristianizados, mas mantinham-se em contacto com os índios. Ninguém conseguia orientar-se na região melhor que Matuwe, que nunca tinha recorrido a um mapa para saber onde estava. Karakawe era considerado «homem de cidade»,
porque viajava com frequência para Manaus e Caracas e porque tinha, como tanta gente da cidade, um temperamento desconfiado.
César Santos levava o indispensável para montar o acampamento: tendas, comida, utensílios de cozinha, luzes e rádio a bateria, ferramentas, redes para fabricar armadilhas, machetes, facas e algumas bugigangas de vidro e plástico para trocar ofertas com os índios. À última hora apareceu a filha com o seu macaquinho preto pendurado à anca, o amuleto de Walimai e um casaco de algodão ao pescoço como única bagagem, dizendo que estava pronta para embarcar. Tinha avisado o pai de que não pensava ficar em Santa María de Ia Lluvia com as freiras do hospital, como das outras vezes, porque Mauro Carias andava por ali e ela não gostava da forma como a olhava e tentava tocar. Tinha medo do homem que «levava o coração numa bolsa». O professor Leblanc enfureceu-se. Anteriormente, já colocara severas objecções à presença do neto de Kate Cold, mas como era impossível mandá-lo de volta para os Estados Unidos, teve de o tolerar. Agora, no entanto, não estava disposto a permitir que, por motivo algum, a filha do guia viesse também.
- Isto não é um jardim infantil, é uma expedição científica de alto risco. Os olhos do mundo estão postos em Ludovic Leblanc - alegou, furioso.
Como ninguém lhe deu importância, recusou-se a embarcar. Sem ele não podiam partir. Só o enorme prestígio do seu nome servia de garantia perante a International Geographic, disse. César Santos procurou convencê-lo de que a sua filha andava sempre com ele e não incomodaria nada. Pelo contrário, poderia ser uma grande ajuda porque falava vários dialectos índios. Leblanc manteve-se inflexível. Meia hora mais tarde o calor passava dos trinta e oito graus, todas as superficies transpiravam humidade e o estado de espírito dos expedicionários estava tão em brasa como o clima. Nessa altura Kate Cold interveio.
- A mim também me doem as costas, professor. Preciso de um assistente pessoal. Contratei Nadia Santos para carregar os meus cadernos e para me abanar com uma folha de bananeira - disse.
Todos soltaram uma gargalhada. A rapariga subiu dignamente para a lancha e sentou-se ao pé da escritora. O macaco instalou-se na sua saia e, daí, mostrava a língua e fazia traquinices ao professor Leblanc, que também embarcara, vermelho de indignação.
O grupo viu-se novamente navegando rio acima. Desta vez iam treze adultos e duas crianças em duas lanchas a motor, ambas pertencentes a Mauro Carias, que as pusera à disposição de Leblanc.
Alex esperou pela oportunidade de poder contar à avó, em privado, o estranho diálogo entre Mauro Carias e o capitão Ariosto, que Nadia lhe tinha traduzido. Kate ouviu com atenção e não deu mostras de incredulidade, como o neto receara. Pareceu, pelo contrário, bastante interessada.
- Não gosto de Carias. Qual será o seu plano para exterminar os índios? - perguntou.
- Não sei.
- A única coisa que podemos fazer por agora é esperar e vigiar - concluiu a escritora.
- Nadia disse o mesmo.
- Essa menina devia ser minha neta, Alexander.
A viagem pelo rio era semelhante à que tinham feito anteriormente, de Manaus a Santa Maria de Ia Lluvia, embora a paisagem tivesse mudado. Nessa altura o rapaz decidira fazer como Nadia e, em vez de lutar contra os mosquitos empapando-se em insecticida, deixava que o atacassem, vencendo a tentação de coçar-se. Tirou também as botas quando verificou que estavam sempre molhadas e que as sanguessugas o mordiam da mesma forma, quer as tivesse calçadas, quer não. Da primeira vez não se apercebeu até a sua avó lhe apontar para os pés: tinha as meias ensanguentadas. Tirou-as e viu aqueles bichos asquerosos agarrados à sua pele, inchados de sangue.
-Não dói porque injectam um anestésico antes de chuparem o sangue - explicou César Santos.
Depois ensinou-o a tirar as sanguessugas queimando-as com um cigarro, para evitar que os dentes ficassem presos à pele, com o risco de provocarem uma infecção. Esse método era um pouco complicado para Alex, que não fumava, mas um pouco de tabaco quente do cachimbo da avó surtiu o mesmo efeito. Era mais fácil livrar-se delas do que viver preocupado em evitá-las.
Desde o início, Alex teve a impressão de que havia uma tensão palpável entre os adultos da expedição: ninguém confiava em ninguém. Também não conseguia livrar-se da sensação de estar a ser espiado, de que havia milhares de olhos observando todos os movimentos das lanchas. Olhava, a todo o instante, por cima do ombro, mas ninguém os seguia pelo rio.
Os cinco soldados eram caboclos nascidos na região. Matuwe, o guia contratado por César Santos, era indígena e servir-lhes-ia de intérprete com as tribos. O outro índio puro era Karakawe, o assistente de Leblanc. De acordo com a doutora Omayra Torres, Karakawe não se comportava como os outros índios e possivelmente nunca poderia voltar a viver com a sua tribo.
Entre os índios tudo se partilhava e as únicas posses eram as poucas armas ou primitivas ferramentas que cada um pudesse transportar consigo. Cada tribo tinha um shabono, uma grande cabana comum de forma circular, telhada com palha e aberta para um pátio interior. Viviam todos juntos, partilhando desde a comida até à educação das crianças. No entanto, o contacto com os estrangeiros estava a acabar com as tribos: não os contagiavam só com doenças do corpo, mas também com outras da alma. Assim que os índios experimentavam um machete, uma faca ou qualquer outro artefacto metálico, as suas vidas mudavam para sempre. Com um único machete podiam multiplicar mil vezes a produção nas suas pequenas hortas, onde cultivavam mandioca e milho. Com uma faca, qualquer guerreiro se sentia um deus. Os índios sentiam pelo aço a mesma obsessão que os forasteiros sentiam pelo ouro. Karakawe tinha superado a etapa do machete e estava na das armas de fogo: não se separava da sua antiquada pistola. Alguém como ele, que pensava mais em si próprio do que na comunidade, não tinha lugar na tribo. O individualismo era considerado uma forma de demência, tal como ser possuído pelo demónio.
Karakawe era um homem tosco e lacónico, respondia por monossílabos quando alguém lhe fazia uma pergunta impossível de evitar. Não se dava bem com os estrangeiros, com os caboclos ou com os índios. Servia Ludovic Leblanc de má vontade e nos seus olhos brilhava o ódio quando tinha de se dirigir ao antropólogo. Não comia juntamente com os restantes, não bebia uma gota de álcool e separava-se do grupo quando acampavam à noite. Nadia e Alex surpreenderam-no uma vez revistando a bagagem da doutora Omayra Torres.
- Tarântula - disse em jeito de explicação.
Alexander e Nadia dispuseram-se a vigiá-lo.
À medida que avançavam, a navegação tornava-se cada vez mais dificil porque o rio costumava estreitar-se, precipitando-se em rápidos que ameaçavam virar as lanchas. Noutras partes a água parecia estagnada e flutuavam cadáveres de animais, troncos podres e ramos que impediam o avanço. Tinham de desligar os motores e continuar a remo, usando varas de bambu para afastar os detritos. Algumas vezes eram grandes jacarés que, vistos de cima, se confundiam com troncos. César Santos explicou que quando a água estava baixa apareciam os jaguares e quando estava alta, as serpentes. Viram um casal de tartarugas gigantes e uma enguia de metro e meio de comprimento que, segundo César Santos, atacava com uma forte descarga eléctrica. A vegetação era densa e exalava um cheiro a matéria orgânica em decomposição, mas às vezes, ao anoitecer, abriam umas grandes flores enredadas nas árvores e, nessa altura, o ar enchia-se de um aroma doce a baunilha e a mel. Garças brancas observavam-nos imóveis na erva alta que subia do rio e por todo o lado havia borboletas de cores brilhantes.
César Santos costumava parar os botes perto de árvores cujos ramos se inclinavam sobre a água e bastava estender a mão para apanhar os seus frutos. Alex nunca os tinha visto e não queria prová-los, mas os outros saboreavam-nos com prazer. Numa ocasião o guia desviou a embarcação para apanhar uma planta que, conforme disse, era um cicatrizante estupendo. A doutora Omayra Torres estava de acordo e recomendou ao rapaz americano que esfregasse a cicatriz da mão com o suco da planta, embora na realidade não fosse necessário, porque tinha sarado bem. Via-se-lhe apenas uma linha avermelhada, que não o incomodava.
Kate Cold contou que muitos homens procuraram naquela região a mítica cidade de El Dorado onde, segundo a lenda, as ruas eram pavimentadas de ouro e as crianças brincavam com pedras preciosas. Muitos aventureiros interraram-se na selva e subiram o Amazonas e o rio Orenoco, sem chegarem ao coração desse território encantado, onde o mundo continuava inocente, como no despertar da vida humana no planeta. Morreram ou retrocederam, derrotados pelos índios, pelos mosquitos, pelas feras, pelas doenças tropicais, pelo clima e pelas dificuldades do terreno.
Estavam já em território venezuelano, mas ali as fronteiras não significavam nada, era tudo o mesmo paraíso pré-histórico. Ao contrário do rio Negro, as águas desses rios eram solitárias. Não se cruzaram com outras embarcações, não viram canoas, nem casas sobre estacas, nem um único ser humano. A flora e a fauna, por outro lado, eram maravilhosas, os fotógrafos estavam felicíssimos, nunca tinham tido tantas espécies de árvores, plantas, flores, insectos, aves e animais ao alcance das suas lentes. Viram papagaios verdes e vermelhos, flamingos elegantes, tucanos com o bico tão grande e pesado que mal o conseguiam suportar com os seus crânios frágeis, centenas de canários e de periquitos. Muitos destes pássaros estavam ameaçados de extinção, porque os traficantes os caçavam sem piedade para os venderem de contrabando noutros países. Os macacos de diversos grupos, quase humanos nas suas expressões e brincadeiras, pareciam saudá-los das árvores. Havia veados, ursos-formigueiros, esquilos e outros pequenos mamíferos. Vários papagaios esplêndidos - ou araras, como os chamavam também - seguiram-nos durante longos trechos. Essas aves multicores voavam com uma enorme graciosidade por cima das lanchas, como se sentissem curiosidade pelas estranhas criaturas que aí viajavam. Leblanc disparou sobre elas com a sua pistola, mas César Santos conseguiu dar-lhe uma pancada seca no braço, desviando o tiro. O som assustou o macaco e os outros pássaros, o céu encheu-se de asas, mas pouco depois os papagaios regressaram, impassíveis.
- Não se comem, professor, a carne é amarga. Não há razão para os matar - disse César Santos, censurando o professor.
- Gosto das penas - disse Leblanc, aborrecido pela interferência do guia.
- Compre-as em Manaus - disse secamente César Santos.
-As araras podem ser domesticadas. A minha mãe tem uma na nossa casa da Boa Vista. Acompanha-a para toda a parte, voando sempre dois metros acima da cabeça dela. Quando a minha mãe vai ao mercado, a arara segue o autocarro até ela descer, espera-a numa árvore enquanto ela faz as compras e depois volta com ela, como um cãozinho fraldiqueiro - contou a doutora Omayra Torres.
Alex verificou uma vez mais que a música da sua flauta alvoroçava os macacos e os pássaros. Borobá parecia particularmente atraído pela flauta. Quando ele tocava, o macaquinho ficava imóvel, ouvindo, com uma expressão solene e curiosa. Às vezes saltava-lhe para cima e puxava pelo instrumento, pedindo música. Alex satisfazia-o, encantado por poder contar com uma audiência interessada, depois de ter brigado durante anos com as irmãs para o deixarem praticar flauta em paz. Os membros da expedição sentiam-se confortados com a música, que os acompanhava à medida que a paisagem se tornava mais hostil e misteriosa. O rapaz tocava sem esforço, as notas fluíam sozinhas, como se aquele delicado instrumento tivesse memória e recordasse a mestria impecável do seu anterior proprietário, o célebre Joseph Cold.
A sensação de serem seguidos apoderara-se de todos. Sem o confessarem, porque o que não se nomeia é como se não existisse, vigiavam a Natureza. O professor Leblanc passava o dia com os binóculos na mão examinando as margens do rio. A tensão tornara-o ainda mais desagradável. Os únicos que não se tinham deixado contagiar pelo nervosismo colectivo eram Kate Cold e o inglês Timothy Bruce. Tinham trabalhado juntos em muitas ocasiões, tinham percorrido meio mundo à conta das suas reportagens, tinham estado em várias guerras e revoluções, trepado montanhas e descido ao fundo do mar, de modo que poucas coisas lhes tiravam o sono. Além disso, faziam gala da sua indiferença.
- Não achas que nos estão a vigiar, Kate? - perguntou-lhe o neto.
- Sim.
- E não te assusta?
- Há várias maneiras de superar o medo, Alexander. Nenhuma funciona - replicou ela.
Mal acabara de pronunciar estas palavras, um dos soldados que viajava na embarcação caiu aos seus pés sem um grito. Kate Cold inclinou-se sobre ele, inicialmente sem compreender o que tinha acontecido, até ver uma espécie de espinha comprida cravada no peito do homem. Comprovou que tinha morrido instantaneamente: a espinha tinha passado sem dificuldade entre as costelas e atravessara-lhe o coração. Alex e Kate alertaram os restantes tripulantes,
que não se tinham apercebido da ocorrência, tão silencioso fora o ataque. Um instante depois, meia dúzia de armas de fogo foram descarregadas contra a mata. Quando se dissipou o fragor, a pólvora e o estampido dos pássaros que cobriram o céu, viram que nada mais se movera na selva. Quem quer que tenha lançado o dardo mortal, manteve-se agachado, imóvel e silencioso. Com um puxão, César Santos arrancou-o do cadáver e viram que media aproximadamente um pé de comprimento e que era tão firme e flexível como o aço.
O guia deu ordem para continuarem a toda a velocidade, porque nessa parte o rio era estreito e as embarcações eram um alvo fácil para as flechas dos atacantes. Só duas horas mais tarde se detiveram, quando considerou que estavam a salvo. Apenas nessa altura puderam examinar o dardo, decorado com estranhas marcas de pintura vermelha e preta, que ninguém conseguiu decifrar. Karakawe e Matuwe garantiram que nunca as tinham visto, que não pertenciam às suas tribos ou a qualquer outra tribo conhecida, mas garantiram também que todos os índios da região usavam zarabatanas. A doutora Omayra Torres explicou que, se o dardo não tivesse acertado no coração com aquela precisão espantosa, teria matado o homem de qualquer maneira em poucos minutos, embora de forma mais dolorosa, porque a ponta estava impregnada de curare, um veneno mortal, utilizado pelos índios para caçar e para a guerra, e para o qual não se conhecia antídoto.
- Isto é inadmissível! Essa flecha podia ter-me acertado! - protestou Leblanc.
- É verdade - admitiu César Santos.
- A culpa disto é sua! - acrescentou o professor.
- Culpa minha? - repetiu César Santos, confuso pelo rumo inusitado do assunto.
- Você é o guia! É responsável pela nossa segurança, para isso lhe pagamos!
- Não estamos propriamente numa viagem de turismo, professor - replicou César Santos.
- Daremos meia volta e regressaremos de imediato. Apercebe-se da perda que seria para o mundo científico se acontecesse alguma coisa a Ludovic Leblanc? - exclamou o professor.
Assombrados, os membros da expedição mantiveram-se calados. Ninguém soube o que dizer, até Kate Cold intervir.
- Contrataram-me para escrever um artigo sobre a Besta e penso fazê-lo, com flechas envenenadas ou sem elas, professor. Se deseja regressar, pode fazê-lo a pé ou a nado, como preferir. Nós continuaremos de acordo com o planeado - disse.
- Velha insolente! Como se atreve a... - ainda da conseguiu guinchar o professor.
- Não me falte ao respeito, homenzinho - interrompeu-o calmamente a escritora, agarrando-o firmemente pela camisa e paralisando-o com a expressão das suas temíveis pupilas azuis.
Alex pensou que o antropólogo daria uma bofetada à avó e avançou disposto a interceptá-la, mas não foi necessário. O olhar de Kate Cold teve o poder de acalmar os ânimos do irritável Leblanc, como por magia.
- O que faremos com o corpo deste pobre homem? - perguntou a médica, apontando para o cadáver.
- Não podemos levá-lo, Omayra. Neste clima bem sabes que a decomposição é muito rápida. Suponho que devemos lançá-lo ao rio... - sugeriu César Santos.
- O seu espírito zangar-se-ia e perseguir-nos-ia para nos matar - interveio Matuwe, o guia índio, aterrado.
- Então faremos como os índios quando têm de adiar uma cremação: deixamo-lo exposto para que os pássaros e os animais aproveitem os seus restos - decidiu César Santos.
- Não haverá uma cerimónia, como deve ser? - insistiu Matuwe.
- Não temos tempo. Um funeral apropriado demoraria vários dias. Além disso, este homem era cristão - explicou César Santos.
Finalmente acordaram em embrulhá-lo numa lona e em colocá-lo sobre uma pequena plataforma de cascas que instalaram na copa de uma árvore. Kate Cold, que não era uma mulher religiosa, mas tinha boa memória e recordava as orações da sua infância, improvisou um breve rito cristão. Timothy Bruce e Joel González filmaram e fotografaram o corpo e o funeral, como prova do que acontecera. César Santos entalhou cruzes nas árvores da margem e marcou o sítio o melhor que pôde no mapa, a fim de o reconhecerem quando voltassem mais tarde para recolher os ossos, que seriam entregues à família do defunto em Santa Maria de Ia Lluvia.
A partir desse momento, a viagem foi de mal a pior. A vegetação tornou-se mais densa e a luz do sol só chegava até eles quando navegavam no centro do rio. Iam tão apertados e incómodos que não conseguiam dormir nas embarcações. Apesar do perigo que representavam os índios e os animais selvagens, era necessário acampar na margem. César Santos distribuía os alimentos, organizava os grupos de caça e pesca, e distribuía, entre os homens, os turnos de guarda durante a noite. Excluiu o professor Leblanc, porque era evidente que, ao menor ruído, os seus nervos cederiam. Kate Cold e a doutora Omayra Torres exigiram participar na vigilância por lhes parecer um insulto excluírem-nas por serem mulheres. Nessa altura, os dois jovens insistiram também em serem aceites, em parte porque queriam vigiar Karakawe. Tinham-no visto deitar mãos cheias de balas nos bolsos e rondar o equipamento de rádio, com o qual de vez em quando César Santos conseguia comunicar com grande dificuldade, para indicar a sua posição no mapa ao operador de Santa Maria de Ia Lluvia. A cúpula vegetal da selva funcionava como um guarda-chuva, impedindo a passagem das ondas radiofónicas.
- O que será pior, os índios ou a Besta? - perguntou Alex na brincadeira a Ludovic Leblanc.
- Os índios, jovem. São canibais, não comem apenas os seus inimigos, também comem os mortos da sua própria tribo - replicou, enfático, o professor.
- É verdade? Nunca tinha ouvido isso - comentou a doutora Omayra Torres com ironia.
- Leia o meu livro, menina.
- Doutora - corrigiu-o ela pela milésima vez.
- Estes índios matam para arranjarem mulheres - garantiu Leblanc.
- Talvez por isso o senhor matasse, professor, mas não os índios, porque não lhes faltam mulheres. Pelo contrário, sobram-lhes - replicou a médica.
- Comprovei com os meus próprios olhos: assaltam outros shabonos para roubarem as raparigas.
- Que eu saiba, não podem obrigar as raparigas a ficar com eles contra a sua vontade. Se quiserem, podem partir. Quando há guerra entre dois shabonos é porque um deles utilizou magia para causar dano ao outro, por vingança. Às vezes são também guerras cerimoniais, onde há bordoada, mas sem intenção de matar ninguém - interrompeu César Santos.
- Engana-se, Santos. Veja o documentário de Ludovic Leblanc e entenderá a minha teoria - garantiu Leblanc.
- Entendo é que o senhor distribuiu machetes e facas num shabono e prometeu aos índios que lhes daria mais presentes se actuassem para as câmaras de acordo com as suas instruções... - sugeriu o guia.
- Isso é uma calúnia! Segundo a minha teoria...
- Outros antropólogos e jornalistas também vieram ao Amazonas com as suas ideias preconcebidas sobre os índios. Houve um que filmou um documentário em que os rapazes se vestiam de mulher, se pintavam e usavam desodorizante - acrescentou César Santos.
-Ah! Esse colega sempre teve ideias um pouco estranhas... - admitiu o professor.
O guia ensinou Alex e Nadia a carregarem e a usarem as pistolas. A rapariga não demonstrou grande habilidade ou interesse; parecia incapaz de acertar no alvo a três passos de distância. Alex, pelo contrário, estava fascinado. O peso da pistola na mão dava-lhe uma sensação de poder invencível. Pela primeira vez compreendia a obsessão de tanta gente pelas armas.
- Os meus pais não toleram armas de fogo. Se me vissem com isto, creio que desmaiariam - comentou.
- Não te verão - garantiu a avó, enquanto lhe tirava uma fotografia.
Alex agachou-se e fingiu disparar, como fazia quando brincava em criança.
- A técnica segura para errar o tiro é apontar e disparar apressadamente - disse Kate Cold. - Se nos atacarem, será isso exactamente o que farás, Alexander, mas não te preocupes, porque ninguém estará a ver-te. O mais provável nessa altura é já estarmos todos mortos.
- Não achas que eu consiga defender-te, não é verdade?
- Não. Mas prefiro morrer assassinada pelos índios no Amazonas, que de velhice em Nova Iorque - replicou a avó.
- És única, Kate! - disse o rapaz a sorrir.
- Somos todos únicos, Alexander - cortou ela.
No terceiro dia de navegação avistaram uma família de veados numa pequena clareira da margem. Os animais, habituados à segurança do bosque, não pareceram perturbados pela presença dos barcos. César Santos mandou parar e matou um deles com a sua espingarda, enquanto os restantes fugiam espavoridos. Nessa noite, os expedicionários jantariam muito bem, a carne de veado era bastante apreciada, apesar da sua textura fibrosa e seria uma festa após tantos dias com a mesma dieta de peixe. Matuwe levava um veneno que os índios da sua tribo deitavam no rio. Quando o veneno caía à água, os peixes ficavam paralisados e era possível trespassá-los facilmente com uma lança ou com uma flecha amarrada a uma liana. O veneno não deixava rasto na carne do peixe nem na água e os restantes peixes recuperavam passado pouco tempo.
Estavam num sítio aprazível onde o rio formava uma pequena lagoa, perfeito para pararem por algumas horas, comerem e recuperarem as forças. César Santos avisou-os de que tivessem cuidado porque a água era turva e tinham sido vistos jacarés umas horas antes, mas estavam todos acalorados e sedentos. Com os varapaus, os guardas revolveram a água e, como não viram vestígios de jacarés, decidiram todos banhar-se, menos o professor Ludovic Leblanc, que não se metia no rio por motivo algum. Borobá, o macaco, era inimigo do banho, mas Nadia obrigava-o a molhar-se de vez em quando para livrá-lo das pulgas. Montado na cabeça da dona, o animalzinho lançava exclamações do mais puro terror cada vez que uma gota o salpicava. Os membros da expedição chapinharam durante algum tempo, enquanto César Santos e dois dos seus homens esquartejavam o veado e acendiam o fogo para o assado.
Alex viu a avó tirar as calças e a camisa para nadar em roupa interior, sem demonstrações de pudor, apesar de, ao molhar-se, parecer quase nua. Evitou olhá-la, mas rapidamente compreendeu que ali, no meio da Natureza e tão longe do mundo conhecido, a vergonha do corpo não tinha cabimento. Criara-se num estreito contacto com a sua mãe e com as suas irmãs e na escola habituara-se à companhia do sexo oposto, mas nos últimos tempos, tudo o que dizia respeito ao sexo feminino o atraía como um mistério remoto e proibido. Conhecia a causa: as suas hormonas, que andavam num alvoroço e não o deixavam raciocinar em paz. A adolescência era uma embrulhada, o pior que podia haver, decidiu. Deveriam inventar um aparelho com raios laser, onde uma pessoa se metesse durante um minuto e, pufi, saísse convertido num adulto. Tinha um furacão dentro de si, às vezes andava eufórico, rei do mundo, disposto
a lutar desarmado com um leão; outras vezes era simplesmente um girino. No entanto, desde que esta viagem começara, nunca mais se tinha lembrado das hormonas, e também não tivera tempo para perguntar a si próprio se valeria a pena continuar a viver, uma dúvida que anteriormente o assaltava pelo menos uma vez por dia. Agora comparava o corpo da avó - rijo, cheio de nós, com a pele fendida - com as suaves curvas douradas da doutora Omayra Torres, que usava um discreto fato de banho preto, e com a graciosidade ainda infantil de Nadia. Observou como o corpo mudava nas várias idades e concluiu que as três mulheres, cada uma à sua maneira, eram igualmente belas. A ideia fê-lo corar. Jamais teria pensado, há duas semanas atrás, que poderia considerar a sua própria avó atraente. Estariam as hormonas a fritar-lhe o cérebro?
Um alarido arrepiante afastou Alex de tão importantes reflexões. O grito provinha de Joel González, um dos fotógrafos, que se debatia desesperadamente na lama da margem. Ao princípio, ninguém percebeu o que estava a acontecer, viam apenas os braços do homem agitando-se no ar e a cabeça afundando-se e voltando a emergir. Alex, que fazia parte da equipa de natação da sua escola, foi o primeiro a chegar ali com duas ou três braçadas. Ao aproximar-se, viu, totalmente horrorizado, uma cobra grossa como uma inchada mangueira de bombeiro envolvendo o corpo do fotógrafo. Alex agarrou González por um braço e tentou arrastá-lo para terra firme, mas o peso do homem e do réptil eram demasiado para ele. Com ambas as mãos tentou separar o animal, puxando com todas as forças, mas os anéis do réptil apertaram ainda mais a sua vítima. Lembrou-se da arrepiante experiência da surucucu que, há algumas noites, se tinha enrolado na perna. Isto era mil vezes pior. O fotógrafo já não se debatia nem gritava, estava inconsciente.
- Papá! Papá! Uma anaconda! - chamou Nadia, juntando-se aos gritos de Alex.
Por essa altura, Kate Cold, Timothy Bruce e os dois soldados já se tinham aproximado e entre todos lutavam com a forte cobra para a desprender do corpo do infeliz González. O alvoroço moveu a lama do fundo da lagoa, tornando a água escura e espessa como chocolate. Na confusão não se conseguia ver o que se estava a passar, cada um puxava e gritava instruções sem qualquer resultado. O esforço parecia inútil até ter aparecido César Santos com a faca com que estava esquartejando o veado. O guia não se atreveu a usá-la às cegas com receio de ferir Joel González ou qualquer um dos outros que lutavam com o réptil. Teve de esperar o momento em que a cabeça da anaconda surgiu por instantes da lama para a decapitar com um corte certeiro. A água encheu-se de sangue, tornando-se cor de ferrugem. Precisaram de mais cinco minutos para libertar o fotógrafo, porque os anéis constritores continuavam a oprimi-lo por reflexo.
Arrastaram Joel González até à margem, onde este ficou estendido como morto. O professor Leblanc ficara tão nervoso que, de um local seguro, disparava tiros para o ar, contribuindo para aumentar a confusão e o transtorno geral, até Kate Cold lhe tirar a pistola e o obrigar a calar-se. Enquanto os outros lutavam na água com a anaconda, a doutora Omayra Torres tinha subido à lancha para ir buscar a sua maleta e estava agora de joelhos ao pé do homem inconsciente, com uma seringa na mão. Agia em silêncio e com calma, como se o ataque de uma anaconda fosse um acontecimento perfeitamente normal na sua vida. Injectou adrenalina a González e, assim que teve a certeza de que este respirava, começou a examiná-lo.
- Tem várias costelas partidas e está em estado de choque - disse. - Esperemos que não tenha os pulmões perfurados por um osso ou o pescoço fracturado. É preciso imobilizá-lo.
- Como o faremos? - perguntou César Santos.
- Os índios usam casca de árvore, barro e lianas - disse Nadia, ainda a tremer pelo que acabara de presenciar.
- Muito bem, Nadia - aprovou a médica.
O guia comunicou as instruções necessárias e depressa a médica, ajudada por Kate e Nadia, tinha envolvido o ferido, das ancas ao pescoço, em trapos empapados em barro fresco; por cima tinha posto longas tiras de cortiça e depois amarrara-o. Ao secar o barro, aquele envoltório primitivo teria o mesmo efeito de um moderno colete ortopédico. Joel González, atordoado e dorido, não suspeitava ainda do que lhe acontecera, mas já tinha recuperado a consciência e conseguia articular algumas palavras.
- Temos de levar Joel imediatamente para Santa Maria de Ia Lluvia. De lá poderão transportá-lo no avião de Mauro Carías para um hospital - decidiu a médica.
- Isso é um inconveniente terrível! Temos apenas dois barcos. Não podemos mandar um de volta-refutou o professor Leblanc.
- Como? Ontem o senhor queria dispor de um barco para fugir e agora não quer enviar um com o meu amigo ferido? - perguntou Timothy Bruce fazendo um esforço para manter a calma.
- Sem a devida atenção, Joel pode morrer - explicou a médica.
- Não exagere, minha boa senhora. O estado desse homem não é grave, está apenas assustado. Com um pouco de descanso recuperará em pouco dias - disse Leblanc.
- É muita consideração da sua parte, professor - resmungou Timothy Bruce, fechando os punhos.
- Basta, senhores! Amanhã tomaremos uma decisão. Já é demasiado tarde para navegar, rapidamente escurecerá. Temos de acampar aqui - decidiu César Santos.
A doutora Omayra Torres ordenou que fizessem uma fogueira perto do ferido para o manter seco e quente durante a noite, que era sempre fria. Para o ajudar a suportar as dores, aplicou-lhe morfina e, para prevenir infecções, começou a administrar-lhe antibióticos. Misturou algumas colheres de água e um pouco de sal numa garrafa de água e pediu a Timothy Bruce para administrar o líquido ao amigo, com uma colherzinha, evitando desta forma a desidratação, uma vez que, evidentemente, não poderia comer nada sólido nos próximos dias. O fotógrafo inglês, que raras vezes mudava a sua expressão de cavalo abúlico, estava francamente preocupado e obedeceu às ordens com uma solicitude de mãe. Até o mal-humorado professor Leblanc teve de admitir para si próprio que a presença da médica era indispensável numa aventura como aquela.
Entretanto, três dos soldados e Karakawe tinham arrastado o corpo da anaconda para a margem. Ao medi-la, viram que tinha quase seis metros de comprimento. O professor Leblanc insistiu em ser fotografado com a anaconda enrolada em redor do corpo de modo que não se visse que lhe faltava a cabeça. Depois os soldados arrancaram a pele do réptil, que pregaram num tronco para secar. Desta forma poderiam aumentar o comprimento em cerca de vinte por cento e os turistas pagariam um bom preço por ela. No entanto, não precisariam de a levar até à cidade, porque o professor Leblanc se dispôs a comprá-la ali mesmo, assim que ficou com a certeza de que não lha ofereceriam. Kate Cold, trocista, cochichou ao ouvido do neto que certamente dentro de algumas semanas, o antropólogo exibiria a anaconda como um troféu nas suas conferências, contando como a tinha caçado com as suas próprias mãos. Assim ganhara fama de herói entre os estudantes de antropologia do mundo inteiro, fascinados com a ideia de que os homicidas tinham o dobro das mulheres e três vezes mais filhos que os homens pacíficos. A teoria de Leblanc sobre a vantagem do macho dominante, capaz de cometer qualquer brutalidade para transmitir os seus genes, atraía muito estes entediados estudantes condenados a viverem domesticados em plena civilização.
Os soldados procuraram na lagoa a cabeça da anaconda, mas não conseguiram encontrá-la. Tinha-se afundado na lama do fundo ou fora arrastada pela corrente. Não se atreveram a escavar demasiado, porque se dizia que estes répteis andam sempre aos pares e nenhum deles estava disposto a deparar com outro exemplar como
aquele. A doutora Omayra Torres explicou que, quer os índios quer os caboclos, atribuíam às serpentes poderes curativos e proféticos. Dissecavam-nas, moíam-nas e usavam o pó para tratar a tuberculose, a calvície e doenças dos ossos e também como ajuda para interpretar sonhos. A cabeça de uma daquele tamanho seria bastante apreciada, garantiu, era uma pena ter-se perdido.
Os homens cortaram a carne do réptil, salgaram-na e trataram de assá-la em paus. Alex, que até essa altura se recusara a provar pirarucu, urso-formigueiro, tucano, macaco ou tapir, sentiu uma curiosidade repentina em saber como seria a carne daquela enorme serpente de água. Teve em consideração, sobretudo, o quanto isso aumentaria o seu prestígio junto de Cecilia Burns e dos seus amigos da Califórnia quando soubessem que tinha jantado anaconda a meio da selva amazónica. Posou diante da pele da serpente, com um pedaço de carne na mão, exigindo que a avó deixasse um testemunho fotográfico. O animal, bastante carbonizado porque nenhum dos expedicionários era bom cozinheiro, acabou por ter a textura do atum e um vago sabor a frango. Comparado com o veado, era desenxabido, mas Alex concluiu que, de qualquer forma, era preferível às panquecas elásticas preparadas pelo pai. A lembrança súbita da sua família atingiu-o como uma bofetada. Ficou com o bocado de anaconda espetado no pauzinho, olhando para a noite.
- O que vês? - perguntou-lhe Nadia num sussurro.
- Vejo a minha mãe - respondeu o garoto e um soluço escapou-se-lhe dos lábios.
- Como está?
- Doente, muito doente - respondeu ele.
- A tua está doente do corpo, a minha está doente da alma.
- Consegues vê-la? - inquiriu Alex.
- Às vezes - respondeu ela.
- Esta é a primeira vez que consigo ver alguém desta maneira - explicou Alex. - Tive uma sensação muito estranha, como se visse a minha mãe com toda a clareza num ecrã, sem conseguir tocar-lhe ou falar-lhe.
- É tudo uma questão de prática, Jaguar. Pode aprender-se a ver com o coração. Os xamanes como Walimai também conseguem tocar e falar de longe, com o coração - disse Nadia.
Nessa noite penduraram as redes entre as árvores e César Santos distribuiu os turnos, de duas horas cada, para fazer guarda e manter a fogueira acesa. Depois da morte do homem vítima da flecha e do acidente de Joel González, restavam dez adultos e os dois jovens, porque Leblanc não contava, para cobrir as oito horas de escuridão. Ludovic Leblanc considerava-se chefe da expedição e como tal tinha de «manter-se fresco». Sem uma boa noite de sono não se sentiria lúcido para tomar decisões, argumentou. Os restantes alegraram-se, porque na verdade nenhum deles queria ficar de guarda com um homem que se punha nervoso ao ver um esquilo. O primeiro turno, que normalmente era o mais fácil, porque as pessoas ainda estavam alerta e não fazia muito frio, foi atribuído à doutora Omayra Torres, a um caboclo e a Timothy Bruce, que não se conformava com o que acontecera ao seu colega. Bruce e González tinham trabalhado juntos durante vários anos e estimavam-se como irmãos. O segundo turno calhava a outro soldado, a Alex e a Kate Cold; o terceiro a Matuwe, César Santos e a Nadia. O turno do amanhecer foi entregue a dois soldados e a Karakawe.
Foi muito dificil para todos conciliar o sono, porque aos gemidos do infeliz Joel González somava-se um cheiro estranho e persistente, que parecia impregnar o bosque. Tinham ouvido falar da fetidez que, conforme se dizia, era característica da Besta. César Santos explicou que provavelmente estavam a acampar perto de uma família de iraras, uma espécie de doninha de rosto muito doce, mas com um cheiro semelhante ao dos zorrilhos. Aquela explicação não tranquilizou ninguém.
- Estou enjoado e com náuseas - comentou Alex, pálido. - Se o cheiro não te matar, fortalecer-te-á - disse Kate, que era a única impassível perante o fedor.
- É terrível!
- Digamos que é diferente. Os sentidos são subjectivos, Alexander. O que a ti te repugna, para outro pode ser atractivo. Talvez a Besta exale este odor como um canto de amor, para chamar o seu par - disse a avó a sorrir.
- Puah! Cheira a cadáver de ratazana misturado com urina de elefante, comida podre e...
- Ou seja, cheira como as tuas meias - cortou a avó.
Persistia nos expedicionários a sensação de estarem a ser observados, da mata, por centenas de olhos. Sentiam-se expostos, iluminados como estavam pela claridade trémula da fogueira e por dois candeeiros a petróleo. A primeira parte da noite decorreu sem grandes sobressaltos, até ao turno de Alex, Kate e um dos soldados. O rapaz passou a primeira hora olhando para a noite e para o reflexo da água, guardando o sono dos outros. Pensava como tinha mudado em poucos dias. Agora conseguia passar muito tempo imóvel e em silêncio, entretido com os seus próprios pensamentos, sem necessidade dos seus jogos de vídeo, da sua bicicleta ou da televisão, como antigamente. Descobriu que podia transferir-se para esse lugar íntimo de quietude e de silêncio que tinha de atingir quando escalava montanhas. A primeira lição de montanhismo recebida do seu pai fora que, enquanto estivesse tenso, ansioso ou apressado, dispersava metade da sua força. Para vencer a montanha era preciso calma. Podia aplicar essa lição quando escalava, mas até esse momento de pouco lhe tinha servido noutros aspectos da sua vida. Apercebeu-se de que tinha muitas coisas em que pensar, mas a imagem mais recorrente era sempre a da mãe. Se ela morresse... Parava sempre aí. Tinha decidido não admitir essa possibilidade, porque era como atrair a desgraça. Em vez disso, concentrava-se em enviar-lhe energia positiva. Era a sua forma de a ajudar.
De repente, um ruído interrompeu os seus pensamentos. Ouviu com toda a clareza passos de gigante esmagando os arbustos próximos. Sentiu um espasmo no peito, como se estivesse a afogar-se. Pela primeira vez desde que perdera os óculos no acampamento de Mauro Carias, sentiu falta deles porque a sua vista era muito pior de noite. Segurando a pistola com ambas as mãos para dominar o tremor, tal como vira fazer nos filmes, esperou sem saber o que fazer. Quando se apercebeu de que a vegetação se movia muito perto, como se houvesse um contingente de inimigos entrincheirados, lançou um grito enorme e terrível, que soou como uma sirene de naufrágio e acordou toda a gente. Num instante, a avó estava ao seu lado empunhando a espingarda. Os dois encontraram-se frente a frente com a cabeçorra de um animal que inicialmente não conseguiram identificar. Era um porco selvagem, um enorme javali. Não se mexeram, paralisados pela surpresa e isso salvou-os porque o animal, tal como Alex, também não via bem na escuridão. Felizmente a brisa soprava na direcção contrária, de modo que não conseguia cheirá-los. César Santos foi o primeiro a deslizar com cautela da sua rede e a avaliar a situação, apesar da péssima visibilidade.
- Que ninguém se mexa... - ordenou quase num sussurro, para não atrair o javali.
A sua carne era muito saborosa e teria dado para festejar durante vários dias, mas não havia luz para disparar e ninguém se atreveu a empunhar um machete e arremeter contra um animal tão perigoso. O porco passeou tranquilamente entre as redes, farejou as provisões que pendiam de cordéis para as proteger de ratazanas e formigas e acabou por meter o nariz na tenda do professor Ludovic Leblanc que, com o susto, esteve prestes a sofrer um enfarte. Não houve outro remédio senão esperar que o incómodo visitante se fartasse de percorrer o acampamento e se fosse embora, passando tão perto de Alex que, se este estendesse a mão, teria podido tocar nos seus pêlos eriçados. Depois de se dissipar a tensão e conseguirem gracejar, o rapaz sentiu-se um histérico por ter gritado daquela maneira, mas César Santos garantiu-lhe que tinha feito o mais correcto. O guia repetiu as suas instruções em caso de alerta: agachar-se e gritar primeiro, e só depois disparar. Ainda não tinha acabado de falar quando soou um tiro: era Ludovic Leblanc disparando para o ar dez minutos depois de o perigo ter passado. Definitivamente, o professor era rápido no gatilho, como disse Kate Cold.
No terceiro turno, quando a noite estava mais fria e escura, a vigilância era da responsabilidade de César Santos, Nadia e um dos soldados. O guia hesitou em acordar a filha, que dormia profundamente, abraçada a Borobá, mas calculou que ela não lhe perdoaria se deixasse de o fazer. A garota afugentou o sono com dois goles de café preto bem açucarado e agasalhou-se o melhor que pôde com algumas camisolas, o seu colete e o casaco do pai. Alex só conseguira dormir duas horas e estava bastante cansado, mas quando avistou Nadia, à luz ténue da fogueira, preparando-se para o seu turno de guarda, levantou-se também, disposto a acompanhá-la.
- Eu estou segura, não te preocupes. Tenho o talismã que me protege - sussurrou ela para o tranquilizar.
- Volta para a tua rede - ordenou-lhe César Santos. - Precisamos todos de dormir, para isso se estabeleceram turnos.
Alex obedeceu de má vontade, decidido a manter-se acordado, mas passados poucos minutos o sono venceu-o. Não conseguiu calcular quanto tempo tinha dormido, mas deve ter sido mais de duas horas porque, quando acordou, sobressaltado pelo ruído à sua volta, o turno de Nadia tinha acabado há muito tempo. Mal começara a clarear, a bruma era leitosa e o frio intenso, mas já estavam todos de pé. Flutuava no ar um cheiro tão denso que podia cortar-se à faca.
- O que aconteceu? - perguntou, escorregando para fora da rede, ainda aturdido de sono.
- Que ninguém saia do acampamento por motivo nenhum! Deitem mais paus para a fogueira! - ordenou César Santos, que amarrara um lenço na cara e estava com a espingarda numa mão e uma lanterna na outra, examinando a trémula névoa cinzenta que invadia o bosque ao nascer da aurora.
Kate, Nadia e Alex apressaram-se a alimentar a fogueira com mais lenha, aumentando um pouco a claridade. Karakawe dera o alarme: um dos caboclos que vigiava com ele tinha desaparecido. César Santos disparou duas vezes para o ar, chamando-o, mas como não obteve resposta decidiu ir com Timothy Bruce e dois soldados percorrer os arredores, deixando os restantes armados de pistolas em redor da fogueira. Foram todos obrigados a seguir o exemplo do guia e a amordaçar-se com lenços para conseguirem respirar.
Passaram alguns minutos que pareceram eternos, sem que ninguém pronunciasse uma palavra. A essa hora, normalmente, os macacos começavam a acordar nas copas das árvores e os seus gritos, que soavam como latidos de cães, anunciavam o dia. No entanto, nessa madrugada reinava um silêncio arrepiante. Os animais e até os pássaros tinham fugido. De repente ouviu-se um tiro, seguido da voz de César Santos e logo depois das exclamações dos outros homens. Um minuto mais tarde chegou Timothy Bruce sem fôlego: tinham encontrado o caboclo.
O homem estava deitado de bruços entre uns fetos. A cabeça, no entanto, estava de frente, como se uma mão poderosa a tivesse rodado noventa graus na direcção das costas, partindo-lhe os ossos do pescoço. Tinha os olhos abertos e uma expressão de absoluto terror deformava-lhe o rosto. Ao voltá-lo, viram que o tronco e o ventre tinham sido despedaçados por cortes profundos. Havia centenas de insectos estranhos, de carrapatos e de pequenos escaravelhos sobre o corpo. A doutora Omayra Torres confirmou a evidência: estava morto. Timothy Bruce foi a correr buscar a máquina fotográfica para terem uma prova do que acontecera, enquanto César Santos recolhia alguns dos insectos e os colocava num saquinho de plástico para os levar ao padre Valdomero em Santa Maria de Ia Lluvia, que entendia de entomologia e coleccionava espécies da região. Nesse sítio, a fetidez era mais intensa e foi preciso recorrerem a toda a sua força de vontade para não desatarem a correr dali para fora.
César Santos deu instruções a um dos soldados para que fosse guardar Joel González, que tinha ficado sozinho no acampamento, e a Karakawe e a outro soldado para que batessem os arredores. Matuwe, o guia índio, observava o cadáver profundamente transtornado. Empalidecera como se estivesse na presença de um fantasma. Nadia abraçou-se ao pai e escondeu a cara no peito dele para não ver o sinistro espectáculo.
- A Besta! - exclamou Matuwe.
- Que Besta, homem! Isto foi feito pelos índios! - refutou o professor Leblanc, pálido da comoção, com um lenço impregnado em água-de-colónia numa mão trémula e uma pistola na outra.
Nesse instante, Leblanc retrocedeu, tropeçou e caiu sentado na lama. Blasfemou e quis levantar-se, mas cada movimento fazia-o escorregar ainda mais, afundando-o numa matéria escura, mole e com grumos. Pelo cheiro pavoroso que exalava, descobriram que não era lama, mas um charco enorme de excremento: o célebre antropólogo ficou literalmente coberto de cocó dos pés à cabeça. César Santos e Timothy Bruce estenderam-lhe um ramo para o encontrar e ajudar a sair. Depois acompanharam-no ao rio, mantendo uma distância prudente, para evitar tocá-lo. Leblanc não teve outro remédio senão ficar de molho durante um bom bocado, tiritando de humilhação, de frio, de medo e de raiva. Karakawe, seu ajudante pessoal, recusou-se terminantemente a ensaboá-lo ou a lavar-lhe a roupa e, apesar das circunstâncias trágicas, os outros tiveram de se conter para não desatarem às gargalhadas de puro nervosismo. Pela mente de todos passava o mesmo pensamento:
o ser que produziu aquelas fezes devia ser do tamanho de um elefante.
- Tenho quase a certeza de que a criatura que fez isto tem uma dieta mista: vegetais, frutas e um pouco de carne crua - disse a médica, que tinha amarrado um lenço à volta do nariz e da boca, enquanto analisava um pouco daquela matéria à lupa.
Entretanto, Kate Cold estava de gatas examinando o chão e a vegetação, imitada pelo neto.
- Olha, avó, há ramos partidos e nalguns lugares os arbustos estão esmagados, como se tivessem sido pisados por patas enormes. Encontrei também uns pêlos pretos e duros... - indicou o rapaz.
- Podem ser do javali - disse Kate.
- Também há muitos insectos, os mesmos que estavam sobre o cadáver. Nunca os tinha visto antes.
Assim que o dia clareou, César Santos e Karakawe trataram de pendurar numa árvore, o mais alto que puderam, o corpo do infeliz soldado envolto numa rede. O professor, de tal maneira nervoso que desenvolveu um tique no olho direito e um tremor nos joelhos, dispôs-se a tomar uma decisão. Disse que todos eles corriam grave risco de morte e que ele, Ludovic Leblanc, como responsável pelo grupo, devia dar as ordens. O assassinato do primeiro soldado confirmava a sua teoria de que os índios eram naturalmente assassinos, dissimulados e traiçoeiros. A morte do segundo, em tão estranhas circunstâncias, podia atribuir-se também aos índios, mas admitiu que a Besta não podia ser posta de parte. O melhor seria colocar as suas armadilhas, a ver se, com sorte, a criatura que procuravam caía lá dentro antes de voltar a matar alguém. Seguidamente deviam regressar a Santa Maria de Ia Lluvia, onde poderiam conseguir helicópteros. Os restantes concluíram que alguma coisa o homenzinho aprendera com o mergulho no charco de excremento.
- O capitão Ariosto não se atreverá a recusar ajuda a Ludovic Leblanc - disse o professor. À medida que se interravam em território desconhecido e a Besta dava sinais de vida, acentuara-se a tendência do antropólogo para se referir a si próprio na terceira pessoa. Vários membros do grupo manifestaram-se de acordo. Kate Cold, no entanto, manifestou-se decidida a seguir em frente e exigiu que Timothy Bruce ficasse com ela, uma vez que de nada serviria encontrar aquela criatura se não tivessem fotografias que o provassem. O professor sugeriu que se separassem e os que assim o desejassem regressassem à aldeia numa das lanchas. Os soldados e Matuwe, o guia índio, queriam ir embora o mais rapidamente possível. Estavam aterrorizados. A doutora Omayra Torres, pelo contrário, disse que tinha chegado até ali com a intenção de vacinar índios, que talvez não tivesse outra oportunidade de o fazer num futuro próximo e que não pensava recuar perante o primeiro inconveniente.
- És uma mulher muito corajosa, Omayra - comentou César Santos, admirado. - Eu fico. Sou o guia, não posso deixá-los aqui - acrescentou.
Alex e Nadia trocaram um olhar de cumplicidade: tinham reparado como César Santos seguia a médica com os olhos e não perdia uma oportunidade de estar perto dela. Ambos tinham pressentido, antes que ela o dissesse, que se ela ficasse ele também o faria.
- E os outros, como regressarão sem você? - quis saber Leblanc, bastante inquieto.
- Karakawe pode levá-los - disse César Santos.
- Eu fico - recusou-se este, lacónico como sempre.
- Eu também, não pretendo deixar a minha avó sozinha
disse Alex.
- Eu não preciso de ti e não quero andar com fedelhos, Alexander - grunhiu a avó, mas todos puderam ver o brilho de orgulho nos seus olhos de ave de rapina, diante da decisão do seu neto.
- Eu vou trazer reforços - disse Leblanc.
- O senhor não está encarregado desta expedição, professor? - perguntou Kate Cold friamente.
- Sou mais útil lá do que cá... - balbuciou o antropólogo.
- Faça o que quiser, mas se decidir ir embora, eu encarregar-me-ei de publicar isso na International Geographic para toda
a gente ficar a saber como é corajoso o professor Leblanc - ameaçou-o ela.
Por fim acordaram que um dos soldados e Matuwe levariam Joel González de regresso a Santa Maria de Ia Lluvia. A viagem seria mais curta, porque iam a favor da corrente. Os restantes, incluindo Ludovic Leblanc, que não se atreveu a desafiar Kate Cold, ficariam onde estavam até chegarem reforços. A meio da manhã estava tudo pronto, os expedicionários despediram-se e a lancha com o ferido empreendeu o regresso.
Passaram o resto desse dia e boa parte do seguinte instalando uma armadilha para a Besta de acordo com as instruções do professor Leblanc. Era de uma simplicidade infantil: um grande buraco no chão, coberto por uma rede dissimulada com folhas e ramos. Calculava-se que, ao pisá-la, o corpo cairia no buraco, arrastando consigo a rede. No fundo do poço havia um alarme a pilhas, que soaria imediatamente para alertar a expedição. O plano consistia em aproximar-se, antes que a criatura conseguisse libertar-se da rede e sair do buraco, e disparar-lhe várias cápsulas de um poderoso anestésico capaz de adormecer um rinoceronte.
O mais árduo foi cavar um buraco suficientemente profundo para conter uma criatura da altura da Besta. Todos se revezaram com a pá, menos Nadia e Leblanc, a primeira porque se opunha a maltratar um animal e o segundo porque estava com dores nas costas. O terreno acabou por ser bastante diferente do que o professor imaginava quando concebera a sua armadilha comodamente instalado numa secretária da sua casa, a milhares de milhas de distância.
Havia uma crosta fininha de húmus, mais abaixo um emaranhado duro de raízes, depois argila escorregadiça como sabão e, à medida que cavavam, o poço ia-se enchendo de uma água avermelhada onde nadava toda a espécie de animaizinhos. Acabaram por desistir, vencidos pelos obstáculos. Alex sugeriu que utilizassem as redes pendurando-as nas árvores mediante um sistema de cordas, colocando em baixo um isco. Quando a presa se aproximasse para se apoderar do engodo, soava o alarme e a rede caia-lhe imediatamente em cima. Todos, menos Leblanc, consideraram que, teoricamente, poderia funcionar, mas estavam demasiado cansados para experimentar e decidiram adiar o projecto até à manhã seguinte.
- Espero que a tua ideia não funcione, Jaguar - disse Nadia. - A Besta é perigosa - replicou o rapaz.
- O que farão com ela, caso a apanhem? Matam-na? Cortam-na aos bocadinhos para a estudarem? Metem-na numa jaula pelo resto dos seus dias?
- Que soluções tens tu, Nadia?
- Falar com ela e perguntar-lhe o que quer.
- Que ideia genial! Poderíamos convidá-la para um chá... - troçou ele.
- Todos os animais comunicam - garantiu Nadia.
- Isso é o que diz a minha irmã Nicole, mas ela tem nove anos. - Vejo que aos nove, sabe mais do que tu aos quinze - replicou Nadia.
Estavam num lugar muito bonito. A densa e emaranhada vegetação da margem tornava-se menos espessa para o interior, onde o bosque atingia uma grande majestade. Os troncos das árvores, altos e rectilíneos, eram pilares de uma magnífica catedral verde. Orquídeas e outras flores apareciam suspensas dos ramos e fetos brilhantes cobriam o chão. A fauna era tão variada que nunca havia silêncio. Do amanhecer até muito depois de a noite cair ouvia-se o canto dos tucanos e dos papagaios; ao anoitecer começava a
barulheira de sapos e macacos uivadores. No entanto, aquele jardim do Éden escondia muitos perigos: as distâncias eram enormes, a solidão absoluta e sem conhecer o terreno era impossível alguém orientar-se. Segundo Leblanc - e com isso César Santos estava de acordo - a única maneira de se deslocarem nessa região era com a ajuda dos índios. Tinham de atraí-los. A doutora Omayra Torres era a mais interessada em fazê-lo, porque devia cumprir a sua missão de os vacinar e de estabelecer um sistema de controlo de saúde, conforme explicou.
- Não acredito que os índios estendam voluntariamente os braços para os picares, Omayra. Nunca viram uma agulha nas suas vidas - disse César Santos, a sorrir. Entre ambos havia uma corrente de simpatia e nessa altura já se tratavam com familiaridade.
- Dir-lhes-emos que é uma magia muito poderosa dos brancos - disse ela, piscando-lhe um olho.
- O que é totalmente verídico - aprovou César Santos.
Segundo o guia, havia várias tribos nos arredores que certamente tinham tido algum contacto, embora breve, com o mundo exterior. Da sua avioneta avistara alguns shabonos, mas como não havia onde aterrar por aqueles lados, ele limitara-se a marcá-los no seu mapa. As palhotas comunitárias que tinha visto eram bastante mais pequenas, o que significava que cada tribo se compunha de muito poucas famílias. Conforme garantia o professor Leblanc, que se afirmava especialista na matéria, o número mínimo de habitantes por shabono era de cerca de cinquenta pessoas - menos não poderiam defender-se de ataques inimigos - e raras vezes ultrapassava as duzentas e cinquenta. César Santos suspeitava também da existência de tribos isoladas, que nunca tinham sido vistas, como esperava a doutora Torres e a única forma de chegar até elas seria pelo ar. Deveriam subir à selva da região planáltica, a essa zona encantada das cataratas, onde os forasteiros nunca puderam chegar antes da invenção dos aviões e dos helicópteros.
Com o objectivo de atrair os índios, o guia amarrou uma corda entre duas árvores e pendurou nela algumas ofertas: colares de contas, roupas coloridas, espelhos e bugigangas de plástico. Reservou os machetes, facas e utensílios de aço para mais tarde, quando começassem as verdadeiras negociações e a troca de presentes.
Nessa tarde, César Santos tentou comunicar por rádio com o capitão Ariosto e com Mauro Carías em Santa María de Ia Lluvia, mas o aparelho não funcionava. O professor Leblanc passeava-se pelo acampamento, furioso perante essa nova contrariedade, enquanto os restantes se revezavam tentando em vão enviar ou receber uma mensagem. Nadia levou Alex à parte para contar-lhe que, na noite anterior, antes de o soldado ser assassinado durante o turno de Karakawe, ela vira o índio mexendo no rádio. Disse que tinha ido deitar-se quando terminou o seu turno de vigilância, mas que não conseguira adormecer de imediato e, da sua rede, pôde ver Karakawe perto do aparelho.
- Viste-o bem, Nadia?
- Não porque estava escuro, mas as únicas pessoas que estavam de pé nesse turno eram os dois soldados e ele.
- Tenho quase a certeza de que não era nenhum dos soldados - replicou ela. - Acho que Karakawe é a pessoa a que se referia Mauro Carias. Talvez parte do plano seja não podermos pedir socorro em caso de necessidade.
- Temos de avisar o teu pai - decidiu Alex.
César Santos não recebeu a notícia com muito interesse, limitando-se a avisar que, antes de acusarem alguém, tinham de estar bem certos. Havia muitas razões para que um equipamento de rádio tão antiquado como aquele pudesse falhar. Além disso, que razões teria Karakawe para o estragar? A ele também não lhe convinha estar incomunicável. Tranquilizou-os dizendo que, dentro de três ou quatro dias, chegariam reforços.
- Não estamos perdidos, estamos apenas isolados concluiu.
- E a Besta, papá? - perguntou Nadia, inquieta.
- Não sabemos se existe, filha. Quanto aos índios, pelo contrário, podemos ter a certeza. Mais cedo ou mais tarde aproximar-se-ão e esperemos que o façam com um espírito pacífico. Em todo o caso, estamos bem armados.
- O soldado que morreu tinha uma espingarda, mas não lhe serviu de nada - refutou Alex.
- Distraiu-se. De agora em diante teremos de ser muito mais cuidadosos. Infelizmente somos só seis adultos para montar guarda.
- Eu conto como um adulto - garantiu Alex.
- Está bem, mas Nadia não. Ela poderá apenas acompanhar-me no meu turno - decidiu César Santos.
Nesse dia, Nadia descobriu perto do acampamento um urucueiro, arrancou vários dos seus frutos, que pareciam amêndoas peludas, abriu-os e extraiu umas pequenas sementes vermelhas do interior. Ao apertá-las entre os dedos, misturadas com um pouco de saliva, formou uma pasta vermelha com a consistência do sabonete, a mesma que os índios utilizavam, juntamente com outras tinturas vegetais, para decorarem o corpo. Nadia e Alex pintaram traços, círculos e pontos na cara, depois amarraram penas e sementes aos braços. Ao vê-los, Timothy Bruce e Kate Cold insistiram em fotografá-los e Omayra Torres em pentear o cabelo frisado da garota e decorá-lo com minúsculas orquídeas. César Santos, no entanto, não os aplaudiu: a visão da filha decorada como uma donzela indígena pareceu enchê-lo de tristeza.
Quando a claridade diminuiu, calcularam que nalgum sítio o Sol se preparava para descer no horizonte, dando lugar à noite. Sob a cúpula das árvores raras vezes aparecia, o seu brilho era difuso, filtrado pela renda verde da Natureza. Só às vezes, onde alguma árvore caíra, se via claramente o olho azul do céu. A essa hora as sombras da vegetação começavam a envolvê-los como um cerco e, em menos de uma hora, o bosque ficaria negro e pesado. Nadia pediu a Alex que tocasse um pouco de flauta para os distrair e durante algum tempo a música, delicada e cristalina, invadiu a selva. Borobá, o macaquinho, seguia a melodia, abanando a cabeça ao compasso das notas. César Santos e a doutora Omayra Torres, de cócoras junto da fogueira, assavam alguns peixes para o jantar. Kate Cold, Timothy Bruce e um dos soldados dedicavam-se a prender as tendas e a proteger as provisões dos macacos e das formigas. Karakawe e o outro soldado, armados e alerta, vigiavam. O professor Leblanc ditava as ideias que lhe passavam pela cabeça para um gravador portátil, sempre à mão, prevendo a ocorrência de qualquer pensamento transcendente que a humanidade não podia perder. Isso acontecia com uma frequência tal, que os jovens, fartos, esperavam pela oportunidade de poder roubar-lhe as pilhas. Cerca de quinze minutos após o início do concerto de flauta, a atenção de Borobá mudou subitamente de alvo. O macaco começou aos saltos, puxando pela roupa da sua dona, inquieto. Inicialmente, Nadia quis ignorá-lo mas o animal não a deixou em paz até ela se levantar. Depois de espreitar na direcção da mata, ela chamou Alex com um gesto, levando-o para longe do círculo de luz da fogueira, sem chamar a atenção dos outros.
- Chhht! - disse, levando um dedo aos lábios.
Ainda havia alguma claridade diurna, mas já quase não se distinguiam as cores, o mundo aparecia em tons de cinzento e preto. Alex sentira-se constantemente observado desde que saíra de Santa Maria de Ia Lluvia, mas precisamente nessa tarde a impressão de ser espiado tinha desaparecido. Invadia-o uma sensação de calma e de segurança que não sentia há muitos dias. Também se esfumara o cheiro penetrante que acompanhou o assassinato do soldado na noite anterior. Os dois jovens e Borobá interraram-se alguns metros na vegetação e aguardaram ali, com mais curiosidade que inquietação. Sem o terem dito, calculavam que, se houvesse índios nos arredores com intenção de os magoar, já o teriam feito, porque os membros da expedição, bem iluminados pela fogueira do acampamento, estavam expostos às suas flechas e dardos envenenados.
Esperaram imóveis, sentindo-se afundar numa névoa de algodão, como se, ao cair da noite, se perdessem as dimensões habituais da realidade. Então, pouco a pouco, Alex começou a ver, um por um, os seres que os rodeavam. Estavam nus, com riscas e manchas pintadas, com penas e tiras de couro amarradas aos braços, silenciosos, leves, imóveis. Apesar de estar perto deles, era dificil vê-los. Camuflavam-se tão perfeitamente com a Natureza que pareciam invisíveis, como ténues fantasmas. Quando conseguiu distingui-los, Alex calculou que havia pelo menos uns vinte, todos homens, com as suas armas primitivas na mão.
- Aia - sussurrou Nadia baixinho.
Ninguém respondeu, mas um movimento quase imperceptível entre a folhagem indicou que os índios se aproximavam. Na penumbra e sem óculos, Alex não tinha a certeza do que via, mas o seu coração disparou numa correria louca e sentiu o sangue latejar desenfreado nas fontes. Envolveu-o a mesma sensação alucinante de estar a viver um sonho como o que teve na presença do jaguar negro no acampamento de Mauro Carias. Havia uma tensão similar, como se os acontecimentos decorressem numa esfera de vidro que, a qualquer instante, poderia quebrar-se em estilhaços. O perigo estava no ar, tal como estivera com o jaguar, mas o rapaz não teve medo. Não se achou ameaçado por aqueles seres transparentes que flutuavam entre as árvores. A ideia de puxar do seu canivete ou de chamar pedindo socorro nem lhe ocorreu. Em vez disso, passou-lhe pela cabeça, como um relâmpago, uma cena que vira há alguns anos num filme: o encontro de um menino com um extraterrestre. A situação que vivia nesse momento era semelhante. Pensou, maravilhado, que não trocaria essa experiência por nada do mundo.
- Aía - repetiu Nadia.
- Aia - murmurou ele também.
Não houve resposta.
Os jovens esperaram, sem soltarem as mãos, imóveis como estátuas, com Borobá também imóvel, expectante, como se soubesse que participava num momento único. Passaram minutos intermináveis e a noite deixou-se cair com grande rapidez, cobrindo-os por completo. Finalmente aperceberam-se de que estavam sozinhos: os índios tinham-se esfumado com a mesma ligeireza com que tinham surgido do nada.
- Quem eram? - perguntou Alex quando voltaram ao acampamento.
- Deve ser o povo da neblina, os invisíveis, os habitantes mais remotos e misteriosos do Amazonas. Sabe-se que existem, mas de facto nunca ninguém falou com eles.
- O que querem de nós? - perguntou Alex.
- Ver como somos, talvez... - sugeriu ela.
- Eu também quero o mesmo - disse ele.
- Não contemos a ninguém que os vimos, Jaguar...
- É estranho não nos terem atacado e também não se terem
aproximado atraídos pelos presentes que o teu pai pendurou comentou o rapaz.
- Achas que foram eles que mataram o soldado da lancha? - perguntou Nadia.
- Não sei, mas se são os mesmos, por que não nos atacaram hoje?
Nessa noite Alex fez o seu turno de guarda sem receio, juntamente com a avó, porque não sentiu o odor da Besta e os índios não o preocupavam. Depois do estranho encontro com eles, estava convencido de que algumas pistolas serviriam de muito pouco, caso eles quisessem atacá-los. Como apontar para aqueles seres quase invisíveis? Os índios dissolviam-se como sombras na noite, eram fantasmas mudos que podiam cair-lhes em cima e assassiná-los numa questão de instantes sem que eles chegassem sequer a aperceber-se. No fundo, apesar de tudo, ele tinha a certeza de que as intenções do povo da neblina não eram essas.
O dia seguinte decorreu de uma forma lenta e aborrecida, com tanta chuva que não conseguiam que a roupa secasse antes da molha seguinte. Nessa mesma noite desapareceram, durante o seu turno, os dois soldados e depressa viram que a lancha também já lá não estava. Os homens, que desde a morte dos seus companheiros estavam aterrorizados, fugiram pelo rio. Estiveram prestes a amotinar-se quando não lhes permitiram regressar a Santa Maria de Ia Lluvia com a primeira lancha. Ninguém lhes pagava para arriscarem a vida, disseram. César Santos respondeu-lhes que justamente para isso lhes pagavam, por acaso não eram soldados? A decisão de fugir poderia custar-lhes muito caro, mas preferiram enfrentar um tribunal marcial a morrer nas mãos dos índios ou da Besta. Para os restantes expedicionários, aquela lancha representava a única possibilidade de regressarem à civilização. Sem ela e sem rádio, estavam definitivamente isolados.
- Os índios sabem que estamos aqui. Não podemos ficar! - exclamou o professor Leblanc.
-Aonde pretende ir, professor? Se sairmos daqui, quando os helicópteros chegarem não nos encontrarão. Do ar só se vê uma mancha verde, nunca mais dariam connosco - explicou César Santos.
- Não podemos seguir o leito do rio e tentar regressar a Santa Maria de Ia Lluvia pelos nossos próprios meios? - sugeriu Kate Cold.
- É impossível fazê-lo a pé. Há demasiados obstáculos e desvios - replicou o guia.
- Isto é culpa sua, Cold! Deveríamos ter regressado todos a Santa Maria de Ia Liuvia, tal como eu propus - argumentou o professor.
- Muito bem, a culpa é minha. O que vai fazer a esse respeito? - perguntou a escritora.
- Denunciá-la-ei! Arruinarei a sua carreira!
-Talvez seja eu a arruinar a sua, professor - replicou ela sem se alterar.
César Santos interrompeu-os dizendo que em vez de discutirem, deviam unir forças e avaliar a situação: os índios desconfiavam e não tinham demonstrado interesse pelas ofertas, limitavam-se a observá-los, mas não os tinham atacado.
- Parece-lhe pouco o que fizeram àquele pobre soldado? - perguntou Leblanc, sarcástico.
- Não creio que tenham sido os índios, não é essa a sua maneira de lutar. Se tivermos sorte, esta pode ser uma tribo pacífica - replicou o guia.
- Mas, se não tivermos sorte, comer-nos-ão - grunhiu o antropólogo.
- Seria perfeito, professor. Assim o senhor poderia provar a sua teoria sobre a ferocidade dos índios - disse Kate.
- Bom, basta de tontices. É preciso tomar uma decisão. Ficamos ou partimos... - cortou o fotógrafo Timothy Bruce.
- Passaram-se quase três dias desde a partida da primeira lancha. Como ia a favor da corrente e Matuwe conhece o caminho, já devem estar em Santa Maria de Ia Lluvia. Amanhã ou, o mais tardar, dentro de dois dias, chegarão os helicópteros do capitão Ariosto. Voarão de dia, de modo que manteremos uma fogueira sempre acesa, para que vejam o fumo. A situação é dificil, como disse, mas não é grave, há muita gente que sabe onde estamos, virão buscar-nos - garantiu César Santos.
Nadia estava tranquila, abraçada ao seu macaquinho, como se não compreendesse a magnitude do que estava a acontecer-lhes. Alex, por outro lado, concluiu que nunca estivera em tanto perigo, nem sequer quando ficou dependurado em El Capitán, uma rocha escarpada que só os mais experientes se atreviam a escalar. Se não estivesse amarrado por uma corda à cintura do pai, teria morrido.
César Santos tinha avisado os expedicionários contra diversos insectos e animais da selva, desde tarântulas até serpentes, mas esqueceu-se de mencionar as formigas. Alex tinha renunciado a usar as suas botas, não apenas por estarem sempre húmidas e cheirando mal, mas porque lhe apertavam os pés. Calculava que tinham encolhido com a chuva. Apesar de, nos primeiros dias, não tirar as sandálias que lhe deu César Santos, os pés encheram-se-lhe de crostas e calos.
- Este não é lugar para pés delicados - foi o único comentário da avó quando lhe mostrou as feridas sangrentas dos pés.
A sua indiferença tornou-se inquietação quando o neto foi picado por uma formiga de fogo. O rapaz não conseguiu evitar um grito: sentiu que lhe queimavam o tornozelo com um cigarro. A formiga deixou-lhe uma pequena marca branca que, poucos minutos depois, se tornou vermelha e inchada como uma cereja. A dor subiu em labaredas pela perna e não conseguiu dar mais um passo. A doutora Omayra Torres avisou-o de que o efeito do veneno duraria algumas horas e era preciso suportá-lo tendo por único alívio compressas de água quente.
- Espero que não sejas alérgico, porque nesse caso as consequências serão mais graves - observou a médica.
Alex não era alérgico mas de qualquer forma a picada arruinou-lhe uma boa parte do dia. À tarde, mal conseguiu apoiar o pé e dar alguns passos, Nadia contou-lhe que, enquanto os outros estavam pendentes dos seus afazeres, ela tinha visto Karakawe rondando as caixas das vacinas. Quando o índio se apercebeu de que ela o tinha descoberto, agarrou-a por um braço com uma brutalidade tal que lhe deixou os dedos marcados na pele e avisou-a de que não dissesse uma palavra a esse respeito ou pagaria caro. Tinha a certeza de que aquele homem cumpriria as suas ameaças, mas Alex achou que não podiam calar-se, tinham de avisar a médica. Nadia, que estava tão encantada com a médica como o pai e começava a acalentar o sonho de a ver convertida em sua madrasta, queria contar-lhe também o diálogo entre Mauro Carías e o capitão Ariosto, que tinham ouvido em Santa Maria de Ia Lluvia. Continuava convencida de que Karakawe era a pessoa designada para cumprir os planos sinistros de Carias.
- Não diremos ainda nada disso - exigiu-lhe Alex.
Esperaram pelo momento adequado, quando Karakawe se afastou para ir ao rio pescar e colocaram a situação a Omayra Torres. Ela ouviu-os com muita atenção, revelando, pela primeira vez desde que a conheciam, uma grande inquietação. Mesmo nos momentos mais dramáticos daquela aventura, aquela mulher encantadora não perdera a calma. Tinha os nervos de aço de um samurai. Desta vez também não se alterou, mas quis ficar a par dos pormenores. Ao saber que Karakawe tinha aberto as caixas, mas não tinha violado os selos dos frascos, respirou aliviada.
- Estas vacinas são a única esperança de vida para os índios. Temos de cuidar delas como de um tesouro - disse.
-Alex e eu temos estado a vigiar Karakawe, achamos que ele estragou o rádio, mas o meu pai diz que não podemos acusá-lo sem provas - disse Nadia.
- Não preocupemos o teu pai com estas suspeitas, Nadia, ele já tem problemas que lhe cheguem. Entre nós, podemos neutralizar Karakawe. Não lhe tirem os olhos de cima, malta - pediu-lhes Omayra Torres e eles prometeram-lhe.
O dia decorreu sem novidades. César Santos continuou empenhado em fazer funcionar o radiotransmissor, mas sem resultados. Timothy Bruce tinha um rádio que lhes servira para ouvir notícias de Manaus durante a primeira parte da viagem, mas a onda não chegava tão longe. Aborreciam-se, porque assim que conseguiam uma ave e dois peixes para o dia, não havia mais nada que fazer. Era inútil caçar ou pescar mais porque a carne enchia-se de formigas ou decompunha-se numa questão de horas. Finalmente Alex conseguiu compreender a mentalidade dos índios, que nada acumulavam. Fizeram turnos para manter a fogueira acesa, como sinal, no caso de estarem à procura deles, embora César Santos achasse que era ainda muito cedo para isso. Timothy Bruce foi buscar um velho baralho de cartas e jogaram pôquer, blackjack e gin rummy até a luz começar a desaparecer. Não tornaram a sentir o cheiro penetrante da Besta.
Nadia, Kate Cold e a médica foram até ao rio lavar-se e fazer as suas necessidades. Tinham combinado que ninguém devia aventurar-se sozinho fora do acampamento. Para as actividades mais íntimas, as três mulheres iam juntas, para o restante, faziam turnos de pares. César Santos arranjava-se de maneira a ficar sempre com Omayra Torres, o que aborrecia bastante Timothy Bruce, porque o inglês também se sentia cativado pela médica. Apesar de Kate Cold lhe ter dito que guardasse o filme para a Besta e para os índios, ele fotografara-a tanto durante a viagem que ela recusara continuar a posar. A escritora e Karakawe eram os únicos que não pareciam impressionados pela jovem mulher. Kate resmungou que já estava muito velha para reparar numa cara bonita, comentário que a Alex soou como uma demonstração de ciúmes, indigna de alguém tão esperto como a sua avó. O professor Leblanc, que não podia competir em superioridade com César Santos ou em juventude com Timothy Bruce, tentava impressionar a mulher com o peso da sua celebridade e não perdia uma ocasião de ler-lhe em voz alta parágrafos do seu livro, onde descrevia em pormenor os perigos arrepiantes que enfrentara entre os índios. Ela tinha dificuldade em imaginar o timorato Leblanc vestido apenas com uma tanga, combatendo ombro a ombro com índios e feras, caçando com flechas e sobrevivendo sem ajuda, no meio de toda a espécie de catástrofes naturais, segundo dizia. De qualquer forma, a rivalidade entre os homens do grupo pelas atenções de Omayra Torres tinha criado uma certa tensão, que aumentava à medida que passavam as horas na espera angustiante dos helicópteros.
Alex olhou para o tornozelo. Ainda lhe doía e estava um pouco inchado, mas a dura cereja avermelhada onde a formiga o picara tinha diminuído. As compressas de água quente tinham dado bons resultados. Para se distrair, agarrou na flauta e começou a tocar o concerto preferido da sua mãe, uma música doce e romântica de um compositor europeu morto há mais de um século, mas que parecia de acordo com a selva circundante. O avô, Joseph Cold, tinha razão: a música é uma linguagem universal. Às primeiras notas, Borobá apareceu aos saltos e sentou-se aos seus pés com a seriedade de um crítico e passado alguns instantes chegou Nadia com a médica e Kate Cold. A rapariga esperou que os outros estivessem ocupados preparando o acampamento para a noite e fez sinais a Alex para que este a seguisse dissimuladamente.
- Estão aqui outra vez, Jaguar - murmurou ao ouvido dele.
- Os índios...?
- Sim, o povo da neblina. Acho que vieram por causa da música. Não faças barulho e segue-me.
Interraram-se alguns metros na mata e, tal como tinham feito anteriormente, esperaram imóveis. Por muito que Alex aguçasse a vista, não distinguia ninguém entre as árvores: os índios dissolviam-se no ambiente que os rodeava. De repente sentiu mãos que o agarravam com firmeza pelos braços e, ao voltar-se, viu que ele e Nadia estavam cercados. Os índios não se mantiveram a alguma distância, como na vez anterior. Agora, Alex podia sentir o cheiro adocicado dos seus corpos. Reparou de novo que eram de baixa estatura e magros, mas pôde comprovar também que eram muito
fortes e que havia alguma ferocidade na sua atitude. Teria razão Leblanc quando garantia que eram violentos e cruéis?
- Ala - experimentou saudar.
Uma mão tapou-lhe a boca e, antes de dar conta do que estava a acontecer, sentiu-se levantado no ar pelos tornozelos e pelas axilas. Começou a contorcer-se e a espernear, mas as mãos não o soltaram. Sentiu que lhe batiam na cabeça, não soube se com os punhos se com uma pedra, mas percebeu que valia mais deixar-se levar ou acabariam por aturdi-lo ou matá-lo. Pensou em Nadia e se ela estaria também a ser arrastada à força. Pareceu-lhe ouvir ao longe a voz da avó a chamá-lo, enquanto os índios o levavam, interrando-se na escuridão como espíritos da noite.
Alexander Cold sentia pontadas ardentes no tornozelo onde a formiga de fogo o picara, preso agora pela mão de um dos quatro índios que o levavam pelo ar. Os seus captores iam a correr e, a cada passo, o corpo do rapaz balançava brutalmente. A dor nos ombros era como se estivessem a desconjuntá-lo. Tinham-lhe tirado a camisola de manga curta amarrando-a à cabeça, cegando-o e afogando-lhe a voz. Mal conseguia respirar e o crânio latejava-lhe no sítio onde lhe tinham batido, mas reconfortou-o não ter perdido o conhecimento. Isso significava que os guerreiros não lhe tinham batido com força e não pretendiam matá-lo. Pelo menos de momento... Pareceu-lhe que tinham andado durante muito tempo até finalmente pararem e o deixarem cair como um saco de batatas. O alívio nos seus músculos e ossos foi quase imediato, embora o tornozelo lhe ardesse terrivelmente. Não se atreveu a tirar a camisola que lhe cobria a cabeça para não provocar os seus agressores, mas como passado algum tempo de espera não acontecia nada, optou por arrancá-la. Ninguém o deteve. Quando os seus olhos se habituaram à suave claridade da lua, deu por si a meio do bosque, jogado sobre o colchão de húmus que cobria o chão. À sua volta, num círculo estreito, sentiu a presença dos índios, embora não conseguisse vê-los com tão pouca luz e sem óculos. Lembrou-se do seu canivete suíço e levou dissimuladamente a mão à cintura à sua procura, mas não conseguiu terminar o gesto porque uma mão firme lhe agarrou o pulso. Ouviu então a voz de Nadia e sentiu as mãozinhas fininhas de Borobá no seu cabelo. Lançou uma exclamação, porque o macaco pôs os dedos num galo provocado pela pancada.
- Quieto, Jaguar, que podem magoar-nos - disse a rapariga. - O que aconteceu?
- Assustaram-se, acharam que ias gritar por isso tiveram de trazer-te à força. Querem apenas que os acompanhemos.
- Aonde? Porquê? - balbuciou o rapaz tentando sentar-se. Sentia a cabeça ressoando como um tambor.
Nadia ajudou-o a sentar-se e deu-lhe a beber água de uma cabaça. Os seus olhos já se tinham habituado e viu que os índios o observavam de perto e faziam comentários em voz alta, sem qualquer receio de serem ouvidos ou descobertos. Alex calculou que o resto da expedição estaria à procura deles, embora ninguém se atrevesse a aventurar-se demasiado longe em plena noite. Pensou que, por uma vez, a sua avó estaria preocupada. Como explicaria ao seu filho John que tinha perdido o neto na selva? Pelos vistos, os índios tinham tratado Nadia com mais suavidade, porque a rapariga se deslocava entre eles com confiança. Ao sentar-se, sentiu que uma coisa quente lhe escorria pelo lado direito da cabeça e lhe pingava o ombro. Passou o dedo e levou-o aos lábios.
- Partiram-me a cabeça - murmurou, assustado.
- Finge que não te dói, Jaguar, como fazem os verdadeiros guerreiros - avisou-o Nadia.
O rapaz concluiu que tinha de fazer uma demonstração de coragem: pôs-se de pé tentando que não se notasse o tremor dos joelhos, ergueu-se o mais direito que pôde e bateu no peito como tinha visto nos filmes de Tarzan, ao mesmo tempo que dava um rugido interminável de King Kong. Os índios retrocederam alguns passos e esgrimiram as suas armas, atónitos. Ele repetiu as pancadas no peito e os grunhidos, certo de ter causado alarme nas fileiras inimigas, mas em vez de se porem a correr assustados, os guerreiros começaram a rir-se. Nadia sorria também e Borobá dava saltos e mostrava os dentes, perdido de riso. As risotas aumentaram de volume, alguns índios caíram sentados, outros atiraram-se de costas no chão levantando as pernas de puro gozo, outros imitavam o rapaz, uivando como o Tarzan. As gargalhadas duraram algum tempo, até que Alex, sentindo-se totalmente ridículo, se deixou contagiar também pelo riso. Por fim acalmaram e, limpando as lágrimas, trocaram palmadas amistosas.
Um dos índios, que na penumbra parecia mais pequeno, mais velho e se distinguia dos outros por uma coroa redonda de penas, único adorno no seu corpo nu, iniciou um longo discurso. Nadia captou o sentido, porque conhecia várias línguas dos índios e, embora o povo da neblina tivesse o seu próprio idioma, muitas palavras eram semelhantes. Tinha a certeza de que conseguiria comunicar com eles. Da diatribe do homem com a coroa de penas entendeu que se referia a Rahakanariwa, o espírito do pássaro canibal mencionado por Walimai, aos nahab, como chamavam aos forasteiros e a um poderoso xamã. Embora não o tenha nomeado, porque teria sido muito pouco cortês da sua parte fazê-lo, ela deduziu que se tratava de Walimai. Valendo-se das palavras que conhecia e de gestos, a rapariga apontou para o osso talhado que levava ao pescoço, oferta do feiticeiro. O homem que agia como chefe examinou o talismã durante longos minutos, dando mostras de admiração e respeito, continuando depois o seu discurso, mas desta vez dirigido aos guerreiros, que se aproximaram um por um para tocarem no amuleto.
Depois os índios sentaram-se em círculo e continuaram as conversas, enquanto distribuíam pedaços de uma massa cozida, como pão sem levedura. Alex apercebeu-se de que não comia há muitas horas e de que estava bastante esfomeado. Recebeu a sua porção de jantar sem reparar na sujidade e sem perguntar de que era feita. Os seus melindres a respeito da comida tinham passado à história. A seguir os guerreiros puseram a circular uma bexiga de animal com um sumo viscoso de cheiro acre e sabor a vinagre, enquanto salmodiavam um canto para desafiar os fantasmas que causam pesadelos à noite. Não ofereceram a beberagem a Nadia, mas tiveram a amabilidade de partilhá-la com Alex, a quem o cheiro não tentava e menos ainda a ideia de partilhar o mesmo recipiente com os outros. Lembrava-se da história contada por César Santos de uma tribo inteira contagiada pelo trago do cigarro de um jornalista. A última coisa que queria era transmitir os seus germes àqueles índios, cujo sistema imunitário não lhes resistiria, mas Nadia avisou-o que não aceitar seria considerado um insulto. Informou-o de que era masato, uma bebida fermentada feita com mandioca mastigada e saliva, que só os homens bebiam. Alex julgou que ia vomitar com a explicação, mas não se atreveu a recusá-la.
Com a pancada na cabeça e o masato, o rapaz passou sem dificuldade para o planeta das areias de ouro e das seis luas no céu fosforescente, que tinha visto no acampamento de Mauro Carias. Estava tão confuso e intoxicado que não teria conseguido dar um passo, mas felizmente não teve de o fazer, porque os guerreiros também sentiam a influência da bebida e depressa jaziam roncando pelo chão. Alex calculou que não continuariam a marcha até haver alguma luz e consolou-se com a vaga esperança de que a avó o encontrasse ao amanhecer. Enroscado no chão, sem se lembrar dos fantasmas dos pesadelos, das formigas de fogo, das tarântulas ou das serpentes, entregou-se ao sono. Também não se alarmou quando o tremendo cheiro da Besta invadiu o ar.
Os únicos que estavam sóbrios e acordados quando a Besta apareceu eram Nadia e Borobá. O macaco imobilizou-se por completo, como que convertido em pedra e ela conseguiu vislumbrar uma figura gigantesca à luz da lua antes que o cheiro a fizesse perder os sentidos. Mais tarde contaria ao seu amigo o mesmo que dissera o padre Valdomero: era uma criatura com forma humana, erecta, de uns três metros de altura, com braços poderosos terminados em garras curvas como cimitarras e uma cabeça pequena, desproporcionada para o tamanho do corpo. A Nadia pareceu-lhe que se deslocava com extrema lentidão, mas querendo-o, a Besta teria podido estripá-los a todos. A fetidez que emanava - ou talvez o terror absoluto que provocava nas suas vítimas - paralisava como uma droga. Antes de desmaiar ela quis gritar ou fugir, mas não conseguiu mover nem um músculo. Num clarão de consciência viu o corpo do soldado aberto de cima a baixo como uma rês e pôde imaginar o horror do homem, a sua impotência e a sua morte pavorosa.
Alex acordou confuso, tentando lembrar-se do que tinha acontecido, com o corpo trémulo pela estranha bebida da noite anterior e pela fetidez, que ainda flutuava no ar. Viu Nadia com Borobá agasalhado no seu regaço, sentada com as pernas cruzadas e o olhar perdido no nada. O rapaz gatinhou até ela contendo com muita dificuldade os sobressaltos das suas tripas.
- Eu vi-a, Jaguar - disse Nadia com uma voz longínqua, como se estivesse em transe.
- Viste o quê?
- A Besta. Esteve aqui. É enorme, um gigante...
Alex foi atrás de um feto esvaziar o estômago, sentindo-se depois mais aliviado, apesar do fedor do ar lhe devolver as náuseas. Ao regressar, os guerreiros estavam prontos para empreender a marcha. À luz do amanhecer pôde vê-los bem pela primeira vez. O seu aspecto temível correspondia exactamente às descrições de Leblanc: estavam nus, com o corpo pintado de vermelho, preto e verde, com braceletes de penas e o cabelo cortado redondo, com a parte superior do crânio rapada, como uma tonsura de padre. Levavam arcos e flechas amarrados às costas e uma pequena cabaça coberta com um bocado de pele que, conforme disse Nadia, continha o mortal curare para flechas e dardos. Vários deles levavam grossos paus e todos ostentavam cicatrizes na cabeça, que equivaliam a orgulhosas condecorações de guerra: a coragem e a força mediam-se pelas marcas das bordoadas suportadas.
Alex teve de sacudir Nadia para a espevitar, porque o terror de ter visto a Besta na noite anterior a tinha deixado apalermada. A rapariga conseguiu explicar o que tinha visto e os guerreiros ouviram-na com atenção, mas não deram mostras de surpresa, tal como não fizeram comentários sobre o cheiro.
O grupo pôs-se em marcha de imediato, trotando em fila atrás do chefe, a quem Nadia decidiu chamar Mokarita, uma vez que não podia perguntar-lhe o seu nome verdadeiro. A avaliar pelo estado da sua pele, dos seus dentes e dos seus pés disformes, Mokarita era muito mais velho do que Alex supôs quando o viu na penumbra, mas tinha a mesma agilidade e resistência dos outros guerreiros. Um dos homens jovens distinguia-se entre os restantes, era mais alto e corpulento e, contrariamente aos outros, estava completamente pintado de preto, exceptuando uma espécie de viseira vermelha em redor dos olhos e da testa. Caminhava sempre ao lado do chefe, como se fosse o seu lugar-tenente, e referia-se a si próprio como Tahama; Nadia e Alexander souberam depois que esse era o seu título honorífico por ser o melhor caçador da tribo.
Embora a paisagem parecesse imutável e não houvesse pontos de referência, os índios sabiam exactamente para onde se dirigiam. Não se voltaram para trás uma única vez a ver se os jovens estrangeiros os seguiam: sabiam que não tinham outro remédio senão fazê-lo, porque de outra forma se perderiam. Às vezes, Nadia e Alex pareciam estar sozinhos, porque o povo da neblina desaparecia na vegetação, mas essa impressão não durava muito. Assim como se esfumavam, os índios reapareciam em qualquer momento, como se estivessem a exercitar-se na arte de se tornarem invisíveis. Alex chegou à conclusão de que esse talento para
desaparecer não podia ser atribuído apenas às pinturas com que se camuflavam, era sobretudo uma atitude mental. Como o fariam? Imaginou como devia ser útil nesta vida o truque da invisibilidade e propôs-se aprendê-lo. Nos dias seguintes compreendeu que não se tratava de ilusionismo mas de um talento que se alcançava com muita prática e concentração, como tocar flauta.
O andamento rápido não se alterou durante várias horas. Só se detinham de vez em quando nos regatos para beber água. Alex tinha fome, mas estava agradecido por, pelo menos, o tornozelo onde a formiga o picara já não lhe doer. César Santos contara-lhe que os índios comem quando podem - nem sempre todos os dias - e que o organismo deles estava habituado a armazenar energia. Ele, pelo contrário, tivera sempre o frigorifico de casa cheio de alimentos, pelo menos enquanto a mãe esteve saudável e, se alguma vez tinha de saltar uma refeição, ficava cansado. Não pôde deixar de sorrir perante a mudança completa dos seus hábitos. Entre outras coisas, não lavava os dentes ou mudava de roupa há alguns dias. Decidiu ignorar o vazio no estômago, matar a fome com indiferença. Numa ou duas ocasiões deu uma olhadela à sua bússola e descobriu que marchavam para nordeste. Viria alguém resgatá-los? Como poderia deixar-lhes sinais pelo caminho? Vê-los-iam de um helicóptero? Não se sentia optimista, na verdade a situação deles era desesperada. Admirou-se por Nadia não dar sinais de fadiga, mas a sua amiga parecia completamente entregue à aventura.
Quatro ou cinco horas mais tarde - impossível medir o tempo naquele sítio - chegaram a um rio claro e profundo. Seguiram pela margem algumas milhas e, de repente, diante dos olhos maravilhados de Alex surgiu uma montanha muito alta e uma catarata magnífica que caía com um clamor de guerra, formando em baixo uma imensa nuvem de espuma e água pulverizada.
- É o rio que desce do céu - disse Tahama.
Mokarita, o chefe das penas amarelas, autorizou o grupo a descansar um pouco antes de empreender a subida da montanha. Tinha um rosto de madeira, com a pele rugosa como casca de árvore, sereno e bondoso.
- Eu não consigo subir - disse Nadia, ao ver a rocha negra, lisa e húmida.
Era a primeira vez que Alex a via derrotada diante de um obstáculo e sentiu simpatia por ela porque ele também estava assustado, embora tivesse trepado montanhas e rochas durante anos com o pai. John Cold era um dos alpinistas mais experientes e audazes dos Estados Unidos, tinha participado em expedições célebres a lugares quase inacessíveis, tinha sido mesmo chamado algumas vezes para ajudar no resgate de pessoas acidentadas nos picos mais altos da Áustria e do Chile. Sabia que não possuía a habilidade nem a coragem do seu pai, muito menos a sua experiência. Também nunca tinha visto uma rocha tão escarpada como a que tinha agora pela frente. Escalar pela parte de trás da catarata, sem cordas e sem ajuda, era praticamente impossível.
Nadia aproximou-se de Mokarita e tentou explicar-lhe através de sinais e das palavras que partilhavam, que ela não era capaz de subir. O chefe pareceu ter ficado bastante aborrecido, dava gritos, brandia as suas armas e gesticulava. Os outros índios imitaram-no, rodeando Nadia ameaçadoramente. Alex colocou-se ao pé da amiga e procurou acalmar os guerreiros com gestos, mas a única coisa que conseguiu foi que Tahama agarrasse em Nadia pelo cabelo e começasse a puxá-lo, arrastando-a na direcção da catarata, enquanto Borobá dava palmadas e guinchava. Num arroubo de inspiração - ou de desespero - o rapaz tirou a flauta do cinto e começou a tocar. No mesmo instante os índios pararam, hipnotizados. Tahama soltou Nadia e todos rodearam Alex.
Uma vez apaziguados um pouco os ânimos, Alex convenceu Nadia de que podia ajudá-la a subir com uma corda. Repetiu-lhe o que tantas vezes ouvira o seu pai dizer: antes de vencer a montanha é preciso aprender a usar o medo.
- Tenho pânico das alturas, Jaguar. Dão-me vertigens. Cada vez que entro na avioneta do meu pai, adoeço... - gemeu Nadia.
- O meu pai diz que o medo é bom; é o sistema de alarme do corpo, avisa-nos do perigo. Mas às vezes o perigo é inevitável e nessa altura é preciso dominar o medo.
- Não consigo!
- Nadia, ouve-me - disse Alex agarrando-a pelos braços e obrigando-a a olhá-lo nos olhos. - Respira fundo, acalma-te. Ensinar-te-ei a usar o medo. Confia em ti própria e em mim. Ajudar-te-ei a subir, fá-lo-emos juntos, prometo-te.
Como única resposta, Nadia pôs-se a chorar com a cabeça no ombro de Alex. O rapaz não sabia o que fazer, nunca estivera tão próximo de uma rapariga. Nas suas fantasias tinha abraçado milhares de vezes Cecilia Burns, o amor da sua vida, mas na prática teria desatado a fugir se ela o tivesse tocado. Cecilia Burns estava tão longe que era como se não existisse: nem conseguia recordar-se da cara dela. Os seus braços rodearam Nadia num gesto automático. Sentiu que o coração batia no peito como búfalos à desfilada, mas teve a lucidez suficiente para se aperceber do absurdo da situação. Estava a meio da selva, rodeado de estranhos guerreiros pintalgados, com uma pobre rapariga aterrada nos braços e em que estava a pensar? No amor! Conseguiu reagir, afastando Nadia para enfrentá-la com determinação.
- Deixa de chorar e diz a estes senhores que precisamos de uma corda - ordenou-lhe, apontando para os índios. - E lembra-te de que tens a protecção do talismã.
- Walimai disse que me protegeria dos homens, animais e fantasmas, mas não mencionou o perigo de cair e partir a nuca - explicou Nadia.
- Como diz a minha avó, temos de morrer de alguma coisa - consolou-a o amigo, tentando sorrir. E acrescentou: - Não me disseste que era preciso ver com o coração? Esta é uma boa oportunidade para o fazer.
Nadia lá se arranjou para comunicar aos índios a petição do rapaz. Quando finalmente entenderam, vários deles puseram-se em acção e muito depressa fizeram uma corda de lianas entrançadas. Quando viram que Alex amarrava uma extremidade da corda à cintura da rapariga e enrolava o resto em volta do seu próprio peito, deram mostras de grande curiosidade. Não conseguiam perceber por que razão os forasteiros faziam uma coisa tão absurda: se um deles escorregasse, arrastaria o outro.
O grupo aproximou-se da catarata, que caía livremente de uma altura de mais de cinquenta metros e se esmagava cá em baixo numa impressionante nuvem de água, coroada por um arco-íris magnífico. Centenas de pássaros pretos atravessavam a cascata em todas as direcções. Os índios saudaram o rio que descia do céu esgrimindo as suas armas e dando gritos: já estavam muito perto do seu país. Ao subirem até às terras altas sentiam-se a salvo de qualquer perigo. Três deles afastaram-se na direcção do bosque demorando algum tempo e regressando depois com umas bolas que, ao serem inspeccionadas pelos jovens, acabaram por revelar serem compostas por uma resina branca, espessa e muito pegajosa. Imitando os outros, esfregaram as palmas das mãos e dos pés com esta pasta. Em contacto com o solo, o húmus colava-se à resina, criando uma sola única. Os primeiros passos foram dificeis, mas mal se meteram sob o chuveiro da catarata, compreenderam a sua utilidade: era como levar botas e luvas de borracha adesiva.
Contornaram a lagoa que se formava em baixo e depressa chegaram, empapados, à cascata, uma cortina sólida de água, separada da montanha por vários metros. O rugido da água era tal que tornava impossível qualquer comunicação e também não podiam fazê-lo por sinais, uma vez que a visibilidade era quase nula, o vapor de água convertia o ar em espuma branca. Tinham a impressão de avançar às apalpadelas a meio de uma nuvem. Por ordem de Nadia, Borobá tinha-se colado ao corpo de Alex como um grande penso peludo e quente, enquanto ela avançava atrás porque ia presa por uma corda, caso contrário teria retrocedido. Os guerreiros conheciam bem o terreno e prosseguiam lentamente, mas sem vacilar, calculando onde punham cada pé. Os jovens seguiram-nos o mais perto possível, porque bastava separarem-se alguns passos para os perder de vista por completo. Alex calculou que o nome dessa tribo -povo da neblina - provinha da densa bruma que se formava com a queda-d'água.
Essa e outras cataratas do Alto Orenoco tinham derrotado sempre os forasteiros, mas os índios tinham-nas convertido em suas aliadas. Sabiam exactamente onde pisar, havia entalhes naturais ou talhados por eles que certamente teriam sido usados durante centenas de anos. Esses cortes na montanha formavam uma escada atrás da cascata, que subia até ao cimo. Sem saber da sua existência e conhecer a sua localização exacta, era impossível subir por aquelas paredes lisas, molhadas e escorregadias, com a presença atroadora da cascata nas costas. Um tropeção e a queda acabava em morte certa a meio do fragor da espuma.
Antes de se verem isolados pelo ruído, Alex conseguiu instruir Nadia a não olhar para baixo, devendo concentrar-se a copiar os seus movimentos, aferrando-se onde ele o fazia, tal como ele imitava Tahama, que ia à sua frente. Também lhe explicou que a primeira parte era mais dificil por causa da névoa resultante do bater da água contra o chão, mas à medida que subissem certamente seria menos escorregadio e conseguiriam ver melhor. Nadia não ficou muito animada, porque o seu maior problema não era a visibilidade mas as vertigens. Tentou ignorar a altura e o rugido ensurdecedor da cascata, pensando que a resina nas mãos e nos pés a ajudava a colar-se às rochas molhadas. A corda que a ligava a Alex dava-lhe alguma segurança, embora fosse fácil calcular que um passo em falso de qualquer um deles lançaria ambos para o vazio. Tentou seguir as instruções de Alex: concentrar-se no próximo movimento, no local exacto onde devia colocar o pé ou a mão, um de cada vez, sem pressa e sem perder o ritmo. Mal conseguia equilibrar-se, movia-se com cuidado procurando uma fenda ou uma saliência superior, tacteando seguidamente com um pé até dar com outra e poder assim impelir o corpo alguns centímetros mais para cima. As fissuras na montanha eram suficientemente profundas para se apoiarem, o perigo maior consistia em separar o corpo, tinha de se deslocar colada à rocha. Num clarão, lembrou-se de Borobá: se ela ia tão aterrada, como estaria o infeliz macaco pendurado em Alex.
À medida que subiam, a visibilidade aumentava, mas a distância entre a catarata e a montanha reduzia-se. Os jovens sentiam a água cada vez mais perto das suas costas. Precisamente quando Alex e Nadia perguntavam a si próprios como fariam para continuar a subida pela parte superior da catarata, os entalhes na rocha desviaram-se para a direita. O rapaz tacteou com os dedos e encontrou uma superficie plana. Então sentiu que o agarravam por um pulso e o puxavam para cima. Atirou-se com todas as suas forças e aterrou numa gruta da montanha, onde já estavam reunidos os guerreiros. Puxando pela corda içou Nadia, que caiu de bruços em cima dele, apatetada pelo esforço e pelo terror. O infeliz Borobá nem se mexeu, estava colado como uma lapa às suas costas e petrificado de terror. Diante da entrada da gruta caía uma cortina compacta de água, que os pássaros pretos atravessavam dispostos a defender os seus ninhos dos invasores. Alex admirou-se com a coragem incrível dos primeiros índios que, talvez na pré-história, se aventuraram atrás da cascata, encontraram algumas fendas e talharam outras, descobriram a gruta e abriram o caminho aos seus descendentes.
A gruta, comprida e estreita, não permitia que se pusessem de pé, tinham de gatinhar ou de se arrastar. A claridade do sol filtrava-se branca e leitosa através da cascata, mas mal iluminava a entrada e no interior estava mais escuro. Alex, apertando Nadia e Borobá contra o peito, viu Tahama chegar ao seu lado, gesticulando e apontando para a queda-d'água. Não conseguia ouvi-lo, mas compreendeu que alguém tinha escorregado ou ficado para trás. Tahama mostrava-lhe a corda e ele acabou por compreender que este pretendia usá-la para descer à procura do ausente. O índio era mais pesado do que ele e, por muito ágil que fosse, não tinha experiência no resgate de alta montanha. Ele também não era nenhum especialista, mas pelo menos acompanhara o pai algumas vezes em missões arriscadas, sabia usar uma corda e lera muito a esse respeito. Escalar era a sua paixão, comparável apenas ao seu amor pela flauta. Fez sinais aos índios de que desceria até onde as lianas permitissem. Desamarrou Nadia e indicou a Tahama e aos outros que o descessem pelo precipício.
A descida, suspenso por uma frágil corda no abismo, com um mar de água rugindo à sua volta, pareceu a Alex pior que a subida. Via muito pouco e nem sequer sabia quem tinha escorregado e onde procurá-lo. A manobra era de uma temeridade praticamente inútil, uma vez que quem quer que tivesse pisado em falso durante a subida já estaria pulverizado lá em baixo. O que faria John Cold nestas circunstâncias? John Cold pensaria primeiro na vítima, depois em si próprio. John Cold não se daria por vencido sem tentar todos os recursos possíveis. Enquanto o faziam deslizar, fez um esforço para ver para lá do seu nariz e respirar, mas mal conseguia
abrir os olhos e sentia os pulmões cheios de água. Balançava no vazio para que a corda de lianas não cedesse.
De súbito um dos seus pés bateu numa coisa mole e, um instante mais tarde, apalpava com os dedos a forma de um homem que pendia aparentemente do nada. Com um sobressalto de angústia, compreendeu que era o chefe Mokarita. Reconheceu-o pelo chapéu de penas amarelas, que ainda permanecia firme na sua cabeça, apesar de o infeliz ancião estar agarrado como uma rês a uma raiz grossa que emergia da montanha e que, milagrosamente, detivera a sua queda. Alex não tinha onde segurar-se e receava que, apoiando-se na raiz, esta se partisse precipitando Mokarita no abismo. Calculou que só teria uma oportunidade de agarrá-lo e que mais valia fazê-lo com precisão, ou o homem, empapado como estava, escorregar-lhe-ia por entre os dedos como um peixe.
Alexandre deu um impulso, baloiçando-se quase às cegas e enroscou-se com pernas e braços à figura prostrada. Na gruta os guerreiros sentiram o puxão e o peso na corda e começaram a içar com cuidado, muito lentamente, para evitar que o contacto com a rocha rompesse as lianas e o baloiço atirasse Alex e Mokarita contra as rochas. O jovem nem soube quanto tempo demorou a operação, talvez alguns minutos apenas, mas pareceram-lhe horas. Por fim sentiu-se agarrado por várias mãos que o içaram para a gruta. Os índios tiveram de forçá-lo a soltar Mokarita porque o tinha abraçado com a determinação de uma piranha.
O chefe endireitou as penas e esboçou um sorriso fraco. Fios de sangue saíam-lhe do nariz e da boca, mas o resto parecia intacto. Os índios mostraram-se bastante impressionados com o resgate e passavam a corda de mão em mão com admiração, mas a nenhum deles ocorreu atribuir o salvamento do chefe ao jovem forasteiro. Em vez disso, felicitavam Tahama por ter tido aquela ideia. Esgotado e dorido, Alex sentiu a falta de um agradecimento, mas até Nadia o ignorou. Acocorada com Borobá a um canto, nem se deu conta do heroismo do amigo, porque tentava ainda recuperar da subida à montanha.
O resto da viagem foi mais fácil, porque o túnel se abria a alguma distância da água, num sítio onde era possível subir com menos riscos. Servindo-se da corda, os índios içaram Mokarita, porque as pernas lhe fraquejavam, e Nadia, porque lhe fraquejava o ânimo, mas por fim encontraram-se todos no cume.
- Não te disse que o talismã também servia para perigos de altura? - troçou Alex.
- É verdade - admitiu Nadia, convencida.
Diante deles apareceu o Olho do Mundo, designação que o povo da neblina dava ao seu país. Era um paraíso de montanhas e cascatas magníficas, um bosque infinito povoado por animais, pássaros e borboletas, com um clima benigno e sem as nuvens de mosquitos que atormentavam as terras baixas. Ao longe erguiam-se estranhas formações como cilindros altíssimos de granito preto e terra vermelha. Prostrado no chão sem conseguir mexer-se, Mokarita apontou-os com reverência:
- São tepuis, as residências dos deuses - disse, com um fio de voz. Alex reconheceu-os imediatamente: aquelas mesetas impressionantes eram idênticas às torres magníficas que tinha visto quando enfrentou o jaguar negro no acampamento de Mauro Carias.
- São as montanhas mais antigas e misteriosas da terra - disse.
- Como sabes? Já as tinhas visto antes? - perguntou Nadia.
- Vi-as num sonho - respondeu Alex.
O chefe índio não dava mostras de dor, tal como correspondia a um guerreiro da sua categoria, mas restavam-lhe muito poucas forças, de vez em quando fechava os olhos e parecia desmaiado. Alex não sabia se teria ossos partidos ou inúmeras contusões internas, mas era evidente que não conseguia levantar-se. Valendo-se de Nadia como intérprete, conseguiu que os índios improvisassem uma
padiola com dois paus compridos, algumas lianas atravessadas e um pedaço de uma casca de árvore por cima. Os guerreiros, perplexos diante da debilidade do ancião que conduzira a tribo por várias décadas, seguiram as instruções de Alex sem discutir. Dois deles seguraram nas extremidades da maca e assim continuaram a marcha durante uma meia hora pela margem do rio, guiados por Tahama, até Mokarita pedir que parassem para descansar um pouco.
A subida pelas ladeiras da catarata tinha durado várias horas e agora estavam todos esgotados e esfomeados. Tahama e outros dois homens interraram-se no bosque e regressaram passado pouco tempo com alguns pássaros, um tatu e um macaco, que tinham caçado com as suas flechas. O macaco, ainda vivo mas paralisado pelo curare, foi despachado com uma pedrada na cabeça, perante o horror de Borobá, que correu a refugiar-se debaixo da camisola de Nadia. Fizeram fogo esfregando uma pedra na outra - coisa que Alex tentara inutilmente quando era escuteiro - e assaram as presas enfiadas em paus. O caçador não provava a carne da sua vítima, era má educação e trazia má sorte, tinha de esperar que outro caçador lhe oferecesse da sua. Tahama tinha caçado tudo menos o tatu, de modo que o jantar demorou algum tempo, enquanto cumpriam o rigoroso protocolo da troca de comida. Quando finalmente teve a sua porção na mão, Alex devorou-a sem reparar nas penas e nos pêlos ainda presos à carne e achou-a deliciosa.
Ainda faltavam algumas horas para o pôr do Sol e no planalto, onde a cúpula vegetal era menos densa, a luz do dia durava mais que no vale. Depois de longas consultas com Tahama e Mokarita, o grupo pôs-se novamente em marcha.
Tapirawa-teri, a aldeia do povo da neblina apareceu de repente a meio do bosque, como se tivesse a mesma capacidade dos seus habitantes para se tornar visível ou invisível à sua vontade. Estava protegida por um grupo de castanheiros gigantes, as árvores mais altas da selva, com alguns dos seus troncos medindo mais de dez metros de circunferência. As suas cúpulas cobriam a aldeia como um imenso guarda-chuva. Tapirawa-teri era diferente do típico shabono, o que confirmou a suspeita de Alex de que o povo da neblina não era como os outros índios e certamente tinha muito pouco contacto com outras tribos do Amazonas. A aldeia não era formada por uma única cabana circular com um pátio ao centro, onde vivia toda a tribo, mas por pequenas casas, feitas de barro, pedras, paus e palha, cobertas de ramos e de arbustos, de modo que se confundiam perfeitamente com a Natureza. Podia-se estar a poucos metros de distância sem fazer ideia de que ali existiam construções humanas. Alex compreendeu que se era tão dificil distinguir a aldeia mesmo estando no meio dela, seria impossível vê-la do ar; ao passo que o grande tecto circular e o pátio livre de vegetação de um shabono seria sem dúvida visível. Essa devia ser a razão pela qual o povo da neblina tinha conseguido manter-se completamente isolado. A sua esperança de ser resgatado pelos helicópteros do exército ou pela avioneta de César Santos esfumou-se.
A aldeia era tão irreal como os índios. Tal como as cabanas eram invisíveis, tudo o resto parecia também difuso ou transparente. Ali os objectos, tal como as pessoas, perdiam os seus contornos precisos e existiam no plano da ilusão. Surgindo do ar, como fantasmas, as mulheres e as crianças apareceram para receber os guerreiros. Eram de baixa estatura, de pele mais clara que os índios do vale, com olhos cor de âmbar. Deslocavam-se com uma leveza extraordinária, flutuando, quase sem consistência material. Como única vestimenta tinham desenhos pintados no corpo e algumas penas ou flores amarradas nos braços ou enfiadas nas orelhas. Assustados com o aspecto dos forasteiros, as crianças mais pequenas puseram-se a chorar e as mulheres mantiveram-se à distância, receosas, apesar da presença dos seus homens armados.
- Tira a tua roupa, Jaguar - disse Nadia, despindo os seus calções, a sua camisola de manga curta e até a sua roupa interior.
Alex imitou-a sem sequer pensar no que fazia. A ideia de despir-se em público tê-lo-ia horrorizado há algumas semanas, mas naquele sítio era natural. Andar vestido parecia indecente quando todos os outros estavam nus. Também não lhe pareceu estranho ver o corpo da sua amiga, embora antigamente tivesse corado se qualquer uma das suas irmãs aparecesse sem roupa à sua frente. Imediatamente, as mulheres e as crianças perderam o medo e foram-se aproximando pouco a pouco. Nunca tinham visto pessoas de aspecto tão singular, sobretudo o rapaz americano, tão branco nalgumas partes. Alex sentiu que examinavam com especial curiosidade a diferença de cor entre o que habitualmente estava coberto pelo seu fato de banho e o resto do corpo, bronzeado pelo sol. Esfregavam-no com os dedos para ver se era pintura e riam-se às gargalhadas.
Os guerreiros colocaram no chão a maca de Mokarita, que foi imediatamente rodeada pelos habitantes da aldeia. Comunicavam entre si com sussurros e num tom melódico, imitando os sons do bosque, da chuva, da água sobre as pedras dos rios, tal como Walimai. Maravilhado, Alex apercebeu-se de que conseguia compreendê-los bastante bem, desde que não se esforçasse por isso: tinha de «ouvir com o coração». Segundo Nadia, que tinha uma facilidade espantosa para as línguas, as palavras não são muito importantes quando se entende as intenções.
lyomi, a mulher de Mokarita, ainda mais idosa do que ele, aproximou-se. Os outros deram-lhe passagem com respeito e ela ajoelhou-se junto do marido, sem uma lágrima, murmurando palavras de consolo na sua orelha, enquanto as restantes mulheres faziam uma roda à sua volta, sérias e em silêncio, apoiando o casal com a sua proximidade, mas sem interferir.
Rapidamente a noite caiu e o ar ficou mais frio. Normalmente num shabono havia sempre sob o grande tecto comum um colar de fogueiras acesas para cozinhar e dar calor, mas em Tapirawa-teri o fogo estava dissimulado, como tudo o resto. As pequenas fogueiras acendiam-se só de noite e dentro das cabanas, sobre um altar de pedra, para não chamar a atenção dos possíveis inimigos ou dos maus espíritos. O fumo saía pelas ranhuras do tecto, dispersando-se no ar. No princípio, Alex teve a impressão de que as casas estavam espalhadas ao acaso por entre as árvores, mas depressa compreendeu que estavam colocadas de uma forma vagamente circular, como um shabono, e ligadas entre si por túneis ou tectos de ramos, dando unidade à aldeia. Os seus habitantes podiam deslocar-se através dessa rede de veredas ocultas, protegidos em caso de ataque e abrigados da chuva e do sol.
Os índios agrupavam-se por famílias, mas os rapazes adolescentes e os homens solteiros viviam separados numa casa comum, onde havia redes penduradas em paus e esteiras pelo chão. Ali instalaram Alex, enquanto Nadia foi levada para a casa de Mokarita.
O chefe índio casara-se na puberdade com Iyomi, sua companheira de toda a vida, mas tinha mais duas mulheres e um grande número de filhos e netos. Não contabilizava a descendência, porque na realidade também não importava quem eram os pais: as crianças criavam-se todas juntas, protegidas e cuidadas pelos membros da aldeia.
Nadia descobriu que entre o povo da neblina era comum ter várias mulheres ou vários maridos. Ninguém ficava só. Se um homem morria, os seus filhos e a sua mulher eram imediatamente adoptados por outro que pudesse protegê-los e alimentá-los. Era esse o caso de Tahama, que devia ser um bom caçador, porque tinha a responsabilidade de várias mulheres e de uma dúzia de miúdos. Por sua vez uma mãe, cujo marido fosse um mau caçador, podia arranjar outros maridos que a ajudassem a alimentar os filhos. Os pais costumavam prometer em casamento as suas filhas quando nasciam, mas nenhuma rapariga era obrigada a casar-se ou a permanecer junto de um homem contra sua vontade. O abuso de mulheres e de crianças era tabu e quem o violasse perdia a sua família e ficava condenado a dormir sozinho, porque também não era aceite na cabana dos solteiros. O único castigo entre o povo da neblina era o isolamento: o que mais receavam era serem excluídos da comunidade. Quanto ao resto, a noção de prémio e castigo não existia entre eles, as crianças aprendiam imitando os adultos porque, se não o fizessem, estavam destinados a perecer. Tinham de aprender a caçar, plantar e colher, a respeitar a Natureza e os outros, a ajudar e a manter o seu lugar na aldeia. Cada qual aprendia segundo o seu próprio ritmo e de acordo com a sua capacidade.
Às vezes não nasciam meninas em número suficiente numa geração. Nessa altura, os homens partiam em longas expedições à procura de mulheres. Por outro lado, as raparigas da aldeia podiam encontrar marido nas raras ocasiões em que visitavam outras regiões. Também se misturavam adoptando famílias de outras tribos, abandonadas depois de uma batalha, porque um grupo muito pequeno não conseguia sobreviver na selva. De vez em quando era preciso declarar guerra a outro shabono, dessa forma os guerreiros fortaleciam-se e trocavam de pares. Era muito triste quando os jovens se despediam para ir viver noutra tribo, porque muito raramente voltavam a ver a sua família. O povo da neblina guardava zelosamente o segredo da sua aldeia, para se defender de ataques e dos costumes dos forasteiros. Viviam da mesma forma há milhares de anos e não desejavam mudar.
No interior das cabanas havia muito pouco: redes, cabaças, machados de pedra, facas de dentes ou garras, vários animais domésticos que pertenciam à comunidade, entrando e saindo à sua vontade. No dormitório dos solteiros guardavam-se os arcos, flechas, zarabatanas e dardos. Não havia nada supérfluo, nem objectos de arte, apenas o essencial para a estrita sobrevivência. O resto, a Natureza proporcionava. Alexander Cold não viu um único objecto de metal que revelasse contacto com o mundo exterior e recordou como o povo da neblina não tinha tocado nos presentes pendurados por César Santos para atraí-los. Nisso também se diferenciavam das outras tribos da região, que sucumbiam uma a uma à cobiça pelo aço e por outros bens dos forasteiros.
Quando desceu a temperatura, Alex vestiu a sua roupa, mas continuava a tiritar. À noite, viu que os seus companheiros de casa dormiam dois a dois nas redes ou amontoados no chão para infundirem calor, mas ele vinha de uma cultura onde o contacto fisico entre homens não era tolerado. Os homens só se tocam em impulsos de violência ou nos desportos mais rudes. Deitou-se sozinho num canto sentindo-se insignificante, menos que uma pulga. Aquele pequeno agrupamento humano numa minúscula aldeia da selva era invisível na imensidão do espaço sideral. O seu'tempo de vida era menos que uma fracção de segundo no infinito. Ou talvez nem sequer existissem. Talvez os seres humanos, os planetas e o resto da Criação não passassem de sonhos, de ilusões. Sorriu com humildade lembrando-se de que apenas há alguns dias ele ainda se achava o centro do universo. Tinha frio e fome, calculou que essa seria uma longa noite, mas em menos de cinco minutos estava a dormir como se o tivessem anestesiado.
Acordou aninhado no chão sobre uma esteira de palha, comprimido entre dois robustos guerreiros que roncavam e sopravam na sua orelha tal como o seu cão Poncho costumava fazer. Libertou-se com dificuldade dos braços dos índios e levantou-se discretamente, mas não foi muito longe porque, atravessada à entrada estava uma cobra gorda com mais de dois metros de comprimento. Ficou petrificado, sem se atrever a dar um passo, apesar de o réptil não dar sinais de vida: estava morto ou adormecido. Depressa os índios sacudiram o sono e começaram as suas actividades com a maior tranquilidade, passando por cima da cobra sem lhe prestar atenção. Era uma boa constritor domesticada, cuja missão consistia em eliminar ratazanas, morcegos, escorpiões e aterrorizar as serpentes venenosas. Entre o povo da neblina havia muitas mascotes: macacos que se criavam com as crianças, cãezinhos que as mulheres amamentavam tal como aos filhos, tucanos, papagaios, iguanas e até um decrépito jaguar amarelo, inofensivo, coxo de uma pata. As boas, bem alimentadas e regra geral letárgicas, prestavam-se às brincadeiras das crianças. Alex pensou como a sua irmã Nicole se sentiria feliz no meio daquela exótica fauna amestrada.
Uma boa parte do dia passou-se na preparação da festa comemorativa do regresso dos guerreiros e da visita das duas «almas brancas», como chamaram a Nadia e a Alex. Todos participaram, menos um homem, que permaneceu sentado na extremidade da aldeia, separado dos restantes. O índio cumpria o ritual de purificação - unokaimú - obrigatório quando se matou outro ser humano. Alex ficou a saber que o unokaimú consistia num jejum total, silêncio e imobilidade durante vários dias, dessa forma o espírito do morto, que saíra pelas narinas do cadáver para se colar ao esterno do assassino, descolar-se-ia pouco a pouco. Se o homicida consumisse qualquer alimento, o fantasma da sua vítima engordava e o seu peso acabava por esmagá-lo. Diante do guerreiro imóvel em unokaimú estava uma longa zarabatana de bambu decorada com estranhos símbolos, idênticos aos do dardo envenenado que atravessou o coração de um dos soldados da expedição durante a viagem pelo rio.
Alguns homens foram caçar e pescar, conduzidos por Tahama, enquanto várias mulheres foram apanhar milho e bananas às pequenas hortas dissimuladas no bosque e outras se ocuparam a moer mandioca. As crianças mais pequenas juntavam formigas e outros insectos para cozinhar; os mais velhos recolhiam nozes e frutas, outros subiam com uma agilidade incrível a uma das árvores para tirar mel de um favo, única fonte de açúcar na selva. Desde que conseguiam pôr-se de pé, os rapazes aprendiam a trepar, eram capazes de correr sobre os ramos mais altos de uma árvore sem perderem o equilíbrio. Só de os ver suspensos àquela altura, como macacos, Nadia sentia vertigens.
Entregaram a Alex um cabaz, ensinaram-no a amarrá-lo à cabeça e disseram-lhe que se juntasse aos outros jovens da sua idade.
Andaram durante algum tempo interrando-se no bosque, atravessaram o rio segurando-se a varas e a lianas, e chegaram ao pé de umas palmeiras esbeltas cujos troncos estavam cobertos de espinhos afiados. Sob as copas, a mais de quinze metros de altura, brilhavam cachos de um fruto amarelo parecido com o pêssego. Os jovens amarraram uns paus para fazer duas cruzes firmes, rodearam o tronco com uma e puseram a outra mais acima. Um deles trepou à primeira, empurrou a outra para cima, subiu a essa, esticou a mão para subir a cruz que estava em baixo e, dessa forma, foi subindo com a agilidade de um trapezista até ao cimo. Alex já tinha ouvido falar desta façanha, mas até a ter visto não percebia como era possível subir sem se ferir nos espinhos. De cima, o índio atirou os frutos, que os outros apanharam com os cabazes. Mais tarde as mulheres da aldeia moeram-nos, misturados com bananas, para fazer uma sopa, bastante apreciada pelo povo da neblina.
Apesar de estarem todos atarefados com os preparativos, havia um ambiente calmo e festivo. Ninguém se apressava e houve tempo para se banharem alegremente no rio durante horas. Enquanto chapinhava com outros jovens, Alexander Cold pensou que nunca o mundo lhe parecera tão belo e que nunca voltaria a ser tão livre. Depois do longo banho, as raparigas de Tapirawa-teri prepararam pinturas vegetais de cores diferentes e decoraram todos os membros da tribo, incluindo os bebés, com intrincados desenhos. Entretanto, os homens mais idosos moíam e misturavam folhas e cascas de diversas árvores para fazer o yopo, o pó mágico das cerimónias.
A festa começou à tarde e durou toda a noite. Os índios, pintados dos pés à cabeça, cantaram, dançaram e comeram até se fartarem. Era uma falta de educação um convidado recusar o oferecimento de comida ou de bebida, de modo que Alex e Nadia, imitando os outros, encheram a barriga até sentirem vómitos, o que era considerado uma demonstração de boas maneiras. As crianças corriam com grandes borboletas e escaravelhos fosforescentes amarrados com longos cabelos. As mulheres, enfeitadas com pirilampos, orquídeas, penas nas orelhas e pauzinhos atravessados nos lábios, começaram a festa dividindo-se em dois grupos, que se defrontavam cantando em competição amistosa. Depois convidaram os homens a dançar inspiradas nos movimentos dos animais quando acasalavam na estação das chuvas. Por fim os homens brilharam sozinhos, primeiro girando numa roda imitando macacos, jaguares e jacarés e fazendo depois uma demonstração de força e destreza brandindo as suas armas e dando saltos aparatosos. Nadia e Alex já sentiam a cabeça à roda, estavam enjoados com o espectáculo, com o rufar dos tambores, com os cânticos, os gritos, com os ruídos da selva à sua volta.
Mokarita tinha sido colocado no centro da aldeia, onde recebia os cumprimentos cerimoniosos de todos. Embora bebesse pequenos sorvos de masato, não conseguiu provar a comida. Outro ancião, com reputação de curandeiro, apareceu diante dele coberto com uma crosta de lama seca e uma resina onde lhe tinham colado uma penugem branca, o que lhe dava o aspecto de um estranho pássaro recém-nascido. O curandeiro esteve muito tempo dando saltos e fazendo um grande alarido para aterrorizar os demónios que tinham entrado no corpo do chefe. Depois chupou-lhe várias partes do ventre e do peito, fazendo a mímica de aspirar os maus humores e de os cuspir para longe. Além disso, esfregou o moribundo com uma pasta de paranary, uma planta utilizada no Amazonas para curar feridas. No entanto, as feridas de Mokarita não eram visíveis e o remédio não surtiu qualquer efeito. Alex calculou que a queda tinha rebentado algum órgão interno do chefe, talvez o fígado, pois à medida que as horas passavam o ancião ia ficando cada vez mais fraco, enquanto um fio de sangue lhe saía pela comissura dos lábios.
Ao amanhecer, Mokarita chamou Nadia e Alex e, com as poucas forças que lhe restavam, explicou-lhes que eles eram os únicos forasteiros que tinham pisado Tapirawa-teri desde a fundação da aldeia.
- As almas do povo da neblina e dos nossos antepassados habitam aqui. Os nahab falam com mentiras e não conhecem a justiça, podem sujar as nossas almas - disse.
Tinham sido convidados, acrescentou, por instruções do grande xamã, que os avisara de que Nadia estava destinada a ajudá-los. Não sabia que papel desempenharia Alex nos acontecimentos que viriam, mas como companheiro da menina, também era bem-vindo a Tapirawa-teri. Alexander e Nadia perceberam que se referia a Walimai e à sua profecia sobre o Rahakanariwa.
- Que forma adopta o Rahakanariwa? - perguntou Alex.
- Muitas formas. É um pássaro chupa-sangue. Não é humano, age como um demente, nunca se sabe o que fará, está sempre sedento de sangue, aborrece-se e castiga - explicou Mokarita.
- Viram uns pássaros grandes? - perguntou Alex.
- Vimos os pássaros que fazem ruído e vento, mas eles não nos viram. Sabemos que não são o Rahakanariwa, embora se assemelhem bastante, esses são os pássaros dos nahab. Só voam de dia, nunca de noite, por isso temos cuidado quando acendemos fogueiras, para que o pássaro não veja o fumo. Por isso vivemos escondidos. Por isso somos o povo invisível - replicou Mokarita.
- Os nahab acabarão por vir mais cedo ou mais tarde, é inevitável. O que fará o povo da neblina nessa altura?
- O meu tempo no Olho do Mundo está a terminar. O chefe que vier depois de mim terá de decidir - replicou Mokarita debilmente.
Mokarita morreu ao amanhecer. Um coro de lamentos agitou Tapirawa-teri durante horas: ninguém conseguia lembrar-se do tempo anterior a este chefe, que conduzira a tribo durante muitas décadas. A coroa de penas amarelas, símbolo da sua autoridade, foi colocada sobre um poste até o seu sucessor ser designado. Entretanto, o povo da neblina despojou-se dos seus adornos e cobriu-se de lama, carvão e cinza, em sinal de luto. Reinava uma grande inquietação, porque achavam que a morte raras vezes surge por razões naturais, a causa é, no geral, um inimigo que utilizou magia para causar dano. A forma de apaziguar o espírito do morto é encontrar o inimigo e eliminá-lo, de outra forma o fantasma permanece no mundo infernizando os vivos. Se o inimigo fosse de outra tribo, isso podia levá-los a uma batalha, mas se fosse da mesma aldeia, podia ser «morto» simbolicamente recorrendo a uma cerimónia apropriada. Os guerreiros, que tinham passado a noite bebendo masato, estavam bastante excitados com a ideia de vencer o inimigo causador da morte de Mokarita. Descobri-lo e derrotá-lo era uma questão de honra. Nenhum deles aspirava substituí-lo, porque entre eles não existiam hierarquias, ninguém era mais importante que qualquer outro, o chefe tinha apenas mais obrigações. Mokarita não era respeitado pela sua posição de chefia, mas por ser muito velho, isso significava mais experiência e conhecimento. Os homens, embriagados e exacerbados, podiam tornar-se violentos de um momento para o outro.
- Creio que chegou o momento de chamar Walimai - sussurrou Nadia a Alex.
Retirou-se para um extremo da aldeia, tirou o amuleto do pescoço e começou a soprá-lo. O pio agudo da coruja que o osso talhado emitia, pareceu estranho naquele sítio. Nadia pensava que bastava usar o talismã para ver aparecer Walimai por artes de magia, mas por mais que soprasse, o xamã não aparecia.
Nas horas seguintes, a tensão na aldeia foi aumentando. Um dos guerreiros agrediu Tahama e este devolveu o gesto com uma bordoada na cabeça, que deixou o outro estirado no chão a sangrar. Tiveram de intervir vários homens para separar e acalmar os exaltados. Finalmente decidiram resolver o conflito recorrendo ao yopo, um pó verde que, tal como o masato, só os homens usavam. Distribuíram-se de dois em dois, cada par com uma grande cana oca e talhada na ponta, através da qual sopravam o pó uns aos outros directamente no nariz. O yopo chegava-lhes ao cérebro com a força de uma martelada e o homem caía para trás gritando de dor, começando depois a vomitar, a dar saltos, a grunhir e a ter visões, enquanto uma mucosidade verde lhe saía pelas narinas e pela boca. Não era um espectáculo muito agradável, mas usavam-no para se transportarem ao mundo dos espíritos. Alguns homens converteram-se em demónios, outros assumiram a alma de diversos animais, outros profetizaram o futuro, mas a nenhum apareceu o fantasma de Mokarita para designar o seu sucessor.
Alex e Nadia desconfiavam que aquele pandemónio ia acabar em violência e preferiram manter-se afastados e mudos, esperando que ninguém se lembrasse deles. Não tiveram sorte porque, de repente, um dos guerreiros teve a visão de que o inimigo de Mokarita, o causador do seu falecimento, era o rapaz estrangeiro. Num instante, os restantes juntaram-se para castigar o suposto assassino do chefe e, arvorando garrotes, foram atrás de Alex. Este não era o momento de pensar na flauta como meio para acalmar os ânimos. O rapaz pôs-se a correr como uma gazela. As suas únicas
vantagens eram o desespero, que lhe dava asas, e o facto de os seus perseguidores não estarem nas melhores condições. Os índios, intoxicados, tropeçavam, empurravam-se e, na confusão, batiam uns nos outros, enquanto as mulheres e as crianças corriam em volta deles, animando-os. Alex julgou que tinha chegado a sua hora e a imagem da sua mãe passou-lhe como um relâmpago pelo espírito, enquanto corria pelo bosque sem parar.
O rapaz americano não podia competir em velocidade e destreza com aqueles guerreiros indígenas, mas estes estavam drogados e foram caindo pelo caminho, um por um. Finalmente conseguiu refugiar-se debaixo de uma árvore, espreitando, extenuado. Quando pensava estar a salvo, viu-se rodeado e, antes de conseguir começar novamente a correr, as mulheres da tribo caíram-lhe em cima. Riam-se, como se tê-lo apanhado fosse apenas uma grande partida, mas agarraram-no com firmeza e, apesar das suas palmadas e pontapés, arrastaram-no entre todas de volta a Tapirawa-teri, onde o amarraram a uma árvore. Mais de uma rapariga lhe veio fazer cócegas e outras meteram-lhe pedaços de fruta na boca mas, apesar dessas atenções, deixaram as cordas bem apertadas. Por essa altura, o efeito do yopo começava a ceder e, pouco a pouco, os homens iam abandonando as suas visões para regressarem, esgotados, à realidade. Decorreriam várias horas até recuperarem a lucidez e as forças.
Alex, dorido por ter sido arrastado pelo chão, e humilhado pela troça das mulheres, lembrou-se das histórias arrepiantes do professor Ludovic Leblanc. Se a sua teoria estivesse correcta, comê-lo-iam. E o que aconteceria a Nadia? Sentia-se responsável por ela.
Pensou que nos filmes e nos romances esse seria o momento em que os helicópteros vêm resgatá-los e olhou para o céu sem esperança porque, na vida real, os helicópteros nunca chegam a tempo.
Entretanto Nadia fora-se aproximando da árvore sem que ninguém a detivesse, porque nenhum dos guerreiros podia imaginar que uma miúda se atrevesse a desafiá-los. Alex e Nadia tinham vestido a sua roupa ao cair o frio da primeira noite e, como o povo da neblina se habituara a vê-los vestidos, não viram necessidade em despi-la. Alex estava com o cinto de onde pendia a sua flauta, a sua bússola e o seu canivete, que Nadia usou para o libertar. Nos filmes também basta um movimento para cortar uma corda, mas ela teve de serrar, por um bom bocado, as tiras de couro que o prendiam ao poste, enquanto ele suava de impaciência. As crianças e algumas mulheres da tribo aproximaram-se para ver o que ela fazia, assombradas com o seu atrevimento, mas ela 'agiu com tal segurança, brandindo o canivete diante dos narizes dos curiosos, que ninguém interveio e, passados dez minutos, Alex estava livre. Os dois amigos começaram a retroceder disfarçadamente, sem se atreverem a desatar a correr para não atrair a atenção dos guerreiros. Esse era o momento em que a arte da invisibilidade lhes teria servido de muito.
Os jovens forasteiros não conseguiram ir muito longe porque Walimai fez a sua entrada na aldeia. O velho feiticeiro apareceu com a sua colecção de saquinhos pendurados no bastão, a sua pequena lança e o cilindro de quartzo que soava como uma cascavel. Continha pedrinhas recolhidas no sítio onde caíra um raio, era o símbolo dos curandeiros e xamanes e representava o poder do Sol Pai. Vinha acompanhado por uma rapariga nova, com o cabelo como um manto negro até à cintura, as sobrancelhas depiladas, colares de contas e uns pauzinhos polidos atravessados nas faces e no nariz. Era muito bonita e parecia alegre. Embora não dissesse uma palavra, estava sempre a sorrir. Alex compreendeu que era a mulher-anjo do xamã e alegrou-se por agora conseguir vê-la, isso significava que alguma coisa se abrira no seu entendimento ou na sua intuição. Tal como Nadia lhe tinha ensinado: era preciso «ver com o coração». Ela contara-lhe que Walimai, há muitos anos, ainda um jovem, fora obrigado a matar a rapariga, ferindo-a com a sua
faca envenenada, para a livrar da escravidão. Não fora um crime mas um favor que lhe fizera. De qualquer forma a alma dela colou-se-lhe ao peito e Walimai fugiu para a selva mais profunda, levando com ele a alma da jovem para onde ninguém conseguisse encontrá-la. Aí cumpriu os ritos de purificação obrigatórios, o jejum e a imobilidade. No entanto, durante a viagem, ele e a mulher tinham-se apaixonado e, uma vez terminado o rito do unokaimú, o espírito dela não quis despedir-se e preferiu ficar neste mundo junto do homem que amava. Isso acontecera há quase um século e, desde essa altura, acompanhava sempre Walimai, esperando o momento em que ele pudesse voar com ela convertido também em espírito.
A presença de Walimai aliviou a tensão em Tapirawa-teri e os mesmos guerreiros que pouco antes estavam dispostos a massacrar Alex, tratavam-no agora com amabilidade. A tribo respeitava e temia o grande xamã porque possuía a habilidade sobrenatural de interpretar signos. Todos sonhavam e tinham visões, mas só os eleitos, como Walimai, viajavam ao mundo dos espíritos superiores, onde aprendiam o significado das visões e podiam conduzir os outros' e mudar o rumo dos desastres naturais.
O ancião anunciou que o rapaz tinha a alma do jaguar negro,
animal sagrado, e viera de muito longe para ajudar o povo da neblina. Explicou que estes eram tempos muito estranhos, tempos em que a fronteira entre o mundo de cá e o mundo de lá era difusa, tempos em que o Rahakanariwa podia devorá-los a todos. Recordou-lhes a existência dos nahab, que a maior parte deles só conhecia pelas histórias que lhes contavam os seus irmãos de outras tribos das terras baixas. Os guerreiros de Tapirawa-teri tinham espiado durante dias a expedição da International Geographic, mas nenhum deles compreendia as acções ou os costumes daqueles estranhos
forasteiros. Walimai, que vira muito no seu século de vida, contou-lhes o que sabia.
- Os nahab estão como mortos, a alma fugiu-lhes do peito
- disse. - Os nahab não sabem nada de nada, não conseguem cravar um peixe com uma lança, nem acertar um macaco com um dardo, nem trepar a uma árvore. Não andam vestidos de ar e luz, como nós, usando em vez disso roupas hediondas. Não se lavam no rio, não conhecem as regras da decência ou da cortesia, não partilham a sua casa, a sua comida, os seus filhos ou as suas mulheres. Têm os ossos moles e mesmo uma pequena paulada pode partir-lhes o crânio. Matam animais e não os comem, deixam-nos para lá a apodrecer. Por onde passam deixam um rasto de lixo e veneno, mesmo na água. Os nahab são tão loucos que pretendem levar consigo as pedras do chão, a areia dos rios e as árvores do bosque. Alguns querem a terra. Dizemos-lhes que a selva não se pode carregar às costas como um tapir morto, mas não nos ouvem. Falam-nos dos seus deuses e não querem saber dos nossos. São insaciáveis como o jacaré. Estas coisas terríveis vi eu com os meus próprios olhos, ouvi com os meus próprios ouvidos e toquei com as minhas próprias mãos.
- Jamais permitiremos que esses demónios cheguem até ao Olho do Mundo, matá-los-emos com os nossos dardos e flechas quando subirem pela catarata, tal como fizemos com todos os forasteiros que o tentaram anteriormente, desde o tempo dos avós dos nossos avós - anunciou Tahama.
- Mas virão de qualquer forma. Os nahab têm pássaros de ruído e vento, conseguem voar por cima das montanhas. Virão porque querem as pedras, as árvores e a terra - interrompeu Alex.
- É verdade - admitiu Walimai.
- Os nahab também podem matar com doenças. Muitas tribos morreram assim, mas o povo da neblina pode salvar-se - disse Nadia.
Esta menina cor de mel sabe o que diz, devemos ouvi-la. O Rahakanariwa pode adoptar a forma de doenças mortais - garantiu Walimai.
- Ela é mais poderosa que o Rahakanariwa? - perguntou Tahama incrédulo.
- Eu não, mas há outra mulher que é muito poderosa. Ela tem vacinas que podem evitar as epidemias - disse a rapariga.
Nadia e Alex passaram a hora seguinte tentando convencer os índios de que nem todos os nahab eram demónios nefastos, havia alguns que eram amigos, como a doutora Omayra Torres. Às limitações da linguagem juntavam-se as diferenças culturais. Como explicar-lhes em que consistia uma vacina? Eles próprios não o entendiam muito bem, de modo que optaram por dizer que era uma magia muito forte.
- A única salvação é aquela mulher vir vacinar todo o povo da neblina - argumentou Nadia. - Dessa forma, mesmo que venham os nahab ou o Rahakanariwa sedentos de sangue, não poderão causar-vos mal com doenças.
- Podem ameaçar-nos de outras maneiras. Nessa altura iremos para a guerra - afirmou Tahama.
- A guerra contra os nahab não é boa ideia... - aventurou Nadia.
- O próximo chefe terá de decidir - concluiu Tahama.
Walimai encarregou-se de dirigir os ritos funerários de Mokarita de acordo com as mais antigas tradições. Apesar do perigo de serem vistos do ar, os índios acenderam uma grande fogueira para cremar o corpo e durante horas os restos mortais do chefe consumiram-se, enquanto os habitantes da aldeia lamentavam a sua partida. Walimai preparou uma poção mágica, a poderosa ayahuasca, para ajudar os homens da tribo a ver o fundo dos seus corações. Os jovens forasteiros foram convidados porque deviam cumprir uma missão heróica mais importante que as suas próprias vidas, para a qual não necessitavam apenas da ajuda dos deuses, devendo também conhecer as suas próprias forças. Eles não se atreveram a recusar, apesar de o sabor daquela poção ser asqueroso e terem de fazer um esforço enorme para a engolir e manter no estômago. Só sentiram os seus efeitos muito mais tarde, quando subitamente o chão se desfez sob os seus pés e o céu se encheu de figuras geométricas e de cores brilhantes, os seus corpos começaram a girar e a dissolver-se e o pânico os invadiu até à última fibra. Justamente quando achavam ter atingido a morte, sentiram-se projectados a uma velocidade aterradora através de inúmeras câmaras de luz e de repente as portas do reino dos deuses totémicos abriram-se, exigindo-lhes que entrassem.
Alex sentiu que as suas extremidades se alongavam e que um calor ardente o invadia por dentro. Olhou para as mãos e viu que eram duas patas terminadas em garras afiadas. Abriu a boca para gritar e um rugido terrível brotou-lhe do ventre. Viu-se transformado num felino grande, negro e lustroso: o magnífico jaguar macho que tinha visto no acampamento de Mauro Carias. O animal não estava nele, nem ele estava no animal, em vez disso os dois fundiam-se num único ser; eram ambos, simultaneamente, o rapaz e a fera. Alex deu alguns passos esticando-se, experimentando os seus músculos, e compreendeu que possuía a ligeireza, a velocidade e a força do jaguar. Correu com grandes saltos de gato pelo bosque, possuído por uma energia sobrenatural. De um salto trepou para o ramo de uma árvore e daí observou a paisagem com os seus olhos de ouro, balançando lentamente a sua cauda negra no ar. Soube que era poderoso, temido, solitário, invencível, o rei da selva sul-americana. Não havia outro animal tão feroz como ele.
Nadia elevou-se nos céus e, por alguns instantes, perdeu o medo das alturas, que sempre a tinha oprimido. As suas poderosas asas de águia-fêmea quase não se mexiam: o ar frio suportava-a e bastava o mais leve movimento para mudar o rumo ou a velocidade da viagem. Voava a uma grande altura, tranquila, indiferente, desinteressada, observando sem curiosidade a terra lá em baixo. De cima via a selva e os cumes planos dos tepuis, muitos deles cobertos de nuvens como se estivessem coroados de espuma; via também a ténue coluna de fumo da fogueira onde ardiam os restos mortais do chefe Mokarita. Suspensa no vento, a águia era tão invencível como o jaguar o era em terra: nada podia atingi-la. A menina-pássaro deu várias voltas olímpicas sobrevoando o Olho do Mundo, examinando de cima a vida dos índios. As penas da sua cabeça eriçaram-se como centenas de antenas, captando o calor do sol, a vastidão do vento, a dramática emoção da altura. Soube que era a protectora desses índios, a mãe-águia do povo da neblina. Voou sobre a aldeia de Tapirawa-teri e a sombra das suas asas magníficas cobriu como um manto os telhados quase invisíveis das pequenas cabanas escondidas no bosque. Por fim, o grande pássaro dirigiu-se para o cume de um tepui, para a montanha mais alta onde, no seu ninho, exposto a todos os ventos, brilhavam três ovos de cristal.
Na manhã do dia seguinte, quando os jovens regressaram do mundo dos animais totémicos, cada qual contou a sua experiência.
- O que significam esses três ovos? - perguntou Alex.
- Não sei, mas são muito importantes. Aqueles ovos não são meus, Jaguar, mas tenho de consegui-los para salvar o povo da neblina.
- Não entendo. O que têm esses ovos que ver com os índios?
-Acho que têm muito que ver... - replicou Nadia, tão confusa como ele.
Quando as brasas da pira funerária arrefeceram, lyomi, a mulher de Mokarita, separou os ossos calcinados, moeu-os com uma pedra até os transformar num pó fino e misturou-os com água e banana para fazer uma sopa. A cabaça com esse líquido cinzento passou de mão em mão e todos, até as crianças, beberam um gole. Depois enterraram a cabaça e o nome do chefe foi esquecido, para que mais ninguém voltasse a pronunciá-lo. A memória do homem, bem como as partículas da sua coragem e da sua sabedoria que tinham ficado nas cinzas, passaram para os seus descendentes e amigos. Dessa forma, uma parte de si permaneceria para sempre entre os vivos. Deram também a beber, a Nadia e a Alex, a sopa de ossos, como uma forma de baptismo: agora pertenciam à tribo. Ao levá-la aos lábios, o rapaz lembrou-se do que tinha lido sobre uma doença causada por «comer o cérebro dos antepassados». Fechou os olhos e bebeu com respeito.
Uma vez concluída a cerimónia do funeral, Walimai intimou a tribo a eleger o novo chefe. De acordo com a tradição, só os homens podiam aspirar a essa posição, mas Walimai explicou que desta vez deviam escolher com grande prudência porque viviam tempos muito estranhos que exigiam um chefe capaz de compreender os mistérios de outros mundos, de comunicar com os deuses e de manter o Rahakanariwa à distância. Disse que eram tempos de seis luas no firmamento, tempos em que os deuses se tinham visto obrigados a abandonar a sua morada. À menção dos deuses, os índios levaram as mãos à cabeça e começaram a balançar-se para a frente e para trás, salmodiando alguma coisa que, aos ouvidos de Nadia e Alex, soava como uma oração.
- Todos em Tapirawa-teri, até as crianças, devem participar na eleição do novo chefe - instruiu Walimai.
A tribo esteve o dia inteiro propondo candidatos e negociando. Ao entardecer, Nadia e Alex adormeceram, esgotados, esfomeados e aborrecidos. O rapaz americano tentara em vão explicar a forma de escolher através do voto, como numa democracia, mas os índios não sabiam contar e o conceito da votação pareceu-lhe tão incompreensível como o das vacinas. Eles elegiam por «visões».
Os jovens foram acordados por Walimai, já a noite ia alta, com a notícia de que a visão mais forte tinha sido lyomi, de modo que a viúva de Mokarita era agora o chefe em Tapirawa-teri. Era a primeira vez, desde que conseguiam recordar-se, que uma mulher ocupava esse cargo.
A primeira ordem que a velha lyomi deu assim que colocou o chapéu de penas amarelas, usado tantos anos pelo marido, foi que preparassem comida. A ordem foi acatada de imediato, porque o povo da neblina estava há dois dias sem comer nada excepto um gole de sopa de ossos. Tahama e outros caçadores partiram com as suas armas para a selva e algumas horas mais tarde regressaram com um urso-formigueiro e um veado, que esquartejaram e assaram nas brasas. Entretanto as mulheres tinham feito pão de mandioca e cozido de banana. Quando todos os estômagos ficaram saciados, lyomi convidou o seu povo a sentar-se num círculo e promulgou o seu segundo edicto.
- Vou nomear outros chefes. Um chefe para a guerra e para a caça: Tahama. Um chefe para aplacar o Rahakanariwa: a menina cor de mel chamada Águia. Um chefe para negociar com os nahab e com os seus pássaros de ruído e vento: o forasteiro chamado Jaguar. Um chefe para visitar os deuses: Walimai. Um chefe para os chefes: lyomi.
Dessa forma, a sábia mulher distribuiu o poder e organizou o povo da neblina para enfrentar os tempos terríveis que se avizinhavam. E, assim, Nadia e Alex viram-se investidos de uma responsabilidade para a qual nenhum dos dois se sentia capacitado.
lyomi deu a sua terceira ordem ali mesmo. Disse que a menina Águia devia manter a sua «alma branca» para enfrentar o Rahakanariwa, única forma de evitar ser devorada pelo pássaro canibal, mas que o jovem forasteiro, Jaguar, deveria converter-se em homem e receber as suas armas de guerreiro. Qualquer varão, antes de empunhar as suas armas ou pensar em casar-se, devia morrer como menino e nascer como homem. Não havia tempo para a cerimónia tradicional, que durava três dias e incluía normalmente todos os rapazes da tribo que tinham atingido a puberdade. No caso do Jaguar deveriam improvisar uma coisa mais rápida, disse Iyomi, porque o jovem acompanharia a Águia na viagem à montanha dos deuses. O povo da neblina estava em perigo, só esses dois forasteiros poderiam trazer a salvação e eram obrigados a partir rapidamente.
Walimai e Tahama foram encarregados de organizar o ritual de iniciação de Alex, no qual só participavam homens adultos. Mais tarde, o rapaz contou a Nadia que, se tivesse sabido em que consistiria a cerimónia, talvez a experiência tivesse sido menos aterradora. Sob a direcção de lyomi, as mulheres raparam-lhe o cocuruto com uma pedra afiada, método bastante doloroso, porque tinha um corte que ainda não cicatrizara, da pancada que lhe tinham dado ao raptá-lo. Ao passar a pedra de barbear a ferida abriu, mas aplicaram-lhe um pouco de lama e, passado pouco tempo, deixou de sangrar. Depois as mulheres pintaram-no de preto dos pés à cabeça com uma pasta de cera e carvão. A seguir teve de se despedir da sua amiga e de lyomi, porque as mulheres não podiam estar presentes durante a cerimónia e foram passar o dia no bosque com as crianças. Só regressariam à aldeia à noite, quando os guerreiros o tivessem levado para a prova da sua iniciação.
Tahama e os seus homens desenterraram do lodo do rio os instrumentos musicais sagrados, que só usavam nas cerimónias viris. Eram uns tubos grossos de um metro e meio de comprimento que, ao serem soprados, produziam um som rouco e pesado, como mugidos de touro. As mulheres e os rapazes que ainda não tinham sido iniciados não podiam vê-los, sob pena da magia os fazer adoecer e morrer. Aqueles instrumentos representavam o poder masculino da tribo, a relação entre os pais e os filhos varões. Sem aquelas trompetas, todo o poder estaria nas mulheres, que possuíam a faculdade divina de ter filhos ou «fazer gente», como diziam.
O ritual começou de manhã e teria de durar todo o dia e toda a noite. Deram-lhe de comer umas amoras amargas e deixaram-no enroscado no chão, em posição fetal. Depois, dirigidos por Walimai, pintados e decorados com os atributos dos demónios, distribuíram-se à volta dele num círculo apertado, batendo na terra com os pés e fumando cigarros de folhas. Entre as amoras amargas, o susto e o fumo, Alex depressa se sentiu bastante doente.
Durante muito tempo os guerreiros dançaram e salmodiaram cânticos em volta dele, soprando as pesadas trompetas sagradas, cujas extremidades tocavam no chão. O som ecoava no cérebro confuso do rapaz. Durante horas ouviu os cantos repetindo a história do Sol Pai, que estava para lá do Sol quotidiano que iluminava o céu, e que era um fogo invisível de onde provinha a Criação. Ouviu a história da gota de sangue que se desprendeu da Lua para dar origem ao primeiro homem. Entoaram canções sobre o Rio de Leite, que continha todas as sementes da vida, mas também putrefacção e morte; que esse rio conduzia ao reino onde os xamanes, como Walimai, se encontravam com os espíritos e com outros seres sobrenaturais para receberem sabedoria e poder de curar. Disseram que tudo o que existe é sonhado pela Terra Mãe, que cada estrela sonha os seus habitantes e tudo o que acontece no universo é uma ilusão, apenas sonhos dentro de outros sonhos. No meio do seu aturdimento, Alexander Cold sentiu que aquelas palavras se referiam a conceitos que ele próprio pressentira, e deixou então de raciocinar abandonando-se à estranha experiência de «pensar com o coração».
Passaram as horas e o rapaz foi perdendo o sentido do tempo, do espaço, da sua própria realidade, afundando-se num estado de terror e profunda fadiga. A determinada altura sentiu que o levantavam e o obrigavam a marchar. Só então se apercebeu de que caíra a noite. Dirigiram-se em procissão até ao rio, tocando os seus instrumentos e brandindo as suas armas. Aí mergulharam-no várias vezes na água, até julgar que ia morrer afogado. Esfregaram-no com folhas abrasivas para soltar a pintura negra e depois colocaram-lhe pimenta sobre a pele ardente. A meio de uma gritaria ensurdecedora, bateram-lhe com varinhas nas pernas, nos braços, no peito e no ventre, mas sem intenção de lhe fazer mal. Ameaçaram-no com as suas lanças, tocando-o às vezes com as pontas, mas sem o ferirem. Tentavam assustá-lo por todos os meios possíveis e conseguiram-no, porque o rapaz americano não entendia o que estava a acontecer e receava que a qualquer momento os seus atacantes exagerassem e o assassinassem a sério. Tentava defender-se das palmadas e empurrões dos guerreiros de Tapirawa-teri, mas o instinto indicou-lhe que não devia tentar fugir, porque seria inútil, não havia para onde ir naquele território desconhecido e hostil. Foi uma decisão acertada, porque se o fizesse teria parecido um cobarde, o defeito mais imperdoável de um guerreiro.
Quando Alex estava prestes a perder o controlo e a ficar histérico, lembrou-se de repente do seu animal totémico. Não teve de fazer nenhum esforço extraordinário para entrar no corpo do jaguar negro, a transformação ocorreu com rapidez e facilidade: o rugido que lhe saiu da garganta foi o mesmo de antes, as sapatadas das suas garras já as conhecia, o salto sobre as cabeças dos seus inimigos foi um acto natural. Os índios festejaram a chegada do jaguar com uma algaraviada ensurdecedora e seguidamente conduziram-no numa procissão solene até à árvore sagrada, onde Tahama esperava para a prova final.
Amanhecia na selva. As formigas de fogo estavam presas num tubo ou manga de palha entrançada, como as que se usavam para espremer o ácido prússico da mandioca, que Tahama segurava com duas varinhas, para evitar o contacto com os insectos. Alex, esgotado depois daquela longa e aterradora noite, demorou um pouco a perceber o que esperavam dele. Então aspirou profundamente, enchendo os pulmões de ar frio, convocou em sua ajuda a coragem do seu pai, alpinista, e a resistência da sua mãe, que nunca se dava por vencida e a força do seu animal totémico, introduzindo seguidamente no tubo o seu braço esquerdo, até ao cotovelo.
As formigas de fogo passearam pela sua pele durante alguns segundos antes de o picarem. Quando o fizeram, sentiu que o queimavam com ácido até ao osso. A dor pavorosa aturdiu-o por alguns instantes, mas recorrendo a uma tremenda força de vontade não retirou o braço da manga. Lembrou-se das palavras de Nadia quando tentava ensiná-lo a conviver com os mosquitos: não te defendas, ignora-os. Era impossível ignorar as formigas de fogo, mas depois de alguns minutos de total desespero, durante os quais esteve prestes a desatar a correr para se lançar ao rio, apercebeu-se de que era possível controlar o impulso da fuga, deter o clamor do peito, abrir-se ao sofrimento sem lhe opor resistência, permitindo que este o penetrasse até à última fibra do seu ser e da sua consciência. E, nessa altura, a dor da queimadura trespassou-o como uma espada, saiu-lhe pelas costas e, milagrosamente, conseguiu suportá-la. Alex nunca poderia explicar a impressão de poder que o invadiu durante esse suplício. Sentiu-se tão forte e invencível como o estivera na forma do jaguar negro, ao beber a poção mágica de Walimai. Essa foi a sua recompensa por ter sobrevivido à prova. Soube que, na verdade, a sua infância tinha ficado para trás e que, a partir dessa noite, podia valer-se sozinho.
- Bem-vindo entre os homens - disse Tahama, retirando a manga do braço de Alex.
Os guerreiros conduziram o jovem semi-inconsciente de regresso à aldeia.
Banhado em transpiração, dorido e ardendo em febre, Alexander Cold, Jaguar, percorreu o longo corredor verde, passou o umbral de alumínio e viu a sua mãe. Lisa Cold estava reclinada numa poltrona, apoiada em almofadas, coberta por um lençol, num quarto onde a luz era branca, como a claridade da lua. Tinha um gorro de lã azul na sua cabeça calva e auscultadores nos ouvidos, estava muito pálida e consumida, com sombras escuras em volta dos olhos. Tinha uma sonda fina ligada a uma veia sob a clavícula, por onde pingava um líquido amarelo de um saco de plástico. Cada gota penetrava como o fogo das formigas directamente para o coração da sua mãe.
A milhares de milhas de distância, num hospital do Texas, Lisa Cold fazia a sua quimioterapia. Tentava não pensar na droga que, como um veneno, -lhe entrava nas veias para combater o veneno pior da sua doença. Para se distrair, concentrava-se em cada nota do concerto de flauta que estava a ouvir, o mesmo que tantas vezes ouviu o seu filho ensaiar. No mesmo momento em que Alex, delirante, sonhava com ela em plena selva, Lisa Cold viu o seu filho com toda a nitidez. Viu-o de pé à porta do seu quarto, mais alto e mais corpulento, mais maduro e mais bonito do que se lembrava. Lisa chamara-o tanto com o pensamento, que não estranhou vê-lo chegar. Não perguntou a si própria como nem por que vinha. Abandonou-se simplesmente à felicidade de o ter ao seu lado. Alexander... Alexander... murmurou. Estendeu as mãos e ele avançou até tocá-la, ajoelhou-se junto da poltrona e colocou a cabeça sobre os seus joelhos. Enquanto Lisa Cold repetia o nome do seu filho e lhe acariciava a nuca, ouviu pelos auscultadores, entre as notas diáfanas da flauta, a voz dele pedindo-lhe que lutasse, que não se rendesse à morte, dizendo-lhe uma e outra vez amo-te mamã.
O encontro de Alexander Cold com a mãe pode ter durado um instante ou várias horas, nenhum dos dois o soube com certeza. Quando, por fim, se despediram, os dois regressaram ao mundo material fortalecidos. Pouco depois John Cold entrou no quarto da mulher e admirou-se ao vê-la sorrindo e com as faces coradas.
- Como te sentes, Lisa? - perguntou, solícito.
- Contente, John, porque Alex veio ver-me - respondeu ela.
- Lisa, o que dizes...! Alexander está no Amazonas com a minha mãe, não te lembras? - murmurou o marido, aterrado com o efeito que os medicamentos podiam ter na mulher.
- Claro que me lembro, mas isso não impede que tenha estado aqui há momentos.
- Não pode ser... - rebateu-a o marido.
- Cresceu, parece mais alto e forte, mas tem o braço esquerdo muito inchado... - contou ela, fechando os olhos para descansar.
No centro do continente sul-americano, no Olho do Mundo, Alexander Cold acordou do seu estado febril. Demorou alguns minutos a reconhecer a rapariga dourada que se inclinava ao seu lado para lhe dar água.
- Já és um homem, Jaguar - disse Nadia, sorrindo aliviada ao vê-lo de volta ao mundo dos vivos.
Walimai preparou e aplicou sobre o braço de Alex uma pasta de plantas medicinais que fez ceder, em poucas horas, a febre e o inchaço. O xamã explicou-lhe que, tal como na selva há venenos que matam sem deixar rasto, existem milhares e milhares de
remédios naturais. O rapaz descreveu-lhe a doença da sua mãe e perguntou-lhe se conhecia alguma planta capaz de aliviá-la.
- Há uma planta sagrada, que deve misturar-se com a água da saúde - replicou o xamã.
- Posso arranjar essa planta e essa água?
- Pode ser que sim e pode ser que não. É preciso passar por muitos trabalhos.
- Farei tudo o que for necessário! - exclamou Alex.
No dia seguinte o jovem estava magoado e em cada picada de formiga ostentava uma borbulha vermelha, mas estava em pé e com apetite. Quando contou a sua experiência a Nadia, ela disse-lhe que as meninas da tribo não passavam por uma cerimónia de iniciação, porque não precisavam dela. As mulheres sabem quando deixam para trás a infância porque o corpo lhes sangra, avisando-as dessa forma.
Aquele era um dos dias em que Tahama e os seus companheiros não tinham tido sorte com a caça e a tribo só dispunha de milho e de alguns peixes. Alex decidiu que se anteriormente fora capaz de comer anaconda assada, podia bem provar aquele peixe, embora estivesse cheio de escamas e de espinhas. Surpreendido, descobriu que gostava bastante. E pensar que me privei deste prato delicioso por mais de quinze anos! - exclamou ao segundo bocado. Nadia aconselhou-o a comer bastante, porque no dia seguinte partiriam com Walimai numa viagem ao mundo dos espíritos, onde talvez não houvesse alimento para o corpo.
- Walimai diz que iremos à montanha sagrada, onde vivem os deuses - disse Nadia.
- O que faremos aí?
- Procuraremos os três ovos de cristal que apareceram na minha visão. Walimai acha que os ovos salvarão o povo da neblina.
A viagem começou ao amanhecer, mal surgiu o primeiro raio de luz no firmamento. Walimai ia à frente, acompanhado pela sua bela mulher-anjo, que às vezes ia de mão dada com o xamã e às vezes voava como uma borboleta por cima da sua cabeça, sempre silenciosa e sorridente. Alexander Cold ostentava orgulhoso um arco e flechas, as novas armas entregues por Tahama no fim do ritual de iniciação. Nadia levava uma cabaça com sopa de banana e uns bolos de mandioca, que Iyomi lhes tinha dado para o caminho. O feiticeiro não precisava de provisões, porque na sua idade comia-se muito pouco, segundo disse. Não parecia humano: alimentava-se com goles de água e algumas nozes que chupava demoradamente com as suas gengivas desdentadas, mal dormia e tinha forças de sobra para continuar a andar quando os jovens já caíam de cansaço.
Puseram-se a andar pelos bosques do planalto na direcção do mais alto dos tepuis, uma torre preta e brilhante, como uma escultura de obsidiana. Alex consultou a sua bússola e viu que se dirigiam sempre para leste. Não existia uma vereda visível, mas Walimai interrava-se na vegetação com uma segurança espantosa, orientando-se entre as árvores, vales, colinas, rios e cascatas como se levasse um mapa na mão. À medida que avançavam, a Natureza mudava. Walimai apontou para a paisagem dizendo que esse era o reino da Mãe das Águas e na verdade havia uma profusão incrível de cataratas e quedas-d'água. Até ali os garimpeiros ainda não tinham chegado, à procura de ouro e pedras preciosas, mas era tudo uma questão de tempo. Os mineiros trabalhavam em grupos de quatro ou cinco e eram demasiado pobres para disporem de transporte aéreo. Deslocavam-se a pé num terreno cheio de obstáculos ou de canoa pelos rios. No entanto, havia homens como Mauro Carías, que sabiam das imensas riquezas da zona e dispunham de recursos modernos. A única coisa que os impedia de explorar as minas com jorros de água à pressão capazes de pulverizar o bosque e transformar a paisagem num lodaçal, eram as novas leis de protecção ao meio ambiente e aos indígenas. As primeiras eram constantemente violadas, mas já não era tão fácil fazer o mesmo com as segundas, porque os olhos do mundo estavam postos nesses índios do Amazonas, últimos sobreviventes da Idade da Pedra.
Já não podiam exterminá-los à bala e a fogo, como tinham feito até há muito poucos anos, sem provocar uma reacção internacional.
Alex avaliou uma vez mais a importância das vacinas da doutora Omayra Torres e da reportagem da sua avó para a International Geographic, que alertaria outros países para a situação dos índios. O que significavam os três ovos de cristal que Nadia vira no seu sonho? Por que razão tinham de fazer aquela viagem com o xamã? Parecia-lhe mais útil tentar reunir-se à expedição, recuperar as vacinas e a sua avó publicar o artigo. Ele tinha sido designado por Iyomi como «chefe para negociar com os nahab e com os seus pássaros de ruído e vento», mas em vez de cumprir a sua tarefa, estava a afastar-se cada vez mais da civilização. Não havia qualquer lógica no que estavam a fazer, pensou com um suspiro. Diante dele erguiam-se os misteriosos e solitários tepuis como construções de outro planeta.
Os três viajantes caminharam de sol a sol, a bom ritmo, parando para refrescar os pés e beber água nos rios. Alex tentou caçar um tucano que descansava num ramo a poucos metros, mas a sua flecha não acertou o alvo. Depois apontou para um macaco que estava tão perto que podia ver a sua dentadura amarela, e também não conseguiu caçá-lo. O macaco devolveu-lhe o gesto com macaquices, que lhe pareceram francamente sarcásticas. Pensou como lhe serviam de pouco as suas novas armas de guerreiro. Se os seus companheiros dependessem dele para se alimentarem, morreriam de fome. Walimai mostrou algumas nozes, que eram saborosas, e os frutos de uma árvore que o rapaz não conseguiu apanhar.
Os índios tinham os dedos dos pés muito separados, fortes e flexíveis, conseguiam subir com uma agilidade incrível por paus lisos. Aqueles pés, embora calosos como pele de crocodilo, eram também muito sensíveis: chegavam a utilizá-los para tecer canastas ou cordas. Na aldeia, os miúdos começavam a tentar trepar assim que se punham de pé. Alexander, pelo contrário, com toda a sua experiência em escalar montanhas, não foi capaz de se empoleirar na árvore para apanhar a fruta. Walimai, Nadia e Borobá choravam de tanto rir com os seus esforços falhados e nenhum deles demonstrou um pingo de simpatia quando aterrou sentado, numa queda de uma altura considerável, magoando as nádegas e o orgulho. Sentia-se pesado e desajeitado como um paquiderme.
Ao entardecer, depois de muitas horas de marcha, Walimai disse-lhes que podiam descansar. Meteu-se no rio com a água até aos joelhos, imóvel e silencioso, até os peixes se esquecerem da sua presença e começarem a rondá-lo. Quando teve uma presa ao alcance da sua arma, trespassou-a com a sua pequena lança e entregou a Nadia um bonito peixe prateado, ainda agitando a cauda.
- Como é que o faz tão facilmente? - quis saber Alex, humilhado pelos seus fracassos anteriores.
- Pede licença ao peixe, explica-lhe que tem de o matar por necessidade; depois agradece-lhe por oferecer a sua vida para nós vivermos - esclareceu-lhe a rapariga.
Alexander pensou que no início da viagem ter-se-ia rido da ideia, mas agora ouvia com atenção o que lhe contava a amiga.
- O peixe entende porque antes comeu outros. Agora é a sua vez de ser comido. As coisas são assim - acrescentou ela.
O xamã preparou uma pequena fogueira para assar o jantar, que lhes devolveu as forças, mas ele só bebeu água. Os jovens dormiram enroscados entre as grossas raízes de uma árvore para se defenderem do frio, porque não houve tempo para preparar redes com cascas de árvores, como tinham visto na aldeia; estavam cansados e tinham de seguir viagem muito cedo. Cada vez que um deles se mexia, o outro fazia por ficar o mais junto possível, de modo a infundirem calor um ao outro durante a noite. Entretanto o velho Walimai, de cócoras e imóvel, passou as horas observando o firmamento, enquanto ao seu lado a sua mulher-anjo velava como uma fada transparente, vestida apenas com os seus cabelos negros. Quando os jovens acordaram, o índio estava exactamente na mesma posição em que o tinham visto na noite anterior, invulnerável ao frio e à fadiga. Alex perguntou a si próprio há quanto tempo viveria, onde ia buscar a sua energia e a sua saúde de ferro. O ancião explicou que tinha visto nascer muitas crianças que depois se converteram em avós, que também tinha visto morrer esses avós e nascer os seus netos. Quantos anos? Encolheu os ombros: não se importava ou não sabia. Disse que era o mensageiro dos deuses, costumava ir ao mundo dos imortais onde não existiam as doenças que matam os homens. Alex lembrou-se da lenda do El Dorado, que não continha apenas riquezas fabulosas mas também a fonte da eterna juventude.
- A minha mãe está muito doente... - murmurou Alex, comovido com a lembrança. A experiência de se ter transportado mentalmente ao hospital do Texas para estar com ela tinha sido tão real, que não conseguia esquecer-se dos pormenores, desde o cheiro a medicamentos que havia no quarto, até às pernas magras de Lisa Cold sob o lençol, onde ele tinha apoiado a cabeça.
- Todos morremos - disse o xamã.
- Sim, mas ela é jovem.
- Uns partem jovens, outros velhos. Eu já vivi demasiado, gostaria que os meus ossos descansassem na memória de outros - disse Walimai.
Ao meio-dia do dia seguinte chegaram à base do mais alto tepui do Olho do Mundo, um gigante cujo cume desaparecia numa coroa espessa de nuvens brancas. Walimai explicou que o cume nunca se via e que ninguém, nem sequer o poderoso Rahakanariwa tinha visitado esse sítio sem ser convidado pelos deuses. Acrescentou que há muitos milhares de anos, desde o começo da vida, quando os seres humanos foram criados com o calor do Sol Pai, o sangue da Lua e o barro da Terra Mãe, já o povo da neblina conhecia a existência da morada dos deuses na montanha. Em cada geração havia uma pessoa, sempre um xamã que passara por muitos trabalhos de expiação, que era designada para visitar o tepui e servir de mensageiro. Esse papel coubera-lhe a ele, tinha estado ali muitas vezes, tinha vivido com os deuses e conhecia os seus costumes. Estava preocupado, contou-lhes, porque ainda não tinha treinado o seu sucessor. Se ele morresse, quem seria o mensageiro? Em cada uma das suas viagens espirituais procurara-o, mas nenhuma visão viera em seu auxílio. Não podia ser treinada qualquer pessoa, devia ser alguém nascido com alma de xamã, alguém que tivesse o poder de curar, de dar conselhos e de interpretar os sonhos. Essa pessoa demonstrava o seu talento desde muito nova; tinha de ser bastante disciplinada para vencer as tentações e controlar o seu corpo: um bom xamã carecia de desejos e necessidades. Isto foi, em resumo, o que os jovens perceberam do longo discurso do feiticeiro, que falava em círculos, repetindo, como se recitasse um poema interminável. Pareceu-lhes claro, no entanto, que mais ninguém para além dele era autorizado a cruzar o umbral do mundo dos deuses, embora em raras ocasiões extraordinárias outros índios tenham também entrado. Esta seria a primeira vez que se admitiam visitantes forasteiros desde o início dos tempos.
- Como é o recinto dos deuses? - perguntou Alex.
- Maior que o maior dos shabonos, brilhante e amarelo como o sol.
- O El Dorado! Será essa lendária cidade de ouro que os conquistadores procuraram? - perguntou o rapaz ansiosamente.
- Pode ser e pode não ser - respondeu Walimai, que carecia de referências para saber o que era uma cidade, reconhecer o ouro ou imaginar os conquistadores.
- Como são os deuses? São como a criatura que nós denominamos a Besta?
- Podem ser e podem não ser.
- Por que nos trouxe até aqui?
- Por causa das visões. O povo da neblina pode ser salvo por uma águia e por um jaguar, por isso vocês foram convidados a visitar a morada secreta dos deuses.
- Seremos dignos dessa confiança. Nunca revelaremos a entrada... - prometeu Alex.
- Não conseguiriam. Se saírem vivos, esquecê-la-ão - replicou o índio com simplicidade.
Se sair vivo... Alexander nunca colocara a hipótese de morrer jovem. No fundo considerava a morte uma coisa bastante desagradável que acontecia aos outros. Apesar dos perigos que enfrentara nas últimas semanas, nunca duvidou de que voltaria a reunir-se com a sua família. Preparava mesmo as palavras a que recorreria para contar as suas aventuras, embora tivesse poucas esperanças de ser levado a sério. Qual dos seus amigos conseguiria imaginar que ele estava entre seres da Idade da Pedra e que poderia mesmo encontrar o El Dorado?
Ao pé do tepui, apercebeu-se de que a vida estava cheia de surpresas. Antes não acreditava no destino, parecia-lhe um conceito fatalista, achava que cada um é livre de fazer da sua vida o que lhe apetecer e ele estava decidido a fazer algo muito bom da sua, triunfar e ser feliz. Agora tudo isso lhe parecia absurdo. Já não podia confiar apenas na razão, tinha entrado no território incerto dos sonhos, da intuição e da magia. O destino existia e às vezes era preciso lançar-se à aventura e desembaraçar-se improvisando de qualquer maneira, tal como o fizera quando a avó o empurrou para a água aos quatro anos e teve de aprender a nadar. Não havia outro remédio senão mergulhar nos mistérios que o rodeavam. Uma vez mais teve consciência dos riscos. Estava sozinho a meio da região mais remota do planeta, onde as leis conhecidas não se aplicavam. Tinha de admiti-lo: a sua avó fizera-lhe um enorme favor ao arrancá-lo da segurança da Califórnia e atirá-lo para este mundo estranho. Não fora apenas Tahama e as suas formigas de fogo que o tinham iniciado como adulto. A indescritível Kate Cold também o fizera.
Walimai deixou os seus dois companheiros de viagem descansando junto de um regato, com instruções de o esperarem, e partiu sozinho. Naquela zona do planalto a vegetação era menos densa e o sol do meio-dia caía como chumbo sobre as suas cabeças. Nadia e Alex atiraram-se à água, aterrorizando as enguias eléctricas e as tartarugas que repousavam no fundo, enquanto Borobá caçava moscas e coçava as pulgas na margem. O rapaz sentiu-se completamente à vontade com aquela rapariga, divertia-se e confiava nela porque, naquele ambiente, era muito mais sábia do que ele. Parecia-lhe estranho sentir tanta admiração por alguém da idade da sua irmã. Às vezes caía na tentação de a comparar com Cecilia Bums, mas não havia por onde começar a fazê-lo: eram totalmente diferentes.
Cecilia Bums ficaria tão perdida na selva como Nadia Santos numa cidade. Cecilia desenvolvera-se cedo e, aos quinze anos, já era uma jovem mulher. Ele não era o seu único apaixonado, todos os rapazes da escola tinham as mesmas fantasias. Nadia, pelo contrário, ainda era comprida e estreita como um junco, sem formas femininas, só osso e pele bronzeada, um ser andrógino com cheiro a bosque. Apesar do seu aspecto infantil, inspirava respeito: possuía aprumo e dignidade. Talvez por não ter irmãs ou amigas da sua idade, agia como um adulto; era séria, silenciosa, concentrada, não tinha a atitude maçadora das outras raparigas que tanto aborrecia Alex. Detestava quando as raparigas cochichavam e riam entre si, sentia-se inseguro, pensava que troçavam dele.
- Não estamos sempre a falar de ti, Alexander Cold, há outros temas mais interessantes - dissera-lhe uma vez Cecilia Bums diante da turma toda. Achou que Nadia nunca o humilharia dessa forma.
O velho xamã regressou algumas horas mais tarde, fresco e sereno como sempre, com dois paus untados com uma resina semelhante à que tinham utilizado os índios para subir pelos lados da cascata. Anunciou que tinha encontrado a entrada da montanha dos deuses e, depois de esconder o arco e as flechas, que não poderiam usar, convidou-os a segui-lo.
Aos pés do tepui a vegetação consistia em fetos enormes, que cresciam emaranhados como estopa. Tinham de avançar com muito cuidado e lentamente, separando as folhas e abrindo caminho com dificuldade. Assim que se meteram sob essas plantas gigantes, o céu desapareceu, afundaram-se num universo vegetal, o tempo parou e a realidade perdeu as suas formas conhecidas. Entraram num dédalo de folhas palpitantes, de orvalho perfumado a almíscar, de insectos fluorescentes e de flores suculentas que pingavam um mel azul e espesso. O ar tornou-se pesado como hálito de fera, havia um zumbido constante, as pedras ardiam como brasas e a terra era cor de sangue. Alexander agarrou-se com uma mão ao ombro de Walimai e prendeu Nadia com a outra, consciente de que separando-se alguns centímetros os fetos engoli-los-iam e nunca mais voltariam a encontrar-se. Borobá ia aferrado ao corpo da dona, silencioso e atento. Tinham de afastar dos olhos as delicadas teias de aranha bordadas de mosquitos e de gotas de orvalho, que se estendiam como renda entre as folhas. Mal conseguiam ver os pés, de modo que deixaram de querer saber o que seria aquela matéria avermelhada, viscosa e quente onde se afundavam até aos tornozelos.
O rapaz não conseguia imaginar o que levava o xamã a reconhecer o caminho, talvez o guiasse a sua mulher-anjo; às vezes tinha a certeza de que andavam às voltas no mesmo sítio, sem avançar um único passo. Não havia pontos de referência, apenas a vegetação voraz envolvendo-os no seu abraço reluzente. Quis consultar a sua bússola, mas a agulha agitava-se enlouquecida, acentuando a impressão de andarem aos círculos. De repente Walimai parou, afastou um feto que em nada se diferenciava dos outros e viram-se diante de uma abertura na encosta do monte, como uma toca de raposas.
O feiticeiro entrou gatinhando e eles seguiram-no. Era uma
passagem estreita de uns três ou quatro metros de comprimento, que se abria numa gruta espaçosa, iluminada apenas por um raio de luz proveniente do exterior, onde puderam pôr-se de pé. Walimai tratou de esfregar duas pedras para fazer lume com paciência, enquanto Alex pensava que nunca mais sairia da sua casa sem fósforos. Por fim a faísca das pedras acendeu uma palha, que Walimai usou para acender a resina de uma das tochas.
À luz vacilante viram erguer-se uma nuvem escura e compacta de milhares e milhares de morcegos. Estavam numa caverna de rocha, rodeados de água que pingava pelas paredes e cobria o chão como uma lagoa escura. Vários túneis naturais saíam em diferentes direcções, uns mais largos que outros, formando um intrincado labirinto subterrâneo. Sem hesitar, o índio dirigiu-se para um dos corredores, com os jovens pisando-lhe os calcanhares.
Alex lembrou-se da história do fio de Ariadne que, de acordo com a mitologia grega, permitiu a Teseu regressar das profundezas do labirinto, depois de matar o feroz Minotauro. Ele não tinha um rolo de cordel para assinalar o caminho e perguntou a si próprio como sairiam dali no caso de Walimai não poder. Como a agulha da bússola vibrava sem rumo, deduziu que se encontravam num campo magnético. Quis deixar marcas nas paredes com a navalha, mas a rocha era dura como granito e seriam precisas horas para fazer um corte. Avançavam de um túnel para outro, sempre a subir pelo interior do tepui, com a tocha improvisada como única defesa contra as trevas absolutas que os rodeavam. Nas entranhas da terra não reinava um silêncio sepulcral, como teria imaginado; em vez disso ouvia-se o esvoaçar dos morcegos, guinchos das ratazanas, corridas de pequenos animais, o gotejar da água e um batimento rítmico e surdo, o bater de um coração, como se estivessem dentro de um organismo vivo, de um enorme animal em repouso.
Ninguém falou, mas às vezes Borobá lançava um grito assustado e nessa altura o eco do labirinto devolvia-lhes o som multiplicado. O rapaz perguntava a si próprio que tipo de criaturas albergariam aquelas profundezas, talvez serpentes ou escorpiões venenosos, mas decidiu não pensar em nenhuma dessas possibilidades e manter a cabeça fria, como parecia fazer Nadia, que caminhava atrás de Walimai, muda e confiante.
Pouco a pouco avistaram o fim do longo corredor. Viram uma ténue claridade verde e, ao espreitarem, viram-se numa grande caverna cuja beleza era quase impossível de descrever. Por algum lado entrava luz, em quantidade suficiente para iluminar um vasto espaço, tão grande como uma igreja, onde se erguiam maravilhosas formações rochosas e minerais, como esculturas. O labirinto que tinham deixado para trás era de pedra escura, mas agora estavam numa sala circular, iluminada, sob uma abóbada de catedral, rodeados de cristais e pedras preciosas. Alex sabia muito pouco sobre minerais, mas pôde reconhecer opalas, topázios, ágatas, pedaços de quartzo e alabastro, jade e turmalina. Viu cristais como diamantes, outros leitosos, uns que pareciam iluminados por dentro, outros com veios verdes, vermelhos e roxos, como se estivessem incrustados de esmeraldas, rubis e ametistas. Estalactites transparentes pendiam do tecto como punhais de gelo, pingando água calcária. Cheirava a humidade e, surpreendentemente, a flores. A mistura era um aroma rançoso, intenso e penetrante, um pouco nauseabundo, mistura de perfume e tumba. O ar era frio e parecia ranger, como acontece no Inverno depois de nevar.
De repente viram que alguma coisa se mexia na outra ponta da gruta e um instante depois soltou-se de uma rocha de cristal azul algo que parecia um pássaro estranho, uma espécie de réptil alado. O animal esticou as asas, preparando-se para voar e, nessa altura, Alex viu-o nitidamente: era semelhante aos desenhos que vira dos dragões lendários, só que do tamanho de um pelicano grande e muito bonito. Os terríveis dragões das lendas europeias, que guardavam sempre um tesouro ou uma donzela prisioneira, eram definitivamente repelentes. Aquele que tinha diante dos olhos, no entanto, era como os dragões que tinha visto nas festas do bairro chinês em São Francisco: só alegria e vitalidade. De qualquer forma, abriu o canivete suíço disposto a defender-se, mas Walimai tranquilizou-o com um gesto.
A mulher-espírito do xamã, leve como uma libélula, atravessou a gruta a voar e foi pousar entre as asas do animal, cavalgando-o. Borobá guinchou aterrado e mostrou os dentes, mas Nadia fê-lo calar, apalermada diante do dragão. Quando conseguiu recompor-se o suficiente começou a chamar na linguagem das aves e dos répteis' na esperança de o atrair, mas o fabuloso animal examinou os visitantes de longe com as suas pupilas arroxeadas e ignorou o chamamento de Nadia. Depois levantou voo, elegante e leve, para dar uma volta olímpica pela abóbada da gruta, com a mulher de Walimai nas costas, como se quisesse mostrar simplesmente a beleza das suas linhas e das suas escamas fosforescentes. Por fim, regressou e foi pousar sobre a rocha de cristal azul, dobrou as asas e esperou com a atitude impassível de um gato.
O espírito da mulher voltou para junto do marido e ficou aí, flutuando, suspensa no ar. Alex pensou como poderia descrever o que os seus olhos viam agora; teria dado qualquer coisa para ter a máquina fotográfica da sua avó de modo a provar que aquele lugar e aqueles seres existiam de facto, e que ele não tinha naufragado na tempestade das suas próprias alucinações.
Com alguma pena, deixaram a caverna encantada e o dragão alado, sem saber se alguma vez voltariam a vê-los. Alex ainda procurava encontrar explicações racionais para o que acontecia, mas Nadia, pelo contrário, aceitava o maravilhoso sem fazer perguntas.
O rapaz calculou que aqueles tepuis, tão isolados do resto do planeta, eram os últimos enclaves da Era Paleolítica, onde se tinham preservado intactas a flora e a fauna de há milhares e milhares de anos. Possivelmente encontrava-se numa espécie de ilha Galápagos, onde as espécies mais antigas tinham escapado às mutações ou à extinção. Aquele dragão devia ser apenas um pássaro desconhecido. Nos contos folclóricos e na mitologia de lugares muito diversos apareciam estes seres. Havia-os na China, onde eram símbolo de boa sorte, tal como em Inglaterra, onde serviam para provar a coragem dos cavaleiros como São Jorge. Possivelmente, concluiu, foram animais que conviveram com os primeiros seres humanos do planeta, e que a superstição popular recordava como répteis gigantescos que deitavam fogo pelas ventas. O dragão da gruta não emanava labaredas, mas um perfume penetrante de cortesã. No entanto não lhe ocorria nenhuma explicação para a mulher de Walimai, aquela fada de aspecto humano que os acompanhava naquela estranha viagem. Bom, talvez encontrasse alguma mais tarde...
Seguiram Walimai por novos túneis, enquanto a luz da tocha se ia tornando cada vez mais fraca. Passaram por outras grutas, mas nenhuma tão espectacular como a primeira e viram outras estranhas criaturas: aves de plumagem vermelha com quatro asas, que uivavam como cães, e uns gatos brancos de olhos cegos, que estiveram prestes a atacá-los, mas que retrocederam quando Nadia os acalmou na língua dos felinos. Ao passarem por uma gruta inundada tiveram de andar com a água pelo pescoço, levando Borobá encarrapitado na cabeça da sua dona e viram uns peixes dourados com asas, que nadavam entre as suas pernas e de repente se punham a voar, desaparecendo na escuridão dos túneis.
Noutra gruta, que emanava uma densa névoa púrpura, como a de certos crepúsculos, cresciam flores inexplicáveis sobre rocha viva. Walimai roçou uma delas com a sua lança e imediatamente saíram por entre as pétalas carnudos tentáculos, que se estenderam procurando a sua presa. Numa curva de um dos túneis viram, à luz alaranjada e vacilante da tocha, um nicho na parede, onde havia uma espécie de criança petrificada em resina, como aqueles insectos que ficam agarrados num pedaço de âmbar. Alex imaginou que aquela criatura tinha permanecido no seu túmulo hermético desde os alvores da humanidade e que continuaria intacta no mesmo sítio dentro de milhares e milhares de anos. Como teria ali chegado? Como tinha morrido?
Finalmente o grupo chegou à última passagem daquele imenso labirinto. Chegaram a um espaço aberto, onde um jorro de luz branca os cegou por um instante. Viram então que estavam numa espécie de varanda, uma saliência na rocha debruçada sobre o interior de uma montanha oca, como a cratera de um vulcão. O labirinto que tinham percorrido penetrava nas profundezas do tepui, unindo o exterior com o mundo fabuloso encerrado no seu interior. Compreenderam que tinham subido muitos metros pelos túneis. Para cima estendiam-se as encostas verticais do monte, cobertas de vegetação, desaparecendo entre as nuvens. Não se via o céu, só um tecto espesso e branco como algodão, por onde se filtrava a luz do sol criando um estranho fenómeno óptico: seis luas transparentes flutuavam num firmamento de leite. Eram as luas que Alex tinha visto nas suas visões. No ar voavam pássaros nunca vistos, alguns translúcidos e leves como medusas, outros pesados como negros condores, alguns como o dragão que tinham visto na gruta.
Vários metros mais abaixo havia um grande vale redondo que, da altura em que se encontravam, parecia como que um jardim verde-azulado envolto em vapor. Cascatas, fios de água e riachos deslizavam pelas encostas alimentando as lagoas do vale, tão simétricas e perfeitas, que não pareciam naturais. E ao centro, cintilante como uma coroa, erguia-se o orgulhoso El Dorado. Nadia e Alex sufocaram uma exclamação, cegos pelo brilho incrível da cidade de ouro, a morada dos deuses.
Walimai deu-lhes tempo para recuperarem da surpresa e depois mostrou-lhes as escadas talhadas na montanha, que desciam serpenteando desde a saliência onde estavam até ao vale. À medida que desciam, aperceberam-se de que a flora era tão extraordinária como a fauna que tinham avistado; as plantas, flores e arbustos das encostas eram únicos. Ao descer aumentava o calor e a humidade, a vegetação tornava-se mais densa e exuberante, as árvores mais altas e frondosas, as flores mais perfumadas, os frutos mais suculentos. A impressão, embora de grande beleza, não era aprazível, mas vagamente ameaçadora, como uma misteriosa paisagem de Vénus. A Natureza latejava, ofegava, crescia diante dos olhos, espreitava. Viram moscas amarelas e transparentes como topázios, escaravelhos azuis com cornos, grandes caracóis tão coloridos que de longe pareciam flores, exóticos lagartos riscados, roedores com afiados caninos curvos, esquilos sem pêlo saltando como gnomos nus entre os ramos.
Ao chegarem ao vale e ao aproximarem-se do El Dorado, os viajantes perceberam que não era uma cidade e que também não era de ouro. Tratava-se de uma série de formações geométricas naturais, como os cristais que tinham visto nas grutas. A cor dourada provinha da mica, um mineral sem valor, e da pirite, chamada apropriadamente «ouro dos tontos». Alex esboçou um sorriso, pensando que se os conquistadores e outros tantos aventureiros tivessem conseguido vencer os enormes obstáculos do caminho para chegarem ao El Dorado, teriam saído mais pobres do que chegaram.
Minutos depois Alex e Nadia viram a Besta. Estava a meio quarteirão de distância, dirigindo-se para a cidade. Parecia um gigantesco homem-macaco, com mais de três metros de altura, erguido em duas patas, com braços potentes que pendiam até ao chão e uma cabecinha com um rosto melancólico, demasiado pequena para o tamanho do corpo. Estava coberto por um pêlo hirsuto como arame e tinha três longas garras afiadas como facas curvas em cada mão. Movia-se com uma lentidão tão espantosa, que era como se não se movesse de todo. Nadia reconheceu imediatamente a Besta, porque já antes a tinha visto. Paralisados de terror e de surpresa, permaneceram imóveis estudando a criatura. Recordava-lhes um animal conhecido, mas a sua memória não conseguia localizá-lo.
- Parece uma preguiça - acabou por dizer Nadia num sussurro.
E então Alex lembrou-se de que tinha visto no zoológico de São Francisco um animal parecido com um macaco ou com um urso, que vivia nas árvores e se movia com a mesma lentidão da Besta, daí a origem do seu nome, preguiça ou preguiçoso. Era um ser indefeso, porque lhe faltava velocidade para atacar, fugir ou proteger-se, mas tinha poucos predadores: a sua pele grossa e a sua carne azeda não era prato apetecível nem para o mais esfomeado dos carnívoros.
- E o cheiro? A Besta que eu vi tinha um cheiro pavoroso - disse Nadia sem levantar a voz.
- Esta não é hedionda, pelo menos não conseguimos cheirá-la daqui... - comentou Alex - Deve ter uma glândula, como os zorrilhos, e expele o cheiro quando quer, para se defender ou imobilizar a sua presa.
Os sussurros dos jovens chegaram aos ouvidos da Besta, que se voltou muito devagar para ver do que se tratava. Alex e Nadia retrocederam, mas Walimai avançou pausadamente, seguido a um passo de distância pela sua mulher-espírito, como se imitasse a assombrosa apatia da criatura. O xamã era um homem pequeno, chegava à altura da anca da Besta, que se erguia como uma torre diante do ancião. Ele e a sua mulher caíram de joelhos no chão, prostrados diante daquele ser extraordinário e nessa altura os jovens ouviram nitidamente uma voz profunda e cavernosa que pronunciava algumas palavras na língua do povo da neblina.
- Fala como um ser humano! - murmurou Alex, convencido de que estava a sonhar.
- O padre Valdomero tinha razão, Jaguar.
- Isso significa que possui inteligência humana. Achas que consegues comunicar com ela?
- Se Walimai consegue, eu também, mas não me atrevo a aproximar-me - sussurrou Nadia.
Esperaram durante muito tempo, porque as palavras saíam da boca da criatura uma a uma, com o mesmo vagar com que se movia.
- Está a perguntar quem somos - traduziu Nadia.
- Isso eu entendi. Entendo quase tudo... - murmurou Alex avançando um passo. Walimai deteve-o com um gesto.
O diálogo entre o xamã e a Besta continuou com a mesma angustiante parcimónia, sem que ninguém se mexesse, enquanto a luz ia mudando no céu branco, tornando-se cor de laranja. Os jovens calcularam que fora desta cratera o Sol devia estar a iniciar a sua descida no horizonte. Por fim, Walimai levantou-se e regressou para junto deles.
- Haverá um conselho dos deuses - anunciou.
- Como? Há mais destas criaturas? Quantas há? - perguntou Alex, mas Walimai não pôde esclarecer as suas dúvidas, porque não sabia contar.
O feiticeiro guiou-os contornando o vale pelo interior do tepui até uma pequena caverna natural na rocha, onde se instalaram o melhor possível. Depois saiu à procura de comida. Regressou com algumas frutas muito aromáticas, que nenhum dos jovens vira antes, mas estavam tão esfomeados que as devoraram sem fazer perguntas. A noite caiu de súbito e viram-se rodeados pela escuridão mais profunda. A cidade de ouro falso, que antes brilhava ofuscando-os, desapareceu nas sombras. Walimai não tentou acender a sua segunda tocha, que guardava certamente para o regresso pelo labirinto, e não havia luz em parte alguma. Alex calculou que aquelas criaturas, embora humanas na sua linguagem e talvez em certos comportamentos, eram mais primitivas do que os homens das cavernas, pois ainda não tinham descoberto o fogo. Comparados com as Bestas, os índios eram bastante sofisticados. Por que razão o povo da neblina as considerava deuses, se era bem mais evoluído?
O calor e a humidade não tinham diminuído, porque emanavam da própria montanha, como se na realidade estivessem na cratera desactivada de um vulcão. A ideia de estarem sobre uma fina crosta de terra e rocha, enquanto lá em baixo ardiam as chamas do inferno, não era tranquilizadora, mas Alex calculou que se o vulcão tinha estado inactivo durante milhares de anos, conforme provava a vegetação luxuriante do seu interior, seria um grande azar explodir justamente na noite em que ele estava de visita. As horas seguintes decorreram muito lentamente. Os jovens mal conseguiram dormir naquele lugar desconhecido. Lembravam-se muito bem do aspecto do soldado morto. A Besta deve ter usado as suas garras enormes para o estripar daquela maneira horrenda. Por que não fugiu o homem, ou disparou a sua arma? A enorme lentidão da criatura ter-lhe-ia dado tempo de sobra. A explicação só podia
estar na fetidez paralisante que emanava. Não havia protecção possível quando as criaturas decidiam usar as suas glândulas odorificas contra eles. Não bastava tapar o nariz, o fedor penetrava por cada poro do corpo, apoderando-se do cérebro e da vontade. Era um veneno tão mortal como o curare.
- São humanos ou animais? - perguntou Alex, mas Walimai também não conseguiu responder porque para ele não havia diferença.
- De onde vêm?
- Sempre cá estiveram, são deuses.
Alex calculou que o interior do tepui era um arquivo ecológico onde sobreviviam espécies desaparecidas no resto da Terra. Disse a Nadia que com certeza se tratava de antepassados das preguiças que eles conheciam.
- Não parecem humanos, Águia. Não vimos casas, ferramentas ou armas, nada que sugira uma sociedade acrescentou.
- Mas falam como pessoas, Jaguar - disse ela.
- Devem ser animais com o metabolismo muito lento, com certeza vivem centenas de anos. Se têm memória, nessa longa vida podem aprender muitas coisas, até a falar, não achas? - aventurou Alex.
- Falam a língua do povo da neblina. Quem a inventou? Os índios ensinaram-na às Bestas? Ou as Bestas ensinaram-na aos índios?
- De qualquer forma, ocorre-me que os índios e as preguiças tiveram, durante séculos, uma relação simbiótica - disse Alex.
- O quê? perguntou ela, que nunca tinha ouvido aquela palavra.
- Quer dizer, têm necessidade uns dos outros para sobreviver.
- Porquê?
- Não sei, mas vou averiguar. Uma vez li que os deuses precisam da humanidade tanto quanto a humanidade precisa dos seus deuses - disse Alex.
- O Conselho das Bestas será certamente muito demorado e aborrecido. É melhor tentarmos descansar um pouco agora, dessa forma estaremos frescos pela manhã - sugeriu Nadia, preparando-se para dormir. Teve de se libertar de Borobá e de o obrigar a deitar-se mais longe, porque não suportava o calor. O macaco era como uma extensão do seu ser, estavam ambos tão habituados ao contacto dos seus corpos que uma separação, por pequena que fosse, era sentida pelos dois como uma premonição de morte.
Com o amanhecer, a vida despertou na cidade de ouro e iluminou-se o vale dos deuses em todos os tons de vermelho, laranja e rosa. As Bestas, no entanto, demoraram muitas horas a despertar do sono e a sair, uma por uma, dos seus covis, entre as formações de rocha e cristal. Alex e Nadia contaram onze criaturas, três machos e oito fêmeas, umas mais altas que outras, mas todas adultas. Não viram exemplares jovens daquela espécie singular e perguntaram a si próprios como se reproduziriam. Walimai disse que raras vezes nascia um deles, nos anos que vivera isso nunca tinha acontecido e acrescentou que também não os tinha visto morrer, embora tivesse conhecimento de uma gruta no labirinto onde jaziam os seus esqueletos. Alex concluiu que isso reforçava a sua teoria de que viviam séculos e calculou que aqueles mamíferos pré-históricos deviam ter uma ou duas crias durante a sua vida, pelo que assistir ao nascimento de uma devia ser um acontecimento muito raro. Ao observar as criaturas de perto, compreendeu que dada a sua limitação de movimentos, não podiam caçar e deviam ser vegetarianas. As garras terríveis que possuíam não tinham sido feitas para matar mas para trepar. Assim se explicava que pudessem descer e subir pelo caminho vertical que eles tinham escalado na catarata. As preguiças utilizavam as mesmas incisões, saliências e gretas na rocha, de que os índios se serviam para escalar. Quantas delas haveria lá fora? Só uma ou várias? Como gostaria de levar de volta provas do que via!
Muitas horas depois começou o conselho. As Bestas reuniram-se em semicírculo no centro da cidade de ouro e Walimai e os jovens colocaram-se em frente. Pareciam minúsculos entre aqueles gigantes. Tiveram a impressão de que os corpos daquelas criaturas vibravam e de que os seus contornos eram difusos, depois perceberam que o seu pêlo centenário albergava povoações inteiras de insectos de diversos tipos, alguns dos quais voavam à volta deles como moscas em redor da fruta. O vapor de ar criava a ilusão de que uma nuvem envolvia as Bestas. Estavam a poucos metros delas, a uma distância suficiente para as verem em pormenor, mas também para fugirem em caso de necessidade, embora ambos soubessem que se qualquer um daqueles onze gigantes decidisse expelir o seu odor, não haveria poder no mundo capaz de os salvar. Walimai agia com grande solenidade e reverência, mas não parecia assustado.
- Estes são Águia e Jaguar, forasteiros amigos do povo da neblina. Vêm receber instruções - disse o ancião.
Um silêncio eterno acolheu esta introdução, como se as palavras demorassem muito tempo a chegar aos cérebros daqueles seres. Depois Walimai recitou um longo poema dando notícias da tribo, desde os últimos nascimentos até à morte do chefe Mokarita, incluindo as visões em que aparecia o Rahakanariwa, a visita às terras baixas, a chegada dos forasteiros e a eleição de Iyomi como chefe dos chefes. Teve início um diálogo lentíssimo entre o feiticeiro e as criaturas, que Nadia e Alex entenderam sem dificuldade, porque tinham tempo para pensar e para trocarem impressões depois de cada palavra. Dessa forma ficaram a saber que, durante séculos e séculos, o povo da neblina conhecera a localização da cidade de ouro e tinha guardado zelosamente o segredo, protegendo os deuses do mundo exterior, enquanto por sua vez esses seres extraordinários guardavam cada palavra da história da tribo. Houve momentos de grandes cataclismos, nos quais a bolha ecológica do tepui sofreu grandes perturbações e a vegetação não foi suficiente para satisfazer as necessidades das espécies que habitavam no seu interior. Nessas épocas, os índios traziam «sacrificios»: milho, batatas, mandioca, frutas, nozes. Colocavam as suas oferendas nas proximidades do tepui, sem entrarem no labirinto secreto, e enviavam o mensageiro avisar os deuses. As ofertas incluíam ovos, peixes e animais caçados pelos índios que, com o decorrer do tempo, mudaram a dieta vegetariana das Bestas.
Alexander Cold pensou que, se aquelas antigas criaturas de lenta inteligência tivessem necessidade do divino, os seus deuses seriam certamente os índios invisíveis de Tapirawa-teri, os únicos seres humanos que conheciam. Para elas, os índios eram mágicos: deslocavam-se rapidamente, podiam reproduzir-se com facilidade, possuíam armas e ferramentas, eram donos do fogo e do vasto universo exterior, eram todo-poderosos. Mas as gigantescas preguiças ainda não tinham atingido a etapa de evolução na qual se contempla a própria morte, não precisando por isso de deuses. As suas vidas extensíssimas decorriam no plano puramente material.
A memória das Bestas continha toda a informação que os mensageiros dos homens lhes tinham entregue: eram arquivos vivos. Os índios não conheciam a escrita, mas a sua história não se perdia, porque as preguiças não esqueciam nada. Interrogando-as com paciência e tempo, poder-se-ia obter delas o passado da tribo desde os seus primórdios, há vinte mil anos. Os xamanes como Walimai visitavam-nas para as manterem informadas através dos poemas épicos que recitavam com a história passada e recente da tribo. Os mensageiros morriam e eram substituídos por outros, mas cada palavra daqueles poemas ficava armazenada no cérebro das Bestas.
Só por duas vezes a tribo entrara no interior do tepui, desde o início da história. E em ambas as ocasiões fizera-o para fugir de um inimigo poderoso. A primeira vez fora há quatrocentos anos, quando o povo da neblina teve de se esconder durante várias semanas de um agrupamento de soldados espanhóis que conseguiram chegar até ao Olho do Mundo. Quando os guerreiros viram que os estrangeiros matavam de longe com uns paus de fumo e ruído, sem qualquer esforço, compreenderam que as suas armas eram inúteis contra as deles. Então desarmaram as suas cabanas, enterraram os seus escassos pertences, cobriram os restos da aldeia com terra e ramos, apagaram as suas marcas e retiraram-se com as mulheres e as crianças para o tepui sagrado. Aí foram amparados pelos deuses até os estrangeiros morrerem um por um. Os soldados procuravam o El Dorado, estavam cegos de cobiça e acabaram por se assassinar uns aos outros. Os que ficaram foram exterminados pelas Bestas e pelos guerreiros indígenas. Só um saiu vivo dali e de alguma forma conseguiu voltar a juntar-se aos seus compatriotas. Passou o resto da sua vida louco, amarrado a um poste num manicómio de Navarra, discursando sobre gigantes mitológicos e sobre uma cidade de ouro puro. A lenda perdurou nas páginas dos cronistas do Império Espanhol, alimentando a fantasia de aventureiros até aos dias de hoje. A segunda vez tinha sido há três anos, quando os grandes pássaros de ruído e vento dos nahab aterraram no Olho do Mundo. Novamente o povo da neblina se escondeu até os estrangeiros partirem, desiludidos, por não terem encontrado as minas que procuravam. No entanto, os índios, advertidos pelas visões de Walimai, preparavam-se para o seu regresso. Desta vez não passariam quatrocentos anos antes dos nahab se aventurarem de novo no planalto, porque agora podiam voar. Então as Bestas decidiram sair para os matar, sem suspeitarem de que havia milhões e milhões deles. Habituados ao número reduzido da sua espécie, julgavam poder exterminar os inimigos um a um.
Alex e Nadia ouviram as Bestas contar a sua história e foram tirando muitas conclusões.
- Por isso não houve índios mortos, só forasteiros - referiu Alex, maravilhado.
- E o padre Valdomero? - lembrou-lhe Nadia.
- O padre Valdomero viveu com os índios. Com certeza a Besta identificou o cheiro e por isso não o atacou.
- E eu? Também não me atacou naquela noite... - acrescentou ela.
- Nós íamos com os índios. Se a Besta nos tivesse visto quando estávamos com a expedição, teríamos morrido como o soldado.
- Se compreendi correctamente, as Bestas saíram para punir os forasteiros - concluiu Nadia.
- Exactamente. Mas obtiveram o resultado contrário. Podes ver o que aconteceu: atraíram a atenção sobre os índios e sobre o Olho do Mundo. Eu não estaria aqui se a minha avó não tivesse sido contratada por uma revista para descobrir a Besta - disse Alex.
Caiu a tarde e depois a noite sem que os participantes do conselho chegassem a acordo. Alex perguntou quantos deuses tinham saído da montanha e Walimai disse dois, o que não era um dado fiável, podia ser igualmente meia dúzia. O rapaz conseguiu explicar às Bestas que a única esperança de salvação para elas era permanecer dentro do tepui e para os índios era estabelecer contacto com a civilização de uma forma controlada. O contacto era inevitável, disse, mais cedo ou mais tarde os helicópteros aterrariam novamente no Olho do Mundo e dessa vez os nahab viriam para ficar. Havia nahab que queriam destruir o povo da neblina e apoderar-se do Olho do Mundo. Foi muito dificil esclarecer este ponto, porque nem as Bestas nem Walimai compreendiam como podia alguém apropriar-se da terra. Alex disse que havia outros nahab que desejavam salvar os índios e que certamente fariam qualquer coisa para preservar também os deuses, porque eram os últimos da sua espécie no planeta. Recordou ao xamã que fora nomeado chefe por Iyomi para negociar com os nahab e pediu licença e ajuda para cumprir a sua missão.
- Não acreditamos que os nahab sejam mais poderosos que os deuses - disse Walimai.
- Às vezes, são-no. Os deuses não conseguirão defender-se deles e o povo da neblina também não. Mas os nahab podem travar outros nahab - replicou Alex.
- Nas minhas visões o Rahakanariwa anda sedento de sangue - disse Walimai.
- Eu fui nomeada chefe para aplacar o Rahakanariwa - disse Nadia.
- Não deve haver mais guerra. Os deuses devem voltar para a montanha. Nadia e eu conseguiremos que o povo da neblina e a morada dos deuses sejam respeitados pelos nahab - prometeu Alex, tentando parecer convincente.
Na realidade não suspeitava como poderia vencer Mauro Carias, o capitão Ariosto e tantos outros aventureiros que cobiçavam as riquezas da região. Nem sequer conhecia o plano de Mauro Carias nem o papel que caberia aos membros da expedição da International Geographic no extermínio dos índios. O empresário tinha dito claramente que eles seriam testemunhas, mas não conseguia imaginar de quê.
No seu íntimo, o rapaz pensou que haveria um choque mundial quando a sua avó revelasse a existência das Bestas e do paraíso ecológico contido no tepui. Com sorte e manipulando a imprensa com habilidade, Kate Cold poderia conseguir que o Olho do Mundo fosse declarado reserva natural e protegido pelos governos. No entanto, essa solução poderia chegar demasiado tarde. Se Mauro Carías seguisse a sua avante «em três meses os índios seriam exterminados», conforme dissera na sua conversa com o capitão Ariosto. A única esperança era que a protecção internacional chegasse mais cedo. Embora não fosse possível evitar a curiosidade dos cientistas nem das câmaras da televisão, poderia ao menos deter-se a invasão de aventureiros e de colonos dispostos a domar a selva e a exterminar os seus habitantes. Também lhe passou pela cabeça a terrível premonição de empresários de Hollywood convertendo o tepui numa espécie de Disneyworld ou Jurassic Park.
Esperava que a pressão criada pelas reportagens da sua avó conseguisse adiar ou evitar esse pesadelo.
As Bestas ocupavam diferentes salas na cidade fabulosa. Eram seres solitários, que não partilhavam o seu espaço. Apesar do seu enorme tamanho, comiam pouco, mastigando durante horas, vegetais, frutas, raízes e, de vez em quando, um animal pequeno que caía ferido aos seus pés. Nadia conseguiu comunicar com elas melhor do que Walimai. Algumas das fêmeas demonstraram algum interesse por ela e permitiram-lhe aproximar-se, porque o que a rapariga mais desejava era tocá-las. Ao pôr a mão sobre o seu pêlo duro, centenas de insectos de diversos tipos subiram-lhe pelo braço, cobrindo-a totalmente. Sacudiu-se desesperada, mas não conseguiu livrar-se de muitos deles, que ficaram presos à sua roupa e ao seu cabelo. Walimai mostrou-lhe uma das lagoas da cidade e ela mergulhou na água, que era quente e gasosa. Ao afundar-se, sentia na pele as cócegas das bolhas de ar. Convidou Alex e os dois estiveram durante muito tempo dentro de água, finalmente limpos, depois de tantos dias arrastando-se pelo chão e suando.
Entretanto Walimai tinha esmagado numa cabaça a polpa de uma fruta com grandes pevides pretas, que depois misturou com o sumo de- umas uvas azuis e brilhantes. O resultado foi uma pasta arroxeada com a consistência da sopa de ossos que tinham bebido durante o funeral de Mokarita, mas com um sabor delicioso e um aroma persistente a mel e néctar de flores. O xamã ofereceu às Bestas, depois ele próprio bebeu e deu também aos jovens e a Borobá. Aquele alimento concentrado aplacou-lhes imediatamente a fome e sentiram-se um pouco tontos, como se tivessem bebido álcool.
Nessa noite foram instalados numa das câmaras da cidade de ouro, onde o calor era menos opressivo que na caverna da noite anterior. Entre as formações minerais cresciam orquídeas desconhecidas lá fora, algumas tão perfumadas que mal se conseguia respirar na sua proximidade. A chuva caiu durante muito tempo, quente e densa como um duche, empapando tudo, correndo como um rio entre as fendas de cristal, com um som persistente de tambores. Quando, finalmente, cessou, o ar refrescou subitamente e os jovens estafados acabaram por se entregar ao sono no chão duro do El Dorado, com a sensação de terem a barriga cheia de flores perfumadas.
A beberagem preparada por Walimai teve a virtude mágica de conduzi-los ao reino dos mitos e do sonho colectivo, onde todos, deuses e humanos, podiam partilhar as mesmas visões. Assim se pouparam muitas explicações. Sonharam que o Rahakanariwa estava preso numa caixa de madeira selada, desesperado, tentando libertar-se com o seu bico assombroso e com as suas garras terríveis, enquanto deuses e humanos, amarrados às árvores, aguardavam a sua sorte. Sonharam com os nahab, matando-se uns aos outros, todos com os rostos cobertos por máscaras. Viram o pássaro canibal destruir a caixa e sair disposto a devorar tudo no seu caminho, mas nessa altura uma águia branca e um jaguar negro saíam-lhe pela frente, desafiando-o para uma luta mortal. Não era visível a solução desse duelo, como acontece com frequência nos sonhos. Alexander Cold reconheceu o Rahakanariwa, porque já o vira anteriormente num pesadelo em que aparecia como um abutre, partindo uma vidraça da sua casa e levando a sua mãe nas suas garras monstruosas.
De manhã, ao acordarem, não tiveram de contar o que tinham visto, porque todos tinham estado presentes no mesmo sonho, até o pequeno Borobá. Quando o conselho dos deuses se reuniu para continuar as deliberações, não foi necessário passar horas repetindo as mesmas ideias, como acontecera no dia anterior. Sabiam o que tinham de fazer, cada um estava ciente do seu papel nos acontecimentos que viriam.
- Jaguar e Águia combaterão com o Rahakanariwa. Se vencerem, qual será a sua recompensa? - conseguiu articular uma das preguiças, depois de longas hesitações.
- Os três ovos do ninho - disse Nadia sem vacilar.
- E a água da saúde - acrescentou Alex, pensando na mãe.
Apavorado, Walimai revelou-lhes que tinham violado a norma elementar de reciprocidade: não se pode receber sem dar. Era a lei natural. Tinham-se atrevido a pedir algo aos deuses sem oferecer nada em troca. A pergunta da Besta tinha sido meramente formal e a resposta correcta teria sido dizer que não desejavam qualquer recompensa, que o faziam como um acto de reverência para com os deuses e de compaixão para com os humanos. Vencer o Rahakanariwa era uma possibilidade remota, em caso algum um elemento de troca. Com efeito, as Bestas pareciam perplexas e incomodadas com as petições dos forasteiros. Algumas delas puseram-se lentamente de pé, ameaçadoras, grunhindo e levantando os braços, grossos como ramos de carvalhos. Walimai atirou-se de bruços diante do conselho, balbuciando explicações e desculpas, mas não conseguiu aplacar os ânimos. Receando que alguma das Bestas decidisse fulminá-los com o seu odor corporal. Alex recorreu à única tábua de salvação de que se lembrou: a flauta do seu avô.
- Tenho uma oferenda para os deuses - disse a tremer.
As notas doces do instrumento irromperam hesitantes no ar quente do tepui. As Bestas, apanhadas de surpresa, demoraram alguns minutos a reagir e quando o fizeram já Alex tinha levantado voo e se entregava ao prazer de criar música. A sua flauta parecia ter adquirido os poderes sobrenaturais de Walimai. As notas multiplicavam-se no estranho teatro da cidade de ouro, ressaltavam transformadas em intermináveis harpejos, faziam vibrar as orquídeas entre as altas formações de cristal. Nunca o rapaz tocara assim, nunca se sentira tão poderoso: conseguia amansar as feras com a magia da sua flauta. Parecia estar ligado a um potente sintetizador, que acompanhava a melodia com toda uma orquestra de cordas, instrumentos de sopro e de percussão. As Bestas, imóveis inicialmente, começaram a oscilar como grandes árvores agitadas pelo vento. As suas patas milenares bateram no chão e o buraco fértil do tepui ecoou como um grande sino. Então Nadia, num impulso, saltou para o centro do semicírculo do conselho, enquanto Borobá, como se compreendesse que esse era um instante crucial, permaneceu quieto aos pés de Alex.
Nadia começou a dançar com a energia da terra, que atravessava os seus finos ossos como uma luz. Nunca tinha visto um ballet, mas tinha armazenado os ritmos que ouvira muitas vezes: o samba do Brasil, a salsa e o joropo da Venezuela, a música americana que lhe chegava pelo rádio. Tinha visto pretos, mulatos, caboclos e brancos dançando até caírem extenuados durante o Carnaval de Manaus; índios dançando solenes durante as suas cerimónias. Sem saber o que fazia, por puro instinto, improvisou a sua oferenda para os deuses. Voava. O seu corpo movia-se sozinho, em transe, sem qualquer consciência ou premeditação da sua parte. Oscilava como as mais esbeltas palmeiras, elevava-se como a espuma das cataratas, rodava como o vento. Nadia imitava o voo das araras, a corrida dos jaguares, o nadar dos golfinhos, o zumbido dos insectos e a ondulação das serpentes.
Durante milhares e milhares de anos tinha existido vida no cilindro oco do tepui, mas até àquele momento jamais se tinha ouvido música, nem sequer o rufar de um tambor. Nas duas vezes que o povo da neblina se acolheu à protecção da cidade lendária, fê-lo de maneira a não irritar os deuses, em completo silêncio, fazendo uso do seu talento para se tornar invisível. As Bestas não suspeitavam da habilidade humana para criar música e também nunca tinham visto um corpo mover-se com a ligeireza, a paixão, a velocidade e a graça com que Nadia dançava. Na verdade, aqueles seres pesados nunca tinham recebido uma oferenda tão grandiosa. Os seus cérebros lentos recolheram cada uma das notas e movimentos e guardaram-nos para os séculos futuros. A oferta daqueles dois visitantes ficaria com eles, como parte da sua lenda.
A troco da música e da dança que tinham recebido, as Bestas concederam aos jovens o que estes lhes pediam. Disseram-lhes que ela tinha de subir ao topo do tepui, aos cumes mais altos, onde estava o ninho com os três ovos prodigiosos da sua visão. Ele, por outro lado, tinha de descer às profundezas da terra, onde se encontrava a água da saúde.
- Podemos ir juntos, primeiro ao cume do tepui e depois ao fundo da cratera? - perguntou Alex, pensando que as tarefas seriam mais fáceis se as partilhassem.
As preguiças negaram, balançando lentamente a cabeça e Walimai explicou que qualquer viagem ao reino dos espíritos é uma viagem solitária. Acrescentou que só dispunham do dia seguinte para cada um deles cumprir a sua missão porque, ao anoitecer, sem falta, ele tinha de regressar ao mundo exterior. Esse era o seu acordo com os deuses. Se eles não estivessem de regresso, ficariam presos no tepui sagrado, porque jamais encontrariam por si próprios a saída do labirinto.
Os jovens gastaram o resto do dia percorrendo o El Dorado e contando um ao outro as suas curtas vidas. Ambos desejavam saber do outro o mais possível, antes de se separarem. Para Nadia era difícil imaginar o seu amigo na Califórnia com a família; nunca tinha visto um computador nem tinha ido à escola nem sabia o que é um Inverno. Por outro lado, o rapaz americano sentia inveja da existência livre e silenciosa da amiga, em contacto estreito com a Natureza. Nadia Santos possuía um bom senso e uma sabedoria que lhe pareciam inatingíveis.
Nadia e Alexander deliciaram-se com as magníficas formações de mica e de outros minerais da cidade, com a flora inverosímil que brotava por toda a parte, com os estranhos animais e insectos que aquele lugar albergava. Aperceberam-se de que os dragões, como o da caverna, que às vezes cruzavam o ar, eram mansos como papagaios amestrados. Chamaram um deles, que aterrou graciosamente aos seus pés e deixou que o tocassem. A pele dele era suave e fria, como a de um peixe, tinha o olhar de um falcão e o hálito perfumado das flores. Tomaram banho nas lagoas quentes e fartaram-se de fruta, mas só da que Walimai permitia. Havia frutos e cogumelos mortais, outros induziam visões de pesadelo ou destruíam a vontade, outros apagavam a memória para sempre, conforme lhes explicou o xamã. Durante os seus passeios encontravam aqui e ali as Bestas, que passavam, indolentes, a maior parte da sua existência. Assim que consumiam as folhas e frutos necessários à sua alimentação, passavam o resto do dia contemplando a tórrida paisagem circundante e o tampão de nuvens que fechava a boca do tepui.
- Pensam que o céu é branco e do tamanho daquele círculo - comentou Nadia e Alex respondeu que eles também tinham uma visão parcial do céu, que os astronautas sabiam que não era azul, mas infinitamente profundo e escuro. Nessa noite deitaram-se tarde e cansados. Dormiram lado a lado, sem se tocarem, porque estava muito calor, mas partilhando o mesmo sonho, como tinham aprendido a fazer com os frutos mágicos de Walimai.
Ao amanhecer do dia seguinte o velho xamã entregou a Alexander Cold uma cabaça vazia e a Nadia Santos uma cabaça com água e uma cesta, que ela amarrou às costas. Avisou-os que, uma vez iniciada a viagem, em direcção às alturas ou às profundezas, não haveria marcha-atrás. Teriam de vencer os obstáculos ou perecer na tentativa, porque regressar com as mãos vazias era impossível.
- Têm a certeza de que é isto que querem fazer? - perguntou o xamã.
- Eu, sim - disse Nadia decididamente.
Não fazia ideia para que serviam os ovos nem por que tinha de ir buscá-los, mas não duvidou da sua visão. Deviam ser muito valiosos ou muito mágicos. Por eles estava disposta a vencer o seu medo mais enraizado: a vertigem das alturas.
- Eu também - acrescentou Alex, pensando que iria até ao próprio inferno desde que isso salvasse a sua mãe.
- Pode ser que voltem e pode ser que não voltem - despediu-se o feiticeiro, indiferente, porque para ele a fronteira entre a vida e a morte era apenas uma linha de fumo que a mais leve brisa podia apagar.
Nadia soltou Borobá da sua cintura e explicou-lhe que não poderia levá-lo com ela. O macaco aferrou-se a uma perna de Walimai gemendo e ameaçando com o punho, mas não tentou desobedecer-lhe. Os dois amigos abraçaram-se com força, atemorizados e comovidos. Depois, cada um partiu na direcção indicada por Walimai.
Nadia Santos subiu pela mesma escada talhada na rocha por onde tinha descido com Walimai e Alex, do labirinto até à base do tepui. A subida até essa varanda não foi difícil, apesar de ser bastante íngreme, não ter corrimão onde agarrar-se e os degraus serem estreitos, irregulares e gastos. Lutando contra a vertigem, deu uma olhadela rápida para baixo e viu a paisagem extraordinária e verde azulada do vale, envolta numa bruma ténue, com a magnífica cidade de ouro ao centro. Depois olhou para cima e os seus olhos perderam-se nas nuvens. A boca do tepui parecia mais estreita do que a sua base. Como subiria pelas encostas inclinadas? Precisaria de patas de escaravelho. Que altura teria na realidade o tepui, que parte era tapada pelas nuvens? Onde estaria exactamente o ninho? Decidiu não pensar nos problemas mas nas soluções: enfrentaria os obstáculos um por um, à medida que se apresentassem. Se tinha podido subir pela cascata, também podia fazer isto, pensou, embora estivesse sozinha e já não amarrada ao Jaguar por uma corda.
Ao chegar à varanda percebeu que a escadaria acabava ali. Dali para a frente tinha de subir agarrando-se ao que pudesse. Endireitou o cesto nas costas, fechou os olhos e procurou a calma no seu íntimo. Jaguar tinha-lhe explicado que aí, no centro do seu ser, se concentrava a energia vital e a sua coragem. Respirou com toda a sua vontade, para que o ar limpo lhe enchesse o peito e lhe percorresse os caminhos do corpo, até chegar às pontas dos dedos dos pés e das mãos. Repetiu a mesma respiração profunda três vezes e, sempre com os olhos fechados, visualizou a águia, seu animal totémico. Imaginou que os seus braços se estendiam, se alongavam, se transformavam em asas cobertas de penas, que as suas pernas se transformavam em patas terminadas em garras como ganchos, que na sua cara crescia um bico feroz e que os seus olhos se separavam até ficarem nos lados da cabeça. Sentiu que o seu cabelo, suave e encaracolado, se transformava em penas duras coladas ao crânio, que ela conseguia eriçar à vontade, penas que continham os conhecimentos das águias: eram antenas para captar o que estava no ar, mesmo o que era invisível. O seu corpo perdeu a flexibilidade e adquiriu, em vez disso, uma leveza tão grande, que podia soltar-se da terra e flutuar com as estrelas. Sentiu um poder imenso, toda a força da águia no sangue. Sentiu que essa força chegava até à última fibra do seu corpo e da sua consciência. Sou a Águia, disse em voz alta, abrindo depois os olhos.
Nadia agarrou-se a uma pequena fenda na rocha sobre a sua cabeça e colocou o pé noutra que estava à altura da sua cintura. Içou o corpo e parou até se equilibrar. Levantou outra mão e tacteou mais acima, até se agarrar a uma raiz enquanto com o pé contrário tacteava até descobrir uma greta. Repetiu o movimento com a outra mão, procurando alguma saliência e quando a encontrou subiu um pouco mais. A vegetação que crescia nas encostas ajudava-a, havia raízes, arbustos e lianas. Também viu arranhões profundos nas pedras e nalguns troncos; achou que eram marcas de garras. As Bestas deviam ter subido também à procura de alimento, ou então não
conheciam o mapa do labirinto e, cada vez que entravam ou saíam do tepui, tinham de subir até o cume e descer pelo outro lado. Calculou que isso devia demorar dias, talvez semanas, dada a enorme lentidão daquelas preguiças gigantescas.
Uma parte do seu cérebro, ainda activo, compreendeu que o buraco do tepui não era um cone invertido, conforme imaginara, sujeita ao efeito óptico quando o via de baixo, antes se alargava ligeiramente. A boca da cratera era, na realidade, mais larga que a base. Não precisaria de patas de escaravelho, no fim de contas, apenas concentração e coragem. Assim, escalou metro a metro, durante horas, com uma enorme determinação e uma destreza recém-adquirida. Essa destreza provinha do mais recôndito e misterioso lugar, um lugar calmo no seu coração, onde se encontravam os nobres atributos do seu animal totémico. Ela era a Águia, o pássaro que voava mais alto, a rainha do céu, aquela que faz o seu ninho onde só os anjos chegam.
A águia-menina continuou a subir passo a passo. O ar quente e húmido do vale inferior transformou-se numa brisa fresca, que a impeliu para cima. Parou com frequência, bastante cansada, lutando contra a tentação de olhar para baixo ou de calcular a distância até o cimo, concentrada apenas no próximo movimento. Uma sede terrível abrasava-a; sentia a boca cheia de areia, com um sabor amargo, mas não podia soltar-se para tirar das costas a cabaça de água que Walimai lhe tinha dado. Beberei quando chegar lá acima, murmurava, pensando na água fria e limpa banhando-a por dentro. Se ao menos chovesse, pensou, mas nem uma gota caía das nuvens. Quando achava que não conseguiria dar nem mais um passo, sentia o talismã mágico de Walimai pendurado ao pescoço e isso dava-lhe coragem. Era a sua protecção. Tinha-a ajudado a subir as rochas pretas e lisas da cascata, tornara-a amiga dos índios, protegera-a das Bestas; enquanto o tivesse estaria a salvo.
Muito depois, a cabeça dela alcançou as primeiras nuvens, densas como merengue e nessa altura envolveu-a uma brancura de leite. Continuou a subir às apalpadelas, agarrando-se às rochas e à vegetação, cada vez mais escassa à medida que subia. Não tinha consciência de que lhe sangravam as mãos, os joelhos e os pés, só pensava no mágico poder que a sustinha, até que, de repente, uma das suas mãos apalpou uma fenda larga. Rapidamente conseguiu içar todo o corpo e viu-se no cume do tepui, sempre oculto pela acumulação de nuvens. Uma potente exclamação de triunfo, um alarido ancestral e selvagem como o grito tremendo de cem águias em uníssono, brotou do peito de Nadia Santos e foi esmagar-se contra as rochas de outros cumes, ecoando e ampliando-se, até se perder no horizonte.
A rapariga esperou imóvel nas alturas, até o seu grito se perder nas últimas fendas da grande meseta. Então, o tambor que sentia no peito acalmou-se e conseguiu respirar fundo. Assim que se sentiu firme sobre as rochas, deitou a mão à cabaça de água e bebeu todo o seu conteúdo. Nunca desejara tanto uma coisa. O líquido fresco entrou-lhe pela garganta, limpando a areia e o amargo da boca, humedecendo-lhe a língua e os lábios ressequidos, penetrando em todo o seu corpo como um bálsamo prodigioso, capaz de curar a angústia e de apagar a dor. Compreendeu que a felicidade consiste em atingir aquilo por que esperámos durante muito tempo.
A altura e o esforço brutal para chegar até ali e para superar os seus terrores actuaram como uma droga mais poderosa que a dos índios em Tapirawa-teri ou que a poção dos sonhos colectivos de Walimai. Voltou a sentir que voava, que já não tinha o corpo da águia, que se libertara de tudo o que era material. Agora era apenas espírito. Estava suspensa num espaço glorioso. O mundo ficara muito longe, lá em baixo, no plano das ilusões. Flutuou aí por um tempo incalculável e de repente viu um buraco no céu radiante. Sem hesitar lançou-se como uma flecha através dessa abertura e entrou num espaço vazio e escuro, como o firmamento infinito
numa noite sem Lua. Esse era o espaço absoluto de tudo o que era divino, e da morte, o espaço onde o próprio espírito se dissolve. Ela era o vazio, sem desejos nem lembranças. Não havia nada a recear. Permaneceu aí, fora do tempo.
Mas no cume do tepui, pouco a pouco, o corpo de Nadia chamava-a, reclamava-a. O oxigénio devolveu-lhe ao espírito o sentido da realidade material, a água deu-lhe a energia necessária para se mover. Por fim, o espírito de Nadia fez a viagem inversa, voltou a atravessar como uma flecha a abertura no vazio, chegou à abóbada gloriosa onde flutuou alguns instantes naquela brancura imensa, e dali passou à forma de águia. Teve de resistir à tentação de voar para sempre suspensa pelo vento e, com um último esforço, regressar ao seu corpo de menina. Viu-se sentada no cume do mundo e olhou à sua volta.
Estava no ponto mais alto de uma meseta, rodeada pelo vasto silêncio das nuvens. Embora não conseguisse ver a altura ou a extensão do local onde se encontrava, calculou que o buraco no centro do tepui era pequeno, em comparação com a imensidão da montanha que o rodeava. O terreno parecia quebrado em fendas profundas, em parte rochoso e em parte coberto por uma vegetação espessa. Calculou que passaria muito tempo antes de os pássaros de aço dos nahab explorarem aquele sítio, porque era absurdo tentar aterrar ali, mesmo com um helicóptero, e era quase impossível uma pessoa tentar deslocar-se na rugosidade daquela superficie. Sentiu-se desfalecer, porque poderia procurar o ninho pelo resto dos seus dias sem conseguir encontrá-lo naquelas fendas, mas depois lembrou-se de que Walimai lhe dissera exactamente por onde deveria subir. Descansou um momento e pôs-se novamente em marcha, subindo e descendo de rocha em rocha, impelida por uma força desconhecida, por uma espécie de certeza instintiva.
Não precisou de ir muito longe. A pouca distância, numa fenda formada por grandes rochas, estava o ninho e, no seu centro, viu os três ovos de cristal. Eram mais pequenos e mais brilhantes que os da sua visão, maravilhosos.
Com muito cuidado, para não escorregar numa daquelas profundas fissuras, onde teria partido todos os ossos, Nadia Santos arrastou-se até ao ninho. Os seus dedos fecharam-se sobre a reluzente perfeição do cristal, mas o seu braço não conseguiu deslocá-lo. Admirada, agarrou noutro ovo. Não conseguiu erguê-lo e ao terceiro também não. Era impossível que aqueles objectos, do tamanho de um ovo de tucano, pesassem daquela maneira. O que se passava? Examinou-os, empurrando-os de todos os lados, até se certificar de que não estavam colados nem aparafusados, pelo contrário, pareciam pousar quase flutuando no fofo colchão de pauzinhos e penas. A rapariga sentou-se numa das rochas sem entender o que se passava, sem poder acreditar que toda aquela aventura, todo aquele esforço para chegar até ali tivessem sido inúteis. Tivera uma força sobre-humana para conseguir subir como uma lagartixa pelas paredes internas do tepui e agora, finalmente no cume, as forças faltavam-lhe e não conseguia deslocar nem um milímetro o tesouro que tinha ido buscar.
Por longos minutos Nadia Santos hesitou, transtornada, sem conseguir descobrir a solução daquele enigma. De repente lembrou-se de que aqueles ovos pertenciam a alguém. Talvez as Bestas os tivessem posto ali, mas também podiam ser de alguma criatura fabulosa, uma ave ou um réptil, como os dragões. Nesse caso a mãe poderia aparecer a qualquer instante e, vendo uma intrusa perto do ninho, lançar-se ao ataque com uma fúria justificada. Não podia continuar ali, decidiu, mas também não pensava renunciar aos ovos. Walimai tinha dito que não podia regressar de mãos vazias... Que mais lhe dissera o xamã? Que tinha de voltar antes do anoitecer. E então lembrou-se do que o feiticeiro lhe ensinara no dia anterior: a lei da reciprocidade. Por cada coisa que levamos, devemos deixar outra em troca.
Olhou para si própria, desconsolada. Não tinha nada para dar. Levava vestidas apenas uma camisola de manga curta, umas calças curtas e uma cesta amarrada às costas. Ao examinar o seu corpo apercebeu-se pela primeira vez dos arranhões, nódoas negras e feridas abertas que as rochas lhe tinham provocado, ao subir a montanha. O seu sangue, onde se concentrava a energia vital que lhe permitira chegar até aí, era talvez a sua única posse valiosa. Aproximou-se, esticando o corpo dorido para que o sangue pingasse sobre o ninho. Algumas manchinhas vermelhas salpicaram as penas macias. Ao inclinar-se sentiu o talismã contra o peito e compreendeu imediatamente que esse era o preço que tinha de pagar pelos ovos. Hesitou durante longos minutos. Entregá-lo significava renunciar aos poderes mágicos de protecção que ela atribuía ao osso entalhado, oferta do xamã. Nunca teria nada tão mágico como aquele amuleto, era muito mais importante para ela que os ovos, cuja utilidade nem conseguia imaginar. Não, não podia desfazer-se disso, decidiu.
Nadia fechou os olhos, esgotada, enquanto o sol que se filtrava pelas nuvens ia mudando de cor. Por instantes regressou ao sonho alucinante da ayahuasca, que teve no funeral de Mokarita e voltou a ser a águia voando num céu branco, suspensa pelo vento, leve e poderosa. De cima, viu os ovos brilhando no ninho, tal como na outra visão, e teve a mesma certeza que tivera nessa altura: aqueles ovos eram a salvação do povo da neblina. Finalmente, abriu os olhos com um suspiro, tirou o talismã do pescoço e colocou-o no ninho. A seguir esticou a mão e tocou num dos ovos, que imediatamente cedeu, permitindo-lhe levantá-lo sem esforço. Os outros foram igualmente fáceis de tirar. Colocou os três com cuidado na sua cesta e dispôs-se a descer por onde tinha subido. A luz do Sol ainda se filtrava através das nuvens. Calculou que a descida devia ser mais rápida e que chegaria lá abaixo antes do anoitecer, como lhe recomendara Walimai.
Enquanto Nadia Santos subia ao cume do tepui, Alexander Cold descia por uma passagem estreita em direcção ao ventre da Terra, a um mundo fechado, quente, escuro e palpitante, como nos seus piores pesadelos. Se ao menos tivesse uma lanterna... Tinha de avançar às apalpadelas, gatinhando às vezes e arrastando-se outras, numa completa escuridão. Os seus olhos não se habituavam, porque as trevas eram totais. Estendia uma mão apalpando a rocha para calcular a direcção e a largura do túnel, depois deslocava o corpo, serpenteando para o interior, centímetro a centímetro. À medida que avançava, o túnel parecia estreitar-se e pensou que não conseguiria dar a volta para sair. O pouco ar que havia era sufocante e fétido, como se estivesse enterrado numa tumba. Ali de nada lhe serviam os atributos do jaguar negro; precisava de outro animal totémico, do género da toupeira, da ratazana ou do verme.
Parou muitas vezes com intenção de retroceder antes que fosse demasiado tarde, mas de todas as vezes continuou em frente impelido pela lembrança da mãe. Em cada minuto decorrido aumentava a pressão que sentia no peito e o terror tornava-se cada vez mais insondável. Voltou a ouvir o batimento surdo de um coração, que já tinha ouvido no labirinto com Walimai. A sua mente, enlouquecida, baralhava os inúmeros perigos que o espreitavam. O pior de todos era ficar sepultado vivo nas entranhas daquela montanha. Que comprimento teria aquela passagem? Chegaria ao fim ou cairia vencido pelo caminho? O oxigénio seria suficiente ou morreria asfixiado?
A determinada altura, Alexander caiu estendido de bruços, esgotado, gemendo. Tinha os músculos tensos, o sangue latejando-lhe nas fontes, dorido cada nervo do seu corpo. Não conseguia raciocinar, sentia que a cabeça ia explodir-lhe por falta de ar. Nunca tivera tanto medo, nem sequer durante a longa noite da sua iniciação entre os índios. Tentou lembrar-se das emoções que o agitavam quando estava suspenso por uma corda no El Capitán, mas não era comparável. Nessa altura estava no cume de uma montanha, agora estava no seu interior. Lá estava com o pai, aqui estava absolutamente só. Abandonou-se ao desespero, tremendo, extenuado. Por um tempo eterno, as trevas penetraram-lhe na mente e perdeu o rumo, chamando a morte sem voz, derrotado. E então, quando o seu espírito se afastava na escuridão, a voz do pai abriu caminho por entre as brumas do seu cérebro e chegou-lhe, primeiro como um sussurro quase imperceptível, depois com mais clareza. O que lhe dissera o seu pai tantas vezes, quando o ensinava a escalar montanhas? Quieto, Alexander, procura no centro de ti próprio, onde está a tua força. Respira. Ao inspirar enches-te de energia, ao exalar libertas-te da tensão. Não penses, obedece ao teu instinto. Fora o que ele próprio aconselhara a Nadia, quando subiram ao Olho do Mundo. Como pudera esquecê-lo?
Concentrou-se em respirar: inspirar energia, sem pensar na falta de oxigénio, exalar o seu terror, descontrair, rejeitar os pensamentos negativos que o paralisavam. Consigo fazê-lo, consigo fazê-lo... repetiu. Pouco a pouco, regressou ao seu corpo. Visualizou os dedos dos pés e começou a relaxá-los um por um, depois as pernas, os joelhos, as ancas, as costas, os braços até às pontas dos dedos, a nuca, os maxilares, as pálpebras. Já conseguia respirar melhor, deixou de soluçar. Localizou o centro de si próprio, um lugar vermelho e vibrante à altura do umbigo. Ouviu os batimentos do seu coração. Sentiu um formigueiro na pele, depois um calor pelas veias, finalmente a força regressou-lhe ao corpo, aos sentidos e à mente.
Alexander Cold lançou uma exclamação de alívio. O som demorou um pouco a bater contra alguma coisa e a regressar aos seus ouvidos. Apercebeu-se de que era assim que funcionava o sonar dos morcegos, permitindo-lhes deslocar-se na escuridão. Repetiu a exclamação, esperou que esta voltasse indicando-lhe a distância e a direcção. Dessa forma conseguiu «ouvir com o coração», tal como Nadia lhe dissera tantas vezes. Tinha descoberto a forma de avançar nas trevas.
O resto da viagem pelo túnel decorreu num estado de semi-inconsciência, na qual o seu corpo se deslocava sozinho, como se conhecesse o caminho. De vez em quando, Alex ligava-se por momentos com o seu pensamento lógico e como um relâmpago deduzia que esse ar carregado de gases desconhecidos devia afectar-lhe o cérebro. Mais tarde pensaria que vivera um sonho.
Quando parecia que a passagem estreita nunca mais acabava, o rapaz ouviu um rumor de água, como um rio, e uma baforada de ar quente chegou aos seus esgotados pulmões. Isso renovou-lhe as forças. Atirou-se para a frente e numa curva do subterrâneo percebeu que os seus olhos começavam a distinguir alguma coisa naquele negrume. Uma claridade, inicialmente bastante ténue, foi surgindo pouco a pouco. Continuou a arrastar-se, esperançado, e viu que a luz e o ar aumentavam. Depressa se encontrou numa gruta que devia estar ligada ao exterior de alguma forma, porque estava ligeiramente iluminada. Um cheiro estranho chegou-lhe ao nariz, persistente, um pouco nauseabundo, a vinagre e flores podres. A gruta tinha as mesmas formações de brilhantes minerais que vira no labirinto. As facetas lavradas daquelas estruturas funcionavam como espelhos, reflectindo e multiplicando a luz escassa que ali entrava. Viu-se na margem de uma pequena lagoa, alimentada por um riacho de águas brancas, semelhante a leite magro. Vindo da tumba onde estivera, essa lagoa e esse rio brancos pareceram-lhe a coisa mais bela que vira na sua vida.
Seria essa a fonte da eterna juventude? O cheiro enjoava-o, pensou que devia ser um gás que se libertava das profundezas, talvez um gás tóxico que lhe embotava o cérebro.
Uma voz sussurrante e acariciadora chamou a sua atenção. Surpreendido, apercebeu-se de alguma coisa na outra margem da pequena lagoa, a poucos metros de distância e, quando conseguiu adaptar as suas pupilas à pouca luz da gruta, distinguiu uma figura humana. Não conseguia vê-la muito bem, mas a forma e a voz eram as de uma rapariga. Impossível, disse, as sereias não existem, estou a enlouquecer, é o gás, o cheiro; mas a rapariga parecia real, o seu cabelo longo agitava-se, a sua pele irradiava luz, os seus gestos eram humanos, a sua voz sedutora. Quis atirar-se à água branca para beber até se saciar e para lavar a terra que o cobria, bem como o sangue das feridas que tinha nos cotovelos e nos joelhos. A tentação de se aproximar da bela criatura que o chamava e de se abandonar ao prazer era insuportável. Ia fazê-lo quando reparou que a aparição era igual a Cecilia Burns, com o seu cabelo castanho, os seus olhos azuis, os seus gestos lânguidos. Uma parte ainda consciente do seu cérebro avisou-o de que aquela sereia era uma criação do seu espírito, tal como o eram aquelas medusas do mar, gelatinosas e transparentes, que flutuavam no ar pálido da caverna. Recordou o que tinha ouvido da mitologia dos índios, as histórias que Walimai tinha contado sobre as origens do universo, onde figurava um Rio de Leite que continha todas as sementes da vida, mas também putrefacção e morte. Não, essa não era a água milagrosa que devolveria a saúde da sua mãe, concluiu. Era uma partida da sua mente para o distrair da sua missão. Não havia tempo a perder, cada minuto era precioso. Tapou o nariz com a camisola, lutando contra o cheiro penetrante que o aturdia. Viu que ao longo da margem onde estava se estendia uma passagem estreita, que desaparecia seguindo o curso do riacho, e fugiu por ali.
Alexander Cold seguiu a vereda, deixando para trás a lagoa e a prodigiosa aparição da rapariga. Surpreendeu-o que a claridade ténue continuasse. Pelo menos não precisava de se arrastar e de ir às apalpadelas. O aroma foi ficando mais ténue, até desaparecer completamente. Avançou o mais depressa que pôde, agachado, tentando não bater com a cabeça no tecto e mantendo o equilíbrio no parapeito estreito, pensando que se caísse ao rio que corria em baixo, talvez fosse arrastado. Lamentou não ter tido tempo para averiguar o que era aquele líquido branco parecido com leite e cheiro a tempero de saladas. A longa vereda estava coberta de musgo escorregadio onde fervilhavam milhares de criaturas minúsculas, larvas, insectos, vermes e grandes sapos azulados, com a pele transparente permitindo ver os órgãos internos a palpitar. As suas línguas compridas, de serpente, tentavam atingi-lo nas pernas. Alex sentia a falta das suas botas, porque tinha de os pontapear descalço e os seus corpos moles e frios como gelatina provocavam-lhe um asco incontrolável. Duzentos metros à frente a camada de lodo e os sapos desapareceram e a vereda tornou-se mais larga. Aliviado, pôde dar uma vista de olhos em volta, reparando pela primeira vez que as paredes estavam salpicadas de cores muito bonitas. Ao examiná-las de perto, compreendeu que eram pedras preciosas e veios de metais nobres. Abriu o canivete suíço e escavou a rocha, verificando que as pedras se soltavam com uma certa facilidade. O que seriam? Reconheceu algumas cores, como o verde intenso das esmeraldas e o vermelho puro dos rubis. Estava rodeado por um tesouro fabuloso: este era o verdadeiro El Dorado, cobiçado durante séculos por aventureiros.
Bastava escavar as paredes com o canivete para colher uma fortuna. Se enchesse a cabaça que Walimai lhe dera com aquelas pedras preciosas, regressaria à Califórnia convertido em milionário, poderia pagar os melhores tratamentos para a doença da sua mãe, comprar uma casa nova para os pais, pagar a educação das suas irmãs. E para ele? Compraria um carro de corrida para matar de inveja os seus amigos e deixar Cecilia Bums de boca aberta. Estas jóias eram a solução da sua vida: podia dedicar-se à música, a escalar montanhas ou ao que quisesse, sem ter de se preocupar em ganhar um salário... Não! O que estava a pensar? Estas pedras preciosas não eram só suas, deviam servir para ajudar os índios. Com esta riqueza incrível teria poder para cumprir a missão que Iyomi lhe confiara: negociar com os nahab. Converter-se-ia no protector da tribo e dos seus bosques e cascatas. Com a pena da sua avó e o seu dinheiro transformariam o Olho do Mundo na reserva natural mais extensa do mundo. Em poucas horas poderia encher a cabaça e mudar o destino do povo da neblina e da sua própria família.
O rapaz começou a esgaravatar com a ponta do canivete em redor de uma pedra verde, fazendo saltar pedacinhos da rocha. Minutos mais tarde conseguiu soltá-la e quando a teve entre os dedos conseguiu vê-la bem. Não tinha o brilho de uma esmeralda polida, como as dos anéis, mas era sem dúvida da mesma cor. Ia pô-la na cabaça, quando se lembrou do objectivo daquela missão ao centro da terra: encher a cabaça com a água da saúde. Não. Não seriam jóias que comprariam a saúde da sua mãe, era preciso alguma coisa milagrosa. Com um suspiro guardou a pedra verde no bolso das calças e continuou em frente, preocupado porque tinha perdido minutos preciosos e não sabia quanto teria ainda de andar até chegar à fonte maravilhosa.
De súbito a vereda terminou diante de um monte de pedras. Alex tacteou certo de haver uma forma de seguir em frente. Não acreditava que a sua viagem acabasse dessa forma tão abrupta. Se Walimai o tinha enviado nesta viagem infernal às profundezas da montanha, era porque a fonte existia, era tudo uma questão de encontrá-la. Pode ser que tivesse vindo por um caminho errado que, nalguma bifurcação do túnel, se tivesse desviado. Talvez devesse ter atravessado a lagoa de leite, e a rapariga não fosse uma tentação para o distrair, mas a sua guia para encontrar a água da saúde... As dúvidas começaram a retumbar no seu cérebro, como gritos no volume máximo. Levou as mãos às fontes, tentando acalmar-se, repetiu a respiração profunda que tinha praticado no túnel e deu ouvidos à voz remota do seu pai, que o guiava. Tenho de situar-me no centro de mim mesmo, onde há calma e força, murmurou. Decidiu não perder energia contemplando os possíveis erros cometidos, mas o obstáculo que tinha pela frente. Durante o Inverno do ano anterior, a mãe tinha-lhe pedido que levasse uma grande pilha de lenha do pátio para o fundo da garagem. Quando ele alegou que nem Hércules conseguiria fazê-lo, a mãe mostrou-lhe como: um pau de cada vez.
O jovem foi retirando as pedras: primeiro os calhaus, depois as rochas de tamanho médio, que se soltavam com facilidade, por fim os grandes pedregulhos. Foi um trabalho lento e pesado, mas passado algum tempo tinha aberto uma brecha. Uma baforada de vapor quente bateu-lhe no rosto, como se tivesse aberto a porta de um forno, obrigando-o a retroceder. Esperou, sem saber qual deveria ser o passo seguinte, enquanto o jorro de ar saía. Não sabia nada de mineração, mas tinha lido que no interior das minas costuma haver fugas de gás e calculou que, no caso de se tratar disso, estava condenado. Poucos minutos depois, apercebeu-se de que o jorro diminuía, como se tivesse estado sobre pressão, acabando por desaparecer. Esperou um pouco e depois meteu a cabeça pelo buraco.
No outro lado havia uma caverna com um poço profundo no meio, de onde surgia o fumo e uma luz avermelhada. Ouviam-se pequenas explosões, como se lá em baixo fervesse algo espesso e borbulhante. Não teve de se aproximar para adivinhar que devia ser lava ardente, talvez os últimos resíduos de actividade de um vulcão antiquíssimo. Estava no coração da cratera. Avaliou a possibilidade de os vapores serem tóxicos, mas como não cheiravam mal, decidiu que podia introduzir-se na caverna. Passou o resto do corpo pela abertura e deu consigo sobre um chão de pedra quente. Aventurou um passo, depois mais outro, decidido a explorar o recinto. O calor era pior que uma sauna e rapidamente ficou banhado em suor, mas havia ar suficiente para respirar. Tirou a camisola de manga curta e amarrou-a em volta da boca e do nariz. Os olhos
choravam-lhe. Compreendeu que tinha de avançar com muita prudência para não escorregar, caindo ao poço.
A caverna era ampla e de forma irregular, iluminada pela luz
avermelhada e tremeluzente do fogo que crepitava em baixo. À sua direita abria-se outra sala, que explorou tacteando, descobrindo que era mais escura, porque a luz que iluminava a primeira quase não chegava aí. Mas a temperatura era mais suportável, talvez por entrar ar fresco através de alguma fissura. O rapaz estava no limite da sua resistência, empapado em suor e sedento, convencido de que as forças não lhe chegariam para regressar pelo longo caminho que já tinha percorrido. Onde estava a fonte que procurava?
Nesse momento sentiu uma forte brisa e logo a seguir uma vibração pavorosa que ressoou nos seus nervos, como se estivesse dentro de um grande tambor metálico. Tapou instintivamente os ouvidos, mas não era ruído; era uma energia insuportável e não havia maneira de se defender dela. Voltou-se à procura da causa. E então viu-a. Era um morcego gigantesco, cujas asas abertas deviam medir uns cinco metros de uma ponta à outra. O seu corpo de ratazana era duas vezes maior que o do seu cão Poncho e na cabeçorra via-se um focinho com longos caninos de fera. Não era preto mas sim completamente branco, um morcego albino.
Aterrado, Alex compreendeu que aquele animal, tal como as Bestas, era o último sobrevivente de uma idade muito antiga, quando os primeiros seres humanos ergueram a testa do chão, olhando assombrados para as estrelas, há milhares e milhares de anos. A cegueira do animal não era uma vantagem para ele, porque aquela vibração era o seu sistema de sonar: o vampiro sabia exactamente como era e onde estava o intruso. A ventania repetiu-se: eram as asas agitando-se, prontas para o ataque. Era esse o Rahakanariwa dos índios, o terrível pássaro chupa-sangue?
O seu espírito desatou a voar. Sabia que as suas possibilidades de fuga eram quase nulas, pois não podia retroceder para a outra sala e desatar a correr, com aquele terreno traiçoeiro e correndo o risco de cair no poço de lava. Instintivamente levou a mão ao canivete suíço que trazia à cintura, embora soubesse que era uma arma ridícula comparada com o tamanho do seu inimigo. Os seus dedos esbarraram na flauta pendurada no cinto e, sem pensar duas vezes, soltou-a e levou-a aos lábios. Conseguiu murmurar o nome do avô Joseph Cold, pedindo-lhe ajuda nesse instante de perigo mortal, e depois começou a tocar.
As primeiras notas ecoaram cristalinas, frescas, puras, naquele recinto maléfico. O enorme vampiro, extremamente sensível aos sons, recolheu as asas e pareceu encolher. Tinha vivido talvez vários séculos na solidão e no silêncio daquele mundo subterrâneo e aqueles sons tiveram o efeito de uma explosão no seu cérebro, sentindo-se crivado por milhões de dardos pontiagudos. Lançou outro grito na sua onda inaudível para os ouvidos humanos, embora claramente dolorosa, mas a vibração confundiu-se com a música e o vampiro, desconcertado, não conseguiu interpretá-la no seu sonar.
Enquanto Alex tocava a sua flauta, o grande morcego branco chegou-se para trás, retrocedendo aos poucos, até ficar imóvel num canto, como um urso branco alado, com os caninos e as garras de fora, mas paralisado. Uma vez mais o rapaz admirou-se com o poder daquela flauta, que o tinha acompanhado em cada momento crucial da sua aventura. Quando o animal se moveu, Alex viu um pequeno fio de água que jorrava pela parede da caverna e soube nesse momento que tinha chegado ao fim do seu caminho: estava à frente da fonte da eterna juventude. Não era o manancial abundante a meio de um jardim que a lenda descrevia. Eram apenas algumas gotas humildes deslizando pela rocha viva.
Alexander Cold avançou com cautela, um passo de cada vez, sem deixar de tocar a flauta, aproximando-se do monstruoso vampiro, tentando pensar com o coração e não com a cabeça. Era uma experiência tão extraordinária que não podia confiar apenas na razão ou na lógica. Tinha chegado o momento de utilizar o mesmo recurso de que se servia para escalar montanhas e criar música: a intuição. Tentou imaginar como se sentiria o animal e concluiu que devia estar tão aterrado como ele próprio. Estava pela primeira vez diante de um ser humano, nunca tinha ouvido sons como os da flauta e o ruído devia ser atroador no seu sonar, por isso parecia estar hipnotizado. Lembrou-se de que tinha de recolher a água na cabaça e regressar antes do anoitecer. Era-lhe impossível calcular há quantas horas estaria no mundo subterrâneo, mas a única coisa que queria era sair dali o mais depressa possível.
Enquanto tocava uma única nota na flauta, valendo-se de uma mão, esticou a outra para a frente, quase a roçar o vampiro, mas assim que caíram as primeiras gotas dentro da cabaça, a água do jorro diminuiu, desaparecendo completamente. A frustração de Alex foi tão grande, que esteve prestes a arremeter aos murros contra a rocha. A única coisa que o deteve foi o animal horrendo que se erguia como uma sentinela ao seu lado.
E nessa altura, quando ia dar meia volta, lembrou-se das palavras de Walimai sobre a lei inexorável da Natureza: dar o mesmo que se recebe. Passou revista aos seus escassos bens: a bússola, o canivete suíço e a flauta. Podia deixar os dois primeiros. De qualquer forma, não lhe serviriam de muito, mas não podia desfazer-se da sua flauta mágica, da herança do seu famoso avô, do seu instrumento de poder. Sem ela estava perdido. Colocou a bússola e a navalha no chão e esperou. Nada. Nem mais uma gota saiu da rocha.
Então compreendeu que essa água da saúde era, para ele, o tesouro mais valioso deste mundo, o único que poderia salvar a vida da sua mãe. Em troca devia entregar o seu bem mais precioso. Colocou a flauta no chão enquanto as últimas notas ecoavam entre as paredes da caverna. Imediatamente o pequeno jorro de água voltou a fluir. Esperou minutos intermináveis, até ter a cabaça cheia, sem perder de vista o vampiro, que espreitava ao seu lado. Estava tão próximo que podia cheirar a sua fetidez de tumba, contar-lhe os dentes e sentir uma compaixão infinita pela profunda solidão que o envolvia, mas não permitiu que isso o distraísse da sua tarefa. Quando a cabaça estava a transbordar, retrocedeu lentamente, para não provocar o monstro. Saiu da caverna, entrou na outra onde se ouvia o gargarejo da lava ardendo nas entranhas da Terra e deixou-se escorregar depois pela abertura. Pensou voltar a colocar as pedras para tapá-la, mas não tinha tempo e calculou que o vampiro era demasiado grande para sair por aquele buraco e por isso não o seguiria.
Fez o caminho de volta mais depressa, porque já o conhecia. Não teve a tentação de apanhar pedras preciosas e, quando passou pela lagoa de leite onde a miragem de Cecilia Burns o esperava, tapou o nariz, para se defender do gás odorífero que perturbava o entendimento, e não parou. O mais dificil foi voltar a meter-se no túnel estreito por onde viera, segurando verticalmente na cabaça para não entornar a água. Tinha uma tampa: um pedaço de pele amarrado com uma corda, mas não era hermético e ele não queria perder nem uma gota do líquido maravilhoso da saúde. Desta vez, o corredor, embora opressivo e tenebroso, não lhe pareceu tão horrível, porque sabia que no fim chegaria à luz e ao ar.
O colchão de nuvens na boca do tepui, que recebia os últimos raios do sol, tinha adquirido tons avermelhados, do ferrugem ao dourado. As seis luas de luz começavam a desaparecer no estranho firmamento do tepui, quando Nadia Santos e Alexander Cold regressaram. Walimai esperava no anfiteatro da cidade de ouro, diante do conselho das Bestas, acompanhado por Borobá. Mal o macaco viu a sua dona, correu aliviado pendurando-se-lhe ao pescoço. Os jovens estavam extenuados, com o corpo coberto de arranhões e nódoas negras, mas cada um deles trazia o tesouro que fora buscar. O velho feiticeiro não deu mostras de surpresa, recebendo-os com a mesma serenidade com que cumpria cada acto da sua existência e disse-lhes que tinha chegado o momento de partir. Não havia tempo para descansar porque, durante a noite, tinham de atravessar o interior da montanha e sair para o Olho do Mundo.
- Tive de deixar o meu talismã - contou Nadia, desanimada, ao seu amigo.
- E eu, a minha flauta - replicou ele.
- Podes arranjar outra. A música és tu que a fazes, não a flauta - disse Nadia.
- Também os poderes do talismã estão dentro de ti - consolou-a ele.
Walimai observou cuidadosamente os três ovos e cheirou a água da cabaça. Aprovou com uma grande seriedade. Depois desamarrou um dos saquinhos de pele que lhe pendiam do bastão de curandeiro e entregou-o a Alex, com instruções para moer as folhas e misturá-las nessa água, para curar a mãe. O rapaz pendurou o saquinho ao pescoço, com lágrimas nos olhos. Walimai agitou o cilindro de quartzo sobre a cabeça de Alex durante muito tempo, soprou-lhe no peito, nas fontes e nas costas, tocou-o nos braços e nas pernas com o seu bastão.
- Se não fosses nahab, serias o meu sucessor, nasceste com alma de xamã. Tens o poder de curar, usa-o bem - disse-lhe.
- Isso significa que posso curar a minha mãe com esta água e estas folhas?
- Pode ser e pode não ser...
Alex apercebia-se de que as suas ilusões não tinham uma base lógica, tinha de confiar nos modernos tratamentos do hospital do Texas e não numa cabaça com água e numas folhas secas obtidas de um ancião nu a meio do Amazonas, mas nesta viagem tinha aprendido a abrir o seu espírito aos mistérios. Existiam poderes sobrenaturais e outras dimensões da realidade, como este tepui povoado de criaturas de épocas pré-históricas. É verdade. Quase nada podia explicar-se racionalmente, incluindo as Bestas, mas Alex preferiu não o fazer e entregou-se simplesmente à esperança de um milagre.
O conselho dos deuses tinha aceite as advertências dos jovens forasteiros e do sábio Walimai. Não sairiam para matar outros nahab. Era uma tarefa inútil por serem tão numerosos como as formigas e porque viriam outros. As Bestas permaneceriam na sua montanha sagrada, onde estavam seguras, pelo menos para já.
Nadia e Alex despediram-se com pesar das grandes preguiças. No melhor dos casos, se tudo corresse bem, a entrada labirintica do tepui nunca seria descoberta e os helicópteros também não desceriam do ar. Com sorte, passaria outro século antes que a curiosidade humana chegasse ao último refúgio dos tempos pré-históricos. Caso isso não acontecesse, esperavam pelo menos que a comunidade científica defendesse aquelas criaturas extraordinárias antes que a cobiça dos aventureiros a destruísse. De qualquer forma, não voltariam a ver as Bestas.
Subiram os degraus que conduziam ao labirinto, quando a noite caía, iluminados pela tocha de resina de Walimai. Percorreram sem vacilar o intrincado sistema de túneis, que o xamã conhecia na perfeição. Nunca deram com um beco sem saída, nunca tiveram de retroceder ou voltar para trás, porque o feiticeiro tinha o mapa gravado na mente. Alex desistiu da ideia de memorizar as voltas porque, mesmo que conseguisse recordá-las e até desenhá-las num papel, carecia, de qualquer forma, de pontos de referência e seria impossível situar-se.
Chegaram à caverna maravilhosa onde viram o primeiro dragão e extasiaram-se mais uma vez com as cores das pedras preciosas, dos cristais e dos metais que brilhavam no seu interior. Era uma verdadeira gruta de Ali Babá, com todos os tesouros fabulosos que a mente mais ambiciosa poderia imaginar. Alex lembrou-se da pedra verde que guardara no bolso e tirou-a para a comparar. No brilho pálido da caverna, a pedra já não era verde mas amarelada e nessa altura compreendeu que a cor dessas gemas era produto da luz e que possivelmente tinham tão pouco valor como a mica do El Dorado. Tinha feito bem ao rejeitar a tentação de encher a sua cabaça com elas, em vez de o fazer com a água da saúde. Guardou a falsa esmeralda como recordação: levá-la-ia para a oferecer à mãe.
O dragão alado estava no seu canto, tal como o tinham visto da primeira vez, mas com outro mais pequeno e de cores avermelhadas, talvez a sua companheira. Não se moveram com a presença dos três seres humanos, nem quando a mulher-espírito de Walimai voou para os cumprimentar, esvoaçando em redor deles como uma fada sem asas.
Desta vez, tal como lhe acontecera na sua peregrinação ao fundo da Terra, Alex achou que o regresso era mais curto e fácil, porque já conhecia o caminho e não esperava surpresas. Não as houve e depois de percorrer a última passagem encontraram-se na gruta a poucos metros da saída. Aí, Walimai pediu-lhes que se sentassem, abriu um dos seus misteriosos saquinhos e tirou algumas folhas que pareciam ser de tabaco. Explicou-lhes rapidamente que tinham de ser «limpos» para apagar a lembrança do que tinham visto. Alex não queria esquecer-se das Bestas nem da sua viagem ao fundo da Terra. Nadia também não desejava renunciar ao que aprendera, mas Walimai garantiu-lhes que se lembrariam de tudo isso, só o caminho se apagaria das suas mentes, para que não conseguissem voltar à montanha sagrada.
O feiticeiro enrolou as folhas, colando-as com saliva, acendeu-as como um cigarro e começou a fumá-lo. Inalava e depois soprava o fumo com força para a boca dos jovens, primeiro para Alex depois para Nadia. Não era um tratamento agradável: o fumo, fétido, quente e picante, ia directamente para a zona da testa e o efeito era o de terem aspirado pimenta. Sentiram uma picada aguda na cabeça, desejos incontroláveis de espirrar e depressa ficaram enjoados. À mente de Alex voltou a sua primeira experiência com tabaco, quando a sua avó Kate se trancou com ele no carro a fumar até o deixar doente. Desta vez os sintomas eram semelhantes e além disso tudo parecia girar à sua volta.
Então Walimai apagou a tocha. A gruta não recebia o débil raio de luz que a iluminava há alguns dias e, quando entraram, a escuridão era total. Os jovens deram as mãos enquanto Borobá gemia assustado, sem largar a cintura da sua dona. Os dois jovens, mergulhados nas trevas, pressentiram monstros à espreita e ouviram alaridos arrepiantes, mas não tiveram medo. Com a pouca lucidez que lhes restava, deduziram que aquelas visões aterradoras eram o efeito do fumo inalado e que, de qualquer forma, enquanto o feiticeiro estivesse com eles, estariam a salvo... Instalaram-se no chão, abraçados, e, passados alguns minutos, tinham perdido a consciência.
Não conseguiram calcular quanto tempo estiveram adormecidos. Acordaram aos poucos e, de repente, sentiram a voz de Walimai chamando-os e as mãos dele tacteando para encontrá-los. A gruta já não estava totalmente às escuras, uma suave penumbra permitia vislumbrar os seus contornos. O xamã apontou-lhes a passagem estreita por onde tinham de sair para o exterior e eles, ainda um pouco maldispostos, seguiram-no. Saíram para o bosque de fetos. Já tinha amanhecido no Olho do Mundo.
No dia seguinte, os viajantes iniciaram a marcha de volta a Tapirawa-teri. Quando se aproximaram, viram o brilho dos helicópteros entre as árvores e souberam que a civilização dos nahab tinha, finalmente, chegado à aldeia. Walimai decidiu permanecer no bosque. Mantivera-se durante toda a sua vida afastado dos forasteiros e esse não era o momento de alterar os seus hábitos. O xamã, como todo o povo da neblina, possuía o talento de tornar-se praticamente invisível e durante anos rondara os nahab, aproximando-se dos seus acampamentos e povoações para os observar, sem que ninguém suspeitasse da sua existência. Só Nadia Santos e o padre Valdomero, seu amigo desde os tempos em que o sacerdote vivera com os índios, o conheciam. O feiticeiro tinha encontrado a «menina cor de mel» em várias das suas visões e estava convencido de que ela era uma enviada dos espíritos. Considerava-a da família, por isso permitiu que ela o chamasse pelo seu nome quando estavam sozinhos, por isso lhe contou os mitos e as lendas dos índios, lhe ofereceu o seu talismã e a conduziu à cidade sagrada dos deuses.
Alex teve um sobressalto de alegria ao ver os helicópteros ao longe: não estava perdido para sempre no planeta das Bestas, podia regressar ao mundo conhecido. Calculou que os helicópteros tinham percorrido o Olho do Mundo durante vários dias, procurando-os. A avó devia ter armado uma confusão monumental quando ele desapareceu, obrigando o capitão Ariosto a sobrevoar aquela imensa região, passando-a a pente fino. Possivelmente viram o fumo da pira funerária de Mokarita e dessa forma descobriram a aldeia.
Walimai explicou aos jovens que esperaria escondido entre as árvores para ver o que se passava na aldeia. Alex quis dar-lhe uma lembrança, em troca do remédio milagroso para devolver a saúde da sua mãe, e entregou-lhe o seu canivete suíço. O índio agarrou naquele objecto metálico pintado de vermelho, sentiu o seu peso e a sua estranha forma, sem fazer ideia da sua utilidade. Alex abriu, um por um, os canivetes, as pinças, as tesouras, o saca-rolhas, a chave de parafusos, até o objecto se transformar num brilhante ouriço. Ensinou ao xamã o uso de cada uma das partes e como abri-las e fechá-las.
Walimai agradeceu o obséquio, mas tinha vivido mais de um século sem conhecer os metais e, francamente, sentia-se um pouco velho para aprender os truques dos nahab. Mas não quis ser descortês e pendurou o canivete suíço ao pescoço, junto dos colares de dentes e dos seus outros amuletos. Depois lembrou a Nadia o grito da coruja, que lhes servia para o chamarem, ficando assim em contacto. A rapariga entregou-lhe a cesta com os três ovos de cristal, porque calculou que estariam mais seguros nas mãos do ancião. Não queria aparecer com eles diante dos forasteiros, pertenciam ao povo da neblina. Despediram-se e, em menos de um segundo, Walimai esfumou-se na Natureza, como uma ilusão.
Nadia e Alex aproximaram-se cautelosamente do sítio onde tinham aterrado os «pássaros de ruído e vento», como lhes chamavam os índios. Esconderam-se entre as árvores, onde podiam observar sem serem vistos, embora estivessem longe de mais para ouvir com clareza. A meio de Tapirawa-teri estavam os pássaros de ruído e vento, três tendas, um grande toldo e até um fogão a petróleo. Tinham estendido um arame de onde pendiam ofertas para atrair os índios: facas, panelas, machados e outros artigos de aço e alumínio, que brilhavam ao sol. Viram vários soldados armados em atitude de alerta, mas nem rasto dos índios. O povo da neblina tinha desaparecido, como fazia sempre que havia perigo. Aquela estratégia fora bastante útil à tribo, ao contrário de outros índios que enfrentaram os nahab e foram exterminados ou assimilados. Aqueles que foram incorporados à civilização estavam transformados em mendigos, tinham perdido a sua dignidade de guerreiros e as suas terras, viviam como ratos. Por isso o chefe Mokarita nunca permitiu que o seu povo se aproximasse dos nahab nem ficasse com os seus presentes. Defendia que a troco de um machete ou de um chapéu, a tribo esquecia para sempre as suas origens, a sua língua e os seus deuses.
Os dois jovens perguntaram a si próprios o que pretenderiam aqueles soldados. Se faziam parte do plano para eliminar os índios do Olho do Mundo, era melhor não se aproximarem. Lembravam-se de cada uma das palavras da conversa que tinham ouvido em Santa Maria de Ia Lluvia entre o capitão Ariosto e Mauro Carías e compreenderam que as suas vidas estavam em perigo se ousassem intervir.
Começou a chover, como acontecia duas ou três vezes por dia, uns aguaceiros imprevistos, curtos e violentos, que empapavam tudo durante algum tempo e cessavam de repente, deixando o mundo fresco e limpo. Os dois amigos estavam há quase uma hora, no seu refúgio entre as árvores, observando o acampamento quando viram chegar à aldeia um grupo de três pessoas, que evidentemente tinham ido explorar os arredores e voltavam agora a correr, molhados até aos ossos. Apesar da distância, reconheceram-nas imediatamente: eram Kate Cold, César Santos e o fotógrafo Timothy Bruce. Nadia e Alex não conseguiram evitar uma exclamação de alívio: isso significava que o professor Leblanc e a doutora Omayra Torres também andavam perto. Com a presença deles na aldeia, o capitão Ariosto e Mauro Carías não poderiam recorrer às balas para tirar os índios - ou eles - do meio.
Os jovens abandonaram o seu esconderijo e aproximaram-se cautelosamente de Tapirawa-teri, mas tinham andado pouco quando foram vistos pelas sentinelas e imediatamente cercados. O grito de alegria de Kate Cold quando viu o seu neto só foi comparável ao de César Santos quando viu a filha. Os dois correram ao encontro dos jovens, que vinham cobertos de arranhões e de nódoas negras, imundos, com a roupa em farrapos e extenuados. Além disso, Alexander parecia diferente com um corte de cabelo como o dos índios, que deixava exposto o cocuruto, onde tinha um grande corte coberto por uma crosta seca. Santos levantou Nadia nos seus braços robustos e apertou-a com tanta força que quase partiu as costelas de Borobá, metido no mesmo abraço. Kate Cold, pelo contrário, conseguiu controlar a vaga de afecto e de alívio que sentia. Mal teve o neto ao alcance da mão, pespegou-lhe uma bofetada na cara.
- Isto é pelo susto que nos fizeste passar, Alexander. Da próxima vez que desapareceres da minha vista, mato-te - disse a avó. Como resposta, Alex abraçou-a.
Os restantes apareceram imediatamente: Mauro Carias, o capitão Ariosto, a doutora Omayra Torres e o inefável professor Leblanc, que estava coberto por picadas de abelhas. O índio Karakawe, carrancudo como sempre, não deu mostras de surpresa ao ver os jovens.
- Como chegaram vocês até aqui? O acesso a este sítio é impossível sem um helicóptero - disse o capitão Ariosto.
Alex contou resumidamente a sua aventura com o povo da neblina, sem dar pormenores nem explicar por onde tinham subido. Também não mencionou a sua viagem com Nadia ao tepui sagrado. Imaginou que não traía nenhum segredo, uma vez que os nahab já sabiam da existência da tribo. Havia sinais evidentes de que a aldeia tinha sido abandonada pelos índios apenas há algumas horas: a mandioca estava nos canastros, as brasas ainda estavam mornas nas pequenas fogueiras, a carne da última caçada enchia-se de moscas na cabana dos solteiros, algumas mascotes domésticas ainda rondavam por ali. Os soldados tinham matado a machefe as aprazíveis boas e os seus corpos mutilados apodreciam ao sol.
- Onde estão os índios? - perguntou Mauro Carias. - Foram para longe - respondeu Nadia.
- Não creio que andem muito longe com as mulheres, as crianças e os velhos. Não podem desaparecer sem deixar rasto.
- São invisíveis.
- Falemos a sério, menina! - exclamou ele.
- Eu falo sempre a sério.
- Vais dizer-me que essa gente também voa como as bruxas?
- Não voam, mas correm muito depressa - esclareceu ela.
- Tu consegues falar a língua desses índios, linda?
- O meu nome é Nadia Santos.
- Bom, Nadia Santos, consegues falar com eles ou não? insistiu Carías, impaciente.
- Sim.
A doutora Omayra Torres interveio para explicar a necessidade imperiosa de vacinar a tribo. A aldeia tinha sido descoberta, era inevitável que dentro de um prazo muito curto houvesse contacto com os forasteiros.
- Como sabes, Nadia, sem querer podemos contagiá-los com
doenças mortais para eles. Há tribos inteiras que pereceram numa questão de dois ou três meses por causa de uma constipação. O mais grave é o sarampo. Tenho as vacinas, posso imunizar estes pobres índios. Assim ficarão protegidos. Podes ajudar-me? - suplicou a bela mulher.
- Tentarei - prometeu a rapariga.
- Como consegues comunicar com a tribo?
- Ainda não sei. Tenho de pensar.
Alexander Cold transferiu a água da saúde para uma garrafa com uma tampa hermética e colocou-a cuidadosamente no seu saco. A avó viu-o e quis saber o que estava a fazer.
- É a água para curar a minha mãe - disse ele. - Encontrei a fonte da eterna juventude, aquela que tantos outros procuraram durante séculos, Kate. A minha mãe vai ficar boa.
Pela primeira vez desde que o rapaz conseguia recordar-se, a avó tomou a iniciativa de lhe fazer um carinho. Ele sentiu os seus braços magros e musculosos envolvendo-o, o seu cheiro a tabaco de cachimbo, o seu cabelo grosso cortado às tesouradas, a sua pele seca e áspera como couro de sapato. Ouviu a sua voz rouca dizendo o seu nome e desconfiou de que talvez a avó o amasse um bocadinho, afinal de contas. Assim que Kate Cold se apercebeu do que fazia, separou-se bruscamente, empurrando-o na direcção da mesa, onde Nadia o esperava. Os dois jovens, esfomeados e fatigados, atacaram os feijões, o arroz, o pão de mandioca e uns peixes meio carbonizados e cheios de espinhas. Alex devorou com um apetite feroz, diante dos olhos surpreendidos de Kate Cold, que sabia como o seu neto era esquisito com a comida.
Depois de comer, os dois amigos foram tomar um longo banho no rio. Sabiam estar rodeados por índios invisíveis, que seguiam da mata cada movimento dos nahab. Enquanto chapinhavam na água, sentiam os olhos dos índios postos em si como se estes os tocassem com as mãos. Concluíram que estes não se aproximavam devido à presença dos desconhecidos e dos helicópteros, que tinham avistado no céu, mas que nunca tinham visto de tão perto. Tentaram afastar-se um pouco pensando que, se estivessem sós, o povo da neblina se mostraria, mas havia muito movimento na aldeia e foi-lhes impossível interrarem-se no bosque sem chamar a atenção. Felizmente, os soldados não se atreviam a afastar-se nem um passo do acampamento porque as histórias sobre a Besta e a forma como estripara um dos seus companheiros os mantinha aterrorizados. Ninguém tinha explorado anteriormente o Olho do Mundo e todos tinham ouvido falar dos espíritos e dos demónios que rondavam aquela região. Temiam menos os índios, porque tinham as suas armas de fogo e eles próprios tinham sangue índio nas veias.
Ao anoitecer, todos menos as sentinelas de turno, sentaram-se em grupos em redor de uma fogueira a fumar e a beber. O ambiente era lúgubre e alguém pediu um pouco de música para levantar os ânimos. Alex teve de admitir que tinha perdido a célebre flauta de Joseph Cold, mas não podia dizer onde sem mencionar a sua aventura no interior do tepui. A avó lançou-lhe um olhar assassino, mas não disse nada, pressentindo que o neto lhe escondia muitas coisas. Um soldado puxou de uma harmónica e tocou algumas melodias populares, mas as suas boas intenções caíram no vazio. O medo apoderara-se de todos.
Kate Cold levou os jovens à parte para lhes contar o que acontecera na sua ausência, depois de os índios os terem levado. Quando se aperceberam de que eles se tinham evaporado, iniciaram imediatamente a busca e, munidos de lanternas, foram pelo bosque chamando por eles durante quase toda a noite. Leblanc contribuiu para a angústia geral com outro dos seus sagazes prognósticos: tinham sido arrastados pelos índios e nesse momento com certeza estariam a comê-los assados no espeto. O professor aproveitou para os ilustrar sobre a forma como os índios caribes cortavam pedaços dos prisioneiros vivos para os devorarem. É verdade, admitiu, que não estavam entre caribes, que tinham sido civilizados ou exterminados há mais de cem anos, mas nunca se sabe a que distância chegam as influências culturais. César Santos tinha estado prestes a atirar-se aos socos contra o antropólogo.
Pela tarde do dia seguinte apareceu finalmente um helicóptero de resgate. O barco com o desgraçado Joel González tinha chegado sem novidades a Santa Maria de Ia Lluvia, onde as freiras do hospital se encarregaram de o tratar. Matuwe, o guia índio, conseguiu ajuda e ele próprio acompanhou o helicóptero, onde viajava o capitão Ariosto. O seu sentido de orientação era tão surpreendente que, sem nunca ter voado, conseguiu orientar-se na interminável extensão verde da selva e indicar com exactidão o sítio onde a expedição da International Geographic esperava. Assim que desceram, Kate Cold obrigou o militar a pedir mais reforços pelo rádio, de modo a organizar a busca sistemática dos jovens desaparecidos.
César Santos interrompeu a escritora para acrescentar que ela tinha ameaçado o capitão Ariosto com a imprensa, a embaixada americana e até com a CIA, se este não cooperasse. Desta forma conseguiu o segundo helicóptero, onde vieram mais soldados e também Mauro Carias. Não pensava sair dali sem o neto, tinha garantido, nem que tivesse de percorrer o Amazonas a pé.
- A sério que disseste isso, Kate? - perguntou Alex, divertido.
- Não por ti, Alexander. Por uma questão de princípios - grunhiu ela.
Nessa noite, Nadia Santos, Kate Cold e Omayra Torres ocuparam uma tenda, Ludovic Leblanc e Timothy Bruce outra, Mauro Carias a sua, e o resto dos homens instalou-se em redes entre as árvores. Puseram guardas nos quatro lados do acampamento e mantiveram acesos candeeiros a petróleo. Embora ninguém o tivesse mencionado em voz alta, calcularam que assim manteriam a Besta afastada. As luzes convertiam-nos em alvos fáceis para os índios, mas, até à data as tribos nunca tinham atacado na escuridão, porque receavam os demónios nocturnos que fogem dos pesadelos humanos.
Nadia, que tinha um sonho leve, dormiu algumas horas e acordou depois da meia-noite com os roncos de Kate Cold. Depois de comprovar que a doutora também não se mexia, ordenou a Borobá que permanecesse quieto e deslizou silenciosamente para fora da tenda. Tinha observado com muita atenção o povo da neblina, decidida a imitar a sua capacidade de passar despercebida, descobrindo assim que não consistia apenas em camuflar o corpo, mas também numa vontade férrea de se tornar imaterial e desaparecer. Requeria concentração para atingir o estado mental de invisibilidade, no qual era possível colocar-se a um metro de outra pessoa sem ser visto. Sabia que tinha atingido esse estado quando sentia o seu corpo muito leve, parecendo depois dissolver-se, apagar-se de todo. Precisava de manter o seu objectivo sem se distrair, sem permitir que os nervos a traíssem, única forma de permanecer oculta perante os outros. Ao sair da sua tenda teve de passar a pouca distância dos guardas que rondavam o acampamento, mas fê-lo sem nenhum temor, protegida por esse extraordinário campo mental que tinha criado à sua volta.
Assim que se sentiu segura no bosque, vagamente iluminado pela Lua, imitou o canto da coruja duas vezes e esperou. Algum tempo depois, sentiu ao seu lado a presença silenciosa de Walimai. Pediu ao feiticeiro que falasse com o povo da neblina para o convencer a aproximar-se do acampamento e a vacinar-se. Não podiam esconder-se indefinidamente nas sombras das árvores, disse, e se tentassem construir uma nova aldeia, seriam descobertos pelos «pássaros de ruído e vento». Prometeu-lhe que manteria o Rahakanariwa à distância e que o Jaguar negociaria com os nahab. Contou-lhe que o amigo tinha uma avó poderosa, mas não tentou explicar-lhe o valor de escrever e publicar na imprensa, calculou que o xamã não entenderia a que se referia, porque desconhecia a escrita e nunca vira uma página impressa. Limitou-se a dizer que essa avó tinha muita magia no mundo dos nahab, embora a sua magia de pouco servisse no Olho do Mundo.
Por outro lado, Alexander Cold deitou-se numa rede ao ar livre, um pouco afastado dos outros. Tinha esperança de que, durante a noite, os índios comunicassem com ele, mas adormeceu como uma pedra. Sonhou com o jaguar negro. O encontro com o seu animal totémico foi tão claro e preciso que, no dia seguinte, não tinha a certeza se o tinha sonhado ou se, na realidade, acontecera. No sonho, levantava-se da sua rede e afastava-se cautelosamente do acampamento, sem ser visto pelas sentinelas. Ao entrar no bosque, fora do alcance da luz da fogueira e dos candeeiros de petróleo, via o felino negro deitado num ramo grosso de um enorme castanheiro, a sua cauda balançando no ar, os seus olhos brilhando na noite como topázios deslumbrantes, tal como tinha aparecido na sua visão, quando bebera a poção mágica de Walimai. Com os seus dentes e garras podia esquartejar um jacaré, com os seus músculos poderosos corria como o vento, com a sua força e coragem podia enfrentar qualquer inimigo. Era um animal magnífico, rei das feras, filho do Sol Pai, príncipe da mitologia da América. No sonho o rapaz parava a poucos passos do jaguar e, tal como no seu primeiro encontro no acampamento de Mauro Carias, ouvia a voz cavernosa saudando-o pelo seu nome: Alexander... Alexander... A voz ecoava no seu cérebro como um gigantesco gongo de bronze, repetindo sem parar o seu nome. O que significaria o sonho? Qual seria a mensagem que o jaguar negro queria transmitir-lhe?
Acordou quando já todos no acampamento estavam de pé. O sonho realista da noite anterior angustiava-o, tinha a certeza de que continha uma mensagem, mas não conseguia decifrá-lo. A única palavra que o jaguar tinha dito nas suas aparições fora o seu nome, Alexander. Nada mais. A avó aproximou-se com uma almoçadeira de café com leite condensado, uma coisa que antigamente não teria provado, mas que agora lhe parecia um pequeno-almoço delicioso. Num impulso, contou-lhe o sonho.
- Defensor dos homens - disse-lhe a avó.
- O quê?
- É o significado do teu nome. Alexander é um nome grego e quer dizer defensor.
- Por que me deram esse nome, Kate?
- Por mim. Os teus pais queriam chamar-te Joseph, como o teu avô, mas eu insisti em chamar-te Alexander, como o grande guerreiro da Antiguidade. Atirámos uma moeda ao ar e eu ganhei. Por isso tens esse nome - explicou Kate.
- Como te ocorreu que eu devia ter esse nome?
- Há muitas vítimas e causas nobres para defender neste
mundo, Alexander. Um bom nome de guerreiro ajuda a lutar pela justiça.
- Vais ter uma decepção comigo, Kate. Não sou um herói. - Veremos - replicou ela, passando-lhe a almoçadeira.
A sensação de serem observados por centenas de olhos punha todos nervosos no acampamento. Em anos recentes, vários funcionários do governo, enviados para ajudar os índios, tinham sido assassinados pelas mesmas tribos que pretendiam proteger. Às vezes o primeiro contacto era cordial, trocavam presentes e comida, mas de súbito os índios empunhavam as suas armas e atacavam de surpresa. Os índios eram imprevisíveis e violentos, disse o capitão Ariosto, que estava totalmente de acordo com as teorias de Leblanc, por isso não podemos baixar a guarda, temos de permanecer sempre alerta. Nadia interveio para dizer que o povo da neblina era diferente, mas ninguém lhe deu atenção.
A doutora Omayra Torres explicou que durante os últimos dez anos o seu trabalho de médica tinha sido principalmente entre tribos pacificadas; nada sabia sobre esses índios que Nadia chamava povo da neblina. Em todo o caso, esperava ter mais sorte que no passado e conseguir vaciná-los antes de se contagiarem. Admitiu que em várias ocasiões anteriores as suas vacinas chegaram demasiado tarde. Injectava-os e, de qualquer forma, adoeciam passados poucos dias e morriam às centenas.
Nessa altura, já Ludovic Leblanc perdera por completo a paciência. A sua missão fora inútil, teria de regressar com as mãos vazias, sem notícias da famosa Besta do Amazonas. O que diria aos editores da International Geographic? Que um soldado morrera despedaçado em circunstâncias misteriosas, que tinham sido expostos a um odor bastante desagradável e que ele caíra involuntariamente no excremento de um animal desconhecido? Francamente, não eram provas muito convincentes da existência da Besta. Também não tinha nada a acrescentar sobre os índios da região, porque nem sequer os tinha avistado. Tinha perdido o seu tempo miseravelmente. Não via a hora de regressar à sua universidade, onde o tratavam como um herói e estaria a salvo das picadas das abelhas e de outras incomodidades. A sua relação com o grupo deixava muito a desejar e com Karakawe era um desastre. O índio contratado como seu assistente pessoal deixou de abanicá-lo com a folha de bananeira assim que saíram de Santa Maria de Ia Lluvia e, em vez de servi-lo, dedicou-se a tornar-lhe a vida mais dificil. Leblanc acusou-o de pôr um escorpião vivo no seu saco e um lagarto morto no seu café e também de o ter levado de má-fé ao sítio onde as abelhas o picaram. Os outros membros da expedição toleravam o professor porque era muito pitoresco e podiam troçar dele à vontade sem que ele se desse por achado. Leblanc levava-se tão a sério que não conseguia imaginar que os outros não o fizessem.
Mauro Carias enviou grupos de soldados explorarem em todas as direcções. Os homens partiram de má vontade e regressaram rapidamente, sem notícias da tribo. Também sobrevoaram a zona com os helicópteros, apesar de Kate Cold lhes fazer ver que o ruído assustaria os índios. A escritora aconselhou a esperar com paciência: mais cedo ou mais tarde regressariam à sua aldeia. Tal como Leblanc, ela estava mais interessada na Besta que nos indígenas, porque tinha de escrever o seu artigo.
- Sabes alguma coisa sobre a Besta que não me tenhas dito, Alexander? - perguntou ao neto.
- Pode ser e pode não ser... - respondeu o rapaz, sem se atrever a olhá-la de frente.
- Que raio de resposta é essa?
Por volta do meio-dia, o acampamento ficou em alerta: uma figura tinha saído do bosque e aproximava-se timidamente. Mauro Carias fez-lhe sinais amistosos chamando-a, depois de ordenar aos soldados que retrocedessem, para não a assustar. O fotógrafo Timothy Bruce passou a máquina fotográfica a Kate Cold e ele agarrou na máquina de filmar: o primeiro contacto com uma tribo era uma ocasião única. Nadia e Alex reconheceram imediatamente a visitante: era Iyomi, chefe dos chefes de Tapirawa-teri. Vinha só, nua, incrivelmente velha, toda enrugada e sem dentes, apoiada num pau torcido que lhe servia de bordão e com o chapéu redondo de penas amarelas enfiado até às orelhas. Passo a passo aproximou-se, perante o estupor dos nahab. Mauro Carías chamou Karakawe e Matuwe para lhes perguntar se conheciam a tribo à qual pertencia aquela mulher, mas nenhum dos dois conhecia. Nadia chegou-se à frente.
- Eu posso falar com ela - disse.
- Diz-lhe que não lhe faremos mal, somos amigos do seu povo, que venham ver-nos sem as suas armas, porque temos muitos presentes para ela e para os outros - disse Mauro Carias.
Nadia traduziu livremente, sem mencionar a parte das armas, que não lhe pareceu uma boa ideia, considerando a quantidade de armas dos soldados.
- Não queremos ofertas dos nahab, queremos que saiam do Olho do Mundo - replicou Iyomi com firmeza.
- É inútil, não sairão - explicou Nadia à velhota.
- Nesse caso, os meus guerreiros matá-los-ão.
- Virão mais, muitos mais, e morrerão todos os teus guerreiros.
- Os meus guerreiros são fortes, estes nahab não têm arcos nem flechas, são pesados, torpes, de cabeça mole e, além disso, assustam-se como crianças.
- A guerra não é solução, chefe dos chefes. Devemos negociar - suplicou Nadia.
- Que diacho está a dizer esta velha? - perguntou Carias impaciente porque a rapariga deixara de traduzir há algum tempo.
- Diz que o seu povo não come há vários dias e tem muita fome - inventou Nadia no momento.
- Diz-lhe que lhes daremos toda a comida que quiserem.
- Têm medo das armas - acrescentou ela, embora na realidade os índios nunca tivessem visto uma pistola ou uma espingarda e não suspeitassem do seu poder mortífero.
Mauro Carias deu uma ordem aos homens para deporem as armas como sinal de boa vontade, mas Leblanc, apavorado, interveio para recordar-lhes que os índios costumavam atacar à traição. Tendo isso em vista, largaram as metralhadoras mas mantiveram as pistolas na cintura. Iyomi recebeu uma taça de carne com milho das mãos da doutora Omayra Torres e afastou-se por onde tinha vindo. O capitão Ariosto quis segui-la, mas em menos de um minuto ela esfumara-se na vegetação.
Esperaram o resto do dia esquadrinhando a mata sem ver ninguém, enquanto aguentavam as advertências de Leblanc, que esperava um contingente de canibais dispostos a cair-lhes em cima. O professor, armado até aos dentes e rodeado de soldados, tinha ficado trémulo depois da visita de uma bisavó nua com um chapéu de penas amarelas. As horas decorreram sem incidentes, exceptuando um momento de tensão que ocorreu quando a doutora Omayra Torres surpreendeu Karakawe metendo as mãos nas suas caixas de vacinas. Não era a primeira vez que isso acontecia. Mauro Carías interveio para avisar o índio que, se voltasse a vê-lo perto dos medicamentos, o capitão Ariosto o prenderia imediatamente.
À tarde, quando já desconfiavam de que a velhota não regressaria, toda a tribo do povo da neblina se materializou diante do acampamento. Primeiro vieram as mulheres e as crianças, impalpáveis, ténues e misteriosas. Demoraram alguns segundos a ver os homens, que na realidade tinham chegado primeiro e se tinham colocado em semicírculo. Surgiram do nada, mudos e soberbos, encabeçados por Tahama, pintados para a guerra com o vermelho do urucu, o preto do carvão, o branco da cal, e o verde das plantas, decorados com penas, dentes, garras e sementes, com todas as armas na mão. Estavam a meio do acampamento, mas o seu mimetismo com o ambiente que os rodeava era tal que se tornava necessário focar a vista para os ver com nitidez. Eram leves, etéreos, pareciam desenhados na paisagem, mas não havia dúvidas de que também eram ferozes.
Por longos minutos os dois grupos observaram-se mutuamente. em silêncio, de um lado os índios transparentes e do outro os perplexos forasteiros. Por fim, Mauro Carias acordou do transe e pôs-se em acção, dando instruções aos soldados para servirem comida e repartirem ofertas. Com pena, Alex e Nadia viram as mulheres e as crianças receberem as bugigangas com que pretendiam atraí-los. Sabiam que dessa forma, com esses inocentes presentes, começava o fim das tribos. Tahama e os seus guerreiros mantiveram-se de pé, alerta, sem largar as armas. O mais perigoso eram os seus grossos garrotes, com os quais podiam arremeter num segundo, ao passo que apontar uma flecha demorava mais, dando tempo aos soldados de disparar.
- Explica-lhes o assunto das vacinas, linda - ordenou Mauro Carías à rapariga.
- Nadia, chamo-me Nadia Santos - repetiu ela.
- É para o bem deles, Nadia, para os proteger - acrescentou a doutora Omayra Torres. - Terão medo das agulhas, mas na realidade dói menos que uma picadela de mosquito. Talvez os homens queiram ser os primeiros, para dar o exemplo às mulheres e às crianças...
- Por que não dá você o exemplo? - perguntou Nadia a Mauro Carias.
O sorriso perfeito, sempre presente no rosto bronzeado do empresário, apagou-se diante do desafio da rapariga e uma expressão de completo terror cobriu-lhe os olhos por momentos. Alex, que observava a cena, pensou que era uma reacção exagerada. Sabia que havia pessoas que receavam as injecções, mas a cara de Carias era a de quem tinha visto o Drácula.
Nadia traduziu e após longas discussões, nas quais o nome de Rahakanariwa surgiu muitas vezes, lyomi aceitou pensar no assunto e consultar a tribo. Estavam nisso, a meio das conversações sobre as vacinas, quando de súbito lyomi murmurou uma ordem, imperceptível para os forasteiros, e de imediato o povo da neblina se esfumou tão rapidamente como tinha aparecido. Retiraram-se para o bosque como sombras, sem que se ouvisse um passo, uma palavra ou um único choro de bebé. Durante o resto da noite os soldados de Ariosto montaram guarda, esperando um ataque a qualquer momento.
Nadia acordou à meia-noite ao sentir a doutora Omayra Torres sair da tenda. Calculou que iria fazer as suas necessidades entre os arbustos, mas teve um pressentimento e decidiu segui-la. Kate Cold roncava com o sono profundo que a caracterizava e não se apercebeu das movimentações das suas companheiras. Silenciosa como um gato, recorrendo ao talento recém-adquirido para se tornar invisível, avançou. Escondida atrás de uns fetos, viu a silhueta da médica à luz ténue da lua. Um minuto mais tarde, aproximou-se uma segunda figura que, perante a surpresa de Nadia, agarrou na médica pela cintura e a beijou.
- Tenho medo - disse ela.
- Não tenhas receio, meu amor. Tudo correrá bem. Em poucos dias teremos acabado aqui e poderemos regressar à civilização. Já sabes que preciso de ti...
- A sério que me amas?
- Claro que sim. Adoro-te, far-te-ei muito feliz, terás tudo o que desejares.
Nadia regressou furtivamente à tenda, deitou-se na sua esteira e fingiu-se adormecida.
O homem que estava com a doutora Omayra Torres era Mauro Carias.
Pela manhã, o povo da neblina regressou. As mulheres traziam cestas com fruta e um grande tapir morto para retribuírem as ofertas recebidas no dia anterior. A atitude dos guerreiros parecia mais descontraída e, embora não largassem os seus garrotes, demonstraram a mesma curiosidade das mulheres e das crianças. Olhavam, de longe e sem se aproximarem, os extraordinários pássaros de ruído e vento, tocavam na roupa e nas armas dos nahab, remexiam nos seus pertences, metiam-se nas tendas, posavam para as câmaras, penduravam os colares de plástico ao pescoço e experimentavam os machetes e facas, maravilhados.
A doutora Omayra Torres considerou que o clima era adequado para iniciar o seu trabalho. Pediu a Nadia que explicasse mais uma vez aos índios a necessidade imperiosa de se protegerem contra as epidemias, mas estes não estavam convencidos. A única razão pela qual o capitão Ariosto não os obrigou à bala, foi a presença de Kate Cold e Timothy Bruce. Não podia recorrer à força bruta diante da imprensa, tinha de manter as aparências. Não teve outro remédio senão esperar com paciência as eternas discussões entre Nadia Santos e a tribo. A incongruência de os matar a tiro para impedir que morressem de sarampo não cruzou a mente do capitão.
Nadia lembrou aos índios que tinha sido nomeada por lyomi chefe para aplacar o Rahakanariwa, que costumava castigar os humanos com terríveis epidemias, de modo que deviam obedecer-lhe. Ofereceu-se para ser a primeira a submeter-se à picadela da vacina, mas isso foi considerado ofensivo para Tahama e para os seus guerreiros. Eles seriam os primeiros, acabaram por dizer. Com um suspiro de satisfação, ela traduziu a decisão do povo da neblina.
A doutora Omayra Torres mandou colocar uma mesa à sombra e espalhou as suas seringas e os seus frascos, enquanto Mauro Carías tentava organizar a tribo numa fila, garantindo-se desta forma que não ficava ninguém por vacinar.
Entretanto Nadia levou Alex à parte para lhe contar o que tinha presenciado na noite anterior. Nenhum dos dois soube interpretar aquela cena, mas sentiram-se vagamente traídos. Como era possível que a doce Omayra Torres mantivesse uma relação com Mauro Carias, o homem que levava o seu coração numa malinha? Deduziram que sem dúvida Mauro Carias seduzira a boa médica. Não diziam que tinha muito sucesso com as mulheres? Nadia e Alex não viam qualquer atractivo naquele homem, mas calcularam que os seus modos e o seu dinheiro poderiam enganar os outros. A notícia cairia como uma bomba entre os admiradores da médica: César Santos, Timothy Bruce e até o professor Ludovic Leblanc.
- Isto não me agrada nada - disse Alex.
- Tu também estás ciumento? - troçou Nadia.
- Não! - exclamou ele indignado. - Mas sinto alguma coisa aqui no peito, um peso enorme.
- É por causa da visão que partilhámos na cidade de ouro, lembras-te? Quando bebemos a poção dos sonhos colectivos de Walimai, todos sonhámos o mesmo, até as Bestas.
- É verdade. Esse sonho parecia-se com outro que tive antes de começar esta viagem: um abutre enorme raptava a minha mãe e levava-a voando. Nessa altura interpretei-o como a doença que ameaçava a sua vida, pensei que o abutre representava a morte. No tepui sonhámos que o Rahakanariwa partia a caixa onde estava prisioneiro e que os índios estavam amarrados às árvores, lembras-te?
- Sim, e os nahab usavam máscaras. O que significam as máscaras, Jaguar?
- Segredo, mentira, traição.
- Por que achas que Mauro Carias tem tanto interesse em vacinar os índios?
A pergunta ficou no ar como uma flecha parada em pleno voo. Os dois jovens entreolharam-se horrorizados. Num instante de lucidez compreenderam a terrível armadilha em que todos tinham caído: o Rahakanariwa era a epidemia. A morte que ameaçava a tribo não era um pássaro mitológico, mas uma coisa muito mais concreta e imediata. Correram até ao centro da aldeia, onde a doutora Omayra Torres apontava a agulha da sua seringa ao braço de Tahama. Sem pensar, Alex lançou-se como um bólide contra o guerreiro, atirando-o de costas para o chão. Tahama levantou-se de um salto e ergueu o garrote para esmagar o rapaz como uma barata, mas um grito de Nadia deteve a arma no ar.
-Não! Não! Aí está o Rahakanariwa! - gritou ela apontando para os frascos das vacinas.
César Santos pensou que a filha enlouquecera e tentou agarrá-la, mas ela libertou-se dos seus braços e foi a correr juntar-se a Alex, guinchando e dando palmadas contra Mauro Carias, que se interpôs no seu caminho. Tentava explicar aos índios, a toda a pressa, que se tinha enganado, que as vacinas não os salvariam, pelo contrário, matá-los-iam, porque o Rahakanariwa estava na seringa.
A doutora Omayra Torres não perdeu a calma. Disse que tudo aquilo era uma fantasia dos jovens, o calor transtornara-os, e ordenou ao capitão Ariosto que os levasse. Seguidamente, dispôs-se a prosseguir com a sua tarefa interrompida, apesar de nessa altura os ânimos da tribo se terem alterado completamente. Nesse momento, quando o capitão Ariosto estava pronto para impor a ordem aos tiros, enquanto os soldados agarravam Nadia e Alex, Karakawe, que não tinha pronunciado mais do que meia dúzia de palavras em toda a viagem, avançou.
- Um momento! - exclamou.
Perante a perplexidade geral, aquele homem anunciou que era funcionário do Departamento de Protecção do Indígena e explicou pormenorizadamente que a sua missão consistia em averiguar por que razão pereciam em massa tribos do Amazonas, sobretudo aquelas que viviam perto das jazidas de ouro e diamantes. Suspeitava há muito tempo de Mauro Carias, o homem que mais beneficiara explorando a região.
- Capitão Ariosto, requisite as vacinas! - ordenou Karakawe. - Farei com que sejam examinadas num laboratório. Se tiver razão, esses frascos não contêm vacinas, mas uma dose mortal do vírus do sarampo.
Como única resposta, o capitão Ariosto apontou a sua arma e disparou para o peito de Karakawe. O funcionário caiu morto instantaneamente. Mauro Carias empurrou a doutora Omayra Torres, tirou a sua arma e, no instante em que César Santos corria para cobrir a mulher com o seu corpo, esvaziou a pistola nos frascos alinhados em cima da mesa, fazendo-os em fanicos. O líquido espalhou-se pela terra.
Os acontecimentos precipitaram-se com tal violência que, mais tarde, ninguém conseguiu descrevê-los com precisão, cada um tinha uma-versão diferente. A máquina de filmar de Timothy Bruce registou parte dos factos e o resto ficou na máquina fotográfica de Kate Cold.
Ao ver os frascos destruídos, os índios julgaram que o Rahakanariwa tinha fugido da sua prisão e voltaria à sua forma de pássaro canibal para os devorar. Antes que alguém conseguisse impedi-lo, Tahama lançou um grito arrepiante e descarregou uma bordoada na cabeça de Mauro Carias, que caiu no chão como um saco de batatas. O capitão Ariosto voltou a sua arma para Tahama, mas Alex atirou-se contra as suas pernas e o macaco de Nadia, Borobá, saltou-lhe para a cara. As balas do capitão perderam-se no ar, dando tempo a Tahama de retroceder, protegido pelos seus guerreiros, que já tinham empunhado os arcos.
Nos escassos segundos que os soldados demoraram a organizar-se e a empunhar as suas pistolas, a tribo dispersou-se. As mulheres e as crianças fugiram como esquilos, desaparecendo na vegetação, e os homens conseguiram atirar várias flechas antes de fugirem também. Os soldados disparavam às cegas, enquanto Alex ainda lutava no chão com Ariosto, ajudado por Nadia e Borobá. O capitão deu-lhe uma pancada no maxilar com a coronha da pistola que o deixou meio aturdido, depois livrou-se de Nadia e do macaco à bofetada. Kate Cold correu para socorrer o neto, arrastando-o para fora do centro do tiroteio. Com a gritaria e a confusão, ninguém ouvia as ordens de comando de Ariosto.
Em poucos minutos a aldeia estava manchada de sangue: havia três soldados feridos por flechas e vários índios mortos, além do cadáver de Karakawe e do corpo inerte de Mauro Carías. Uma mulher caíra trespassada pelas balas e o bebé que trazia ao colo ficou jogado no chão a um passo dela. Ludovic Leblanc, que desde o aparecimento da tribo se tinha mantido a uma distância prudente, entrincheirado atrás de uma árvore, teve uma reacção inesperada. Até essa altura comportara-se como um feixe de nervos, mas ao ver o bebé exposto à violência, arranjou coragem nalgum sítio, atravessou a correr o campo de batalha e pôs ao colo a pobre criança. Era um bebé de poucos meses, salpicado com o sangue da mãe e guinchando desesperado. Leblanc ficou ali, a meio do caos, apertando-o com força contra o peito e tremendo de fúria e perplexidade. Os seus piores pesadelos tinham-se invertido: os selvagens não eram os índios, eram eles. Por fim, aproximou-se de Kate Cold, que tentava limpar a boca do neto com um pouco de água, e entregou-lhe a criança.
- Vamos, Cold, você é mulher, saberá o que fazer com isto - disse-lhe.
A escritora, surpreendida, recebeu o bebé agarrando-o com os braços estendidos, como se fosse um vaso. Há tantos anos que não tinha uma criança nos braços que não sabia o que fazer com ela.
Nessa altura, Nadia conseguira levantar-se e observava o campo coberto de corpos. Aproximou-se dos corpos dos índios, tentando reconhecê-los, mas o pai obrigou-a a retroceder, abraçando-a, chamando-a pelo nome, murmurando palavras tranquilizadoras. Nadia conseguiu ver que lyomi e Tahama não estavam entre os cadáveres e pensou que pelo menos o povo da neblina ainda dispunha de dois dos seus chefes, porque os outros dois, Águia e Jaguar, tinham falhado.
- Ponham-se todos contra essa árvore! - ordenou o capitão Ariosto aos expedicionários. O militar estava lívido, com a arma a tremer-lhe na mão. As coisas tinham saído muito mal.
Kate Cold, Timothy Bruce, o professor Leblanc e os dois jovens obedeceram-lhe. Alex tinha um dente partido, a boca cheia de sangue e ainda estava apalermado pela coronhada na boca. Nadia parecia em estado de choque, com um grito engasgado no peito e os olhos fixos nos índios mortos e nos soldados que gemiam atirados pelo chão. A doutora Omayra Torres, alheia a tudo o que a rodeava e banhada em lágrimas, segurava sobre as suas pernas a cabeça de Mauro Carias. Beijava-lhe o rosto pedindo-lhe para não morrer, para não a deixar, enquanto a sua roupa se empapava de sangue. «Íamos casar... » repetia como uma litania.
-A doutora é cúmplice de Mauro Carias. Ele referia-se a ela quando disse que alguém da sua confiança viajaria com a expedição, lembras-te? E nós acusámos Karakawe! - sussurrou Alex a Nadia, mas ela estava mergulhada no pavor e não conseguia ouvi-lo.
O rapaz compreendeu que o plano do empresário para exterminar os índios com uma epidemia de sarampo requeria a colaboração da doutora Torres. Há vários anos que os indígenas morriam em massa, vítimas dessa e de outras doenças, apesar dos esforços das autoridades para os protegerem. Uma vez declarada uma epidemia não havia nada a fazer, porque os índios careciam de defesas. Tinham vivido isolados durante milhares de anos e o seu sistema imunológico não resistia aos vírus dos brancos. Uma constipação comum podia matá-los em poucos dias, para não falar em outros males mais sérios. Os médicos que estudavam o problema não entendiam por que razão nenhuma das medidas preventivas dava resultados. Ninguém podia imaginar que Omayra Torres, a pessoa designada para vacinar os índios, era quem lhes injectava a morte, para o seu amante poder apropriar-se das suas terras.
A médica tinha eliminado várias tribos sem levantar suspeitas, tal como pretendia fazê-lo com o povo da neblina. O que lhe teria prometido Carias para a levar a cometer um crime desta magnitude? Talvez não o tivesse feito por dinheiro, mas por amor àquele homem. De qualquer forma, por amor ou por cobiça, o resultado era o mesmo: centenas de homens, de mulheres e de crianças assassinados. Se não fosse Nadia Santos ter visto Omayra Torres e Mauro Carias beijando-se, os desígnios desse casal não teriam sido descobertos. E graças à oportuna intervenção de Karakawe - que pagou com a sua vida - o plano fracassara.
Agora Alexander Cold entendia o papel que Mauro Carías tinha atribuído aos membros da expedição da International Geographic. Algumas semanas depois de serem inoculados com o vírus do sarampo, declarar-se-ia a epidemia na tribo e o contágio espalhar-se-ia a outras aldeias com grande rapidez. Então o parvo professor Ludovic Leblanc testemunharia perante a imprensa mundial ter estado presente quando se dera o primeiro contacto com o povo da neblina. Não se podia acusar ninguém: tinham sido tomadas todas as precauções necessárias para proteger a aldeia. O antropólogo, apoiado pela reportagem de Kate Cold e pelas fotografias de Timothy Bruce, poderia provar que todos os membros da tribo tinham sido vacinados. Aos olhos do mundo a epidemia teria sido uma desgraça inevitável, ninguém suspeitaria de outra coisa e, dessa forma, Mauro Carias podia ter a certeza de que não haveria nenhuma investigação do Governo. Era um método de extermínio limpo e eficaz, que não deixava rastos de sangue, como as balas e as bombas que, durante anos, tinham sido usadas contra os indígenas para «limpar» o território do Amazonas, abrindo caminho aos mineiros, traficantes, colonos e aventureiros.
Ao ouvir a denúncia de Karakawe, o capitão Ariosto tinha perdido a cabeça e, num impulso, matara-o, para proteger Carias e proteger-se a si próprio. Actuava com a segurança que o uniforme lhe outorgava. Naquela região remota e quase despovoada, onde o longo braço da lei não chegava, ninguém questionava a sua palavra. Isso dava-lhe um poder perigoso. Era um homem rude e sem escrúpulos, que tinha passado anos em postos fronteiriços e estava habituado à violência. Como se a sua arma à cintura e a sua condição de oficial não fossem suficientes, contava ainda com a protecção de Mauro Carias. Por sua vez o empresário dispunha de ligações nas mais altas esferas do Governo, pertencia à classe dominante, tinha muito dinheiro e prestígio, ninguém lhe pedia contas. A associação entre Ariosto e Carias tinha sido benéfica para ambos. O capitão calculava que em menos de dois anos poderia pendurar a farda e ir viver para Miami, convertido em milionário. Mas agora Mauro Carias jazia com a cabeça despedaçada e não poderia continuar a protegê-lo. Isso significava o fim da sua impunidade. Teria de justificar perante o Governo o assassinato de Karakawe e daqueles índios, que jaziam no chão a meio do acampamento.
Kate Cold, ainda com o bebé ao colo, calculou que a sua vida e a dos restantes expedicionários, incluindo as dos jovens, corria grave perigo porque Ariosto tinha de evitar a todo o custo que se divulgassem os acontecimentos de Tapirawa-teri. Já não era simplesmente uma questão de borrifar os corpos com gasolina, pegar-lhes fogo e dá-los como desaparecidos. Ao capitão saíra-lhe o tiro pela culatra: a presença da expedição da International Geographic tinha deixado de ser uma vantagem para se transformar num problema grave. Tinha de se desfazer das testemunhas, mas tinha de o fazer com muita prudência, não podia matá-los aos tiros sem se meter numa enrascada. Infelizmente, para os estrangeiros, estes estavam muito longe da civilização, onde era fácil o capitão cobrir os seus rastos.
Kate Cold tinha a certeza de que, no caso de o militar decidir assassiná-los, os soldados não mexeriam um dedo para o evitar nem se atreveriam a denunciar o seu superior. A selva engoliria a evidência dos crimes. Não podiam ficar de braços cruzados à espera do tiro de misericórdia, era preciso fazer alguma coisa. Não tinha nada a perder, a situação não podia ser pior. Ariosto era um desalmado e, além disso, estava nervoso, podia reservar-lhes a mesma sorte de Karakawe. Kate precisava de um plano, mas pensou que a primeira coisa a fazer era distrair as fileiras inimigas.
- Capitão, creio que o mais urgente é enviar estes homens para um hospital - sugeriu, apontando para Carias e para os soldados feridos.
- Cale-se, velha! - ladrou de volta o militar.
Passados alguns minutos, no entanto, Ariosto ordenou que levassem Mauro Carias e os três soldados para um dos helicópteros. Ordenou a Omayra Torres que tentasse arrancar as flechas aos feridos antes de os embarcar, mas a médica ignorou-o completamente: só tinha olhos para o seu amante moribundo. Kate Cold e César Santos dedicaram-se à tarefa de improvisar tampões com trapos para evitar que os infelizes soldados continuassem a perder sangue.
Enquanto os militares desempenhavam a tarefa de instalar os feridos no helicóptero e tentavam em vão comunicar pelo rádio com Santa Maria de Ia Lluvia, Kate explicou em voz baixa ao professor Leblanc os seus receios sobre a situação em que se encontravam. O antropólogo também chegara às mesmas conclusões que ela: corriam mais perigo nas mãos de Ariosto que nas dos índios ou da Besta.
- Se conseguíssemos fugir para a selva... - sussurrou Kate.
Por uma vez o homem surpreendeu-a com uma reacção razoável. Kate estava tão habituada aos chiliques e arrebatamentos do professor que, ao vê-lo tão sereno, lhe cedeu a autoridade de forma quase automática.
- Isso seria uma loucura - replicou Leblanc com firmeza. - A única maneira de sair daqui é de helicóptero. A chave é Ariosto. Felizmente é ignorante e vaidoso, isso funciona a nosso favor. Devemos fingir que não suspeitamos dele e vencê-lo com astúcia.
- Como? - perguntou a escritora, incrédula.
- Manipulando. Está assustado, de modo que lhe ofereceremos a oportunidade de salvar a pele e de sair daqui, além disso, transformado em herói - disse Leblanc.
- Nunca! - exclamou Kate.
-Não seja tonta, Cold. Isso será o que lhe ofereceremos, mas não significa que o iremos cumprir. Uma vez a salvo fora deste país, Ludovic Leblanc será o primeiro a denunciar as atrocidades que se cometem contra estes pobres índios.
- Vejo que a sua opinião sobre os índios se alterou um pouco - resmungou Kate Cold.
O professor nem se dignou responder. Ergueu-se em toda a sua reduzida estatura, endireitou a camisa salpicada de lama e de sangue e dirigiu-se ao capitão Ariosto.
- Como voltaremos a Santa Maria de Ia Lluvia, meu prezado capitão? Não cabemos todos no segundo helicóptero - disse, apontando para os soldados e para o grupo que esperava ao pé da árvore.
- Não meta o nariz nisto! Aqui quem dá ordens sou eu! - bramou Ariosto.
- Evidentemente! É um alívio o senhor estar a cargo de tudo
isto, capitão, de outra forma estaríamos numa situação muito dificil - comentou Leblanc com suavidade.
Ariosto, desconcertado, começou a ouvir.
- Se não fosse pelo seu heroismo, teríamos perecido às mãos
dos índios - acrescentou o professor.
Ariosto, um pouco mais tranquilo, contou as pessoas, viu que Leblanc tinha razão e decidiu enviar metade do contingente de soldados no primeiro helicóptero. Isso deixou-o com apenas cinco homens e com os expedicionários, mas como estes não estavam armados, não representavam perigo. A máquina pôs-se em movimento, formando nuvens de pó avermelhado ao levantar do chão. Afastou-se por cima da cúpula verde da selva, perdendo-se no céu.
Nadia Santos seguia os acontecimentos abraçada ao pai e a Borobá. Estava arrependida por ter deixado o talismã de Walimai no ninho dos ovos de cristal, porque sem a protecção do amuleto se sentia perdida. De repente, começou a piar como a coruja. Perplexo, César Santos julgou que a sua pobre filha tinha suportado demasiadas emoções e estava com um ataque de nervos. A batalha travada na aldeia tinha sido muito violenta, os gemidos dos soldados feridos e o regueiro de sangue de Mauro Carias tinham sido um espectáculo arrepiante. Os corpos dos índios ainda estavam no chão onde tinham caído, sem que ninguém fizesse tenção de os recolher. O guia concluiu que Nadia estava transtornada pela brutalidade dos acontecimentos recentes, não havia outra explicação para aqueles gritos da rapariga. Alexander Cold, pelo contrário, teve de esconder um sorriso de orgulho ao ouvir a amiga: Nadia recorria à última tábua de salvação possível.
- Dê-me os rolos fotográficos! - exigiu o capitão Ariosto a Timothy Bruce.
Para o fotógrafo isso equivalia a entregar a vida. Era um fanático no que se referia aos seus negativos, nunca se desfizera de nenhum, tinha-os todos cuidadosamente classificados no seu estúdio de Londres.
- Parece-me excelente que tome precauções para que não se percam esses valiosos negativos, capitão Ariosto - interveio Leblanc. - São a prova do que aconteceu aqui, de como aquele índio atacou o senhor Carias, de como caíram os seus valentes soldados sob as flechas, de como o senhor mesmo se viu obrigado a disparar contra Karakawe.
-Aquele homem imiscuiu-se no que não devia! - exclamou o capitão.
- Evidentemente! Era um louco. Quis impedir que a doutora Torres cumprisse o seu dever. As suas acusações eram dementes! Lamento que os frascos das vacinas tivessem sido destruídos no fragor da luta. Agora nunca saberemos o que continham e não se poderá provar que Karakawe mentia - disse Leblanc com astúcia.
Ariosto fez uma careta que noutras circunstâncias poderia ter sido um sorriso. Colocou a arma no cinto, adiou o assunto dos negativos e, pela primeira vez, deixou de responder aos gritos. Talvez aqueles estrangeiros não suspeitassem de nada, eram muito mais imbecis do que ele julgava, resmungou para si próprio.
Kate Cold seguia o diálogo do antropólogo com o militar, de boca aberta. Nunca imaginou que o metediço de Leblanc fosse capaz de tanto sangue-frio.
- Cala-te, Nadia, por favor-rogou César Santos quando Nadia repetiu o pio da coruja pela décima vez.
- Suponho que passaremos a noite aqui. Deseja que preparemos alguma coisa para o jantar, capitão? - ofereceu Leblanc amavelmente.
O militar autorizou-os a preparar comida e a circular pelo acampamento, mas ordenou-lhes que se mantivessem dentro de um raio de trinta metros, onde os pudesse ver. Mandou os soldados recolher os índios mortos e colocá-los todos no mesmo sítio; no dia seguinte poderiam enterrá-los ou queimá-los. Aquelas horas de noite dar-lhe-iam tempo para tomar uma decisão a respeito dos estrangeiros. Santos e a filha podiam desaparecer sem que ninguém fizesse perguntas, mas com os outros era preciso tomar precauções. Ludovic Leblanc era uma celebridade e a velha e o rapaz eram americanos. Sabia por experiência própria que, quando alguma coisa acontecia a um americano, havia sempre uma investigação; aqueles gringos arrogantes achavam-se donos do mundo.
Embora tenha sido o professor Leblanc a dar a ideia, foram César Santos e Timothy Bruce quem fez o jantar porque o antropólogo era incapaz de fritar um ovo. Kate Cold desculpou-se explicando que só sabia fazer almôndegas e ali não dispunha dos ingredientes; além disso estava demasiado ocupada tentando alimentar o bebé às colherezinhas com uma solução de água e leite condensado. Entretanto, Nadia sentou-se a esquadrinhar a mata, repetindo o pio da coruja de vez em quando. A uma discreta ordem sua, Borobá saiu dos seus braços e correu, desaparecendo no bosque. Uma meia hora depois, o capitão Ariosto lembrou-se dos rolos de fotografia e obrigou Timothy Bruce a entregá-los com o pretexto que Leblanc lhe tinha dado: nas suas mãos estariam seguros. Foi inútil o fotógrafo inglês argumentar e até tentar suborná-lo; o militar manteve-se firme.
Comeram por turnos, enquanto os soldados vigiavam e depois Ariosto mandou os expedicionários dormir para as tendas, onde estariam um pouco mais protegidos em caso de ataque, conforme disse, embora a verdadeira razão fosse, dessa forma, poder controlá-los melhor. Nadia, Kate Cold e o bebé ocuparam uma das tendas, Ludovic Leblanc, César Santos e Timothy Bruce a outra. O capitão não se esquecera da forma como Alex investira contra ele e tinha-lhe um ódio cego. Por causa daqueles fedelhos, especialmente do maldito rapaz americano, ele estava metido numa enrascada tremenda. Mauro Carias tinha o cérebro numa papa, os índios tinham fugido e os seus planos de viver em Miami convertido em milionário perigavam seriamente. Alexander representava um risco para ele, tinha de ser castigado. Decidiu separá-lo dos restantes e ordenou que o amarrassem a uma árvore num extremo do acampamento, longe das tendas dos outros membros do seu grupo e longe dos candeeiros de petróleo. Kate Cold reclamou, furiosa, contra o tratamento dado ao seu neto, mas o capitão fê-la calar-se.
- Talvez seja melhor assim, Kate. Jaguar é muito esperto, com certeza ocorrer-lhe-á uma maneira de fugir - sussurrou Nadia.
- Ariosto pensa matá-lo durante a noite, tenho a certeza - replicou a escritora, trémula de raiva.
- Borobá foi procurar ajuda - disse Nadia.
-Achas que aquele macaquinho nos salvará? - protestou a outra.
- Borobá é muito inteligente.
- Menina, não estás boa da cabeça! - exclamou a avó.
Passaram várias horas sem que ninguém conseguisse adormecer no acampamento, excepto o bebé, exausto de tanto chorar. Kate Cold instalara-o sobre um monte de roupa, perguntando a si própria o que faria com aquela infeliz criatura: a última coisa que desejava na vida era ter um órfão a seu cargo. A escritora mantinha-se vigilante, convencida de que a qualquer momento Ariosto podia assassinar primeiro o seu neto e depois os outros, ou talvez o contrário; primeiro estes, vingando-se depois de Alex com alguma morte lenta e horrível. Aquele homem era muito perigoso. Timothy Bruce e César Santos também tinham as orelhas coladas ao pano da sua tenda, tentando adivinhar os movimentos dos soldados lá fora. O professor Ludovic Leblanc, por outro lado, saiu da sua tenda com a desculpa de fazer as suas necessidades e ficou a conversar com o capitão Ariosto. O antropólogo, consciente de que cada hora decorrida aumentava o risco que corriam, e que convinha distrair o capitão, convidou-o para um jogo de cartas e para partilharem uma garrafa de vodka, dispensada por Kate Cold.
- Não tente embriagar-me, professor - avisou-o Ariosto, mas encheu o seu copo.
- Como pode pensar uma coisa dessas, capitão! Um gole de vodka não faz mossa a um homem como o senhor. A noite é longa, podemos divertir-nos um pouco - replicou Leblanc.
Como acontecia frequentemente no planalto, a temperatura desceu de súbito depois do pôr do Sol. Os soldados, habituados ao calor das terras baixas, tiritavam nas suas roupas ainda empapadas pela chuva da tarde. Nenhum deles dormia, por ordem do capitão todos deviam montar guarda em redor do acampamento. Mantinham-se alerta, com as mãos aferradas às armas. Já não receavam apenas os demónios da selva ou o aparecimento da Besta; também receavam os índios, que podiam regressar a qualquer momento para vingar os seus mortos. Eles tinham a vantagem das armas de fogo, mas os índios conheciam o terreno e possuíam aquela arrepiante faculdade de surgir do nada, como almas penadas. Se não fosse pelos corpos empilhados junto de uma árvore, poderia pensar-se que não eram humanos e que as balas não os feriam. Os soldados esperavam ansiosos pela manhã para saírem dali a voar, o mais rapidamente possível; na escuridão o tempo passava muito lentamente e os ruídos do bosque circundante tornavam-se aterradores.
Kate Cold, sentada de pernas cruzadas junto do bebé adormecido na tenda das mulheres, pensava como poderia ajudar o neto e como sair com vida do Olho do Mundo. Através do tecido da tenda filtrava-se um pouco da claridade da fogueira e a escritora podia ver a silhueta de Nadia envolta no colete do pai.
- Vou sair agora... - sussurrou a rapariga.
- Não podes sair! - impediu-a a outra.
- Ninguém me verá, consigo tornar-me invisível.
Kate Cold agarrou na rapariga pelos braços, certa de que delirava.
- Nadia, ouve-me... Não és invisível. Ninguém é invisível, isso são fantasias. Não podes sair daqui.
- Posso sim. Não faça barulho, senhora Cold. Cuide do bebé até eu voltar; mais tarde entregá-lo-emos à tribo - murmurou Nadia.
Havia uma tal certeza e calma na sua voz, que Kate não se atreveu a retê-la.
Nadia Santos colocou-se primeiro no estado mental da invisibilidade, tal como aprendera com os índios, reduziu-se a nada, a puro espírito transparente. Depois abriu silenciosamente o fecho da tenda e deslizou para fora a coberto das sombras. Passou como uma ladra silenciosa a poucos metros da mesa onde o professor Leblanc e o capitão Ariosto jogavam às cartas, passou à frente dos guardas armados que cercavam o acampamento, passou diante da árvore onde Alex estava amarrado e nenhum deles a viu. A rapariga afastou-se do vacilante círculo de luz dos candeeiros e da fogueira e desapareceu no meio das árvores. Depressa o pio de uma coruja interrompeu o coaxar dos sapos.
Alex, tal como os soldados, tiritava de frio. Tinha as pernas dormentes e as mãos inchadas devido aos nós apertados nos pulsos. Doía-lhe o maxilar, podia sentir a pele esticada, devia ter um inchaço enorme. Com a língua tocava no dente partido e sentia a gengiva tumefacta onde a coronha do capitão lhe acertara. Tentava não pensar nas muitas horas escuras que se estendiam pela frente ou na possibilidade de ser assassinado. Por que razão Ariosto o separara dos outros? O que planeava fazer com ele? Quis ser o jaguar negro, possuir a força, a ferocidade, a agilidade do grande felino, converter-se em puros músculos, garras e dentes para enfrentar Ariosto. Pensou na garrafa de água da saúde que esperava
no seu saco e pensou que teria de sair vivo do Olho do Mundo para a levar à mãe. A lembrança da sua família era imprecisa, como a imagem difusa de uma fotografia desfocada, onde a cara da sua mãe era apenas uma mancha pálida.
Começava a cabecear, vencido pela exaustão, quando de repente sentiu umas mãozinhas tocando-o. Ergueu-se sobressaltado. Na escuridão, conseguiu identificar Borobá cheirando-lhe o pescoço, abraçando-o, gemendo devagarinho no seu ouvido. Borobá, Borobá, murmurou o jovem, tão comovido que os olhos se lhe encheram de lágrimas. Era apenas um macaco do tamanho de um esquilo, mas a sua presença despertou nele uma vaga de esperança. Deixou-se acariciar pelo animal, profundamente reconfortado. Então apercebeu-se de que ao seu lado estava outra presença, uma presença invisível e silenciosa, dissimulada nas sombras da árvore. Primeiro julgou que era Nadia, mas deu-se conta imediatamente de que se tratava de Walimai. O pequenino ancião estava agachado ao seu lado, podia sentir o seu cheiro a fumo, mas por mais que focasse a vista, não o via. O xamã pôs-lhe uma mão no peito, como se procurasse o bater do seu coração. O peso e o calor dessa mão amiga transmitiram coragem ao rapaz, que se sentiu mais calmo, deixou de tremer e conseguiu pensar com clareza. O canivete, o canivete, murmurou. Ouviu o clique do metal ao abrir-se e logo a seguir o gume do canivete deslizava sobre as cordas. Não se mexeu. Estava escuro e Walimai nunca tinha usado uma faca, podia cortar-lhe os pulsos, mas instantes depois o velho tinha cortado as cordas e agarrava-o por um braço para o guiar pela selva.
No acampamento, o capitão Ariosto tinha dado por concluída a partida de cartas e a garrafa de vodka já não tinha nada. Ludovic Leblanc já não sabia como distraí-lo e ainda faltavam muitas horas para amanhecer. O álcool não tinha embebedado o militar, como ele esperava. De facto, tinha tripas de aço. Sugeriu-lhe que tentassem o rádio, para ver se conseguiam comunicar com o quartel de Santa Maria de Ia Lluvia. Durante algum tempo manipularam o aparelho, no meio de um ensurdecedor ruído de estática, mas foi impossível contactar o operador. Ariosto estava preocupado; não lhe convinha ausentar-se do quartel, tinha de regressar o mais depressa possível, necessitava controlar as versões dos soldados sobre o que acontecera em Tapirawa-teri. O que andariam a contar os seus homens? Tinha de enviar um relatório aos seus superiores do Exército e confrontar a imprensa antes que as bisbilhotices se espalhassem. Omayra Torres partira falando sobre o vírus do sarampo. Se começasse a falar, estava frito. Que mulher tonta! - murmurou o capitão.
Ariosto ordenou ao antropólogo que regressasse à sua tenda, deu uma volta pelo acampamento para se certificar de que os seus homens estavam de guarda como deviam e depois dirigiu-se à árvore onde tinha amarrado o rapaz americano, disposto a divertir-se um pouco à custa dele. Nesse instante, o cheiro atingiu-o como uma bordoada. O impacto atirou-o de costas para o chão. Quis levar a mão ao cinto para tirar a sua arma, mas não conseguiu mover-se. Sentiu uma vaga de náusea, o coração explodindo-lhe no peito e depois mais nada. Mergulhou na inconsciência. Não chegou a ver a Besta a três passos de distância, borrifando-o directamente com o mortífero fedor das suas glândulas.
A fetidez asfixiante da Besta invadiu o resto do acampamento, derrubando primeiro os soldados e depois aqueles que estavam protegidos pelo tecido das tendas. Em menos de dois minutos não restava ninguém de pé. Durante algumas horas reinou uma quietude aterradora em Tapirawa-teri e na selva próxima, onde até os pássaros e os animais fugiram apavorados com o cheiro. As duas Bestas, que tinham atacado simultaneamente, retiraram-se com a sua lentidão habitual, mas o seu cheiro persistiu durante uma boa parte da noite. Ninguém no acampamento soube o que acontecera durante essas horas, porque só recuperaram a consciência na manhã seguinte. Mais tarde viram as marcas e puderam chegar a algumas conclusões.
Alex, com Borobá empoleirado nos ombros e seguindo Walimai, andou sob as sombras, contornando a vegetação até as luzes vacilantes do acampamento desaparecerem por completo. O xamã avançava como se fosse dia claro, seguindo talvez a sua mulher-anjo, que Alex não conseguia ver. Serpentearam por entre as árvores durante muito tempo e finalmente o velho encontrou o sítio onde tinha deixado Nadia à sua espera. Nadia Santos e o xamã tinham comunicado através dos pios da coruja durante uma boa parte da tarde e da noite, até ela conseguir sair do acampamento para se reunir com ele. Quando se viram, os jovens amigos abraçaram-se, enquanto Borobá se pendurava na sua dona, guinchando de felicidade.
Walimai confirmou o que já sabiam: a tribo vigiava o acampamento, mas aprendera a temer a magia dos nahab e não se atrevia a enfrentá-los. Os guerreiros estavam tão perto que tinham ouvido o choro do bebé, tal como ouviam o chamamento dos mortos, que ainda não tinham recebido um funeral digno. Os espíritos dos homens e da mulher assassinados ainda permaneciam colados aos corpos, disse Walimai; não conseguiam libertar-se sem uma cerimónia apropriada e sem serem vingados. Alex explicou-lhe que a única esperança dos indígenas era atacar de noite, porque durante o dia os nahab utilizariam o pássaro de ruído e vento para percorrer o Olho do Mundo até os encontrarem.
- Se atacarem agora, alguns morrerão, mas não sendo assim a tribo inteira será exterminada - disse Alex, acrescentando estar disposto a conduzi-los e a lutar junto deles, para isso fora iniciado: ele também era um guerreiro.
- Chefe para a guerra: Tahama. Chefe para negociar com os nahab: tu - replicou Walimai.
- É tarde para negociar. Ariosto é um assassino.
- Tu disseste que alguns nahab eram malvados e outros nahab eram amigos. Onde estão os amigos? - insistiu o feiticeiro.
- A minha avó e alguns homens do acampamento são amigos. O capitão Ariosto e os seus soldados são inimigos. Não podemos negociar com eles.
- A tua avó e os seus amigos devem negociar com os nahab inimigos.
- Os amigos não têm armas.
- Não têm magia?
- No Olho do Mundo não têm muita magia. Mas há outros amigos com muita magia longe daqui, nas cidades, noutras partes do mundo - argumentou Alexander Cold, desesperado pelas limitações da linguagem.
- Então tens de ir para junto desses amigos - concluiu o ancião.
- Como? Estamos presos aqui!
Walimai não respondeu a mais perguntas. Ficou de cócoras olhando para a noite, acompanhado pela sua mulher, que tinha adoptado a forma mais transparente, de modo que nenhum dos jovens conseguia vê-la. Alex e Nadia passaram as horas sem dormir, muito juntos, tentando transmitir calor um ao outro, sem falar, porque havia muito pouco a dizer. Pensavam na sorte que esperava Kate Cold, César Santos e os outros membros do seu grupo; pensavam no povo da neblina, condenado; pensavam nas preguiças centenárias e na cidade de ouro; pensavam na água da saúde e nos ovos de cristal. O que seria de ambos, presos na selva?
Uma baforada do cheiro terrível atingiu-os de súbito, atenuado pela distância, mas perfeitamente reconhecível. Levantaram-se de um salto, mas Walimai não se mexeu, como se tivesse estado à espera disso.
- São as Bestas! - exclamou Nadia.
- Pode ser e pode não ser - comentou impassível o xamã.
O resto da noite tornou-se muito longo. Pouco antes do amanhecer o frio era intenso e os jovens, enroscados com Borobá, batiam os dentes, enquanto o velho feiticeiro, imóvel, com o olhar perdido nas sombras, esperava. Com os primeiros sinais da manhã os macacos e os pássaros acordaram e, nessa altura, Walimai deu o sinal de partida. Seguiram-no por entre as árvores durante muito tempo e, quando a luz do Sol já atravessava a folhagem, chegaram diante do acampamento. A fogueira e os candeeiros estavam apagados, não havia sinais de vida e o cheiro ainda impregnava o ar, como se cem zorrilhos tivessem borrifado aquele sítio ao mesmo tempo. Tapando a cara com as mãos, entraram no perímetro do que, até há pouco tempo, fora a aprazível aldeia de Tapirawa-teri. As tendas, a mesa, o fogão, tudo jazia espalhado pelo chão; havia restos de comida atirados por todo o lado, mas nenhum macaco ou pássaro esgaravatava entre os escombros e o lixo, porque não se atreviam a desafiar a pavorosa hediondez das Bestas. Até Borobá se manteve longe, gritando e dando saltos a vários metros de distância. Walimai demonstrou a mesma indiferença face ao fedor que tivera na noite anterior face ao frio. Os jovens não tiveram outro remédio senão segui-lo.
Não havia ninguém, nem rasto dos membros da expedição, nem dos soldados, nem do capitão Ariosto, nem dos corpos dos índios assassinados. As armas, o equipamento e até as máquinas fotográficas de Timothy Bruce estavam ali. Também viram uma grande mancha de sangue que escurecia a terra perto da árvore onde Alex tinha sido amarrado. Depois de uma breve inspecção, que pareceu deixá-lo bastante satisfeito, o velho Walimai iniciou a retirada. Os dois jovens partiram atrás sem fazer perguntas, tão enjoados com o cheiro que mal conseguiam manter-se de pé. À medida que se afastavam e enchiam os pulmões com o ar fresco da manhã, iam recuperando o ânimo, mas as fontes latejavam-lhes e tinham náuseas. Borobá reuniu-se-lhes assim que começaram a andar e o pequeno grupo interrou-se selva adentro.
Vários dias antes, ao ver os pássaros de ruído e vento rondando os céus, os habitantes de Tapirawa-teri tinham fugido da sua aldeia, abandonado as suas escassas posses e os seus animais domésticos, que lhes dificultavam a capacidade de se esconderem. Deslocaram-se, encobertos pela vegetação, até um lugar seguro e aí montaram as suas moradas provisórias nas copas das árvores. Os grupos de soldados enviados por Ariosto passaram muito perto sem os verem, mas todos os movimentos dos forasteiros, pelo contrário, foram observados pelos guerreiros de Tahama, dissimulados na Natureza.
lyomi e Tahama discutiram demoradamente sobre os nahab e a conveniência de se aproximarem deles, tal como tinham aconselhado Águia a Jaguar. lyomi era de opinião que o seu povo não podia esconder-se para sempre nas árvores, como os macacos. Tinha chegado o tempo de visitarem os nahab e de receberem as suas ofertas e as suas vacinas, era inevitável. Tahama considerava que era melhor morrer combatendo; mas lyomi era o chefe dos chefes e por fim o seu critério prevaleceu. Ela decidiu ser a primeira a aproximar-se, por isso apareceu sozinha no acampamento, enfeitada com o soberbo chapéu de penas amarelas para demonstrar aos forasteiros quem era a autoridade. A presença entre os forasteiros de Jaguar e de Águia, que tinham regressado da montanha sagrada, tranquilizou-a. Eram amigos e podiam traduzir, de modo que aqueles pobres seres vestidos de trapos hediondos não se sentiriam perdidos diante dela. Os nahab receberam-na bem, estavam sem dúvida impressionados pelo seu porte majestoso e pelo número das suas rugas, prova do muito que tinha vivido e dos conhecimentos adquiridos. Apesar da comida que lhe ofereceram, a anciã viu-se obrigada a exigir-lhes que se fossem embora do Olho do Mundo, porque estavam a incomodar. Essa era a sua última palavra, não estava disposta a negociar. Retirou-se majestosamente com a sua taça de carne com milho, certa de ter atemorizado os nahab com o peso da sua imensa dignidade.
Em vista do êxito da visita de lyomi, o resto da tribo armou-se de coragem e seguiu-lhe o exemplo. Assim, regressaram ao sítio onde estava a sua aldeia, agora espezinhada pelos forasteiros, que evidentemente não conheciam a regra mais elementar de prudência e cortesia: não se deve visitar um shabono sem ser convidado. Aí, os índios viram os grandes pássaros reluzentes, as tendas e os estranhos nahab, sobre os quais tinham ouvido histórias tão pavorosas. Aqueles estrangeiros de maneiras vulgares mereciam umas boas bordoadas na cabeça, mas por ordem de lyomi, os índios tiveram de encher-se de paciência para com eles. Aceitaram a sua comida e os seus presentes para não os ofenderem, depois foram caçar e colher mel e frutas, de modo a poderem retribuir as ofertas recebidas, como era correcto.
No dia seguinte, quando Iyomi teve a certeza de que Jaguar e Águia ainda lá estavam, autorizou a tribo a aparecer novamente diante dos nahab e a vacinar-se. Nem ela nem ninguém conseguiu explicar o que aconteceu nessa altura. Não sabiam por que razão os jovens forasteiros, que tinham insistido tanto na necessidade de se vacinarem, saltaram de súbito para o impedir. Ouviram um ruído desconhecido, como pequenos trovões. Viram que, ao partir-se os frascos, se libertou o Rahakanariwa. Na sua forma invisível atacou os índios que caíram mortos serem serem atingidos por flechas ou garrotes. Na violência da batalha, os restantes fugiram como puderam, desconcertados e confusos. Já não sabiam quem eram os seus amigos e os seus inimigos.
Finalmente, Walimai veio dar-lhes algumas explicações. Disse que os jovens Águia e Jaguar eram amigos e deviam ser ajudados, mas todos os outros podiam ser inimigos. Disse que o Rahakanariwa andava à solta e podia tomar qualquer forma: seriam precisos conjuros muito fortes para o mandar de volta para o reino dos espíritos. Disse que precisavam de recorrer aos deuses. Então, as duas gigantescas preguiças, que ainda não tinham regressado ao tepui sagrado e deambulavam pelo Olho do Mundo, foram chamadas e levadas durante a noite até à aldeia em ruínas. Nunca se tinham aproximado da morada dos índios por sua própria iniciativa, nunca o tinham feito em milhares e milhares de anos. Foi necessário que Walimai lhes fizesse entender que essa já não era a aldeia do povo da neblina, porque tinha sido profanada pela presença dos nahab e pelos assassinatos cometidos no seu solo. Tapirawa-teri teria de ser reconstruída noutro lugar do Olho do Mundo, longe dali, onde as almas dos humanos e dos espíritos dos antepassados se sentissem bem, onde a maldade não tivesse contaminado a terra nobre. As Bestas encarregaram-se de borrifar o acampamento dos nahab, incapacitando amigos e inimigos por igual.
Os guerreiros de Tahama tiveram de esperar muitas horas até o odor se desvanecer o suficiente para permitir que se aproximassem. Recolheram primeiro os corpos dos índios e levaram-nos para lhes preparar um funeral apropriado. Depois voltaram para buscar os restantes e levaram-nos de rastos, incluindo o cadáver do capitão Ariosto, despedaçado pelas garras impressionantes de um dos deuses.
Os nahab foram acordando um por um. Deram consigo numa clareira da selva, atirados pelo chão e tão estonteados, que nem se lembravam dos seus próprios nomes. Muito menos se lembravam de como tinham chegado até ali. Kate Cold foi a primeira a reagir. Não fazia ideia onde se encontrava nem o que tinha acontecido com o acampamento, com o helicóptero, com o capitão e, sobretudo, com o seu neto. Lembrou-se do bebé e procurou-o pelos arredores, mas não conseguiu encontrá-lo. Sacudiu os outros que, aos poucos, foram espevitando. Todos tinham horríveis dores na cabeça e nas articulações, vomitavam, tossiam e choravam, sentiam-se como se tivessem sido espancados, mas nenhum apresentava marcas de violência.
O último a abrir os olhos foi o professor Leblanc, a quem a experiência afectara tanto que não conseguia pôr-se de pé. Kate Cold pensou que uma chávena de café e um gole de vodka cairia bem a todos, mas não tinham nada para levar à boca. O fedor das Bestas impregnava-lhes ainda a roupa, o cabelo e a pele. Tiveram de se arrastar até um riacho próximo e de se meter na água durante muito tempo. Os cinco soldados estavam perdidos, sem armas e sem capitão, de modo que, quando César Santos assumiu o comando, lhe obedeceram sem piar. Timothy Bruce, bastante aborrecido por ter estado tão perto da Besta sem a ter fotografado, queria ir ao acampamento buscar as máquinas fotográficas, mas não sabia que direcção devia tomar e ninguém parecia disposto a acompanhá-lo. O fleumático inglês, que tinha acompanhado Kate Cold em guerras, cataclismos e muitas aventuras, raras vezes perdia o seu ar de tédio, mas os últimos acontecimentos tinham conseguido pô-lo de mau humor. Kate Cold e César Santos só pensavam no neto e na filha, respectivamente. Onde estariam os jovens?
O guia examinou o terreno com muita atenção e encontrou ramos partidos, penas, sementes e outros sinais do povo da neblina. Concluiu que os índios os tinham trazido até aí, salvando-lhes assim a vida, porque de outra forma teriam morrido asfixiados ou despedaçados pela Besta. Sendo assim, não conseguia entender por que razão os índios não tinham aproveitado a oportunidade para os matar, vingando dessa forma os seus mortos. Se estivesse em condições de raciocinar, o professor Leblanc teria sido obrigado a rever uma vez mais a sua teoria sobre a ferocidade dessas tribos, mas o pobre antropólogo gemia de bruços no chão, meio morto de náusea e de enxaqueca.
Tinham todos a certeza de que o povo da neblina voltaria e foi exactamente isso que aconteceu. De repente, a tribo completa surgiu da mata. A sua incrível capacidade para se deslocar num silêncio absoluto e se materializar numa questão de segundos serviu para rodearem os forasteiros antes que estes se apercebessem. Os soldados responsáveis pela morte dos índios tremiam como crianças. Tahama aproximou-se deles e olhou-os fixamente, mas não lhes tocou; talvez pensasse que aqueles vermes não mereciam umas boas bordoadas de um guerreiro tão nobre como ele.
Iyomi deu um passo em frente e fez um longo discurso na sua língua, que ninguém compreendeu, depois agarrou em Kate Cold pela camisa e começou a gritar a dois centímetros da sua cara. A única coisa que ocorreu à escritora foi agarrar na velhota do chapéu de penas amarelas pelos ombros e gritar-lhe de volta em inglês. Assim, as duas avós estiveram um bom pedaço a lançar uma à outra impropérios incompreensíveis, até Iyomi se cansar, dar meia volta e ir sentar-se debaixo de uma árvore. Os outros índios também se sentaram, falando entre eles, comendo frutas, nozes e cogumelos que encontravam entre as raízes e que passavam de mão em mão, enquanto Tahama e vários dos seus guerreiros permaneciam vigilantes, mas sem agredir ninguém. Kate Cold reconheceu o bebé que tinha cuidado ao colo de uma rapariga jovem e alegrou-se por a criança ter sobrevivido ao fedor fatal da Besta, estando de volta ao seio dos seus.
A meio da tarde apareceram Walimai e os dois jovens. Kate Cold e César Santos correram ao seu encontro, abraçando-os aliviados, porque estavam com receio de nunca mais os ver. Com a presença de Nadia a comunicação tornou-se mais fácil; ela pôde traduzir e assim se esclareceram alguns pontos. Os forasteiros ficaram a saber que os índios ainda não relacionavam a morte dos seus companheiros com as armas de fogo dos soldados, porque nunca as tinham visto. A única coisa que desejavam era reconstruir a sua aldeia noutro sítio, comer as cinzas dos seus mortos e recuperar a paz de que sempre tinham gozado. Queriam devolver o Rahakanariwa ao seu lugar entre os demónios e expulsar os nahab do Olho do Mundo.
O professor Leblanc, um pouco mais recomposto, mas ainda aturdido pelo mal-estar, tomou a palavra. Tinha perdido o chapéu australiano com peninhas e estava imundo e fétido, como todos eles, com a roupa impregnada do odor das Bestas. Nadia traduziu, adaptando as frases, para que os índios não julgassem que todos os nahab eram tão arrogantes como aquele homenzinho.
- Podem estar tranquilos. Prometo que me encarregarei pessoalmente de proteger o povo da neblina. O mundo ouve quando Ludovic Leblanc fala - garantiu o professor.
Acrescentou que publicaria as suas impressões sobre o que vira, não só no artigo da International Geographic; escreveria também outro livro. Graças a ele, garantiu, o Olho do Mundo seria declarado reserva indígena e protegido de qualquer forma de exploração. Iam ver quem era Ludovic Leblanc!
O povo da neblina não entendeu uma palavra de toda esta discursata, mas Nadia resumiu dizendo que esse era um nahab amigo. Kate Cold acrescentou que ela e Timothy Bruce ajudariam Leblanc nos seus propósitos, tendo sido incorporados também na categoria dos nahab amigos. Finalmente, após eternas negociações para ver quem era amigo e quem era inimigo, os indígenas aceitaram conduzi-los a todos no dia seguinte de volta ao helicóptero. Esperavam que nessa altura o fedor das Bestas em Tapirawa-teri tivesse diminuído.
Iyomi, sempre prática, deu ordem aos guerreiros para irem caçar, enquanto as mulheres preparavam o fogo e umas redes para passarem a noite.
- Repito a pergunta que já te fiz anteriormente, Alexander: o que sabes sobre a Besta? - perguntou Kate Cold ao neto.
- Não é uma, Kate, são várias. Parecem preguiças gigantes, animais muito antigos, talvez da Idade da Pedra ou anteriores.
- Viste-as?
- Se não as tivesse visto não poderia descrevê-las, não te parece? Vi onze delas, mas creio que há mais uma ou duas rondando por aqui. Parecem ser de metabolismo muito lento, vivem muitos anos, talvez séculos. Aprendem, têm boa memória e, não vais acreditar, falam - explicou Alex.
- Estás a gozar comigo! - exclamou a avó.
- É verdade. Não são assim muito eloquentes, mas falam a mesma língua do povo da neblina.
Alexander Cold informou-a de que em troca da protecção dos índios, esses seres preservavam a sua história.
- Uma vez disseste-me que os índios não precisavam de escrita porque têm boa memória. As preguiças são a memória viva da tribo - acrescentou o rapaz.
- Onde as viste, Alexander?
- Não posso dizer-te, é um segredo.
- Suponho que vivem no mesmo sítio onde encontraste a água da saúde... - arriscou a avó.
- Pode ser e pode não ser - replicou o neto com ironia.
- Tenho de ver essas Bestas e fotografá-las, Alexander.
- Para quê? Para um artigo numa revista? Isso seria o fim dessas pobres criaturas, Kate, viriam caçá-las para as trancar em zoológicos ou para as estudarem em laboratórios.
-Alguma coisa terei de escrever, para isso me contrataram...
- Escreve que a Besta é uma lenda, superstição pura. Eu garanto-te que mais ninguém voltará a vê-las durante muito, muito tempo. Esquecer-se-ão delas. É mais interessante escrever sobre o povo da neblina, esse povo que permanece imutável há milhares de anos e que pode desaparecer a qualquer momento. Conta que iam injectá-los com o vírus do sarampo, tal como fizeram com outras tribos. Podes torná-los famosos e assim salvá-los do extermínio, Kate. Podes converter-te em protectora do povo da neblina e, com um pouco de astúcia, podes conseguir que Leblanc seja teu aliado. A tua pena pode trazer alguma justiça a estes lados, podes denunciar os facínoras como Carias e Ariosto, questionar o papel dos militares e levar Omayra Torres a tribunal. Tens de fazer alguma coisa, ou depressa outros canalhas continuarão a cometer crimes por estas bandas com a mesma impunidade de sempre.
- Vejo que cresceste muito nestas semanas, Alexander - admitiu Kate Cold, admirada.
- Podes chamar-me Jaguar, avó?
- Como a marca de automóveis?
- Sim.
- Cada um com o seu gosto. Posso chamar-te como quiseres, desde que não me chames avó - replicou ela.
- De acordo, Kate.
- De acordo, Jaguar.
Nessa noite, os nahab comeram com os índios um jantar frugal de macaco assado. Desde a chegada dos pássaros de ruído e vento a Tapirawa-teri, a tribo tinha perdido a sua horta, as suas bananeiras e a sua mandioca e, como não podiam fazer fogo, para não atrair os seus inimigos, estavam há vários dias com fome. Enquanto Kate Cold tentava trocar informações com lyomi e com as outras mulheres, o professor Leblanc, fascinado, interrogava Tahama sobre os costumes da tribo e as artes da guerra. Nadia, que estava encarregada de traduzir, apercebeu-se de que Tahama tinha um sentido de humor perverso e que estava a contar ao professor uma série de fantasias. Disse-lhe, entre outras coisas, que era o terceiro marido de Iyomi e que nunca tivera filhos, o que desbaratou a teoria de Leblanc sobre a superioridade genética dos machos alfa. Num futuro próximo, estas histórias de Tahama seriam a base de outro livro do famoso professor Ludovic Leblanc.
No dia seguinte, o povo da neblina, com Iyomi e Walimai à cabeça e Tahama e os seus guerreiros na retaguarda, conduziram os nahab de volta a Tapirawa-teri. A cem metros da aldeia viram o corpo do capitão Ariosto, que os índios tinham colocado entre dois grossos ramos de uma árvore, para alimento dos pássaros e dos animais, como faziam com aqueles seres que não mereciam uma cerimónia funerária. Estava tão despedaçado pelas garras da Besta, que os soldados não tiveram estômago para o tirar e levar de volta a Santa Maria de Ia Lluvia. Decidiram regressar mais tarde para recolher os seus ossos e dar-lhe uma sepultura cristã.
- A Besta fez justiça - murmurou Kate.
César Santos ordenou a Timothy Bruce e a Alexander Cold que recolhessem todas as armas dos soldados, que estavam espalhadas pelo acampamento, para evitar outra explosão de violência no caso de alguém ficar nervoso. No entanto, não era provável que isso acontecesse, porque o fedor das Bestas, que ainda os impregnava, mantinha-os a todos maldispostos e mansos. Santos mandou embarcar o equipamento para o helicóptero, excepto as tendas, que foram enterradas, porque calculou que seria impossível tirar-lhes o cheiro. Entre as tendas desarmadas Timothy Bruce recuperou várias máquinas fotográficas e vários rolos de negativos, embora aqueles que o capitão Ariosto requisitara estivessem inutilizados. O militar expusera-os à luz. Por outro lado, Alex encontrou o seu saco e lá dentro estava, intacta, a garrafa com a água da saúde.
Os expedicionários prepararam-se para regressar a Santa Maria de Ia Lluvia. Não tinham piloto, porque aquele helicóptero tinha sido pilotado pelo capitão Ariosto e o outro piloto tinha seguido no primeiro helicóptero. Santos nunca tinha conduzido um desses aparelhos, mas se era capaz de pôr a voar a sua ruinosa avioneta, tinha a certeza de que também podia fazer o mesmo com este.
Tinha chegado o momento de se despedirem do povo da neblina. Fizeram-no trocando presentes, como era costume entre os índios. Uns desfizeram-se de cintos, machetes, facas e utensílios de cozinha, outros tiraram penas, sementes, orquídeas e colares de dentes. Alex deu a sua bússola a Tahama, que a pendurou ao pescoço como um adorno, e ofereceu ao rapaz americano um feixe de dardos envenenados com curare e uma zarabatana de três metros de comprimento, que conseguiram encaixar com dificuldade no espaço reduzido do helicóptero. Iyomi voltou a agarrar Kate Cold pela camisa, gritando-lhe um discurso no volume máximo e a escritora respondeu-lhe com a mesma paixão em inglês. No último instante, quando os nahab se preparavam para entrar no pássaro de ruído e vento, Walimai entregou a Nadia uma pequena cesta.
A viagem de regresso a Santa Maria de Ia Lluvia foi um pesadelo, porque César Santos demorou mais de uma hora a dominar os comandos e a estabilizar o aparelho. Durante essa primeira hora, ninguém acreditou chegar com vida à civilização e até Kate Cold, que tinha o sangue-frio de um peixe de mares profundos, se despediu do neto com um firme aperto de mão.
- Adeus, Jaguar. Receio que não passemos daqui. Lamento que a tua vida tenha sido tão curta - disse-lhe.
Os soldados rezavam em voz alta e bebiam para acalmar os nervos, enquanto Timothy Bruce manifestava o seu profundo desagrado levantando a sobrancelha esquerda, coisa que fazia quando estava prestes a explodir. Os únicos verdadeiramente calmos eram Nadia, que tinha perdido o medo das alturas e confiava na mão firme do seu pai, e o professor Ludovic Leblanc, tão enjoado que nem teve consciência do perigo.
Horas mais tarde, depois de uma aterragem tão atribulada como a descolagem, os membros da expedição puderam instalar-se finalmente no mísero hotel de Santa Maria de Ia Lluvia. No dia seguinte regressariam a Manaus, onde tomariam o avião para os seus países. Fariam a travessia de barco pelo rio Negro, tal como tinham feito à chegada, porque a avioneta de César Santos se recusou a levantar do chão, apesar do motor novo. Joel González, o ajudante de Timothy Bruce, que recuperara bastante, iria com eles. As freiras tinham improvisado um corpete de gesso, que o imobilizava do pescoço às ancas, e prognosticaram que as suas costelas sarariam sem consequências, embora possivelmente o infeliz nunca conseguisse curar-se dos seus pesadelos. Sonhava todas as noites com o abraço da anaconda.
As freiras garantiram também que os três soldados feridos recuperariam porque, felizmente para eles, as flechas não estavam envenenadas. A previsão quanto ao futuro de Mauro Carias, pelo contrário, era péssima. A bordoada de Tahama danificara-lhe o cérebro e, na melhor das hipóteses, ficaria inutilizado e numa cadeira de rodas para o resto da sua vida, com a cabeça nas nuvens e alimentado por uma sonda. Tinha sido levado na sua própria avioneta para Caracas, com Omayra Torres, que não se separava dele um instante. A mulher não sabia que Ariosto tinha morrido e já não podia protegê-la. Também não suspeitava que, assim que os estrangeiros contassem o que acontecera com as falsas vacinas, ela teria de enfrentar a justiça. Estava com os nervos destroçados, repetia sem parar que era a culpada de tudo, que Deus os castigara, a Mauro e a ela, por causa do vírus do sarampo. Ninguém compreendia as suas estranhas declarações, mas o padre Valdomero, que foi dar consolo espiritual ao moribundo, prestou atenção e tomou nota das suas palavras. O sacerdote, tal como Karakawe, suspeitava há muito tempo que Mauro Carias tinha um plano para explorar as terras dos índios, mas não tinha conseguido descobrir em que consistia. As aparentes divagações da médica deram-lhe a chave.
Enquanto o capitão Ariosto esteve no comando da guarnição, o empresário tinha feito o que lhe apetecera naquele território. O missionário não tinha poder para desmascarar aqueles homens, embora durante anos tivesse informado a Igreja das suas suspeitas. As suas advertências tinham sido ignoradas, porque faltavam provas e porque o consideravam também um pouco louco. Mauro Carias encarregara-se de difundir a história de que o padre delirava desde que tinha sido raptado pelos índios. O padre Valdomero tinha chegado a viajar até ao Vaticano para denunciar os abusos contra os indígenas, mas os seus superiores eclesiásticos recordaram-lhe que a sua missão era levar a palavra de Cristo ao Amazonas e não meter-se em política. O homem regressou derrotado, perguntando a si próprio como pretendiam que salvasse as almas para o Céu, sem salvar primeiro as suas vidas na Terra. Por outro lado, não tinha a certeza da conveniência de cristianizar os índios, que tinham a sua própria espiritualidade. Tinham vivido milhares de anos em harmonia com a Natureza, como Adão e Eva no Paraíso, que necessidade havia de inculcar-lhes a noção de pecado? - pensava o padre Valdomero.
Ao inteirar-se de que o grupo da International Geographic estava de volta a Santa Maria de Ia Lluvia e de que o capitão Ariosto tinha morrido de forma inexplicável, o missionário apareceu no hotel. As versões dos soldados sobre o que se tinha passado no planalto eram contraditórias. Uns culpavam os índios, outros a Besta e não faltou quem apontasse o dedo aos membros da expedição. De qualquer forma, sem Ariosto no horizonte, havia finalmente uma possibilidade mínima de fazer justiça. Rapidamente outro militar viria comandar as tropas e não havia qualquer certeza de que seria mais honrado que Ariosto. Também poderia sucumbir ao suborno e ao crime, como acontecia frequentemente no Amazonas.
O padre Valdomero entregou as informações que tinha acumulado ao professor Ludovic Leblanc e a Kate Cold. A ideia de que Mauro Carias espalhava epidemias com a cumplicidade da doutora Omayra Torres e a protecção de um oficial do Exército, era um crime tão pavoroso que ninguém acreditaria sem provas.
- A notícia de que estão a massacrar os índios dessa maneira comoveria o mundo. É uma pena não podermos prová-lo - disse a escritora.
- Acho que podemos - respondeu César Santos, tirando do bolso do colete um dos frascos das supostas vacinas.
Explicou que Karakawe conseguira subtraí-lo da bagagem da médica pouco antes de ser assassinado por Ariosto.
-Alexander e Nadia surpreenderam-no a mexer nas caixas das vacinas e, apesar de ele os ter ameaçado se o denunciassem, os miúdos contaram-me. Julgámos que Karakawe tinha sido enviado por Carias, nunca pensámos que era agente do governo - disse Kate Cold.
- Eu sabia que Karakawe trabalhava no Departamento de Protecção do Indígena e por isso sugeri ao professor Leblanc que o contratasse como seu assistente pessoal. Dessa forma podia acompanhar a expedição sem levantar suspeitas - explicou César Santos.
- De modo que você me usou, Santos - insinuou o professor.
- O senhor queria que alguém o abanasse com uma folha de bananeira e Karakawe queria ir com a expedição. Ninguém saiu perdendo, professor - disse o guia a sorrir, acrescentando que Karakawe investigava há muitos meses Mauro Carias e tinha um grosso dossier com os negócios escuros desse homem, em especial a forma como explorava as terras dos indígenas. Com certeza suspeitava da relação entre Mauro Carias e a doutora Omayra Torres, por isso decidira seguir a pista da médica.
- Karakawe era meu amigo, mas era um homem hermético e não dizia mais do que o indispensável. Nunca me contou que suspeitava de Omayra - disse Santos. - Imagino que andava à procura da chave para explicar as mortes em massa dos índios e por isso se apoderou de um dos frascos de vacinas, entregando-mo para que o guardasse num local seguro.
- Com isto poderemos provar a forma sinistra como se espalhavam as epidemias - disse Kate Cold, olhando para a garrafinha em contraluz.
- Eu também tenho uma coisa para ti, Kate - disse Timothy Bruce a sorrir, mostrando-lhe alguns rolos de negativos na palma da mão.
- O que é isto? - perguntou a escritora, intrigada.
- São as imagens de Ariosto assassinando Karakawe com um tiro à queima-roupa, de Mauro Carias destruindo os frascos e do tiroteio contra os índios. Graças ao professor Leblanc, que distraiu o capitão por meia hora, tive tempo de os trocar antes que ele os destruísse. Entreguei-lhe os rolos da primeira parte da viagem e salvei estes - esclareceu Timothy Bruce.
Kate Cold teve uma reacção inesperada nela: saltou para o pescoço de Santos e de Bruce e pespegou-lhes um beijo na cara.
- Benditos sejam, rapazes! - exclamou feliz.
- Se isto contém o vírus, como julgamos, Mauro Carias e essa mulher levaram a cabo um genocídio e terão de pagar por isso... - murmurou o padre Valdomero, segurando no frasquinho entre os dedos, com o braço esticado, como se receasse que o veneno lhe saltasse para a cara.
Foi ele quem sugeriu a criação de uma fundação destinada a proteger o Olho do Mundo e, em especial, o povo da neblina. Com a pena eloquente de Kate Cold e o prestígio internacional de Ludovic Leblanc, tinha a certeza de consegui-lo, explicou entusiasmado. Faltava financiamento, é verdade, mas entre todos veriam como obter o dinheiro: recorreriam às igrejas, aos partidos políticos, aos organismos internacionais, aos governos, não deixariam de bater a todas as portas até conseguirem os fundos necessários. Era preciso salvar as tribos, decidiu o missionário e os outros estavam de acordo com ele.
- O senhor será o presidente da fundação, professor - ofereceu Kate Cold.
- Eu? - perguntou Leblanc, genuinamente surpreendido e encantado.
- Quem poderia fazê-lo melhor do que o senhor? Quando Ludovic Leblanc fala, o mundo ouve... - disse Kate Cold, imitando o tom presunçoso do antropólogo, e todos se riram, menos Leblanc, evidentemente.
Alexander Cold e Nadia Santos estavam sentados no cais de Santa Maria de Ia Lluvia, onde há algumas semanas tinham conversado pela primeira vez e iniciado a sua amizade. Tal como nessa altura, a noite tinha caído com o coaxar de sapos e os uivos de macacos, mas desta vez a Lua não os iluminava. O firmamento estava escuro e salpicado de estrelas. Alexander nunca tinha visto um céu assim, não sabia que havia tantas e tantas estrelas. Os jovens sentiam que tinham vivido muito desde que se conheceram; ambos tinham crescido e mudado em poucas semanas. Estiveram calados, olhando para o céu durante muito tempo, pensando que dentro em pouco teriam de se separar, até Nadia se lembrar da cestinha que trazia para o amigo. A mesma que Walimai lhe dera ao despedir-se. Alex recebeu-a com reverência e abriu-a: lá dentro brilhavam os três ovos da montanha sagrada.
- Guarda-os, Jaguar. São muito valiosos, são os maiores diamantes do mundo - disse-lhe Nadia num sussurro.
- Isto são diamantes? - perguntou Alex, apavorado, sem se atrever a tocá-los.
- Sim. Pertencem ao povo da neblina. Segundo a visão que tive, estes ovos podem salvar esses índios e o bosque onde sempre viveram.
- E por que mos dás?
- Porque tu foste nomeado chefe para negociar com os nahab. Os diamantes servir-te-ão para a troca - explicou ela.
-Ai, Nadia! Eu não passo de um fedelho de quinze anos, não tenho qualquer poder no mundo, não posso negociar com ninguém e muito menos responsabilizar-me por esta fortuna.
- Quando chegares ao teu país, entrega-os à tua avó. Certamente ela saberá o que fazer com eles. A tua avó parece ser uma senhora bastante poderosa, ela pode ajudar os índios - garantiu a rapariga.
- Parecem pedaços de vidro. Como sabes que são diamantes? - perguntou ele.
- Mostrei-os ao meu pai que os reconheceu imediatamente. Mas mais ninguém deve saber disto até estarem num lugar seguro, ou roubá-los-ão. Entendes, Jaguar?
- Entendo. O professor Leblanc viu-os?
- Não. Só tu, o meu pai e eu. Se o professor souber disto, irá a correr contá-lo a meio mundo - afirmou ela.
- O teu pai é um homem muito honesto, qualquer outro teria ficado com os diamantes.
- Tu fá-lo-ias?
- Não.
- O meu pai também não. Não quis tocar neles, disse que atraem desgraças, que as pessoas matam por essas pedras - respondeu Nadia.
- E como vou passá-los pela alfândega nos Estados Unidos? - perguntou o rapaz, avaliando o peso daqueles ovos magníficos.
- Num bolso. Se alguém os vir, pensará que é artesanato do Amazonas para turistas. Ninguém suspeita que existem diamantes desse tamanho, muito menos em poder de um miúdo com metade da cabeça rapada - disse Nadia, rindo-se e passando-lhe os dedos pela tonsura.
Permaneceram muito tempo em silêncio olhando para a água aos seus pés e para a vegetação sombria que os rodeava, tristes, porque dentro de muito poucas horas teriam de dizer adeus. Pensavam que nunca mais aconteceria nada de tão extraordinário nas suas vidas como a aventura que tinham partilhado. O que podia comparar-se às Bestas, à cidade de ouro, à viagem ao fundo da Terra de Alexander ou à subida ao ninho dos ovos maravilhosos de Nadia?
- A minha avó foi encarregada de escrever outra reportagem para a International Geographic. Tem de ir ao Reino do Dragão Trovejante - comentou Alex.
- Isso parece ser tão interessante como o Olho do Mundo. Onde fica? - perguntou ela.
- Nas montanhas dos Himalaias. Gostaria de ir com ela, mas...
O rapaz compreendia que isso era quase impossível. Tinha de regressar à sua existência normal. Tinha estado ausente por várias semanas, era hora de voltar para as aulas ou perderia o ano escolar. Também queria ver a família e abraçar o seu cão Poncho. Precisava, sobretudo, de entregar a água da saúde e a planta de Walimai à sua mãe; tinha a certeza de que isso, juntamente com a quimioterapia, a curaria. No entanto, deixar Nadia magoava-o mais do que tudo, desejava que nunca mais amanhecesse, queria ficar eternamente sob as estrelas na companhia da amiga. Ninguém no mundo o conhecia tão bem, ninguém estava tão perto do seu coração como aquela menina cor de mel que encontrara milagrosamente no fim do mundo. O que seria dela no futuro? Cresceria sábia e selvagem na selva, muito longe dele.
- Voltarei a ver-te? - suspirou Alex.
- Claro que sim! - disse ela, abraçada a Borobá, fingindo alegria para que ele não suspeitasse das suas lágrimas.
- Escreveremos um ao outro, não é verdade?
- Os correios por estes lados não são lá muito bons...
- Não importa. Mesmo que as cartas demorem, vou escrever. Para mim, o mais importante desta viagem foi ter-te conhecido. Nunca, nunca te esquecerei, serás sempre a minha melhor amiga - prometeu Alexander Cold, com a voz entrecortada.
- E tu o meu melhor amigo, desde que possamos ver-nos com o coração - replicou Nadia Santos.
- Até à vista, Águia...
- Até à vista, Jaguar...
Isabel Allende
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















