



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




REGIÃO CENTRAL DA PENSILVÂNIA
Oito meses depois da libertação da Pátria
Agosto de 98 D.V.
O chão cedia com facilidade sob a faca, liberando um cheiro negro de terra. O ar estava quente e úmido; pássaros cantavam nas árvores. De joelhos, apoiando as mãos no chão, ela golpeava o solo, soltando-o. Um punhado de cada vez, e jogava de lado. Parte da fraqueza havia sumido, mas não toda. Seu corpo parecia frouxo, desorganizado, exaurido. Havia a dor e a lembrança da dor. Três dias tinham se passado, ou seriam quatro? O suor formava gotas em seu rosto; ela lambeu os lábios e sentiu gosto de sal. Cavava e cavava. O suor escorria, caindo na terra. É para onde tudo vai, no fim das contas, pensou Alicia. Para a terra.
O monte ao seu lado crescia. Que profundidade seria suficiente? A um metro o solo começou a mudar. Ficou mais frio, com odor de argila. Parecia um sinal. Jogou o corpo para trás, sentando-se sobre as botas, e tomou um longo gole do cantil. Suas mãos estavam em carne viva; a pele na base do polegar tinha se soltado quase inteira. Levou o dedo à boca e usou os dentes para cortar o pedaço de pele, que cuspiu na terra.
Soldado a esperava nos limites da clareira, a mandíbula trabalhando ruidosa num trecho de capim que ia até a cintura. A graça de suas ancas, a crina brilhosa, a magnificência dos cascos, dos dentes e dos grandes olhos negros: uma aura de esplendor o cercava. Quando queria, ele era dono de uma calma absoluta; depois, no instante seguinte, podia realizar feitos notáveis. Seu rosto sábio se levantou ao ouvi-la se aproximar. Sei. Estamos prontos. Ele se virou num arco lento, o pescoço abaixado, e a acompanhou na direção das árvores, até o lugar onde ela havia montado sua lona. No chão, junto ao saco de dormir ensanguentado, estava a trouxa menor, feita de um cobertor cheio de manchas. Sua filha tinha vivido menos de uma hora, mas naquela hora Alicia havia se tornado mãe.
Soldado observou enquanto ela saía de baixo da lona. O rosto do bebê estava coberto; Alicia puxou o pano para trás. Soldado baixou a cara para o rosto da criança, as narinas se abrindo, sentindo o cheiro. Nariz e olhos minúsculos, a boca um botão de rosa, espantosos em sua humanidade; a cabeça coberta por uma touca de cabelos ruivos e macios. Mas não existia vida, não existia respiração. Alicia tinha se perguntado se seria capaz de amá-la – aquela criança concebida em terror e dor, gerada por um monstro. Um homem que a havia espancado, estuprado, xingado depois de acabar. Como tinha sido idiota!
Voltou à clareira. O sol estava a pino; insetos zumbiam no capim, uma pulsação rítmica. Soldado ficou junto enquanto ela colocava a filha na sepultura. Quando o trabalho de parto havia começado, Alicia rezara. Que ela esteja bem. Enquanto as horas de agonia se dissolviam uma na outra, sentiu a presença fria da morte por dentro. A dor a golpeava, um vento de aço que ecoava nas células como um trovão. Algo estava errado. Por favor, Deus, proteja-a, proteja-nos. Mas suas orações tinham caído no vazio.
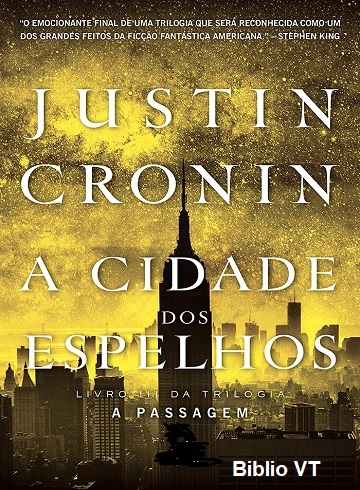
O primeiro punhado de terra foi o mais difícil. Como seria possível fazer isso? Alicia tinha enterrado muitos homens. Alguns ela conhecera, outros não; apenas um ela havia amado. O garoto, Cano Longo. Tão divertido, tão vivo, e se fora. Deixou a terra escorrer por entre os dedos. Os torrões bateram no pano com um som de tapinhas, como as primeiras gotas de chuva caindo sobre folhas. Pouco a pouco sua filha desapareceu. Adeus, pensou. Adeus, minha querida, meu amor.
Voltou à tenda. Sua alma estava despedaçada, como um milhão de cacos de vidro dentro do corpo. Os ossos eram canos de chumbo. Precisava de água, comida; o estoque havia acabado. Mas caçar estava fora de questão, e o riacho, uma caminhada de cinco minutos colina abaixo, parecia a quilômetros de distância. As necessidades do corpo: o que importam? Nada importava. Deitou-se no saco de dormir, fechou os olhos e logo adormeceu.
Sonhou com um rio. Um rio largo e escuro, sobre o qual brilhava a lua. Ele espalhava a luz sobre a água como uma estrada de ouro. Alicia não sabia o que estava adiante, só que precisava atravessar esse rio. Deu o primeiro passo, cautelosa, na superfície luzidia. Sua mente estava dividida: metade se maravilhava com a estrada improvável, metade, não. Quando a lua tocou a sombra oposta, ela percebeu que fora enganada. O caminho estava se dissolvendo. Em pânico, começou a correr, desesperada para chegar à outra margem antes que o rio a engolisse. Mas a distância era grande demais; a cada passo o horizonte saltava mais para longe. A água borbulhava ao redor dos tornozelos, dos joelhos, da cintura. Não tinha forças para lutar contra a correnteza. Venha a mim, Alicia. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. Ela estava afundando, tomada pelo rio, mergulhando na escuridão...
Acordou com uma luz fraca, alaranjada; o dia estava quase acabando. Ela permaneceu imóvel, juntando os pensamentos. Tinha se acostumado com esses pesadelos; as peças mudavam, mas jamais a sensação – a inutilidade, o medo. Mas desta vez havia algo diferente. Um aspecto do sonho tinha passado para a vida; sua camisa estava encharcada. Olhou para baixo e viu manchas se alargando. Seu leite havia chegado.
Ficar ali não tinha sido uma decisão consciente; a vontade de continuar simplesmente desaparecera. Então sua força retornou. Veio com passos pequenos e, depois, como uma visita há muito esperada, chegou de repente. Ela construiu um abrigo com galhos secos e trepadeiras, usando a lona como cobertura. A floresta era cheia de vida: esquilos e coelhos, perdizes e pombos, cervos. Alguns eram rápidos demais para ela, mas não todos. Alicia montava armadilhas e esperava para recolher a caça ou usava sua besta: um disparo, uma morte limpa, depois o jantar, cru e quente. No fim de cada dia, quando a luz se esvaía, tomava banho no riacho. A água era límpida e de um frio atroz. Foi numa dessas excursões que viu os ursos. Um farfalhar 10 metros rio acima, algo pesado movendo-se no mato baixo, e depois eles apareceram à beira do rio, mãe e dois filhotes. Alicia nunca vira esse tipo de criatura em carne e osso, apenas nos livros. Eles entraram juntos na água rasa, empurrando a lama com o focinho. Havia algo frouxo e malformado em sua anatomia, como se os músculos não estivessem presos com firmeza à pele sob os pelos pesados e emaranhados com gravetos. Uma nuvem de insetos cintilava ao redor deles, captando as últimas luzes. Mas os ursos não a notaram, ou, se notaram, não acharam que ela fosse importante.
O verão foi sumindo. Num dia, o bosque era um mundo de folhas verdes e volumosas, denso de sombras; em seguida, explodia em cores vibrantes. De manhã, o chão da floresta estalava com a geada. O frio do inverno baixara com um sentimento de pureza. A neve era pesada na terra. As linhas pretas das árvores, as pequenas pegadas dos pássaros, o céu caiado, descorado: tudo fora reduzido à essência. Que mês seria? Que dia? À medida que o tempo passava, a comida se tornava um problema. Durante horas, até mesmo dias inteiros, ela mal se movia, conservando as forças; não falava com ninguém havia quase um ano. Aos poucos percebeu que já não pensava com palavras; era como se tivesse se tornado uma criatura da floresta. Imaginou se estaria enlouquecendo. Começou a falar com Soldado, como se ele fosse uma pessoa. Soldado, dizia, o que vamos jantar? Soldado, você acha que é hora de catar lenha para o fogo? Soldado, parece que vai nevar?
Uma noite acordou no abrigo e percebeu que estivera escutando trovões durante algum tempo. Um vento úmido de primavera chegava em sopros sem direção, lançando-se contra o topo das árvores. Sem se afetar pelo que ouvia, Alicia escutou a aproximação da tempestade; e subitamente ela estava ali. Um clarão de raio se bifurcou no céu, congelando a cena em seus olhos, seguido por um estrondo capaz de rachar os ouvidos. Ela deixou Soldado entrar enquanto o céu se rasgava, lançando gotas de chuva pesadas como balas de revólver. O cavalo tremia de terror. Alicia precisou acalmá-lo; bastaria um movimento em pânico no espaço minúsculo e o corpo enorme despedaçaria o abrigo. Meu bom garoto, murmurou, acariciando o flanco do animal. Com a mão livre, passou a corda em volta do pescoço de Soldado. Meu bom garoto. O que acha? Quer fazer companhia a uma garota numa noite de chuva? O corpo dele estava tenso de medo, uma parede de músculos contraídos, no entanto, quando ela lentamente o puxou para baixo, ele permitiu. Do lado de fora das paredes do abrigo os relâmpagos brilhavam no céu. Soldado se ajoelhou com um suspiro portentoso, virou-se de lado junto ao saco de dormir; e foi assim que ambos caíram no sono enquanto a chuva se derramava durante toda a noite, lavando o inverno.
Ela viveu dois anos naquele lugar. Ir embora não era fácil; a floresta havia se tornado um refúgio, um conforto. Alicia tinha assumido os ritmos dela como se fossem seus. Mas quando o terceiro verão começou, um novo sentimento surgiu: era hora de partir. De terminar o que havia começado.
Ela passou o resto do verão se preparando. Isso implicava fabricar uma arma. Partiu a pé para as cidades ribeirinhas e retornou três dias depois, carregando uma sacola cheia. Entendia o básico do que estava tentando fazer, tendo assistido ao processo muitas vezes; os detalhes viriam através de tentativa e erro. Uma pedra chata junto ao riacho serviria como bigorna. À beira d’água, atiçou o fogo e o observou arder até virar carvão. O truque era manter a temperatura certa. Quando sentiu que tinha conseguido, tirou a primeira peça do saco: uma barra de aço 3/8 com 5 centímetros de largura e 1 metro de comprimento. Do saco tirou também uma marreta, uma pinça de ferro e um par de luvas de couro grossas. Pôs a ponta da barra de aço no fogo e viu a cor mudar enquanto o metal se aquecia. Então começou a trabalhar.
Precisou fazer mais três viagens rio abaixo, em busca de suprimentos, e o resultado foi grosseiro, mas no final ficou satisfeita. Usou cipós ásperos para enrolar no cabo, permitindo uma empunhadura firme no metal, que, do contrário, ficaria liso. O peso era agradável na mão. A ponta polida brilhava ao sol. Mas o primeiro corte seria o verdadeiro teste. Na última viagem rio abaixo tinha encontrado uma plantação de melões do tamanho de cabeças humanas. Eles cresciam num terreno denso, entre emaranhados de trepadeiras com folhas em forma de mão. Escolheu um e carregou para casa, no saco. Então, equilibrou-o em cima de um tronco caído, mirou e baixou a espada num arco vertical. As metades partidas balançaram preguiçosamente, separando-se uma da outra, como se perplexas, e caíram no chão.
Nada restava para mantê-la naquele lugar. Na noite anterior à partida, Alicia visitou a sepultura da filha. Não queria fazer isso no último segundo; sua saída deveria ser limpa. Durante dois anos o lugar tinha ficado sem qualquer marco. Nada parecera digno. Mas deixá-la sem nenhum reconhecimento parecia errado. Com o resto do aço, fez uma cruz. Usou a marreta para fincá-la no chão e se ajoelhou na terra. A essa altura o corpinho teria se reduzido a nada. Talvez alguns ossos ou uma impressão de ossos. Sua filha havia passado para o solo, as árvores, as pedras, até o céu e os animais. Tinha ido para um lugar além do conhecimento. Sua voz estava no canto dos pássaros; os cabelos ruivos, nas folhas chamejantes do outono. Alicia pensou nessas coisas, uma das mãos tocando a terra macia. Mas não tinha mais orações por dentro. Uma vez partido, um coração permanecia partido para sempre.
– Desculpe – disse.
A manhã nasceu de modo pouco notável: sem vento, cinza, cheia de névoa. A espada, enfiada numa bainha de couro de cervo, estava às costas, em diagonal; as facas, enfiadas nas bandoleiras, foram fixadas num X diante do peito. Óculos escuros, com abas de couro nas têmporas, protegiam seus olhos. Prendeu a bolsa da sela e montou em Soldado. Durante dias ele havia andado de um lado para outro, inquieto, sentindo a partida iminente. Vamos fazer o que acho que vamos fazer? Eu gosto um bocado daqui, sabe? O plano de Alicia era cavalgar para o leste, ao longo do rio, seguir seu curso através das montanhas. Com sorte chegaria a Nova York antes que as primeiras folhas caíssem.
Fechou os olhos, esvaziando a mente. Só quando tivesse limpado esse espaço a voz emergiria. Vinha do mesmo lugar dos sonhos, como vento saindo de uma caverna, sussurrando em seu ouvido.
Alicia, você não está sozinha. Conheço sua tristeza porque ela é minha. Estou esperando você, Lish. Venha a mim. Venha para casa.
Bateu os calcanhares nos flancos de Soldado.
DOIS
O dia estava terminando quando Peter voltou para casa. O céu imenso de Utah ia se abrindo em longos dedos de cor contra o azul que se aprofundava, uma tarde de início de outono. As noites eram frias, os dias ainda eram amenos. Foi em direção à casa seguindo o curso do rio murmurante, a vara apoiada no ombro, o cachorro bamboleando ao lado. Na sacola, duas trutas graúdas enroladas em folhas douradas.
Enquanto se aproximava da fazenda, ouviu música vindo da casa. Tirou as botas enlameadas na varanda, pousou a sacola no chão e entrou. Amy estava sentada diante do velho piano de armário, de costas para a porta. Ele foi em silêncio até ela. Tão completa era a concentração de Amy que ela não notou a sua entrada. Ele ouvia sem se mexer, mal respirando. O corpo de Amy se balançava ligeiramente ao ritmo da música. Seus dedos se moviam com agilidade, subindo e descendo pelo teclado; davam a impressão não de tocar as teclas, mas de invocá-las. A música parecia uma encarnação sonora da emoção pura. Havia um pesar profundo nas melodias, mas o sentimento era expresso com tanta ternura que não parecia tristeza. Fez com que ele pensasse em como o tempo era sentido, sempre caindo no passado, virando memória.
– Você chegou.
A música havia parado sem que Peter notasse. Enquanto ele punha as mãos nos ombros dela, Amy se remexeu no banco e ergueu o rosto.
– Venha cá – disse ela.
Ele se curvou para receber o beijo. A beleza dela era espantosa, uma nova descoberta a cada vez que a olhava. Ele inclinou a cabeça na direção das teclas.
– Ainda não sei como você faz isso – disse.
– Gostou? – Ela estava sorrindo. – Treinei o dia inteiro.
Ele disse que sim; que tinha amado. Que a música o fazia pensar em muitas coisas. Era difícil colocar em palavras.
– Como estava o rio? Você ficou longe um bom tempo.
– Fiquei? – O dia, como tantos, tinha passado numa névoa de contentamento. – Essa época do ano é tão linda que acho que perdi a noção.
Beijou o topo da cabeça dela. O cabelo tinha sido lavado, estava com o aroma das ervas que ela usava para suavizar a lixívia.
– Continue tocando. Vou fazer o jantar.
Ele passou pela cozinha, foi até a porta dos fundos e saiu no pátio. A horta estava enfraquecendo; logo iria dormir sob a neve, com o resto da força armazenada para o inverno. O cachorro tinha saído sozinho. Ele gostava de percorrer grandes distâncias, mas Peter nunca se preocupava, porque ele sempre encontrava o caminho de casa antes do escurecer. Na bomba, Peter encheu a bacia, tirou a camisa, jogou água no rosto e no peito e se lavou. Os últimos raios de sol ricocheteando nas encostas lançava sombras compridas no chão. Era a hora do dia da qual ele mais gostava, com a sensação das coisas fundindo-se umas nas outras, tudo em suspensão. À medida que a escuridão se aprofundava, Peter viu as estrelas aparecerem, primeiro uma, depois outra, e mais outra. Aquele momento evocava nele as mesmas sensações da canção de Amy: memória e desejo, felicidade e tristeza, um começo e um fim unidos.
Ele acendeu o fogo, limpou os peixes e colocou a carne macia e branca na panela com um pouco de banha. Amy se sentou ao lado dele enquanto observavam o jantar no fogo. Comeram na cozinha à luz de velas: trutas, tomates cortados, uma batata assada na brasa. Depois dividiram uma maçã. Na sala, acenderam a lareira e se acomodaram no sofá embaixo de um cobertor, o cachorro ocupando o lugar de sempre a seus pés. Olharam as chamas sem dizer nada; não havia necessidade de palavras, já que tudo fora dito entre eles, tudo era compartilhado e conhecido. Depois de algum tempo, Amy se levantou e estendeu a mão.
– Venha para a cama comigo.
Levando as velas, os dois subiram a escada. No quarto minúsculo embaixo do telhado, eles se despiram e se aconchegaram sob a colcha, os corpos entrelaçados para se aquecerem. Ao pé da cama, o cachorro soltou um suspiro e se deitou. Era um cão bom e velho, leal feito um leão: permaneceria ali até de manhã, vigiando os dois. A proximidade e o calor dos corpos, o ritmo comum das respirações: o que Peter sentia não era felicidade, e sim algo mais profundo, mais rico. Durante toda a vida desejara ser conhecido por apenas uma pessoa. Isso era o amor, decidiu. O amor era ser conhecido.
– Peter? O que foi?
Algum tempo havia se passado. A mente de Peter, flutuando no espaço entre o sono e o despertar, tinha se desviado até lembranças antigas.
– Estava pensando em Theo e Maus. Naquela noite no celeiro, quando o viral atacou. – Um pensamento passou à deriva, fora do alcance. – Meu irmão jamais conseguiu entender o que matou aquela coisa.
Por um momento Amy ficou em silêncio.
– Ora, foi você, Peter. Foi você que os salvou. Eu já contei, não lembra?
Já havia contado? E o que ela queria dizer com isso? Na época do ataque ele estava no Colorado, a muitos quilômetros e dias de distância. Como poderia ter sido ele?
– Já expliquei como isso funciona. A fazenda é especial. Passado, presente e futuro são a mesma coisa. Você estava lá no celeiro porque precisava estar.
– Mas não me lembro de ter feito isso.
– É porque ainda não aconteceu. Pelo menos para você. Mas vai chegar a hora em que vai acontecer. Você vai estar lá para salvá-los. Para salvar Caleb.
Caleb, seu menino. Sentiu uma tristeza súbita, avassaladora, um amor intenso e terno. A vontade de chorar fez um nó subir à sua garganta. Tantos anos. Tantos anos passados.
– Mas agora estamos aqui – disse ele. – Você e eu, nesta cama. Isso é real.
– Não há nada mais real neste mundo. – Ela se aninhou nele. – Não vamos nos preocupar com isso agora. Dá para ver que você está cansado.
Estava. Muito, muito cansado. Sentia os anos nos ossos. Uma memória pousou em sua mente. Lembrou-se de ter observado o próprio rosto no rio. Quando tinha sido isso? Hoje? Ontem? Havia uma semana, um mês, um ano? O sol estava alto, criando um espelho reluzente na superfície da água. Seu reflexo oscilava na corrente. As rugas profundas e a papada frouxa, as bolsas embaixo dos olhos opacos pelo tempo. E o cabelo, o pouco que restava, tinha ficado branco, como uma cobertura de neve. Era o rosto de um velho.
– Eu estava... morto?
Amy não respondeu. Então Peter compreendeu o que ela estava dizendo. Não somente que ele iria morrer, como acontecia com todo mundo, mas que a morte não era o fim. Ele permaneceria neste lugar, um espírito vigilante, fora das paredes do tempo. Esta era a chave para tudo; abria uma porta atrás da qual ficava a resposta para todos os mistérios da vida. Pensou no dia em que tinha chegado à fazenda, tanto tempo atrás. Tudo inexplicavelmente intacto, a despensa cheia, cortinas nas janelas e pratos na mesa, como se esperasse por eles. Este lugar era isso. Era seu único lar verdadeiro no mundo.
Deitado no escuro, sentiu o peito inchar de contentamento. Havia coisas que ele tinha perdido, pessoas que haviam partido. Todas as coisas passavam. Até a própria terra, o céu, o rio e as estrelas que ele amava chegariam um dia ao fim da existência. Mas isso não era algo a temer; esta era a beleza agridoce da vida. Imaginou o momento de sua morte. Tão intensa foi essa visão que teve a impressão de não estar imaginando, e sim lembrando. Estaria deitado nesta mesma cama; seria uma tarde de verão e Amy o estaria abraçando. Teria exatamente a mesma aparência de hoje, forte, bela e cheia de vida. A cama virada para a janela, as cortinas reluzindo à luz difusa. Não haveria dor, só um sentimento de dissolução. Tudo bem, Peter, Amy estava dizendo. Tudo bem, logo estarei lá. A luz ficaria maior e maior, enchendo primeiro sua visão e depois a consciência, e era assim que ele partiria: iria embora em ondas de luz.
– Amo tanto você – disse ele.
– E eu amo você.
– Foi um dia maravilhoso, não foi?
Ela assentiu, encostada nele.
– E teremos muitos outros. Um oceano de dias.
Peter a puxou mais para perto. Lá fora, a noite estava fria e silenciosa.
– Era uma música linda – disse. – Fico feliz que tenhamos encontrado aquele piano.
E com essas palavras, entrelaçados na cama grande e macia sob o telhado, flutuaram para o sono.
Fico feliz que tenhamos encontrado aquele piano.
Aquele piano.
Aquele piano.
Aquele piano...
Peter voltou à consciência e se viu nu, enrolado em lençóis úmidos de suor. Por um momento ficou imóvel. Ele não estivera...? E não estava...? Sentia na boca um gosto de areia; a bexiga estava pesada como uma pedra. Atrás dos olhos a primeira pontada da ressaca se acomodava para seu longo percurso.
– Feliz aniversário, tenente.
Lore estava deitada ao seu lado, ou melhor, enrolada à sua volta, seus corpos embolados, escorregadios de suor nos pontos em que se tocavam. A cabana, apenas dois cômodos com uma privada nos fundos, era a que tinham usado antes, mas para ele não estava claro quem era o dono. Para além do pé da cama a janela pequena era um quadrado cinza de luz de verão antes do alvorecer.
– Deve estar me confundindo com outra pessoa.
– Ah, acredite – disse ela, encostando um dedo no peito dele –, não há como confundir você. E então, qual é a sensação de ter 30 anos?
– Igual a 29 com dor de cabeça.
Ela deu um sorriso sedutor.
– Bom, espero que goste do presente. Desculpe ter esquecido o cartão.
Ela se desenrolou, arrastou-se até a beira da cama e pegou a camisa no chão. Seu cabelo tinha crescido o suficiente para precisar ser amarrado atrás; os ombros eram largos e fortes. Vestiu uma calça suja, enfiou os pés nas botas e virou o tronco para encará-lo de novo.
– Desculpe sair correndo, mi amigo, mas tenho caminhões-tanque para transportar. Até prepararia o seu café da manhã, mas duvido seriamente que haja alguma coisa aqui.
Ela se inclinou para beijá-lo rapidamente na boca.
– Diga a Caleb que o amo, está bem?
O garoto estava passando a noite com Sara e Hollis. Nenhum deles perguntara a Peter aonde ele ia, mas sem dúvida tinham adivinhado.
– Pode deixar.
– Vejo você na próxima vez que estiver na cidade?
Como Peter não disse nada, ela inclinou a cabeça e o encarou.
– Ou... talvez não.
Ele não tinha mesmo uma resposta. O que havia entre os dois não era amor – esse assunto nunca fora abordado –, mas também era mais do que atração física. Ficava naquele espaço nebuloso entre as duas coisas, não sendo nem uma nem outra, e era aí que residia o problema. Estar com Lore o lembrava do que ele não pudera ter.
Ela ficou sem graça.
– Bom, droga. E eu gostava tanto de você, tenente!
– Não sei o que dizer.
Ela suspirou, desviando o olhar.
– Acho que isso não poderia durar mesmo. Só gostaria de ter pensado em dar um pé na sua bunda antes.
– Desculpe. Eu não deveria ter deixado as coisas irem tão longe.
– Acredite, vai passar. – Ela encarou o teto e respirou fundo, para se firmar, depois afastou uma lágrima. – Droga, Peter. Está vendo o que você fez?
Ele se sentiu péssimo. Não tinha planejado isso. Até um minuto atrás, havia esperado que ambos simplesmente pairassem na correnteza do que quer que aquilo fosse, até que perdessem o interesse ou que pessoas novas surgissem.
– Isso não tem a ver com o Michael, tem? – perguntou Lore. – Porque eu já disse: aquilo acabou.
– Não sei.
Ele fez uma pausa e deu de ombros.
– Bem, talvez um pouco. Ele vai descobrir, se a gente continuar com isso.
– E daí, se ele descobrir?
– Ele é meu amigo.
Lore enxugou os olhos e deu um riso silencioso, amargo.
– Sua lealdade é admirável, mas acredite: eu sou a última coisa na cabeça do Michael. Ele provavelmente vai lhe agradecer por me tirar das mãos dele.
– Não é verdade.
Ela deu de ombros.
– Você só está dizendo isso para ser legal. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de você. Mas não precisa mentir: nós dois sabemos o que estamos fazendo. Eu fico dizendo a mim mesma que vou tirar o Michael da cabeça, mas claro que nunca tiro. Sabe o que me mata? Ele nem consegue me dizer a verdade. Aquela ruiva maldita. Qual é a dela?
Por um momento Peter se sentiu perdido.
– Está falando de... Lish?
Lore o encarou.
– Peter, por favor, não seja burro. O que você acha que ele está fazendo naquele barco idiota? Faz três anos que ela foi embora e ele ainda não consegue tirá-la da cabeça. Talvez, se ela ainda estivesse por aqui, eu tivesse alguma chance. Mas não dá para competir com um fantasma.
Peter levou mais um momento para processar a informação. Apenas um minuto atrás, ele não teria dito que Michael sequer gostasse de Alicia; os dois discutiam feito dois gatos por causa de um novelo de linha. Mas, no fundo, Peter sabia, eles não eram tão diferentes – a mesma força, a mesma decisão, a mesma recusa teimosa em ouvir um não quando uma ideia se prendia em seus dentes. E, claro, tinham uma longa história. Qual era a razão do barco de Michael? Seria seu modo de lamentar a perda dela? Todos o tinham feito, cada um a seu modo. Durante um tempo Peter ficara com raiva. Alicia abandonara todos sem explicação, sem ao menos se despedir. Mas muita coisa havia mudado; o mundo tinha mudado. O que ele sentia era sobretudo uma pura dor de solidão, um espaço frio e vazio no coração onde antes Alicia estivera.
– Quanto a você – disse Lore, esfregando os olhos com as costas do pulso –, não sei quem ela é, mas é uma garota de sorte.
Não havia sentido em negar.
– Sinto muito, mesmo.
– É, você já disse.
Com um sorriso de dor, Lore bateu com as palmas das mãos nos joelhos.
– Bom, eu tenho o meu combustível. Uma garota não poderia pedir mais que isso. Faça-me um favor e se sinta um merda, está bem? E não precisa arrastar isso por muito tempo. Bastam uma ou duas semanas.
– Estou me sentindo um merda agora.
– Que bom.
Ela se inclinou e tomou sua boca com um beijo profundo com gosto de lágrimas, depois se afastou bruscamente.
– Essa foi a saideira. Vejo você por aí, tenente.
O sol estava começando a nascer quando Peter subiu a escada até o topo da represa. Sua ressaca continuava firme, e brandir um martelo num telhado quentíssimo o dia todo não iria melhorá-la nem um pouco. Seria bom ter uma hora extra de sono, mas, por causa da conversa com Lore, ele queria limpar a cabeça antes de ir trabalhar.
O dia nascente o encontrou quando ele chegou ao topo, suavizado por nuvens baixas que iriam se dissipar em menos de uma hora. Desde que Peter deixara os Expedicionários, a represa havia se tornado um local de importância fundamental para ele. Nos dias anteriores à sua partida fatídica para a Pátria, ele levara o sobrinho até lá. Nada especialmente digno de nota acontecera. Eles observaram a paisagem e falaram sobre as viagens de Peter com os Expedicionários e sobre os pais de Caleb, Theo e Maus, depois foram à represa nadar, algo que Caleb nunca tinha feito. Uma saída comum, mas no fim daquele dia alguma coisa havia mudado. Uma porta havia se aberto no coração de Peter. Na hora ele não entendeu, mas do lado oposto dessa porta existia um novo modo de ser, no qual ele assumiria as responsabilidades de pai do garoto.
Essa era uma vida, a vida que as pessoas conheciam. Peter Jaxon, oficial reformado dos Expedicionários, transformado em carpinteiro e pai, cidadão de Kerrville, Texas. Era uma vida igual à de qualquer pessoa, com suas satisfações e seus trabalhos, seus altos e baixos dia sim, dia não, e ele estava feliz em vivê-la. Caleb tinha acabado de fazer 10 anos. Diferentemente de Peter, que nessa idade já servia como mensageiro da Vigilância, o garoto estava tendo uma infância. Ia à escola, brincava com os amigos, fazia suas tarefas sem que precisasse ser muito cobrado e apenas com reclamações ocasionais. E toda noite, depois de Peter colocá-lo na cama, penetrava nos sonhos aconchegado na certeza de que o dia seguinte seria igual ao anterior. Ele era alto para a idade, como um Jaxon, e a suavidade de menininho tinha começado a abandonar seu rosto. A cada dia ele se parecia um pouco mais com o pai, Theo, e o assunto “pais” já não vinha à tona. Não que Peter o evitasse; o garoto simplesmente não perguntava. Uma tarde, depois que Peter e Caleb já moravam sozinhos havia seis meses, os dois estavam jogando xadrez quando o garoto, demorando-se antes da jogada seguinte, disse simplesmente, tão tranquilo como se estivesse perguntando sobre o tempo: Tudo bem se eu chamar você de pai? Peter levou um susto; não tinha previsto isso. É o que você quer?, perguntou, e o garoto assentiu. Ahã. Acho que seria bom.
Quanto à sua outra vida: Peter não podia dizer exatamente o que era, só que existia, e que acontecia à noite. Seus sonhos com a fazenda incluíam uma variedade de dias e acontecimentos, mas o tom era sempre o mesmo: uma sensação de pertencimento, de estar em casa. Os sonhos eram tão vívidos que ele acordava achando que tinha realmente viajado a outro lugar e outro tempo, como se as horas de vigília e de sonho fossem dois lados da mesma moeda, nenhuma mais real do que a outra.
O que eram esses sonhos? De onde vinham? Seriam produto de sua mente ou seria possível que derivassem de uma fonte externa – talvez da própria Amy? Peter não tinha contado a ninguém sobre a primeira noite da evacuação de Iowa, quando Amy fora até ele. Seus motivos eram muitos, mas, acima de tudo, não tinha certeza de que a coisa tivesse mesmo acontecido. Havia alcançado aquele momento quando estava em sono profundo, com a filha de Sara e Hollis apagada em seu colo, os dois embrulhados no frio de Iowa sob um céu tão embriagado de estrelas que ele se sentiu flutuando no meio delas, e ali estava ela. Não tinham se falado, mas não era necessário. O toque das mãos bastou. O momento durou uma eternidade e terminou num átimo; e quando Peter percebeu, Amy tinha ido embora.
Teria sonhado aquilo também? As evidências indicavam que sim. Todo mundo acreditava que Amy tinha morrido no estádio, na explosão que havia matado os Doze. Não fora encontrado nenhum traço dela. E no entanto o momento parecera real demais. Às vezes ele se convencia de que Amy ainda estava por aí; em seguida as dúvidas se insinuavam. No fim, decidiu guardar as perguntas para si mesmo.
Ficou um tempo de pé, observando o sol espalhar sua luz sobre as colinas do Texas. Abaixo, a face da represa estava imóvel e refletia tudo como um espelho. Peter gostaria de nadar para afastar a ressaca, mas precisava pegar Caleb e levá-lo à escola antes de se apresentar no trabalho. Não era grande coisa como carpinteiro – na verdade, só tinha aprendido a fazer uma coisa na vida: ser soldado –, mas o trabalho era regular e o mantinha perto de casa e, com tantas construções sendo erguidas, a Autoridade Habitacional precisava de toda a força de trabalho que pudesse arranjar.
Kerrville estava explodindo de gente; 50 mil almas tinham vindo de Iowa, mais do que duplicando sua população em apenas dois anos. Não tinha sido fácil absorver tantas pessoas, e ainda não era. Kerrville fora construída com o princípio de crescimento populacional zero; os casais não tinham permissão de ter mais de dois filhos sem pagar uma multa considerável. Se um não sobrevivesse até a vida adulta, eles poderiam ter um terceiro, mas somente se a primeira criança morresse antes dos 10 anos.
Com a chegada do pessoal de Iowa, esse conceito fora por água abaixo. Houvera escassez de comida, falta de combustível e de remédios, problemas sanitários – todos os males que acontecem quando pessoas em excesso são postas num espaço pequeno, o que gera insatisfação tanto dos que chegam quanto dos que já ali estavam. Uma cidade de barracas erguida às pressas tinha abrigado as primeiras ondas de refugiados, mas, à medida que outros chegavam, esse acampamento temporário rapidamente fora tomado pela imundície. Enquanto muitas pessoas de Iowa, depois de uma vida de trabalhos forçados, lutavam para se ajustar a uma rotina em que nem todas as decisões eram tomadas por elas – uma expressão comum era “preguiçoso como um Patriano” –, outros tinham ido na direção oposta: violando o toque de recolher, enchendo os bordéis e os antros de jogatina de Dunk, bebendo, roubando, brigando e tumultuando.
A única parte da população que parecia feliz era a que vivia do comércio, os que ganhavam dinheiro fácil operando um mercado negro de tudo, desde comida até bandagens ou martelos.
As pessoas tinham começado a falar abertamente em se mudar para fora do muro. Peter achava que era apenas uma questão de tempo. Sem um único avistamento de virais em três anos, fosse drac ou pateta, a pressão para que a Autoridade Civil abrisse o portão estava aumentando. No meio do povo os acontecimentos do estádio tinham se transformado em mil lendas diferentes; não havia duas exatamente iguais, mas até mesmo os que duvidavam mais enfaticamente haviam começado a aceitar a ideia de que a ameaça tinha de fato passado. Peter, em especial, seria o primeiro a concordar.
Ele se virou para olhar a cidade. Quase 100 mil almas: houve um tempo em que esse número o deixaria estarrecido. Ele havia crescido numa cidade – num mundo – de menos de cem pessoas. Junto ao portão, os transportes tinham se reunido para levar os trabalhadores ao complexo agrícola, jogando fumaça de óleo diesel no ar da manhã. De toda parte vinham os sons e cheiros da vida, a cidade acordando, espreguiçando-se. Os problemas eram reais mas pequenos, comparados com o que tinham previsto. A era dos virais tinha acabado; finalmente a humanidade estava em ascensão. Havia um continente para ser ocupado, e Kerrville era o lugar onde essa nova era começaria. Então por que isso lhe parecia tão insuficiente, tão frágil? Por que, parado na represa numa manhã de verão que normalmente seria encorajadora, sentia essa inquietação?
Bom, pensou Peter, que seja. Se existia uma coisa que a paternidade ensinava, era que você podia se preocupar quanto quisesse mas isso não mudaria nada. Tinha uma merenda a preparar, um “seja um bom garoto” a dizer e um dia de trabalho honesto e simples a cumprir. E dali a 24 horas começaria tudo de novo. Trinta anos, pensou. Hoje faço 30 anos. Se alguém perguntasse, uma década atrás, se ele viveria até essa idade, e ainda mais se estaria criando um filho, Peter acharia que a pessoa estava louca. De modo que talvez fosse só isso que importasse. Talvez bastasse simplesmente estar vivo e ter alguém que o amasse também.
Tinha dito a Sara que não queria festa, mas, claro, ela faria alguma coisa. Depois de tudo pelo que passamos, 30 anos quer dizer alguma coisa. Passe lá em casa depois do trabalho. Vamos ser só nós cinco. Prometo que não vai ser nada exagerado. Ele pegou Caleb na escola e foi em casa tomar banho, e pouco depois das seis chegaram ao apartamento de Sara e Hollis, passaram pela porta e entraram na festa que Peter tinha recusado. Havia dezenas de pessoas ali, apinhadas em dois cômodos minúsculos e abafados – vizinhos e colegas de trabalho, pais dos amigos de Caleb, homens com quem ele havia servido no exército e até a irmã Peg, que, em seu hábito cinza e sem graça, gargalhava e conversava como todo mundo. Junto à porta, Sara o abraçou e deu os parabéns, Hollis pôs uma bebida na sua mão e lhe deu um tapa nas costas. Caleb e Kate estavam rindo tanto que mal conseguiam se conter.
– Você sabia disso? – perguntou Peter a Caleb. – E você, Kate?
– Claro que a gente sabia! – exclamou o garoto. – Você devia ver sua cara, pai!
– Bom, você está numa tremenda encrenca – disse Peter, usando sua voz de pai chateado, apesar de também estar rindo.
Havia comida, bebida, bolo, até alguns presentes, coisas que as pessoas podiam fazer ou catar por aí, algumas de brincadeira: meias, sabonete, um canivete, um baralho, um enorme chapéu de palha que Peter pôs na cabeça, para todos rirem. De Sara e Hollis ganhou uma bússola, lembrança das viagens juntos, mas Hollis também lhe passou um pequeno frasco de aço.
– A última do Dunk – disse ele com uma piscadela. – E não pergunte como consegui. Ainda tenho amigos em lugares sinistros.
Quando os últimos presentes tinham sido abertos, a irmã Peg lhe deu um grande pedaço de papel enrolado num tubo. Feliz Aniversário, Nosso Herói, estava escrito, com as assinaturas – algumas legíveis, outras não – de todas as crianças do orfanato. Com um nó subindo pela garganta, Peter abraçou a velha senhora, surpreendendo os dois.
– Obrigado a todo mundo – disse. – Obrigado a todos vocês.
Era quase meia-noite quando a festa acabou. Caleb e Kate tinham caído no sono na cama de Sara e Hollis, embolados como dois cachorrinhos. Peter e Sara sentaram-se à mesa enquanto Hollis arrumava a bagunça.
– Alguma notícia do Michael? – perguntou Peter a ela.
– Nenhuma.
– Está preocupada?
Ela franziu a testa e deu de ombros.
– O Michael é o Michael. Não entendo esse negócio do barco, mas ele só faz o que quer. Imaginei que Lore poderia dar um jeito nele, mas acho que o negócio acabou.
Peter sentiu uma pontada de culpa; doze horas antes, estivera na cama com ela.
– Como vão as coisas no hospital? – perguntou, querendo mudar de assunto.
– Parece um hospício. Eles me colocaram para fazer partos. Montes e montes de bebês. Jenny é minha ajudante.
Sara estava falando da irmã de Gunnar Apgar, que eles tinham encontrado na Pátria. Grávida, Jenny tinha voltado a Kerrville com o primeiro grupo de refugiados e chegara bem a tempo de dar à luz. Um ano antes, tinha se casado com outro refugiado de Iowa, mas Peter não sabia se o sujeito era de fato o pai. Muitas vezes essas coisas não eram planejadas.
– Ela pediu desculpas por não poder vir – continuou Sara. – Você é muito importante para ela.
– Sou?
– Para muitas pessoas, na verdade. Nem sei dizer quantas vezes as pessoas me perguntam se conheço você.
– Está brincando.
– Desculpe, você não leu aquele cartaz?
Ele deu de ombros, sem graça, ainda que em parte estivesse feliz com isso.
– Sou só um carpinteiro. E nem sou dos bons, se quer saber a verdade.
Sara gargalhou.
– Você é que diz.
Havia passado muito da hora do toque de recolher, mas Peter sabia como evitar as patrulhas. Os olhos de Caleb mal se abriram quando ele o colocou às costas e foi para casa. Tinha acabado de pôr o garoto na cama quando ouviu a batida à porta.
– Peter Jaxon?
O homem junto à entrada era um oficial com as divisas dos Expedicionários nos ombros.
– É tarde. Meu filho está dormindo. O que posso fazer pelo senhor, capitão?
O homem lhe estendeu um papel lacrado.
– Boa noite, Sr. Jaxon – despediu-se.
Peter fechou a porta em silêncio, cortou a cera com o canivete novo e abriu a mensagem.
Sr. Jaxon:
Posso pedir que me visite em meu escritório na quarta-feira, às oito da manhã? Combinamos com seu supervisor para que chegue atrasado ao local de trabalho.
Atenciosamente,
Victoria Sanchez
Presidente, República do Texas
– Pai, por que um soldado veio aqui?
Caleb tinha entrado na sala, esfregando os olhos. Peter leu a mensagem de novo. O que Sanchez queria com ele?
– Não é nada.
– Você está no exército de novo?
Ele olhou para o garoto. Dez anos. Estava crescendo depressa demais.
– Claro que não – respondeu, pondo o bilhete de lado. – Vamos voltar para a cama.
TRÊS
ZONA VERMELHA
Quinze quilômetros a oeste de Kerrville, Texas
Julho de 101 D.V.
Lucius Greer, o Homem de Fé, assumiu sua posição na plataforma uma hora antes do alvorecer. Sua arma era um fuzil de ferrolho calibre 308 meticulosamente restaurado, com cabo de madeira polida e mira óptica, cujo vidro estava embaçado pelo tempo mas ainda era utilizável. Restavam apenas quatro balas; precisaria retornar logo a Kerrville, para negociar mais. Porém, nesta manhã do 58o dia, isso não era uma preocupação. Só precisava de um tiro.
Uma névoa suave tinha se acomodado na clareira durante a noite. Sua armadilha – um balde de maçãs amassadas – estava a 100 metros contra o vento, aninhada no capim alto. Sentado imóvel, as pernas dobradas embaixo do corpo e o fuzil pousado no colo, Lucius esperava. Não tinha dúvida de que sua presa iria aparecer; o cheiro de maçãs frescas era irresistível.
Para passar o tempo, fez uma oração simples: Meu Deus, Senhor do Universo, seja meu guia e meu consolo, me dê a força e a sabedoria para fazer Sua vontade nos dias à frente, saber o que é exigido de mim, ser digno de quem o Senhor colocou aos meus cuidados. Amém.
Porque alguma coisa estava chegando, Lucius sentia. Sabia disso assim como sabia dos seus batimentos cardíacos, da respiração no peito, da postura dos ossos. O longo arco da história humana se dirigia para a hora do teste final. Não era possível saber quando essa hora viria, mas ela certamente viria, e seria um tempo para guerreiros. Para homens como Lucius Greer.
Três anos haviam se passado desde a libertação da Pátria. Os acontecimentos daquela noite ainda estavam com ele, memórias indeléveis relampejavam em sua consciência. A confusão no estádio, os virais entrando; a insurgência lançando seu poder de fogo contra os olhos-vermelhos e Alicia e Peter avançando pelo palco, armas na mão, disparando e disparando; Amy acorrentada, uma figura magra, e então o rugido que saiu de sua garganta enquanto liberava seu poder interno, o corpo se transformando, abandonando a forma humana, e então o estalo das correntes enquanto ela se libertava e seu corpo saltava, rápido como um relâmpago, sobre os inimigos monstruosos; o caos e a confusão da batalha e Amy presa embaixo de Martínez, o Décimo dos Doze; o clarão brilhante da destruição e o silêncio absoluto em seguida, o mundo inteiro preso na imobilidade.
Quando Lucius voltou a Kerrville na primavera seguinte, soube que não poderia mais morar no meio das pessoas. O significado daquela noite era claro: ele tinha sido chamado a uma existência solitária. Sozinho, construíra sua casa modesta junto ao rio, mas sentiu algo mais profundo chamando-o para o ermo. Lucius, dispa-se. Abandone o que lhe foi emprestado; jogue fora todos os confortos mundanos para que possa me conhecer.
Sem nada além de uma faca e das roupas que estava usando, aventurou-se nas colinas secas e mais adiante, sem destino além da solidão mais profunda que pudesse encontrar, de modo que sua vida pudesse descobrir a forma verdadeira. Dias sem comida, os pés rasgados e sangrentos, a língua grossa na boca, de tanta sede: à medida que as semanas passavam, tendo apenas as cascavéis, os cactos e o sol escaldante por companhia, ele começou a ter alucinações. Um agrupamento de cactos se tornava uma fila de soldados em posição de sentido; lagos de água límpida surgiam onde não havia nenhum; uma linha de montanhas assumia a forma de uma cidade murada a distância. Ele experimentava sem críticas essas aparições, sem qualquer percepção de sua inverdade; eram reais porque assim ele acreditava. Do mesmo modo, o passado e o presente se fundiram em sua mente. Às vezes ele era Lucius Greer, major dos Expedicionários; em outros momentos, era um prisioneiro na cadeia; em outros ainda, era um jovem recruta, ou mesmo voltava a ser criança.
Durante semanas vagueou nessa condição, um ser de mundos múltiplos. Até que um dia acordou e se descobriu deitado num desfiladeiro sob um sol do meio-dia que ofuscava tudo. Seu corpo estava grotescamente magro, coberto de arranhões e feridas; os dedos sangrentos, algumas unhas arrancadas. O que havia acontecido? Tinha feito isso consigo mesmo? Não tinha lembrança, só uma percepção súbita, avassaladora, da imagem que lhe viera durante a noite.
Lucius tivera uma visão.
Não tinha ideia de onde estava, só de que precisava andar para o norte. Seis horas depois, pegou-se na estrada de Kerrville. Louco de sede e fome, continuou a andar até pouco antes do anoitecer, quando viu a placa com o X vermelho. A caixa-forte estava com uma boa provisão: comida, água, roupas, gasolina, armas e munição, até um gerador. O melhor de tudo, aos seus olhos, foi o Humvee. Lavou e limpou os ferimentos e passou a noite numa cama macia. De manhã abasteceu o veículo, carregou a bateria, encheu os pneus e foi para o leste, chegando a Kerrville na manhã do segundo dia.
Nos limites da Zona Laranja abandonou o Humvee e entrou a pé na cidade. Ali, num quarto escuro na Cidade-H, no meio de homens que não conhecia e cujos nomes não foram ditos, vendeu três carabinas da caixa-forte para comprar um cavalo e outros suprimentos. Quando chegou em casa, a noite estava caindo. Ela se erguia modesta em meio aos choupos e casuarinas na beira do rio, apenas um cômodo com chão de terra batida, mas vê-la encheu seu coração com o calor da volta. Quanto tempo ele estivera fora? Pareciam anos, décadas inteiras de vida, mas tinham sido apenas meses. O tempo tinha dado uma volta completa; Lucius estava em casa.
Desarreou e amarrou o cavalo, depois entrou em casa. Um ninho de penas e gravetos em sua cama indicava o local onde algum animal tinha se estabelecido em sua ausência, mas afora isso o interior humilde estava inalterado. Acendeu o lampião e se sentou à mesa. Aos seus pés estava a sacola de lona com suprimentos: o fuzil, uma caixa de balas, meias novas, sabonete, uma navalha, fósforos, um espelho de mão, meia dúzia de penas de escrever, três frascos de tinta de amora e folhas de papel grosso e fibroso. Junto ao rio encheu a bacia e voltou para a casa. A imagem no espelho não era nem mais nem menos chocante do que ele esperava: bochechas parecendo crateras, olhos afundados no crânio, pele queimada e cheia de bolhas, cabelos emaranhados como os de um louco. A metade inferior do rosto estava enterrada sob uma barba onde uma família de camundongos poderia morar confortavelmente. Tinha acabado de fazer 52 anos; o homem no espelho teria facilmente 65.
Bom, disse a si mesmo, se quisesse ser soldado outra vez, ainda que um soldado velho e derrubado, deveria ter a aparência adequada. Cortou a maior parte do cabelo e da barba, depois usou a navalha e o sabonete para se barbear. Jogou a água com sabão pela porta e voltou à mesa, onde tinha posto o papel e as penas.
Fechou os olhos. A imagem mental que lhe viera naquela noite no desfiladeiro não se parecia com as alucinações que o haviam incomodado durante a estada no deserto. Era mais como a lembrança de algo vivido. Colocou os detalhes em foco, a mente percorrendo toda a sua amplitude. Como poderia ter esperança de expressar algo tão magnífico com sua mão de amador? Mas precisava fazer uma tentativa.
Começou a desenhar.
Um farfalhar no mato baixo; Lucius levou a mira telescópica do fuzil ao olho. Eram quatro, remexendo na terra, farejando e grunhindo: três fêmeas e um macho, de um marrom avermelhado, com grandes presas afiadas como navalhas. Setenta quilos de porco selvagem para serem apanhados.
Disparou.
Enquanto as fêmeas se dispersavam, o macho cambaleou para a frente, sofreu um tremor violento e caiu sobre as patas dianteiras. Lucius manteve a imagem na mira. Mais um tremor, maior do que o primeiro, e o animal tombou de uma vez por todas.
Lucius desceu pela escada e foi até onde o animal estava, no capim. Enrolou o porco na lona, arrastou-o até a linha das árvores, amarrou suas patas traseiras, unindo-as, prendeu o gancho e começou a içá-lo. Quando a cabeça do porco chegou à altura do seu peito, amarrou a corda num apoio, posicionou a bacia embaixo do porco, sacou a faca e cortou a garganta do animal.
Um jato de sangue quente espirrou na bacia. O porco renderia quase 4 litros. Depois de esvaziado o animal, Lucius colocou o sangue num garrafão de plástico usando um funil. Se tivesse mais tempo, teria estripado, retalhado e defumado a carne para negociá-la. Mas era o dia 58, e Lucius precisava ir.
Baixou o cadáver ao chão – pelo menos os coiotes iriam se beneficiar – e voltou para casa. Precisava admitir: parecia que um louco morava ali. Fazia pouco mais de dois anos desde que tinha levado a pena ao papel, e agora as paredes estavam cobertas com os frutos de seu trabalho. Tinha passado da tinta de escrita para o carvão, o lápis e até mesmo tinta artística, que tinha custado um bocado. Algumas imagens eram melhores do que outras – vistas em ordem cronológica, era possível acompanhar sua lenta e por vezes inepta formação como artista autodidata. Porém os melhores trabalhos capturavam de modo satisfatório a imagem que Lucius carregava na cabeça o dia inteiro, como as notas de uma música da qual alguém não podia se livrar a não ser cantando.
Michael era a única pessoa que tinha visto seus desenhos. Lucius havia se mantido distante de todo mundo, mas Michael o descobrira através de alguém do comércio, amigo de Lore. Certa noite, mais de um ano antes, Lucius tinha voltado para casa depois de colocar as armadilhas e descobrira uma velha picape parada em seu quintal, tendo Michael sentado na carroceria aberta. No curso dos anos em que Greer o conhecera, ele havia se transformado de um garoto relativamente fraco em um homem feito e no auge da boa forma: rígido e esguio, com feições fortes e certa severidade que se percebia em volta dos olhos. O tipo de companheiro com quem você poderia contar numa briga de bar que começava com um soco no nariz e terminava com uma correria dos diabos.
– Maldição, Greer – dissera ele. – Você está com uma aparência terrível. O que será que é preciso fazer para receber um pouquinho de hospitalidade neste lugar?
Lucius pegara a garrafa. A princípio não ficou claro o que Michael desejava. Para Lucius ele parecia mudado, um pouco à deriva, um tanto afundado em si mesmo. Uma coisa que Michael nunca havia sido era quieto. Ideias, teorias e várias campanhas, por mais absurdas e tolas, disparavam dele como se fossem balas. A intensidade do sujeito continuava ali – praticamente dava para esquentar as mãos na cabeça dele –, mas de um jeito mais sombrio, dando a impressão de alguma coisa enjaulada, como se Michael estivesse ruminando algo para o qual não tivesse palavras.
Lucius ouvira dizer que Michael havia deixado a refinaria, se separado de Lore, construído algum tipo de barco e que passava a maior parte do tempo nele, velejando sozinho no golfo. Nunca chegou a dizer o que estava procurando em todo aquele oceano vazio, e Lucius não o pressionou. Como explicaria sua própria existência de ermitão? Mas no correr da noite que passaram juntos, cada vez mais bêbados com uma garrafa da Receita Especial No 3 do Dunk – Lucius já não era muito de beber, mas a bebida fora útil como solvente –, passou a pensar que Michael não tinha de fato um motivo para aparecer à sua porta, a não ser a necessidade humana básica de estar perto de outra pessoa. Afinal de contas, os dois estavam vivendo no ermo, e talvez o que Michael realmente desejasse fosse algumas horas na companhia de alguém capaz de entendê-lo – de compreender aquele impulso profundo de estar sozinho quando todos deveriam estar dançando de alegria, tendo bebês e comemorando um mundo onde a morte não estendia as garras do meio das árvores e não levava as pessoas sem motivo.
Durante um tempo colocaram em dia as notícias sobre os outros: o trabalho de Sara no hospital e sua esperada mudança com Hollis dos campos de refugiados para uma moradia permanente; a promoção de Lore a chefe de equipe na refinaria; a saída de Peter dos Expedicionários para ficar em casa com Caleb; a decisão de Eustace, que não surpreendera ninguém, de sair dos Expedicionários e voltar para Iowa com Nina. Um tom de alegria otimista perpassava a conversa, mas não ia muito fundo, e Lucius não se enganou; sempre espreitando embaixo da superfície estavam os nomes que eles não diziam.
Lucius não tinha contado a ninguém sobre Amy – só ele sabia a verdade. Com relação ao destino de Alicia, não tinha nada a dizer. E pelo jeito ninguém mais tinha; ela havia desaparecido no grande vazio de Iowa. Na época Lucius não se preocupara – Alicia era como um cometa, dada a ausências longas e inesperadas e a retornos chamejantes e imprevistos –, mas, à medida que os dias se passavam sem que ela desse sinal de vida, com Michael preso na cama com a perna engessada e pendurada, Lucius via o seu desaparecimento arder nos olhos do amigo como um pavio comprido procurando uma bomba. Você não entende, dissera Michael, praticamente levitando para fora da cama, de tanta frustração. Não é como das outras vezes. Lucius não se dera o trabalho de contradizê-lo – a mulher não precisava de absolutamente ninguém – e não tentara impedi-lo quando, doze horas depois de tirar o gesso, Michael arreara um cavalo e partira no meio de uma tempestade de neve para procurá-la – um gesto altamente questionável, considerando o tempo que havia passado e o fato de que ele mal conseguia andar.
Mas Michael era Michael: ninguém lhe dizia não, e havia algo estranhamente pessoal na coisa toda, como se a partida de Alicia fosse uma mensagem só para ele. Voltou cinco dias depois, quase congelado, tendo percorrido um perímetro de 150 quilômetros, e não falou mais sobre isso, nem naquele dia nem em todos os dias depois. Nem ao menos disse o nome dela.
Todos a haviam amado, mas existia um tipo de pessoa, Lucius sabia, cujo coração era impossível de conhecer, que nascia para ficar separada dos demais. Alicia tinha desaparecido e, depois de três anos, a pergunta na mente de Lucius não era o que fora feito dela, e sim se ela realmente estivera lá, para começo de conversa.
Passava bastante da meia-noite, e os últimos copos tinham sido servidos e esvaziados quando Michael finalmente puxou o assunto que, visto em retrospecto, o estivera incomodando a noite toda.
– Você acha mesmo que eles se foram? Quero dizer, os dracs.
– Por que você pergunta?
Michael levantou uma sobrancelha.
– Bom, você acha?
Lucius pensou cuidadosamente na resposta.
– Você estava lá, viu o que aconteceu. Se matar os Doze, você mata o resto. Se não me engano, era essa a sua ideia. É meio tarde para pensar outra coisa.
Michael desviou os olhos e não disse nada. Será que a resposta era satisfatória?
– Você deveria vir velejar comigo um dia desses – disse por fim, animando-se um pouco. – Você iria gostar, de verdade. O mundo lá fora é bem grande. Diferente de tudo o que você já viu.
Lucius deu um sorriso. O que quer que estivesse incomodando o amigo, ele não estava pronto para falar.
– Vou pensar nisso.
– Considere-se convidado para quando quiser.
Michael se levantou apoiando-se na borda da mesa, para se equilibrar.
– Bom, não sei quanto a você, mas eu estou completamente chapado. Se não se incomodar, está na hora de dar uma vomitada e apagar na minha picape.
Lucius indicou sua cama estreita.
– A cama é sua, se quiser.
– É muito gentil da sua parte. Talvez quando eu conhecer você melhor.
Cambaleou até a porta, onde se virou para lançar um olhar embaçado pelo cômodo minúsculo.
– Você é um tremendo artista, major. São pinturas interessantes. Qualquer hora dessas vai ter de me falar sobre elas.
E foi só isso; quando Lucius acordou de manhã, Michael tinha ido embora. Pensou que talvez o visse de novo, mas não aconteceram outras visitas. Supôs que Michael tinha obtido o que procurava, ou então decidido que Lucius não tinha respostas para ele. Você acha mesmo que eles se foram...? O que seu amigo diria se Lucius respondesse de fato à pergunta?
Lucius pôs de lado esses pensamentos desconcertantes. Deixou o garrafão de sangue de porco à sombra da casa e desceu a colina até o rio. A água do Guadalupe estava sempre fria, mas ali era mais fria ainda; onde o rio fazia uma curva havia um buraco fundo – 6 metros até o leito – alimentado por uma fonte natural. Altos barrancos de calcário branco cercavam a borda. Lucius tirou as botas e a calça, pegou a corda que tinha deixado no lugar, respirou fundo e mergulhou. A cada metro de descida, a temperatura baixava. A sacola, feita de lona grossa, estava presa embaixo de uma laje, protegida da correnteza. Lucius amarrou a corda à alça da sacola, libertou-a da laje, soltou o ar dos pulmões e subiu.
Saiu pela margem oposta, caminhou rio abaixo até um local raso, atravessou o rio de novo e seguiu uma trilha até o topo do barranco de calcário. Ali, sentou-se na beira, segurou a corda e puxou a sacola.
Vestiu-se de novo e carregou a sacola de volta para casa. Ali, à mesa, tirou o conteúdo: mais oito garrafões, somando nove galões no total – a mesma quantidade de sangue, mais ou menos, que percorria o sistema circulatório de meia dúzia de humanos adultos.
Assim que saísse do rio, aquilo iria se estragar rapidamente. Amarrou os garrafões juntos, reuniu seus suprimentos – água e comida para três dias, o fuzil e munição, uma faca, uma lanterna e um pedaço de corda forte – e carregou para o cercado. Ainda não eram sete da manhã, mas o sol já chamejava. Lucius arreou o cavalo, enfiou o fuzil no suporte e pendurou o resto por cima da cernelha do animal. Nem se incomodou em levar um saco de dormir; cavalgaria durante a noite, chegando a Houston na manhã do sexagésimo dia.
Com uma batida dos calcanhares no flanco do cavalo, partiu.
QUATRO
GOLFO DO MÉXICO
Vinte e duas milhas náuticas a sul-sudeste da ilha Galveston
4h30: Michael Fisher acordou com a chuva batendo no rosto.
Apoiou-se na popa e esticou as costas. Não havia estrelas, mas a leste uma tira estreita de luz do alvorecer cor de água suja pairava entre o horizonte e as nuvens. O ar estava calmo, mas isso não duraria; Michael pressentia as tempestades pelo cheiro.
Desamarrou o short, projetou a pélvis por cima da popa e soltou um jato de urina de volume e duração satisfatórios nas águas do golfo. Não estava especialmente com fome, tendo ensinado o corpo a ignorá-la, mas desceu por um momento para diluir em água um pouco de proteína em pó e beber o preparado em seis goles. A não ser que estivesse enganado, e quase nunca estava, a manhã traria sua cota de empolgação; era melhor enfrentá-la de barriga cheia.
Estava de novo no convés quando o primeiro recorte de relâmpago riscou o horizonte. Quinze segundos depois, o trovão chegou num estrondo longo, como um deus carrancudo pigarreando. O movimento do ar também tinha aumentado, do modo desorganizado de um vendaval se aproximando. Michael soltou a trava do leme e o segurou enquanto a chuva chegava com força: uma chuva tropical quente, com gotas que pareciam agulhas e o encharcaram num segundo. Michael não tinha opinião formada com relação ao clima. Como todo o resto, era o que era, e se esta seria a tempestade que finalmente iria levá-lo para o fundo, bom, tudo indicava que ele vinha pedindo por isso.
Verdade? Sozinho? Nessa coisa? Está maluco? Às vezes as perguntas eram gentis, uma expressão de preocupação genuína; até mesmo estranhos tentavam convencê-lo a não fazer aquilo. Porém com frequência a pessoa agia como se falar com ele fosse inútil: se o mar não o matasse, a barreira mataria – o bloqueio formado por explosivos flutuantes que supostamente cercavam o continente. Quem, em sã consciência, provocaria o destino desse jeito? E em especial agora, quando nem um único viral tinha sido visto em... o quê... uns 36 meses? Um continente inteiro não bastava para uma alma inquieta percorrer?
Era justo, mas nem todas as escolhas se deviam à lógica; muitas vinham das entranhas. O que as entranhas de Michael diziam era que a barreira não existia, que nunca tinha existido. Ele estava dando uma banana para a história, para cem anos de seres humanos que diziam: Eu, não, de jeito nenhum, vá em frente, mas sem mim. Era isso ou fazer roleta-russa. O que, dada a história de sua família, não estava necessariamente fora de questão.
O suicídio de seus pais não era algo em que ele gostava de pensar, mas é claro que pensava. Em algum lugar de seu cérebro um filme dos acontecimentos daquela manhã passava constantemente. Os rostos cinzentos e vazios e a tensão das cordas em volta dos pescoços. O leve rangido que elas causaram. As formas alongadas dos corpos, a frouxidão absoluta, vaga. A cor escura dos dedos dos pés, inchados com sangue coagulado. A reação inicial de Michael tinha sido a incompreensão total: olhara os corpos por uns bons trinta segundos, tentando analisar os dados que lhe vinham flutuando numa série de palavras, que ele não conseguia juntar (Mãe, pai, pendurados, corda, celeiro, mortos), antes que uma explosão de horror incandescente em seu cérebro de 11 anos o fizesse disparar para agarrar as pernas e empurrar os corpos para cima, o tempo todo gritando o nome de Sara para que ela fosse ajudá-lo. Eles estavam mortos havia muitas horas; os esforços eram inúteis. Mas era preciso tentar. Michael tinha aprendido que boa parte da vida tinha a ver com consertar coisas que não tinham conserto.
Daí o mar e suas vagueações solitárias nele. Tinha se tornado uma espécie de lar. Seu barco era o Nautilus. Michael tirara o nome de um livro que lera anos antes, quando era apenas um Pequeno no Abrigo: Vinte mil léguas submarinas, uma velha brochura amarelada, páginas se soltando, que tinha na capa a imagem de um veículo curioso, blindado, que parecia um cruzamento de barco com tanque subaquático, enlaçado pelos tentáculos cheios de ventosas de um monstro marinho com um olho enorme. A imagem permaneceu muito depois de os detalhes da história terem desaparecido de sua mente, gravada nas retinas. Quando chegou a hora de batizar sua embarcação, depois de dois anos de planejamento, execução e da boa e velha adivinhação, Nautilus pareceu natural. Foi como se tivesse guardado o nome no cérebro para uso futuro.
Quase 11 metros da popa ao gurupés, 1,80 metro de calado, uma vela mestra e uma de proa, presas ao topo do mastro, com uma pequena cabine (embora ele quase sempre dormisse no convés). Tinha encontrado o barco num estaleiro perto do estreito de San Luis, enfiado num armazém, ainda sobre blocos. O casco, coberto de resina de poliéster, estava em boas condições, mas o resto era uma porcaria: convés apodrecido, velas desintegradas, qualquer coisa de metal corroída a ponto de ter se tornado inútil. Em outras palavras, perfeito para Michael Fisher, Primeiro Engenheiro de Luz e Força e petroleiro classe 1. Em um mês, ele havia abandonado a refinaria e descontado cinco anos de pagamentos não gastos para comprar as ferramentas necessárias e contratar uma equipe para levá-las a San Luis. Verdade? Sozinho? Nessa coisa? É, disse Michael a eles, desdobrando o desenho sobre a mesa. Verdade.
Depois de todos aqueles anos soprando as brasas do mundo antigo, tentando acender de novo a civilização com as máquinas que haviam sobrado, era irônico que, no fim das contas, o que o atraísse fosse a mais antiga forma de propulsão humana. O vento soprava, se revirava na borda da vela e criava um vácuo que o barco ficava tentando preencher. A cada viagem que fazia, Michael demorava um pouco mais, ia mais longe, um pouco mais loucamente lá fora. No início tinha acompanhado a costa, captando as sensações. Para o nordeste ao longo do litoral até Nova Orleans, imunda de óleo e com sua depressiva nuvem de fedor gosmento, químico, trazida pelo rio. Para o sul até a ilha Padre, com suas longas e ermas vastidões de areia branca como talco. À medida que sua confiança aumentava, as trajetórias se expandiam. De vez em quando encontrava os restos anacrônicos da humanidade – amontoados de destroços enferrujados ao longo dos baixios, atóis falsos feitos de plástico, plataformas de petróleo abandonadas soltando enormes línguas de gosma bombeada –, mas logo deixou tudo isso para trás, levando sua embarcação mais para o coração do vasto oceano. A cor da água escureceu; continha profundezas incríveis. Ele apontava para o sol com o sextante, estabelecendo o curso com um cotoco de lápis. Um dia lhe ocorreu que abaixo dele havia quase 1,5 quilômetro de água.
Na manhã da tempestade, Michael já estava no mar havia 42 dias. Seu plano era chegar a Freeport ao meio-dia, reabastecer a despensa, descansar por cerca de uma semana – precisava mesmo ganhar algum peso – e partir de novo. Claro, teria de enfrentar Lore, sempre uma situação desconfortável. Será que ela ao menos falaria com ele? Ou simplesmente iria olhá-lo furiosa a distância? Ou agarrá-lo pelo cinto e arrastá-lo até o alojamento para uma hora de sexo raivoso que, mesmo contrariando seu próprio bom senso, ele não seria capaz de recusar? Michael nunca sabia o que seria nem o que o fazia sentir-se pior; ou ele era o babaca que havia partido o coração de Lore ou o hipócrita na cama dela. Porque a única coisa que ele não conseguia explicar era o motivo de ela não ter nada a ver com nada daquilo: nem com o Nautilus, nem com sua necessidade de ficar sozinho, nem com o fato de que ele não podia retribuir seu amor, embora ela o merecesse em todos os sentidos.
Como acontecia com frequência, seus pensamentos voltaram para a última vez em que tinha visto Alicia – a última vez em que alguém a tinha visto, até onde ele sabia. Por que ela o havia escolhido? Tinha ido visitá-lo no hospital, na manhã antes de Sara e os outros deixarem a Pátria para voltar a Kerrville. Michael não tinha certeza de que horas eram; estava dormindo e, quando acordou, viu-a sentada junto à sua cama. Ela estava com uma... expressão no rosto. Ele sentiu que estivera sentada ali durante algum tempo, observando-o dormir.
– Lish?
Ela sorriu.
– Ei, Michael.
Foi isso, durante pelo menos outros trinta segundos. Nada de Como você está se sentindo?, ou Você está meio ridículo com esse gesso, Circuito, ou qualquer uma dos milhares de pequenas farpas que os dois vinham trocando desde crianças.
– Pode fazer uma coisa para mim? Um favor?
– Tudo bem.
Mas o pensamento ficou inacabado. Alicia desviou o olhar, depois se virou para ele de novo.
– Nós somos amigos há muito tempo, não é?
– Claro. Sem dúvida.
– Sabe, você sempre foi inteligente demais. Você se lembra... bom, quando foi? Não sei, nós éramos só duas crianças. Acho que Peter talvez estivesse lá, Sara também. Nós todos subimos no Muro uma noite e você deu uma palestra, uma palestra de verdade, juro por Deus, sobre como as luzes funcionavam, as turbinas, as baterias e todo o resto. Sabe, até então eu achava que elas simplesmente se acendiam sozinhas. Sério. Meu Deus, eu me senti tão burra!
Ele deu de ombros, sem graça.
– Eu era meio metido a besta, acho.
– Ah, não peça desculpas. Naquela hora eu pensei: esse carinha tem alguma coisa, de verdade. Algum dia, quando a gente precisar, ele vai salvar a nossa pele.
Michael não soube o que dizer. Nunca tinha visto alguém que parecesse tão perdido, tão esmagado pelo peso da vida.
– O que você queria me pedir, Lish?
– Pedir?
– Você disse que precisava de um favor.
Ela franziu a testa, como se a pergunta não fizesse muito sentido.
– Acho que disse, não foi?
– Lish, você está bem?
Ela se levantou da cadeira. Michael já ia dizer outra coisa, não tinha certeza do quê, quando ela se inclinou, empurrou o cabelo dele para o lado e, espantando-o completamente, deu-lhe um beijo na testa.
– Cuide-se, Michael. Pode fazer isso por mim? Eles vão precisar de você por aqui.
– Por quê? Você vai a algum lugar?
– Prometa.
E esse tinha sido o momento em que ele fracassara com ela. Três anos haviam se passado e Michael revivia essa cena repetidamente, como um soluço no tempo. O momento em que ela disse que ia embora de vez, e a única coisa que ele poderia ter dito para mantê-la ali. Alguém ama você, Lish. Eu amo você. Eu, Michael. Eu amo você, nunca deixei e nunca vou deixar de amar. Mas as palavras se emaranharam em algum ponto entre a boca e o cérebro, e o momento se foi.
– Tudo bem.
– Ótimo – disse ela. E foi embora.
Mas a tempestade, na manhã de seu 42o dia no mar: perdido nesses pensamentos, Michael tinha deixado a atenção se desviar para longe – tinha notado, mas não processado de todo, a hostilidade crescente do mar, o negrume absoluto do céu, a fúria acumulada do vento. Ela chegou rápido demais, com um trovão de rachar os tímpanos e um sopro enorme, saturado de chuva, que estapeou o barco como uma mão gigantesca, fazendo-o girar com força. Epa, pensou Michael, subindo no gio da popa. Que porra é essa? Havia passado o momento de rizar a vela; a única coisa a fazer era encarar o vendaval. Apertou a vela mestra e guiou o barco na direção do vento. A água estava inundando tudo – espumando por cima da proa, caindo do céu em camadas. Relâmpagos brilhavam no alto. Michael agarrou a mestra com vigor, puxou-a com o máximo de força que pôde e prendeu-a no bloco.
Certo, pensou. Pelo menos você me deixou mijar primeiro. Vejamos o que é capaz de fazer, sua desgraçada.
E penetrou na tempestade.
Ele emergiu seis horas depois, o coração leve com a vitória. O vendaval havia se esgotado, rasgando o céu até deixar um bolsão azul no seu encalço. Michael não fazia ideia de onde estava; tinha sido levado muito para fora do curso. A única coisa a fazer era seguir para oeste e ver onde encontraria terra.
Duas horas depois, surgiu uma comprida linha de areia cinza. Michael se aproximou dela numa maré montante. Ilha Galveston: dava para ver pelos destroços do velho quebra-mar. O sol estava alto; o vento, bom. Deveria virar para o sul, na direção de Freeport – para casa, o jantar, uma cama de verdade e todo o resto –, ou tomar outro curso? Mas os acontecimentos da manhã tornavam essa perspectiva depressivamente calma, uma conclusão pobre demais para o dia.
Decidiu avaliar o canal Houston Ship. Poderia ancorar ali para passar a noite e seguir para Freeport pela manhã. Examinou o mapa. Uma estreita cunha de água separava a extremidade norte da ilha da península de Bolívar; do outro lado ficava a baía de Galveston, uma bacia relativamente circular com 30 quilômetros de largura, levando a um estuário profundo na borda nordeste, cercada pelos destroços de estaleiros e fábricas de produtos químicos.
Entrou na baía com o vento por trás. Diferentemente das ondas tingidas de marrom do litoral, a água era límpida, quase translúcida, com um tom esverdeado. Michael até podia ver peixes, formas escuras passando abaixo da superfície. Em alguns lugares a linha do litoral era atulhada de enormes massas de destroços, mas em outros parecia ter sido lavada.
A tarde tinha começado a se esvair quando ele se aproximava da foz do estuário. Havia uma forma grande e escura no canal. À medida que ele chegava perto, a imagem entrou em foco: era um navio enorme, com mais de 200 metros de comprimento. Tinha parado na metade do caminho entre duas torres de uma ponte pênsil que atravessava o canal. Ele guiou o barco mais para perto. O navio estava ligeiramente adernado para bombordo, com a proa abaixada, a parte de cima das hélices enormes visível acima da água. Estaria encalhado? Como tinha chegado ali? Provavelmente do mesmo modo que ele, levado pelas marés através do estreito de Bolivar. Na popa, pingando de ferrugem, estavam escritos o nome e o registro da embarcação.
BERGENSFJORD
OSLO, NORUEGA
Michael levou o Nautilus mais para perto do pilar mais próximo. Sim, havia uma escada. Amarrou o barco, baixou as velas e desceu à cabine para pegar um pé de cabra, uma lanterna, uma variedade de ferramentas e dois rolos de 100 metros de corda grossa. Colocou tudo numa mochila, voltou ao convés, respirou fundo e começou a subir.
Michael não gostava de lugares altos. Não havia muitas outras coisas que o incomodassem, afora isso. Na refinaria, as circunstâncias costumavam colocá-lo em algum lugar muito acima do chão – balançando-se num arnês nas torres, raspando ferrugem –, e com o passar do tempo tinha ficado mais corajoso com relação a isso, como suas equipes podiam ver. Mas a exposição só curava até certo ponto. A escada, degraus de aço encravados no concreto da torre, não era nem remotamente tão forte quanto parecera de baixo. Alguns degraus nem pareciam presos. Quando chegou ao topo, seu coração parecia estar no fundo da garganta. Deitou-se de costas na ponte suspensa, apenas respirando, depois olhou pela borda. Supôs que seriam uns 45 metros até o convés do navio, talvez mais. Meu Deus.
Amarrou a corda ao corrimão e ficou olhando enquanto ela caía. O truque seria usar os pés para controlar a descida. Segurando a corda, inclinou-se para trás por cima da beirada, engoliu em seco e deu um passo para o ar.
Durante meio segundo achou que tinha cometido o maior erro de sua vida. Que ideia idiota! Iria mergulhar feito uma pedra até o convés. Mas então seus pés encontraram a corda, enrolando-a num aperto mortal. Foi descendo devagar.
Michael supôs que o navio tinha sido algum tipo de cargueiro. Foi para a popa, onde uma escada de metal aberta levava à casa do leme. No topo da escada chegou a uma porta pesada com uma maçaneta emperrada. Arrancou a maçaneta com o pé de cabra e inseriu a ponta de uma chave de fenda no mecanismo da fechadura. Depois de algumas sacudidas, com o trinco movendo-se aos poucos e um segundo estalo do pé de cabra, a porta se abriu.
Um fedor de amoníaco enchia o ar, provocando lágrimas nos seus olhos – era um ar que ninguém havia respirado durante um século. Abaixo do largo para-brisa, com a vista do canal, ficava o painel de controle do navio: fileiras de interruptores e mostradores, telas planas, teclados de computador. Numa das três cadeiras de espaldar alto viradas para o painel havia um corpo. O tempo o havia transformado em pouco mais do que uma mancha marrom encolhida, envolta pelos farrapos mofados das roupas. Dragonas de estilo militar com três listras enfeitavam a camisa. Era um oficial, pensou Michael, talvez o próprio capitão. A causa da morte era aparente: um buraco no crânio, não maior do que a ponta do mindinho de Michael, marcava o ponto da entrada da bala. No chão, abaixo da mão direita estendida do sujeito, estava um revólver.
Michael encontrou outros corpos abaixo do convés. Quase todos estavam nas camas. Não se demorou, meramente acrescentou-os à contagem, quarenta cadáveres no total. Será que tinham se matado? A arrumação dos corpos indicava isso, mas o método não era aparente. Michael já tinha visto esse tipo de coisa, mas nunca tantos, todos num único lugar.
Descendo mais pelo navio, chegou a um recinto diferente dos outros, não com uma ou duas camas, e sim muitas – catres estreitos presos um acima do outro nas anteparas, o espaço dividido por um corredor estreito. Alojamento da tripulação? Muitos catres estavam vazios; contou apenas oito corpos, inclusive dois nus, com os membros entrelaçados, dividindo o espaço de um catre baixo.
Esse local estava mais atulhado do que os outros. Peças de roupa apodrecidas e objetos variados cobriam boa parte do piso. Muitas paredes ao lado dos catres estavam enfeitadas: fotos desbotadas, imagens religiosas, cartões-postais. Ele soltou com cuidado uma foto e segurou-a diante da lanterna. Era uma mulher de cabelos escuros, sorrindo para a câmera, segurando um bebê no colo.
Algo atraiu seu olhar.
Uma grande folha de papel, muito fina, grudada na antepara: no topo, em letras ornamentadas, estavam as palavras INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE. Michael soltou a fita adesiva e pôs o papel sobre a cama.
HUMANIDADE EM PERIGO
A crise se aprofunda e as mortes aumentam em todo o mundo
Vírus estende seu alcance mortal a todos os continentes
Portos e fronteiras invadidos enquanto milhões de pessoas fogem da infecção que se espalha
Caos nas grandes cidades à medida que enormes apagões escurecem a Europa
ROMA (Associated Press), 13 de maio – O mundo chegou à beira do caos na noite de terça-feira enquanto a doença conhecida como Vírus da Páscoa continuava sua marcha mortal através do globo.
Ainda que a disseminação rápida da doença torne difícil estimar o número de mortos, as autoridades de saúde da ONU afirmam que o total chega às centenas de milhões.
O vírus, uma variante aérea do que dizimou a América do Norte há dois anos, emergiu na região do Cáucaso, na Ásia Central, há apenas 59 dias. As autoridades de saúde estão com dificuldade para identificar uma fonte do vírus ou um tratamento eficaz.
“O que podemos dizer neste momento é que este patógeno é de um vigor incomum e tremendamente letal”, disse Madeline Duplessis, chefe do Comitê Executivo da Organização Mundial da Saúde, falando da sede em Genebra. “As taxas de mortalidade são muito próximas de 100 por cento.”
Diferentemente da cepa norte-americana, o Vírus da Páscoa não exige contato físico direto para passar de pessoa a pessoa e pode viajar grandes distâncias preso a grãos de poeira ou gotículas respiratórias, fazendo com que muitas autoridades de saúde o comparem à epidemia de gripe espanhola de 1918, que chegou a matar 50 milhões de pessoas em todo o mundo. A proibição de viagens de pouco serviu para diminuir a velocidade de disseminação, assim como as tentativas feitas por muitas autoridades municipais para impedir que pessoas se reunissem em locais públicos se mostraram ineficazes.
“Temo que estejamos à beira de perder o controle da situação”, disse o ministro da Saúde italiano, Vincenzo Monti, numa longa entrevista coletiva, durante a qual podiam ser ouvidos muitos acessos de tosse no salão. “Não posso enfatizar suficientemente a importância de as pessoas ficarem dentro de casa. Crianças, adultos, idosos – ninguém foi poupado dos efeitos dessa epidemia cruel. O único modo de sobreviver à doença é não contraí-la.”
Absorvido pelos pulmões, o Vírus da Páscoa age rapidamente, dominando as defesas do corpo, atacando o sistema respiratório e o trato digestivo. Dentre os primeiros sintomas estão desorientação, febre, dor de cabeça, tosse e vômito com pouco ou nenhum aviso prévio. À medida que os patógenos tomam conta do corpo, a vítima sofre uma enorme hemorragia interna, que tipicamente leva à morte em 36 horas, embora tenham sido registrados casos de adultos saudáveis que sucumbiram em duas horas. Em situações raras as vítimas da doença exibiram os efeitos transformadores da cepa norte-americana, inclusive um aumento nítido na agressividade, mas não se sabe se algum desses indivíduos sobreviveu ao limite das 36 horas.
“Isso parece estar acontecendo numa pequena percentagem dos casos”, disse Duplessis aos repórteres. “Neste momento simplesmente não sabemos por que esses indivíduos são diferentes.”
Autoridades da OMS especularam que a doença pode ter viajado da América do Norte por navio ou avião, apesar da quarentena internacional imposta pelas Nações Unidas em junho, dois anos atrás. Outras teorias sobre a origem do patógeno incluem uma fonte aviária, conectada à morte de várias espécies de pássaros canoros no sul dos montes Urais logo antes do surgimento da doença.
“Estamos examinando tudo”, disse Duplessis. “Não estamos deixando pedra sobre pedra.”
Uma terceira teoria é a de que a epidemia seja obra de terroristas. Respondendo a especulações contínuas por parte da imprensa, o secretário-geral da Interpol, Javier Cabrera, ex-secretário de segurança interna dos Estados Unidos e membro do governo americano no exílio em Londres, disse aos repórteres: “Até agora nenhum grupo ou indivíduo reivindicou a responsabilidade, pelo que sabemos, mas nossas investigações continuam.” Cabrera declarou que a polícia internacional, com 190 Estados-membros, não tem qualquer evidência de que algum grupo terrorista ou país patrocinador tenha capacidade de criar um vírus assim.
“Apesar dos muitos desafios, continuamos a coordenar nossos esforços com as polícias e os serviços de informações em todo o mundo”, disse Cabrera. “Esta é uma crise global que merece resposta global. Caso surja alguma evidência digna de crédito de que a epidemia tenha sido criada pelo homem, saibam que levaremos os culpados à Justiça.”
Com a maior parte do globo agora sob alguma forma de lei marcial, tumultos dominaram centenas de cidades, com relatos de lutas violentas no Rio de Janeiro, em Istambul, Atenas, Copenhague, Praga, Joanesburgo e Bangkok. Reagindo à crescente maré de violência, as Nações Unidas, numa reunião de emergência em sua sede em Haia, insistiram para que as nações do mundo fossem cautelosas no uso da força letal.
“Agora não é hora de a humanidade se voltar contra si mesma”, declarou o secretário-geral da ONU, Ahn Yoon-dae. “Nossa humanidade em comum deve ser uma luz-guia nesses dias sombrios.”
Quedas de energia por toda a Europa continuam a atrapalhar os esforços de ajuda e a aumentar o caos. Até a noite de terça-feira a escuridão se estendia desde a Dinamarca, no norte, até o sul da França e o norte da Itália. Falhas semelhantes ocorreram em todo o subcontinente asiático, o Japão e o oeste da Austrália.
As redes de telefonia fixa e móvel também foram afetadas, isolando muitas cidades do resto do mundo. Em Moscou, a escassez de água e os ventos fortes causaram incêndios que transformaram boa parte da cidade em cinzas e mataram milhares de pessoas.
“A cidade inteira acabou”, disse uma testemunha. “Moscou não existe mais.”
Também estão aumentando os comunicados sobre suicídios em massa e supostos “cultos da morte”. Na manhã de segunda-feira, em Zurique, policiais que foram chamados para verificar um cheiro suspeito descobriram um armazém com mais de 2.500 corpos, inclusive crianças e bebês. Segundo a polícia, o grupo tinha misturado secobarbital, um barbitúrico poderoso, a um suco de fruta em pó para fazer um coquetel mortífero. Embora a maior parte das vítimas parecesse ter tomado a droga voluntariamente, alguns corpos estavam com os pulsos e os tornozelos amarrados.
Em entrevista à imprensa, o chefe de polícia de Zurique, Franz Schatz, descreveu a cena como sendo de um “horror indizível”.
“Nem posso imaginar o desespero que levou essas pessoas a acabar não somente com a própria vida, mas com a dos próprios filhos”, disse.
Por todo o planeta multidões se reuniram em casas de culto e importantes locais religiosos para buscar conforto espiritual nessa crise sem precedentes. Em Meca, a cidade mais sagrada do islamismo, milhões continuam se reunindo apesar da escassez de comida e água, que aumentou ainda mais o sofrimento. Em Roma, o papa Cornélio II, que, segundo muitas testemunhas, parecia doente, dirigiu-se aos fiéis na tarde de terça-feira da sacada da residência papal, exortando-os a “colocar a vida nas mãos de um Deus todo-poderoso e misericordioso”.
Enquanto os sinos tocavam por toda a cidade, o pontífice afirmou: “Se for a vontade de Deus que estes sejam os últimos dias da humanidade, vamos encontrar nosso pai celestial com paz e resignação. Não se abandonem ao desespero, já que nosso Deus é um Deus vivo e amoroso, em cujas mãos misericordiosas seus filhos descansaram desde o início dos tempos e descansarão até o fim.”
Enquanto o número de mortos aumenta, as autoridades de saúde se preocupam, porque os corpos insepultos podem estar acelerando a disseminação da infecção. Num esforço para impedir que isso aconteça, autoridades de muitas cidades europeias vêm usando valas comuns. Outras recorreram aos sepultamentos em massa no mar, levando os corpos dos mortos de caminhão até as regiões costeiras.
Mas, apesar dos riscos, muitas pessoas estão fazendo o trabalho pessoalmente, usando qualquer terreno disponível para enterrar seus entes queridos. Numa cena que se repete em cidades por todo o mundo, o famoso Bois de Boulogne de Paris, um dos parques urbanos mais famosos do mundo, é agora local de milhares de sepulturas.
“É a última coisa que eu poderia fazer por minha família”, disse Gerard Bonnaire, 36 anos, junto à sepultura recém-cavada de sua esposa e do filho pequeno, que sucumbiram com uma diferença de seis horas. Depois de tentativas infrutíferas de informar as autoridades, Bonnaire, que se identificou como executivo do Banco Mundial, pediu que vizinhos o ajudassem a levar os corpos e cavar uma sepultura, que ele marcou com fotos de família e o papagaio de pelúcia do filho, um brinquedo querido.
“Tudo o que posso esperar é me juntar a eles assim que for possível”, disse Bonnaire. “O que resta para nós agora? O que podemos fazer, além de morrer?”
Michael demorou um tempo até perceber que tinha chegado ao fim. Seu corpo estava entorpecido, quase sem substância. Levantou os olhos do papel e examinou o compartimento ao redor, como se procurasse alguém para lhe dizer que estava enganado, que era tudo mentira. Mas não havia ninguém, apenas corpos, os rangidos e o grande peso do Bergensfjord.
Santo Deus, pensou.
Estamos sozinhos.
CINCO
A mulher na cama 16 estava fazendo um estardalhaço. A cada contração, disparava contra o marido uma saraivada de palavrões que fariam um marinheiro corar. Pior, seu colo do útero mal havia dilatado: apenas 2 centímetros.
– Tente ficar calma, Marie – disse Sara. – Gritar não vai fazer com que as coisas melhorem.
– Desgraçado – berrou Marie para o marido. – Foi você que fez isso comigo, seu filho da puta!
– Você pode fazer alguma coisa? – perguntou o marido.
Sara não sabia se ele queria aliviar a dor da mulher ou fazer com que ela se calasse. Pela expressão sem graça do rosto dele, supôs que os abusos verbais não eram novidade. Ele trabalhava nas plantações; dava para ver pela terra embaixo das unhas.
– Só diga para ela respirar.
– O que você acha que é isso? – intrometeu-se a mulher, com sarcasmo, estufando as bochechas e soprando duas vezes.
Eu poderia lhe acertar uma martelada, pensou Sara. Isso daria resultado.
– Pelo amor de Deus, mande essa mulher fechar a matraca!
A voz veio da cama ao lado, ocupada por um velho com pneumonia. Ele terminou o pedido com um espasmo de tosse úmida.
– Marie, eu realmente preciso que você trabalhe comigo – pediu Sara. – Você está incomodando os outros pacientes. E nesse momento não posso fazer nada. Só precisamos deixar que a natureza siga seu curso.
– Sara? – Jenny tinha chegado atrás dela. Seu cabelo castanho estava desgrenhado, grudado na testa suada. – Chegou uma mulher. Está bem adiantada.
– Só um segundo. – Sara olhou firme para Marie, dizendo em silêncio: Chega de bobagem. – Estamos combinadas?
– Tudo bem – bufou a mulher. – Como você quiser.
Sara acompanhou Jenny até a recepção, onde a nova paciente estava numa maca, o marido ao lado, segurando a mão dela. Era mais velha do que as pacientes que Sara costumava atender, talvez 40 anos, rosto sério e duro e dentes acavalados. Fios grisalhos corriam em seu cabelo comprido e úmido. Sara leu rapidamente o prontuário.
– Sra. Jiménez, sou a Dra. Wilson. A senhora está com 36 semanas, correto?
– Não tenho certeza. Mais ou menos isso.
– Há quanto tempo está sangrando?
– Alguns dias. Era só um pouquinho, mas hoje de manhã piorou e começou a doer.
– Eu disse que ela devia ter vindo antes – explicou o marido.
Era um homem grande, de macacão azul-escuro. As mãos eram enormes, como patas de urso.
– Eu estava trabalhando – explicou-se.
Sara verificou os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea da mulher, depois puxou o vestido para cima e pôs as mãos na barriga, apertando suavemente. A mulher se encolheu de dor. Sara moveu as mãos mais para baixo, tocando a pele à procura do local da ruptura. Foi então que notou os dois garotos, jovens adolescentes, sentados ali perto. Trocou um olhar com o homem, mas não disse nada.
– Nós temos um certificado de direito de nascimento – disse ele, nervoso.
– Não vamos nos preocupar com isso agora – falou Sara.
Tirou o fetoscópio do bolso do jaleco e apertou o disco prateado contra o abdômen da mulher, levantando a mão para pedir silêncio. Um estalo forte e um chiado preencheram seus ouvidos. Registrou no prontuário o ritmo cardíaco do bebê, 118 batimentos por minuto – um pouco baixo, mas por ora nada muito preocupante.
– Certo. Jenny, vamos levá-la para a sala de parto.
Virou-se para o homem.
– Sr. Jiménez...
– Carlos. É o meu primeiro nome.
– Carlos, vai ficar tudo bem. Mas é melhor que seus filhos esperem aqui.
A placenta havia se separado da parede do útero; era de onde vinha o sangue. O corte poderia coagular sozinho, mas o fato de o bebê estar sentado complicava a coisa para um parto normal, e com 36 semanas Sara não via motivo para esperar. No corredor do lado de fora da sala de parto ela explicou o que pretendia fazer.
– Poderíamos esperar – disse ao marido da paciente –, mas não acho sensato. O bebê pode não estar recebendo oxigênio suficiente.
– Posso ficar com ela?
– Para isso, não.
Ela o segurou pelo braço e o fitou.
– Vou cuidar dela. Confie em mim, você vai ter muito que fazer mais tarde.
Sara pediu o anestésico e um aquecedor enquanto ela e Jenny lavavam as mãos e vestiam os jalecos. Jenny limpou a barriga e a região púbica da mulher com iodo e a amarrou à mesa. Sara levou as luzes para o lugar, calçou as luvas e derramou o anestésico num pequeno prato. Usando o fórceps, mergulhou uma esponja no líquido marrom e o colocou no compartimento da máscara respiratória.
– Certo, Sra. Jiménez – disse. – Vou colocar isso no seu rosto. O cheiro vai ser meio estranho.
A mulher a encarou aterrorizada e impotente.
– Vai doer?
Sara sorriu, tranquilizando-a.
– Acredite, você não vai se importar. E, quando acordar, seu bebê vai estar aqui.
Ela posicionou o respirador no rosto da mulher.
– Só respire devagar.
A mulher apagou feito uma lâmpada. Sara puxou para perto a bandeja de instrumentos, ainda quentes do esterilizador, e pôs a máscara. Com um bisturi, fez uma incisão transversa no topo do osso púbico da mulher, depois uma segunda para abrir o útero. O bebê apareceu, encolhido no saco amniótico, cujo líquido estava tingido de rosa com o sangue. Sara furou cuidadosamente a bolsa e enfiou o fórceps.
– Certo, prepare-se.
Jenny se aproximou com uma toalha e uma bacia. Sara puxou o bebê através da incisão, enfiando a mão embaixo da cabeça enquanto ele emergia e prendendo o polegar e o mindinho por baixo dos ombros. Dos braços dela; era uma menina. Mais um puxão lento e ela se soltou. Segurando-a na toalha, Jenny sugou a boca e o nariz da menina, virou-a de barriga para baixo e esfregou suas costas. Com um soluço molhado, a criança começou a respirar. Sara prendeu o cordão umbilical com um grampo, cortou-o com uma tesoura, tirou a placenta e a jogou na bacia. Enquanto Jenny colocava o bebê no berço aquecido e verificava os sinais vitais, Sara suturava as incisões da mulher. Um mínimo de sangue, sem complicações, um bebê saudável: nada mau para dez minutos de trabalho.
Sara tirou a máscara do rosto da mulher.
– Ela chegou – sussurrou no ouvido dela. – Está tudo bem. É uma menininha saudável.
O marido e os filhos da Sra. Jiménez esperavam do lado de fora. Sara deixou que todos tivessem um momento juntos. Carlos beijou a mulher, que tinha começado a voltar a si, depois pegou a bebê no berço para segurá-la. Em seguida cada um dos filhos também a pegou.
– Já escolheram um nome para ela? – perguntou Sara.
O homem assentiu, os olhos brilhando com lágrimas. Sara gostou dele por causa disso; nem todos os pais eram tão sentimentais. Alguns mal pareciam se importar.
– Grace – respondeu ele.
Mãe e filha foram levadas de maca pelo corredor. O homem mandou os garotos embora, depois enfiou a mão no bolso do macacão e entregou nervoso a Sara o pedaço de papel que ela estava esperando. Casais com um terceiro filho a caminho tinham permissão de comprar o direito de um casal que tivesse tido menos do que o permitido legalmente. Sara não gostava dessa prática; parecia errado comprar e vender os direitos de se fazer uma pessoa, e metade dos certificados que via eram falsos, comprados no comércio.
Examinou o documento de Carlos. O papel era do governo, mas a tinta nem de longe tinha a cor certa, e o selo tinha sido estampado do lado errado.
– Deveria pedir seu dinheiro de volta à pessoa de quem comprou isto.
O rosto de Carlos desmoronou.
– Por favor, eu sou só um hidro. Não tenho dinheiro para pagar a taxa. Foi minha culpa. Ela disse que não era o dia certo.
– É bom da sua parte admitir, mas infelizmente a questão não é essa.
– Pelo amor de Deus, Dra. Wilson. Não nos obrigue a entregá-la às irmãs. Meus filhos são bons garotos, dá para ver.
Sara não tinha intenção de mandar a bebê Grace para o orfanato. Por outro lado, a falsidade do certificado era tão evidente que alguém no escritório do censo acabaria descobrindo.
– Faça um favor a nós dois e se livre disso. Vou registrar o nascimento e, se a papelada voltar, invento alguma coisa: digo que perdi ou sei lá o quê. Com sorte o papel vai ser arquivado no lugar errado.
Carlos não fez qualquer menção de pegar o certificado de volta; pareceu não entender o que Sara dizia. Ela não tinha dúvida de que ele havia ensaiado mentalmente mil vezes esse momento. Nem uma vez, em todo esse tempo, ele tinha imaginado que alguém simplesmente faria seu problema sumir.
– Ande, pegue.
– A senhora vai mesmo fazer isso? Não vai se encrencar?
Ela empurrou o papel para ele.
– Rasgue isso, queime, enfie numa lata de lixo em algum lugar. Só esqueça que a gente teve essa conversa.
O homem pôs o certificado no bolso. Por um segundo parecia a ponto de abraçá-la, mas se conteve.
– A senhora vai estar nas nossas orações, Dra. Wilson. Vamos dar uma vida boa a ela, juro.
– Conto com isso. Só me faça um favor.
– Qualquer coisa.
– Quando sua mulher disser que não é o dia certo, acredite. Está bem?
No posto de controle, Sara mostrou seu passe e foi para casa andando por ruas escuras. A não ser pelo hospital e outros prédios essenciais, a eletricidade era desligada às dez da noite. O que não queria dizer que a cidade fosse dormir no momento em que a energia era cortada; no escuro, ela adquiria um tipo de vida diferente. Salões, bordéis, casas de jogos – Hollis tinha lhe contado um monte de histórias e, depois de dois anos no campo de refugiados, não havia muita coisa que a própria Sara não tivesse visto.
Entrou no apartamento. Kate já tinha sido posta na cama havia muito tempo, porém Hollis estava esperando, lendo um livro à luz de velas, à mesa da cozinha.
– É bom? – perguntou ela.
Com Sara trabalhando tantas horas no hospital, Hollis havia se tornado um leitor voraz, que pegava braçadas de livros na biblioteca e mantinha uma pilha deles ao lado da cama.
– Pega meio pesado na invencionice. Michael recomendou há um tempo. É sobre um submarino.
Ela pendurou o casaco no gancho junto à porta.
– O que é um submarino?
Hollis fechou o livro e tirou os óculos de leitura – outra novidade. Sara achava que as lentes meia-lua, turvas e arranhadas numa armação de plástico preto, o faziam parecer distinto, mas Hollis dizia que elas o faziam sentir-se velho.
– Parece que é um barco que se move embaixo d’água. Para mim parece papo furado, mas a história não é ruim. Está com fome? Posso preparar alguma coisa, se você quiser.
Ela estava, mas comer parecia um esforço grande demais.
– Só quero ir para a cama.
Foi olhar Kate, que dormia profundamente, e se lavou na pia. Parou para se examinar no espelho. Sem dúvida os anos estavam começando a pesar. Leques de rugas tinham se formado em volta dos olhos; o cabelo louro, que agora ela usava mais curto e puxado para trás, tinha ficado um tanto ralo; a pele estava começando a perder a firmeza. Ela sempre havia se considerado bonita e, sob certa luz, ainda era. Mas em algum ponto da vida, tinha ultrapassado seu ápice. No passado, quando olhava seu reflexo, ainda via a menininha que havia sido: a mulher no espelho ainda era uma extensão de seu eu infantil. Agora o que via era o futuro. As rugas iriam se aprofundar, a pele ficaria frouxa, as luzes dos olhos iriam enfraquecer. A juventude estava indo embora, penetrando no passado.
E no entanto esse pensamento não a incomodava, ou pelo menos não muito. Junto com a idade vinha a autoridade e, com a autoridade, a capacidade de ser útil – de curar, reconfortar e trazer pessoas novas ao mundo. A senhora vai estar nas nossas orações, Dra. Wilson. Sara ouvia palavras assim quase todo dia, mas jamais tinha se tornado imune a elas. Simplesmente esse nome, Dra. Wilson. Ainda ficava pasma ao ouvir alguém dizê-lo e saber que estavam falando com ela. Ao chegar a Kerrville, três anos antes, apresentara-se ao hospital para ver se sua formação como enfermeira poderia ser útil. Numa salinha sem janelas, um médico chamado Elacqua a interrogara longamente – sistemas corporais, diagnósticos, tratamentos para doenças e ferimentos. Seu rosto não demonstrava emoção enquanto ouviu suas respostas, fazendo anotações numa prancheta. O teste durou quase duas horas; quando terminou, Sara sentiu que estava tropeçando às cegas num vendaval. Que utilidade sua débil formação poderia ter num estabelecimento médico tão à frente dos remédios caseiros da Colônia? Como podia ter sido tão ingênua?
– Bom, acho que é só isso – dissera o Dr. Elacqua. – Parabéns.
Sara ficara pasma. Ele estava sendo irônico?
– Isso quer dizer que posso ser enfermeira? – perguntara.
– Enfermeira? Não. Temos enfermeiras suficientes. Apresente-se aqui amanhã, Sra. Wilson. Seu treinamento começa às sete horas em ponto. Acho que doze meses devem bastar.
– Treinamento para quê? – perguntara ela, e Elacqua, cujo longo interrogatório tinha sido apenas uma sombra das coisas que viriam, dissera com impaciência indisfarçada:
– Talvez eu não esteja sendo claro. Não sei onde você aprendeu, mas você sabe o dobro do que teria o direito de saber. Você vai ser médica.
E, claro, havia Kate. Sua linda, incrível e milagrosa Kate. Sara e Hollis gostariam de ter tido um segundo filho, mas a violência do nascimento de Kate havia infligido danos de mais. Isso era uma decepção, e não desprovida de certa ironia, já que dia após dia novos bebês chegavam ao mundo por suas mãos, mas Sara não tinha o direito de reclamar. O fato de ter encontrado a filha e de as duas terem se reencontrado com Hollis e escapado da Pátria para viajar de volta a Kerrville e ser de novo uma família... milagre não era bem a palavra. Sara não era religiosa, no sentido de ir à igreja – todas as irmãs lhe pareciam pessoas boas, ainda que um tanto extremas em suas crenças –, mas só um idiota deixaria de sentir as ações da Providência. Não era possível acordar a cada dia num mundo daquele jeito e não passar uma hora inteira só pensando em maneiras de agradecer.
Raramente pensava na Pátria, ou só pensava nela o mais raramente que podia. Ainda sonhava com o lugar – embora, estranhamente, esses sonhos não se concentrassem nas piores coisas que tinham acontecido lá. Na maioria das vezes eram sonhos de fome, frio e desamparo, ou as rodas do moedor girando, intermináveis, na usina de biodiesel. Às vezes estava simplesmente olhando para as mãos com um sentimento de perplexidade, como se tentasse se lembrar de algo que deveria estar segurando; de vez em quando sonhava com Jackie, a velha que ficara sua amiga, ou então com Lila, por quem seus sentimentos complexos tinham se destilado com o passar do tempo até virar uma espécie de simpatia triste. De vez em quando seus sonhos eram pesadelos explícitos – estava carregando Kate no meio da neve cegante, as duas perseguidas por algo terrível –, mas eles foram ficando raros. De modo que esta era outra coisa para agradecer: um dia, talvez não em breve, mas um dia, a Pátria viraria apenas mais uma lembrança numa vida de lembranças, uma memória desagradável que tornava as outras muito mais doces.
Hollis já estava apagado. Dormia como um gigante caído; a cabeça batia no travesseiro, e logo ele estava roncando. Sara soprou a vela e entrou sob as cobertas. Imaginou se Marie já teria dado à luz e se ainda estaria berrando com o marido; pensou na família Jiménez e na expressão de Carlos ao levantar a bebê Grace no colo. Grace. Graça. Talvez fosse isso que ela buscasse. Era possível que eles ainda fossem descobertos pelo escritório do censo, mas Sara achava que não, com tantos bebês nascendo. E esse era o ponto. Era o x da questão. Um mundo novo estava chegando; um mundo novo já estava ali. Talvez fosse isso que a idade ensinava, quando você olhava no espelho e via a passagem do tempo no rosto, quando olhava sua filha adormecida e via a menina que tinha sido um dia e nunca mais iria ser. O mundo era real e você estava nele, mesmo que por um breve período, e, se você tivesse sorte, e talvez mesmo se não tivesse, as coisas que havia feito por amor seriam lembradas.
SEIS
O céu de Houston se liberou da noite aos poucos, com a escuridão transformando-se em cinza. Greer entrou na cidade. No ponto em que a via expressa Katy encontrava a 610 num emaranhado de rampas e viadutos desmoronados, ele virou para o norte, para longe dos pântanos e atoleiros, da lama que sugava e das folhagens impenetráveis, passando pelos alagadiços dos bairros mais interiores e procurando terreno mais elevado, seguindo depois por uma ampla avenida de carros arruinados, indo para o sul até a lagoa no centro.
O barco a remo estava onde ele o havia deixado, dois meses antes. Greer amarrou o cavalo, jogou fora a água de chuva infestada de mosquitos e arrastou a embarcação até a beira d’água. Do outro lado da lagoa, o Chevron Mariner estava em seu ângulo improvável, um grande templo de ferrugem e podridão alojado entre as torres inclinadas do núcleo central da cidade. Pôs os suprimentos no fundo do barco, fez com que ele flutuasse e remou para longe da margem.
No saguão do One Allen Center, amarrou-o na base das escadas rolantes e subiu caminhando, com a sacola de lona pendurada no ombro e o conteúdo chacoalhando. A subida de dez andares pelo ar mofado o deixou tonto e sem fôlego. No escritório vazio, puxou a corda que tinha deixado no lugar e baixou a sacola até o convés do Mariner, depois desceu atrás dela.
Sempre alimentava Carter primeiro.
A bombordo, mais ou menos a meia nau, havia uma escotilha no nível do convés. Greer se ajoelhou ao lado e tirou os garrafões de sangue da sacola. Amarrou três deles juntos pelas alças, usando uma corda. O sol estava em ângulo atrás dele, riscando o convés de luz. Usando uma pesada chave inglesa, desatarraxou os parafusos de segurança, virou a maçaneta e abriu a escotilha.
Um raio de sol se derramou no espaço embaixo. Carter estava encolhido em posição fetal perto da antepara voltada para a popa, o corpo na sombra, longe da luz. Velhos garrafões de plástico e rolos de corda estavam empilhados no chão. Greer foi baixando os garrafões. Só quando chegaram ao fundo Carter se mexeu. Enquanto seguia de quatro na direção do sangue, Greer soltou a corda, fechou a escotilha e recolocou os parafusos de segurança.
Agora Amy.
Foi até a segunda escotilha. O truque era se mover rápido, mas não a ponto de ser imprudente. O cheiro de sangue: para Amy ele não podia ser contido por algo tão fraco quanto a fina membrana de plástico dos garrafões; sua fome era forte demais. Greer pôs os suprimentos ao alcance das mãos, desatarraxou os parafusos e os deixou de lado. Respirou fundo para acalmar os nervos; depois abriu a escotilha.
Sangue.
Ela saltou. Lucius largou as jarras, fechou a escotilha com um estrondo e enfiou o primeiro parafuso no lugar enquanto o corpo de Amy fazia contato. O metal retiniu como se tivesse sido acertado por um martelo gigante. Ele se jogou em cima; outro golpe chegou, tirando o fôlego de seu peito. As dobradiças estavam amassando; a menos que ele conseguisse colocar o resto dos parafusos no lugar, a escotilha não aguentaria. Tinha conseguido colocar mais dois nos buracos quando Amy golpeou de novo; Greer olhou impotente enquanto um parafuso se soltava e rolava pelo convés. Estendeu a mão e agarrou-o, quase fora de alcance.
– Amy – gritou ele. – Sou eu! Lucius!
Em seguida, pôs o parafuso no lugar e bateu nele com a cabeça da chave inglesa, encaixando-o.
– O sangue está aí! Siga o cheiro do sangue!
Três voltas da chave e o parafuso travou, refazendo o alinhamento do quarto buraco. Greer enfiou o respectivo parafuso no lugar. Uma última pancada na parte de baixo da escotilha, não muito forte; e pronto.
Lucius, não foi por querer...
– Tudo bem – disse ele.
Sinto muito...
Ele pegou as ferramentas e as colocou na sacola vazia. Embaixo, no porão do Chevron Mariner, Amy e Carter estavam bebendo. Era sempre assim; Greer já deveria estar acostumado. Mas seu coração martelava, a mente e o corpo voando com adrenalina.
– Sou seu, Amy – disse ele. – Sempre serei. Não importa o que vier, você sabe disso.
E com essas palavras Lucius seguiu pelo convés do Mariner e voltou a subir pela janela.
SETE
Amy voltou à consciência e se viu de quatro na terra. Suas mãos estavam enluvadas; um saquinho de mudas de marias-sem-vergonha estava no chão ali perto, ao lado de uma pá de jardineiro.
– Tudo bem com você, Srta. Amy?
Carter estava sentado no pátio, as pernas dobradas sob a mesa de ferro fundido, abanando o rosto com seu grande chapéu de palha. Sobre a mesa havia dois copos de chá gelado.
– Aquele homem cuida bem de nós – disse ele, e suspirou satisfeito. – Não comia tanto assim havia muito tempo.
Amy se levantou, insegura. Uma lassidão profunda a envolvia, como se tivesse acabado de acordar de um longo cochilo.
– Venha se sentar um minuto – convidou Carter. – Dê ao corpo a chance de digerir. O dia de se alimentar é como um dia de folga aqui. As flores podem esperar.
E era verdade; sempre havia mais flores. Assim que Amy terminava de plantar um saco de sementes, um novo aparecia junto ao portão. Acontecia o mesmo com o chá: num minuto a mesa estava vazia; no outro, dois copos suados esperavam. Amy não sabia que atividade invisível fazia essas coisas chegarem. Tudo fazia parte desse lugar e de sua lógica específica. Todo dia uma estação, toda estação um ano.
Ela tirou as luvas e cruzou o gramado, sentando-se diante de Carter. O gosto gorduroso de sangue se demorava na boca. Tomou o chá para afastá-lo.
– É bom manter as forças, Srta. Amy – disse Carter. – Não há prêmio em passar fome.
– Eu só não... gosto disso.
Ela olhou para Carter, que ainda se abanava com o chapéu.
– Tentei matá-lo de novo.
– Lucius conhece muito bem a situação. Duvido que ele leve para o lado pessoal.
– Não é esse o ponto, Anthony. Preciso aprender a controlar isso como você.
Carter franziu a testa. Era um homem de expressões sutis, gestos pequenos, pausas pensativas.
– Não seja tão dura com você mesma. Você só teve três anos para se acostumar com as coisas. Ainda é um bebê, no sentido de ser o que somos.
– Não me sinto um bebê.
– Como se sente, então?
– Um monstro.
Ela falou com rispidez. Desviou os olhos, com vergonha. Depois de se alimentar, sempre passava por um período de dúvida. Como tudo aquilo era estranho: era um corpo num navio, mas sua mente vivia ali, com Carter, no meio das plantas e flores. Só quando Lucius trazia o sangue esses dois mundos se tocavam, e o contraste era desorientador. Carter havia explicado que este lugar não era especificamente dos dois; a diferença era que eles podiam vê-lo. Havia um mundo, de carne, sangue e osso, mas também havia outro – uma realidade mais profunda que as pessoas comuns só podiam vislumbrar, se é que chegavam a tanto. Um mundo de almas, tanto vivas quanto mortas, onde o tempo e o espaço, a memória e o desejo existiam num estado puramente fluido, como nos sonhos.
Amy sabia que era verdade. Como se sempre tivesse sabido – mesmo quando era menina, uma menina puramente humana, sentira a existência desse outro lugar, esse mundo atrás do mundo, como tinha passado a chamá-lo. Achava que acontecia o mesmo com muitas crianças. O que era a infância, senão uma passagem da luz para a escuridão, o lento afogamento da alma num oceano de matéria comum? Durante o tempo passado no Chevron Mariner, boa parte do passado tinha ficado clara. Lembranças vívidas tinham se arrastado de volta, aproximando-se com os delicados pés da memória, até que coisas que haviam ocorrido muito tempo antes no passado pareciam acontecimentos recentes. Lembrava-se de um tempo, muito longínquo, no período inocente em que pensava como sendo “antes” – antes de Lacey e Wolgast, antes do Projeto Noé, antes da montanha no Oregon onde tinham feito um lar e depois suas longas perambulações solitárias num mundo despovoado, tendo apenas os virais como companhia –, quando os animais haviam falado com ela. Animais maiores, como cães, mas também os pequenos, aos quais ninguém prestava atenção – pássaros e até mesmo insetos. Na ocasião não pensara nada sobre isso; era simplesmente como as coisas eram. Tampouco a incomodava o fato de mais ninguém parecer ouvi-los; era parte do arranjo do mundo os animais falarem apenas com ela, sempre se dirigindo a ela pelo seu nome, como se fossem velhos amigos, contando histórias da vida, e ela ficava feliz em receber esse presente especial que era a atenção deles, quando tantas outras coisas em sua vida pareciam não fazer sentido: as emoções intensas e as longas ausências da mãe, o fato de irem de um lugar para o outro, os estranhos que iam e vinham sem objetivo aparente.
Tudo isso havia continuado sem maiores repercussões até o dia em que Lacey a levara ao zoológico. Na ocasião, Amy ainda não entendia completamente que sua mãe a havia abandonado – que jamais iria vê-la de novo – e tinha gostado do convite; tinha ouvido falar de zoológicos, mas nunca estivera em um deles. Entrara e fora recebida por um zumbido de boas-vindas animais. Depois dos acontecimentos confusos do dia anterior – a partida abrupta da mãe e a presença das freiras, que eram boas mas de um modo ligeiramente afetado, como se recitassem as gentilezas seguindo um cartão de instruções –, havia ali um conforto conhecido. Num jorro de energia, ela se soltara de Lacey e correra até o tanque do urso-polar. Havia três deles se esquentando ao sol; um quarto nadava embaixo d’água. Como eram magníficos, como eram incríveis! Mesmo agora, tantos anos depois, ela sentia prazer em lembrar. O pelo branco, maravilhoso, os grandes corpos musculosos e os rostos expressivos, que pareciam conter toda a sabedoria do Universo. Enquanto Amy se aproximava do vidro, o urso que estava na água nadara até ela. Mesmo sabendo que seria melhor que sua comunicação com as criaturas do mundo natural acontecessem em particular, ela não conseguia conter a empolgação. Sentira uma pena súbita por uma criatura tão imponente ser obrigada a viver como prisioneira, pegando sol em pedras falsas e sendo observada por pessoas que não a apreciavam.
– Qual é o seu nome? – perguntara ao urso. – Eu sou Amy.
A resposta dele fora uma colisão de consoantes incompatíveis, assim como eram os nomes dos outros ursos, que ele revelara com cortesia. Essas coisas eram reais? Será que ela, uma menininha, simplesmente as teria imaginado? Mas não; acreditava que tudo tinha acontecido exatamente como recordava. Enquanto estava junto ao vidro, Lacey se aproximara dela. Tinha uma expressão de preocupação profunda.
– Amy, não tão perto – aconselhara Lacey.
Para afastar a inquietação da fera, e porque Amy havia detectado naquela mulher gentil de sotaque melodioso uma abertura para fenômenos extraordinários (afinal de contas o zoológico tinha sido ideia dela), explicara a situação do modo mais simples que pudera.
– Ele tem um nome de urso – dissera a Lacey. – É uma coisa que eu não consigo pronunciar.
Lacey franzira a testa.
– O urso tem nome?
– Claro que tem.
Amy voltara a atenção para o novo amigo, que batia com o focinho no vidro. Amy estava a ponto de lhe perguntar sobre sua vida, se ele sentia falta do lar no Ártico, quando a água foi sacudida por um espadanar tremendo. Um segundo urso havia saltado no tanque. Com patas grandes como calotas de carro, ele nadou até ela, ocupando o lugar ao lado do primeiro, que estava lambendo o vidro com sua imensa língua rosada. Uma exalação coletiva de ohs e ahs brotou nos visitantes; as pessoas começaram a tirar fotos. Amy pôs a mão no vidro, cumprimentando, mas alguma coisa parecia errada. Havia algo diferente, e não era muito bom. Os grandes olhos pretos do urso pareciam não estar olhando para ela, e sim através dela, com uma intensidade tamanha que ela não conseguia virar a cabeça. Sentiu-se dissolvendo naquilo, como se estivesse derretendo, e com isso veio uma sensação de queda, como colocar o pé num degrau que não estava lá.
Amy, estavam dizendo os ursos. Você é Amy, Amy, Amy, Amy, Amy...
Coisas estavam acontecendo. Algum tipo de comoção. Enquanto a percepção de Amy se ampliava, ela percebeu outros sons, outras vozes, vindo de toda a volta – não eram humanas, e sim de animais. Gritos de macacos. Pios esganiçados de aves. Rugidos de felinos selvagens e cascos de elefantes e rinocerontes batendo no chão em pânico. Enquanto o terceiro urso e depois o quarto saltavam no tanque, deslocando seu conteúdo com seu enorme peso coberto de pelos brancos, uma parede de água gélida passou por cima da borda. Despencou sobre a multidão, provocando um enorme alvoroço.
É ela, é ela, é ela, é ela, é ela...
Amy estava ajoelhada ao lado do vidro, encharcada até os ossos, a cabeça curvada para a superfície escorregadia. Sua mente fazia redemoinhos junto com as vozes, um coro de pavor negro. Ela sentia como se o Universo estivesse se dobrando ao redor, envolvendo-a em escuridão. Eles morreriam, todos esses animais. Era o que sua presença significava para eles. Os ursos, macacos, pássaros e elefantes: todos. Alguns morreriam de fome nas jaulas; outros pereceriam por meios mais violentos. A morte levaria todos, e não somente os animais. As pessoas também. O mundo morreria ao redor dela, e ela seria deixada no centro, sozinha.
Está vindo, a morte está vindo, você é Amy, Amy, Amy...
– Está lembrando, não é?
A mente de Amy voltou ao pátio. Carter olhava diretamente para ela.
– Desculpe. Não queria ser grossa com você.
– Tudo bem. Senti a mesma coisa, no início. Demorei até me acostumar.
A sensação de verão havia sumido; o outono viria logo. Na água verde-azulada da piscina, o corpo de Rachel Wood subiria. Às vezes, quando estava cuidando das flores perto do portão, Amy via o Denali preto da mulher passando lentamente. Através das janelas de vidro fumê, via Rachel em sua roupa de tênis, olhando a casa. Mas o carro nunca parava e, quando Amy acenava para ela, a mulher jamais lhe acenava em resposta.
– Quanto tempo você acha que ainda vamos ter de esperar?
– Depende de Zero. Ele vai ter de se revelar cedo ou tarde. Pelo que ele imagina, eu morri junto com os outros.
Era a água que os protegia, tinha explicado Carter. Seu abraço frio era algo em que a mente de Fanning não podia penetrar. Enquanto eles permanecessem onde estavam, Fanning não poderia encontrá-los.
– Mas ele virá – disse Amy.
Carter confirmou com a cabeça.
– Ele já esperou um bocado, mas quer resolver isso logo. É o que ele queria desde o início. Tudo acabado.
O vento estava aumentando – um vento de outono, úmido e cru. Nuvens tinham chegado, despojando a luz. Era a hora do dia em que um certo silêncio sempre baixava.
– Somos uma dupla e tanto, hein?
– Somos sim, Srta. Amy.
– Eu estava imaginando se você poderia parar com essa coisa de “senhorita”. Eu deveria ter dito isso há muito tempo.
– Só quero ser respeitoso. Mas, já que está pedindo, eu gostaria disso.
As folhas estavam caindo e girando. Flutuavam pelo gramado, pelo pátio, pelo deque da piscina, balançando ao vento como mãos esqueléticas. Amy pensou em Peter, em como sentia falta dele. Onde quer que ele estivesse agora, esperava que tivesse uma vida feliz. Esse era o preço que ela havia pagado; abrira mão dele.
Tomou um último gole de chá para afastar o gosto de sangue da boca e calçou as luvas.
– Pronto?
– Vamos lá.
Carter pôs o chapéu.
– É melhor cuidarmos dessas folhas.
OITO
– Michael!
Sua irmã deu os últimos dois passos correndo e o envolveu num abraço que esmagou suas costelas.
– Epa. Também estou feliz em ver você.
A enfermeira atrás do balcão olhava para eles, mas Sara não pôde se conter.
– Não acredito – disse. – O que você está fazendo aqui?
Deu um passo para trás e olhou-o com expressão maternal. Parte dele ficou sem graça; outra parte ficaria desapontada se ela não tivesse feito isso.
– Meu Deus, você está magro. Quando chegou? Kate vai ficar empolgada.
Ela olhou para a enfermeira, uma mulher mais velha usando jaleco engomado.
– Wendy, este é o meu irmão, Michael.
– O do veleiro?
Ele gargalhou.
– O próprio.
– Por favor, diga que vai ficar – pediu Sara.
– Só uns dois dias.
Ela balançou a cabeça e suspirou.
– Acho que vou ter de aceitar.
Sara apertava o braço de Michael como se ele pudesse flutuar para longe.
– Vou sair daqui a uma hora. Não vá a lugar nenhum, certo? Conheço você, Michael. Estou falando sério.
Ele a esperou e, juntos, caminharam até o apartamento. Como era estranho estar de novo em terra firme, com a desconcertante imobilidade sob os pés. Depois de três anos praticamente sozinho, o zumbido de tantos seres humanos apinhados parecia algo que arranhava a pele. Fez o máximo que pôde para esconder a agitação, acreditando que isso iria passar, mas também se perguntou se o tempo no mar teria provocado uma mudança fundamental em seu temperamento, que iria impedi-lo de voltar a viver entre pessoas.
Com uma pontada de culpa, notou como Kate havia mudado. A criança que existira nela havia sumido; até os cachos tinham se alisado. Ele e Hollis brincaram com ela enquanto Sara preparava a comida. Quando o jantar terminou, Michael a levou para a cama, para contar uma história. Não era uma história de livro: Kate exigiu algo da vida real, uma história de suas aventuras no mar.
Ele escolheu a da baleia. Era algo que havia acontecido uns seis meses antes, longe, no golfo. Era tarde da noite, a água estava calma e reluzente sob a lua cheia quando seu barco começara a se levantar, como se o mar estivesse subindo. Um volume escuro emergira a bombordo. A princípio ele não compreendera o que era. Tinha lido sobre baleias, mas nunca tinha visto uma, e suas ideias sobre as dimensões da criatura eram vagas. Como uma coisa tão grande poderia estar viva? Enquanto a baleia rompia lentamente a superfície, um jato de água saltara de sua cabeça; a criatura rolara preguiçosamente de lado, uma barbatana enorme surgindo nítida. Os flancos, brilhantes e pretos, estavam incrustados de cracas. Michael ficara espantado demais para sentir medo; só mais tarde lhe ocorrera que, com uma batida da cauda, a baleia poderia ter despedaçado seu barco.
Kate o encarava com os olhos arregalados.
– O que aconteceu?
Bom, continuou Michael, isso é que foi engraçado. Ele havia esperado que a baleia seguisse em frente, mas não foi isso que aconteceu. Durante quase uma hora, ela nadara ao lado do Nautilus. Ocasionalmente enfiava a cabeça enorme embaixo da superfície e reaparecia instantes depois com um jato saindo do buraco de respiração, como um grande espirro molhado. Então, enquanto a lua se punha, a criatura afundara e não voltara a reaparecer. Michael esperara. Será que finalmente ela tinha ido embora? Vários minutos se passaram; ele começara a relaxar. Então, com uma explosão de água do mar, ela empinara à frente da proa, a estibordo, lançando o corpo enorme no ar. Segundo Michael, tinha sido como ver uma cidade subir no céu. Está vendo o que consigo fazer? Não mexa comigo, irmão. Ela se chocara de volta na água causando uma segunda detonação que o lançara contra a amurada e o deixara encharcado. Nunca mais a vira.
Kate estava sorrindo.
– Entendi. Ela estava curtindo com a sua cara.
Michael gargalhou.
– É provável que sim.
Deu-lhe um beijo de boa-noite e voltou à sala, onde Hollis e Sara estavam tirando o resto dos pratos. A eletricidade tinha sido cortada para a noite; um par de velas tremeluzia na mesa, soltando fios oleosos de fumaça.
– Ela é uma garota e tanto.
– O crédito é do Hollis – disse Sara. – Fico tão ocupada no hospital que às vezes acho que mal a vejo.
Hollis riu.
– É verdade.
– Espero que um colchão no chão sirva – explicou Sara. – Se eu soubesse que você vinha, poderia ter pegado uma cama de verdade no hospital.
– Está brincando? Geralmente eu durmo sentado. Nem tenho certeza se ainda durmo.
Sara estava limpando o fogão com um pano. Com um pouco de agressividade de mais – Michael podia sentir a frustração dela. Era uma conversa antiga.
– Olha – disse ele. – Não precisa se preocupar comigo. Estou bem.
Ela soltou o ar com força.
– Hollis, fale com ele. Sei que não vou chegar a lugar nenhum.
O homem deu de ombros, impotente.
– O que você quer que eu diga?
– Que tal “As pessoas te amam, pare de tentar ser morto”?
– Não é assim – observou Michael.
– O que Sara está tentando dizer – explicou Hollis – é que todos nós esperamos que você esteja tendo cuidado.
– Não, não é só isso que eu estou dizendo – falou Sara e então olhou para Michael. – É a Lore? Esse é o motivo?
– Lore não tem nada a ver com isso.
– Então diga, porque eu gostaria mesmo de entender, Michael.
Como poderia explicar? Seus motivos eram tão confusos que ele não conseguia montá-los a ponto de formarem um argumento.
– Simplesmente parece certo. É tudo o que posso dizer.
Ela voltou a esfregar o fogão com zelo excessivo.
– Então parece que você deve ficar me matando de medo.
Michael estendeu a mão para ela, mas Sara o afastou.
– Sara...
– Não.
Ela se recusou a olhar para ele.
– Não diga que está tudo bem. Por favor, não diga que está tudo bem. Droga, eu disse a mim mesma que não faria isso. Preciso acordar cedo.
Hollis foi para trás dela. Pôs uma das mãos em seu ombro e a outra no trapo, fazendo-a parar e tirando-o suavemente da mão da mulher.
– Já falamos disso. Você precisa deixá-lo em paz.
– Ah, olha só você. Provavelmente acha isso fantástico.
Sara tinha começado a chorar. Hollis fez com que ela se virasse e puxou-a. Olhou por cima do ombro dela, para Michael, que estava de pé, sem jeito, perto da mesa.
– Ela só está cansada, só isso. Será que você pode nos dar um minuto?
– Claro.
– Obrigado, Michael. A chave está ao lado da porta.
Michael saiu do apartamento e do conjunto residencial. Sem ter para onde ir, sentou-se no chão perto da entrada, onde ninguém iria incomodá-lo. Não se sentia tão mal havia muito tempo. Sara sempre fora preocupada, mas ele não gostava de perturbá-la; era um dos motivos para ir tão raramente à cidade. Gostaria de deixá-la feliz – encontrar alguém com quem se casar, acomodar-se em um emprego, como todo mundo, ter filhos. Sua irmã merecia alguma paz de espírito depois de tudo o que tinha feito, depois de ter cuidado dele após a morte dos pais, embora também fosse apenas uma criança. Tudo o que eles faziam e diziam um ao outro continha esse fato implícito. Se as coisas tivessem acontecido de modo diferente, eles poderiam ser como qualquer outro casal de irmão e irmã, a importância de um para o outro esvaindo-se no tempo à medida que novas conexões assumissem precedência. Mas com eles não era assim. Novas pessoas podiam ocupar o palco, mas sempre haveria no coração dos dois um espaço onde apenas eles residiam.
Quando sentiu que tinha esperado um tempo adequado, Michael voltou ao apartamento. As velas estavam apagadas; Sara tinha deixado um colchão e um travesseiro para ele. Michael se despiu no escuro e se deitou. Só então notou o bilhete que Sara deixara encostado em sua mochila. Acendeu uma vela e leu.
Desculpe. Te amo. Estou de olho. S
Apenas três frases, mas ele só precisava disso. Eram as mesmas que vinham dizendo um ao outro todos os dias de suas vidas.
Acordou com o rosto de Kate a centímetros do seu.
– Tio Michael, acorde!
Ele se apoiou nos cotovelos. Hollis estava junto à porta.
– Desculpe. Falei para ela deixar você em paz.
Michael demorou um instante para se orientar. Não estava acostumado a dormir até tão tarde. Não estava acostumado a dormir.
– Sara está aqui?
– Saiu há horas.
Ele chamou a filha.
– Ande, vamos chegar atrasados.
Kate revirou os olhos.
– Papai morre de medo das irmãs.
– Seu pai é um homem inteligente. Aquelas senhoras me dão calafrios.
– Michael – disse Hollis –, você não está ajudando.
– Tudo bem.
Ele olhou para a menina.
– Faça o que o seu pai está mandando, querida.
Kate o surpreendeu com um abraço súbito, forte.
– Você vai estar aqui quando eu voltar?
– Claro que vou.
Ouviu os passos deles descendo a escada. Era preciso admitir a força da garota. Pura chantagem emocional, mas o que ele podia fazer? Vestiu-se e lavou o rosto na pia. Sara tinha deixado pãezinhos para o café da manhã, mas ele não estava com fome de verdade. Poderia arranjar alguma coisa mais tarde, se precisasse, caso sentisse vontade de comer.
Pegou a mochila e saiu.
Sara estava terminando a ronda matinal quando uma enfermeira a chamou. Foi até a recepção e encontrou a irmã Peg parada junto ao balcão.
– Irmã, olá.
A irmã Peg era uma daquelas pessoas que alteram qualquer ambiente em que entram, apertando cada parafuso. Ninguém sabia sua idade – teria pelo menos 60 anos, mas diziam que estava com a mesma aparência havia uns vinte anos. Uma figura de rabugice lendária, mas Sara sabia que não era bem assim. Por baixo do exterior sério havia uma mulher totalmente dedicada às crianças sob seus cuidados.
– Posso trocar uma palavrinha com você, Sara?
Instantes depois, iam para o orfanato. À medida que se aproximavam, Sara ouvia os gritos das crianças. O recreio da manhã estava em plena carga. Entraram pelo portão do jardim.
– Dra. Sara! Dra. Sara!
Sara não tinha dado cinco passos no pátio quando as crianças vieram com tudo. Elas a conheciam bem, mas Sara sabia que parte da empolgação era a presença de qualquer visitante. Soltou-se com promessas de ficar mais tempo da próxima vez e acompanhou a irmã Peg para dentro do prédio.
A menina estava sentada à mesa na salinha que Sara usava para os exames. Seus olhos se ergueram assim que Sara entrou. Podia ter 12 ou 13 anos; era difícil dizer, por causa das camadas de sujeira. Usava um vestido de aniagem imundo, amarrado sobre um dos ombros; os pés, enegrecidos de sujeira e cobertos de cascas de ferida, estavam descalços.
– A Segurança Doméstica a trouxe ontem, tarde da noite – disse a irmã Peg. – Não falou nem uma palavra.
A menina fora apanhada tentando invadir um armazém do governo. Sara podia ver por quê: ela parecia esfomeada.
– Olá, sou a Dra. Sara. Pode dizer seu nome?
A menina, olhando Sara atentamente por baixo dos cabelos embolados, não respondeu. Os olhos – a única parte do corpo que já havia se mexido – se viraram cautelosos para a irmã Peg, depois de volta para Sara.
– Tentamos descobrir quem são os pais dela – disse a irmã Peg. – Mas não há registros de ninguém procurando por ela.
Sara supôs que não haveria mesmo. Tirou o estetoscópio da bolsa e mostrou à garota.
– Vou escutar o seu coração, tudo bem?
Nenhuma palavra, mas os olhos da menina disseram que ela podia. Sara tirou a lateral amarrada do vestido de cima do ombro. Ela era magra feito um graveto, mas os seios tinham começado a aparecer. Com a sensação do disco frio na pele, ela se encolheu ligeiramente.
– Sara, você deveria ver isto.
A irmã Peg estava espiando as costas da menina. Estava coberta de queimaduras e marcas de chicotadas. Algumas eram antigas, outras ainda soltavam líquido. Sara tinha visto isso antes, mas jamais assim.
Olhou para a menina.
– Querida, pode me dizer quem fez isso com você?
– Acho que ela não sabe falar – observou a irmã Peg.
Sara tinha começado a entender a situação. A garota deixou que ela lhe tocasse o queixo. Sara passou a outra mão ao lado do ouvido direito da menina. Estalou o dedo três vezes; a garota não reagiu. Trocou de mãos para testar o outro ouvido. Nada. Olhando nos olhos da menina, Sara apontou para seu próprio ouvido e balançou a cabeça lentamente, querendo dizer “não”. A menina confirmou com a cabeça.
– É porque ela é surda.
Então aconteceu algo surpreendente. A garota pegou a mão de Sara. Com o indicador, começou a desenhar uma série de linhas na palma virada para cima. Não eram linhas, percebeu Sara. Eram letras. P.I.M.
– Pim – disse Sara.
Em seguida olhou para a irmã Peg, depois de volta para a menina.
– Pim... é o seu nome?
Ela assentiu. Sara pegou a palma da mão da garota. SARA, escreveu, e apontou para si mesma.
– Sara – falou, em seguida levantou os olhos. – Irmã, pode me arranjar alguma coisa para escrever?
A irmã Peg saiu da sala, voltando instantes depois com uma das lousas que as crianças usavam nas aulas.
ONDE ESTÃO SEUS PAIS?, escreveu Sara.
Pim pegou a lousa. Apagou as palavras de Sara com a palma da mão, depois pegou o giz desajeitadamente.
MOREU
QUANDO?
MÃE DEPOIS PAI MUNTO TEMPO
QUEM MACHUCOU VOCÊ?
HOME
QUE HOMEM?
NUM SEI FOI IMBORA
A pergunta seguinte lhe doía, mas precisava ser feita.
ELE MACHUCOU VOCÊ EM OUTRO LUGAR?
A menina hesitou, depois assentiu. O coração se Sara se encolheu.
ONDE?
Pim pegou a lousa.
LUGAR DE MENINA
Sem afastar os olhos da garota, Sara disse:
– Irmã, pode nos dar um minuto?
Quando a irmã Peg saiu, Sara escreveu:
MAIS DE UMA VEZ?
A menina confirmou.
PRECISO OLHAR. VOU TER CUIDADO.
O corpo inteiro de Pim se retesou. Ela balançou a cabeça vigorosamente.
POR FAVOR, escreveu Sara. PRECISO VER SE VOCÊ ESTÁ BEM.
Pim pegou a lousa e escreveu rapidamente.
MINHA CUPA PROMETI NÃO CONTAR
NÃO. NÃO É SUA CULPA.
PIM RUIM
Sara não sabia se queria chorar ou vomitar. Tinha visto algumas coisas na vida – coisas terríveis –, e não somente na Pátria. Não era possível andar pelos corredores dos hospitais sem encontrar o pior da natureza humana. Uma mulher com o pulso quebrado e a desculpa de que havia caído da escada, recitando como isso havia acontecido enquanto o marido a vigiava, instruindo-a com os olhos. Um velho com desnutrição avançada largado à porta pelos parentes. Uma prostituta do Dunk, com o corpo devastado pela doença e pelo mau uso, segurando um punhado de austins para se livrar do bebê que estava em sua barriga e assim poder voltar ao trabalho. Era preciso endurecer o coração, porque não havia outro modo de chegar ao fim do dia, mas o pior eram as crianças. As crianças de quem você não podia desviar o olhar. No caso de Pim, não era difícil reconstruir a história. Os pais mortos, alguém tinha se oferecido para pegar a menina, um parente ou vizinho, todo mundo pensando como a pessoa era gentil e generosa, assumindo a responsabilidade por aquela pobre órfã que não ouvia nem falava, e depois disso ninguém se incomodava em verificar.
– Não, querida, não.
Sara pegou as mãos de Pim e a olhou nos olhos. Havia uma alma ali dentro, minúscula, aterrorizada, descartada pelo mundo. Não havia ninguém mais sozinha na face da Terra, e Sara entendia o que era pedido a ela, simplesmente por ser humana.
Nem mesmo Hollis conhecia a história. Não que Sara tivesse medo de contar a ele; sabia o tipo de homem que ele era. Mas o silêncio era uma decisão que havia tomado muito tempo atrás. Na Pátria, diziam, todo mundo tinha sua vez, e a de Sara tinha vindo no devido tempo. Ela havia suportado do melhor modo possível e, quando terminara, imaginara uma caixa feita de aço com uma fechadura forte. Depois, pegara a lembrança e colocara lá dentro.
Pegou a lousa e escreveu:
ALGUÉM TAMBÉM ME MACHUCOU ALI UMA VEZ.
A menina examinou a lousa com a mesma expressão resguardada. Talvez dez segundos tivessem se passado. Ela pegou o giz de novo.
SEGREDO?
VOCÊ É A ÚNICA PESSOA A QUEM CONTEI.
O rosto da menina estava mudando. Alguma coisa se soltava.
Sara escreveu:
NÓS SOMOS IGUAIS. SARA É BOA. PIM É BOA. NÃO É NOSSA CULPA.
Uma película de lágrimas apareceu na superfície dos olhos da menina. Uma única gota se esgueirou por cima da barreira e escorreu pelo rosto, abrindo um rio na sujeira. Seus lábios estavam fechados; os músculos do pescoço e do maxilar ficaram tensos, depois começaram a tremer. Um som novo e estranho penetrou na sala. Era uma espécie de rosnado, como o de um animal. Parecia algo que lutava para sair.
E então saiu. A garota abriu a boca e soltou um uivo que pareceu despedaçar a própria ideia de linguagem humana, destilando-a numa única vogal de dor. Sara a envolveu num abraço apertado. Pim estava uivando, tremendo, lutando para se soltar, mas Sara não deixou.
– Tudo bem – disse. – Não vou soltar você, não vou soltar você.
E segurou-a assim até que a menina ficou quieta de novo, e permaneceu abraçando-a durante um longo tempo.
NOVE
O prédio do governo, abrigado no que fora um dia o Banco do Texas – o nome ainda estava gravado na fachada de calcário do prédio –, ficava a pouca distância da escola. Uma lista no saguão indicava os vários departamentos: Autoridade Habitacional, Saúde Pública, Agricultura e Comércio, Impressão e Gravura. A sala de Sanchez ficava no segundo andar. Peter subiu a escada, que dava numa segunda área aberta com uma mesa, atrás da qual estava um policial da Segurança Doméstica usando um uniforme estranhamente limpo. Peter de repente ficou sem graça ao se ver usando as velhas roupas de trabalho, carregando uma sacola cheia de ferramentas e pregos.
– Posso ajudar?
– Vim ver a presidente Sanchez. Tenho hora marcada.
– Nome?
O olhar do sujeito tinha voltado à mesa; estava preenchendo algum tipo de formulário.
– Peter Jaxon.
Foi como se uma luz se acendesse no rosto do sujeito.
– Você é o Jaxon?
Peter inclinou a cabeça.
– Minha nossa!
O sujeito simplesmente ficou sentado, encarando-o desajeitadamente. Fazia algum tempo que Peter não via esse tipo de reação. Por outro lado, hoje em dia ele raramente conhecia alguma pessoa nova. Na verdade, nunca.
– Será que você poderia avisar a alguém? – disse Peter finalmente.
– Está certo – falou o policial e se levantou. – Só um segundo. Vou dizer a eles que o senhor chegou.
Peter notou a palavra “eles”. Quem mais estaria na reunião? Aliás, por que ele estava ali, afinal de contas? Ao longo das horas em que ficara pensando no bilhete da presidente, não conseguira deduzir nada. Talvez fosse como Caleb havia sugerido e eles realmente o quisessem de volta no Exército. Nesse caso seria uma conversa curta.
– Pode vir agora mesmo, Sr. Jaxon.
O policial pegou a bolsa de ferramentas de Peter e o guiou por um corredor comprido. A porta de Sanchez estava aberta. Ela se levantou de trás da mesa quando Peter entrou: era uma mulher pequena, com o cabelo quase todo branco, feições afiadas e olhar forte. Uma segunda pessoa, um homem de barba cerrada e eriçada, estava sentado diante dela. Parecia familiar, mas Peter não conseguiu identificá-lo.
– Sr. Jaxon, fico feliz em vê-lo – falou Sanchez, que contornou a mesa e lhe estendeu a mão.
– Senhora presidente. É uma honra.
– Por favor – disse ela –, me chame de Vicky. Deixe-me apresentar Ford Chase, meu chefe do estado-maior.
– Creio que já nos conhecemos, Sr. Jaxon.
Agora Peter lembrava: Chase estivera no inquérito após a destruição da ponte na estrada do Petróleo. A lembrança era desagradável; ele havia sentido uma aversão instantânea pelo sujeito. Para completar a desconfiança de Peter, Chase estava usando gravata, o item de vestimenta mais incompreensível da história do mundo.
– E, claro, você conhece o general Apgar – disse Sanchez.
Peter se virou e viu seu antigo comandante levantando-se do sofá. Gunnar tinha envelhecido um pouco, o cabelo curto ficara grisalho, a testa com rugas mais fundas. Uma pequena pança forçava os botões do uniforme. A ânsia de prestar continência foi forte, mas Peter a conteve e os dois trocaram um aperto de mãos.
– Parabéns pela promoção, senhor.
Sem surpresa nenhuma para qualquer um que tivesse servido com ele, Apgar fora nomeado general do Exército após a saída de Fleet.
– Eu me arrependo diariamente. Mas me diga: como vai o seu garoto?
– Bem, senhor. Obrigado por perguntar.
– Se eu quisesse que você me chamasse de “senhor”, não teria aceitado que se reformasse. Que é o meu segundo maior arrependimento, por sinal. Eu deveria ter lutado mais um pouco.
Peter gostava de Gunnar; a presença do sujeito o deixou à vontade.
– Isso não faria nenhum bem a você.
Sanchez os levou a uma pequena área de estar, com sofá e duas poltronas de couro em volta de uma mesinha com tampo de pedra, sobre a qual havia um comprido tubo de papel. Pela primeira vez Peter teve a chance de olhar o ambiente ao redor: uma parede forrada de livros, uma janela sem cortina, uma mesa lascada com pilhas de papel. Atrás dela havia um mastro com a bandeira do Texas, o único objeto cerimonial. Peter ocupou uma poltrona, virado para Sanchez. Apgar e Chase sentaram-se ao lado.
– Para começar, Sr. Jaxon – disse Sanchez –, tenho certeza de que está se perguntando por que pedi que viesse me ver. Eu gostaria de lhe pedir um favor. Para colocar as coisas em contexto, deixe-me lhe mostrar uma coisa. Ford?
Chase desenrolou o papel sobre a mesa e pôs pesos nos cantos. Era um mapa topográfico: Kerrville estava no centro, com os muros e as linhas de perímetro claramente delineados. A oeste, ao longo do Guadalupe, três grandes áreas estavam bloqueadas com linhas cruzadas, cada qual com uma anotação: AA1, AA2, AA3.
– Correndo o risco de parecer grandiloquente, o que você está olhando é o futuro da República do Texas – disse Sanchez.
Chase explicou:
– AA significa “área de assentamento”.
– São as áreas mais lógicas para onde levar a população, pelo menos a princípio. Há água, solo arável nas partes baixas, terra boa para pastagem. Vamos prosseguir em estágios, usando um sistema de loteria para as pessoas que quiserem partir.
– E vai ser um bocado de gente – acrescentou Chase.
Peter levantou os olhos. Todo mundo estava esperando sua reação.
– Você não parece satisfeito – disse Sanchez.
Ele procurou as palavras.
– Acho... nunca pensei de verdade que esse dia chegaria.
– A guerra acabou – observou Apgar. – Três anos sem um único viral. Foi por isso que lutamos todos esses anos.
Sanchez estava inclinada para a frente. Havia algo tremendamente sedutor na mulher, uma força inegável. Peter tinha ouvido isso sobre ela – que teria sido uma grande beldade na juventude, com uma fila de um quilômetro de pretendentes –, mas experimentar a coisa era totalmente diferente.
– A história vai se lembrar de você, Peter, por tudo o que fez.
– Não fui só eu.
– Sei disso. Há parabéns mais do que suficientes para todos. E sinto muito por seus amigos. A capitã Donadio é uma perda enorme. E Amy, bom... – Ela fez uma pausa. – Vou ser honesta com você. As histórias sobre ela... eu nunca soube direito em que acreditar. Não sei se as entendo completamente agora. O que sei é que nenhum de nós estaria tendo essa conversa se não fosse por Amy e você. Foi você quem a trouxe para nós. É o que as pessoas sabem. E isso o torna muito importante. Pode-se dizer que não há ninguém como você.
Os olhos dela permaneceram fixos no rosto de Peter. Sanchez conseguia fazer parecer que os dois eram as únicas pessoas na sala.
– Diga, o que acha de trabalhar para a Autoridade Habitacional?
– É bom.
– E isso lhe dá a chance de criar seu garoto. Ficar perto dele.
Peter sentiu uma estratégia desdobrando-se. Assentiu.
– Eu não tive filhos – disse Sanchez, com certo pesar. – É um dos ônus do cargo. Mas entendo seus sentimentos. Portanto, deixe-me dizer imediatamente que sou sensível às suas prioridades. E nada do que vou propor interferirá nisso. Você estará presente para ele, assim como está agora.
Peter sabia perceber uma meia verdade.
– Estou ouvindo.
– O que acha, Peter, de entrar para a minha equipe?
A ideia era tão ridícula que ele quase gargalhou.
– Desculpe, senhora presidente...
– Por favor – interrompeu ela com um sorriso. – É Vicky.
Ele precisava admitir, ela era magistral.
– Há tanta coisa errada com a ideia que nem sei por onde começar. Apenas para início de conversa, não sou político.
– Não estou pedindo que seja. Mas você é um líder, e as pessoas sabem disso. Você é um bem valioso demais para ficar na lateral do campo. Abrir o portão não tem apenas a ver com criar mais espaço, ainda que isso seja tão necessário. Representa uma mudança fundamental no modo como fazemos praticamente tudo. Muitos detalhes precisam ser elaborados, mas dentro dos próximos noventa dias planejo suspender a lei marcial. Os Expedicionários serão chamados de volta dos territórios para ajudar com o reassentamento e vamos fazer a transição para um governo totalmente civil. É um ajuste enorme, dar um lugar à mesa a todo mundo, e vai ser complicado. Mas isso precisa acontecer, e este é o momento certo.
– Com o devido respeito, não vejo o que isso tem a ver comigo.
– Na verdade tem tudo a ver com você. Ou pelo menos espero que tenha. Sua posição é especial. Os militares o respeitam. O povo o ama, em especial as pessoas de Iowa. Mas estas são apenas duas pernas do tripé. A terceira é o comércio. Eles vão se esbaldar com isso. Tifty Lamont pode estar morto, mas seu relacionamento anterior com ele lhe dá acesso à cadeia de comando deles. Acabar com a atividade deles está fora de questão; não poderíamos nem se quiséssemos. O vício é um fato da vida – um fato feio, mas mesmo assim um fato. Você conhece Dunk Withers, não é?
Peter assentiu.
– Nós já nos encontramos.
– Mais do que se encontraram, se minhas fontes estão corretas. Ouvi falar da jaula. Foi um feito e tanto.
Ela estava se referindo ao primeiro encontro de Peter com Tifty em suas instalações subterrâneas ao norte de San Antonio. Como entretenimento catártico, membros da liderança do comércio enfrentavam virais em combates corpo a corpo e os outros apostavam no resultado. Dunk havia entrado primeiro na jaula, despachando um pateta com relativa facilidade, seguido por Peter, que enfrentara um drac totalmente desenvolvido para garantir o acordo feito com Tifty de acompanhá-los até Iowa.
– Na ocasião pareceu a coisa certa a fazer.
Sanchez sorriu.
– É esse o meu argumento. Você é um homem que faz o que precisa ser feito. Quanto a Dunk, infelizmente, não tem metade da inteligência de Lamont, e eu gostaria que tivesse. Nosso acordo com Lamont era simples. Ele dispunha do melhor equipamento militar que tínhamos visto em anos. Não poderíamos ter abastecido o Exército sem ele. Dissemos: mantenha o pior sob controle, mantenha o fluxo de armas e munições, e você pode prosseguir com seus negócios. Ele entendeu a razão de tudo isso, mas duvido que Dunk entenda. Ele é simplesmente oportunista e tem um lado feio.
– Então por que não colocá-lo na cadeia?
Sanchez deu de ombros.
– É uma possibilidade, e talvez tenhamos de fazer isso. O general Apgar acha que deveríamos prender todos eles, ocupar o bunker e os salões de jogatina e acabar com isso. Mas outra pessoa ocuparia o lugar antes que a tinta secasse, e estaríamos de volta à estaca zero. É um caso de oferta e demanda. A demanda existe; quem vai fornecer as mercadorias? As mesas de jogos, o alc, as prostitutas? Eu não gosto, mas preferiria lidar com algo conhecido, e por enquanto esse algo é Dunk.
– Então quer que eu fale com ele.
– É, no devido tempo. É importante conter o comércio. Assim como manter os militares e a população civil a bordo durante a transição. Você é o único homem que tem a confiança de todos os três. Ora, você provavelmente poderia ter o meu emprego, se quisesse. Não que eu deseje isso nem para o meu pior inimigo.
Peter teve a sensação inquietante de que já havia concordado com alguma coisa. Olhou para Apgar, cujo rosto dizia: Acredite, já passei por isso.
– O que, exatamente, está pedindo?
– Por enquanto, gostaria de nomeá-lo conselheiro especial. Um intermediário, por assim dizer, entre os envolvidos. Podemos pensar mais tarde num título mais específico. Mas quero você na frente, onde todo mundo possa vê-lo. Sua voz deve ser a primeira a ser ouvida pelas pessoas. E prometo que você vai estar em casa todo dia para jantar com seu garoto.
A tentação era real: bastava de dias sufocantes martelando. Mas, além disso, ele estava exausto. Alguma energia essencial o havia abandonado. Tinha feito bastante, e o que queria agora era uma vida calma e simples. Levar seu garoto à escola e um dia de trabalho honesto, colocar o garoto na cama à noite e passar oito horas doces num lugar totalmente diferente – o único onde ele havia sido realmente feliz.
– Não.
Sanchez levou um susto; não estava acostumada a negativas tão sucintas.
– Não?
– É isso aí. É a minha resposta.
– Sem dúvida há alguma coisa que eu possa dizer para fazê-lo mudar de ideia.
– Fico lisonjeado, mas esse problema tem de ser de outra pessoa. Sinto muito.
Sanchez não pareceu com raiva, estava meramente perplexa.
– Sei.
O sorriso cativante retornou.
– Bom, eu precisava perguntar.
Ela se levantou e os outros a acompanharam. Então foi a vez de Peter ficar surpreso; percebeu que tinha esperado que ela lutasse mais. Junto à porta, a presidente apertou sua mão, despedindo-se.
– Obrigada por ter vindo me ver, Peter. A oferta continua de pé, e espero que reconsidere. Você poderia fazer um bem enorme. Promete que vai pensar nisso?
Não parecia haver mal em concordar.
– Prometo.
– O general Apgar pode levá-lo até lá fora.
E foi isso. Peter ficou meio pasmo e se perguntou, como sempre acontece quando uma porta se fecha, se tinha feito a escolha certa.
– Peter, só mais uma coisa – disse Sanchez.
Ele se virou junto à porta. Ela havia retornado à mesa.
– Eu estava pensando em perguntar. Quantos anos tem seu garoto?
A pergunta pareceu bastante inofensiva.
– Dez.
– E o nome dele é Caleb, não é?
Peter confirmou com a cabeça.
– É uma idade maravilhosa. Toda a vida pela frente. Se pararmos para pensar, é pelas crianças que estamos realmente trabalhando, não é? Nós teremos partido há muito tempo, mas nossas decisões nos próximos meses vão determinar o tipo de mundo em que elas vão viver.
Ela sorriu.
– Bem, tem algo em que pensar, Sr. Jaxon. Obrigada de novo por ter vindo.
Peter saiu atrás de Gunnar. Na metade do corredor, ouviu o sujeito rindo baixinho.
– Ela é boa, não é?
– É – disse Peter. – É boa mesmo.
DEZ
Michael tinha três coisas na mochila. A primeira era o jornal. A segunda, uma carta.
Ele a havia encontrado no bolso do peito do uniforme do capitão. Não tinha nada escrito no envelope; o sujeito jamais pretendera enviá-la. A carta, com menos de uma página, era escrita em inglês.
Meu menino querido,
Agora sei que você e eu nunca iremos nos encontrar nesta vida. Nosso combustível praticamente acabou; a última esperança de chegar ao refúgio se foi. Ontem à noite a tripulação e os passageiros votaram. O resultado foi unânime. A morte por desidratação é um destino que ninguém deseja. Esta será a última noite que compartilhamos na Terra. Sepultados em aço seguiremos à deriva nas correntes até que o Deus todo-poderoso opte por nos levar ao fundo.
Obviamente não tenho esperança de que estas últimas palavras o alcancem. Só posso rezar para que você e sua mãe tenham sido poupados da devastação e sobrevivido de algum modo. O que me espera agora? O Santo Corão diz: “A Alá pertence o Mistério dos céus e da terra. E a Decisão da Hora do Julgamento é como um piscar de olhos, ou mais rápida ainda: pois Alá tem poder sobre todas as coisas.” Sem dúvida somos dele e a Ele retornaremos. Apesar de tudo o que aconteceu, tenho fé em que minha alma imortal irá para as mãos dele, e que quando finalmente nos conhecermos será no paraíso.
Meus últimos pensamentos em vida estão com você. Baraka Allahu fika.
Seu pai amoroso.
Nabil
Michael pensava nessas palavras enquanto andava pelas ruas da Cidade-H. Estava acostumado a cenas de abandono e devastação; tinha cruzado cidades arruinadas onde se viam milhares de esqueletos. Mas nunca antes os mortos haviam falado tão diretamente com ele. No alojamento do capitão, tinha encontrado o passaporte do sujeito. Seu nome completo era Nabil Haddad. Tinha nascido na Holanda, numa cidade chamada Utrecht, em 1971. Michael não encontrou mais evidências do menino na cabine – nem fotografias ou outras cartas –, mas o contato de emergência citado em seu passaporte era uma mulher chamada Astrid Keeble, com endereço em Londres. Talvez fosse a mãe do menino. Michael se perguntou o que teria acontecido entre os três, para o capitão jamais ter visto o filho. Talvez a mãe do menino não permitisse; talvez, por algum motivo, o sujeito não se considerasse digno. Mas tinha sentido a necessidade de escrever para ele, sabendo que dentro de algumas horas estaria morto e a carta não viajaria mais longe do que seu bolso.
Mas não era só isso que a carta dizia. O Bergensfjord estava indo a algum lugar; tinha tido um destino. Não “um refúgio”, mas “o refúgio”. Um porto seguro onde o vírus não poderia alcançá-lo.
Daí a terceira coisa que estava na mochila de Michael, e sua necessidade de encontrar o homem chamado de Maestro.
Se ele tinha nome, Michael não sabia. O Maestro também tinha o hábito de falar em frases perturbadoramente entrecortadas e sempre se referia a si mesmo na terceira pessoa; era necessário algum tempo para se acostumar. Era bastante velho, tinha uma compleição magra e espasmódica que o fazia parecer menos um homem e mais algum tipo de roedor superdesenvolvido. Fora engenheiro eletricista da Autoridade Civil; aposentado muito tempo atrás, tinha se tornado a pessoa certa a quem procurar em Kerrville para informações sobre antiguidades eletrônicas. Era maluco feito um pássaro engaiolado e um bocado paranoico, mas sabia fazer um antigo disco rígido confessar seus segredos.
O barracão do Maestro era inconfundível; era a única construção na Cidade-H com painéis solares no telhado. Michael bateu à porta com força e deu um passo atrás para a câmera; o Maestro queria dar uma boa olhada na pessoa antes. Um momento se passou, em seguida uma série de trancas pesadas se abriu.
– Michael.
Maestro estava parado numa pequena abertura da porta, usando avental de trabalho e uma viseira de plástico com lentes móveis.
– Olá, Maestro.
Os olhos do homem se viraram rapidamente para um lado e outro da rua.
– Depressa – disse, chamando Michael para dentro.
O interior do barracão parecia um museu. Computadores antigos, máquinas de escritório, osciloscópios, monitores de tela plana, enormes caixas com celulares e smartphones: ver tantos equipamentos sempre provocava um arrepio em Michael.
– Em que o Maestro pode ajudar?
– Tenho uma coisa antiga para você.
Michael tirou a terceira coisa da mochila. O velho a segurou e examinou rapidamente.
– Gensys 872HJS. Quarta geração, três terabytes. Final do período pré-guerra.
O homem levantou os olhos.
– Onde?
– Encontrei num navio abandonado. Preciso recuperar os arquivos.
– Uma olhada mais de perto, então.
Michael o acompanhou até uma das várias bancadas, onde ele pôs o disco rígido numa almofada de tecido e baixou as lentes da viseira. Com uma chave de fenda minúscula, tirou o invólucro e examinou as partes internas.
– Danos por umidade. Nada bom.
– Pode consertar?
– Difícil. Caro.
Michael tirou um maço de austins do bolso. O velho contou o dinheiro na bancada.
– Não basta.
– É o que eu tenho.
– O Maestro duvida. Um petroleiro feito você?
– Não mais.
Ele examinou o rosto de Michael.
– Ah. O Maestro lembra. Ouviu umas histórias malucas. Verdade?
– Depende do que você ouviu.
– Caçando a barreira. Velejando sozinho.
– Mais ou menos.
O velho franziu os lábios parecidos com borracha, depois enfiou o dinheiro no bolso do avental.
– O Maestro vai ver o que pode fazer. Volte amanhã.
Michael retornou ao apartamento. No meio-tempo estivera na biblioteca, acrescentando um livro pesado à sua mochila: o Grande Atlas Mundial da Reader’s Digest. Não era um livro que as pessoas tinham permissão de retirar. Esperara que a bibliotecária se distraísse, escondera-o na mochila e saíra.
Foi convocado novamente para uma história antes de dormir. Desta vez, falou sobre a tempestade. Kate ouviu com empolgação tensa, como se a história pudesse terminar com ele afogado no oceano, embora ele estivesse sentado bem à frente dela. Com Sara, o assunto da noite anterior não surgiu. Os dois eram assim; muita coisa era dita sem dizer nada. Além disso, ela parecia distraída. Michael presumiu que algo havia acontecido no hospital, e deixou para lá.
De manhã, saiu do apartamento antes que os outros acordassem. O velho estava à sua espera.
– O Maestro conseguiu – declarou ele.
Levou Michael a um monitor de raios catódicos. Suas mãos correram rápidas sobre o teclado; um mapa reluzente apareceu na tela.
– O navio. Onde?
– Encontrei-o na baía de Galveston, na boca do canal de navios.
– Muito longe de casa.
Maestro guiou Michael através dos dados. Partindo de Hong Kong em meados de março, o Bergensfjord tinha navegado até o Havaí e depois atravessado o canal do Panamá, entrando no Atlântico. Segundo a linha temporal que Michael havia estabelecido a partir do jornal, isso deveria ter acontecido antes da disseminação do Vírus da Páscoa. Tinham atracado nas ilhas Canárias, talvez para reabastecer, e continuaram para o norte.
Nesse ponto os dados mudavam. O navio viajara em círculos subindo e descendo o litoral norte da Europa. Passara brevemente pelo estreito de Gibraltar, depois revertera o curso sem entrar no Mediterrâneo e voltara a Tenerife. Várias semanas se passaram e eles partiram de novo. Nesse ponto a epidemia certamente já estava espalhada. Passaram pelo estreito de Magalhães e foram para o norte, em direção ao equador.
No meio do oceano o navio pareceu parar. Depois de duas semanas imóvel, os dados terminaram.
– Podemos dizer para onde eles iam? – perguntou Michael.
Outra tela de dados apareceu: eram cursos traçados, explicou Maestro. Ele rolou a página e direcionou a atenção de Michael para a última.
– Pode copiar isso para mim? – perguntou Michael.
– Está feito.
O velho pegou um pendrive no avental. Michael o colocou no bolso.
O Maestro está curioso. Por que tão importante?
– Eu estava pensando em tirar umas férias.
– O Maestro já verificou. Oceano vazio. Não há nada lá – disse e suas sobrancelhas claras subiram. – Mas alguma coisa, talvez?
O sujeito não era idiota.
– Talvez – respondeu Michael.
Deixou um bilhete para Sara. Desculpe sair correndo. Vou visitar um velho amigo. Espero voltar em alguns dias.
O segundo transporte para a Zona Laranja partia às nove horas. Michael seguiu nele até o fim da linha, desceu e esperou enquanto o ônibus se afastava. A placa dizia:
VOCÊ ESTÁ ENTRANDO NA ZONA VERMELHA
O RISCO É SEU
EM CASO DE DÚVIDA, CORRA.
Se você ao menos soubesse, pensou. Então, começou a andar.
ONZE
Sara voltou ao orfanato antes do início do turno da manhã. A irmã Peg a recebeu à porta.
– Como ela está? – perguntou Sara.
A mulher parecia mais atormentada do que o usual; tinha sido uma noite longa para ela.
– Infelizmente não muito bem.
Pim tinha acordado gritando. Seus berros eram tão altos que tinham despertado todo o dormitório. Por enquanto eles a haviam colocado no quarto da irmã Peg.
– Já recebemos crianças que sofreram abusos, mas nada tão extremo. Mais uma noite assim e...
A irmã Peg levou Sara até seu quarto, um espaço monástico provido apenas das necessidades mínimas. A única decoração era uma cruz grande na parede. Pim estava acordada e sentada na cama com os joelhos grudados no peito. Mas, quando Sara entrou, parte da tensão se esvaiu de seu rosto. Aqui está uma aliada, alguém que sabe.
– Vou estar lá fora, se você precisar de mim – disse a irmã Peg.
Sara sentou na cama. A sujeira tinha ido embora, os nós embolados nos cabelos tinham sido desfeitos ou cortados. As irmãs a tinham vestido com uma túnica de lã simples.
COMO ESTÁ SE SENTINDO HOJE?, Sara escreveu na lousa.
BEM.
A IRMÃ DISSE QUE VOCÊ NÃO CONSEGUIU DORMIR.
Pim balançou a cabeça.
Sara explicou que precisava trocar os curativos. A menina se encolheu quando ela tirou as bandagens, mas não fez nenhum som. Sara aplicou um unguento antibiótico e um creme de aloé refrescante e pôs bandagens novas.
DESCULPE SE DOEU.
Pim deu de ombros.
Sara olhou-a nos olhos.
VAI FICAR TUDO BEM, escreveu. Depois, como a menina não esboçou reação: COM O TEMPO MELHORA.
SEM PEZADELOS?
Sara balançou a cabeça.
Não.
COMO?
Claro, havia a coisa fácil a dizer: Dê tempo ao tempo. Mas essa não era a verdade, ou pelo menos não inteiramente. O que tirava a dor, Sara sabia, eram outras pessoas: Hollis, Kate e fazer parte de uma família.
APENAS MELHORA, escreveu.
Eram quase oito horas; Sara precisava ir embora, mas não queria. Guardou seu material e escreveu:
PRECISO IR AGORA. TENTE DESCANSAR. AS IRMÃS VÃO CUIDAR DE VOCÊ.
VOLTA?, escreveu Pim.
Sara confirmou com a cabeça.
JURA?
Pim a olhava com intensidade. As pessoas vinham abandonando-a durante toda a vida; por que Sara seria diferente?
– Sim – disse ela, pondo a mão no coração. – Juro.
A irmã Peg estava esperando Sara no corredor.
– Como ela está?
O dia tinha apenas começado, mas Sara sentia-se completamente exaurida.
– Os ferimentos nas costas não são o verdadeiro problema. Eu não ficaria surpresa se ela tiver mais noites assim.
– Há alguma chance de encontrar um parente? Alguém que possa ficar com ela?
– Acho que, para ela, seria a pior coisa.
A irmã Peg assentiu.
– É, claro. Foi idiotice minha.
Sara deu à irmã um rolo de gaze, pequenas toalhas fervidas e um vidro de unguento.
– Troque os curativos a cada doze horas. Não há sinal de infecção, mas se alguma coisa começar a ficar pior ou se ela tiver febre, mande me chamar imediatamente.
A irmã Peg estava franzindo a testa para os objetos em sua mão. Então, animando-se um pouco, levantou os olhos.
– Queria agradecer pela outra noite. Foi bom sair. Eu deveria fazer isso com mais frequência.
– Peter ficou feliz com sua visita.
– Caleb cresceu tanto! Kate também. Às vezes é fácil esquecer como temos sorte. Então a gente vê uma coisa assim... – Ela deixou o pensamento passar. – É melhor voltar às crianças. Onde elas estariam sem a velha e malvada irmã Peg?
– Esta é uma boa interpretação teatral, se a senhora não se importa que eu diga.
– Dá para ver? No fundo não passo de uma velha de coração mole.
Ela levou Sara à porta. Ali, Sara parou.
– Deixe-me perguntar uma coisa. No decorrer do ano, quantas crianças, mais ou menos, são adotadas?
– Num ano? – repetiu a mulher, espantada com a pergunta. – Zero.
– Nenhuma?
– Acontece, mas muito raramente. E nunca são as mais velhas, se é o que você está perguntando. Às vezes deixam um bebê aqui e aparece um parente que o pega em alguns dias. Mas depois que a criança fica um tempo, é bastante provável que permaneça de vez.
– Eu não sabia.
O olhar da irmã examinou o rosto de Sara.
– Nós duas não somos muito diferentes, sabe? Dez vezes por dia nosso trabalho nos dá motivos para chorar. No entanto, não podemos. Não serviríamos para ninguém se chorássemos.
Era verdade; mas isso não deixou o coração de Sara menos pesado.
– Obrigada, irmã.
Foi para o hospital. Seu humor estava péssimo. Quando entrou, Wendy acenou ansiosa, chamando-a à sua mesa.
– Há uma pessoa esperando você.
– Um paciente?
A mulher olhou ao redor para ter certeza de que ninguém escutava. Baixou a voz para um sussurro.
– Ele diz que é do escritório do censo.
Epa, pensou Sara. Essa foi rápida.
– Onde ele está?
– Eu disse para esperar, mas ele foi procurar você na enfermaria. Jenny está com ele.
– Você deixou Jenny falar com ele? Está maluca?
– Eu não pude fazer nada! Ela estava bem ali quando ele perguntou por você! – Wendy baixou a voz de novo. – É sobre aquela mulher com desprendimento da placenta, não é?
– Esperemos que não.
Junto à porta da enfermaria, Sara pegou um jaleco novo na prateleira. Duas coisas atuavam a seu favor. Uma era seu posto. Ela era médica e, mesmo não gostando disso, podia usar sua importância se quisesse. Um certo tom peremptório; referências veladas ou não a pessoas de influência substancial; o manto de sua profissão superior, dia ocupado, vidas a salvar. Tinha aprendido os truques. Em segundo lugar, não tinha feito nada ilegal. Deixar de preencher a papelada não era crime – era, no máximo, um erro. Estava segura, mais ou menos, mas isso não ajudaria Carlos ou a família dele. Assim que a fraude fosse descoberta, Grace seria levada.
Entrou na enfermaria. Jenny estava parada junto de um homem com o aspecto inconfundível de um burocrata: mole, meio careca, pé chato, pele oleosa que raramente via o sol. O olhar de Jenny encontrou o seu com uma expressão de pânico maldisfarçada: Socorro!
– Sara – começou ela –, este é...
Sara não deixou que a jovem terminasse.
– Jenny, por favor, poderia ver se há lençóis na lavanderia? Acho que estamos com poucos.
– Estamos?
– Agora, por favor.
Ela se afastou rapidamente.
– Sou a Dra. Wilson – disse Sara ao homem. – De que se trata?
O sujeito pigarreou. Parecia meio nervoso. Isso era bom.
– Uma mulher deu à luz uma menina aqui quatro noites atrás.
Ele remexeu nos papéis que estava segurando.
– Sally Jiménez? Acho que a senhora era a médica de plantão.
– E o senhor é...?
– Joe English. Sou do escritório do censo.
– Eu tenho muitas pacientes, Sr. English. – Ela fingiu pensar. – Ah, sim, lembro. Uma menina saudável. Algum problema?
– Não foi preenchida nenhuma certidão de nascimento com o formulário do censo. A mulher tem dois filhos.
– Tenho certeza de que cuidei disso. O senhor terá de verificar de novo.
– Passei todo o dia de ontem procurando. Definitivamente não foi mandada para o meu escritório.
– O seu escritório jamais comete erros? Nunca perde papéis?
– Nós somos muito meticulosos, Dra. Wilson. Segundo a enfermeira da recepção, a Sra. Jiménez recebeu alta há três dias. Nós sempre falamos primeiro com a família, mas parece que eles não estão em casa. O marido dela não apareceu no trabalho desde o dia do nascimento.
Idiotice, Carlos, pensou Sara.
– Não sou responsável pelas pessoas depois que elas saem daqui.
– Mas a senhora é responsável por preencher a documentação adequada. Sem um direito de nascimento válido, terei de levar o caso dela para as instâncias superiores.
– Bom, tenho certeza de que havia um. O senhor está enganado. É só isso? Estou muito ocupada.
Ele a encarou por um momento desconfortavelmente longo.
– Por enquanto, Dra. Wilson.
Aonde quer que a família Jiménez tivesse ido, Sara sabia que não demoraria muito para o escritório do censo encontrá-la. Não havia muitos lugares onde se esconder.
Tentou afastá-los da mente. Tinha feito o máximo para ajudar, e a situação estava fora das suas mãos. A irmã Peg estava certa; havia um trabalho a fazer. Era importante, e ela era boa nele. Era isso que mais importava.
No meio da noite, acordou com a sensação de que um sonho poderoso a havia ejetado do sono. Levantou-se e foi olhar Kate. Tinha certeza de que a filha estivera no sonho, ainda que na periferia; ela não era o foco – era mais uma testemunha, quase um juiz. Sentou-se na beira da cama da filha e viu a noite passar. A menina dormia profundamente, os lábios ligeiramente separados, o peito se expandindo e contraindo com respirações longas e calmas, enchendo o ar com seu cheiro inconfundível. Na Pátria, antes de Sara encontrá-la de novo, era o cheiro de Kate que lhe dava forças para continuar. Ela havia guardado um cacho de cabelos do bebê num envelope, escondido em sua cama, e a cada noite o tirava e comprimia contra o rosto. Sara sabia que esse ato era uma espécie de oração: não que Kate ainda estivesse viva – porque na época ela acreditava que a filha tivesse morrido –, mas que, onde quer que ela estivesse, para onde quer que seu espírito tivesse ido, esse lugar era o seu lar.
– Tudo bem?
Hollis estava de pé atrás dela. Kate se remexeu, rolou e depois ficou imóvel de novo.
– Volte para a cama – sussurrou ele.
– Posso dormir até mais tarde. Estou no segundo turno.
Hollis ficou quieto.
– Está tudo bem – assegurou ela.
Quando a manhã chegou, Sara estava totalmente desperta. Hollis lhe disse que ficasse na cama, mas ela se levantou mesmo assim; só voltaria ao hospital depois do jantar e queria levar Kate à escola. Estava meio embriagada de exaustão, mas esse fato não parecia ser uma influência que comprometesse sua capacidade de julgamento, e sim uma fonte de clareza. Junto à porta da escola, abraçou a filha com força. Até não muito tempo atrás, precisava se ajoelhar para fazer isso; agora, a cabeça de Kate batia em seu peito.
– Mãe?
O abraço havia continuado por mais tempo que o normal.
– Desculpe.
Sara a soltou. As outras crianças estavam passando por elas. Percebeu o que sentia. Estava feliz; um peso havia sido tirado de seu coração.
– Vá, garotinha. Vejo você mais tarde.
O escritório de registros abria às nove horas. Sara esperou na entrada, à sombra pintalgada de um carvalho. Era uma manhã agradável de verão; as pessoas passavam por ela. Como a vida podia mudar depressa, pensou.
Quando a funcionária abriu a porta, Sara se levantou e seguiu a mulher para dentro. Ela era mais velha, com um rosto agradável, gasto pelo tempo, e uma fileira de dentes falsos e brilhantes. Demorou um tempo situando-se atrás do balcão antes de olhar na direção de Sara, fingindo notá-la pela primeira vez.
– Em que posso ajudar?
– Preciso transferir um direito de nascimento.
A funcionária lambeu os dedos e tirou um formulário de uma prateleira com escaninhos, depois o colocou no balcão e mergulhou sua pena num tinteiro.
– De quem?
– Meu.
A pena da mulher parou sobre o papel. Ela levantou o rosto com expressão preocupada.
– Você parece jovem, querida. Tem certeza?
– Por favor, podemos simplesmente fazer isso?
Sara mandou o formulário ao escritório do censo com um bilhete anexo – Desculpe! Encontrei, afinal de contas! – e foi para o hospital. O dia passou depressa; Hollis ainda estava acordado quando ela chegou em casa. Esperou até estarem na cama para fazer o anúncio.
– Quero ter outro filho.
Ele se apoiou nos cotovelos e se virou para ela.
– Sara, nós já falamos disso. Você sabe que não podemos.
Ela lhe deu um beijo longo e terno, depois recuou para encará-lo.
– Isso não é exatamente verdade.
DOZE
Dez jogadas, e Caleb deixou Peter completamente cercado. Bastou uma finta com uma torre, um cavalo sacrificado cruelmente e as forças inimigas o envolveram num enxame.
– Como foi que você fez isso?
Na verdade Peter não se importava, mas seria bom vencer de vez em quando. Na última vez que havia derrotado Caleb, o garoto estava com uma gripe horrível e cochilara na metade do jogo. Mesmo assim Peter quase não conseguiu a vitória.
– É fácil. Você acha que estou na defensiva, mas não estou.
– Está fazendo uma armadilha.
O garoto deu de ombros.
– É como uma armadilha na sua cabeça. Eu faço você ver o jogo como preciso que você veja.
Ele estava arrumando as peças de novo; uma vitória não bastava para a noite.
– O que o soldado queria?
Caleb tinha um jeito de mudar de assunto tão rapidamente que às vezes Peter precisava se esforçar para acompanhá-lo.
– Na verdade, era sobre um emprego.
– De que tipo?
– Para dizer a verdade, não sei direito.
Ele deu de ombros e olhou o tabuleiro.
– Não é importante. Não se preocupe. Não vou a lugar nenhum.
Estavam movendo peões descuidadamente.
– Eu ainda quero ser soldado, sabe? – disse o garoto. – Como você era.
De vez em quando ele puxava esse assunto. Os sentimentos de Peter eram confusos. Por um lado tinha um intenso desejo de pai de manter Caleb longe de qualquer perigo. Mas também se sentia lisonjeado. Afinal de contas, o garoto estava expressando interesse pela mesma vida que ele havia escolhido.
– Acho que você seria bom nisso.
– Você sente falta?
– Às vezes. Eu gostava dos meus comandados, tinha bons amigos. Mas prefiro estar aqui com você. Além do mais, parece que aqueles tempos acabaram. Não há muita necessidade de um exército quando não há contra quem lutar.
– Todas as outras coisas parecem que vão ser um tédio.
– O tédio é subestimado, acredite.
Jogaram em silêncio.
– Me perguntaram sobre você – disse Caleb. – Um garoto na escola.
– Qual foi a pergunta?
Caleb franziu os olhos para o tabuleiro, estendeu a mão para o bispo, parou e moveu a rainha uma casa à frente.
– Só... como é que é ser seu filho. Ele sabia um bocado de coisas sobre você.
– Que garoto era esse?
– O nome dele é Julio.
Não era um dos amigos usuais de Caleb.
– O que você contou?
– Que você trabalhava em telhados o dia inteiro.
Pela primeira vez Peter conseguiu um empate. Colocou o garoto na cama e se serviu uma bebida da garrafa dada por Hollis. As palavras de Caleb tinham doído um pouco. Peter não estava realmente tentado pela oferta de Sanchez, mas a coisa toda tinha deixado um gosto ruim na boca. A manipulação da mulher era transparente e se destinava a ser isso mesmo – essa era a genialidade. Ela havia ao mesmo tempo provocado seu sentimento de dever natural e deixado claro que não era uma mulher com quem se deveria brincar. No fim das contas terei o senhor, Sr. Jaxon.
Vá tentando, pensou. Eu vou estar bem aqui, dizendo ao meu garoto para escovar os dentes.
Estavam restaurando o telhado de uma velha missão perto do centro da cidade. Vazia fazia décadas, agora estava sendo convertida em apartamentos. A equipe de Peter tinha passado duas semanas desmontando o campanário apodrecido e começara a tirar as velhas telhas de ardósia. O telhado era muito íngreme; eles trabalhavam sobre pranchas horizontais de 30 centímetros de largura, ancoradas por cantoneiras de metal pregadas no revestimento e espaçadas a intervalos de 1,80 metro. Duas escadas de mão, apoiadas no telhado nas extremidades das pranchas, serviam como ligação entre elas.
Durante toda a manhã trabalharam sem camisa, no calor. Peter estava na prancha de cima com outros dois, Jock Alvado e Sam Foutopolis, que era chamado de Foto. Foto trabalhava havia anos em construções, mas fazia apenas uns dois meses que Jock estava ali. Era novo, cerca de 17 anos, com o rosto estreito cheio de espinhas e cabelo comprido e oleoso que ele usava num rabo de cavalo. Ninguém gostava dele; seus movimentos eram súbitos demais e ele falava muito. Uma regra tácita das equipes de telhados era não ficar falando do perigo. Era uma forma de respeito. Olhando para baixo, Jock gostava de dizer coisas idiotas como: “Uau, isso iria doer” e “Sem dúvida isso iria acabar com a pessoa”.
Ao meio-dia, pararam para almoçar. Seria muito problemático descer, por isso comeram onde estavam. Jock estava falando de uma garota que tinha visto na feira, mas Peter mal escutava. Os sons da cidade vinham numa névoa auditiva; de vez em quando um pássaro passava.
– Vamos voltar ao trabalho – disse Foto.
Estavam usando pés de cabra e marretas para arrancar as telhas velhas. Peter e Foto foram para a terceira prancha; Jock estava trabalhando abaixo deles, à direita. Ainda estava falando da mulher – do cabelo, do modo como ela andava, de um olhar que os dois trocaram.
– Será que ele nunca vai se calar? – perguntou Foto.
Era um homem corpulento, musculoso, com a barba preta salpicada de grisalho.
– Acho que ele só gosta do som da própria voz.
– Vou jogar o rabo dele de cima desse telhado, juro.
Foto olhou para cima, franzindo os olhos para o sol.
– Parece que deixamos de tirar algumas.
Várias telhas permaneciam ao longo da cumeeira. Peter enfiou seu pé de cabra e a marreta no cinto de ferramentas.
– Deixa comigo.
– O apaixonado pode fazer isso – falou e logo gritou para baixo: – Jock, vá lá em cima.
– Não fui eu que deixei de tirar aquelas. Era a parte do Jaxon.
– Agora é sua.
– Ótimo – bufou o garoto. – Você é que manda.
Jock soltou seu cinto de segurança, subiu pela escada até a prancha de cima e enfiou seu pé de cabra embaixo de uma telha. Quando levantou a marreta para bater, Peter percebeu que Jock estava diretamente acima deles.
– Espera um seg...
A telha se soltou. Passou cantando, quase acertando a cabeça de Foto.
– Seu idiota!
– Desculpe, não vi vocês aí.
– Onde você acha que a gente estava? – perguntou Foto. – Você fez isso de propósito. E prenda o cinto, pelo amor de Deus.
– Foi um acidente – disse Jock. – Calma aí. Vocês vão ter de sair da frente.
Os dois foram para o lado. Jock terminou de soltar as telhas e tinha começado a descer quando Peter ouviu o estalo. Jock soltou um grito. Um segundo estalo, e com um estardalhaço a escada escorregou pelo telhado com Jock ainda preso. No último segundo ele saltou dela e começou a deslizar pelo telhado de barriga para baixo. Depois do primeiro grito ele não havia feito nenhum som. Suas mãos procuravam loucamente algo em que se segurar, as pontas dos pés se enfiando nas telhas para reduzir a velocidade da descida. Até onde Peter sabia, ninguém jamais havia caído. De repente isso parecia não somente possível, mas inevitável; o escolhido era Jock.
A 3 metros da borda, seu corpo parou. Sua mão havia encontrado alguma coisa: uma ponta de ferro enferrujado.
– Socorro!
Peter soltou seu cinto e desceu até a prancha de baixo. Segurou-se numa cantoneira de ferro e se inclinou.
– Segure minha mão.
O garoto estava congelado de terror. Sua mão direita apertava a ponta de ferro com força, a esquerda agarrando a borda de uma telha. Cada centímetro dele estava grudado à superfície.
– Se eu me mexer, caio.
– Não cai, não.
Lá embaixo, as pessoas tinham parado na rua para olhar.
– Foto, jogue meu cabo de segurança – disse Peter.
– Não vai chegar até aí. Vou ter de reajustar.
A ponta de ferro estava se dobrando sob o peso de Jock.
– Ah, meu Deus, estou escorregando!
– Pare de se mexer. Foto, depressa com esse cabo.
O cabo desceu. Peter não teve tempo de se prender; o garoto ia cair. Enquanto Foto puxava o cabo pela roldana, retesando-o, Peter o enrolou no antebraço e saltou na direção de Jock. A ponta de ferro se partiu; Jock começou a escorregar.
– Peguei você! – gritou Peter. – Segure-se!
Peter o estava segurando pelo pulso. Os pés de Jock se encontravam a centímetros da borda.
– Ache alguma coisa para agarrar – disse Peter.
– Não tem nada!
Peter não sabia quanto tempo mais poderia segurá-lo.
– Foto, você consegue puxar a gente?
– Vocês são pesados demais!
– Amarre o cabo e desça aqui com algumas cantoneiras.
Uma pequena multidão tinha se reunido na rua. Muitas pessoas apontavam para cima. A distância para o chão havia aumentado, transformando-se num espaço infinito que iria engoli-los por inteiro. Alguns segundos se passaram; em seguida Foto estava se movendo na prancha acima deles.
– O que você quer que eu faça?
– Jock – disse Peter –, há uma pequena saliência na borda, logo abaixo de você. Tente encontrá-la com os pés.
– Não existe isso!
– Existe, sim. Eu estou olhando para ela.
Um instante depois Jock disse:
– Certo, achei.
– Respire fundo, está bem? Vou ter de soltar você por um segundo.
Jock apertou o pulso de Peter com mais força.
– Está brincando?
– Não posso puxar você para cima se não fizer isso. Apenas fique parado. Garanto que a saliência vai segurá-lo, se você não se mexer.
O rapaz não tinha escolha. Soltou-o lentamente.
– Foto, jogue uma cantoneira.
Peter pegou-a com a mão livre, enfiou-a sob uma emenda nas telhas, tirou um prego do cinto de ferramentas e o apertou contra a abertura, até ficar preso. Três golpes da marreta o fizeram se cravar. Pregou o segundo prego e depois desceu cerca de meio metro.
– Jogue outra.
– Por favor – gemeu Jock. – Depressa.
– Respire fundo. Isso vai acabar em um minuto.
Peter colocou mais três cantoneiras.
– Certo, estenda a mão com cuidado para cima e para a esquerda. Pegou?
A mão de Jock agarrou a cantoneira.
– Peguei. Meu Deus.
– Agora se puxe até a próxima. Leve o tempo que precisar, não há pressa.
Uma cantoneira depois da outra, Jock subiu. Peter o acompanhou.
Quando Jock estava sentado na prancha, tomando água de um cantil, Peter se agachou ao lado.
– Tudo bem?
Jock assentiu vagamente. Seu rosto estava pálido, as mãos tremendo.
– Tire um minuto para se recompor – disse Peter.
– Ei, tire o dia todo – sugeriu Foto. – Tire o resto da vida.
Jock estava olhando para o vazio. Apesar de não estar vendo nada de fato, Peter adivinhou.
– Tente relaxar – disse.
Jock olhou o cinto de segurança de Peter.
– Você não estava preso?
– Não houve tempo.
– Então você só... fez tudo aquilo... segurando a corda.
– Deu certo, não deu?
Jock desviou o olhar.
– Eu achei que estava morto, com certeza.
– Sabe o que me irrita? – disse Foto. – O merdinha nem agradeceu a você.
Tinham saído cedo; estavam sentados nos degraus da frente, passando uma garrafa entre os dois. Jock tinha ido embora; pusera o cinto de ferramentas e saíra andando.
– Foi um negócio inteligente, com as cantoneiras – continuou Foto. – Eu não pensaria nisso.
– Talvez pensasse. Eu só cheguei lá primeiro.
– Aquele garoto tem uma sorte da porra, é só isso que posso dizer. E olhe para você, nem se abalou.
Era verdade: ele tinha se sentido invencível, a mente focada, os pensamentos claros como gelo. Na verdade não havia nenhuma saliência na borda do telhado; a superfície era perfeitamente lisa. Fiz você ver o jogo como eu precisava que você visse.
Foto tampou a garrafinha e se levantou.
– Então acho que vejo você amanhã.
– Na verdade, acho que para mim já deu – disse Peter.
Foto o encarou, depois soltou um risinho baixo.
– Se fosse qualquer outra pessoa, eu acharia que era medo de morrer. Você provavelmente gostaria que alguém caísse todo dia para poder salvá-lo. O que pretende fazer, em vez disso?
– Recebi uma oferta de emprego. Achei que não estava interessado, mas talvez esteja.
Foto assentiu.
– O que quer que seja, deve ser mais interessante do que isso aqui. É verdade o que dizem de você.
Os dois trocaram um aperto de mãos.
– Boa sorte, Jaxon.
Peter o observou afastar-se, depois caminhou até a sede do governo. Enquanto entrava na sala de Sanchez, ela levantou os olhos dos papéis.
– Sr. Jaxon. Isso foi rápido. Achei que teria de me esforçar mais um pouco.
– Duas condições. Na verdade, três.
– A primeira é seu filho, claro. Já dei minha palavra. O que mais?
– Quero acesso direto a você. Sem intermediários.
– Que tal o Chase? Ele é meu chefe do estado-maior.
– Só você.
Ela pensou apenas por um momento.
– Se isso é necessário... Qual é a terceira?
– Não me obrigue a usar gravata.
O sol tinha acabado de se pôr quando Michael bateu à porta da casinha de Greer. Não havia luz lá dentro, nenhum som. Bom, eu andei demais para esperar aqui fora, pensou. Tenho certeza de que Lucius não vai se incomodar.
Pôs a mochila no chão e acendeu o lampião. Olhou em volta. Os desenhos de Greer. Quantos seriam? Cinquenta? Cem? Chegou mais perto. É, sua memória não o havia traído. Alguns eram esboços apressados; outros obviamente tinham exigido horas de trabalho e concentração. Escolheu uma pintura, soltou-a da parede e a colocou na mesa: uma ilha montanhosa, banhada em verde, vista da proa de um navio que mal era visível na borda inferior. O céu acima e atrás da ilha era de um profundo azul crepuscular; no centro, a 45 graus do horizonte, havia uma constelação de cinco estrelas.
A porta se escancarou bruscamente. Greer estava ali parado, apontando um fuzil para a cabeça de Michael.
– Meu Deus, abaixe isso – disse Michael.
Greer baixou a arma.
– Não está carregada, de qualquer maneira.
– Bom saber!
Michael bateu no papel com o dedo.
– Lembra que eu disse que você precisava me falar sobre isso?
Greer confirmou com a cabeça.
– Agora seria a hora.
A constelação era o Cruzeiro do Sul – a mais característica do céu noturno ao sul do equador.
Michael mostrou o jornal a Greer, que leu sem reação, como se o conteúdo não fosse surpresa; Michael descreveu o Bergensfjord e os corpos que tinha encontrado; leu em voz alta a carta do capitão, a primeira vez que fazia isso. Era muito diferente dizer as palavras não como se estivesse escutando uma conversa, e sim representando-a. Pela primeira vez vislumbrou o que o homem havia pretendido ao escrever uma carta que jamais seria enviada; isso dava uma espécie de permanência às palavras e às emoções que elas continham. Não era uma carta, mas um epitáfio.
Guardou para o final os dados do computador de bordo do Bergensfjord. O destino do navio era uma região do Pacífico Sul mais ou menos na metade do caminho entre o norte da Nova Zelândia e as ilhas Cook; Michael usou o atlas para mostrar a Greer. Quando os motores do navio falharam eles estavam 1.500 milhas a nor-nordeste do objetivo, navegando nas correntes equatoriais.
– E como ele foi parar em Galveston? – perguntou Greer.
– Isso não deveria ter acontecido. Ele deveria ter afundado, como disse o capitão.
– Mas não afundou.
Michael franziu a testa.
– É possível que as correntes o tenham empurrado até lá. Não sei muito sobre isso. Mas posso dizer uma coisa: não existe barreira e nunca existiu.
Lucius olhou de novo o jornal. Apontou para a metade da página.
– Isso aqui, sobre o vírus ter uma fonte aviária...
– Pássaros.
– Sou familiarizado com a palavra, Michael. Isso significa que o vírus ainda pode estar por lá?
– Se os pássaros forem vetores, pode ser. Mas parece que as pessoas encarregadas nunca descobriram.
– “Em situações raras” – Greer leu em voz alta – “as vítimas da doença exibiram os efeitos transformadores da cepa norte-americana, inclusive um aumento nítido na agressividade, mas não se sabe se algum desses indivíduos sobreviveu ao limite das 36 horas.”
– Isso também atraiu minha atenção.
– Eles estão falando de virais?
– Se for, são de uma cepa diferente.
– O que quer dizer que ainda podem estar vivos. Matar os Doze não iria afetá-los.
Michael não disse nada.
– Santo Deus.
– Quer saber o que é engraçado? – disse Michael. – Talvez engraçado não seja a palavra certa. O mundo nos colocou em quarentena e nos abandonou à morte. No fim das contas, esse é o único motivo para ainda estarmos aqui.
Greer se levantou da mesa e pegou uma garrafa de uísque na prateleira. Serviu dois copos, entregou um a Michael e tomou um gole. Michael fez o mesmo.
– Pense bem, Lucius. Aquele navio viajou metade do mundo e nunca bateu em nada, nunca encalhou, nunca afundou numa tempestade. De algum modo ele conseguiu chegar perfeitamente intacto à baía de Galveston, bem embaixo do nosso nariz. Quais são as chances?
– Eu diria que não são boas.
– Então me diga o que ele está fazendo aqui. Foi você que fez esses desenhos.
Greer serviu mais uísque em seu copo, mas não bebeu. Ficou quieto um momento, depois disse:
– Foi o que eu vi.
– Como assim, “viu”?
– É difícil explicar.
– Nada disso é fácil, Lucius.
Greer estava olhando seu copo, girando-o sobre a mesa.
– Eu estava no deserto. Não pergunte o que eu fazia lá, é uma longa história. Não comia nem bebia nada havia dias. Alguma coisa aconteceu comigo à noite. Não sei direito como chamar aquilo. Acho que foi um sonho, mas era mais forte do que isso, mais real.
– Quer dizer, a imagem? A ilha, as cinco estrelas?
Lucius assentiu.
– Eu estava num navio. Podia senti-lo se mexendo embaixo de mim. Podia ouvir as ondas, sentir o cheiro de sal.
– Era o Bergensfjord?
Ele balançou a cabeça.
– Só sei que é... era grande.
– Você estava sozinho?
– Talvez houvesse outras pessoas lá, mas não dava para ver. Eu não podia me virar.
Greer o encarou.
– Michael, você está pensando o que acho que está pensando?
– Depende.
– Que o navio se destina a nós? Que nós deveríamos ir à ilha?
– De que outro modo você pode explicar?
– Não posso.
Ele franziu a testa com ceticismo.
– Isso não parece coisa sua. Colocar tanta fé num desenho feito por um maluco.
Por um momento nenhum dos dois falou. Michael tomou um gole do uísque.
– Esse navio – disse Greer. – Flutua?
– Não sei quanto dano há embaixo da linha d’água. Os conveses inferiores estão inundados, mas o compartimento do motor está seco.
– Você pode consertar?
– Talvez, mas seria necessário um exército. E muito dinheiro, coisa que não temos.
Greer tamborilou com os dedos na mesa.
– Há meios de contornar isso. Se tivéssemos a mão de obra, de quanto tempo iríamos precisar?
– Anos, talvez décadas. Precisaríamos tirar a água, construir uma doca seca, colocá-lo dentro. E isso seria apenas o começo. O negócio tem 200 metros de comprimento.
– Mas poderia ser feito.
– Teoricamente.
Michael examinou o rosto do amigo. Ainda não tinham abordado a parte que faltava, a pergunta da qual derivavam todas as outras.
– Quanto tempo você acha que nós temos? – perguntou Michael.
– Até o quê?
– Até que os virais retornem.
Greer não respondeu imediatamente.
– Não sei.
– Mas eles vão chegar.
Greer levantou os olhos. Michael enxergou alívio neles; ele estivera sozinho com isso por tempo de mais.
– Diga: como você deduziu?
– É a única coisa que faz sentido. A questão é: como você deduziu?
Greer terminou de beber o uísque, serviu outra dose e bebeu-a também. Michael esperou.
– Vou lhe contar uma coisa, Michael, e você jamais pode contar a ninguém. Nem a Sara, nem a Hollis, nem a Peter. Principalmente ao Peter.
– Por que ele?
– Não sou eu que faço as regras, sinto muito. Preciso da sua palavra com relação a isso.
– Está dada.
Greer respirou fundo e soltou o ar lentamente.
– Eu sei que os virais vão voltar, Michael, porque Amy me disse.
TREZE
A chuva caía enquanto Alicia se aproximava da cidade. Visto de cima, à luz suave da manhã, o rio era como ela havia imaginado: largo, escuro, fluindo sem cessar. Para além dele se erguiam as torres, densas como uma floresta. Píeres arruinados projetavam-se das margens; destroços de navios jogados contra os bancos de areia. Em um século o mar havia subido. Partes da ponta sul da ilha ficavam submersas, com a água batendo contra as laterais dos prédios.
Ela foi para o norte, saltando por cima dos destroços, procurando um modo de atravessar. A chuva parou, começou, parou de novo. Era fim de tarde quando ela chegou à ponte: duas estruturas enormes, como gêmeos gigantes, segurando a pista com cabos pendurados nos ombros. A ideia de atravessá-la encheu Alicia de uma ansiedade profunda que ela não ousou mostrar, mas Soldado sentiu assim mesmo. Uma relutância mínima no passo: isso de novo?
É, pensou ela. Isso.
Foi mais para o interior e localizou a rampa. Barricadas, plataformas de canhões, veículos militares arruinados por um século de abandono, alguns capotados ou tombados de lado: tinha havido uma batalha ali. A pista superior estava atulhada de carcaças de automóveis pintadas de branco pelo cocô dos pássaros. Alicia apeou e guiou Soldado por entre os latarias. A cada passo sua apreensão aumentava. A sensação era automática, como uma alergia, um espirro que se tenta evitar. Mantinha o olhar adiante, colocando um pé à frente do outro.
Mais ou menos na metade da ponte, chegaram a um ponto em que a pista havia desmoronado. Havia carros amontoados na pista de baixo. Uma laje estreita ao longo do corrimão, com 1,20 metro de largura no máximo, era o único caminho viável.
– Não é grande coisa – disse Alicia a Soldado. – Não se preocupe.
A altura era irrelevante; o que ela temia era a água. Para além da laje havia uma bocarra de morte escancarada. Passo a passo, gelada de pavor, ela guiou Soldado na travessia. Que estranho, pensou, não ter medo de nada, a não ser disso.
Tinham o sol atrás deles quando chegaram ao outro lado. Uma segunda rampa os guiou até o nível da rua, numa área de armazéns e fábricas. Ela montou de novo em Soldado e foi para o sul, ao longo do eixo da ilha. As ruas numeradas iam passando. Com o tempo as fábricas deram lugar a edifícios de apartamentos e prédios com fachada de arenito marrom intercalados com terrenos vazios, alguns estéreis, outros parecendo selvas em miniatura. Em alguns pontos as ruas estavam inundadas, água suja borbulhando pelos bueiros. Alicia nunca estivera num lugar assim; a simples densidade da ilha a deixava pasma. Tinha consciência de sons e movimentos minúsculos: pombos arrulhando, ratos correndo, água pingando pelas paredes internas das construções. O cheiro acre de mofo. De podridão. O fedor da cidade simplesmente, templo da morte.
A noite chegou. Morcegos adejavam no céu. Ela estava na avenida Lenox, perto do número 100, quando uma parede de vegetação surgiu no seu caminho. No coração da cidade abandonada, uma floresta havia se enraizado, crescendo de maneira gigantesca. Na borda, Alicia fez Soldado parar e voltou o pensamento para as árvores: quando os virais vinham, vinham de cima. Não era ela que eles queriam, claro; Alicia era uma deles. Mas precisava pensar em Soldado. Deixou alguns minutos passarem e, quando teve certeza de que atravessariam em segurança, bateu os calcanhares nos flancos dele.
– Vamos.
Num instante a cidade desapareceu. Era como se estivessem no meio de uma floresta antiquíssima. A noite havia caído, iluminada por uma casca de lua minguante. Chegaram a um amplo campo de capim cheio de sementes, com altura suficiente para bater nas suas coxas; então as árvores reivindicaram de novo o território.
Saíram num lance de escada de pedras que dava para a Rua 59. Ali os prédios tinham nomes. Helmsley Park Lane. Essex House. The Ritz-Carlton. The Plaza. Foi rapidamente para o leste até a avenida Madison e virou para o sul de novo. Os prédios ficavam mais altos, erguendo-se acima da rua; os números das ruas continuavam seu declínio implacável: 56, 51, 48, 43.
Rua 42.
Ela apeou. O prédio parecia uma fortaleza, menor do que as grandes torres que o cercavam, mas com aspecto régio. Era um castelo digno de um rei. Altas janelas em arco olhavam, sombrias, para a rua. Junto à linha do telhado, no centro da fachada, havia uma figura de pedra com os braços abertos dando as boas-vindas. Embaixo dela, gravadas na fachada do prédio, cinzeladas em luar, estavam as palavras GRAND CENTRAL e TERMINAL.
Alicia, estou aqui. Lish, que bom que você veio.
Agora podia sentir nitidamente seus irmãos e irmãs. Estavam em toda parte, abaixo dela, um vasto repositório adormecido nas entranhas da cidade. Será que também sentiam sua presença? Alicia percebeu que havia uma única hora para a qual todos os dias desde seu nascimento apontavam. O que você achava que era um labirinto de escolhas, todas as possibilidades do que sua vida poderia se tornar, era de fato uma série de passos que você dava ao longo de uma estrada e, quando chegava ao destino e olhava para trás, apenas um caminho – o escolhido para você – era visível.
Alicia prendeu uma corda às rédeas de Soldado. Duas noites antes, acampada nos arredores de Newark, tinha preparado uma tocha de galhos de pinheiro. Agora, agachada na calçada, raspou uma pilha de gravetos, acendeu-os com sua pederneira e mergulhou a ponta da tocha nas chamas até que o piche começou a queimar. Levantou-se, segurando-a no alto. A tocha, que ficaria acesa durante horas, soltava uma luz laranja enfumaçada. Ela apertou as bandoleiras no peito, em seguida estendeu a mão direita por cima do ombro oposto para tirar a espada da bainha. Com gume brilhante, ponta dura, as cordas do cabo gastas por horas de treino, o objeto não tinha significado simbólico para ela; era simplesmente uma ferramenta. Girou-a devagar para trás e para a frente, sentindo o poder dela se fundir com o seu. Soldado a observava. Quando o momento pareceu correto, Alicia embainhou de novo a arma e abriu a porta do terminal.
– Está na hora.
Levou-o para dentro. Vidro quebrado fazia barulho sob seus pés; ela ouviu guinchos de ratos. Três metros depois da porta, duas opções: direto em frente, descendo um corredor inclinado até o nível mais baixo da estação, ou à esquerda, por um portal em arco.
Foi para a esquerda.
O espaço se expandiu ao redor. Ela estava no salão principal da estação, mas não parecia uma estação – era mais como uma igreja. Um lugar onde vastas multidões se reuniam para comungar na companhia de alguma presença mais elevada. O luar pulsava através das janelas altas, batendo no piso, espalhando-se como um líquido amarelo-claro. O silêncio era intenso; ela podia ouvir o sangue martelando nos ouvidos. Olhando para cima, viu o que achou que era o céu, até que percebeu que era uma pintura. Havia estrelas espalhadas no teto, e no meio, figuras – um touro, um carneiro, um homem derramando água de um jarro.
– Alicia. Olá.
Ela levou um susto. Era a voz dele. Uma voz audível, nitidamente humana.
– Estou aqui.
O som veio da extremidade mais distante do salão. Alicia foi até lá, guiando Soldado. À frente viu uma estrutura. Parecia uma pequena casa. Posicionado no topo, como uma coroa, havia um grande relógio com quatro faces. Quando ela se aproximou, o relógio foi a primeira coisa a capturar o brilho da tocha, não tanto refletindo a luz quanto absorvendo-a, fazendo os mostradores brilhar com lustro laranja.
– Aqui em cima, Lish.
Uma escadaria ampla subia até uma sacada. Alicia soltou a corda e pôs a mão no pescoço de Soldado. O pelo do animal estava úmido de suor. Ela apertou a palma da mão contra ele para acalmá-lo: Espere aqui.
– Não se preocupe, seu amigo vai ficar em segurança. Ele é um companheiro magnífico, Lish. Mais do que imaginei. É um soldado impecável, como você. Como a minha Lish.
Ela subiu a escada sem fazer esforço para se esconder – não havia sentido nisso. Que forma de criatura a esperava? A voz era humana, fraca, de certa forma, mas o corpo certamente não seria. Deveria ser um gigante, um monstro de dimensões gargantuescas, um titã de sua raça.
Chegou ao topo. À direita ficava um balcão de bar com banquetas, e logo adiante uma área com mesas, algumas viradas, outras ainda com pratos e talheres.
Sentado a uma das mesas estava um homem.
Seria um truque? Será que ele havia feito alguma coisa com a mente dela? Estava sentado à vontade, as mãos cruzadas no colo, usando terno escuro, camisa branca, colarinho aberto. Cabelo cor de areia, quase ruivo, as raízes formando um bico afiado na linha da testa. Uma ligeira frouxidão nas papadas; olhos com certa intensidade indefinível. De repente nada ao redor parecia real. Era tudo uma gigantesca piada. Ele era como qualquer homem, uma figura numa multidão, ninguém que seria notado.
– Minha aparência a surpreende? – perguntou ele. – Talvez eu devesse ter alertado.
A voz dele provocou a ação. Alicia largou a tocha e puxou a espada enquanto caminhava até ele; afastou-a do corpo, projetou o quadril, transferindo energia para os grandes grupos musculares – ombros, pélvis, pernas –, e parou o voo da arma a centímetros do pescoço dele.
– Que diabo é você?
Nenhum músculo se mexeu. Até o rosto dele estava relaxado.
– Com que eu me pareço?
– Você não é humano. Não pode ser.
– Você pode se fazer a mesma pergunta. O que significa ser humano.
Ele inclinou a cabeça na direção da espada.
– Se vai usar isso, sugiro que ande logo.
– É o que você quer?
Ele ergueu o rosto para o teto. Nos cantos da boca revelaram-se incisivos parecidos com adagas. Eram os dentes de um predador, no entanto o rosto diante dela era afável.
– Esperei aqui um tempo bem longo, sabe? Em cem anos a gente acaba pensando em praticamente tudo. Em todas as coisas que fez, nos erros que cometeu. Nos livros que leu, na música que ouviu, na sensação do sol, da chuva. Tudo continua dentro de você. Mas não basta, não é? Essa é a questão. O passado nunca basta.
A espada ainda estava junto ao pescoço dele. Como ele estava tornando isso simples, fácil! Olhava para ela com uma expressão perfeita de calma. Um golpe rápido e ela estaria livre.
– Nós dois somos parecidos, veja bem. – A voz dele era plácida, quase como a de um professor. – Tanto arrependimento. Tantas coisas perdidas.
Por que ela não tinha agido? Por que tinha fracassado em dar o golpe? Uma estranha imobilidade a havia dominado – não era uma paralisia física; era mais um embotamento da vontade.
– Não tenho dúvida de que você é mais do que capaz. – Ele tocou um ponto no pescoço. – Bem aqui, acho. Deve funcionar.
Havia algo errado. Algo terrivelmente errado. Ela só precisava recuar a espada e mandar ver, mas não conseguia se obrigar.
– Você não consegue, não é? – Ele franziu a testa; seu tom era quase de lamento. – O parricídio é contrário à sua natureza, afinal de contas.
– Eu matei Martínez. Observei enquanto ele morria.
– É, mas você não pertencia a ele, Lish. Você pertence a mim. O viral que a mordeu era um dos meus. Amy é apenas uma parte sua; eu sou a outra. Você não poderia usar essa espada contra mim, assim como não poderia usá-la contra ela. Fico surpreso que não tenha deduzido isso.
Ela sentiu a verdade das palavras. A espada, a espada; não conseguia mover a espada.
– Mas não creio que você tenha vindo me matar. Não creio que seja por isso que está aqui. Posso ver. Você tem perguntas. Há coisas que quer saber.
Ela respondeu com os dentes trincados:
– Não quero nada de você.
– Não? Então em vez disso vou perguntar uma coisa. Diga-me, Alicia, o que o fato de ser humana já lhe rendeu?
Ela se sentiu desorientada; nada daquilo fazia sentido.
– É uma pergunta simples, na verdade. No fim das contas a maioria das coisas é simples.
– Eu tinha amigos – disse ela, e ouviu o tremor na voz. – Pessoas que me amavam.
– Amavam? Foi por isso que você as abandonou?
– Você não sabe o que está falando.
– Acho que sei. Sua mente é um livro aberto para mim. Peter, Michael, Sara, Hollis, Greer. E Amy. A grande e poderosa Amy. Sei tudo sobre eles. Até o garoto, Cano Longo, que morreu nos seus braços. Você prometeu mantê-lo em segurança. Mas no fim não pôde salvá-lo.
Seu ser estava se dissolvendo; a espada era como uma bigorna em sua mão, de uma densidade incomparável.
– O que seus amigos lhe diriam agora? Vou responder. Iriam chamá-la de monstro. Iriam expulsá-la, se não a matassem primeiro.
– Cala a boca, porra!
– Você não é uma deles. Nunca foi, desde o dia em que o Coronel a levou para fora do Muro e a deixou lá. Você ficou sentada sob as árvores e chorou a noite toda. Não foi?
Como ele podia saber dessas coisas?
– Ele consolou você, Alicia? Pediu desculpas? Você era só uma menina e ele a deixou sozinha. Você sempre foi... sozinha.
O resto de sua vontade estava falhando; mal conseguia segurar a espada.
– Eu sei, porque conheço você, Alicia Donadio. Conheço seu coração secreto. Não vê? É por isso que você veio a mim. Sou o único que a conhece.
– Por favor – implorou ela. – Por favor, pare de falar.
– Diga. Qual foi o nome que você deu a ela?
Alicia estava desfeita; não lhe restava nada. Quem quer que tivesse sido, ou quisesse ser, ela sentia essa pessoa abandonando-a.
– Diga, Lish. Diga o nome da sua filha.
– Rose. – A palavra saiu com um engasgo. – Dei a ela o nome de Rose.
Tinha começado a soluçar. A uma distância desconhecida a espada caiu com estardalhaço no chão. O homem tinha se levantado e a envolvido com os braços, num abraço caloroso. Ela não resistiu, não tinha resistência a oferecer. Chorou e chorou. Sua menininha. Sua Rose.
– Foi por isso que você veio, não foi? – A voz dele era suave, perto de seu ouvido. – É para isso que este lugar serve. Você veio falar o nome da sua filha.
Ela assentiu, encostada nele. Ouviu-se dizer:
– É.
– Ah, minha Alicia. Minha Lish. Sabe onde você está? Todas as suas viagens terminaram. O que é o lar, senão um local onde você é conhecida de verdade? Diga comigo: “Vim para casa.”
Uma levíssima resistência; depois ela soltou:
– Vim para casa.
– E nunca vou embora daqui.
Como era fácil, de repente!
– E nunca vou embora daqui.
Um instante passou; ele se afastou um passo. Através das lágrimas ela espiou o rosto gentil, tão cheio de compreensão. Ele afastou uma cadeira da mesa.
– Agora sente-se comigo. Temos todo o tempo do mundo. Sente-se comigo e vou lhe contar tudo.
CATORZE
Por trás de todo grande ódio há uma história de amor.
Pois sou um homem que conheceu e sentiu o gosto do amor. Digo “homem” porque é como me conheço. Olhe para mim, e o que você vê? Não tenho forma de homem? Não sinto como você, sofro como você, amo como você, choro como você? Qual é a essência de um homem senão essas coisas? Na vida eu era um cientista, chamado Fanning. Timothy J. Fanning, titular da Cátedra Eloise Armstrong de Ciências Biológicas, da Universidade Colúmbia. Era conhecido e respeitado, uma figura do meu tempo. Minhas opiniões sobre muitos assuntos eram buscadas; eu caminhava de cabeça erguida pelos corredores da minha profissão. Era um homem com muitos contatos. Apertava mãos, beijava rostos, fazia amigos, tinha amantes. A fortuna e os tesouros vinham na minha direção; eu sorvia a flor do mundo moderno. Apartamentos na cidade, casas de campo, automóveis chiques, bons vinhos: todas essas coisas eu tinha. Jantava em restaurantes finos, dormia em hotéis de luxo; meu passaporte era cheio de vistos. Três vezes pedi em casamento e três vezes me casei, e ainda que essas uniões não tenham dado em nada, nenhuma, no fim das contas, foi motivo para arrependimento. Eu trabalhava e descansava, dançava e chorava, tinha esperanças e lembrava – até mesmo rezava, de vez em quando. Resumindo, levava uma vida.
Então, numa selva da Bolívia, morri.
Você me conhecerá como Zero. Esse é o nome que a história me deu. Zero, o Destruidor, Grande Devorador do Mundo. O fato de essa história jamais ser escrita é tema para um debate ontológico. O que acontece com o passado quando não há ninguém para registrá-lo? Morri e fui trazido à vida, a história mais antiga que existe. Ressuscitei dos mortos, e o que vi? Estava numa sala com a luz mais azul que existe – azul puro, azul cerúleo, o azul que o céu teria caso se casasse com o mar. Meus braços, minhas pernas, até minha cabeça estavam amarrados; eu era cativo naquele lugar. Imagens esparsas iluminavam minha mente, clarões de luz e cor que se recusavam a assumir significado. Meu corpo zumbia. Essa é a única palavra. Eu aprenderia que tinha acabado de sair dos últimos estágios da minha transformação. Ainda não tinha visto meu corpo, já que estava dentro dele.
Tim, você me ouve?
Uma voz, vinda de todos os lugares e de lugar nenhum. Eu estava morto? Era a voz de Deus falando comigo? Talvez a vida que eu tinha levado não fosse muito digna e as coisas tivessem ido para o outro lado.
Tim, se estiver me ouvindo, levante a mão.
Não parecia muita coisa para Deus, qualquer deus, pedir.
Isso mesmo. Agora a outra. Excelente. Muito bem, Tim.
Você conhece essa voz, falei comigo mesmo. Você não está morto; é a voz de um ser humano, como você. Um homem que chama você pelo nome, que diz “muito bem”.
Isso mesmo. Simplesmente respire. Você está indo muito bem.
A natureza da situação foi ficando clara. Eu estivera doente, de algum modo. Talvez houvesse tido convulsões: isso explicaria as amarras. Ainda não conseguia me lembrar das circunstâncias, de como tinha ido parar nesse local. A voz era a chave. Se eu pudesse identificar o dono, tudo seria revelado.
Vou soltar as correias agora, está bem?
Senti uma liberação da pressão. Acionadas por algum mecanismo remoto, minhas amarras tinham se soltado.
Pode se sentar, Tim? Pode fazer isso para mim?
Também era verdade que, qualquer que fosse minha doença, o pior havia passado. Eu não me sentia mal – pelo contrário. A sensação de zumbido, que se originava no peito, tinha se ampliado para um vibrato orquestral no corpo todo, como se as moléculas da minha anatomia estivessem tocando uma única nota. A sensação era profundamente prazerosa, quase sexual. Minha virilha, as pontas dos dedos dos pés, até as raízes dos cabelos – eu nunca havia experimentado uma coisa tão extraordinária.
Uma segunda voz, mais profunda do que a primeira:
Dr. Fanning, sou o Coronel Sykes.
Sykes. Eu conhecia um homem chamado Sykes?
Está nos ouvindo? Sabe onde está?
Um buraco havia se aberto dentro de mim. Não era um buraco: era uma bocarra. Eu estava faminto. Profundamente, loucamente faminto. Meu apetite não era o de um ser humano, e sim o de um animal. Uma fome de garras e dentes, de chafurdar, de carne macia entre as mandíbulas e sumos quentes explodindo no palato.
Tim, você nos deixou bem preocupados aqui. Fale comigo, meu chapa.
E num instante as comportas da memória se abriram, liberando uma inundação. A floresta tropical, com o ar abafado e as densas copas verdes cheias de animais piando; a sensação pegajosa na pele e os enxames onipresentes de insetos em volta do rosto; os soldados examinando as árvores com os fuzis enquanto andávamos, os rostos riscados com pintura de camuflagem; as estátuas, figuras humanoides com formas monstruosas, alertando para nos afastarmos ao mesmo tempo que nos chamavam, levando-nos mais para o fundo do coração daquele lugar vil; os morcegos.
Tinham vindo à noite, enchendo o acampamento. Centenas, milhares, dezenas de milhares de morcegos, uma infinidade de asas batendo. Bloquearam o infinito. Ocuparam o céu como uma tempestade. Os portões do inferno tinham se aberto e isso era o que havia saído, seu vômito negro. Pareciam não voar, e sim nadar, movendo-se em ondas organizadas, como um cardume de peixes alados. Caíram em cima de nós, cheios de asas, dentes e pequenos guinchos malignos de júbilo. Lembrei-me dos tiros, dos gritos. Estava num lugar de luz azul e havia uma voz que sabia meu nome, mas na mente eu corria para o rio. Vi uma mulher se retorcendo na margem. Seu nome era Claudia; era uma de nós. Os morcegos a haviam coberto feito uma capa. Imagine o horror. Praticamente nenhuma parte da mulher era visível. Ela se sacudia numa dança de agonia demoníaca. Na verdade meu primeiro instinto foi não fazer nada. Não tinha coração de herói. Mas às vezes descobrimos coisas que não sabíamos sobre nós mesmos. Dei dois grandes saltos e me choquei contra ela, fazendo com que os dois mergulhássemos na água fétida da selva. Senti a pancada quente dos dentes dos morcegos na carne dos braços e do pescoço. A água borbulhava com sangue. Tamanha era a fúria deles que nem a água os detinha; alimentavam-se de nós ao mesmo tempo que se afogavam. Segurei Claudia pelo pescoço, enganchando-a no braço, e mergulhei, mas sabia que isso não daria em nada; ela já estava morta.
Lembrei todas essas coisas e mais uma. Lembrei-me do rosto de um homem. O rosto pairava acima de mim, emoldurado pelo céu da selva. Eu estava insensível, ardendo de febre. O ar ao redor latejava com o barulho das pás do helicóptero. O sujeito gritava alguma coisa. Tentei me concentrar em sua boca. A coisa estava viva, dizia ele – meu amigo, Jonas Lear –, a coisa estava viva, estava viva, estava viva...
Levantei a cabeça e olhei. O cômodo estava vazio, como uma cela. Na parede do outro lado uma janela ampla e escura mostrava meu reflexo.
Vi a figura em que eu tinha me tornado.
Não me levantei. Arremeti. Disparei pelo cômodo feito um foguete e acertei a janela com uma pancada violenta. Atrás do vidro os dois homens saltaram para trás. Jonas e o segundo, Sykes. Tinham os olhos arregalados de medo. Bati. Rugi. Abri a mandíbula para mostrar os dentes de modo que eles soubessem o tamanho da minha fúria. Queria matá-los. Não, não queria matá-los. “Matar” é uma palavra embotada demais para o que eu desejava. Queria aniquilá-los. Queria rasgá-los membro por membro. Queria quebrar seus ossos e enterrar o rosto nos restos úmidos. Queria enfiar a mão dentro de seu peito e arrancar o coração, devorar a carne sangrenta enquanto a última corrente desgarrada fazia o músculo estremecer e encará-los enquanto morriam. Eles estavam gritando, berrando. Eu não era o que eles haviam comprado. O vidro estava se deformando, estremecendo sob meus golpes.
Uma explosão de luz incandescente engolfou o cômodo. Senti como se tivesse sido acertado por uma centena de flechas. Cambaleei para trás e caí no chão. Ouvi um som alto de engrenagens acima, e com um estrondo as barras caíram, lacrando-me.
Sinto muito, Tim. Essa nunca foi a minha intenção. Desculpe...
Talvez ele sentisse mesmo. Não fazia diferença. Mesmo então, encolhido em agonia, eu sabia que a vantagem deles era temporária; não fazia a menor diferença. As paredes da minha prisão acabariam cedendo ao meu poder. Eu era a flor sombria da humanidade, que desde o início do tempo recebera a ordem de destruir um mundo que não tinha Deus para amá-lo.
A partir de um nos tornamos Doze. Isso também merece registro. A partir do meu sangue a semente antiga foi tomada e passada a outros. Conheci esses homens. A princípio me assustaram. Suas vidas humanas tinham sido muito diferentes da minha. Eles não possuíam consciência, nem compaixão, nem filosofia. Eram como animais brutos, com corações bestiais cheios dos feitos mais sinistros. Eu tinha entendido muito antes que existiam homens assim, mas o mal, para ser realmente compreendido, precisa ser sentido, experimentado. Devemos penetrar nele, como numa caverna sem luz. Um a um eles vieram à minha mente, eu fui à deles. Babcock foi o primeiro. Que sonhos terríveis ele possuía! Se bem que, na verdade, não eram piores do que os meus. Os outros vieram no devido tempo, cada qual acrescentado ao rebanho. Morrison e Chávez. Baffes e Turrell. Winston e Sosa, Echols e Lambright, Reinhardt e Martínez, o mais vil de todos. Até Carter, cujas memórias de sofrimento sopraram as brasas agonizantes de compaixão no meu coração. Com o passar do tempo, na companhia daquelas almas perturbadas, experimentei um sentimento cada vez mais ampliado de minha missão. Eles eram meus herdeiros, meus acólitos; dentre eles eu era o único que tinha capacidade de liderar. Eles não menosprezavam o mundo, como eu; para aqueles homens o mundo simplesmente não é nada, assim como tudo é nada. Seus apetites não conheciam moderação; sem orientação, eles trariam a destruição rápida e completa para todos nós. Eu devia comandá-los, mas como fazer com que me seguissem?
Eles precisavam era de um deus.
Nove e um, ordenei a eles, na minha melhor voz de deus. Nove são seus, mas um é meu, assim como vocês são meus. No décimo deve ser plantada a semente de modo que sejamos Muitos, milhões.
Uma pessoa razoável poderia perguntar: por que você fez isso? Se eu possuía o poder de comandá-los, sem dúvida poderia ter parado tudo. A fúria fez parte da coisa, sim. Tudo o que eu amava tinha sido retirado de mim, e o que eu não amava também, que era a minha vida humana. O mesmo acontecia com os imperativos biológicos do meu ser remanufaturado; você poderia pedir a um leão faminto para ignorar a riqueza da savana? Não digo essas coisas em busca do perdão de ninguém, porque meus atos são imperdoáveis, nem digo que lamento, apesar de lamentar. (Isso surpreende você? O fato de Timothy Fanning, chamado de Zero, lamentar? É verdade: lamento tudo.) Apenas desejo montar o palco, delinear minhas ideias dentro do contexto adequado. O que eu desejava? Tornar o mundo uma devastação; fazer dele uma imagem espelhada de meu ser desgraçado; castigar Lear, meu amigo, meu inimigo, que acreditou ser capaz de salvar um mundo que não era passível de salvação, que, para começo de conversa, nunca mereceu ser salvo.
Tal era a minha fúria naqueles primeiros dias. Mas eu não podia ignorar indefinidamente os aspectos metafísicos da minha condição. Quando garoto, eu falava frequentemente com o Todo-poderoso. Minhas orações eram superficiais e infantis, como se eu falasse com Papai Noel: macarrão no jantar, uma bicicleta nova no aniversário, um dia de neve sem escola. “Meu Deus. Se, em sua infinita misericórdia, não for muito problema...” Que ironia! Nascemos fiéis e com medo, quando deveria ser o contrário; é a vida que nos ensina quanto temos a perder. Quando fiquei adulto, perdi esse impulso, como tantas pessoas. Não diria que era um descrente; é mais correto dizer que me preocupava pouco, se é que me preocupava, com questões celestiais. Não me parecia que Deus, quem quer que ele fosse, seria o tipo que se interessasse pelas minúcias das questões humanas, ou que esse fato nos livrasse do dever de prosseguir com a vida num espírito de decência para com os outros. É verdade que os acontecimentos da minha vida me colocaram num estado de desespero e descrença, porém mesmo nas horas mais sombrias da minha vida humana – as horas em que, até hoje, eu vivo –, não culpei ninguém além de mim mesmo.
Mas enquanto o amor se transforma em sofrimento e o sofrimento vira raiva, a raiva também deve ceder ao pensamento, para poder se conhecer. Minhas propriedades simbólicas eram inquestionáveis. Feito pela ciência, eu era um perfeito produto industrial, a própria corporificação da fé infatigável da humanidade em si mesma. Desde que nosso primeiro ancestral peludo raspou um sílex em outra pedra e baniu a noite com o fogo, subimos em direção ao céu por uma escada feita de nossa própria arrogância. Mas foi só isso? Será que eu era a prova final de que a humanidade vivia num cosmo não vigiado e sem propósito, ou seria algo mais?
Assim contemplei minha existência. No devido tempo essas ruminações me levaram a apenas uma conclusão. Eu tinha sido feito com um propósito. Não era o autor da destruição; era seu instrumento, forjado na oficina do céu por um deus de horrores.
O que poderia fazer, a não ser representar o papel?
Quanto à minha encarnação atual, de aparência mais humana: só posso dizer que Jonas estava certo com relação a uma coisa, afinal de contas, se bem que o sacana jamais viu isso. Os acontecimentos que vou descrever ocorreram apenas alguns dias depois da minha emancipação, num certo povoado da pradaria surpreendido pela noite, cujo nome (eu ficaria sabendo mais tarde) era Sewanee, Texas. Até hoje as lembranças daquele período inicial estão afogadas em júbilo. Que liberdade sublime! Que satisfação maravilhosa dos meus apetites! O mundo da noite parecia um glorioso banquete para meus sentidos, um bufê infinito. Mas eu me movia com certa cautela. Nenhum massacre em tavernas de beira de estrada. Nenhuma família trucidada inteira nas camas. Nenhuma lanchonete pintada de vermelho, com os clientes espalhados de qualquer jeito, desmembrados e sangrentos. Essas coisas acabariam acontecendo; mas por enquanto eu buscava deixar uma pegada mais leve. A cada noite, enquanto ia para o leste, jantava apenas um punhado, e somente em situações em que pudesse fazer isso com tranquilidade e me livrar rapidamente dos restos.
Assim, meu coração cantou uma ária de deleite ao ver a caminhonete.
O veículo, uma picape de cabine dupla espalhafatosamente inchada e superequipada – canos de escapamento verticais, rodas duplas no eixo traseiro, luzes no santantônio, decalque da bandeira confederada no para-choque –, estava parado diante de uma pedreira inundada. Seu isolamento era ideal, assim como a distração dos ocupantes: um homem e uma mulher num flagrante passional completo, desfrutando um do outro tanto quanto eu estava para desfrutar deles. Durante um tempo simplesmente olhei. Meu olhar não era carnal; pelo contrário, observava com a curiosidade do cientista. Por que fazer a coisa nesse lugar sem graça? Por que o ambiente incômodo de uma picape (o homem estava praticamente esmagando a amada contra o painel) para liberar seu esplendor animal? Sem dúvida havia camas suficientes no mundo. Não eram jovens, longe disso – ele era careca e um tanto corpulento; ela, magricela e de pele frouxa; os dois, um espetáculo de carne idosa. O que, neste lugar, os havia atraído? Seria nostalgia? Será que vinham aqui quando eram jovens? Será que eu estaria testemunhando uma representação da glória da juventude? Então percebi. Eles eram casados. Só não eram casados um com o outro.
Peguei a mulher primeiro. Montada no companheiro no banco amplo, estava saltando tão loucamente sobre a anatomia dele – mãos segurando o apoio de cabeça, a saia levantada na cintura e a calcinha balançando num tornozelo ossudo, o rosto virado para o céu como uma suplicante – que, quando escancarei a porta, pareceu mais irritada do que alarmada, como se eu a tivesse interrompido no meio de um pensamento particularmente importante. Isso, claro, não durou muito, não mais que dois segundos. É uma verdade interessante que o corpo humano, liberado da cabeça, é em essência um saco de sangue recheado de palha. Segurando seu tronco sem cabeça, posicionei a boca em volta daquele orifício que soltava jatos e dei uma sugada longa, vigorosa. Não estava esperando grande coisa. Parecia que sua dieta de cidade pequena, rica em conservantes, daria um sabor químico ao seu sangue. Mas não foi assim. Na verdade a mulher era deliciosa. Seu sangue era um verdadeiro buquê de sabores complexos, como um vinho bem envelhecido.
Mais duas sugadas fortes e joguei-a de lado. Nesse tempo seu companheiro, com as calças emboladas nos tornozelos, o pênis brilhante se desinflando rapidamente, havia conseguido se arrastar na direção do lado do motorista, onde tentava freneticamente encontrar a chave do carro no meio de um chaveiro. O chaveiro era enorme. Sem dúvida um chaveiro de zelador. Com os dedos trêmulos tentou enfiar uma chave na ignição e depois outra, sem resultado, murmurando uma sucessão de “ah, meu Deus” e “puta que pariu” que era apenas uma repetição ligeiramente alterada dos sons de êxtase e encorajamentos imundos que estivera ofegando no ouvido da companheira apenas alguns segundos antes.
A comédia era exótica. Falando francamente, eu não conseguia me fartar.
O que foi meu grande erro. Se eu o tivesse matado mais depressa, sem parar para saborear aquela apresentação risível, o mundo que conheceríamos seria um lugar diferente. Como aconteceu, minha demora lhe deu tempo para encontrar a chave certa, enfiá-la na ignição, ligar o motor e levar a mão à alavanca de câmbio antes que eu disparasse dentro da cabine, agarrasse sua cabeça, a inclinasse de lado e esmagasse sua traqueia com as mandíbulas, fazendo um som de esmagamento. Eu estava tão fascinado com o festim de sangue da vítima impotente que não notei o que acontecia – que ele havia engrenado o carro.
A aversão da nossa espécie pela água é bem conhecida; a água para nós significa a morte. Afundamos como pedras, os corpos não têm a flutuação dada pelo tecido adiposo. Da queda na pedreira só tenho lembranças fragmentadas. O progresso lento da picape para a borda do abismo; o puxão da gravidade e o mergulho inevitável; água a toda a volta, um casulo de morte fria, engolfando meus olhos, meus nariz e os pulmões. De pequenos erros decorrem grandes catástrofes; invencível na maioria dos outros aspectos, eu tinha encontrado o modo mais rápido de morrer. Quando a picape aterrissou com uma pancada suave no fundo do poço formado pela pedreira, eu me soltei da cabine e comecei a engatinhar pelo fundo rochoso. Mesmo em pânico, não deixei de perceber a ironia. Elemento Zero, o Destruidor do Mundo, arrastando-se feito um caranguejo! Minha única esperança era tatear o caminho até a beira da água e escalar. O tempo era meu inimigo; eu tinha apenas uma respiração engarrafada com a qual me salvar. Uma parede de pedra encontrou minhas mãos desesperadas; comecei a subir. Fui seguindo lentamente. Minha visão oscilava na escuridão, o fim estava próximo...
Como foi que de repente me vi de quatro – com a carne cor-de-rosa, mãos e joelhos de aparência inconfundivelmente humana –, engasgando com enormes volumes de vômito grosso, é uma questão que deixarei para os teólogos. Porque certamente morri; o corpo se lembra dessas coisas. Tendo me livrado da água da pedreira, ainda assim sucumbi e, durante algum tempo, fiquei caído como um corpo afogado nas pedras, e acabei sendo lançado de volta na existência.
Pelo jeito a porta da morte não tinha uma placa de SOMENTE SAÍDA, afinal de contas.
Depois de expelir o resto da água da pedreira, consegui, num estado de perplexidade, ficar de pé. Onde eu estava? Quando eu estava? O que eu era? Tamanha era minha desorientação que parecia que eu podia ter sonhado tudo aquilo – ou então, pelo contrário, que eu estava sonhando isso. Levantei uma das mãos diante da lua. Em todos os aspectos visíveis era a mão de um ser humano – a mão de Timothy Fanning, titular da Cátedra Eloise Armstrong, etc. Olhei o resto de mim; com dedos trêmulos sondei o rosto, o peito e a barriga, as pernas pálidas; nu ao luar, investiguei cada característica da minha pessoa física como um cego lendo braile.
Droga, pensei.
Eu tinha parado numa laje de pedra que se projetava da parede da pedreira; um caminho estreito me levou ao topo, onde saí numa área cheia de máquinas apodrecendo meio enterradas pelo mato. A hora era desconhecida. A não ser pela lua, não havia luz em lugar nenhum. A paisagem era de uma desolação tão grande que fazia parecer que o mundo já tinha acabado.
As águas da pedreira esconderiam minha segunda vítima, mas eu precisava cuidar da mulher; a última coisa que queria era uma caçada policial para complicar as coisas. Circulei a pedreira até a área de estacionamento. Vê-la não provocou remorso, só o tipo de pena superficial, rapidamente despachada, que sentimos ao ler no jornal o relato de alguma catástrofe distante enquanto comemos a segunda fatia de torrada da manhã. Dois sons distantes de água espirrando – corpo, cabeça – e ela foi para o fundo.
Nada disso serviu para resolver o problema de ser um homem adulto nu em um terreno desconhecido. Eu precisava de roupas, abrigo, uma história. Além disso, certa agitação mental, como uma sirene inaudível no cérebro, me dizia que, caso o dia me encontrasse em terreno aberto, nada de feliz aconteceria.
A estrada principal era arriscada demais. Fui para a floresta, esperando encontrar eventualmente alguma via menos movimentada. Depois de um tempo saí numa plantação recente dividida por uma estrada de terra. A distância vi luz e fui até lá. Era uma casa pequena, de um andar, bastante dilapidada e de estilo indefinido, pouco mais do que uma caixa onde guardar uma vida humana: a luz que eu tinha visto era uma lâmpada numa das duas janelas da frente. Não havia carro na entrada de veículos, o que sugeria que a casa não estava ocupada, mas a luz acesa indicava a volta iminente do dono.
A porta se abriu, obediente, num cômodo com móveis de aglomerado, badulaques de tema rural e uma televisão do tamanho de um telão de estádio. Um rápido exame do interior – quatro cômodos e uma cozinha – confirmou minha impressão de que não havia ninguém em casa. E de que a pessoa que morava ali era uma mulher que tinha frequentado a escola de enfermagem da Universidade de Wichita, tinha quase 50 anos, rosto macio e redondo e cabelos grisalhos dos quais não cuidava muito, vestia tamanho 56, era frequentemente fotografada em estado de embriaguez em restaurantes com temas étnicos (usando um colar havaiano de flores de plástico, flertando descaradamente com os mariachis, segurando um pauzinho de fondue flamejante) e morava sozinha. No armário, escolhi as coisas mais neutras que pude encontrar – uma calça de moletom, volumosa no meu corpo masculino mediano, um casaco com capuz, igualmente enorme, e um par de sandálias de plástico – e entrei no banheiro.
A visão que me recebeu no espelho não era totalmente inesperada. Nesse ponto tinha ficado aparente que o ato físico de me afogar não havia me restaurado completamente ao meu estado humano, mas transformara minha pessoa em algo mais comum. O vírus permanecia; minha morte apenas havia provocado uma nova interação com o hospedeiro. Muitos atributos tinham sido preservados. Visão, audição, olfato: tudo havia mantido a agudeza superexcitada. Apesar de eu ainda não tê-los testado direito, meus membros – na verdade todo o meu físico, dos ossos ao sangue – zumbiam com uma força bestial.
Mas essas coisas não me prepararam para o que vi. Minha pele era de uma palidez incomum, quase cadavérica. As raízes do meu cabelo, que milagrosamente havia crescido de volta, formavam um triângulo na testa com uma ponta perfeitamente cômica. Os olhos possuíam o tom rosado de um albino. Mas o detalhe final foi o que me fez parar. A princípio achei que era piada. Atrás dos cantos do lábio superior, no meio dos outros dentes comuns, duas pontas brancas desciam como pingentes de gelo – ou, mais exatamente, presas.
Drácula. Nosferatu. Vampiro. Mal posso dizer os nomes sem revirar os olhos. Mas ali estava eu, a fantasia de Jonas Lear encarnada, uma lenda que tinha ganhado vida.
O barulho de pneus sobre cascalho me despertou. Enquanto eu saía do banheiro, um par de faróis atravessou a sala. Abaixei-me atrás de um cabideiro de casacos bem a tempo de a porta se abrir com um sopro de ar de primavera. A mulher, cujo nome era Janet Duff – eu tinha descoberto isso pelo diploma emoldurado acima da mesa atulhada de contas em seu quarto –, entrou bamboleando, usando um casaco florido, calça de poliéster branca e sapatos comuns para uma enfermeira saindo do turno da noite. Sem ao menos parar, colocou o chaveiro na mesa perto da porta, chutou os sapatos longe, jogou a bolsa estufada numa cadeira e foi até a cozinha, de onde veio o som de uma geladeira se abrindo e o gorgolejo de um copo sendo enchido. Um momento para engolir uma quantidade de vinho capaz de aliviar a alma (senti o cheiro: Chablis barato, de caixinha, provavelmente), e a enfermeira Duff retornou à sala com um copo mais ou menos do tamanho de uma lata de tinta, ligou a TV gigante e se aboletou no sofá, acomodando-se em almofadas como um boneco inflável de carro alegórico sendo furado.
Não entendi como ela não me notou atrás do cabideiro, a não ser dizendo que minha nova condição me permitia ficar numa imobilidade que funcionava como uma espécie de camuflagem, me deixando quase invisível para o olhar casual, cansado do mundo. Observei-a zapear por vários programas – um drama policial, o canal da meteorologia, um documentário sobre prisões – até parar num reality show sobre, imagine só, um concurso de cupcakes. Estava de costas para mim. Gole por gole, o vinho acabou. Achei que não demoraria muito até que a enfermeira Duff, anestesiada pelo álcool, começasse a roncar. Mas com a lâmina do alvorecer deslizando na minha direção e minhas várias necessidades prementes – dinheiro, um automóvel, um lugar seguro para esperar a passagem do dia –, não vi motivo para demorar. Saí do esconderijo e parei atrás dela.
– Hrrmm.
Não a matei imediatamente. Mais uma vez, não busco perdão, e sim paciência com minha narrativa. Havia informações a coletar, e para isso a enfermeira Duff precisava estar viva.
Bastou uma provinha e a coisa estava feita. Imediatamente ela desmaiou – os olhos viraram para trás, a respiração foi expelida, cada centímetro de seu corpo ficou frouxo. Como um noivo ansioso, peguei-a no colo e a carreguei para o quarto, onde a deixei sobre o edredom, depois fui ao banheiro e enchi a banheira. Quando retornei, a mudança havia começado. Uma espuma branca brotava dos lábios dela. Os dedos começaram a estremecer, as mãos. Ela gemeu, depois grunhiu, em seguida ficou em silêncio enquanto uma série de espasmos sacudiam seu corpo com tanta violência que pensei que a querida enfermeira Duff iria se partir feito um biscoito.
Então aconteceu. A aproximação visual mais precisa que posso oferecer é um vídeo em movimento acelerado mostrando o desabrochar de uma flor. Com um estalo cartilaginoso seus dedos começaram a se alongar. De repente o cabelo se soltou do crânio e caiu feito um leque no travesseiro. Como se tivessem sido cobertas de ácido, as feições do rosto ficaram neutras até não restar qualquer traço de personalidade. Nesse ponto as convulsões haviam parado; os olhos estavam fechados, o rosto quase pacífico. Sentei-me na cama ao seu lado, murmurando encorajamentos suaves. Uma luz verde tinha começado a emanar dela, banhando o cômodo num brilho suave, de quarto de bebê. Seu maxilar desencaixou; com algo parecido com um espirro de cachorro, os dentes saltaram da boca como um punhado de grãos de milho, abrindo caminho para a barricada de lanças que subiram, sangrentas, das gengivas.
Era medonho. Era lindo.
Ela abriu os olhos. Por um longo momento ficou me encarando. Que sentimento havia naquele olhar! Cada um de nós é um personagem na nossa própria história; é assim que entendemos nossa vida. Mas a mulher que tinha sido a enfermeira Duff – que ajudava os doentes e os sofredores, colecionava colchas de retalhos e batedores de manteiga antigos, bebia mai tais, margaritas e bahama mamas; filha, irmã, sonhadora, cuidadora, solteirona – tinha se tornado desconhecida de si mesma. Agora ela era parte de mim, uma extensão da minha vontade; se eu desejasse, poderia fazer com que ela saltitasse num dos pés tocando um uquelele invisível.
– Não precisa ter medo – falei, segurando sua mão. – Tudo vai melhorar, você vai ver.
De novo peguei-a no colo. Minha força era tanta que seu volume considerável parecia um brinquedo. Uma lembrança me veio: eu tinha carregado uma mulher assim, antes. Ainda que as circunstâncias fossem diferentes, ela também tinha parecido muito leve. A lembrança provocou um sentimento de ternura tão avassalador que por um momento duvidei dos meus atos. Mas havia coisas a aprender, e a tarefa que eu ia realizar era, ainda que de modo irônico, uma gentileza.
Levei a enfermeira Duff ao banheiro e suspendi seu corpo acima da banheira. Devido a algum instinto feminino remanescente, ela havia envolvido meu pescoço com os braços; ainda não tinha notado a água, como era minha esperança. Eu estava olhando fundo nos seus olhos, emitindo pensamentos que a tranquilizavam. Sua confiança em mim era absoluta. O que eu era para ela? Pai? Amante? Parteiro? Deus?
O feitiço se rompeu no instante em que seu corpo tocou a água. Ela começou a se sacudir feito louca, lutando para se soltar. Mas sua força era muito menor do que a minha. Apertando-a pelos ombros forcei seu rosto de gárgula para baixo da superfície. Seu pânico e confusão me atravessaram. Que traição! Que ardil incompreensível! Outros se sentiriam levados à piedade, mas esses sentimentos só reforçaram minha decisão. Senti-a respirar a água pela primeira vez. Aquilo ricocheteou através dela como um soluço. Ela respirou uma segunda vez, depois uma terceira, enchendo os pulmões. Um último espasmo de agonia e ela se foi.
Recuei. O primeiro teste havia passado; agora vinha o segundo. Esperando a restauração de sua forma humana, contei os segundos; quando nada aconteceu, tirei-a da água e a coloquei de rosto para baixo no chão, achando que isso poderia encorajar o processo. Porém outros minutos se passaram e fui obrigado a admitir que nenhuma mudança viria; a enfermeira Duff tinha partido permanentemente desta vida.
Saí do banheiro e me sentei na cama dela, para pensar na situação. A única conclusão que pude tirar foi que o efeito transformador da água só valia para mim – que meus descendentes não possuíam o dom da ressurreição. Mas eu não tinha como explicar por quê – por que eu estava sentado ali, parecido com o homem que tinha sido, enquanto ela estava morta no piso do banheiro feito um monstro marinho encalhado. Será que eu era simplesmente uma versão mais robusta da nossa espécie, sendo o alfa, o original, o Zero? Ou será que a diferença não era do corpo, e sim da mente? O fato de eu ter desejado viver, e ela não? Pensei nas minhas emoções. Na verdade não existia nenhuma. Tinha afogado uma inocente numa banheira, mas meus sentimentos eram absolutamente sem cores. Desde que tinha cravado os incisivos na carne macia de seu pescoço e tomado o primeiro gole doce feito açúcar, ela havia deixado de existir como uma entidade distinta de mim; pelo contrário, tinha se tornado uma espécie de apêndice. Matá-la não parecia mais digno de nota do que aparar uma unha. De modo que talvez aí estivesse a diferença. Do único modo que realmente importava, a enfermeira Duff já estava morta quando a enfiei na água.
Ao mesmo tempo, campainhas de alerta soavam dentro de mim. A luz na sala estava mudando; o alvorecer, minha nêmesis, estava chegando. Andei rapidamente pela casa, fechando cada persiana e cada cortina, trancando as portas da frente e dos fundos. Nas próximas doze horas eu não iria a lugar nenhum.
Acordei na escuridão deliciosa, tendo descoberto o sono mais revigorante e desprovido de sonhos que já tivera. Nenhuma batida à porta havia me acordado; a partida da enfermeira Duff do mundo ainda não tinha sido notada, mas isso sem dúvida aconteceria. Fiz os preparativos rapidamente. Nas estradas dos Estados Unidos até mesmo um vampiro, em especial um vampiro que queira voar abaixo do radar, precisa de dinheiro. Numa jarra de biscoitos em forma de gato descobri 2.500 dólares em notas velhas, mais do que o suficiente, e um revólver calibre 38, do qual nenhuma pessoa na história do planeta precisava menos do que eu.
Meu plano era ziguezaguear para o leste evitando as estradas principais. A viagem levaria cinco, talvez seis noites. O velho Corolla da enfermeira Duff, com seus papéis de bala, latas de refrigerante e coisas sem valor, bastaria por enquanto, mas teria de ser descartado logo; alguém acabaria descobrindo o demônio morto no banheiro e notaria a falta do automóvel. Eu também me sentia – e parecia – ridículo com o enorme agasalho da mulher e as sandálias de plástico; era necessário um figurino mais adequado.
Oito horas depois estava no sul do Missouri, onde comecei o padrão que organizaria minha vida dali em diante. Cada novo nascer do dia me encontrava escondido em segurança num motel simples atrás de cortinas fechadas, pedaços de papelão presos com fita adesiva e uma placa de NÃO PERTURBE; assim que a noite caía, eu ia embora de novo e dirigia sem parar até uma ou duas horas antes do amanhecer. Em Carbondale, Illinois, decidi abandonar o Corolla. Além disso, estava com muita fome. Demorei-me no hotel até depois do escurecer, sentado no meu carro estacionado, de modo a observar as idas e vindas dos colegas viajantes e identificar um fornecedor adequado de alimentação, roupas e transporte. O homem que escolhi tinha aproximadamente minha altura e meu peso; além disso, parecia convenientemente embriagado. Quando ele entrou no quarto, empurrei-o por trás, matei-o antes que ele pudesse emitir mais do que um gemido bêbado – o sujeito tinha um gosto rançoso de nicotina e uísque vagabundo –, enrolei seu corpo na cortina do banheiro para disfarçar o fedor de podridão, enfiei-o no armário, servi-me do conteúdo de sua carteira e da mala (mocassins, camisa esporte amarrotada com estampa xadrez horrível, seis cuecas e uma samba-canção com as palavras ME BEIJE, SOU IRLANDÊS impressas na virilha) e parti em seu sedã totalmente americano e de bancos fofos. Os cartões de visita em sua carteira o identificavam como gerente de vendas regional de uma fábrica de equipamentos industriais para circulação de ar. Eu poderia muito bem ter sido ele.
Desse jeito fui caçando e seguindo meu caminho pela grande e desinteressante laje que é o Meio-Oeste americano. À medida que as noites e os quilômetros deslizavam, uma hipnose de estrada lançou minha mente no passado. Pensei nos meus pais, mortos havia muito tempo, e na cidade onde fui criado – igualzinha aos muitos povoados anônimos por onde eu, o Rei da Destruição, passava de modo pouco notável, apenas um par de faróis seguindo pelo escuro. Pensei nas pessoas que tinha conhecido, nos amigos que tinha feito, nas mulheres com quem tinha dormido. Pensei numa mesa com flores, cristais e vista para o mar e numa noite – uma noite triste e linda – em que carreguei minha amada para casa sob a neve que caía. Pensei em todas essas coisas e em muitas outras, mas, acima de tudo, pensei em Liz.
Na noite do sexto dia, as luzes de Nova York se ergueram a partir do desventurado estado de Nova Jersey. Oito milhões de almas: meus sentidos cantavam feito um soprano. Entrei em Manhattan pelo túnel Lincoln, abandonei o carro na Oitava Avenida e fui andando a pé. Parei no primeiro bar que encontrei, um pub irlandês com balcão muito laqueado e serragem no chão. Entre os fregueses nada parecia fora do comum; tamanho é o isolamento dos nova-iorquinos que o que acontecia no meio do país ainda não havia se fundido num sentimento generalizado de crise. Sentado sozinho junto ao balcão, pedi um uísque, que não pretendia beber, mas descobri que o desejava e, mais interessante, que ele não causava efeitos ruins. Era delicioso, os sabores mais sutis dançando no palato. Estava no terceiro copo quando percebi outras duas coisas: não estava nem um pouco bêbado e precisava tremendamente mijar. No banheiro masculino meu corpo soltou um jato tão violentamente percussivo que fez ressoar a louça do vaso. Isso também foi imensamente satisfatório; parecia não haver prazer corporal que não fosse amplificado cem vezes.
Mas o verdadeiro objeto da minha atenção era o aparelho de TV acima do balcão. Estava acontecendo um jogo de beisebol dos Yankees. Esperei até o último lançamento ser feito e perguntei ao barman se ele mudaria para a CNN.
Não precisei esperar muito: “Orgia de mortes no Colorado”, dizia a legenda na base da tela. A loucura estava se espalhando. Chegavam informes de locais em todo o estado: famílias inteiras trucidadas nas camas, cidades em que nenhuma pessoa restava viva, um restaurante de beira de estrada com os fregueses estripados feito trutas. Mas também havia sobreviventes – mortos, porém vivos. Aquilo só olhou para mim. Não era humano. Soltava uma espécie de brilho. Eram delírios dos traumatizados ou algo mais? Ninguém ainda tinha feito as contas, mas eu fiz. Segundo minhas instruções, para cada nove mortos um fora chamado para o rebanho. Os hospitais estavam se enchendo com os doentes e feridos. Náusea, febre, espasmos, e então...
– Essa merda é arrepiante.
Virei-me para o homem. Quando foi que o banco adjacente havia sido ocupado? Era de certo tipo urbano fabricado aos milhares: meio careca e com pinta de advogado, rosto inteligente e ligeiramente belicoso, uma sombra de barba de um dia e uma pequena pança com relação à qual ele vivia querendo fazer alguma coisa. Sapatos de amarrar, terno azul e camisa branca engomada, gravata frouxa. Alguém o esperava em casa, mas ele não conseguia se obrigar a encará-lo por enquanto, principalmente depois do dia que havia tido.
– E eu não sei?
No balcão diante dele havia uma taça de vinho. Nossos olhares se encontraram pelo que pareceu um tempo longo demais. Notei o cheiro avassalador de suor de nervosismo que ele tinha tentado esconder com perfume. Seu olhar viajou pela extensão do meu tronco, parando na minha boca ao subir.
– Não vi você aqui antes?
Ah, pensei. Girei o olhar ao redor. Não havia mulheres.
– Acho que não. Sou novo.
– Vai se encontrar com alguém?
– Até agora, não.
Ele sorriu e estendeu a mão – a que não tinha a aliança de casamento.
– Sou Scott. Deixe-me pagar uma bebida para você.
Trinta minutos depois, usando seu terno, deixei-o num beco, contorcendo-se e espumando pela boca.
Pensei em visitar meu antigo apartamento, mas descartei a ideia; aquele não era o meu lar, nunca havia sido. O que é um lar para um monstro? Para qualquer pessoa? Para cada um de nós existe uma base geográfica, um lugar tão saturado de memórias que, dentro dele, o passado está sempre presente. Era tarde, mais de duas da madrugada, quando entrei no salão principal da estação Grand Central. Os restaurantes e as lojas tinham fechado muito antes, lacrados atrás de suas grades; o quadro acima dos guichês de passagem só listava os trens da manhã. Apenas algumas almas se demoravam ali: os sempre presentes guardas de trânsito, com seus coletes de Kevlar e os adereços de couro estalando, um casal com roupa de noite correndo para um trem que havia partido muito antes, um velho negro empurrando um esfregão e com fones enfiados nas orelhas. No centro do salão de mármore estava a cabine de informações com seu lendário relógio. Me encontre no salão principal, no balcão do relógio de quatro faces...
Era o ponto de encontro mais famoso de Nova York, talvez do mundo inteiro. Quantos encontros fatídicos teriam acontecido nesse lugar? Quantos encontros clandestinos teriam começado, quantas noites de amor? Quantas gerações caminhavam pela terra porque um homem e uma mulher tinham combinado se encontrar ali, sob esse relógio histórico feito de latão lustroso e vidro opalescente? Inclinei o rosto para o teto abobadado, 40 metros acima. Quando eu era um jovem adulto, sua beleza estava embotada por camadas de fuligem de carvão e nicotina, mas aquela era a velha Nova York; uma limpeza meticulosa no fim dos anos 1990 havia restaurado suas imagens astrológicas em folha de ouro até o brilho original. Touro; Gêmeos; Aquário carregando sua água; uma mancha leitosa do braço da galáxia, como só podemos ver nas noites mais límpidas. Um fato pouco conhecido, mas que não passou despercebido pelo meu olhar de cientista, é que o teto da Grand Central é na verdade desenhado ao contrário. É uma imagem espelhada do céu noturno; segundo o folclore, o artista trabalhou a partir de um manuscrito medieval que mostrava o céu não de dentro, mas de fora – não a visão da humanidade, e sim a de Deus.
Sentei-me no topo da escadaria da sacada oeste. Um policial me olhou rapidamente, mas, como agora eu usava as roupas de um respeitável profissional liberal, não estava dormindo nem visivelmente bêbado, ele me deixou em paz. Fiz uma avaliação logística do ambiente. A Grand Central era mais do que uma estação de trens; era um dos principais pontos de ligação das camadas da cidade, de seu vasto mundo subterrâneo feito de túneis e câmaras. Centenas de milhares de pessoas passavam por esse lugar a cada dia, a maior parte jamais olhando para além dos bicos dos sapatos. Em outras palavras, era perfeito para meu objetivo.
Esperei. As horas passaram, depois os dias. Ninguém parecia me notar, ou, se notava, não se importava. Muitas outras coisas estavam acontecendo.
E então, depois de um intervalo de tempo desconhecido, ouvi um som que não tinha escutado antes. Era o som que o silêncio faz quando não resta ninguém para ouvir. A noite havia caído. Levantei-me do meu lugar na escadaria e fui para fora. Não havia luzes acesas em lugar nenhum; o negrume era tão completo que era como se eu estivesse no mar, a quilômetros de qualquer litoral. Olhei para cima e tive a visão mais curiosa. Centenas, milhares, milhões de estrelas trancadas em seu giro lento sobre o mundo vazio, como acontecia desde o início dos tempos. Seus pinos de luz caíam no meu rosto como gotas de chuva, chegando do passado. Eu não sabia o que estava sentindo, só que sentia; e finalmente comecei a chorar.
QUINZE
E assim foi minha triste história.
Observe-o, um jovem capaz, de aparência passável, magro e de cabelos revoltos, bronzeado de um verão com trabalho honesto ao ar livre, bom em matemática e coisas mecânicas, não desprovido de ambição e grandes esperanças e dotado de uma personalidade solitária, introspectiva, sozinho em seu quarto sob o telhado enquanto faz a mala com camisas dobradas, meias, cuecas e não muita coisa mais. O ano é 1989; o cenário é uma cidade provinciana chamada Mercy, Ohio – famosa, brevemente, por suas metalúrgicas de precisão, supostamente produtoras dos melhores cartuchos de balas da história da guerra moderna, se bem que isso, como boa parte da cidade, havia se desbotado muito antes. O quarto, que em uma hora seria desocupado, é um templo à juventude do rapaz. Ali está o mostruário de troféus. Ali está o abajur em forma de soldado e as cortinas combinando com o tema marcial; as prateleiras com romances em série sobre trios intrépidos de adolescentes substimados cujo jovem intelecto lhes permite resolver crimes que os mais velhos não conseguem solucionar. Pregadas nas paredes de reboco neutro, estão as flâmulas de times esportivos e o enigmático desenho de M. C. Escher, das mãos desenhando uma à outra. E, do outro lado da cama de solteiro meio bamba, o pôster, adequado à época, da modelo de maiô com mamilos eretos na Sports Illustrated, a mesma que, com seus membros lúbricos, olhar sedutor e partes púbicas mal escondidas, motivou o garoto a se masturbar com fúria noite após noite.
Mas o rapaz: arruma suas coisas com a solenidade perplexa de um enlutado no enterro de uma criança, que é a analogia adequada para a cena. O problema não é que ele não consiga fazer seus pertences caberem – ele consegue –, e sim o oposto: a insignificância do conteúdo da mala parece não combinar com a grandiosidade de seu destino. Presa com tachas acima da atulhada escrivaninha de menino, uma carta dá a pista. Caro Timothy Fanning, diz ela em letras elaboradamente ornamentadas com um emblema carmim, em forma de escudo e com a agourenta palavra VERITAS sugerindo sabedorias antigas. Parabéns e bem-vindo à turma de 1993 de Harvard!
É início de setembro. Lá fora uma chuva nevoenta, tingida pelo verde de verão, abraça o pequeno povoado de casas, quintais e estabelecimentos comerciais, um dos quais pertence ao pai do rapaz, o único oftalmologista da cidade. Isso coloca a família do jovem no ponto mais alto da reduzida economia local: segundo os padrões daquela época e daquele lugar, eles estão bem de vida. Seu pai é conhecido e apreciado; anda pelas ruas de Mercy sob um coro de olás amigáveis, porque quem é mais admirável e digno de gratidão do que o homem que colocou os óculos em seu nariz e lhe permite ver as coisas e as pessoas da sua vida? Quando criança, o garoto adorava ir ao trabalho do pai e experimentar todos os óculos que enfeitavam os mostruários e vitrines, ansiando pelo dia em que precisaria de um par, do qual jamais precisou: seus olhos eram perfeitos.
– Está na hora de ir, filho.
Seu pai surgiu junto à porta: um homem baixo, de peito amplo, cujas calças de flanela cinza, por necessidade gravitacional, são mantidas por suspensórios. O cabelo ralo está molhado do chuveiro, as bochechas recém-raspadas pelo aparelho antigo com lâminas de segurança que ele prefere às inovações modernas na tecnologia do barbear. O ar em volta dele canta com o cheiro de Old Spice.
– Se você esquecer alguma coisa, podemos mandar depois.
– O quê, por exemplo?
O pai dá de ombros amigavelmente; está tentando ser solícito.
– Não sei. Roupas? Sapatos? Pegou seu certificado? Tenho certeza de que vai querer isso.
Está falando do prêmio de segundo lugar que o rapaz tirou na competição do Dia da Ciência do Western Reserve District 5. “A fagulha da vida: o equilíbrio de Gibbs-Donnan e o potencial de Nernst na origem crítica da viabilidade celular.” O certificado, numa moldura preta e simples, está pendurado na parede acima da escrivaninha. A verdade é que aquilo o envergonha. Não é verdade que todos os alunos de Harvard ganham o primeiro lugar? Mesmo assim finge agradecer por ser lembrado e coloca o certificado em cima da pilha de roupas na mala aberta. Quando estiver em Cambridge, o diploma nunca vai sair da gaveta de sua escrivaninha; três anos depois ele vai descobri-lo embaixo de uma pilha de papéis variados, olhá-lo com um rápido sentimento amargo e jogá-lo no lixo.
– Esse é o espírito – diz seu pai. – Mostrar àqueles espertinhos de Harvard com quem estão lidando.
Vinda de baixo da escada, a voz da mãe sobe numa canção insistente:
– Ti-mo-thy! Já está pronto?
Ela nunca o chama de “Tim”; é sempre “Timothy”. O nome o deixa sem graça – parece ao mesmo tempo pomposo e diminutivo, como se ele fosse um pequeno lorde inglês numa almofada de veludo – se bem que secretamente gosta disso. O fato de sua mãe o preferir tremendamente ao marido não é segredo; o contrário também é verdadeiro. O rapaz a ama muito mais do que ama o pai, cujo vocabulário emocional é limitado a tapinhas masculinos nas costas e a um acampamento ocasional “só para os garotos”. Como muitos outros filhos, o rapaz tem consciência de seu valor na economia doméstica, e em nenhum lugar esse valor é maior do que nos olhos de sua mãe. Meu Timothy, ela gosta de dizer, como se houvesse outros que não fossem seus; ele é seu único. Você é meu Timothy especial.
– Haaa-rold! O que está fazendo aí em cima? Ele vai perder o ônibus!
– Pelo amor de Deus, só um minuto!
Ele volta o olhar para o rapaz.
– Honestamente, não sei o que ela vai fazer sem ter você com que se preocupar. Essa mulher vai me deixar maluco.
É uma piada, o rapaz entende, mas na voz do pai ele detecta um tom de seriedade. Pela primeira vez pensa em todas as dimensões emocionais do dia. Sua vida está mudando, mas a dos pais também. Como um habitat abruptamente privado de uma espécie importante, o lar será forçado a um rearranjo com sua partida. Como todos os jovens, ele não tem ideia de quem são realmente seus pais; durante dezoito anos experimentou a existência dos dois apenas no sentido em que ela se relacionava com suas necessidades. De súbito sua mente está cheia de perguntas. Sobre o que os dois falam quando ele não está por perto? Que segredos escondem um do outro, que aspirações foram deixadas de lado? Que ressentimentos particulares, contidos pelo projeto compartilhado de criar um filho, irão saltar para a luz agora, com sua ausência? Eles o amam, mas será que amam um ao outro? Não como pais ou mesmo marido e mulher, mas simplesmente como pessoas – como certamente devem ter se amado em algum momento? Ele não faz a menor ideia; não pode entender essas questões, assim como não pode imaginar o mundo antes de seu nascimento.
Para aumentar a dificuldade, há o fato de que o rapaz nunca se apaixonou. Ainda que os padrões sociais de Mercy, Ohio, sejam tais que até mesmo uma pessoa só moderadamente bonita encontra oportunidades no mercado sexual e que o rapaz, apesar de virgem, tenha sido beneficiário do mesmo de vez em quando, o que ele experimentou é meramente o presságio indolor do amor, a expressão sem a alma. Imagina se isso é uma carência que ele possui. Será que existe uma parte do cérebro de onde vem o amor e que, em seu caso, ela veio com um defeito drástico? O mundo está lavado em amor – no rádio, nos filmes, nas páginas dos romances. O amor romântico é a narrativa cultural comum, mas ele parece imune. Assim, apesar de ainda não ter testado a dor que vem do amor, experimentou uma dor de tipo diferente, relacionado: o medo de enfrentar uma vida sem ele.
Encontram a mãe do rapaz na cozinha. Ele espera vê-la vestida e pronta para sair, mas ela está usando seu roupão florido e chinelos de veludo cotelê. Segundo algum acordo não verbalizado, ficou decidido que somente o pai vai acompanhá-lo à estação.
– Preparei um lanche para você – declara ela.
Enfia um saco de papel na mão dele. O rapaz desenrola a parte de cima, amarrotada: um sanduíche de creme de amendoim em papel impermeável, cenouras cortadas num saquinho, uma caixa de leite, um pacote de biscoitos. Ele está com 18 anos: poderia devorar o conteúdo de dez sacos assim e continuar com fome. É um lanche para criança, mas ele se pega absurdamente agradecido pelo pequeno presente. Quem sabe quando a mãe vai lhe fazer um lanche de novo?
– Você tem dinheiro suficiente? Harold, você deu dinheiro suficiente a ele?
– Estou bem, mãe. Tenho o suficiente para todo o verão.
Os olhos da mãe começam a se empoçar com lágrimas.
– Ah, eu disse que não iria fazer isso. – Ela balança as mãos diante do rosto. – Eu disse: Lorraine, não ouse chorar.
Ele dá um passo e entra no abraço caloroso da mãe. Ela é uma mulher substancial, boa de abraçar. Ele inala seu cheiro – um aroma empoeirado, de fruta doce, tingido com o odor químico do spray de cabelo e da nicotina do seu cigarro do café da manhã.
– Pode deixá-lo ir agora, Lori. Vamos chegar tarde.
– Harvard. Meu Timothy vai para Harvard. Não posso acreditar.
A viagem até a estação de ônibus, numa cidade vizinha, leva trinta minutos por estradas rurais. O carro, um Buick LeSabre de modelo recente com suspensão macia e bancos fofos de tecido aveludado, faz a estrada parecer vaga, como se estivessem levitando. É a única indulgência pessoal do pai: a cada dois anos um novo LeSabre aparece na entrada de veículos, totalmente indistinguível do anterior. Passam pelas últimas casas e entram na zona rural. Os campos estão gordos com o milho; pássaros giram acima das fileiras de árvores que protegem contra o vento. Aqui e ali uma casa de fazenda, algumas muito bem cuidadas, outras sem manutenção – tinta descascando, alicerces tombando, móveis estofados nas varandas e brinquedos abandonados nos quintais. Tudo o que o rapaz vê toca seu coração com carinho.
– Escuta – diz seu pai enquanto se aproximam da estação. – Eu queria lhe dizer uma coisa.
Aí vem, pensa o rapaz. Esse anúncio iminente, qualquer que seja, é o motivo para terem deixado a mãe para trás. O que será? Não tem a ver com garotas ou sexo; afora uma conversa incômoda quando ele estava com 13 anos, o assunto nunca foi puxado. Estude muito? Mantenha os olhos nos livros? Mas essas coisas também já foram ditas.
O pai pigarreia.
– Eu não queria falar isso antes. Bom, talvez quisesse. Provavelmente deveria ter dito. O que quero dizer é que você está destinado a coisas grandes. Coisas fantásticas. Eu sempre soube.
– Vou fazer o máximo, prometo.
– Sei que vai. Não é isso que quero dizer de verdade.
O pai não olha nenhuma vez para o rapaz.
– O que estou dizendo é que este não é mais o seu lugar.
A observação é tremendamente inquietante. O que o pai quer dizer?
– Não quer dizer que nós não amemos você – continua ele. – Longe disso. Só queremos o melhor.
– Não entendo.
– As férias, certo. Não faria sentido você não passar o Natal aqui. Você sabe como sua mãe é. Mas afora isso...
– Está dizendo que não quer que eu venha para casa?
O pai está falando depressa, as palavras não são exatamente ditas, mas disparadas.
– Você pode telefonar, claro. Ou nós podemos ligar para você. A cada duas semanas, digamos. Ou mesmo uma vez por mês.
O rapaz não faz ideia do que pensar. Além do mais, detecta uma nota de falsidade nas palavras do pai, uma rigidez fabricada. É como se ele estivesse lendo um cartão.
– Não acredito no que você está dizendo.
– Sei que provavelmente é duro de ouvir. Mas de fato não tem jeito.
– Como assim, não tem jeito? Por quê?
O pai respira fundo.
– Escute, mais tarde você vai me agradecer. Confie em mim, está bem? Agora você pode não pensar desse jeito, mas você tem a vida inteira pela frente. Esse é o ponto.
– Esse não é o ponto, porra!
– Ei, cuidado com a língua. Não há motivo para falar assim.
De repente o rapaz está à beira das lágrimas. Sua partida se tornou um banimento. O pai fica quieto e o garoto entende que uma fronteira foi alcançada; ele não vai receber mais nada do sujeito. Só queremos o melhor. Você tem a vida inteira pela frente. O que quer que o pai esteja sentindo de fato, está escondido atrás dessa metralhadora de clichês.
– Enxugue as lágrimas, filho. Não há motivo para fazer tempestade em copo d’água.
– E mamãe? Ela também acha isso?
O pai hesita; o garoto detecta um clarão de dor no rosto dele. Uma sugestão de alguma coisa genuína, uma verdade mais profunda, mas no instante seguinte isso desaparece.
– Não precisa se preocupar com ela. Ela entende.
O carro para; o rapaz levanta os olhos, pasmo em descobrir que chegaram à estação. Três baias, uma com um ônibus esperando; os passageiros estão entrando.
– Está com a passagem?
Sem dizer nada, o rapaz confirma com a cabeça; o pai estende a mão. Timothy se sente como se estivesse sendo demitido de um emprego. Quando se cumprimentam, o pai aperta sua mão antes dele; esmagando seus dedos. O aperto é desajeitado e embaraçoso; os dois ficam aliviados quando termina.
– Agora vá – instiga o pai com falsa alegria. – Você não vai querer perder o ônibus.
Não há como resgatar o momento. O rapaz sai, ainda segurando o saco de papel com o lanche. O objeto parece um totem, o último vestígio de uma infância não tanto abandonada quanto obliterada. Pega a bagagem no porta-malas e espera para ver se o pai vai sair do Buick. Talvez, num gesto de conciliação de último minuto, ele carregue sua mala até o ônibus ou até mesmo se despeça com um abraço. Mas isso não acontece. O rapaz vai até o ônibus, põe a bagagem num compartimento aberto e ocupa seu lugar na fila.
– Cleveland! – grita o motorista. – Todos a bordo para Cleveland!
Há alguma confusão no início da fila. Um homem perdeu a passagem e está tentando explicar. Enquanto todo mundo espera que a questão se resolva, a mulher à frente do rapaz se vira para ele. Deve ter uns 60 anos, cabelo muito bem preso, olhos azuis brilhantes e uma postura que parece grandiosa, até aristocrática – a de alguém que estaria embarcando num transatlântico, e não num ônibus sujo.
– Ora, aposto que um rapaz como você vai fazer alguma coisa interessante – diz ela, animada.
Ele não está com vontade de falar – longe disso.
– Faculdade – explica, com a palavra densa na garganta.
Ao ver que a mulher não reage, acrescenta:
– Vou para Harvard.
Ela revela um sorriso de dentes absurdamente falsos.
– Que maravilhoso! Um homem de Harvard. Seus pais devem estar muito orgulhosos.
Chega a sua vez; ele entrega a passagem ao motorista, segue pelo corredor e escolhe um assento nos fundos para ficar o mais longe possível da mulher. Em Cleveland, vai fazer baldeação para um ônibus até Nova York; depois de uma noite dormindo num banco duro na estação da Port Authority, com a mala enfiada entre as pernas, vai pegar o primeiro ônibus para Boston, partindo às cinco da manhã. Assim que o grande motor a diesel é ligado e ruge, ele finalmente vira o rosto para a janela. A chuva retornou, salpicando o vidro. O lugar onde seu pai estacionou está vazio.
Enquanto o ônibus dá marcha a ré, ele abre a sacola que está no colo. É surpreendente a fome que está sentindo. Engole o sanduíche; seis mordidas e acabou. Toma o leite sem afastar a caixa dos lábios. Em seguida são as cenouras, devoradas num instante. Mal sente o gosto de qualquer coisa; o objetivo é simplesmente comer, encher um espaço vazio. Quando todo o resto acaba, ele abre o pacote de biscoitos, parando para observar suas coloridas ilustrações de bichos de circo enjaulados: o urso-polar, o leão, o elefante, o gorila. Esses biscoitos foram um marco de sua infância, mas só agora ele nota que os animais não estão sozinhos nas jaulas; cada um deles é uma mãe com o filhote.
Coloca um biscoito na língua e o deixa derreter, cobrindo as paredes da boca com a doçura de baunilha, então outro e outro, até que o pacote fica vazio, depois fecha os olhos, esperando que o sono chegue.
Por que narro esta cena na terceira pessoa? Acho que porque é mais fácil. Sei que meu pai queria o meu bem, mas demorei muitos anos para processar a dor de sua decisão. Eu o perdoei, claro, mas absolvição não é o mesmo que compreensão. Seu rosto ilegível, o tom casualmente declarativo: tantos anos depois, ainda fico perplexo com a aparente facilidade com que ele me despachou de sua vida. Parece que uma das grandes recompensas de criar um filho é o simples desfrute de sua companhia enquanto ele passa para o negócio real da vida adulta. Mas, não tendo filho, não posso confirmar nem negar isso.
E foi assim que cheguei à Universidade de Harvard em setembro de 1989 – a União Soviética à beira do colapso, a economia em declínio geral, o humor do país um tédio profundo após uma década à deriva –, sem amigos, órfão em tudo, menos no nome, com poucas posses e sem ideia do que seria feito de mim. Nunca tinha posto o pé no campus nem, por sinal, viajado a leste de Pittsburgh, e depois das 24 horas de estrada minha mente estava numa condição tal que tudo ao redor tinha ares de alucinação. Da Estação Sul peguei o metrô para Cambridge (minha primeira viagem de metrô) e saí da plataforma cheia de guimbas de cigarro no burburinho da Harvard Square. Parecia que a estação do ano tinha mudado durante a viagem; o verão abafado tinha dado lugar a um ácido outono da Nova Inglaterra, o céu de um azul tão chocante que era praticamente audível. Era pouco antes do meio-dia, a praça cheia de pessoas, todas jovens, todas aparentemente à vontade no ambiente, movendo-se com objetividade em duplas ou bandos, conversando e gargalhando de maneira confiante. Eu tinha entrado num reino alienígena, mas para eles isso era o lar. Meu destino era um alojamento chamado Wigglesworth Hall, mas, relutante em fazer perguntas – tinha dúvidas de que sequer parariam para falar comigo – e descobrindo que estava esfomeado, segui pelo quarteirão afastando-me da praça, procurando algum lugar barato onde comer.
Mais tarde descobriria que o restaurante que escolhi, o Burger Cottage, do Sr. e da Sra. Bartley, era um adorado marco de Cambridge. Entrei e fui assaltado por uma fumaça de cebolas que fazia os olhos arder e pelo rugido de uma multidão. Metade da cidade parecia ter se enfiado naquele espaço compacto, enchendo as mesas compridas, todo mundo tentando falar por cima de todo mundo, inclusive os cozinheiros, que tratavam os pedidos como zagueiros de futebol americano gritando orientações. Na parede acima da grelha havia um quadro-negro enorme com elaboradas descrições, em giz colorido, dos sanduíches mais estranhos de que já ouvi falar: de abacaxi, queijo roquefort, ovos fritos.
– Só você?
O homem que falou comigo mais parecia um atleta de luta livre do que um garçom: um cara enorme, barbudo, com avental manchado como de um açougueiro. Assenti feito idiota.
– Gente sozinha, só no balcão – ordenou ele. – Pegue um banco.
Um lugar tinha acabado de ficar vago. Enquanto a atendente tirava o prato sujo do ocupante anterior, enfiei minha mala contra a base do balcão e ocupei o banco. Não era muito confortável, mas pelo menos a bagagem estava escondida das vistas. Tirei meu mapa do bolso e comecei a examiná-lo.
– O que vai ser, querido?
A atendente, uma mulher mais velha e com ar cansado – além de manchas de suor nas axilas da camiseta do Burger Cottage –, estava parada diante de mim, com o bloco e a caneta a postos.
– Um cheeseburger?
– Alface, tomate, cebola, picles, ketchup, maionese, mostarda, queijo suíço, cheddar, provolone, americano? Que tipo de pão: torrado ou simples?
Era como tentar pegar balas de uma metralhadora.
– Tudo, acho.
– Quer quatro tipos de queijo diferentes?
Ela ainda não tinha levantado o olhar do bloco.
– Vou ter de cobrar a mais.
– Não quis dizer isso. Desculpe. Só o cheddar. Cheddar está bom.
– Torrado ou simples?
– Como assim?
Os olhos dela, cansados de tédio, finalmente se levantaram.
– Você... quer... seu... pão... torrado... ou... simples?
– Meu Deus, Margo, pegue leve com o cara, está bem?
A voz tinha vindo do sujeito sentado à minha direita. Era alto, de ombros largos mas não exageradamente musculoso, com o tipo de rosto bem-proporcionado que dá a impressão de ter sido feito com mais cuidado do que o da maioria das pessoas. Vestia uma camisa social enfiada numa Levi’s desbotada; os óculos escuros estavam empoleirados na cabeça, presos pelas ondas do cabelo castanho encaracolado. Um tornozelo, o direito, estava apoiado no outro joelho, mostrando um mocassim barato e gasto sem meia. Na periferia da minha visão ele havia se registrado como um adulto completo, mas agora eu via que não poderia ser mais do que um ou dois anos mais velho do que eu. A diferença não era de idade, e sim de postura. Tudo nele irradiava uma aura de pertencimento, de herdeiro da tribo fluente em seus costumes.
Ele fechou o livro, colocou-o no balcão ao lado da xícara de café vazia e me deu um sorriso franco que dizia: Não se preocupe, já passei por isso.
– O cara quer um cheeseburger com tudo. Pão torrado. Queijo cheddar. Acompanhado com fritas, acho. Que tal uma bebida? – perguntou ele.
– Ah, leite?
– E um copo de leite. Não – disse ele, corrigindo-se –, um milkshake. De chocolate, sem creme batido. Confie em mim.
A garçonete me olhou em dúvida.
– Está bem para você?
Aquela conversa toda me deixou perplexo. Por outro lado, um milkshake parecia uma coisa boa, e eu não estava em clima de recusar uma gentileza.
– Claro.
– É isso aí, meu chapa.
Meu vizinho desceu de seu banco e enfiou o livro embaixo do braço de um modo que sugeria que todos os livros deveriam ser carregados exatamente daquele jeito. Vi mas não entendi o título: Princípios de fenomenologia existencial.
– A Margo aqui vai cuidar bem de você. Nós dois nos conhecemos há um tempão. Ela me alimenta desde que eu usava calça curta.
– Eu gostava mais de você naquela época – disse Margo.
– Você não é a primeira a dizer isso. Agora vamos logo. Nosso amigo aqui parece faminto.
A atendente saiu sem dizer mais nada. De repente o diálogo dos dois me pareceu claro. Não era uma conversa de amigos, e sim algo parecido com um sobrinho precoce e sua tia.
– Obrigado – disse ao sujeito.
– De nada – respondeu ele em espanhol. – Às vezes esse lugar parece uma enorme competição de grosserias, mas vale a pena. E aí, onde colocaram você?
– O quê?
– Em que alojamento? Você é calouro e está chegando agora, não é?
Fiquei pasmo.
– Como você soube?
– Poderes da mente. – Ele bateu na têmpora e riu. – Isso e a mala. E aí, qual é? Espero que não o tenham colocado num alojamento da Union. Você vai querer ficar no Yard.
A distinção não significou nada para mim.
– Um lugar chamado Wigglesworth.
Minha resposta obviamente o agradou.
– Você tem sorte, meu chapa. Vai estar bem no meio do agito. Claro, o que chamam de agito por aqui pode ser meio devagar. Em geral são pessoas arrancando os cabelos às quatro da madrugada por causa de um problema a resolver.
Ele me deu um tapinha no ombro.
– Não se preocupe. A princípio todo mundo se sente meio perdido.
– Tenho uma leve sensação de que você não se sentiu.
– Sou o que você chamaria de caso especial. Moleque de Harvard desde o nascimento. Meu pai dá aulas no departamento de filosofia. Eu diria quem ele é, mas aí você poderia achar que deveria fazer os cursos dele por gratidão, o que seria, com o perdão da palavra, a porra de um erro gigantesco. As aulas do cara são que nem um balaço no cérebro.
Pela segunda vez em dois dias eu receberia um aperto de mão de um cara que parecia saber mais sobre a minha vida do que eu.
– De qualquer modo, boa sorte. Saindo pela porta, vire à esquerda e ande um quarteirão até o portão. O Wigglesworth fica à direita.
E foi embora. Só então percebi que não tinha perguntado o nome dele. Tive esperança de vê-lo de novo, mas isso não aconteceu tão cedo e, quando aconteceu, pude informar que tinha me inserido bem na vida nova. Também fiz uma anotação mental de que na primeira oportunidade compraria uma camisa social branca e mocassins; pelo menos poderia ter a aparência do personagem. Meu cheeseburger com fritas chegou, reluzindo deliciosamente com gordura, e ao lado dele o prometido milkshake de chocolate, alto num copo de vidro elegante dos anos 1950. Era mais do que uma refeição; era um presságio. Fiquei tão contente que poderia ter dado graças, e quase dei.
Época de faculdade, época de Harvard: a sensação do próprio tempo mudou naqueles primeiros meses, tudo passando num ritmo frenético. Meu colega de quarto se chamava Lucessi. Seu primeiro nome era Frank, mas nem eu nem ninguém que eu conhecia jamais o usávamos. Éramos mais ou menos amigos, unidos pelas circunstâncias. Eu tinha esperado que todo mundo na faculdade fosse alguma versão do sujeito que eu havia conhecido no Burger Cottage, com inteligência social feita de conversa rápida e conhecimento aristocrático das práticas locais. Mas, de fato, Lucessi era mais típico: estranhamente inteligente, formado na Bronx High School of Science, nem de longe ganhador de prêmios por beleza física ou higiene pessoal, e cheio de tiques. Tinha um corpo grande e mole, como um bicho de pelúcia mal enchido, mãos grandes e úmidas e nenhuma ideia do que fazer com elas, além dos olhos agitados e arregalados de um paranoico, coisa que eu achava que ele era.
Seu guarda-roupa era uma combinação de contador júnior e aluno do ensino médio: gostava de calças xadrez com cintura alta, sapatos marrons pesados e camisetas com o emblema dos New York Yankees. Cinco minutos depois de nos conhecermos, ele disse que havia acertado cerca de 70% das questões do teste para ingresso na faculdade, pretendia fazer especialização dupla em matemática e física, falava latim e grego antigo (não somente lia: falava) e que uma vez pegara uma bola rebatida pelo grande Reggie Jackson. Eu podia ter visto sua companhia como um fardo, mas logo percebi as vantagens; Lucessi me fazia parecer bem-ajustado, em comparação, mais confiante e atraente do que era de verdade, e ganhei bons pontos de simpatia com meus vizinhos de alojamento por aguentá-lo, assim como alguém poderia receber pontos por cuidar de um cachorro peidão. A primeira noite em que ficamos bêbados juntos – só uma semana depois de chegarmos, numa das inúmeras festas para calouros para as quais a administração parecia contente em fazer vista grossa –, Lucessi vomitou tanto e por tanto tempo que passei a noite garantindo que ele não morresse.
Meu objetivo era ser bioquímico, e não perdi tempo. A carga de estudos era esmagadora. O único alívio era uma disciplina eletiva de história da arte que exigia pouco mais do que ficar sentado no escuro olhando slides de Maria com o menino Jesus em várias poses beatíficas. (A turma, um lendário refúgio para estudantes de ciências cumprindo as exigências de humanas, tinha o apelido de “escuridão ao meio-dia”.) Minha bolsa era generosa, mas eu estava acostumado a trabalhar e queria dinheiro no bolso; durante dez horas por semana, recebendo pouco além do salário mínimo, eu arrumava livros na biblioteca Widener, empurrando um carrinho bambo por um labirinto de estantes tão isolado e bizantino que as mulheres eram alertadas a não visitá-lo sozinhas. Achei que o trabalho iria me matar de tédio, e durante um tempo quase matou, mas aos poucos passei a apreciá-lo: o cheiro de papel velho e o gosto de poeira; o silêncio profundo do lugar, um refúgio de calmaria rompida somente pelos guinchos das rodas do meu carrinho; o choque agradável de pegar um livro na estante, remover o cartão e descobrir que ninguém o havia retirado desde 1936. Uma pontada de simpatia antropomórfica por aqueles volumes subestimados me inspirava frequentemente a ler uma ou duas páginas, para que se sentissem necessários.
Eu estava feliz? Quem não estaria? Tinha amigos, os estudos para me ocupar. Tinha as horas silenciosas na biblioteca para devanear quanto quisesse. No fim de outubro perdi a virgindade com uma garota que conheci numa festa. Nós dois estávamos muito embriagados, não nos conhecíamos e, embora ela não dissesse muita coisa – mal falamos, além do papo furado preliminar de sempre e uma breve negociação sobre o mecanismo mecanicamente espantoso de seu sutiã –, suspeitei que também fosse virgem e que sua intenção era simplesmente fazer a coisa do modo mais rápido possível para passar para outros encontros mais satisfatórios. Acho que eu sentia o mesmo. Quando acabou, deixei seu quarto rapidamente, como se saísse de uma cena de crime, e em quatro anos só pus os olhos nela mais duas vezes, ambas de longe.
É, eu me sentia feliz. Meu pai estava certo: eu tinha encontrado minha vida. Telefonava obedientemente a cada duas semanas, a cobrar, mas meus pais – junto com toda a minha infância de cidade pequena em Ohio – começaram a se desbotar na mente, como acontece com os sonhos à luz do dia. Os telefonemas eram sempre iguais. Primeiro eu falava com minha mãe, que geralmente atendia – o que me levava a supor que ela havia passado duas semanas esperando ao lado do telefone –, e depois com meu pai, cujo tom jovial parecia destinado a me lembrar de seu édito de partida, e finalmente com os dois juntos.
Eu podia imaginar facilmente a cena: os rostos unidos de lado, com o fone entre eles, enquanto gritavam os “eu te amo”, “tenho orgulho de você” e “seja bonzinho” de despedida, os olhos do meu pai vidrados no relógio sobre a pia da cozinha, observando seu dinheiro se esvair a 30 centavos por minuto. As vozes provocavam grandes sentimentos de ternura em mim, quase de pena, como se fosse eu o abandonador e eles, os abandonados, mas era sempre um grande alívio quando os telefonemas acabavam, o estalo do fone me liberando de volta para a existência verdadeira.
Antes que eu percebesse, as folhas haviam amarelado e depois caído, com as carcaças ressecadas espalhadas em todo lugar, enchendo o ar com um cheiro doce de podridão. Na semana anterior ao Dia de Ação de Graças, caiu a primeira neve, meu inverno inaugural da Nova Inglaterra, úmido e frio. Pareceu mais um batismo num ano cheio deles. Não tinha havido discussão quanto à minha volta para casa no feriado de Ação de Graças, e de qualquer modo Ohio ficava longe demais – eu teria desperdiçado metade do tempo no ônibus –, por isso aceitei o convite para passar o feriado com Lucessi no Bronx. Idiotamente, eu havia esperado uma cena da vida italiana saída direto de Hollywood: um apartamento apinhado em cima de uma pizzaria, todo mundo gritando uns com os outros, o pai de Lucessi vazando suor de alho pela camiseta e a mãe bigoduda usando roupão e chinelos, levantando as mãos e berrando Mamma mia a cada trinta segundos.
O que encontrei não poderia ser mais diferente. Eles moravam em Riverdale – que, ainda que tecnicamente ficasse no Bronx, era um dos bairros mais chiques que eu já tinha visto –, numa enorme casa de estilo Tudor que parecia ter sido sequestrada do interior da Inglaterra. Nada de macarrão com almôndegas, nenhum oratório de Maria, nenhum tipo de dramalhão levantando os braços; a casa era sufocante como uma tumba. O jantar de Ação de Graças foi servido por uma empregada guatemalteca usando uniforme com avental, depois todo mundo foi para uma sala que eles chamavam de “estúdio” para ouvir uma transmissão radiofônica do interminável ciclo do Anel do Nibelungo, de Wagner. Lucessi tinha me dito que sua família atuava no “ramo de restaurantes” (daí a pizzaria da minha imaginação), mas na verdade o pai dele era o executivo chefe de finanças da divisão de restaurantes da Goldman Sachs, um banco de investimentos a cujos escritórios em Wall Street ele ia todo dia num Lincoln Continental do tamanho de um tanque de guerra. Eu sabia que Lucessi tinha uma irmã mais nova; ele não tinha mencionado que ela era a própria deusa mediterrânea, possivelmente a garota mais linda em quem eu já havia posto os olhos – de altura régia, com cabelo preto lustroso, pele tão macia que dava vontade de beber, e o hábito de entrar num cômodo usando nada mais do que uma combinação.
Seu nome era Arianna. Tinha vindo do colégio interno, em algum lugar na Virgínia, onde as alunas montavam a cavalo todo dia, e quando não estava andando de um lado para outro usando roupa de baixo, lendo revistas, comendo torradas com manteiga e falando alto ao telefone, percorria a casa usando botas de cano alto, esporas que tilintavam e calças justas, um figurino não menos poderoso do que a camisola na capacidade de fazer meu sangue descer para a virilha. Em outras palavras, Arianna estava completamente fora do meu alcance, um fato tão óbvio quanto o clima. No entanto, se esforçava para me lembrar disso, me chamando de “Tom”, não importando quantas vezes o irmão a corrigisse, e me dirigindo olhares de desprezo tão absoluto que eram como baldes de água fria.
Na última noite que passei em Riverdale, acordei em algum momento depois da meia-noite e descobri que estava com fome. Tinha sido instruído a tratar a casa “como se fosse minha” – o que era risivelmente impossível –, e sabia que não iria dormir a não ser que colocasse alguma coisa no estômago. Vesti uma calça de moletom e me esgueirei até a cozinha no andar de baixo, onde descobri Arianna à mesa usando um roupão de banho de flanela, folheando a Cosmopolitan com suas mãos elegantes e pondo colheradas de cereal na boca de formato impecável e lábios generosos. Uma caixa de Cheerios e uma garrafa de leite estavam na bancada. Meu primeiro instinto foi recuar, mas ela já havia me notado, imóvel feito um imbecil junto à porta.
– Você se importa? – perguntei. – Pensei em comer alguma coisa.
Sua atenção já havia retornado à revista. Ela comeu uma colherada de cereal e acenou com as costas da mão.
– Faça o que quiser.
Servi-me de uma tigela. Não havia outro lugar onde me sentar, por isso me juntei a ela à mesa. Mesmo com o roupão de flanela, o rosto sem maquiagem e o cabelo despenteado, ela era magnífica. Eu não fazia ideia do que dizer a uma criatura assim.
– Você está me olhando – disse ela, virando uma página.
Senti o sangue chegar às bochechas.
– Não, não estava.
Ela não disse mais nada. Eu não tinha para onde olhar, por isso me virei para o cereal. O barulho das minhas mastigadas parecia tremendamente alto.
– O que você está lendo? – perguntei finalmente.
Ela deu um suspiro irritado, fechou a revista e levantou os olhos.
– Tudo bem, ótimo. Aqui estou eu.
– Eu só estava tentando puxar conversa.
– Podemos não fazer isso? Por favor? Já vi você me olhando, Tim.
– Então você sabe o meu nome.
– Tim, Tom, tanto faz.
Ela revirou os olhos.
– Ah, certo. Vamos acabar logo com isso.
E abriu a parte de cima do roupão. Por baixo, usava apenas um sutiã de seda cor-de-rosa e brilhante. A visão me excitou indescritivelmente.
– Ande – instigou ela.
– Ande o quê?
Ela estava me olhando com uma expressão de zombaria entediada.
– Não seja burro, garoto de Harvard. Deixe-me ajudar.
Ela pegou minha mão e a encostou mecanicamente em seu seio esquerdo. E era um seio magnífico! Eu nunca havia tocado uma deusa antes. Sua maciez esférica, envolta em seda caríssima com uma barra de renda delicada, encheu a palma da minha mão como um pêssego. Senti que ela estava zombando de mim, mas não me importei. O que aconteceria agora? Será que eu teria permissão de beijá-la?
Aparentemente, não. Enquanto eu construía uma narrativa sexual completa na cabeça, as coisas maravilhosas que poderíamos fazer juntos, culminando numa cópula ofegante no chão da cozinha, ela afastou minha mão abruptamente e a deixou cair na mesa com o mesmo gesto de desprezo que alguém poderia usar para jogar lixo numa lixeira.
– E então – disse ela, abrindo de novo a revista –, conseguiu o que queria? Isso o satisfez?
Eu estava absolutamente desconcertado. Ela virou uma página, depois outra. Que diabo tinha acabado de acontecer?
– Não entendo você, mesmo – falei.
– Claro que não.
Ela levantou os olhos de novo, franzindo o nariz com nojo.
– Diga-me uma coisa. Por que você é amigo dele? Quero dizer, pensando bem, você até que parece normal.
Supus que isso fosse uma espécie de elogio. E também provocou em mim um instinto ferozmente protetor com relação ao irmão dela. Quem era ela para falar dele assim? Quem ela achava que era, me provocando desse jeito?
– Você é horrível – falei.
Ela me deu um risinho maldoso.
– O que vem de baixo não me atinge, garoto de Harvard. Agora, se me der licença, estou tentando ler.
E foi o fim. Voltei à cama, tão energizado sexualmente que mal dormi, e de manhã, antes que o resto das pessoas na casa acordasse, o pai de Lucessi nos levou à estação de trem em seu Lincoln monstruoso. Enquanto desembarcávamos, numa reversão desajeitada da cortesia costumeira, ele me agradeceu por ter vindo, insinuando que ele, também, estava meio pasmo por minha amizade com seu filho. Um quadro estava surgindo: Lucessi era o fraquinho da ninhada, objeto de piedade e embaraço para toda a família. Senti uma pena profunda dele, ao mesmo tempo que reconhecia a semelhança de sua situação com a minha. Éramos uns degredados, nós dois.
Pegamos o trem. Eu estava exausto e sem vontade de conversar. Durante um tempo ficamos chacoalhando em silêncio. Lucessi foi o primeiro a falar.
– Desculpe aquilo tudo.
Ele estava desenhando formas sem sentido na janela, com o dedo indicador.
– Tenho certeza de que você esperava alguma coisa mais empolgante.
Eu não tinha contado a ele o acontecido e, claro, jamais contaria. Também era verdade que minha raiva tinha se suavizado, substituída por uma curiosidade crescente. Uma coisa totalmente inesperada com relação ao mundo tinha sido vislumbrada. A vida da família dele; eu sabia que existia aquele tipo de riqueza, mas isso não é o mesmo que dormir sob seu teto. Senti como se fosse um explorador que tivesse tropeçado numa cidade de ouro no meio da selva.
– Não se preocupe – respondi. – Eu me diverti um bocado.
Lucessi suspirou, recostou-se e fechou os olhos.
– Eles devem ser as pessoas mais estúpidas da Terra – disse.
O que me fascinou, claro, foi o dinheiro. Não só por causa das coisas que ele podia comprar, ainda que elas fossem atraentes (a Prova nº 1 era a irmã de Lucessi). A atração mais profunda estava em algo mais atmosférico. Eu nunca estivera perto de pessoas ricas, mas não tinha sentido isso como uma carência; também nunca estivera perto de marcianos. Havia um bocado de caras ricos em Harvard, claro, os que tinham frequentado escolas particulares exclusivas e se dirigiam uns aos outros com apelidos como “Trip”, “Beemer” e “Duck”. Mas na existência cotidiana sua riqueza era desconsiderada com facilidade. Nós vivíamos nos mesmos alojamentos de merda, suávamos para fazer os mesmos trabalhos e provas, comíamos a mesma comida atroz no refeitório, como residentes de um mesmo kibutz. Ou pelo menos parecia. A visita à casa de Lucessi tinha aberto meus olhos para um mundo oculto que ficava para além da superfície igualitária da nossa vida, como um sistema de cavernas por baixo dos meus pés. A não ser por Lucessi, eu sabia muito pouco sobre meus colegas e amigos. Parece improvável dizer isso agora, mas eu nunca tinha pensado que poderia haver alguma coisa tão fundamentalmente diferente neles.
Nas semanas após o Dia de Ação de Graças, fiz uma avaliação melhor do meu ambiente. Havia um cara que morava mais adiante no corredor cujo pai era o prefeito de São Francisco; uma garota que eu conhecia superficialmente e que falava com forte sotaque espanhol era supostamente filha de um ditador sul-americano; um dos meus parceiros de laboratório tinha me confidenciado, a propósito de nada, que sua família tinha uma casa de veraneio na França. Todas essas informações se fundiram numa nova percepção de onde eu estava, e o pensamento me deixou incrivelmente sem graça, ao mesmo tempo que eu ansiava por aprender mais sobre aquilo, para entender melhor os códigos sociais e ver onde eu poderia me encaixar.
Era especialmente fascinante o fato de o próprio Lucessi não querer ter nada a ver com aquilo. Durante todo o fim de semana ele não tinha feito segredo de quanto desprezava a irmã, os pais e até a casa, que ele chamava, do modo lucessiano típico, de “uma pilha de pedras idiota”. Tentei fazer com que ele abordasse o assunto, mas não cheguei a lugar nenhum; na verdade minhas tentativas o deixavam com raiva e ríspido. O que eu tinha começado a discernir no meu colega de quarto era o preço de ser inteligente demais. Ele possuía um intelecto capaz de processar uma enorme quantidade de dados sem sentir prazer em nada disso. Para Lucessi, o mundo era uma coleção de sistemas interconectados divorciados de qualquer sentido, uma realidade superficial governada somente por si mesma. Ele podia, por exemplo, recitar as médias de rebatidas de cada jogador dos New York Yankees, mas quando perguntei quem era o seu predileto ele não soube responder. A única emoção da qual parecia ser capaz era o desdém por outras pessoas, ainda que até mesmo isso possuísse uma qualidade de perplexidade infantil, como se ele fosse um menininho entediado no corpo de um adulto, obrigado a sentar-se à mesa das pessoas grandes e ouvir conversas incompreensíveis sobre o preço dos imóveis e quem estava se divorciando de quem. Acredito que isso lhe causava dor – ele não percebia qual era o problema, só que este existia –, resultando numa espécie de solidão de descrença: ele desprezava e ao mesmo tempo invejava todo mundo, a não ser eu, a quem atribuía uma visão semelhante de mundo, simplesmente porque eu estava sempre por perto e não zombava dele.
Quanto ao seu destino infeliz: talvez eu não o valorizasse o suficiente como amigo. Às vezes acho que posso ter sido o único amigo que ele teve. E é estranho, depois de tantos anos, que de vez em quando meus pensamentos ainda se voltem para Lucessi, ainda que ele tenha sido, afinal de contas, um ator menor na minha vida. Talvez seja minha ociosidade atual que me leve à lembrança. Com tantos anos para preencher, a gente inevitavelmente pensa em tudo, abre cada gaveta da mente para remexer dentro. Eu não conhecia o Lucessi bem; ninguém poderia conhecer. Mas a impossibilidade de conhecer uma pessoa não descarta sua importância na nossa vida. Fico pensando: o que Lucessi acharia de mim agora? Se entrasse, milagrosamente vivo, nesta prisão que eu mesmo fiz, neste tranquilo memorial das coisas perdidas, subisse a escada de mármore com seu passo sem graça e parasse diante de mim usando seus sapatos pesados, as calças mal ajustadas e uma camisa dos Yankees fedendo a suor lucessiano, o que diria? Está vendo?, talvez dissesse. Agora você sacou, Fanning. Agora você finalmente sacou.
Voltei a Ohio para o Natal. Fiquei feliz por estar em casa, mas era a felicidade do exilado; nada parecia mais me pertencer, como se eu tivesse passado anos longe, e não meses. Harvard não era o meu lar, pelo menos por enquanto, mas Mercy, Ohio, também não era. A simples ideia de lar, de um lugar de verdade, tinha se tornado estranha para mim.
Minha mãe não parecia bem. Tinha perdido um bocado de peso e sua tosse de fumante havia piorado. Um brilho de suor aparecia na testa com o mínimo esforço. Prestei pouca atenção a isso, aceitando a explicação de meu pai, de que ela havia exagerado no preparo das festividades de fim de ano. Cumpri obedientemente os gestos sentimentais: podando árvores e assando torta, indo à Missa do Galo (nunca íamos à igreja em outras ocasiões), abrindo os presentes enquanto meus pais olhavam – uma cerimônia desajeitada que é a maldição de todos os filhos únicos –, mas meu coração não estava em nada disso, e parti dois dias antes do previsto, explicando que, com as provas que tinha pela frente, precisava voltar aos estudos. (Era verdade, mas não era o motivo.) Assim como tinha feito em setembro, meu pai me levou à estação. As chuvas de verão tinham dado lugar à neve e a um frio de rachar, o vento quente através das janelas abertas fora substituído por um sopro de ar ressecado vindo das aberturas no painel. Seria a hora perfeita para dizer algo importante, se algum de nós pudesse imaginar o que seria uma coisa assim. Quando o ônibus se afastou, não olhei para trás.
Quanto ao resto daquele primeiro ano, não há muito que dizer. Minhas notas foram boas – mais do que boas. Mesmo sabendo que tinha me dado bem, eu ainda estava pasmo ao ver meu boletim do primeiro semestre com uma fileira de notas A, cada qual gravada enfaticamente no papel pela antiquada impressora matricial. Não usei isso como oportunidade para afrouxar; pelo contrário, redobrei os esforços. Além disso, arranjei uma namorada por um breve tempo, a filha do ditador sul-americano. (Na verdade ele era o ministro da Economia argentino.) Não faço ideia do que ela viu em mim, mas eu não iria questionar. Carmen tinha muito mais experiência sexual do que eu – muitíssimo mais. Era o tipo de mulher que usava a palavra “amante”, como na frase “peguei você para ser meu...”, e se dedicava ao projeto de prazer com enorme abandono. Era abençoada com um quarto individual, coisa rara para um calouro, e naquele recinto sagrado com echarpes penduradas e aromas femininos me apresentou ao que poderia passar por um erotismo de verdade, adulto, percorrendo todo o cardápio de deleites corporais, desde as entradas até as sobremesas. Não nos amávamos – essa emoção santificada ainda me escapava, e para Carmen tinha pouca utilidade –, e ela não tinha o que eu chamaria de uma atratividade convencional. (Posso dizer isso porque eu também não tinha.) Era meio pesada e seu rosto possuía um volume ligeiramente masculino no maxilar, que parecia o de um boxeador. Mas sem roupas, e no calor da paixão, gritando coisas impróprias em seu espanhol com sotaque argentino, era a criatura mais sensual que já havia andado na Terra, fato ampliado cem vezes por sua própria percepção sobre isso.
Com essas escapadas carnais – Carmen e eu costumávamos correr de volta ao quarto dela entre as aulas para uma hora de cópula furiosa –, meu volumoso trabalho acadêmico e, claro, minhas horas na biblioteca – tempo bem gasto me revigorando para nosso próximo encontro –, vi Lucessi cada vez menos. Ele sempre mantinha um horário estranho, estudando a noite toda e vivendo de cochilos. Mas, à medida que o semestre progredia, suas idas e vindas ficaram mais inconstantes. Nesse tempo eu havia alargado meu alcance social para além das paredes do Wigglesworth, incluindo vários amigos de Carmen, todos muito mais cosmopolitanos do que eu. Obviamente Lucessi se ressentiu disso, mas qualquer esforço de trazê-lo para o círculo era recusado com seriedade. Sua higiene piorou ainda mais; nosso quarto fedia a meias e às bandejas de comida mofada que ele trazia do refeitório e nunca tirava. Muitas vezes entrei e o encontrei sentado na cama, quase despido, murmurando sozinho e fazendo estranhos gestos espasmódicos com as mãos, como se estivesse numa conversa séria com um ser invisível. Na hora de dormir – sempre que ele decidia que era hora, mesmo se fosse o meio do dia –, ele cobria o rosto com uma camada de creme para espinhas, grosso como maquiagem de mímico. Começou a dormir com uma faca de mergulhador numa bainha de borracha presa à perna. (Isso deveria ter me perturbado mais do que perturbou.)
Eu me preocupava com ele, mas não muito; estava simplesmente ocupado demais. Apesar do novo círculo de amigos mais interessantes, sempre presumira que continuaríamos a dividir o quarto. No fim do ano todos os calouros entravam numa loteria para determinar em qual das casas de Harvard viveriam nos próximos três anos. Isso era considerado um rito de passagem tão socialmente determinante quanto com quem a pessoa se casava, e tinha dois aspectos. O primeiro era em que casa queríamos morar. Havia doze, cada qual com sua reputação: a casa dos mauricinhos, a casa artística, a casa dos atletas e assim por diante. As mais desejáveis eram as que ficavam ao longo do rio Charles – propriedades extremamente chiques para o preço da anuidade de um aluno do ciclo básico. As menos desejáveis eram as que ficavam no velho Radcliffe Quad, no fim da rua Garden. Ser “quadado” equivalia ao exílio, ter a vida acorrentada para sempre a ônibus que, de modo inconveniente, paravam de rodar muito antes do fim da festa.
O segundo aspecto, claro, era com quem você dividiria o quarto. Isso criava algumas semanas desconfortáveis enquanto as pessoas organizavam suas alianças e priorizavam as amizades. Rejeitar um colega de quarto calouro em favor de outros era comum, mas não menos incômodo do que um divórcio. Pensei em ter essa conversa com Lucessi, depois descobri que não tinha coragem. Quem mais estaria disposto a morar com ele? Quem mais iria tolerar suas manias, sua personalidade lúgubre, seus aromas pouco saudáveis? Além disso, pensando bem, ninguém mais tinha me abordado. Parecia que Lucessi era meu.
À medida que o dia da loteria se aproximava, fui falar com ele, para ver o que ele queria fazer. Disse que achava que poderíamos tentar a Winthrop House, ou então a Lowell. A Quincy, talvez, como reserva. Eram casas junto ao rio, mas sem a nítida distinção social de algumas outras. Essa conversa ocorreu no meio da tarde de um dia quente de primavera em que Lucessi aparentemente havia dormido direto. Estava sentado à sua escrivaninha, apenas de cueca e camiseta, mexendo numa calculadora enquanto eu falava, apertando dígitos sem sentido com a borracha da extremidade de um lápis. Uma crosta branca de pasta de dente cercava sua boca.
– O que você acha?
Lucessi deu de ombros.
– Já entrei.
Suas palavras não fizeram sentido.
– O que você está falando?
– Pedi um quarto individual no Quad.
Solitários psicóticos, era como eram chamados. Moradia para os desajustados; quartos para pessoas que não conseguiam se dar com os colegas.
– Na verdade lá é bem legal – continuou Lucessi. – Mais silencioso. Você sabe. De qualquer modo, já está feito.
Fiquei pasmo.
– Lucessi, que diabo é isso? A loteria é na semana que vem. Achei que a gente iria junto.
– Eu meio que presumi que você não queria. Você tem um monte de amigos. Achei que ficaria feliz.
– Você deveria ser meu amigo. – Andei furioso pelo quarto. – É disso que se trata? Não acredito que você está fazendo isso. Olhe esse lugar. Olhe para você. Quem mais você tem? E está fazendo isso comigo?
Aquelas palavras medonhas, impossíveis de retirar: o rosto de Lucessi se amarrotou como um pedaço de papel.
– Meu Deus, desculpe. Eu não quis...
Ele não deixou que eu terminasse.
– Não, você está certo. Sou mesmo patético. Acredite, não é a primeira vez que escuto isso.
– Não fale de você assim.
Minha culpa era esmagadora. Sentei-me na cama dele, tentando fazer com que ele me olhasse.
– Eu não deveria ter dito o que disse. Só estava chateado.
– Tudo bem. Esquece.
Um momento se passou, Lucessi franzindo os olhos para a calculadora.
– Eu já falei que sou adotado? Nem sou parente dela. Pelo menos tecnicamente.
O comentário veio de modo tão inesperado que demorei um tempo para entender que ele estava falando de Arianna.
– Todo mundo sempre acha que é o contrário – continuou ele. – Quero dizer, meu Deus, olhe só para ela. Mas não. Meus pais me pegaram em algum orfanato. Achavam que não podiam ter filhos. Onze meses depois, imagina só, veio a Miss Perfeição.
Eu nunca tinha ouvido uma confissão de sofrimento tão absoluto. O que havia a dizer? E por que ele estava me contando isso agora?
– Ela me odeia. De verdade. Você deveria ouvir as coisas que ela fala de mim.
– Tenho certeza de que não é verdade.
Lucessi deu de ombros, desamparado.
– Todos fazem isso. Acham que eu não sei, mas sei. Certo, eu sou o rei dos patetas. Não é que eu tenha deixado de perceber. Mas Arianna. Você viu. Sabe do que estou falando. Meu Deus, isso me mata.
– Sua irmã é uma tremenda vaca. Provavelmente trata todo mundo assim. Esqueça.
– É, bem. Esse não é o ponto, na verdade.
Ele levantou o olhar da calculadora e me encarou.
– Você é muito legal comigo, Tim, e eu agradeço. Sério. Prometa que vamos continuar amigos, certo?
Percebi o que Lucessi estava fazendo. O que eu tinha achado que era ciúme ou autopiedade era de fato uma espécie de generosidade canhestra. Assim como meu pai tinha feito, Lucessi estava cortando os laços comigo porque achava que eu ficaria melhor assim. O pior é que eu sabia que ele estava certo.
– Claro. Claro que vamos.
Ele estendeu a mão.
– Toca aqui. Para eu saber que você não está com raiva demais.
Apertamos as mãos, nenhum de nós acreditando que isso significasse alguma coisa.
– Então é isso? – perguntei.
– Acho que é.
Ele era apaixonado por ela, claro. Apesar de não ter me dito, essa foi a parte da história que eu demorei muito tempo – um tempo longo demais – para deduzir. Lucessi amava a coisa que ele também odiava, e isso o estava destruindo. A outra coisa que ele tinha me dito, sem dizer de verdade, era que estava prestes a levar pau em todas as matérias. Seu projeto de moradia não interessava, porque ele não iria voltar.
Nesse meio-tempo, isso me deixou com o problema de encontrar um local para morar. Eu me sentia traído e com raiva de mim mesmo por ter entendido tão mal a situação, mas também estava resignado ao destino, que de algum modo me parecia merecido. Era como se eu tivesse perdido em alguma dança das cadeiras cósmica; a música havia parado e eu estava de pé, e simplesmente não havia o que fazer a respeito. Fiz contatos para ver se alguém que eu conhecia estava procurando uma terceira ou quarta pessoas para pegar uma suíte, mas não encontrei ninguém, e em vez de cavar mais fundo na minha lista de conhecidos e passar ainda mais vergonha, parei de perguntar. Não havia quartos individuais em nenhuma das casas junto ao rio, mas era possível entrar na loteria como “flutuante”; eu seria posto numa fila de espera para cada uma das três casas que escolhesse, e se um aluno abandonasse os estudos no verão a universidade me daria a vaga dele. Candidatei-me para a Lowell, a Winthrop e a Quincy, não me importando mais com qual pegasse, e esperei.
O ano acabou. Carmen e eu fomos um para cada lado. Um dos meus professores me ofereceu emprego em seu laboratório. O pagamento era insignificante, mas o convite era uma honra e me manteria em Cambridge durante o verão. Aluguei um quarto em Allston com uma mulher de 80 e poucos anos que gostava de estudantes de Harvard; a não ser por sua coleção de gatos, que era enorme – eu nunca soube direito quantos eram –, e pelo fedor insuportável das caixas de areia, a situação era próxima do ideal. Eu saía cedo e voltava tarde, em geral fazendo as refeições numa das muitas lanchonetes baratas nos arredores de Cambridge, e nós dois raramente nos víamos. Todos os meus amigos tinham ido passar o verão longe e eu esperava ficar sozinho, mas não foi assim. O ano tinha me deixado irritado e farto, como se eu tivesse comido uma refeição gordurosa demais, e fiquei satisfeito com a calma. Meu trabalho, que implicava coletar uma infinidade de dados sobre a biologia estrutural de plasmócitos em camundongos, podia ser realizado praticamente sem interação com outro ser humano. Às vezes eu mal falava durante dias.
Sinto vergonha em dizer, mas naquele verão silencioso me esqueci totalmente dos meus pais. Não quero dizer que os ignorei. Quero dizer que me esqueci de que eles existiam. Eu tinha dito a eles, numa carta, que ia ficar e por quê, mas não dei o número do telefone, porque na ocasião não sabia – uma omissão que nunca cheguei a corrigir. Não ligava para eles e eles não podiam me ligar. E, à medida que o verão passava, essa distração casual se tornou um anteparo psicológico que os erradicou dos meus pensamentos. Sem dúvida, em algum bolsão da minha mente, eu sabia o que estava fazendo, e precisaria contatá-los antes do outono para preencher a papelada da minha bolsa; mas no nível de percepção consciente eles simplesmente deixaram de importar.
Então minha mãe morreu.
Meu pai me informou isso numa carta. De repente muita coisa ficou clara. Um mês antes de eu partir para Harvard, minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer no útero. Tinha adiado a cirurgia – uma histerectomia total – para depois da minha partida, não querendo lançar uma sombra sobre a ocasião. Uma biópsia pós-operatória revelou que o câncer era um adenossarcoma agressivo e raro que a deixou sem esperança de recuperação. No inverno, teve metástase nos pulmões e nos ossos. Simplesmente não havia o que fazer. Segundo meu pai, seu último desejo era que o filho que ela tanto amava não sofresse interrupção em seu progresso para realizar todas as esperanças dela: em outras palavras, que eu continuasse com a vida e não soubesse de nada. Tinha morrido duas semanas antes, e as cinzas foram enterradas sem funeral, segundo seus desejos. Não tinha sofrido muito, escreveu meu pai um tanto friamente, e era com pensamentos amorosos sobre mim que tinha viajado para a outra vida.
Ele escreveu no final: Provavelmente você está com raiva de mim, de nós dois, por mantermos isso em segredo. Se serve de consolo, eu queria que você soubesse, mas sua mãe não admitiu. Quando eu lhe disse naquele dia, no ônibus, para nos deixar para trás, essas foram palavras dela, e não minhas, mas ela acabou me fazendo ver a sensatez disso. Sua mãe e eu fomos felizes juntos, acredito, mas nem por um momento duvidei de que você era o maior amor da vida dela. Ela só queria o melhor para você, Timothy. Talvez você queira voltar para casa, mas eu o encorajo a esperar. Estou indo razoavelmente bem, nas circunstâncias, e não vejo motivo para você interromper seus estudos por algo que seria, no fim das contas, uma distração dolorosa sem objetivo. Eu te amo, filho. Espero que saiba disso e possa me perdoar – que possa perdoar nós dois – e que quando nos encontrarmos de novo não seja para lamentar o falecimento da sua mãe, e sim para comemorar seus triunfos.
Li a carta de pé no corredor da frente da casa de uma mulher que eu mal conhecia, com gatos barulhentos em volta dos meus pés, às dez horas de uma noite quente no fim de agosto, quando tinha 19 anos. O que experimentei é algo que não tenho palavras para descrever, e não vou tentar explicar. A ânsia de telefonar para ele era forte; queria gritar com ele até minha garganta rasgar, até minhas palavras serem sangue. Assim como a ânsia de pegar um ônibus até Ohio, ir direto para casa e estrangulá-lo na cama – a cama que ele havia dividido com minha mãe durante quase trinta anos e onde, sem dúvida, eu tinha sido concebido. Mas não fiz nada disso. Percebi que estava com fome. O corpo quer o que quer – uma lição útil –, e remexi na despensa da velha para fazer um sanduíche de queijo com pão rançoso e um copo do mesmo leite que ela deixava em pratos por toda a casa. O leite havia talhado, mas bebi assim mesmo, e é disso que me lembro mais nitidamente: do seu gosto azedo.
DEZESSEIS
O resto do verão passou numa névoa sem emoções. Num determinado ponto recebi uma carta informando que tinha sido posto na Winthrop House com um colega de quarto ainda anônimo que estava retornando de um ano fora do país. Dizer que não me importei nem um pouco com a notícia é um tremendo eufemismo. Por mim eu poderia continuar morando com a velha e suas caixas de areia sujas. Não contei a ninguém sobre minha mãe. Trabalhei no laboratório até o primeiro dia do novo semestre, sem deixar intervalo de transição em que pudesse me pegar sem nada para me distrair. O professor perguntou se eu queria continuar trabalhando com ele durante o ano acadêmico, mas recusei. Talvez tenha sido burrice, e ele pareceu realmente surpreso por eu recusar esse privilégio, mas isso não me deixaria tempo para a biblioteca, e eu sentiria falta do silêncio consolador de lá.
Agora chego à parte da história em que minha situação mudou tão radicalmente que me recordo disso como sendo uma espécie de mergulho, como se até então eu estivesse meramente flutuando na superfície da minha vida. Isso começou no dia em que me mudei para a Winthrop House. Lucessi e eu tínhamos vendido os móveis que havíamos comprado do Exército da Salvação, e cheguei com pouco mais do que a mesma mala que tinha trazido para Harvard um ano antes, uma luminária de mesa, uma caixa de livros e a impressão de que havia escorregado de novo num anonimato tão puro que eu poderia trocar de nome se quisesse, sem que ninguém percebesse. Meus aposentos, dois cômodos enfileirados com um banheiro nos fundos, ficavam no quarto andar, virados para o quadrângulo Winthrop, com vista para a modesta silhueta de Boston atrás. Não havia qualquer sinal de um colega de quarto, cujo nome eu ainda não sabia. Passei algum tempo pensando que espaço escolheria – o quarto interno era menor, porém mais privado; por outro lado eu teria de suportar meu colega passando por ele a toda hora para ir ao banheiro – antes de decidir que, para colocar as coisas no pé direito, esperaria a chegada dele, de modo a decidirmos juntos.
Eu tinha terminado de levar o resto dos meus pertences escada acima quando uma figura apareceu junto à porta, o rosto obscurecido pela pilha de caixas de papelão nos braços. Ele avançou para dentro do quarto, gemendo com o esforço, e as colocou no chão.
– Você – disse eu.
Era o sujeito que eu tinha conhecido no Burger Cottage. Estava usando calça cáqui velha e uma camiseta cinza que dizia HARVARD SQUASH, com crescentes de suor sob os braços.
– Espere aí – disse ele, encarando-me. – Conheço você. De onde conheço você?
Expliquei nosso encontro. A princípio ele disse que não lembrava; depois a expressão de reconhecimento surgiu.
– Claro. O cara da mala. Acho que isso significa que você encontrou o Wigglesworth. – Um pensamento lhe ocorreu. – Sem ofensa, mas isso não significa que você é um segundanista?
Era uma pergunta justa, com resposta complicada. Apesar de ter sido admitido como calouro, eu tinha créditos suficientes para me formar em três anos. Havia pensado pouco nisso, sempre esperando ficar os quatro anos completos. Mas, nas semanas desde que recebera a carta do meu pai, a opção de concluir os estudos rapidamente e dar no pé tinha ficado mais atraente. Sem dúvida os figurões de Harvard também haviam pensado isso, já que tinham me colocado com um cara de uma turma mais avançada.
– Acho que isso faz de você um verdadeiro CDF, não é? – disse ele. – Então manda ver.
Ele tinha um modo de falar que era ao mesmo tempo esquivamente sarcástico e de algum modo elogioso.
– Manda ver o quê?
– Você sabe. Nome, posto, número de série. Especialização, lugar de origem, esse tipo de coisa. Em outras palavras, sua história. Não complique muito: minha memória é uma merda nesse calor.
– Tim Fanning. Bioquímica. Ohio.
– Ótimo. Se bem que, se você perguntar amanhã, provavelmente não vou lembrar, portanto não se ofenda.
Ele avançou com a mão estendida.
– Jonas Lear, a propósito.
Fiz o máximo para reagir com um aperto de mão masculino.
– Lear – repeti. – Tipo o jato?
– Infelizmente, não. É mais tipo o rei louco de Shakespeare.
Ele olhou ao redor.
– E aí, qual desses compartimentos de luxo você escolheu?
– Achei que seria mais justo esperar.
– Lição número um: nunca espere. Lei da selva, e coisa e tal. Mas, já que você está decidido a ser um cara legal, podemos jogar cara ou coroa.
Ele pegou uma moeda no bolso.
– Escolha.
A moeda subiu antes que eu pudesse responder. Ele pegou-a no ar e bateu no pulso.
– Acho que... cara?
– Por que todo mundo pede cara? Alguém deveria fazer um estudo.
Ele levantou a mão.
– Bom, imagina só: é cara.
– Acho que eu estava pensando no quarto menor.
Ele sorriu.
– Está vendo? E foi difícil? Eu teria escolhido o mesmo. Não prometo nada, mas vou fazer o máximo para não confundir sua cama com o vaso no meio da noite.
– Você não disse o que está estudando.
– Certo. Foi grosseria minha. – Ele fez um par de aspas com os dedos no ar. – Biologia organísmica e evolucionária.
Eu nunca tinha ouvido falar nisso.
– É uma especialização mesmo?
Ele tinha se abaixado para abrir uma caixa.
– É o que diz minha ficha. Além disso, é divertido de falar. Parece meio sujo.
Ele levantou os olhos e sorriu.
– O que foi? Não era o que você esperava?
– Eu teria dito... não sei... alguma coisa mais animada. História, talvez. Ou inglês.
Ele tirou uma braçada de livros e começou a colocá-los nas prateleiras.
– Deixa eu perguntar uma coisa. Dentre todos os assuntos possíveis no mundo, por que você escolheu bioquímica?
– Acho que é porque sou bom nisso.
Ele se virou com as mãos nos quadris.
– Bom, aí está. A verdade é que eu simplesmente sou maluco por aminoácidos. Coloco aminoácidos no martíni.
– O que é um martíni?
Sua expressão facial se transformou.
– James Bond? Batido, não mexido? Esses filmes não passam em Ohio?
– Sei quem é James Bond. Quero dizer, não sei o que é que tem nele.
Sua boca se curvou num riso malicioso.
– Ah – disse.
Estávamos na terceira bebida quando escutamos a voz de uma garota chamando o nome dele e o som de passos subindo a escadas.
– Aqui! – gritou Lear.
Estávamos sentados no chão com os instrumentos do empreendimento de Lear à frente. Eu nunca havia conhecido alguém que viajasse não somente com um frasco de gim e uma garrafa de vermute, mas também com equipamentos de barman: dosadores, coqueteleiras, facas minúsculas e delicadas – que a gente só vê em filmes antigos. Um saco de gelo se desfazia numa poça de água ao lado de um vidro de azeitonas aberto, vindo do mercado mais adiante na rua. Eram dez e meia da manhã e eu estava completamente chapado.
– Meu Deus, olha só para você.
Obriguei meus olhos bêbados a focalizarem a figura junto à porta. Era uma garota usando um vestido de verão, de linho azul-claro. Falo do vestido primeiro porque é a coisa mais fácil de descrever. Não quero dizer que ela era linda, embora fosse; em vez disso quero deixar claro que havia nela algo característico e portanto inclassificável (diferentemente da irmã de Lucessi, cuja perfeição era banal e não tinha deixado marca duradoura em mim). Eu podia notar as particularidades: a figura, magra e de seios pequenos, quase parecendo um menino; a formação miúda dos dedos nas sandálias, escurecidos pela sujeira da rua; o rosto em forma de coração e os olhos azuis úmidos; o cabelo louro-claro, livre de presilhas ou arcos, cortado na altura dos ombros, brilhantes tocados pelo sol – mas o todo, como dizem, era maior do que a soma das partes.
– Liz!
Lear fez um enorme esforço para se levantar, tentando não derramar a bebida. Envolveu-a num abraço desajeitado, do qual ela saiu com uma expressão de nojo exagerada. Estava usando pequenos óculos de aros grossos, perfeitamente redondos, que em outra mulher poderiam parecer masculinos, mas nela não pareciam.
– Você está bêbado.
– Ah, nem um pouco. Não tanto quanto meu novo colega de quarto aqui.
Ele levou a mão livre ao canto da boca e disse, num sussurro exagerado:
– Não diga a ele, mas há um minuto ele parecia estar derretendo.
Em seguida levantou sua taça.
– Quer uma?
– Preciso encontrar meu orientador em meia hora.
– Vou aceitar isso como um sim. Tim, esta é Liz Macomb, minha namorada. Liz, Tim. Não lembro o sobrenome, mas tenho certeza de que vou lembrar. Digam olá enquanto eu faço um coquetel para essa garota.
A coisa educada seria ficar de pé, mas de algum modo isso parecia formal demais, e decidi não fazê-lo. Além disso, não sabia se seria capaz.
– Oi – falei.
Ela se sentou na cama, cruzou as pernas esguias embaixo do corpo e puxou a bainha do vestido, cobrindo os joelhos.
– Como vai, Tim? Então você é o sortudo vencedor.
Lear estava servindo o gim.
– O Tim é de Ohio. É só isso que lembro.
– Ohio! – Ela disse a palavra com o mesmo deleite que poderia ter usado para Pago Pago ou Rangun. – Eu sempre quis ir lá. Como é?
– Você só pode estar brincando.
Ela gargalhou.
– Está certo, um pouco. Mas é seu lar. Su patria. Seu pays natal. Fale qualquer coisa.
Seu jeito direto era totalmente irresistível. Lutei para pensar em alguma coisa digna de nota. O que haveria a dizer do lar que eu tinha deixado para trás?
– É bem monótono, acho.
Fiquei encolhido por dentro diante da pobreza da fala.
– As pessoas são legais – emendei.
Lear entregou uma taça que ela aceitou sem olhar para ele. Liz tomou um gole minúsculo e disse:
– Legais é bom. Gosto de legais. Mais o quê?
Ela ainda não havia desviado os olhos para longe de mim. A intensidade de seu olhar era inquietante, mas não inoportuna – longe disso. Vi que tinha uma leve penugem, úmida de suor, acima do lábio superior.
– Não há muita coisa para dizer.
– E o seus pais? O que eles fazem?
– Meu pai é oftalmologista.
– Profissão honrada. Não consigo enxergar para além do nariz sem esse negócio aqui.
– Liz é de Connecticut – acrescentou Lear.
Ela tomou um segundo gole, maior, encolhendo-se com prazer.
– Se não for problema para você, Jonas, eu falo por mim.
– De que parte? – perguntei, como se conhecesse alguma coisa sobre Connecticut.
– Uma cidadezinha chamada Greenwich, querido – respondeu ela com sotaque forçado. – Que eu deveria odiar, já que provavelmente não existe local mais odioso, mas não consigo. Meus pais são anjos e eu adoro os dois. Jonas – disse ela olhando a taça –, isto está bom mesmo.
Lear arrastou uma cadeira para o centro do quarto e se sentou nela virado ao contrário. Fiz uma anotação de que era assim que iria me sentar dali em diante.
– Tenho certeza de que você pode descrever melhor do que isso – disse ele, rindo.
– De novo isso. Não sou um macaco dançarino, você sabe.
– Vamos lá, meu docinho. Nós estamos totalmente chapados.
– “Docinho”. Olha só.
Ela suspirou, estufando as bochechas.
– Tudo bem, só desta vez. Mas que fique claro: só estou fazendo isso porque temos companhia.
Eu não fazia ideia do que achar daquele diálogo. Liz tomou outro gole. Durante um intervalo irritantemente longo, talvez uns vinte segundos, o silêncio dominou o quarto. Liz tinha fechado os olhos, como um médium numa sessão espírita tentando conjurar os mortos.
– Tem gosto de... – Ela franziu a testa, afastando o pensamento. – Não, não está certo.
– Pelo amor de Deus – gemeu Lear. – Não seja tão irritante.
– Quieto.
Outro momento passou; então ela ficou animada.
– É como... o ar do dia mais frio.
Fiquei pasmo. Ela tinha toda a razão. Estava mais do que certa: suas palavras, mais do que funcionarem como uma mera decoração da experiência, aprofundavam sua realidade. Era a primeira vez na vida que eu sentia o poder da linguagem para intensificar a vida. Além disso, vinda dos seus lábios, a frase era profundamente sensual.
Lear deu um assobio de admiração por entre os dentes.
– Essa foi boa.
Eu estava francamente encarando-a.
– Como você fez isso?
– Ah, é só um talento que eu tenho. Isso e 25 centavos rendem uma goma de mascar para você.
– Você é escritora ou algo do tipo?
Ela gargalhou.
– Meu Deus, não. Você já conheceu esse tipo de gente? São uns bêbados irremediáveis, todos eles.
– A Liz aqui é uma daquelas especialistas em inglês de que estávamos falando – disse Lear. – Um fardo para a sociedade, totalmente incapazes de arrumar um emprego.
– Me poupe das suas opiniões grosseiras.
Ela direcionou as palavras seguintes a mim:
– O que ele não está dizendo é que não é exatamente o bon-vivant egocêntrico que finge ser.
– Sou, sim!
– Então por que não diz a ele onde esteve nos últimos doze meses?
No meu estado de sobrecarga de informações, e sob a influência de três bebidas fortes, eu tinha deixado escapar a pergunta mais óbvia no quarto. Por que Jonas Lear, logo ele, precisaria de um “flutuante” como colega de quarto?
– Certo, deixe que eu faço isso – disse Liz. – Ele estava em Uganda.
Olhei para ele.
– O que você foi fazer em Uganda?
– Ah, um pouco disso, um pouco daquilo. Por acaso está acontecendo uma guerra civil lá. Não era o que o folheto de viagem prometia.
– Ele estava trabalhando num campo de refugiados da ONU – explicou Liz.
– E daí? Eu cavei latrinas, distribuí sacos de arroz. Isso não me torna um santo.
– Comparado com o resto de nós, torna, sim. O que seu novo colega de quarto não lhe disse, Tim, é que ele tem projetos sérios de salvar o mundo. Estou falando de um grande complexo de herói. O ego dele é do tamanho de uma casa.
– Na verdade estou pensando em desistir disso – observou Lear. – Não vale a desenteria. Nunca me caguei tanto.
– “Disenteria”, e não “desenteria” – corrigiu Liz. – “Desenteria” não é uma palavra.
Aqueles dois: eu mal podia acompanhá-los, e o problema não era apenas que estava chapado, ou já meio apaixonado pela namorada do meu novo colega de quarto. Eu me sentia como se tivesse saltado direto da Harvard dos anos 1990 para um filme da década de 1940, com Spencer Tracy e Katharine Hepburn trocando farpas.
– Bom, eu acho inglês uma opção fantástica de especialização – observei.
– Obrigada. Está vendo, Jonas? Nem todo mundo é um completo filisteu.
– Vou logo avisando – advertiu-a Lear, balançando o dedo na minha direção –, você está falando com outro pavoroso cientista.
Ela assumiu um ar exasperado.
– De repente chovem cientistas na minha vida. Diga-me, Tim, que tipo de ciência você estuda?
– Bioquímica.
– Que é...? Eu sempre me perguntei.
– Basicamente, os blocos de construção da vida. O que faz as coisas viverem, o que faz com que funcionem, o que faz com que morram. É mais ou menos só isso.
Ela assentiu, aprovando.
– Bom, foi muito bem definido. Eu diria que, afinal de contas, há um pouquinho de poeta em você. Estou começando a gostar de você, Tim de Ohio.
Ela terminou a bebida e colocou a taça de lado.
– Quanto a mim, estou aqui de verdade para formar uma filosofia de vida. É um modo caro de fazer isso, mas na ocasião pareceu uma boa ideia, e decidi ir em frente com ela.
Essa ambição luxuriosa – quatro anos de faculdade a 23 mil dólares cada só para formar uma personalidade – me pareceu outro aspecto alienígena de Liz sobre o qual eu esperava descobrir mais. Digo alienígena, mas quero dizer angelical. Nesse ponto eu estava completamente convencido de que ela era uma criatura dos céus.
– Você não aprova?
Algo no meu rosto deve ter dito isso. Senti as bochechas esquentando.
– Eu não disse isso.
– Você não disse nada. Um conselho: “O homem que tem uma língua não é homem se, com a língua, não puder ganhar uma mulher.”
– O quê?
– Shakespeare. Os dois cavalheiros de Verona. Em inglês comum: quando uma mulher faz uma pergunta, é melhor você responder.
– Se você quiser levá-la para a cama – acrescentou Lear. E me olhou. – Você vai ter de desculpá-la. Liz é como o canal Shakespeare. Não entendo metade das coisas que ela diz.
Eu não sabia praticamente nada sobre Shakespeare. Minha experiência com o bardo era limitada, como a da maioria das pessoas, a uma obediente leitura pantanosa de Júlio César (violento, ocasionalmente empolgante) e de Romeu e Julieta (que, até aquele momento, eu tinha achado nitidamente ridículo).
– Eu só queria dizer que jamais conheci alguém que pensasse assim.
Ela gargalhou.
– Bom, se você quiser ficar perto de mim, neném, é melhor enfiar a cara – disse ela, levantando-se da cama. – E, por falar nisso, preciso ir.
– Mas você não está nem de longe tão bêbada quanto a gente – protestou Lear. – Eu esperava conseguir alguma coisa com você.
– É mesmo?
Junto à porta, ela me olhou de novo.
– Esqueci de perguntar. Você é o quê?
Mais uma pergunta para a qual eu não tinha resposta.
– Como assim?
– Fly? Owl? A.D.? Diga que não é um Porcellian.
Lear respondeu por mim.
– Na verdade o nosso garoto aqui, ainda que tecnicamente não seja mais calouro, ainda não experimentou esse aspecto da vida em Harvard. É uma história complicada e estou bêbado demais para explicar.
– Então você não faz parte de um clube? – perguntou ela, dirigindo-se a mim.
– Existem clubes?
– Clubes exclusivos. Alguém me belisque. Você não sabe mesmo deles?
Eu tinha ouvido falar, mas só isso.
– São alguma espécie de fraternidade estudantil?
– Ah, não exatamente – respondeu Lear.
– Eles são dinossauros anacrônicos – explicou Liz –, elitistas até o âmago. E por acaso dão as melhores festas. Jonas é do clube Spee. Como o pai dele, o pai do pai e todos os papais Lear desde que os peixes ganharam pernas e saíram da água. Além disso, ele é... Jonas, como é mesmo que você chama aquilo?
– O senhor dos murros.
Ela revirou os olhos.
– E que título é esse! Basicamente, ele é encarregado de determinar quem entra. Amorzinho, faça alguma coisa.
– Eu acabei de conhecer o cara. Talvez ele não esteja interessado.
– Claro que estou – falei.
Mas não tinha a menor certeza disso. Em que eu estava me oferecendo para entrar? E quanto custaria algo assim? Mas se significava passar mais tempo na companhia de Liz, eu andaria através de fogo.
– Sem dúvida. Eu certamente estaria interessado em algo assim.
– Que bom – disse ela, com um sorriso vitorioso. – Sábado à noite. Black tie. Viu, Jonas? Está resolvido.
Eu não tinha dúvida de que estava.
O primeiro problema: eu não tinha um smoking.
Só tinha usado esse traje uma vez na vida, alugado, azul-pólvora com acabamentos em veludo azul-marinho, acompanhado por uma camisa de babados que só um pirata amaria e uma gravata-borboleta com presilha, gorda feito um punho. Perfeita para um baile de formatura do ensino médio, mas não para os aposentos requintados do clube Spee.
Eu pretendia alugar um, mas Jonas me convenceu a não fazer isso.
– Sua vida com um smoking apenas começou – explicou ele. – O que você precisa, meu amigo, é de um smoking de batalha.
A loja à qual ele me levou se chamava Keezer’s, e era especializada em roupas formais recicladas e baratas o suficiente para receber vômitos sem arrependimento. Um salão enorme, sem graça como uma estação rodoviária, com cabeças de animais comidas por traças nas paredes e o ar tão sufocado de naftalina que fez meus sínus arderem: em suas prateleiras volumosas escolhi um smoking preto simples, uma camisa listrada com manchas amarelas embaixo dos braços, uma caixa de abotoaduras, além de sapatos sociais de verniz – que só doíam quando eu andava ou ficava parado de pé. Nos dias anteriores à festa, Jonas havia adotado uma personalidade que era algo entre um jovem tio sábio e um cão-guia de cego. A escolha do smoking foi minha, mas ele insistiu em escolher a gravata e a faixa, examinando dezenas antes de optar por uma de seda rosa com estampa de minúsculos losangos verdes.
– Rosa?
Desnecessário dizer, não era algo que pegaria bem em Mercy, Ohio. Um smoking azul-pólvora, sim. Gravata rosa, não.
– Tem certeza?
– Confie em mim – disse ele. – É o tipo de coisa que nós fazemos.
A festa, pelo que entendi, seria uma espécie de primeiro encontro elaborado. Os membros teriam a chance de examinar os novos candidatos, chamados de “esmurrados”. Eu estava preocupado porque não tinha ninguém para levar, mas Jonas garantiu que eu estaria melhor sozinho. Assim, explicou, eu teria a oportunidade de impressionar a flotilha de mulheres desacompanhadas importadas de outras faculdades para a ocasião.
– Se levar duas delas para a cama, você está definitivamente dentro.
Gargalhei daquele absurdo.
– Por que só duas?
– Quero dizer ao mesmo tempo – respondeu ele.
Eu não tinha visto Liz desde meu primeiro dia na casa Winthrop. Isso não me pareceu estranho, já que ela vivia na Mather, mais adiante no rio, e circulava com um pessoal artístico. Mas através de indagações discretas e bem espaçadas eu tinha conseguido saber mais sobre a ligação dela com Jonas. Na verdade eles não eram estritamente um casal de Harvard, pois se conheciam desde a infância. Os pais de ambos tinham sido colegas de quarto no colégio interno e as duas famílias viajavam juntas em férias fazia anos. Isso fez sentido para mim; pensando bem, as picuinhas verbais dos dois mais pareciam diálogos entre irmãos precoces do que os de um par romântico. Jonas disse que durante muitos anos ele e Liz não se suportavam; só quando fizeram 15 anos e foram obrigados a passar duas semanas nevoentas com os pais numa ilha remota do litoral do Maine a antipatia mútua se transformou no que era de verdade. Tinham escondido isso das famílias – até mesmo Jonas confessava que existia algo vagamente incestuoso na coisa toda –, confinando as paixões a escapadas secretas, de verão, em celeiros e casas de barco enquanto os pais se embebedavam no quintal, não se considerando de fato namorados até que ambos foram para Harvard e descobriram que, afinal de contas, gostavam mesmo um do outro.
Esse relato também explicava, pelo menos em parte, a estranheza do relacionamento deles. O que mais, além de uma história compartilhada, poderia unir duas pessoas com temperamentos tão fundamentalmente incompatíveis, visões tão divergentes da vida? Quanto mais eu os conhecia, mais passava a entender como eles eram mesmo diferentes. O fato de terem viajado nos mesmos círculos sociais na infância, frequentado escolas e internatos praticamente intercambiáveis ou serem capazes de se orientar no sistema de metrô de Nova York, no de Paris e no de Londres quando tinham 12 anos não dizia nada com relação a quem eram de fato como pessoas. É possível que as mesmas circunstâncias que atraem duas almas as mantenham para sempre distantes. Aí está a verdade do amor e a essência de todas as tragédias. Eu não era suficientemente sábio para entender isso, nem seria, até que se passassem muitos anos. Mas acredito que sentia isso desde o início, e que essa foi a fonte da minha afinidade, a força que me atraía para ela.
O dia da festa chegou. Todas as horas diurnas foram um preâmbulo desconexo; não consegui fazer nada. Estava nervoso? Como o touro se sente quando é levado para a arena e nota a multidão gritando e o homem com a capa e a espada? Jonas havia saído – eu não sabia para onde – e, à medida que o relógio se aproximava das oito, a hora marcada, ainda não tinha aparecido. O cara do Meio-Oeste que havia em mim ficava incomodado com as diferenças regionais no que era considerado atraso ou não, e às nove e meia, quando decidi me vestir (eu tinha criado a fantasia de menina de que Lear e eu faríamos isso juntos), minha ansiedade era tamanha que beirava a raiva. Parecia provável que sua promessa tivesse sido esquecida e que eu passaria a noite como um noivo abandonado, assistindo à TV de smoking.
A outra dificuldade estava no fato de que eu não sabia dar nó em gravata-borboleta. Provavelmente não conseguiria isso de jeito nenhum; minhas mãos estavam tremendo de verdade. Manusear as abotoaduras e os botões refinados da camisa era como enfiar a linha numa agulha usando um martelo. Demorei dez minutos inteiros, praguejando feito um marujo, para alojá-los nos buracos certos, e quando terminei estava com o rosto molhado de suor. Enxuguei-o com uma toalha fedorenta e me examinei no espelho de corpo inteiro da porta do banheiro, esperando algum encorajamento. Eu era um cara pouco notável. Ainda que naturalmente magro e sem defeitos relevantes, sempre havia sentido que meu nariz era grande demais para o rosto, os braços compridos demais para o corpo, o cabelo volumoso demais para a cabeça. Mas o rosto e a figura que olhei no espelho não me pareceram pouco promissores. O terno preto e bem cortado, os sapatos brilhantes e a camisa engomada – até mesmo, contra minhas expectativas, a gravata cor-de-rosa – não pareciam pouco naturais em mim. Lamentei instantaneamente o traje azul-pólvora que tinha usado no baile de formatura; como podia saber que uma coisa simples como um terno preto era capaz de enobrecer tanto a aparência de uma pessoa? Pela primeira vez ousei pensar que eu, um garoto simples da província, poderia passar pelas portas do clube Spee sem disparar um alarme.
A porta se escancarou; Jonas entrou no quarto externo.
– Porra, que horas são?
Passou direto por mim, indo até o banheiro, e abriu o chuveiro. Acompanhei-o até a porta.
– Por onde você andou? – perguntei, percebendo tarde demais como isso parecia impertinente. – Não tem muito problema, mas são quase dez horas.
– Tive trabalho no laboratório.
Ele estava tirando a camisa.
– O negócio só começa de verdade lá pelas onze. Eu não disse?
– Não.
– Ah. Bem, desculpe.
– Como é que se dá nó em gravata-borboleta?
Ele já estava só de cueca.
– Como é que eu vou saber? A minha é de presilha.
Voltei para o quarto externo. Jonas gritou acima do barulho da água.
– Liz esteve aqui?
– Ninguém esteve aqui.
– Ela deveria se encontrar com a gente.
Agora minha ansiedade se concentrava totalmente na questão da gravata. Voltei ao espelho e tirei-a do bolso. Tinha ouvido dizer que o truque era amarrar como um cadarço de sapato. Não poderia ser muito difícil. Eu vinha amarrando meus sapatos desde os 2 anos.
A verdade era: muito mais difícil. Nada que eu fizesse deixava as pontas ao menos próximas do mesmo tamanho. Era como se a seda estivesse possuída.
– Ora, como você está chique!
Liz tinha entrado pela porta aberta. Ou melhor, uma mulher parecida com Liz; no lugar dela estava uma criatura de puro glamour discreto. Usava um vestido de noite preto e esguio, de decote cavado, e sapatos de couro vermelho brilhante; tinha acrescentado alguma coisa ao cabelo, deixando-o cheio e intenso, e trocado os óculos por lentes de contato. Um longo fio de pérolas, sem dúvida verdadeiras, pendia fundo no decote.
– Uau – disse eu.
– E isso – disse ela, jogando a carteira no sofá – é a palavra que toda mulher anseia por ouvir.
Uma nuvem de perfume complexo a havia acompanhado para dentro do quarto.
– Está tendo algum problema com a gravata?
Estendi-lhe a maligna peça de vestuário.
– Não tenho ideia do que estou fazendo.
– Vamos dar uma olhada.
Ela veio até mim e pegou-a.
– Ah – disse, examinando-a. – Aqui está o problema.
– O quê?
– É uma gravata-borboleta! – Ela gargalhou. – E por acaso você veio à pessoa certa. Faço isso para o meu pai o tempo todo. Fique parado.
Ela pendurou a gravata no meu pescoço e a posicionou embaixo do colarinho. De salto alto, Liz tinha quase a minha altura; nossos rostos estavam separados por centímetros. Com os olhos atentamente focalizados na base da minha garganta, engajou-se na tarefa misteriosa. Eu nunca havia estado tão perto de uma mulher sem estar a ponto de beijá-la. Meu olhar foi instintivamente para seus lábios, que pareciam macios e quentes, depois para baixo, seguindo o caminho das pérolas. O efeito foi como o de uma corrente de baixa voltagem passando por cada célula do meu corpo.
– Olhos aqui em cima, meu chapa.
Eu sabia que estava ruborizando. Desviei o olhar.
– Desculpe.
– Você é homem, o que pode fazer? Vocês são iguais a brinquedinhos de corda. Deve ser medonho.
Um ajuste final; em seguida ela deu um passo atrás. Havia um calor em suas bochechas? Será que também estava ruborizando?
– Aí está. Dê uma olhada.
Ela pegou um pó compacto na carteira e me entregou. Era feito de um material macio ao toque, como osso polido; a sensação foi quente na minha mão, como se estivesse irradiando uma energia pura, feminina. Abri a tampa, revelando o recipiente de pó tom de carne e um espelhinho redondo, de onde meu rosto me olhou de volta, flutuando acima da gravata-borboleta cor-de-rosa com um nó impecável.
– Perfeito – falei.
O chuveiro foi desligado com um gemido, o que ampliou minha percepção. Eu tinha me esquecido totalmente do meu colega de quarto.
– Jonas – gritou Liz –, estamos atrasados!
Ele veio rapidamente para o quarto, com uma toalha amarrada na cintura. Tive a sensação de ser apanhado fazendo algo que não devia.
– Então, vocês dois vão ficar aí olhando enquanto me visto? A não ser... – Olhando para Liz, ele deu uma sacudida sugestiva na toalha, como uma dançarina exótica provocando a plateia. – Ça te donne du plaisir, mademoiselle?
– Ande logo. Estamos atrasados.
– Mas eu perguntei em francês!
– Vai ter de melhorar o sotaque. Vamos encontrar você lá fora, muito obrigada.
Ela me agarrou pelo braço e me guiou para a porta.
– Venha, Tim.
Descemos até o pátio. Um campus de faculdade numa noite de sábado segue princípios próprios: acorda exatamente quando o resto do mundo está se preparando para dormir. Vinha música de todo lugar, derramando-se das janelas; figuras se moviam rindo pela escuridão; vozes iluminavam a noite vindo de todas as direções. Enquanto seguíamos pelo caminho coberto, uma garota passou rapidamente, segurando a bainha do vestido com uma das mãos e uma garrafa de champanhe com a outra.
– Você vai se sair bem – disse Liz, me tranquilizando.
Tínhamos acabado de transpor o portão.
– Eu pareço preocupado?
Mas, claro, eu estava.
– Só precisa fingir que faz parte. Esse é o ponto. Da maioria das coisas, na verdade.
Longe de Jonas ela havia se tornado uma pessoa ligeiramente diferente: mais filosófica, até mesmo um tanto cansada do mundo. Senti que isso estava mais perto de sua verdade.
– Esqueci de mencionar – disse Liz. – Há uma pessoa que eu gostaria que você conhecesse. Ela vai estar na festa.
Eu não sabia direito o que pensar disso.
– Somos primas – continuou ela. – Bom, primas em segundo grau. Ela estuda na Universidade de Boston.
A oferta era desorientadora. Precisei me lembrar de que o que havia acontecido lá em cima tinha sido um flerte inocente, nada mais – que ela era namorada de outro.
– Tudo bem.
– Tente não parecer empolgado demais.
– Por que você acha que a gente vai se dar bem?
A observação saiu brusca demais, até um pouco ressentida. Mas, se ela se ofendeu, não demonstrou.
– Só não deixe que ela beba demais.
– Isso é um problema?
Liz deu de ombros.
– Steph pode ser meio baladeira, se é que você me entende. Esse é o nome dela, Stephanie.
Jonas nos alcançou, todo cheio de risos e desculpas. Fomos para a festa, que era a apenas três quarteirões dali. Antes, ele havia me mostrado a sede do clube Spee, uma casa de tijolos com jardim lateral murado, pela qual eu tinha passado mil vezes. Uma festa de faculdade costuma ser uma coisa barulhenta que arrota um enorme perímetro de som, mas não aquela. Não havia evidências de que alguma coisa acontecesse lá dentro, e por um segundo achei que Jonas poderia ter se enganado com relação à noite. Ele foi até a porta e tirou uma chave única de um chaveiro no bolso do smoking. Eu tinha visto essa chave antes, na escrivaninha, mas não a havia conectado a qualquer coisa até então. O chaveiro tinha a forma de uma cabeça de urso, símbolo do Spee.
Entramos atrás dele. Estávamos num saguão vazio, o piso pintado em quadrados pretos e brancos alternados, como um tabuleiro de xadrez. Não senti que estivesse indo a uma festa – era mais parecido com cair de paraquedas num país estrangeiro. Os espaços que eu podia ver eram escuros, masculinos e, para um prédio habitado por estudantes universitários, notavelmente arrumados. Um estalo de marfim: ali perto alguém jogava bilhar. Num pedestal do canto havia um grande urso empalhado – não era um urso de pelúcia, e sim de verdade. Estava empinado nas patas traseiras, as mãos em garras estendidas como se fosse mutilar algum agressor invisível. (Isso ou tocar piano.) De cima vinha uma onda de vozes afrouxadas por bebida.
– Venham – chamou Jonas.
Ele nos levou para trás, até uma escada. Vista da rua, a casa parecia ter dimensões modestas, mas não era o que se descobria estando lá dentro. Subimos em direção ao barulho e ao calor da multidão, que havia se derramado de dois salões para o patamar.
– Jo-man!
Enquanto entrávamos, um ruivo enorme usando smoking branco travou Jonas pelo pescoço. O cara tinha a pele vermelha e a cintura grossa de um atleta aposentado.
– Jo-man, Jo-Jo, o grande Jo-ster.
Inexplicavelmente, ele deu um beijo estalado na bochecha de Jonas.
– E, Liz, devo dizer que você está especialmente saborosa esta noite.
Ela revirou os olhos.
– Está devidamente anotado.
– Ela me ama? Estou perguntando: essa garota me ama de verdade?
Com o braço ainda envolvendo Jonas, ele me olhou com expressão de preocupação e espanto.
– Santo Deus, Jonas, diga que esse aí não é o cara.
– Tim, este é Alcott Spence. É o nosso presidente.
– E completamente bêbado. Mas diga-me, Tim, você não é gay, é? Porque, sem ofensa, você parece meio gay com essa gravata.
Fui apanhado totalmente desprevenido.
– Ah...
– Brincadeira!
Ele soltou uma gargalhada explosiva. Agora estávamos sendo comprimidos de todos os lados, à medida que mais pessoas subiam a escada atrás de nós.
– Sério, só estou curtindo com a sua cara. Metade dos caras daqui são umas tremendas bichonas. Eu mesmo sou o que você chamaria de onívoro sexual. Não é, Jonas?
Jonas riu, entrando no jogo.
– É verdade.
– O Jonas aqui é um dos meus amigos mais especiais. Muito especiais. Portanto vá em frente e seja gay quanto achar que precisa.
– Obrigado – falei. – Mas não sou gay.
– O que também está totalmente ótimo! É o que estou dizendo! Ouça esse cara. Nós não somos Porcellians, sabe? Sério, aqueles caras não conseguem parar de trepar uns com os outros.
Quanto eu queria uma bebida naquele momento? Muito, muito mesmo.
– Bom, gostei do nosso papinho – continuou Alcott, animado –, mas preciso ir. Tenho um encontro caloroso com certa segundanista da Universidade da Moral Frouxa e um pouco de cocaína pero excelente. Fiquem à vontade e divirtam-se, crianças.
Ele sumiu na multidão. Virei-me para Jonas.
– Todo mundo aqui é assim?
– Na verdade, não. Muitos pegam bem pesado.
Olhei para Liz.
– Não ouse me deixar sozinho.
Ela deu um riso maroto.
– Está brincando?
Abrimos caminho à força até o bar. Nada de barril de chope morno: atrás de uma mesa comprida um barman de camisa branca preparava bebidas e entregava garrafas de Heineken. Enquanto enfiava gelo em minha vodca tônica – no meu ano de calouro eu tinha aprendido a permanecer no álcool transparente quando podia –, tive a ânsia de lhe mandar alguma mensagem de camaradagem inspirada no marxismo. “Na verdade eu sou de Ohio”, poderia dizer. “Trabalho guardando livros nas estantes da biblioteca. Não sou daqui, como você.” (“P.S.: Esteja a postos! A Gloriosa Revolução Operária começa à meia-noite em ponto!”)
Enquanto ele punha a bebida na minha mão, um novo sentimento me veio. Talvez fosse o modo como ele fazia aquilo – automaticamente, como um robô em alta velocidade, a atenção já concentrada no próximo da fila –, mas naquele instante me ocorreu que eu tinha conseguido. Tinha passado. Tinha me enfiado com sucesso no outro mundo, o mundo escondido. Era para onde eu estivera indo o tempo todo. Parei um momento para absorver a sensação. Entrar para o Spee: o que eu acreditava ser absolutamente impossível apenas alguns instantes atrás parecia de repente um fato consumado, uma coisa do destino. Eu ocuparia meu lugar entre os sócios porque Jonas Lear pavimentaria a estrada. De que outro modo explicar a coincidência extraordinária do nosso segundo encontro? O destino o havia posto no meu caminho por um motivo, e ali estava eu, na rica atmosfera de privilégios que se irradiava de toda parte ao redor. Era como uma nova forma de oxigênio, que eu estivera esperando a vida inteira para respirar e que me deixava estranhamente vivo.
Estava tão concentrado nessa nova linha de pensamento que não notei Liz parada à minha frente. Ao lado dela havia uma pessoa nova, uma garota.
– Tim! – gritou ela acima da música que irrompia da sala atrás de nós. – Esta é a Steph!
– Muito prazer!
– O prazer é meu!
Ela era baixa, tinha olhos cor de avelã, sardas salpicadas e cabelos castanhos brilhantes. Pouco notável, comparada com Liz, mas bonita ao seu modo – bonitinha, seria a palavra –, e sorriu para mim de um modo que dizia que Liz tinha feito o trabalho de base. Estava segurando uma taça quase vazia com alguma coisa transparente. A minha também estava vazia. Era a primeira ou a segunda?
– Liz disse que você estuda na Universidade de Boston!
– É!
Como a música era alta demais, nós estávamos bem perto. Ela cheirava a rosas e gim.
– Você gosta?
– É legal! Você está fazendo bioquímica, não é?
Confirmei com a cabeça. Era a conversa mais banal da história, mas precisava acontecer.
– E você?
– Ciência política! Ei, quer dançar?
Eu era um péssimo dançarino, mas quem não era? Fomos para o salão de baile iluminado por confetes de luz e começamos a tentativa desajeitada de realizar esse ato íntimo fingindo que não tínhamos nos conhecido trinta segundos antes. A pista de dança já estava cheia, a música tinha sido estrategicamente guardada até que todo mundo estivesse cheio de álcool; olhei em volta procurando por Liz, mas não a encontrei. Acho que ela era chique demais para se fazer de idiota desse modo, e esperei que não me visse.
Stephanie era uma dançarina entusiasmada, o que não me surpreendeu. Porém o que eu não tinha imaginado era que ela seria tão boa. Enquanto meus movimentos eram uma imitação desajeitada de dança, totalmente sem relação com aquela música ou com qualquer outra, os dela eram ágeis e de uma expressividade que beirava a graça verdadeira. Ela girava, rodava, rodopiava. Fazia coisas com os quadris que em outros locais poderiam parecer indecentes, mas naquelas circunstâncias pareciam ordenadas por uma moralidade diversa, menos restrita. Também conseguia manter a atenção em mim o tempo todo, com um sorriso calorosamente sedutor, os olhos focalizados como lasers. De que Liz a havia chamado? “Baladeira”? Eu estava começando a enxergar as vantagens.
Paramos para pegar mais uma bebida depois da terceira música, engolimos a dose rápido como marinheiros de licença e voltamos à pista. Eu não tinha jantado e a birita estava fazendo seu trabalho. A noite se dissolveu numa névoa. Em algum ponto me peguei falando com Jonas, que estava me apresentando a outros sócios do clube, e depois jogando bilhar com Alcott, que não era um cara tão ruim, afinal de contas. Tudo o que eu fazia e dizia parecia cheio de charme. Mais tempo se passou, e então Stephanie, que eu havia perdido de vista brevemente, estava me puxando pela mão de volta para a música, que martelava sem parar, como o próprio coração da noite. Eu não fazia ideia de que horas eram e não me importava. Mais dança rápida, depois a música baixou de ritmo e ela passou os braços pelo meu pescoço. Mal tínhamos falado, mas agora essa garota quente e cheirosa estava nos meus braços, o corpo comprimido contra o meu, as pontas dos dedos acariciando os pelos da minha nuca. Eu nunca havia recebido um presente tão pouco merecido. Ela não poderia deixar de perceber o que estava acontecendo com minha anatomia; e eu não queria que ela não percebesse. Quando a música terminou, ela encostou os lábios no meu ouvido e seu hálito foi uma exalação doce que me fez tremer.
– Eu tenho coca.
Então me peguei sentado ao lado dela num fundo sofá de couro numa sala que parecia pertencer a uma cabana de caça. Ela tirou um embrulhinho de papel de caderno da bolsa, lacrado por dobras complexas. Usou minha carteira de estudante de Harvard para arrumar a coca em duas fileiras gordas na mesinha de centro e enrolou uma nota de 1 dólar, fazendo um canudo. A cocaína era um aspecto da vida universitária que eu não tinha experimentado, mas que não via como algo ruim. Ela se curvou sobre a mesa, sugou o pó no fundo do nariz com uma fungadela delicada, feminina, e me entregou a nota, para que eu fizesse o mesmo.
Não foi ruim. Na verdade foi muito bom. Segundos depois de inalar o pó, experimentei um jorro súbito de bem-estar que não pareceu um afastamento da realidade, e sim uma penetração mais profunda na verdade. O mundo era um lugar ótimo, cheio de pessoas maravilhosas, uma existência encantada digna do maior entusiasmo. Olhei para Stephanie, que era linda agora que eu tinha olhos para ver, e procurei as palavras que explicassem essa revelação numa noite de muitas revelações.
– Você é uma excelente dançarina.
Ela se inclinou e tomou minha boca na sua. Não era um beijo de colegial; era um beijo dizendo que não existiam regras, se eu não quisesse que existissem. Não demorou muito até que nossos corpos fossem uma confusão de línguas, mãos e pele. Coisas estavam sendo postas de lado, desamarradas, abertas. Eu me senti mergulhando num vórtice de sensualidade pura. Era diferente do que havia sido com Carmen. Não tinha bordas, nem asperezas. Eu me sentia derretendo. Stephanie estava montada no meu colo, pondo a calcinha de lado, e desceu, me envolvendo; começou a se mover de um jeito maravilhoso, aquático, como uma anêmona ondulando nas marés, balançando-se, subindo e mergulhando, cada variação acompanhada pelos estalos do estofamento de couro. Fazia apenas algumas horas desde que eu estivera andando de um lado para o outro no meu quarto, consignado a uma solidão humilhada, e ali estava, comendo uma garota vestida em traje de noite.
– Epa. Desculpe, meu chapa.
Era Jonas. Stephanie saiu de cima de mim como uma bala disparada. Um momento de atividade frenética enquanto a calcinha era puxada para cima, o vestido para baixo, várias peças de roupa ajustadas bruscamente. Parado junto à porta, meu colega de quarto estava numa hilaridade mal contida.
– Meu Deus – falei.
Eu estava fechando a braguilha, ou tentando. A aba da camisa ficou presa no zíper. Mais comédia.
– Você podia ter batido.
– E vocês podiam ter trancado a porta.
– Jonas, você a encontrou?
Liz apareceu atrás dele. Quando entrou na sala, seus olhos se arregalaram.
– Ah – disse.
– Eles estavam se conhecendo melhor – sugeriu Jonas, rindo.
Stephanie estava alisando o cabelo; seus lábios estavam inchados, o rosto vermelho de sangue. Eu não tinha dúvida de que o meu estava igual.
– Dá para ver – disse Liz. Sua boca estava numa linha reta; não olhava para mim. – Steph, seus amigos estão esperando lá fora. A não ser que você queira que eu diga alguma coisa a eles.
Isso era claramente desnecessário; o balão da paixão tinha sido furado.
– Não, acho que preciso ir.
Ela pegou os sapatos no chão e se virou para mim. Ridiculamente, eu ainda estava sentado no sofá.
– Bom, obrigada – disse ela. – Foi mesmo um prazer conhecer você.
Será que deveríamos nos beijar? Apertar as mãos? O que eu deveria dizer? “De nada” não parecia servir. No fim das contas, a distância entre nós estava grande demais; nem nos tocamos.
– Você também – falei.
Ela acompanhou Liz, saindo da sala. Eu me senti arrasado – não só por causa do gozo dolorosamente bloqueado, mas também por causa da inconfundível decepção de Liz comigo. Eu tinha revelado que era exatamente igual a qualquer outro cara: um puro oportunista. Só naquele momento percebi inteiramente como a opinião dela a meu respeito tinha ficado importante.
– Cadê todo mundo? – perguntei a Jonas.
A casa estava notavelmente silenciosa.
– São quatro da manhã. Todo mundo foi embora. A não ser o Alcott. Apagou na sala de bilhar.
Olhei meu relógio. Fosse pela adrenalina ou pela coca se contrapondo ao álcool, meus pensamentos haviam clareado. Trechos da noite me voltaram, induzindo arrepios: eu derrubando uma bebida na namorada de um sócio, tentando uma dança cossaca ao som de “Love Shack”, do B-52’s, rindo alto demais de uma piada que na verdade era a história triste de alguém sobre o irmão deficiente. O que eu tinha pensado, ficando tão bêbado?
– Você está bem? Quer que a gente espere?
Eu nunca tinha desejado menos alguma coisa na vida. Já estava calculando em que banco de parque poderia dormir. Será que as pessoas ainda faziam isso?
– Vão indo vocês dois. Eu já vou.
– Não se preocupe com a Liz, se é o que você está pensando. Isso tudo foi ideia dela.
– Foi?
Jonas deu de ombros.
– Bom, talvez não que você fosse comer a prima dela no sofá. Mas ela queria que você se sentisse... não sei. Incluído.
Isso fez com que eu me sentisse pior ainda. Tinha presumido que Liz estava fazendo um favor à prima, quando era o contrário.
– Olhe, Tim, sinto muito...
– Esqueça – falei, e dispensei meu colega com um aceno. – Estou bem, sério. Vá para casa.
Esperei dez minutos, me ajeitei e saí da casa. Jonas não tinha dito aonde ele e Liz iriam; à casa dela provavelmente, mas eu não poderia correr o risco. Fui em direção ao rio e comecei a andar. Não tinha destino em mente; acho que estava fazendo uma espécie de penitência, se bem que não poderia dizer por quê. Afinal de contas tinha feito exatamente o que era esperado de mim, pelos padrões da época e do lugar.
O amanhecer cinzento me encontrou, uma figura patética de smoking, a 8 quilômetros de distância na ponte Longfellow, acima da bacia do rio Charles. Os primeiros remadores tinham saído, escavando a água com seus remos compridos e elegantes. É em momentos assim que dizem que as revelações chegam, mas nenhuma chegou. Eu tinha desejado demais e passei vergonha; não havia mais nada a dizer além disso. Estava com uma tremenda ressaca; bolhas tinham se formado nos dois pés por causa dos sapatos apertados. Ocorreu-me que eu não falava com meu pai havia muito tempo, e lamentei isso, mas sabia que não iria ligar para ele.
Quando voltei à Winthrop eram quase nove horas. Enfiei a chave na fechadura e encontrei Jonas recém-barbeado e sentado em sua cama, enfiando as pernas numa calça jeans.
– Meus Deus, olhe só para você – disse ele. – Foi assaltado ou algo assim?
– Fui dar uma volta.
Tudo nele irradiava uma urgência animada.
– O que está acontecendo?
– O que está acontecendo é que vamos sair.
Ele se levantou, enfiando a camisa no cós da calça.
– É melhor você se trocar.
– Estou exausto. Não vou a lugar nenhum.
– Melhor repensar isso. Alcott acabou de ligar. Vamos a Newport.
Eu não fazia ideia do que dizer dessa afirmação ridícula. Newport ficava a pelo menos duas horas dali. Eu só queria cair na cama e dormir.
– O que você está falando?
Jonas colocou o relógio no pulso e foi até o espelho, pentear o cabelo, ainda úmido do chuveiro.
– O pós-festa. Desta vez só membros e esmurrados. Os que... você sabe... passaram. O que inclui você, meu chapa.
– Está brincando.
– Por que eu brincaria com uma coisa assim?
– Ah, não sei. Talvez porque eu tenha sido um completo panaca?
Ele gargalhou.
– Não pegue tão pesado com você mesmo. Você ficou meio chapado, e daí? Todo mundo gostou de você, especialmente o Alcott. Parece que a sua aventura na biblioteca provocou uma tremenda impressão.
Meu estômago revirou.
– Ele sabe?
– Fala sério! Todo mundo sabe. É para a casa do Alcott que a gente vai, por sinal. Você deveria ver o lugar. Parece saído de uma revista.
Ele deu as costas para o espelho.
– Terra chamando Fanning. Estou falando sozinho aqui?
– Ah, acho que não.
– Então, pelo amor da porra, vá se vestir.
DEZESSETE
O outono foi uma maratona de festas, cada qual mais extravagante do que a anterior. Noites em restaurantes cuja conta eu jamais poderia pagar, boates de striptease, um cruzeiro num barco de 60 pés de um ex-aluno que ficou em sua cabine particular o tempo todo. Pouco a pouco os candidatos foram caindo fora, até restar apenas uma dúzia. Logo depois do feriado de Ação de Graças, um envelope surgiu embaixo da minha porta. Eu deveria me apresentar no clube à meia-noite. Alcott me recebeu na entrada, instruiu que eu não dissesse nada, me entregou um copo de estanho com rum forte e mandou que eu bebesse. A casa parecia vazia; todas as luzes estavam apagadas. Ele me levou à biblioteca, me vendou e mandou que eu esperasse. Alguns minutos se passaram. Eu estava me sentindo bastante bêbado e com dificuldade para manter o equilíbrio.
Então escutei, vindo de trás, um som alarmante – um rosnado grave, animal, como o de um cachorro a ponto de atacar. Girei, cambaleando, e tirei a venda enquanto o urso se empinava à minha frente, tirando o fôlego do meu peito. Na sala escura tudo o que eu conseguia ver era seu grande volume preto e os dentes brilhantes posicionados acima do meu pescoço. Gritei, absolutamente convencido de que ia morrer – uma pegadinha supostamente inofensiva que sem dúvida tinha dado terrivelmente errado – até perceber que o urso, em vez de rasgar minha garganta, tinha começado a trepar comigo.
As luzes se acenderam. Era Alcott usando uma roupa de urso. Todos os sócios estavam lá, inclusive Jonas. Uma explosão de risadas geral, e então o champanhe apareceu. Eu tinha sido aceito.
A taxa era de 110 dólares por mês – mais do que eu tinha para esbanjar, menos do que eu poderia abrir mão. Peguei horas extras na biblioteca e descobri que podia ganhar facilmente a diferença. Tinha passado o Dia de Ação de Graças na casa de Jonas em Beverly, mas o Natal era um problema. Eu não tinha contado nada a ele sobre minha situação e não queria ser objeto de sua piedade. Um semestre de festas ininterruptas também tinha me deixado bem atrasado nos estudos. Eu não sabia o que fazer, até que tive a ideia de ligar para a Sra. Chodorow, a mulher em cuja casa eu tinha passado o verão. Ela concordou em deixar que eu ficasse e até ofereceu o quarto de graça – disse que seria bom ter uma pessoa jovem no período de festas. Na véspera de Natal, me convidou para o andar de baixo e nós dois passamos a tarde juntos, assando biscoitos para sua igreja e assistindo aos especiais de Natal na TV. Ela até me comprou um presente, um par de luvas de couro. Eu tinha me considerado imune aos sentimentos natalinos, mas fiquei tão tocado que meus olhos se encheram de lágrimas.
Só em fevereiro decidi ligar para Stephanie. Estava me sentindo mal com o acontecido e tinha pensado em pedir desculpas antes, mas, quanto mais esperava, mais difícil ficava. Presumi que ela simplesmente iria desligar na minha cara, mas não foi o que fez. Pareceu genuinamente feliz por ter notícias minhas. Perguntei se ela gostaria de me encontrar para um café e descobrimos que, mesmo sóbrios, gostávamos um do outro. Nos beijamos sob um toldo enquanto a neve caía – um beijo muito diferente, tímido, quase cortês –, depois a coloquei num táxi para Back Bay e, quando voltei ao meu quarto, o telefone já estava tocando.
Assim foram estabelecidos os termos para os dois anos seguintes da minha vida. De algum modo o Universo havia perdoado minhas invasões, minhas ambições vãs, minhas crueldades casuais, egocêntricas. Eu deveria estar feliz, e na maior parte do tempo estava. Nós quatro – Liz, Jonas, Stephanie e eu – viramos um quarteto: festas, filmes, fins de semana esquiando em Vermont e idas luxuosas, bêbadas, a Cape Cod, onde a família de Liz tinha uma casa que ficava convenientemente desocupada na baixa temporada. Eu não via Stephanie no meio de semana, nem Jonas via muito Liz, cuja vida de outro modo não parecia se cruzar com a dele, e os ritmos pareciam funcionar. De segunda a sexta eu ralava; na noite de sexta começava a diversão.
Minhas notas eram excelentes e meus professores perceberam. Fui encorajado a começar a pensar em onde faria o doutorado. Harvard estava no topo da minha lista, mas havia outras opções a considerar. Meu orientador estava fazendo lobby por Colúmbia; o chefe do departamento, por Rice – onde ele tinha feito seu ph.D. e ainda mantinha bons contatos profissionais. Eu me sentia como um cavalo de corrida a ponto de ser leiloado, mas não me importava. Estava no portão; logo a sineta iria tocar e eu começaria a corrida louca pela pista.
Então Lucessi se matou.
Isso foi no verão. Eu tinha ficado em Cambridge, na casa da Sra. Chodorow, e retomado o trabalho no laboratório. Não falava com Lucessi desde o último dia do nosso ano de calouros – na verdade mal havia pensado nele além de sentir uma leve curiosidade, nunca fizera nada com relação ao seu destino. Foi a irmã dele, Arianna, que ligou para mim. Não pensei em perguntar como ela havia me encontrado. Obviamente estava em choque; sua voz estava monocórdia e sem emoção, revelando os fatos. Lucessi estivera trabalhando numa loja de vídeos. A princípio parecia ter recebido sua expulsão de Harvard razoavelmente bem. Ficara abalado, mas não fora derrubado. Havia planos vagos de ele frequentar a faculdade comunitária local, talvez candidatar-se de novo a Harvard em um ou dois anos. Mas no inverno e na primavera seus tiques pioraram. Ficou carrancudo e pouco comunicativo, recusando-se a falar com quem quer que fosse durante dias. Os murmúrios baixos ficaram mais ou menos contínuos, como se ele mantivesse conversas com pessoas imaginárias. Várias obsessões perturbadoras se estabeleceram. Passava horas lendo o jornal do dia, sublinhando frases aleatórias em matérias que não tinham qualquer relação entre si e dizia que a CIA o estava vigiando.
Aos poucos ficou evidente que estava à beira de um ataque psicótico, talvez até mesmo da esquizofrenia total. Seus pais tomaram providências para que fosse internado num hospital psiquiátrico, mas na véspera da partida para lá ele desapareceu. Aparentemente havia pegado o trem para Manhattan. Com ele, numa bolsa de lona, estava um pedaço de corda forte. No Central Park, ele escolheu uma árvore com uma pedra grande embaixo, jogou a corda por cima de um galho, posicionou o nó corrediço e pulou. A distância não foi suficiente para quebrar seu pescoço; ele poderia ter recuperado o apoio para os pés na pedra quando quisesse. Mas tamanha era sua determinação que não fez isso, e a morte foi causada pelo estrangulamento vagaroso – um detalhe horrendo que eu desejei que Arianna não tivesse contado. Em seu bolso havia um bilhete: Ligue para o Fanning.
O enterro estava programado para o sábado seguinte. Nas circunstâncias, a família queria ser discreta, com um serviço breve restrito aos parentes mais chegados e amigos. O fato de que eu deveria estar entre eles era ordenado pelo bilhete, mas eu disse a Arianna que não sabia o que pensar, e era verdade. Nós tínhamos sido amigos, mas não grandes amigos. Nossa ligação não tinha sido suficientemente profunda para merecer minha inclusão em seus pensamentos finais. Imaginei se ele pretendia que o bilhete fosse algum tipo de castigo, mas não conseguia imaginar que pecado eu teria cometido para merecer isso. A outra possibilidade era de que ele estivesse me mandando uma mensagem de natureza totalmente diferente – de que, de um modo que só ele podia entender, sua morte era uma demonstração para mim. Mas eu não fazia a menor ideia do que isso poderia significar.
Jonas estava passando o verão numa escavação arqueológica na Tanzânia; Stephanie tinha obtido um desejado estágio em Washington, na Colina do Capitólio, mas na época da morte de Lucessi estava viajando com os pais pela França e não pôde ser contatada. Não achei que a morte do Lucessi tivesse me abalado demais, mas claro que abalou – minhas emoções, como as de Arianna, estavam embotadas pelo choque. De qualquer forma, tive o bom senso de ligar para a única pessoa em quem eu confiava e que eu podia encontrar pelo telefone. A família de Liz estava em Cape Cod, mas ela estava trabalhando numa livraria em Connecticut.
– Sinto muito pelo seu amigo – disse ela. – Você não deveria estar sozinho. Encontre-se comigo na Grand Central, no balcão do salão principal, o que tem o relógio de quatro faces.
Meu trem entrou na Penn Station no início da manhã de sexta-feira. Peguei a linha 1 do metrô até a Rua 42, fiz baldeação para a linha 7 e cheguei à Grand Central no auge do horário de rush. A não ser para trocar de ônibus em Port Authority no meio da noite, eu nunca havia estado em Nova York, e enquanto subia a rampa até o salão principal do terminal, como muitos viajantes no correr das eras, fiquei pasmo com a majestade de suas dimensões. Senti que havia entrado na catedral mais grandiosa, não em uma simples estação de trem, mas num destino legítimo, digno de uma peregrinação. O teto manchado de fumaça, com suas imagens de constelações, erguia-se tão majestoso que parecia reescrever as dimensões do mundo. Liz estava me esperando no salão principal, usando um vestido leve, de verão, e segurando uma bolsa de roupas. Me abraçou por muito mais tempo e com muito mais força do que eu estava preparado, e foi no abrigo de seu abraço que senti de repente o peso da morte do Lucessi, como uma pedra fria no centro do peito.
– Vamos ficar no apartamento dos meus pais em Chelsea – disse ela. – Não vou aceitar um não como resposta.
Pegamos um táxi em direção ao sul, através de ruas engarrafadas e grandes muros de pedestres que avançavam em cada cruzamento. Esta era a Nova York do início dos anos 1990, uma época em que a cidade parecia à beira do caos impossível de ser administrado, e, ainda que mais tarde eu fosse viver numa Manhattan muito diferente – segura, arrumada e rica –, minha primeira impressão da cidade foi tão indelével e tão carregada de calor e luz que permanece sendo minha visão mais verdadeira do lugar. O apartamento ficava no segundo andar de um prédio de arenito marrom perto da Oitava Avenida – dois cômodos pequenos, mobiliados de modo compacto, com vista para um teatro da Rua 28, conhecido por produções de vanguarda incompreensíveis, e uma camisaria chamada World of Shirts and Socks. Liz tinha explicado que os pais só usavam aquele apartamento quando vinham à cidade fazer compras ou assistir a uma peça. Provavelmente ninguém estivera ali durante meses.
O enterro era às dez da manhã. Liguei para Arianna dizendo onde eu estava hospedado, e ela disse que arranjaria um carro para nos encontrar de manhã e nos levar até Riverdale. Não havia comida no apartamento, por isso Liz e eu fomos até um pequeno café com mesas na calçada. Ela me contou o que sabia sobre Jonas, o que não era muito. Tinha recebido apenas três cartas, nenhuma muito longa. Eu não tinha entendido direito o que ele estava fazendo lá – Jonas era biólogo, ou queria ser, e não arqueólogo –, mas sabia que tinha a ver com extrair patógenos fossilizados dos ossos de antigos hominídeos.
– Basicamente – disse Liz –, ele está agachado na terra o dia todo, espanando pedras com um pincel.
– Parece divertido.
– Ah, para ele, é.
Eu sabia que era verdade. Dividir um quarto com ele havia me ensinado que, apesar da carapaça de amante da diversão, Jonas era profundamente sério com relação aos estudos, às vezes beirando a obsessão. O cerne de sua paixão estava na ideia de que o animal humano era um organismo realmente único, evolucionariamente distinto. Nossa capacidade de raciocínio, de linguagem, de pensamento abstrato – nada disso tinha equivalente em qualquer outra parte do reino animal. Mas apesar desses dons permanecíamos acorrentados às mesmas limitações físicas de qualquer outra criatura da Terra. Nascíamos, envelhecíamos, morríamos, tudo isso num tempo relativamente curto. A partir de um ponto de vista evolucionário, segundo ele, isso simplesmente não fazia sentido. A natureza ansiava pelo equilíbrio, mas nossos cérebros estavam totalmente fora de sincronia com o curto período de vida dos corpos que os abrigavam.
Pense bem, dizia ele: como seria o mundo se os seres humanos pudessem viver duzentos anos? Quinhentos? Que tal mil? De que saltos de genialidade um homem seria capaz com um milênio de sabedoria acumulada? O grande erro da ciência biológica moderna, segundo ele, era presumir que a morte era natural, quando não era nem um pouco, e vê-la em termos de falhas isoladas do corpo. Câncer. Doenças cardíacas. Mal de Alzheimer. Diabetes. Tentar curá-las uma a uma, segundo ele, era tão sem sentido quanto dar tapas num enxame de abelhas. Você poderia acertar algumas, mas o enxame acabaria por matá-lo. A chave, segundo ele, estava em confrontar toda a questão da morte, virá-la de cabeça para baixo. Por que precisávamos morrer? Será que em algum lugar dentro do profundo código molecular da nossa espécie estaria o mapa para um novo passo evolucionário – em que nossos atributos físicos ficariam equilibrados com nossos poderes de pensamento? E não faria sentido que a natureza, em sua genialidade, pretendesse que nós descobríssemos isso sozinhos, empregando os dons especiais que ela havia nos concedido?
Resumindo, ele estava defendendo a imortalidade como a apoteose do estado humano. Isso me parecia ciência louca. As únicas coisas que faltavam em seu argumento eram uma mesa cheia de partes de corpos reorganizadas e um para-raios, e eu lhe disse isso. Para mim, a ciência não tinha a ver com o quadro geral, e sim com o pequeno – as mesmas ambições modestas, as investigações de caça e coleta que Jonas desprezava, considerando-as perda de tempo. No entanto, sua paixão era atraente – até mesmo inspiradora, do seu jeito maluco. Quem não desejaria viver para sempre?
– O que não entendo é por que ele pensa desse jeito – falei. – Ele parece tão sensato em outros sentidos!
Meu tom era leve, mas dava para ver que havia acertado em alguma coisa. Liz chamou o garçom e pediu outra taça de vinho.
– Bom, há uma resposta para isso – disse ela. – Achei que você sabia.
– Sabia o quê?
– Sobre mim.
Foi assim que fiquei conhecendo a história. Quando tinha 11 anos, Liz foi diagnosticada com mal de Hodgkin. O câncer havia se originado nos nódulos linfáticos em volta da traqueia. Cirurgia, radiação, quimioterapia – tinha passado por tudo. Entrou em remissão por duas vezes, mas a doença voltou. Sua remissão atual durava quatro anos.
– Talvez eu esteja curada, pelo menos é o que me dizem. Acho que nunca se sabe.
Não tive ideia de como reagir. A notícia era profundamente perturbadora, mas qualquer coisa que eu pudesse falar seria de uma trivialidade vazia. Por outro lado, de uma forma que eu não conseguia identificar direito, a informação não me pareceu completamente nova. Eu tinha sentido isso desde o dia em que nos conhecemos: havia uma sombra na vida dela.
– Sou o projeto de estimação do Jonas, veja só – continuou Liz. – Sou o problema que ele quer resolver. É uma coisa bastante nobre, pensando bem.
– Não acredito. Ele adora você. É óbvio.
Ela tomou um gole do vinho e colocou a taça de volta na mesa.
– Deixe-me perguntar uma coisa, Tim. Cite uma coisa em Jonas Lear que não seja perfeita. Não estou falando do fato de que ele sempre se atrasa ou tira meleca do nariz nos sinais de trânsito. Alguma coisa importante.
Revirei os pensamentos. Ela estava certa. Eu não conseguia.
– É o que estou dizendo. Bonito, inteligente, charmoso, destinado a grandes coisas. Esse é o nosso Jonas. Desde o dia em que nasceu, todo mundo o adora. E isso faz com que ele se sinta culpado. Eu faço com que ele se sinta culpado. Já falei que ele quer casar comigo? Fica dizendo isso o tempo todo. Aceite, Liz, e eu compro o anel. O que é ridículo. Eu, que talvez não passe dos 25 anos, ou sei lá o que dizem as estatísticas. E mesmo se o câncer não voltar, não posso ter filhos. A radiação cuidou disso.
Estava ficando tarde; eu podia sentir a cidade mudando ao meu redor, suas energias se alterando. Mais adiante no quarteirão, pessoas saíam do teatro, pegavam táxis, iam procurar bebida e comida. Eu estava cansado e sobrecarregado com as emoções dos últimos dias. Chamei o garçom e pedi a conta.
– Vou contar outra coisa – disse Liz enquanto pagávamos. – Ele realmente admira você.
De certa forma essa era a notícia mais estranha de todas.
– Por que ele iria me admirar?
– Ah, por um monte de motivos. Mas acho que tem a ver com o fato de que você é algo que ele nunca pode ser. Autêntico, talvez? Não estou falando de ser modesto, embora você seja. Modesto demais, se quer saber. Você se subestima. Mas há alguma coisa... não sei, pura, em você. Uma resiliência. Vi no momento em que o conheci. Não quero colocá-lo na berlinda, mas a única coisa boa do câncer, a única coisa, é que ele ensina a gente a ser honesta.
Fiquei sem graça.
– Sou só um cara de Ohio que se saiu bem nas provas. Não há nada de interessante em mim.
Ela fez uma pausa, olhando para sua taça, e disse:
– Nunca perguntei sobre sua família, Tim, e não quero xeretar. Só sei o que o Jonas me contou. Você nunca fala deles, eles nunca ligam, você passa todas as folgas em Cambridge com aquela mulher dos gatos.
Dei de ombros.
– Ela não é tão ruim.
– Tenho certeza que não. Tenho certeza que é uma santa. E gosto de gatos, como qualquer pessoa, na quantidade certa.
– Na verdade não há muito que dizer.
– Duvido.
Um silêncio veio em seguida. Descobri que engolir exigia um esforço enorme; minha garganta parecia apertada. Quando por fim falei, as palavras pareciam vir de um lugar totalmente diferente.
– Ela morreu.
Por trás dos óculos, os olhos de Liz estavam intensamente fixos no meu rosto.
– Quem morreu, Tim?
Engoli em seco.
– Minha mãe. Minha mãe morreu.
– Quando foi isso?
Tudo iria sair agora; simplesmente não havia como impedir.
– No verão passado. Logo antes de eu conhecer vocês. Eu nem sabia que ela estava doente. Meu pai me escreveu uma carta.
– E onde você estava?
– Com a mulher e os gatos.
Alguma coisa estava acontecendo. Alguma represa estava estourando. Eu sabia que, se não me mexesse imediatamente – ficasse de pé, andasse, sentisse as batidas do coração e o movimento do ar nos pulmões –, iria desmoronar.
– Tim, por que não nos contou?
Balancei a cabeça. Senti uma vergonha súbita.
– Não sei.
Liz estendeu a mão por cima da mesa e segurou gentilmente a minha. Apesar dos esforços, eu tinha começado a chorar. Por minha mãe, por mim, por Lucessi, meu amigo morto, com quem eu sabia que tinha fracassado. Sem dúvida poderia ter feito alguma coisa, dito alguma coisa. Não era o bilhete em seu bolso que me dizia isso. Era o fato de eu estar vivo e ele morto. Eu, mais do que ninguém, deveria ter entendido a dor de viver num mundo que parecia não desejá-lo. Não queria tirar minha mão – ela parecia a única coisa me ancorando à terra. Eu estava num sonho em que voava e não conseguia me obrigar a pousar, não fosse por aquela mulher que me salvaria.
– Tudo bem – estava dizendo Liz. – Tudo bem, tudo bem...
Então o tempo se moveu; estávamos andando, eu não sabia para onde. Liz continuava segurando minha mão. Senti a presença de água, e então o Hudson apareceu. Píeres decrépitos projetavam dedos compridos no rio. Do outro lado de sua vastidão, as luzes de Hoboken formavam um diorama da cidade e suas vidas. O ar tinha gosto de sal e pedra. Havia uma espécie de parque à beira d’água, imundo e com cara de abandonado; não parecia seguro, por isso fomos para o norte ao longo da Décima Segunda Avenida, nenhum de nós dois falando, antes de virarmos de novo para o leste. Eu não tinha pensado no que aconteceria em seguida, mas agora começava a pensar. Na última hora Liz tinha falado de coisas que eu estava certo de que não havia contado a mais ninguém, assim como eu tinha feito com ela. Era preciso pensar no Jonas, mas além disso éramos um homem e uma mulher que tinham compartilhado as verdades mais íntimas, coisas que, depois de ditas, não podiam ser desditas.
Chegamos ao apartamento. Nenhuma palavra importante havia sido trocada em muitos minutos. A tensão era palpável – sem dúvida ela também sentia. Eu não tinha certeza do que desejava, só que não queria ficar longe dela, nem por um minuto. Estava parado feito um idiota no meio da sala minúscula, examinando a mente em busca de palavras para capturar como me sentia. Alguma coisa precisava ser dita. No entanto eu não conseguia falar nada.
Foi Liz que rompeu o silêncio.
– Bom, vou dormir – disse ela. – O sofá se abre. Tem lençóis e cobertores no armário. Avise se precisar de mais alguma coisa.
– Certo.
Não consegui me obrigar a ir até ela, apesar de querer. Tremendamente. Por um lado, ali estava Liz e tudo o que tínhamos compartilhado, e o fato de que, em todos os sentidos, eu a amava, provavelmente desde o momento em que tínhamos nos conhecido; por outro lado havia Jonas, o homem que tinha me dado uma vida.
– Seu amigo Lucessi. Qual era o primeiro nome dele?
Precisei pensar.
– Frank. Mas nunca o chamei assim.
– Por que você acha que ele fez isso?
– Ele estava apaixonado por alguém. Ela não gostava dele.
Só nesse momento essa corrente de pensamento, em toda a sua nitidez, ficou clara para mim. Ligue para o Fanning, tinha escrito meu amigo. Ligue para o Fanning para dizer a ele que tudo o que existe é o amor, e que o amor é dor, e que o amor é tirado da gente.
– A que horas vem o carro?
– Às oito.
– Eu vou com você.
– Fico feliz com isso.
Um momento passou.
– Certo.
Liz foi até a porta do quarto, onde parou e se virou.
– Stephanie é uma garota de sorte, sabe? Só estou dizendo isso para o caso de você não ter sacado.
Então ela se foi. Tirei a roupa até ficar de cueca e me deitei no sofá. Em circunstâncias diferentes poderia ter me sentido um idiota, ousando achar que uma mulher daquelas me levaria para a cama. Mas na verdade fiquei aliviado; Liz tinha escolhido o caminho da honra, tomando a decisão por nós dois. Ocorreu-me que nenhuma vez, nem no restaurante nem enquanto caminhávamos, eu tinha pensado em Stephanie no contexto de qualquer traição que eu poderia ter contemplado. O dia parecia um ano; através das janelas ouvi o chiado da cidade, um som oceânico. Aquilo pareceu se esgueirar no meu peito, onde se igualou ao ritmo da respiração. A exaustão escorria pelos ossos e logo apaguei.
Acordei algum tempo mais tarde. Tinha a sensação inconfundível de que alguém me observava. Uma sensação vagamente elétrica se demorava na testa, como se tivesse sido beijado. Apoiei-me nos cotovelos, esperando ver alguém parado acima de mim. Mas a sala estava vazia, e pensei que devia ter sonhado.
Com relação ao enterro há pouca coisa a dizer. Descrevê-lo em detalhes seria uma violação de seu sofrimento confidencial, seu circuito fechado de dor. Durante o serviço fúnebre mantive o olhar em Arianna, imaginando o que ela estaria sentindo. Será que ela sabia? Eu queria que soubesse, mas também não queria; ela era só uma garota. Nada de bom poderia resultar disso.
Recusei o convite da família para almoçar; Liz e eu voltamos ao apartamento para pegar minha bagagem. Na plataforma da Penn Station ela me abraçou. Depois, revisando os pensamentos, me deu um beijo rápido no rosto.
– E aí, tudo bem?
Não sei se ela estava falando de mim ou de nós dois.
– Claro. Nunca estive melhor.
– Ligue, se ficar triste demais.
Embarquei. Liz me olhava pelas janelas enquanto eu seguia pelo vagão, procurando uma poltrona vazia. Lembrei-me de quando peguei o ônibus para Cleveland, naquele dia de setembro, tanto tempo antes – as gotas de chuva na janela, o saco de papel da minha mãe amarrotado no colo, tentando ver se meu pai tinha ficado para olhar minha partida e descobrindo que já tinha ido embora. Peguei um lugar junto à janela. Liz ainda não tinha saído do lugar. Ela me viu, sorriu, acenou; acenei de volta. Um profundo tremor mecânico e o trem começou a se mover. Ela continuava parada, acompanhando meu vagão com o olhar, enquanto entrávamos no túnel e desaparecíamos.
DEZOITO
Maio de 1992: meu último trabalho de curso tinha sido terminado. Eu iria me formar summa cum laude; ofertas de generosas bolsas de pós-graduação tinham aparecido. MIT, Columbia, Princeton, Rice. Harvard, que havia decidido que não gostaria de me ver partir, caso eu quisesse ficar. Era a escolha óbvia, que eu sentia que acabaria fazendo, apesar de ainda não ter me comprometido, preferindo saborear as possibilidades pelo maior tempo possível. Jonas voltaria à Tanzânia para passar o verão, depois iria para a Universidade de Chicago começar seu doutorado; Liz iria para Berkeley fazer seu mestrado em literatura da Renascença; Stephanie iria voltar a Washington, para trabalhar numa firma de consultoria política. A cerimônia de formatura só aconteceria na primeira semana de junho. Tínhamos entrado num tempo morto, uma pausa entre o que nossa vida tinha sido e o que iria se tornar.
Enquanto isso havia festas – um monte de festas. Chopadas, bailes black tie, uma festa de jardim em que todo mundo tomava drinques de menta e todas as garotas usavam chapéu. Com meu confiável smoking de batalha e a gravata cor-de-rosa – tinham se tornado minha marca registrada – dancei o Lindy, o Electric Slide, o Hokey Pokey e o Bump; a qualquer hora do dia eu estava bêbado ou de ressaca. Um período de triunfo, mas custava caro. Pela primeira vez na vida senti a dor da saudade de pessoas de quem ainda não tinha me afastado.
Na semana anterior à formatura, Jonas, Liz, Stephanie e eu fomos até Cape Cod, à casa de Liz. Ninguém mencionou o assunto, mas parecia improvável que estivéssemos juntos de novo por um bom tempo. Os pais de Liz estavam lá, tendo acabado de abrir a casa para a temporada. Eu os havia conhecido antes, em Connecticut. A mãe, Patty, fazia o gênero socialite, com uma graciosidade alegre e um tanto falsa e um sotaque sem graça, mas o pai era uma das pessoas mais agradáveis e fáceis de se lidar que eu já havia conhecido. Alto, de óculos (Liz tinha herdado a visão dele) e rosto sério, Oscar Macomb tinha sido banqueiro, se aposentara cedo e agora, em suas palavras, passava os dias “tendo experiências com dinheiro”. Adorava a filha – isso era claro para qualquer um que tivesse olhos; menos aparente, ainda que inegável, era que ele a preferia tremendamente à esposa, que tratava com o afeto divertido que alguém poderia dedicar a um poodle mimado demais. Com Liz ele era todo sorrisos – os dois frequentemente conversavam em francês –, e seu afeto se estendia a qualquer um que fizesse parte do círculo dela, inclusive eu, a quem apelidou de “Tim Ohio”.
A casa, numa cidade chamada Osterville, ficava num penhasco acima do estreito de Nantucket. Era enorme, cômodos e mais cômodos, com um amplo gramado nos fundos e uma escada precária que ia até a praia. Sem dúvida valia muitos milhões de dólares, somente pelo terreno, mas naqueles dias eu não tinha capacidade de calcular essas coisas. Apesar do tamanho tinha um ar aconchegante, sem frescuras. A maior parte da mobília dava a impressão de que podia ser comprada por uma ninharia num bazar de quintal; à tarde, quando o vento mudava de direção, atravessava a casa como a linha ofensiva dos New York Giants. O oceano ainda estava frio demais para nadar e, como ainda era início de temporada, a cidade estava quase deserta. Passávamos os dias deitados na praia, fingindo que não estávamos congelando, ou de preguiça na varanda, jogando baralho e lendo, até que chegava a noite e as bebidas surgiam. Meu pai podia tomar uma cerveja antes do jantar enquanto assistia ao noticiário na televisão, mas era só isso; minha mãe nunca bebia. No lar dos Macombs a hora dos coquetéis era uma religião. Às seis todo mundo se reunia na sala de estar ou, se a noite fosse agradável, na varanda, onde o pai de Liz nos presenteava com uma bandeja de prata cheia de aperitivos – Old-Fashioned, Tom Collins, vodca martíni em copos gelados com azeitonas em palitos –, acompanhados por elegantes potes de porcelana com castanhas aquecidas no forno. Isso era seguido por grandes quantidades de vinho acompanhando o jantar e às vezes uísque ou vinho do Porto em seguida. Eu tinha esperado que nossos dias em Cape Cod dessem uma chance de recuperação ao meu fígado; nem pensar.
Jonas e eu estávamos dividindo um quarto; as garotas, outro, localizados em extremidades opostas da casa, com os pais de Liz no meio. Quando vínhamos no período de aulas o lugar era todo nosso, e escolhíamos onde dormir. Mas não dessa vez. Eu tinha esperado que a situação levasse a certa quantidade de caminhadas nas pontas dos pés altas horas, mas Liz proibiu:
– Por favor, não choquem os adultos – disse. – Todos nós vamos chocá-los em pouco tempo.
E tudo bem. Nessa época eu tinha começado a me cansar de Stephanie. Ela era uma garota maravilhosa, mas eu não a amava. Não era de maneira nenhuma culpa dela; em todos os sentidos ela merecia o melhor. Meu coração estava simplesmente em outro lugar, e isso me fazia parecer hipócrita. Desde o enterro em Nova York, Liz e eu não tínhamos falado da minha mãe, do seu câncer ou da noite em que tínhamos andado juntos pelas ruas da cidade, mas no fim optamos por recuar do abismo e manter intactas nossas alianças. Mas estava claro que a noite havia deixado marcas em ambos. Nossa amizade, até aquela época, tinha fluído através de Jonas. Um novo circuito tinha sido aberto – não através dele, mas em volta dele –, e nesse caminho pulsava uma corrente particular de intimidade.
Sabíamos o que tinha acontecido; tínhamos estado lá. Eu havia sentido e tinha certeza de que ela também, e o fato de não termos feito nada só aprofundava essa conexão, mais ainda do que se tivéssemos caído juntos na cama. Ficávamos sentados na varanda, cada qual lendo um livro de bolso mofado deixado por outros hóspedes; levantávamos os olhos no mesmo instante, nos olhávamos, um sorriso irônico surgia de repente nos cantos de sua boca, e eu o devolvia. Olhe para nós, estávamos dizendo um ao outro, não somos mesmo duas pessoas de confiança? Ah, se eles soubessem como somos leais! Deveríamos ganhar um prêmio.
Eu não pretendia fazer nada, claro. Devia isso a Jonas, até mais. E não achava que Liz gostaria da tentativa. A ligação que ela compartilhava com Jonas, já muito antiga, era mais profunda do que a nossa jamais poderia ser. A casa, com seu labirinto interminável de aposentos, vistas do oceano e móveis precariamente refinados, me lembrava de como isso era verdadeiro. Eu era um visitante nesse mundo, bem recebido e até mesmo admirado, como Liz tinha dito. Mas mesmo assim era turista. Nossa noite juntos, ainda que inesquecível, tinha sido apenas isso: uma noite. Mesmo assim eu ficava empolgado só de estar perto dela. O modo como ela levava a bebida aos lábios. O hábito de levantar os óculos na testa para ler as letras menores. Seu cheiro, que nem tentarei descrever, porque não se parecia com nenhuma outra coisa. Dor ou prazer? Eram as duas coisas. Eu queria me banhar em sua existência. Será que ela estava morrendo? Eu tentava não pensar nisso. Estava feliz em ficar perto dela e aceitava a situação.
Dois dias antes de partirmos, o pai de Liz anunciou que comeríamos lagosta no jantar. (Ele é que cozinhava; eu nunca tinha visto Patty sequer fritar um ovo.) Isso era por minha causa; ele ficara sabendo, para seu alarme, que eu nunca havia comido lagosta. Voltou do mercado de peixes no fim da tarde carregando um saco daqueles monstros que se retorciam, tirou um deles com um riso carnívoro e me obrigou a segurar. Sem dúvida eu pareci horrorizado; todo mundo riu muito, mas não me importei. Na verdade amei o pai dela um pouquinho por causa disso. Uma chuva preguiçosa tinha caído o dia todo, minando nossa energia; agora tínhamos um objetivo. Como se reconhecesse o fato, o sol emergiu a tempo para as festividades; Jonas e eu levamos a mesa de jantar para a varanda dos fundos. Eu tinha notado alguma coisa nele. Nos últimos dois dias ele havia adotado um jeito que eu só podia descrever como sigiloso. Algo estava sendo preparado. Na hora do coquetel tomamos garrafas de cerveja escura (o único acompanhamento adequado, explicou Oscar); depois veio o evento principal. Oscar me presenteou com um babador para lagosta. Eu nunca havia entendido esse costume infantil; ninguém mais estava usando um, e fiquei meio ressentido até que parti uma pinça e espirrei sumo de lagosta pelo corpo inteiro, diante de uma explosão de gargalhadas em toda a mesa.
Imagine a perfeição da cena. A mesa com sua toalha xadrez vermelha; a fartura ridícula do festim; o crepúsculo dourado caindo sobre nós por cima do estreito, depois afundando no mar com um clarão final, como um cavalheiro elegante batendo no chapéu em despedida. As velas foram acesas, lustrando nosso rosto com seu brilho tremeluzente. Como minha vida tinha me levado até esse lugar, no meio dessas pessoas? Imaginei o que meus pais diriam. Minha mãe ficaria feliz por mim; onde quer que ela estivesse, eu esperava que as regras incluíssem a capacidade de ver os vivos. Quanto ao meu pai, eu não sabia. Tinha cortado totalmente os laços. Agora via como tinha sido injusto e prometi entrar em contato. Talvez não fosse tarde demais para ele ir à minha formatura.
Quando terminamos a sobremesa – uma torta de morango –, Jonas bateu com o garfo no copo.
– Pessoal, será que podem me dar sua atenção?
Ele se levantou e rodeou a mesa de modo a ficar perto de Liz. Com um pequeno grunhido de esforço, ela virou a cadeira até ficar de frente para ele.
– Jonas – disse ela, rindo –, que diabo você está fazendo?
A mão dele entrou no bolso e eu soube. Meu estômago se contraiu, depois o resto de mim. Enquanto se abaixava sobre um joelho, meu amigo pegou uma caixinha de veludo. Abriu a tampa e segurou diante dela. Havia um sorriso enorme, nervoso, em seu rosto. Vi a pedra. Era gigante, feita para uma rainha.
– Liz, sei que já falamos disso. Mas eu queria tornar oficial. Sinto que amo você a minha vida inteira.
– Jonas, não sei o que dizer.
Ela levantou os olhos e riu, sem jeito. Suas bochechas estavam vermelhas de embaraço.
– Isso é tão cafona!
– Diga que sim. Só precisa fazer isso. Prometo lhe dar tudo o que quiser na vida.
Senti vontade de vomitar.
– Ande – disse Stephanie. – O que você está esperando?
Liz olhou para o pai.
– Pelo menos diga que ele pediu primeiro ao senhor.
O homem estava sorrindo, conspirador.
– Pediu.
– E o que disse a ele, ó homem sábio?
– Querida, na verdade a decisão é sua. É um grande passo. Mas eu diria que não me oponho.
– Mãe?
A mulher estava chorando ligeiramente. Assentiu com ardor, sem fala.
– Meu Deus – gemeu Stephanie. – Não aguento o suspense! Se você não se casar com ele, eu me caso.
Enquanto Liz olhava de volta para Jonas, será que os olhos dela pararam um instante no meu rosto? Minha memória diz que sim, mas talvez eu tenha imaginado.
– Bom, eu, ah...
Jonas tirou o anel da caixa.
– Coloque. Só precisa fazer isso. Faça de mim o homem mais feliz da Terra.
Liz olhou para a pedra, sem expressão. Era grande feito um dente.
– Por favor – disse Jonas.
Ela levantou os olhos.
– Sim – respondeu, e confirmou com a cabeça. – Minha resposta é sim.
– Sério?
– Não seja burro, Jonas. Claro que é sério. – Finalmente ela sorriu. – Venha cá.
Os dois se abraçaram, depois se beijaram; Jonas pôs o anel no dedo dela. Olhei para a água, incapaz de suportar a cena. Mas até mesmo a vastidão azul parecia zombar de mim.
– Agora, nada de andar por aí nas pontas dos pés esta noite – riu o pai dela. – Vocês vão ficar em quartos separados pelo resto do tempo. Guardem para a noite de núpcias.
– Pai, não seja grosso!
Jonas se virou para o pai dela e estendeu a mão.
– Obrigado, senhor. Obrigado do fundo do coração. Vou fazer tudo o que puder para torná-la feliz.
Os dois trocaram um aperto de mãos.
– Sei que vai, filho.
Veio o champanhe, que o pai de Liz tinha mantido ali perto. Taças foram enchidas, depois levantadas.
– Ao casal feliz – disse Oscar. – Vida longa, felicidade e uma casa cheia de amor.
O champanhe era delicioso. Devia ter custado uma grana preta. Mal pude engolir.
Não consegui dormir. Não queria.
Assim que tive certeza de que Jonas estava apagado, saí da casa. Passava da meia-noite; a lua, gorda e branca, tinha subido acima do estreito. Eu não tinha nenhum plano, só o desejo de ficar sozinho com o sentimento de desolação. Tirei os sapatos e desci a escada até a praia. Não soprava nenhum vento; o mundo parecia travado. Ondas minúsculas lambiam a praia. Comecei a andar. A areia sob meus pés continuava úmida do dia de chuva. As casas acima estavam todas escuras, algumas ainda com tábuas pregadas nas portas e janelas, como tumbas.
A distância vi alguém sentado na areia. Era Liz. Parei, incerto sobre o que fazer. Ela estava segurando uma garrafa de champanhe. Levou-a à boca e tomou um gole comprido. Me viu e desviou os olhos, mas o dano estava feito; agora eu não podia voltar.
Sentei-me na areia ao lado dela.
– Oi.
– Claro que seria você – disse ela, com a voz engrolada.
– Por que “claro”?
Ela tomou outro gole. O anel estava no dedo.
– Notei que você não disse nada esta noite. É uma questão de educação, sabe, dar os parabéns à noiva.
– Está certo, parabéns.
– Você diz isso com tanta convicção!
Ela deu um suspiro triste.
– Meu Deus, estou bêbada. Tire isso de mim.
Ela me entregou a garrafa. Só restava um pouquinho; eu gostaria que houvesse mais. Há ocasiões para se ficar sóbrio, e aquela não era uma delas. Engoli o resto e joguei a garrafa longe.
– Se não queria, por que concordou?
– Com todo mundo me olhando? Tente fazer isso.
– Então volte atrás. Ele vai entender.
– Não vai, não. Vai pedir e pedir, e eu vou acabar cedendo e sendo a mulher mais sortuda da Terra, casada com Jonas Lear.
Ficamos quietos por um bom tempo.
– Posso perguntar uma coisa? – pedi.
Ela deu um riso sarcástico. Seu olhar se virou para o oceano.
– Por que não? Todo mundo está fazendo isso.
– Aquela noite em Nova York. Eu estava dormindo e aconteceu alguma coisa. Senti alguma coisa.
– Sentiu, foi?
– Senti.
Esperei. Liz não disse nada.
– Você... me beijou?
– Ora, por que eu faria uma coisa dessas?
Ela estava olhando direto para mim.
– Liz...
– Shhh.
Houve um momento de imobilidade. Nossos rostos estavam separados por uns 30 centímetros. Então ela fez uma coisa estranha. Tirou os óculos e pôs na minha mão.
– Sabe, sem eles não enxergo nada. O engraçado é que parece que ninguém pode me ver, também. Não é estranho? Eu me sinto meio invisível.
Eu poderia ter agido. Deveria ter agido, muito antes. Por que não tinha feito isso? Por que não tinha segurado Liz nos braços, apertado minha boca contra a dela e dito como me sentia, e que se danassem as consequências? Quem diria que eu não era capaz de lhe dar uma vida igualmente boa? Case comigo, pensei. Case comigo, e não com ele. Ou não case com ninguém. Fique como está, e vou amar você para sempre, como amo agora, porque você é a outra metade de mim.
– Ah, meu Deus – disse ela. – Acho que vou vomitar.
E vomitou; virou o rosto para longe e pôs os bofes para fora na areia. Segurei seu cabelo para trás enquanto toda a lagosta e o champanhe saíam de dentro dela.
– Desculpe, Tim. – Ela estava chorando um pouco. – Sinto muito.
Levantei-a. Liz murmurou mais desculpas quando passei seu braço por cima dos meus ombros. Agora ela era quase um peso morto. De algum modo consegui subir a escada e colocá-la no divã da varanda. Não sabia o que fazer; o que isso pareceria? Não podia levá-la para o quarto, com Stephanie lá. Duvidava que poderia subir a escada, de qualquer modo, sem acordar a casa inteira. Puxei-a até que ficasse de pé de novo e então a carreguei até a sala. O sofá teria de servir; ela poderia dizer que tinha tido dificuldade para dormir e que descera para ler. Havia uma colcha de crochê no encosto do sofá; puxei-a sobre ela. Agora Liz estava dormindo a sono solto. Peguei um copo d’água na cozinha e coloquei na mesinha de centro, onde ela poderia encontrá-lo, depois me sentei numa poltrona para vigiá-la. Sua respiração estava profunda e calma, o rosto relaxado. Deixei passar mais algum tempo, para ter certeza de que ela não vomitaria de novo, e me levantei. Precisava fazer uma coisa. Curvei-me sobre ela e dei-lhe um beijo na testa.
– Boa noite – sussurrei. – Boa noite, adeus.
Subi a escada na ponta dos pés. O amanhecer não estava longe; pelas janelas abertas eu ouvia o som dos pássaros começando a cantar. Fui pelo corredor até o quarto que dividia com Jonas. Virei a maçaneta com cuidado e entrei, mas não antes de ouvir, atrás de mim, o estalo de uma porta se fechando.
O táxi subiu pela entrada de veículos às seis da manhã. Eu estava esperando na varanda com minha mala.
– Para onde? – perguntou o chofer.
– A rodoviária.
Ele olhou pelo para-brisa.
– Você mora mesmo nesse lugar?
– Sem chance.
Estava colocando a bagagem no porta-malas quando a porta da casa se abriu. Stephanie veio pela calçada, usando uma das camisetas compridas com as quais dormia. Na verdade era minha.
– Está saindo de fininho, é? Eu vi a coisa toda, sabe.
– Não é o que você está pensando.
– Claro que não. Você é um belo de um idiota, sabia?
– Tenho consciência disso, sim.
Ela virou o rosto bruscamente para cima, com as mãos no quadril.
– Meu Deus. Como pude ser tão cega? Era tão óbvio.
– Me faça um favor, está bem?
– Está brincando?
– Jonas jamais pode saber.
Ela deu um riso amargo.
– Ah, acredite, a última coisa que eu quero é me meter nessa confusão. O problema é de vocês.
– Sinta-se livre para pensar assim.
– O que você quer que eu diga a eles? Já que estou sendo uma porra de mentirosa tão grande.
Pensei por um momento.
– Não importa. Um parente doente. Realmente não importa.
– Diga-me apenas uma coisa: você chegou a pensar em mim, no meio disso tudo? Passei pela sua mente ao menos uma vez?
Eu não sabia o que dizer.
– Foda-se – disse ela, e saiu andando.
Entrei no táxi. O chofer estava preenchendo um papel numa prancheta. Olhou para mim pelo retrovisor.
– Que barra, meu chapa. Acredite, já passei por isso.
– Não estou com muito clima para conversa, obrigado.
Ele jogou a prancheta no painel.
– Eu só estava tentando ser gentil.
– Bom, não precisa – falei, e com isso ele acelerou.
DEZENOVE
Deixei todos para trás.
Não fui à formatura. Em Cambridge, empacotei minhas coisas – três anos depois ainda não eram muitas – e liguei para o departamento de bioquímica da Rice. De todos os programas que tinham me aceitado, esse possuía a virtude de ser o mais distante, numa cidade da qual eu não sabia nada. Era um sábado, por isso precisei deixar recado, mas sim, disse a eles, eu iria. Pensei em abandonar o smoking; talvez o próximo ocupante pudesse ter alguma utilidade para ele. Mas isso pareceu impertinente e simbólico demais, e eu poderia me desfazer dele mais tarde. Esperando do lado de fora, estacionado em fila dupla, estava um carro alugado. Enquanto fechava minha mala, o telefone começou a tocar e eu o ignorei. Levei as coisas para baixo, deixei a chave no escritório da Winthrop House e fui embora.
Cheguei a Mercy no meio da noite. Senti como se tivesse passado um século longe. Dormi no carro do lado de fora de casa e acordei com o som de batidas na janela. Meu pai.
– O que você está fazendo aqui?
Ele estava de roupão; tinha saído de casa para pegar o jornal de domingo e visto o carro. Tinha envelhecido um bocado, como alguém que não se importasse muito mais com a aparência. Não tinha feito a barba; o hálito estava ruim. Acompanhei-o para dentro de casa, que parecia estranhamente a mesma, mas muito empoeirada e cheirando a comida velha.
– Está com fome? – perguntou ele. – Eu ia comer um pouco de cereal, mas acho que também tem ovos aqui.
– Tudo bem. Eu não estava planejando ficar. Só queria dizer olá.
– Deixe-me fazer um café.
Esperei na sala. Tinha achado que ficaria nervoso, mas não estava. Não estava sentindo praticamente nada. Meu pai voltou da cozinha com duas canecas e se sentou à minha frente.
– Você está mais alto – disse ele.
– Na verdade a altura é a mesma. Você deve estar lembrando errado.
Tomamos o café.
– E então, como foi a faculdade? Soube que você acabou de se formar. Eles me mandaram um formulário.
– Foi bom, obrigado.
– É só isso que você tem a dizer?
A pergunta não era impertinente; ele só parecia interessado.
– Na maior parte.
Dei de ombros.
– Eu me apaixonei. Mas não deu certo.
Ele pensou por um momento.
– Acho que você vai querer visitar sua mãe.
– Seria bom.
Pedi que ele parasse numa mercearia para eu comprar algumas flores. Não havia muitas, só margaridas e cravos, mas não creio que minha mãe iria se importar, e disse à garota atrás do balcão para envolvê-las com um pouco de verde, para ficarem bonitas. Saímos da cidade. O interior do Buick do meu pai estava cheio de embalagens de fast food. Levantei um saco do McDonald’s. Algumas batatas fritas secas chacoalharam dentro.
– Você não deveria comer essas coisas – falei.
Chegamos ao cemitério, estacionamos e andamos o resto do caminho. Era uma manhã agradável. Estávamos passando por um mar de sepulturas. A lápide da minha mãe ficava na área das cremações: lápides menores, próximas umas das outras. A dela tinha apenas seu nome, Lorraine Fanning, e as datas. Morreu com 57 anos.
Coloquei as flores e recuei. Pensei em certos dias, coisas que tínhamos feito juntos, em ser seu filho.
– Não é ruim estar aqui – falei. – Achei que seria.
– Eu não venho muito. Acho que deveria.
Meu pai respirou fundo.
– Realmente fiz merda. Sei disso.
– Tudo bem. Agora passou.
– Estou meio que me desfazendo. Tenho diabetes, minha pressão está explodindo. Além disso, ando esquecendo coisas. Ontem, por exemplo, precisei pregar um botão na camisa e não achei a tesoura.
– Procure um médico.
– É encrenca demais.
Ele fez uma pausa.
– A garota por quem você está apaixonado. Como ela é?
Pensei por um momento.
– Inteligente. Linda. Meio sarcástica, mas de um modo divertido. Mas uma coisa fez com que não desse certo.
– Acho que era assim que tinha de ser. Como aconteceu com sua mãe.
Levantei os olhos para o dia de primavera. A mil quilômetros dali, em Cambridge, a cerimônia de formatura devia estar acontecendo. Imaginei o que meus amigos estariam pensando de mim.
– Ela o amava demais.
– Eu a amava também.
Olhei para ele e sorri.
– É bom, aqui. Obrigado por ter me trazido.
Voltamos para casa.
– Se você quiser, arrumo seu quarto – disse meu pai. – Deixei exatamente como estava. Mas provavelmente não está muito limpo.
– Na verdade eu preciso ir. Tenho uma longa viagem pela frente.
Ele pareceu meio triste.
– Bom. Então está certo.
E me acompanhou até o carro.
– Para onde você vai?
– Texas.
– O que tem lá?
– Texanos, acho.
Dei de ombros.
– Mais estudos.
– Precisa de dinheiro?
– Eles vão me pagar uma bolsa. Acho que vou ficar bem.
– Bom, avise se precisar de mais. Vai ser um prazer.
Apertamos as mãos e nos abraçamos meio desajeitadamente. Se eu tivesse de adivinhar, diria que meu pai não viveria muito mais. Isso acabou sendo verdade; nós só nos veríamos mais quatro vezes antes do ataque cardíaco que o matou. Ele estava sozinho em casa quando aconteceu. Como era fim de semana, vários dias iriam se passar até que alguém notasse que ele estava sumido e pensasse em procurá-lo.
Entrei no carro. Meu pai estava parado perto de mim. Fez um gesto para eu baixar a janela.
– Ligue quando chegar, está bem?
Eu disse que ligaria, e liguei.
Em Houston, aluguei o primeiro apartamento que vi, um estúdio em cima de uma garagem com vista para os fundos de um restaurante mexicano, e peguei um emprego arrumando livros na biblioteca de Rice para me virar durante o verão. A cidade era estranha e mais quente do que a boca do inferno, mas me servia bem. Nós procuramos por nós mesmos no que existe ao redor, e tudo o que eu via era novo em folha ou estava se desfazendo. A maior parte da cidade era bem feia – um mar de prédios comerciais baixos, conjuntos residenciais sem graça e enormes vias expressas pilotadas por maníacos –, mas a área em volta da universidade era bem chique, com casas grandes e bem cuidadas e amplos bulevares flanqueados por carvalhos tão perfeitamente podados que pareciam menos árvores do que esculturas de árvores. Por 500 dólares comprei meu primeiro carro, um Chevy Citation 1983 amarelo-ranho com pneus carecas, 370 mil quilômetros no odômetro e um teto de vinil soltando, que prendi no lugar com um grampeador. Não tive notícias de Liz nem de Jonas, mas claro que eles não faziam ideia de onde eu estava. Houve um tempo nos Estados Unidos em que ainda era possível desaparecer indo para a esquerda quando todo mundo esperava que você fosse para a direita. Com um pouco de esforço eles provavelmente poderiam me descobrir – alguns telefonemas para certos departamentos de universidades –, mas isso pressupunha que quisessem. Eu não tinha ideia do que eles iriam querer. Acho que nunca tive.
As aulas começaram. Dos estudos não há muito o que dizer, a não ser que me ocuparam completamente. Fiz amizade com a secretária do departamento, uma negra de 50 e poucos anos que basicamente governava o lugar; ela me contou que ninguém no departamento tinha esperado que eu viesse de verdade. Em suas palavras, eu era “um puro-sangue premiado que eles compraram por uma ninharia”. Descrever meus colegas de pós-graduação como antissociais seria o eufemismo do século; nada de festas ao ar livre ali. A mente deles não se abalava nem um pouco com pensamentos de diversão. Mantive a cabeça baixa, o nariz nos livros. Adotei a prática de dar longos passeios de carro na área rural do Texas. Era um lugar batido pelo vento, plano, sem marcos significativos, cada quadrado de terra igual a todos os outros. Eu gostava de pôr o carro no acostamento em algum lugar completamente aleatório e simplesmente olhar.
O único hábito do Leste que mantive foi a leitura do The New York Times, e assim fiquei sabendo que Liz e Jonas tinham oficializado a coisa. Isso foi no outono de 1993; um ano havia se passado. “O Sr. e a Sra. Oscar Macomb, de Greenwich, Connecticut, e Osterville, Massachusetts, têm o prazer de anunciar o casamento de sua filha, Elizabeth Christina, com Jonas Abbott Lear, de Beverly, Massachusetts. A noiva, formada em Harvard, terminou recentemente um mestrado em literatura na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e atualmente faz doutorado em estudos da Renascença na Universidade de Chicago, onde o noivo, também formado em Harvard, estuda para um ph.D. em microbiologia.”
Dois dias depois, recebi um grande envelope pardo do meu pai. Dentro havia outro envelope, ao qual ele havia grudado um bilhete, pedindo desculpas por ter demorado tanto a mandá-lo. Era um convite, claro, com carimbo do correio datado do mês de junho anterior. Deixei-o de lado por um dia. Depois, na noite seguinte, na companhia de uma garrafa de bourbon, sentei-me à mesa da cozinha e abri o envelope. A cerimônia aconteceria em 4 de setembro de 1993, na igreja de St. Andrew’s-by-the-Sea, Hyannis Port. Em seguida, recepção na casa de Oscar e Patricia Macomb, avenida Sea View, 41, Osterville, Massachusetts. Na margem havia uma mensagem:
Por favor, por favor, por favor, venha. Jonas também quer. Sentimos muito a sua falta.
Com amor, L
Fiquei olhando a mensagem durante um tempo. Estava sentado na janela do apartamento, virado para o beco atrás do restaurante, com as lixeiras fedorentas. Enquanto olhava, um trabalhador da cozinha, um hispânico pequeno de barriga redonda com avental manchado, passou pela porta. Carregava um saco de lixo; abriu uma lixeira, jogou o saco dentro e fechou a tampa com um som metálico. Esperei que ele voltasse para dentro, mas em vez disso ele acendeu um cigarro e ficou ali parado, inalando a fumaça com tragadas longas, famintas.
Levantei-me da mesa. Eu guardava os óculos de Liz na escrivaninha, enrolados numa meia. Eu os colocara no bolso naquela noite na praia e me esquecera totalmente deles até estar no táxi, quando já era tarde demais para devolvê-los. Coloquei-os; eram um tanto pequenos no meu rosto, as lentes bem fortes. Sentei-me junto à janela e fiquei observando o homem fumar no beco, a imagem distorcida e distante, como se estivesse olhando pela extremidade errada de um telescópio ou sentado no fundo do mar, olhando para cima através de quilômetros de água.
VINTE
Aqui devo saltar adiante no tempo, porque foi isso que o tempo fez. Terminei rapidamente meu curso, que foi seguido por um pós-doutorado em Stanford, depois uma nomeação de docente em Colúmbia, onde recebi a cátedra no devido tempo. Fiquei bastante conhecido nos círculos profissionais. Minha reputação cresceu; o mundo vinha me chamar. Viajei bastante, falando em troca de pagamentos lucrativos. As verbas vinham na minha direção sem dificuldade; tamanha era minha reputação que eu mal precisava preencher os formulários. Tornei-me dono de várias patentes, duas compradas por empresas farmacêuticas por quantias ultrajantes que me deixaram bem para o resto da vida. Era citado em jornais importantes. Participava de conselhos de elite. Testemunhei diante do Congresso e, em várias ocasiões, fui membro da Comissão Especial de Bioética do Senado, do Conselho de Ciência e Tecnologia da Presidência, do comitê consultivo da Nasa e da Força-Tarefa de Diversidade Biológica da ONU.
Nesse meio-tempo me casei. A primeira vez, quando tinha 30 anos, durou quatro; a segunda, a metade disso. Cada mulher, em determinada ocasião, tinha sido minha aluna, uma questão um tanto incômoda – olhares divertidos dos colegas do sexo masculino, sobrancelhas erguidas por parte dos superiores, diálogos gelados com as colegas de trabalho e mulheres de amigos. Timothy Fanning, aquele libertino, aquele velho sujo (apesar de ainda não ter feito 40 anos). Minha terceira mulher, Julianna, tinha apenas 23 anos no dia em que nos casamos. Nossa união foi impulsiva, forjada na fornalha do sexo; duas horas depois de ela se formar nós nos atacamos feito cachorros. Apesar de gostar muito dela, eu a achava desnorteante. Seu gosto em música e cinema, os livros que ela lia, os amigos, as coisas que ela achava importantes: nada fazia o menor sentido para mim.
Eu não estava, como muitos homens de certa idade, tentando aumentar minha autoestima com o corpo de uma mulher jovem. Não lamentava o desenrolar dos anos, não temia indevidamente a morte nem sofria pela juventude perdida. Pelo contrário, gostava das muitas coisas que meu sucesso havia trazido. Riqueza, estima, autoridade, boas mesas em restaurantes e toalhas quentes em aviões – todos os badulaques que a história dá de prêmio aos conquistadores: por tudo isso eu tinha de agradecer à passagem do tempo. Mas o que estava fazendo era óbvio, até mesmo para mim. Cada uma das minhas esposas, e as muitas mulheres no meio-tempo – todas muito mais novas do que eu, com a diferença de idade aumentando a cada uma que eu levava para a cama –, era um fac-símile de Liz. Não falo da aparência, ainda que todas tivessem um tipo físico reconhecível (claras, magras, míopes), nem do temperamento, marcado por uma combatividade cerebral semelhante. Quero dizer que eu queria que elas fossem ela, para me sentir vivo.
Era inevitável que meu caminho cruzasse com o de Jonas; nós pertencíamos ao mesmo mundo. Nosso primeiro reencontro aconteceu numa convenção em Toronto em 2002. Havia se passado tempo suficiente para que fôssemos capazes de não fazer qualquer referência ao fato de eu ter dado um fim abrupto ao nosso relacionamento. Demos uma de “como é que você está, cara?” e “você não mudou nem um pouco” e prometemos manter contato, como se tivéssemos tido contato. Ele havia retornado a Harvard, claro – isso estava na família. Sentia-se à beira de algum tipo de revelação, mas fazia segredo com relação a isso, e não o pressionei. Sobre Liz, só ofereceu o mínimo de dados profissionais. Estava dando aulas no Boston College; gostava disso, seus alunos a adoravam, estava trabalhando num livro. Mandei lembranças e deixei a coisa por aí.
No ano seguinte, recebi um cartão de Natal. Era um daqueles cartões fotográficos que as pessoas usam para alardear seus filhos lindos, se bem que a imagem mostrava só os dois. A foto havia sido tirada em algum local árido; eles estavam vestidos de cáqui da cabeça aos pés e usando legítimos chapéus de explorador. Havia um bilhete de Liz atrás, escrito às pressas, como se tivesse sido acrescentado no último segundo: Jonas disse que encontrou você. Que bom que você está indo bem!
Ano após ano os cartões chegavam. Cada um mostrava os dois num cenário exótico diferente: montados em elefantes na Índia, posando diante da muralha da China, de pé na proa de um navio, com agasalhos pesados, com um litoral glacial ao fundo. Todos muito animados, mas havia algo deprimente naquelas fotos, um clima de compensação. Que vida fantástica nós levamos! Verdade! Juro por Deus! Comecei a notar outras coisas. Jonas era o mesmo espécime saudável de sempre, mas Liz estava envelhecendo precipitadamente, e não apenas em termos físicos. Em cartões anteriores seus olhos pareciam distraídos de um modo que fazia a foto parecer incidental. Agora olhava direto para a câmera, como um refém obrigado a posar com um jornal. O sorriso parecia fabricado, produto da vontade. Será que eu estava imaginando isso? Mais ainda, seria fantasia minha achar que seu olhar cada vez mais sombrio era uma mensagem para mim? E os corpos? Na primeira foto, tirada no deserto, Lear estava atrás dela, envolvendo-a com os braços. Ano a ano eles se separavam. A última que recebi, em 2010, tinha sido tirada num café ao lado de um rio que era inconfundivelmente o Sena. Eles estavam sentados frente a frente, fora do alcance dos braços. Havia taças de vinho na mesa. A do meu antigo colega de quarto estava quase vazia. Liz não havia tocado a sua.
Ao mesmo tempo começaram a surgir boatos sobre Jonas. Eu sempre soubera que ele era um homem de paixões ardorosas, ainda que um tanto exóticas, mas as histórias que ouvi eram perturbadoras. Diziam que Jonas Lear tinha pirado de vez. Sua pesquisa havia passado ao terreno da fantasia. Seu último texto, publicado na revista Nature, sugeria o tema “vampiro”, mas as pessoas tinham começado a usar essa palavra com certa frequência em assuntos relacionados a ele. Desde então Jonas não tinha publicado nada, nem aparecia nas convenções usuais, onde boa parte das piadas de salão eram feitas às suas custas. Alguns de seus colegas chegavam ao ponto de conjecturar que sua cátedra estava correndo risco. Certa medida de prazer com o fracasso alheio fazia parte da nossa profissão, e a teoria era de que a queda de um homem significava a ascensão de outro. Mas fiquei genuinamente preocupado por ele.
Não foi muito depois de Julianna jogar a toalha de nosso casamento que recebi um telefonema de um sujeito chamado Paul Kiernan. Eu o havia encontrado uma ou duas vezes; era biólogo celular em Harvard, colega mais novo de Jonas, com excelente reputação. Deu para ver que a conversa o deixou desconfortável. Ele ficara sabendo de nossa antiga ligação; o ponto central do telefonema foi sua preocupação com a possibilidade de sua candidatura a uma cátedra ser afetada negativamente por sua relação com Jonas. Será que eu poderia escrever uma carta a favor dele? Meu instinto inicial foi dizer para ele crescer, que ele tinha era muita sorte de conhecer o sujeito, e que se danassem as fofocas. Mas, dadas as obras ignominiosas dos comitês de certas cátedras, eu sabia que o argumento dele era válido.
– Boa parte da coisa tem a ver com a mulher dele, na verdade – disse Paul. – A gente precisa entender o cara.
Praticamente larguei o telefone.
– O que você está falando?
– Desculpe, achei que você sabia, já que são tão amigos. Ela está muito doente, a coisa não parece boa. Acho que eu não deveria ter dito nada.
– Vou escrever sua carta – falei, e desliguei.
Eu estava completamente perplexo. Procurei o número de Liz no Boston College e comecei a discar, depois recoloquei o fone no gancho. O que eu diria, depois de tantos anos? Que direito eu tinha de, nesse momento, voltar à sua vida? Liz estava morrendo; eu nunca havia deixado de amá-la, nem por um segundo, mas ela era a mulher de outro homem. Numa ocasião assim a ligação entre os dois era fundamental; se eu tinha aprendido alguma coisa com meus pais, era que a jornada da morte era feita em parceria pelos cônjuges. Talvez fosse apenas a velha covardia retornando, mas não peguei o telefone de novo.
Esperei notícias. Todo dia verificava a página de obituários do Times, numa sinistra vigília da morte. Era breve com os colegas, evitava os amigos. Tinha deixado o apartamento para Julianna e subloquei um de um quarto no West Village, o que tornava fácil desaparecer, recuar para as bordas da vida. O que eu faria quando Liz se fosse? Percebi que, em alguma gaveta do cérebro, tinha guardado a ideia de que um dia, de algum modo, ficaríamos juntos. Talvez eles se divorciassem. Talvez Jonas morresse. Agora, não tinha esperança.
Até que uma noite, perto do Natal, o telefone tocou. Era quase meia-noite; eu tinha acabado de ir para a cama.
– Tim?
– É, é o Tim Fanning.
Eu estava chateado com o horário do telefonema e não reconheci a voz.
– É a Liz.
Meu coração se chocou contra as costelas. Eu não conseguia formar palavras.
– Alô?
– Estou aqui – consegui dizer. – É bom ouvir sua voz. Onde você está?
– Em Greenwich, na casa da minha mãe.
Notei que Liz não disse “dos meus pais”. Oscar não existia mais.
– Preciso ver você – disse ela.
– Claro. Claro.
Eu estava remexendo na gaveta loucamente, procurando uma caneta.
– Vou deixar tudo de lado. Só me diga onde e quando.
Ela tomaria o trem para a cidade no dia seguinte. Precisava fazer uma coisa primeiro, e planejamos nos encontrar na Grand Central às cinco horas, antes de ela voltar a Greenwich.
Deixei meu escritório bem antes da hora, querendo chegar primeiro. Tinha chovido durante todo o dia, mas, à medida que a escuridão precoce do inverno baixava, a chuva mudou para neve. Cheguei à estação e me posicionei embaixo do relógio antes do horário marcado. A multidão indiferente passava – trabalhadores usando capas e com guarda-chuvas enfiados embaixo do braço, as mulheres usando tênis por cima das meias finas, a neve grudando no cabelo de todo mundo. Muitos carregavam sacolas de compras com estampas coloridas e natalinas. Macy’s. Nordstrom. Bergdorf Goodman. Só de pensar naquelas pessoas felizes e esperançosas me irritava mais do que posso dizer. Como elas podiam pensar no Natal num momento assim? Como podiam pensar em qualquer coisa? Não sabiam o que ia acontecer nesse lugar?
Então Liz apareceu. Vê-la quase me desfez; senti como se estivesse acordando de um sono longo. Ela estava usando uma capa de gabardina escura; uma echarpe de seda cobria o cabelo. Veio na minha direção por entre a turba apressada. Era absurdo, mas fiquei com medo de ela não conseguir chegar, de que a multidão fosse engoli-la, como num sonho. Ela me olhou, sorriu e fez um gesto de “sai da frente” às costas de um homem que estava bloqueando o caminho. Fui na direção dela.
– E aí está você – disse Liz.
O que aconteceu em seguida foi o abraço mais caloroso e mais emocionado de toda a minha vida. O simples cheiro dela afogou meus sentidos em júbilo. Mas felicidade não era a única coisa que eu sentia. Cada osso, cada borda dela se comprimia contra mim; era como se eu estivesse segurando um passarinho.
Ela se afastou.
– Você está ótimo – disse.
– Você também.
Ela deu uma pequena risada.
– Você é um tremendo mentiroso, mas obrigada.
Em seguida tirou a echarpe, revelando cabelos ralos e claros, do tipo que crescem depois de um tratamento quimioterápico.
– O que acha do meu novo corte natalino? Acho que você conhece a história.
Confirmei com a cabeça.
– Recebi um telefonema de um colega do Jonas. Ele me contou.
– Deve ser o Paul Kiernan, aquele fuinha. Vocês, cientistas, são uns tremendos fofoqueiros.
– Está com fome?
– Nunca. Mas tomaria uma bebida.
Subimos a escada até o bar na sacada oeste. Até mesmo esse pequeno esforço pareceu debilitá-la. Ocupamos uma mesa perto da beirada, com vista para o salão grandioso. Pedi um scotch; Liz, um martíni e um copo d’água.
– Você se lembra de quando nos encontramos aqui pela primeira vez? – perguntei.
– Você tinha um amigo, não é? Tinha acontecido alguma coisa horrível.
– Isso mesmo. Lucessi. – Eu não dizia o nome havia anos. – Aquilo significou muito para mim, sabe? Você realmente cuidou de mim.
– Faz parte do pacote. Mas, se me lembro direito, o contrário também aconteceu, e bastante.
Ela me encarou.
– Você está bem mesmo, Tim. O sucesso lhe cai bem, mas eu sempre soube que seria assim. Meio que fiquei de olho. Diga-me uma coisa. Você está feliz?
– Agora estou.
Ela sorriu. Seus lábios eram finos e brancos.
– Uma finta excelente, Dr. Fanning.
Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dela. Estava fria como gelo.
– Diga o que vai acontecer.
– Vou morrer, só isso.
– Não posso aceitar. Tem de haver alguma coisa que eles possam fazer. Deixe-me dar uns telefonemas.
Ela balançou a cabeça.
– Já foram dados. Acredite, não vou afundar sem luta. Mas é hora de levantar a bandeira branca.
– Quanto tempo?
– Quatro meses. Seis, se eu tiver sorte. Foi onde estive hoje. Fui ver um médico no Sloan Kettering. As palavras dele não saem da minha cabeça.
Seis meses: não era nada. Como eu tinha deixado todos esses anos passarem?
– Meu Deus, Liz...
– Não diga. Não diga que lamenta, porque eu não lamento.
Ela apertou minha mão.
– Preciso de um favor, Tim.
– Qualquer coisa.
– Preciso que você ajude o Jonas. Tenho certeza que você ouviu as histórias. São todas verdadeiras. Agora ele está na América do Sul, em sua grande caçada inútil. Ele não consegue aceitar nada disso. Ainda acha que pode me salvar.
– O que eu posso fazer?
– Apenas fale com ele. Ele confia em você. Não só como cientista, mas como amigo. Sabe quanto ele ainda fala sobre você? Ele acompanha cada movimento seu. Provavelmente sabe o que você comeu hoje no café da manhã.
– Isso não faz sentido. Ele deveria me odiar.
– Por que ele o odiaria?
Mesmo então não pude dizer as palavras. Ela estava morrendo e eu não podia dizer.
– Ter ido embora daquele jeito. Sem contar por quê.
– Ah, ele sabe por quê. Ou acha que sabe.
Fiquei chocado.
– O que você contou?
– A verdade. Que você finalmente descobriu que era bom demais para nós.
– Isso é loucura. E não foi o motivo.
– Eu sei que não, Tim.
Um silêncio baixou. Tomei um gole da bebida. Anúncios eram feitos; pessoas corriam para os trens, indo para a escuridão do inverno.
– Nós fomos dois bons soldados, você e eu – disse Liz, oferecendo-me um sorriso frágil. – Leais até não mais poder.
– Então ele nunca deduziu essa parte.
– Estamos falando do mesmo Jonas? Ele jamais poderia imaginar algo assim.
– Como tem sido com ele?
– Não posso reclamar.
– Mas gostaria.
Ela deu de ombros.
– Às vezes. Todo mundo gostaria. Ele me ama, acha que está ajudando. O que mais uma mulher poderia pedir?
– Alguém que entendesse você.
– Isso é pedir muito. Acho que nem eu me entendo.
Senti uma raiva súbita.
– Você não é um projeto de ciência do ensino médio, droga! Ele só quer se sentir nobre. Ele deveria estar aqui com você, e não andando por aí, onde mesmo? Na América do Sul?
– É o único modo que ele tem para enfrentar isso.
– Não é justo.
– O que é justo? Eu tenho câncer. Isso não é justo.
Então entendi o que ela estava me dizendo. Estava com medo e Jonas a havia deixado sozinha. Talvez quisesse que eu o trouxesse para casa; talvez o que ela precisasse de verdade fosse que eu dissesse como ele havia fracassado com ela. Talvez as duas coisas. O que eu sabia era que faria absolutamente qualquer coisa que ela pedisse.
Percebi que nenhum de nós tinha falado por algum tempo. Olhei para Liz; havia algo errado. Ela tinha começado a suar, embora o salão estivesse frio. Inspirou, trêmula, e estendeu a mão debilmente para o copo d’água.
– Liz, você está bem?
Ela tomou um gole. Sua mão estava tremendo. Pôs o copo de volta na mesa, quase derramando a água, baixou o cotovelo e apertou a testa contra a palma da mão.
– Acho que não. Acho que vou desmaiar.
Levantei-me depressa da cadeira.
– Precisamos ir a um hospital. Vou chamar um táxi.
Ela levantou a cabeça enfaticamente.
– Chega de hospitais.
Para onde, então?
– Você consegue andar?
– Não sei.
Joguei algum dinheiro na mesa e a ajudei a ficar de pé. Ela estava à beira de desmoronar, apoiando quase todo o peso em mim.
– Você está sempre me carregando, não é? – murmurou.
Entrei com ela num táxi e dei o meu endereço. Agora a neve caía com intensidade. Liz se encostou no banco e fechou os olhos.
– A moça está bem? – perguntou o chofer.
Estava usando turbante e tinha barba preta e densa. Eu sabia que ele queria dizer: ela está bêbada?
– Ela parece doente. Nada de vomitar no meu táxi.
Entreguei-lhe uma nota de 100 dólares.
– Isso ajuda?
O trânsito estava péssimo. Levamos quase trinta minutos para chegar ao sul da ilha. Nova York era suave sob a neve. Um Natal branco: como todo mundo ia ficar feliz! Meu apartamento ficava no segundo andar; eu precisaria carregá-la. Esperei que um vizinho entrasse e pedi para segurar a porta aberta, tirei Liz do táxi e peguei-a no colo.
– Nossa! – exclamou o vizinho. – Ela não parece muito bem.
Ele nos acompanhou até a frente do meu apartamento, tirou as chaves do meu bolso e abriu a porta.
– Quer que eu ligue para a emergência? – perguntou.
– Tudo bem, eu cuido disso. Ela só bebeu um pouco demais.
Ele piscou de modo desprezível.
– Não faça nada que eu não faria.
Tirei o casaco dela e a levei para o quarto. Quando a coloquei na cama, ela abriu os olhos e virou o rosto para a janela.
– Está nevando – disse, como se fosse a coisa mais incrível do mundo.
Fechou os olhos de novo. Tirei seus óculos e os sapatos, pus um cobertor em cima dela e apaguei as luzes. Havia uma poltrona fofa perto da janela, onde eu gostava de ler. Sentei-me e esperei no escuro, para ver o que aconteceria.
Acordei algum tempo depois. Olhei o relógio: eram quase duas da madrugada. Fui até Liz e pus a mão em sua testa. Ela estava fria. Acreditei que o pior havia passado.
Seus olhos se abriram. Ela olhou ao redor cautelosamente, como se não soubesse direito onde estava.
– Como está se sentindo? – perguntei.
Ela não respondeu imediatamente. Sua voz saiu muito fraca.
– Melhor, acho. Desculpe se assustei você.
– Está tudo perfeitamente bem.
– Às vezes isso acontece, mas passa. Até uma hora em que não vai passar, acho.
Eu não tinha o que dizer.
– Vou pegar um pouco d’água.
Enchi um copo no banheiro e o levei para ela. Liz levantou a cabeça do travesseiro e tomou um gole.
– Eu tive um sonho estranhíssimo – disse. – É por causa da químio. O negócio é que nem LSD. Mas achei que tinha passado.
Um pensamento me ocorreu.
– Tenho um presente para você.
– Tem?
– Espere aqui.
Eu guardava os óculos dela na minha mesa. Voltei ao quarto e os coloquei em sua mão. Ela os examinou durante um longo tempo.
– Eu estava imaginando quando você iria devolver.
– Às vezes gosto de colocá-los.
– E eu não trouxe nada para você. Sou horrível.
Ela estava chorando, só um pouco. Levantou os olhos, me encarando.
– Não foi só você que fez bobagem, sabe?
– Liz?
Ela estendeu a mão e tocou meu rosto.
– É engraçado. A gente pode viver a vida toda e de repente descobrir que não fez nada direito.
Envolvi os dedos dela com os meus. Lá fora a neve caía sobre a cidade adormecida.
– Você deveria me beijar – disse ela.
– Você quer?
– Acho que é a coisa mais idiota que você já disse.
Beijei-a. Levei minha boca à sua. Foi um beijo suave, calmo – pacífico seria a palavra certa –, do tipo que apaga o mundo e faz todo o tempo girar em volta. Infinito num momento, a bainha da criação roçando a face das águas.
– Eu deveria parar – falei.
– Não, não deveria.
Ela começou a desabotoar a blusa.
– Por favor, só tenha cuidado comigo. Estou meio frágil, sabe?
VINTE E UM
Viramos amantes. Não creio que eu já tivesse entendido direito a palavra. Não estou falando só de sexo, se bem que houvesse – sem pressa, meticuloso, uma forma de paixão que eu nunca soubera que existia. Quero dizer que vivíamos do modo mais intenso que duas pessoas poderiam viver, com um sentimento de justeza absoluta. Só saíamos do apartamento para caminhar. Um frio profundo tinha vindo depois da neve, lacrando a cidade em brancura. O nome de Jonas jamais era mencionado. Não era um assunto que evitássemos. Simplesmente tinha deixado de importar.
Nós dois sabíamos que ela acabaria tendo de retornar; não poderia simplesmente sair da própria vida. E eu não podia imaginar que nós dois ficássemos separados ao menos por um minuto do tempo que lhe restava. Acreditava que ela sentia o mesmo. Eu queria estar perto quando a coisa acontecesse. Queria estar tocando-a, segurando sua mão, dizendo quanto a amava enquanto ela se esvaía.
Certa manhã, na semana depois do Natal, acordei na cama sozinho. Encontrei-a na cozinha, tomando chá, e soube o que ela iria me dizer.
– Preciso voltar.
– Eu sei. Para onde?
– Primeiro Greenwich. Minha mãe deve estar preocupada. Depois Boston, acho.
Não precisava dizer mais nada; o significado estava claro. Jonas chegaria em breve.
– Entendo – falei.
Pegamos um táxi até a Grand Central. Poucas palavras tinham sido ditas desde o anúncio. Eu me sentia sendo levado para a frente de um pelotão de fuzilamento. Seja corajoso, dizia a mim mesmo. Seja o tipo de homem que fica ereto, de olhos abertos, esperando o som das armas.
Seu trem foi anunciado. Fomos até a plataforma onde ele esperava. Ela me abraçou e começou a chorar.
– Não quero fazer isso – disse.
– Então não faça. Não entre no trem.
Senti sua hesitação. Não somente as palavras; senti em seu corpo. Ela não conseguia se obrigar a ir.
– Eu preciso.
– Por quê?
– Não sei.
Pessoas passavam depressa. O anúncio costumeiro ressoava estalando: Todos a bordo para New Haven, Bridgeport, Westport, New Canaan, Greenwich... Uma porta estava se fechando; logo estaria trancada.
– Então volte. Faça o que precisa fazer e volte. Podemos ir para algum lugar.
– Onde?
– Itália, Grécia. Uma ilha no Pacífico. Não importa. Algum lugar onde ninguém possa nos encontrar.
– Eu quero.
– Diga que sim.
Um momento congelado; então ela assentiu, encostada em meu peito:
– Sim.
Meu coração voou.
– De quanto tempo você precisa para ajeitar as coisas?
– Uma semana. Não, duas.
– Dez dias. Me encontre aqui, embaixo do relógio. Vou estar com tudo pronto.
– Eu te amo – disse ela. – Acho que amei desde o início.
– Eu amei você antes mesmo disso.
Um último beijo e ela se voltou para o trem, depois se virou de volta para mim e me abraçou de novo.
– Dez dias – disse.
Preparei tudo. Havia coisas que eu precisava fazer. Escrevi um último e-mail para o meu chefe de departamento, pedindo uma licença. Eu não estaria ali para saber se o pedido fora aceito, mas não me importava. Não podia imaginar uma vida para além dos próximos seis meses.
Liguei para um amigo oncologista. Expliquei a situação e ele me contou o que aconteceria. É, haveria dor, mas, principalmente, um lento definhar.
– Não é uma coisa que você deveria enfrentar sozinho – disse ele.
Como não respondi, ele apenas suspirou.
– Vou mandar uma receita – disse, por fim.
– De quê?
– Morfina. Vai ajudar.
Ele fez uma pausa.
– No fim, sabe, muitas pessoas tomam mais do que deveriam.
Falei que entendia e agradeci. Aonde deveríamos ir? Eu tinha lido uma matéria no Times sobre uma ilha no mar Egeu onde metade da população vivia até os 100 anos. Não havia explicação científica válida; os moradores, a maioria dos quais pastores de cabras, aceitavam isso como um fato da vida. Um homem era citado no artigo dizendo: “Aqui o tempo é diferente.” Comprei duas passagens de primeira classe para Atenas e encontrei uma programação de balsas na internet. O barco só ia para a ilha uma vez por semana. Precisaríamos esperar dois dias em Atenas, mas havia lugares piores no mundo. Visitaríamos os templos, os grandes monumentos indestrutíveis de um mundo perdido, depois sumiríamos.
O dia chegou. Arrumei as malas; iríamos direto da estação para o aeroporto, pegar um voo às dez da noite. Eu mal conseguia pensar direito; a confusão de emoções não deixava. Júbilo e tristeza tinham se fundido no meu coração. Estupidamente, não tinha planejado mais nada para o dia e fui obrigado a ficar sentado no apartamento, sem fazer nada até o fim da tarde. Não tinha comida à mão, já que havia esvaziado a geladeira, mas duvidava que pudesse comer, de qualquer modo.
Peguei um táxi até a estação. De novo a hora marcada foi às cinco da tarde. Liz pegaria um trem intermunicipal até Stamford, para ver a mãe em Greenwich uma última vez, depois um trem local até a Grand Central. A cada quarteirão meus sentidos se fixavam num puro sentimento de objetividade. Eu sabia, como poucos homens, por que tinha nascido; tudo na minha vida tinha me levado a esse momento. Paguei ao motorista e entrei para esperar. Era sábado, havia pouca gente. Os mostradores opalescentes do relógio marcavam 16h36. O trem de Liz chegaria em vinte minutos.
Minha pulsação acelerou quando o anúncio foi dado pelos alto-falantes: Chegando agora na plataforma 16... Pensei em ir até lá, pegá-la, mas poderíamos nos desencontrar na multidão. Passageiros jorraram no salão principal. Logo ficou claro que Liz não estava entre eles. Talvez tivesse pegado um trem mais tarde; a linha de New Haven corria a cada trinta minutos. Verifiquei o telefone, mas não havia recados. O próximo trem chegou, e nada de Liz. Comecei a me preocupar, achando que alguma coisa tinha acontecido. Não me ocorreu que ela talvez tivesse mudado de ideia, embora esse pensamento estivesse à espreita. Às seis horas liguei para o celular dela, mas caiu direto na caixa de mensagens. Será que ela o teria desligado?
Trem após trem, meu pânico foi crescendo. Agora era óbvio que Liz não viria, no entanto eu continuava a esperar, a ter esperança. Estava pendurado pelas pontas dos dedos sobre um abismo. Tentei repetidamente ligar para ela, com o mesmo resultado. Aqui é Elizabeth Lear. Não posso atender agora. Os ponteiros do relógio zombavam de mim, girando. Eram nove horas, depois dez. Eu tinha esperado cinco horas. Que idiota!
Saí da estação e comecei a andar. O ar era cruel; a cidade parecia uma enorme coisa morta, uma piada monstruosa. Não abotoei o casaco nem calcei as luvas; preferi sentir a dor do vento. Algum tempo mais tarde levantei os olhos e descobri que estava na Broadway, perto do edifício Flatiron. Percebi que tinha deixado a mala na estação. Pensei em voltar e pegá-la – sem dúvida alguém a teria entregado –, mas a chama desse impulso se extinguiu rapidamente. Uma mala – quem se importava? Claro que havia a morfina em que pensar. Talvez quem encontrasse acabasse curtindo.
O próximo passo lógico parecia ser beber até ficar cego. Entrei no primeiro restaurante que vi, no saguão de um prédio de escritórios – esguio e chique, cheio de cromados e pedras. Alguns casais ainda comiam, mas já passava da meia-noite. Ocupei um lugar junto ao balcão, pedi um uísque, acabei com ele antes que o barman tivesse devolvido a garrafa à prateleira e pedi mais um.
– Com licença. O senhor é o professor Fanning, não é?
Virei-me para a mulher sentada a alguns bancos de distância. Era jovem, bonita e meio corpulenta, indiana ou do Oriente Médio, com cabelo totalmente preto, rosto cheio e boca em forma de arco. Acima da saia preta sensual usava uma blusa fina bege. Um copo de alguma coisa com fruta estava no balcão à sua frente, a borda manchada com crescentes de batom cor de ferrugem.
– Perdão?
Ela sorriu.
– Acho que o senhor não se lembra de mim.
Como não respondi, ela acrescentou:
– Biologia molecular? Primavera de 2002?
– Você foi minha aluna.
Ela gargalhou.
– Não muito. O senhor me deu um C menos.
– Ah. Desculpe.
– Acredite, não me ofendeu. Na verdade a raça humana tem muito a agradecer por isso. Muitas pessoas estão vivas hoje porque não cursei medicina.
Eu não tinha lembrança dela; centenas de jovens iguais entravam e saíam dos meus cursos. Além disso, não é a mesma coisa ver uma pessoa a distância, de cima de um pódio às oito da manhã, usando casaco de moletom e digitando furiosamente num laptop, e vê-la sentada a três bancos de distância num bar, vestida para uma aventura noturna.
– E então, onde você foi parar?
Uma observação opaca. Eu estava simplesmente procurando alguma coisa para dizer, já que agora a conversa era inevitável.
– Trabalhando numa editora, onde mais?
Ela me encarou.
– Sabe, eu tinha uma queda pelo senhor. Estou falando de uma queda enorme. Um monte de garotas também tinha.
Percebi que ela estava bêbada, fazendo uma confissão dessas sem ao menos dizer seu nome.
– Senhorita...
Ela passou para o banco ao meu lado e estendeu a mão. As unhas eram perfeitamente manicuradas, da cor dos lábios.
– Nicole.
– Foi uma noite longa para mim, Nicole.
– Dá para ver, pelo modo como engoliu aquele uísque.
Ela tocou o cabelo sem motivo.
– O que acha, professor? Que tal pagar uma bebida para uma garota? É a sua chance de compensar aquele C.
Ela estava obviamente se divertindo, uma mulher que sabia o que tinha, o que isso poderia render. Olhei para além dela; só havia um punhado de pessoas no salão.
– Você não está...?
– Com alguém? – Ela deu um risinho. – Tipo: meu namorado saiu para fumar um cigarro?
Fiquei sem graça de repente; não havia pretendido que a pergunta parecesse uma cantada.
– Quero dizer, uma garota bonita como você. Apenas imaginei.
– Bom, imaginou errado.
Com as pontas dos dedos ela pegou uma cereja no copo e a levou devagar aos lábios. Seus olhar se fixou no meu rosto; ela colocou-a na língua, equilibrando-a ali por meio segundo antes de quebrar o cabinho e enrolar a polpa vermelha na boca. Foi a coisa mais artificial que eu já tinha visto.
– Sabe de uma coisa, professor? Esta noite sou toda sua.
Estávamos num táxi. Eu estava muito bêbado. O táxi chacoalhava por ruas estreitas e nós nos beijávamos feito adolescentes, bebendo a boca um do outro em goles furiosos. Eu parecia ter perdido toda a força de vontade; as coisas simplesmente aconteciam. Queria algo, mas não sabia o quê. Uma das minhas mãos tinha subido pela saia dela, perdida num país feminino de pele e renda; a outra levantava suas nádegas para mim, juntando nossos quadris. Ela abriu minha calça e me liberou, depois baixou a cabeça para o meu colo. O motorista olhou para trás, não disse nada. Ela subia e descia, meus dedos entrelaçados em sua juba luxuriante. Minha cabeça estava girando, eu mal conseguia respirar.
O táxi parou.
– Vinte e sete e cinquenta – disse o motorista.
Foi como receber um balde de água gelada. Rapidamente me arrumei e paguei. Quando saí do carro, a garota – Natalie? Nadine? – já estava esperando na escada de seu prédio, alisando a frente da saia. Alguma coisa barulhenta e grande chacoalhava acima; achei que podíamos estar no Brooklyn, perto do elevado da ponte de Manhattan. Mais agarramentos junto à porta e ela me empurrou para longe.
– Espere aqui.
Seu rosto estava vermelho; ela estava respirando muito rápido.
– Preciso cuidar de uma coisa. Chamo você pelo interfone.
Ela sumiu antes que eu pudesse questionar. Parado na calçada, tentei reorganizar a ordem dos acontecimentos da noite. Grand Central, as horas aguardando e perdendo a esperança. Minha caminhada solitária pelas ruas geladas. O quente oásis do bar, e a garota – Nicole, era isso – sorrindo, chegando mais perto, pondo a mão no meu joelho, e nossa saída apressada, inevitável. Eu conseguia lembrar essas coisas, mas nenhuma parecia completamente real. Abandonado no frio, senti um jorro de pânico. Não queria ficar sozinho com meus pensamentos. Como ela podia ter feito aquilo? Como Liz podia ter me deixado parado lá, um trem depois do outro? Se a porta não se abrisse logo, eu sabia que explodiria.
Alguns minutos agonizantes se passaram. Ouvi a porta se abrir e me virei a tempo de ver uma mulher sair do prédio. Era mais velha, pesadona, talvez hispânica. Seu corpo, enterrado num casaco volumoso e comprido, estava encolhido contra o vento. Ela não tinha me notado ali nas sombras; passei por trás dela e segurei a porta antes que se fechasse.
O saguão me envolveu com seu calor súbito. Examinei as caixas de correspondência. Nicole Forood, apartamento zero. Desci a escada para o porão, onde uma única porta esperava. Bati com os nós dos dedos, e então, como ninguém respondeu, com o punho. Minha frustração era indescritível. Meus sentimentos haviam se anulado num desespero completo, quase como raiva. Meu punho subiu de novo quando ouvi passos lá dentro. O complicado destranque de uma porta de apartamento em Nova York teve início; então se abriu apenas o suficiente para que eu visse o rosto da garota do outro lado da corrente. Ela havia tirado a maquiagem, revelando um rosto simples, estragado por marcas de espinhas. Outro homem teria entendido o significado, mas minha agitação era tamanha que o cérebro não conseguiu computar os dados.
– Por que você me deixou?
– Não acho boa ideia. Você deveria ir embora.
– Não entendo.
O rosto dela estava rígido como o de um cego.
– Aconteceu uma coisa. Desculpe.
Como podia ser a mesma garota que havia me sitiado no bar? Seria algum tipo de jogo? Senti vontade de arrancar a corrente e passar pela porta. Talvez fosse isso que ela quisesse. Ela parecia ser desse tipo.
– É tarde. Eu não deveria ter deixado você lá fora, mas vou fechar a porta.
– Por favor, deixe-me apenas esquentar um minuto. Prometo que depois vou embora.
– Desculpe, Tim. Eu me diverti um bocado. Talvez a gente possa fazer isso outra hora. Mas preciso realmente ir.
Admito: parte da minha mente estava computando a força da corrente que segurava a porta.
– Você não confia em mim, é por isso?
– Não, não é. É só...
Ela não terminou.
– Juro que vou me comportar. O que você quiser.
Ofereci um sorriso sem graça.
– A verdade é que ainda estou meio bêbado. Preciso ficar sóbrio.
Dava para ver a indecisão no rosto dela. Meu apelo estava dando certo.
– Por favor. Estou congelando aqui fora.
Um instante passou; o rosto dela relaxou.
– Só uns minutos, certo? Preciso acordar cedo.
Levantei três dedos.
– Palavra de escoteiro.
Ela fechou a porta, soltou a corrente e a abriu de novo. Para minha frustração, a saia e a blusa fina tinham sido substituídas por um roupão e uma camisola de flanela disforme. Ela ficou de lado para que eu entrasse.
– Vou fazer um café.
O apartamento tinha um aspecto lúgubre: uma pequena sala de estar com janelas altas viradas para a rua, uma pequena cozinha com pratos equilibrados em cima da pia, um corredor estreito que levava, presumivelmente, ao quarto. O sofá, virado para uma televisão antiga, de tubo, abrigava uma pilha de roupa lavada. Havia alguns livros à vista, nada nas paredes a não ser dois pôsteres baratos de museu mostrando nenúfares e bailarinas.
– Desculpe a bagunça – disse ela, e indicou o sofá. – É só empurrar essas coisas pro lado, se quiser.
As costas de Nicole estavam viradas para mim. Ela encheu um bule na pia e começou a derramar a água numa cafeteira manchada. Alguma coisa curiosa estava acontecendo comigo. Só posso descrever como uma espécie de projeção astral. Era como se eu fosse um personagem num filme, me observando de longe. Nesse estado dividido me vi me aproximando dela por trás. Ela estava colocando pó de café na máquina. Eu já ia envolvê-la com os braços quando ela sentiu minha presença e se virou para mim.
– O que você está fazendo?
Meu corpo a estava comprimindo contra a bancada. Comecei a beijar seu pescoço.
– O que você acha que estou fazendo?
– Tim, pare com isso. Sério.
Eu estava queimando por dentro. Meus sentidos borbulhando.
– Meu Deus, seu cheiro é tão bom!
Eu a estava lambendo, sentindo seu gosto. Queria bebê-la.
– Você está me assustando. Precisa ir embora.
– Diga que você é ela.
De onde vinham essas palavras? Quem estava falando? Era eu?
– Diga. Diga que você sente muito.
– Que droga, pare com isso!
Ela me empurrou com força surpreendente. Bati contra a bancada, mal conseguindo ficar de pé. Quando levantei os olhos, ela estava tirando uma enorme faca de dentro de uma gaveta. Apontou-a para mim como se fosse uma pistola.
– Saia.
A escuridão se espalhava dentro de mim.
– Como você pôde fazer isso? Como pôde me deixar parado lá?
– Eu vou gritar.
– Sua vaca. Sua vaca escrota.
Saltei em cima ela. Quais eram minhas intenções? Quem ela era para mim, aquela mulher com a faca? Era Liz? Era ao menos uma pessoa, ou meramente um espelho em que eu via a imagem de meu eu desgraçado? Até hoje não sei; aquele momento parece propriedade de uma pessoa totalmente diferente. Não digo isso para me inocentar, o que é impossível, só para descrever os acontecimentos de modo mais nítido. Com uma das mãos cobri sua boca; com a outra agarrei seu braço, empurrando a faca para baixo. Nossos corpos colidiram num choque suave, e então estávamos caindo no chão, meu corpo em cima do dela, a faca entre nós.
A faca. A faca.
Quando batemos no chão eu senti. Não havia como me enganar com a sensação, com o som que aquilo fez.
Os acontecimentos que se seguiram não são menos estranhos para a minha memória, surpreendida pelo horror. Eu estava num pesadelo em que o ato enorme, irreversível, fora cometido. Levantei-me de cima do corpo dela. Uma poça de sangue, intenso e escuro, quase preto, se espalhava embaixo; havia mais na minha camisa, um borrão carmim. A faca, instigada pelo meu peso, tinha entrado logo abaixo do esterno da garota, cravado fundo em sua cavidade torácica. Ela estava olhando para o teto; soltou um pequeno som ofegante, não mais alto do que o som que alguém faria ao ter uma leve surpresa. Minha vida acabou? É só isso? Essa coisinha idiota, e é o fim? Pouco a pouco seus olhos perderam o foco; uma imobilidade estranha baixou sobre seu rosto.
Virei-me para a pia e vomitei.
Não me lembro de ter decidido esconder meus rastros. Não tinha um plano; simplesmente agi. Ainda não pensava em mim como assassino; em vez disso eu era um homem que fora envolvido num acidente sério que seria mal compreendido. Tirei a camisa, ficando de camiseta; o sangue da garota não tinha atravessado. Olhei em volta procurando as coisas em que podia ter tocado. A faca, claro; precisaria ser descartada. A porta da frente? Eu havia tocado a maçaneta, o portal? Tinha visto os programas de televisão, com os detetives bonitos passando pente fino nas cenas de crime em busca das menores evidências. Eu sabia que suas capacidades eram loucamente superestimadas com objetivos dramáticos, mas eles eram minhas únicas referências. Que traços meus invisíveis estariam agora mesmo tocando as superfícies do apartamento da mulher, esperando para ser recolhidos e estudados, apontando minha culpa?
Lavei a boca, esfreguei as torneiras e a pia com uma esponja. Limpei a faca também, depois a enrolei na camisa e a depositei cuidadosamente no bolso do paletó. Não olhei o corpo de novo; seria insuportável. Esfreguei as bancadas e me virei para avaliar o resto do apartamento. Alguma coisa parecia diferente. O que eu estava vendo?
Escutei um som vindo do corredor.
Qual é a pior coisa? A morte de milhões? Um mundo inteiro perdido? Não: a pior coisa foi o som que eu ouvi.
Detalhes que eu tinha deixado de notar emergiram na minha visão. A pilha de roupa lavada, cheia de peças cor-de-rosa. Os brinquedos de pelúcia e de plástico colorido espalhados no chão. O nítido aroma fecal mascarado por talco adocicado. Lembrei-me da mulher que eu tinha visto saindo do prédio. O momento de sua partida não tinha sido acidental.
O som veio de novo; eu quis fugir, mas não consegui. Ter que ir atrás dele era minha penitência; era a pedra que eu carregaria pelo resto da vida. Lentamente, segui pelo corredor, com o terror acompanhando cada passo. Uma luz pálida, vigilante, brilhava pela porta entreaberta. O odor ficou mais forte, cobrindo minha boca com seu gosto. Parei na soleira, petrificado, mas sabendo o que era exigido de mim.
A menininha estava acordada e olhando em volta. Seis meses, um ano – eu não era bom em avaliar essas coisas. Um móbile de animais recortados em papelão balançava sobre o berço. Ela estava sacudindo os braços e batendo as pernas no colchão, fazendo os animais se moverem nos fios; fez o som de novo, um pequeno guincho de alegria. Está vendo o que eu sei fazer? Venha olhar, mamãe. Mas na sala sua mãe estava caída numa poça de sangue, os olhos encarando o abismo do tempo.
O que eu fiz? Caí diante dela e implorei perdão? Peguei-a com minhas mãos sujas, as mãos de um assassino, e disse que lamentava pela vida da sua mãe? Liguei para a polícia e assumi a vigília vergonhosa ao lado do berço para esperar?
Nada disso. Sendo um covarde, fugi.
Mas a noite não termina aqui. Pode-se dizer que jamais terminou.
Uma escada levava da Rua Old Fulton à passarela da ponte do Brooklyn. No meio da ponte tirei a faca e a camisa ensanguentada e joguei na água. Eram quase cinco da manhã; logo a cidade acordaria. O tráfego já estava ficando mais intenso – gente indo cedo para o trabalho, táxis, caminhões de entrega, até alguns ciclistas com o rosto mascarado por causa do frio, passando rapidamente por mim como demônios com rodas. Não há ser que se sinta mais anônimo, mais esquecido, mais sozinho, do que um pedestre em Nova York, se ele quiser isso, mas é ilusão: nossas idas e vindas são completamente rastreadas. Na Washington Square, comprei um boné de beisebol barato num camelô para esconder o rosto e encontrei um telefone público. Ligar para a emergência estava fora de questão, já que o telefonema seria rastreado na mesma hora. Liguei para a telefonista e peguei o número do New York Post, depois digitei-o e pedi para falar com alguém da editoria de cidade.
– Cidade.
– Eu gostaria de informar um assassinato. Uma mulher foi esfaqueada.
– Espere um segundo. Com quem estou falando?
Dei o endereço.
– A polícia ainda não sabe. A porta está destrancada. Vão olhar – falei e desliguei.
Dei mais dois telefonemas, para o Daily News e o Times, a partir de telefones públicos diferentes, um na Rua Bleecker e outro na Prince. Nesse ponto a manhã estava em pique total. Pensei que deveria voltar ao meu apartamento. Era o lugar natural para estar e, mais ainda, eu não tinha outro para ir.
Então me lembrei da mala abandonada. Não conseguia prever como isso poderia me ligar à morte da mulher, mas no mínimo seria melhor cortar esse fio rapidamente. Peguei o metrô até a Grand Central. Imediatamente percebi a forte presença policial na estação; agora eu era assassino, condenado a uma percepção sobrenatural do ambiente, uma vida de medo constante. No salão, fui direcionado para o setor de achados e perdidos, localizado no nível inferior. Mostrei a carteira de motorista à mulher atrás do balcão e descrevi a mala.
– Acho que deixei no saguão principal – disse, tentando parecer mais um viajante agitado. – Tínhamos bagagem de mais, acho que foi assim que esqueci.
Minha história não a interessou nem mesmo vagamente. Ela desapareceu entre as prateleiras de bagagens e voltou um minuto depois com minha mala e um pedaço de papel.
– O senhor vai ter de preencher isso e assinar embaixo.
Nome, grau de instrução, número do registro. Parecia uma confissão. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a caneta. Como eu estava sendo ridículo! Era apenas mais um formulário preenchido numa cidade que gerava uma floresta de árvores derrubadas para fazer papel todo dia.
– Preciso tirar uma cópia da sua carteira de motorista – disse a mulher.
– Isso é mesmo necessário? Estou com um pouco de pressa.
– Querido, não sou eu quem faz as regras. Quer a sua mala ou não?
Entreguei-a. Ela a colocou na copiadora, devolveu e depois grampeou a cópia junto com o formulário, que enfiou numa gaveta embaixo do balcão.
– Aposto que vocês pegam um bocado de malas – observei, achando que deveria dizer alguma coisa.
A mulher revirou os olhos.
– Neném, você deveria ver as coisas que aparecem aqui.
Peguei um táxi até meu apartamento. No caminho, fiz um inventário da minha situação. Pelo que eu sabia, o apartamento da mulher estava limpo; eu tinha lavado cada superfície que toquei. Ninguém tinha me visto entrar ou sair, a não ser o chofer do táxi; isso poderia ser um problema. Havia o barman a considerar, também. Com licença. O senhor é o professor Fanning, não é? Eu não conseguia lembrar se ele estivera perto o bastante para ouvir, mas certamente tinha dado uma boa olhada em nós dois. Eu havia pagado com dinheiro ou cartão de crédito? Dinheiro, pensei, mas não tinha certeza. A pista estava lá, mas será que alguém poderia segui-la?
Abri a mala sobre a cama. A morfina havia sumido, o que não me surpreendeu, mas todo o resto estava lá. Esvaziei os bolsos: carteira, chaves, celular. A bateria tinha descarregado durante a noite. Liguei no carregador sobre a mesinha de cabeceira e me deitei, mas sabia que não iria dormir. Achei que não dormiria nunca mais.
Meu telefone tilintou assim que a bateria acordou. Quatro mensagens novas, todas do mesmo número, com o código de área 401. Rhode Island? Quem eu conhecia em Rhode Island? Então, enquanto eu o segurava, o telefone tocou.
– É Timothy Fanning?
Não reconheci a voz.
– Sim, é o Dr. Fanning.
– Ah, o senhor é médico. Isso explica. Meu nome é Lois Swan. Sou enfermeira da UTI no Westerly Hospital. Uma paciente foi trazida para cá ontem à tarde, uma mulher chamada Elizabeth Lear. O senhor a conhece?
Meu coração saltou na garganta.
– Onde ela está? O que aconteceu?
– Ela foi tirada de um trem em Boston e trazida para cá de ambulância. Estive tentando falar com o senhor. O senhor é o médico dela?
A natureza do telefonema estava ficando clara.
– Isso mesmo – menti. – Qual é o estado dela?
– Infelizmente a Sra. Lear faleceu.
Não falei nada. O quarto estava se dissolvendo. Não só o quarto. O mundo.
– Alô?
Fiz um esforço para engolir.
– Sim, estou ouvindo.
– Ela foi trazida inconsciente. Eu estava sozinha com ela quando ela acordou e me deu seu nome e número.
– Ela deixou algum recado?
– Infelizmente, não. Estava muito fraca. Nem tive certeza se ouvi o número direito. Ela morreu apenas alguns minutos depois. Tentando falar com o marido, mas parece que ele está fora do país. Há mais alguém que deveríamos notificar?
Desliguei. Pus um travesseiro em cima do rosto. Então comecei a gritar.
VINTE E DOIS
A história da morte da mulher foi estampada nas primeiras páginas dos tabloides durante vários dias, e desse modo fiquei sabendo mais sobre ela. Tinha 29 anos, era de College Park, Maryland, filha de imigrantes iranianos. O pai era engenheiro; a mãe, bibliotecária de uma escola; tinha três irmãos. Durante seis anos havia trabalhado na Beckworth and Grimes, chegando ao posto de editora associada; ela e o pai do bebê, um ator, tinham se divorciado recentemente. Tudo nela era comum e admirável. Muito trabalhadora. Amiga dedicada. Filha amada e mãe amorosa. Durante um tempo quis ser dançarina. Havia muitas fotos dela. Numa ela era criança, usando malha e fazendo um plié de menininha.
Dois dias depois recebi um telefonema de Jonas, dando a notícia da morte de Liz. Fiz o máximo que pude para me fingir surpreso, e descobri que na verdade fiquei um pouco, como se, ao ouvir sua voz, estivesse experimentando a perda dela pela primeira vez de novo. Conversamos durante um tempo, compartilhando histórias do passado. De vez em quando ríamos de alguma coisa engraçada que ela havia feito ou dito; em outros momentos o telefone ficava silencioso por longos intervalos em que eu o ouvia chorar. Durante esses intervalos, eu buscava qualquer indicação de que ele soubera, ou suspeitara, sobre nós. Mas não detectei nada. Era como Liz tinha dito: sua cegueira era total. Ele nem podia imaginar uma coisa assim.
Eu ainda estava ligeiramente pasmo porque nada tinha acontecido comigo: nenhuma batida à porta, nem homens sombrios de terno parados do outro lado da corrente, mostrando os distintivos. Dr. Fanning, será que podemos trocar uma palavrinha? Nenhuma matéria mencionava o barman ou o taxista, o que considerei um bom sinal, mas eu acreditava que no fim a lei apareceria. Minha pena seria cobrada; eu cairia de joelhos e confessaria. De outro modo o Universo simplesmente não podia fazer sentido.
Peguei um voo para o enterro em Boston. A cerimônia aconteceu em Cambridge, à vista do Harvard Yard. A igreja estava apinhada. Parentes, amigos, colegas, ex-alunos; em seus brevíssimos anos Liz fora muito amada. Ocupei um banco nos fundos, querendo ficar invisível. Conhecia muitas pessoas, reconhecia outras, sentia o peso daquilo tudo. Entre os enlutados estava um homem que, sob o rosto inchado de alcoólatra, eu sabia que era Alcott Spence. Nossos olhares se encontraram brevemente enquanto seguíamos o caixão de Liz para fora, mas não creio que ele tenha se lembrado de mim.
Depois do enterro o círculo mais íntimo se reuniu no clube Spee para um almoço. Eu tinha dito a Jonas que precisava voltar cedo e não poderia ir, mas ele insistiu tanto que não tive escolha. Houve brindes, lembranças, muita bebida. Cada segundo era uma tortura. Enquanto as pessoas saíam, Jonas me puxou de lado.
– Vamos para o jardim. Preciso falar uma coisa com você.
Então ali estava, pensei. A confusão toda ia ser posta para fora. Saímos pela biblioteca e nos sentamos na escada que dava no pátio. Fazia um calor incomum, um antegosto zombeteiro da primavera – uma primavera que eu acreditava que não iria ver. Sem dúvida, até lá estaria morando numa cela.
Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e puxou um frasco. Tomou um longo gole e o entregou a mim.
– Pelos velhos tempos – disse.
Eu não sabia o que responder. Ele é que deveria guiar a conversa.
– Não precisa dizer nada. Sei que fiz merda. Eu deveria estar lá. Talvez isso seja o pior.
– Tenho certeza de que ela entendia.
– Como poderia entender?
Ele bebeu de novo e enxugou a boca.
– A verdade é que acho que ela ia me abandonar. Provavelmente eu merecia.
Senti o estômago contrair-se. Por outro lado, se ele soubesse que era eu, já teria dito.
– Não seja ridículo. Ela provavelmente só ia ver a mãe.
Ele encolheu os ombros de um jeito fatalista.
– É, bom, até onde eu sei, não é necessário passaporte para ir a Connecticut.
Eu não tinha pensado nisso. Não havia o que dizer.
– Mas não foi por isso que pedi que você viesse aqui. Tenho certeza de que você ouviu as histórias a meu respeito.
– Um pouco.
– Todo mundo acha que sou uma tremenda piada. Bom, eles estão errados.
– Talvez este não seja o dia para isso, Jonas.
– Na verdade é o dia perfeito. Estou perto, Tim. Muito, muito perto. Há um local na Bolívia. Um templo com pelo menos mil anos. As lendas dizem que há uma sepultura lá, o corpo de um homem infectado pelo vírus que estive procurando. Não é nada novo, há um monte de histórias assim. Histórias de mais para que tudo isso não seja nada, na minha opinião, mas essa é uma discussão diferente. O caso é que agora tenho evidências fortes. Um amigo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças me procurou há alguns meses. Tinha ouvido falar do meu trabalho e por acaso encontrou uma coisa que achou que me interessaria. Há cinco anos, um grupo de turistas americanos apareceu num hospital em La Paz. Todos tinham algo parecido com hantavírus. Tinham feito uma espécie de ecoturismo na selva. Mas o negócio é o seguinte. Todos tinham câncer terminal. A viagem era uma daquelas coisas tipo último desejo. Sabe, fazer as coisas que você sempre quis, antes de partir.
Eu não tinha ideia de para onde o assunto nos levaria.
– E?
– Aí é que fica interessante. Todos se recuperaram, e não somente do hanta. Do câncer. De ovário estágio quatro, tumor cerebral não operável, leucemia linfocítica aguda. Não restava nenhum traço. E não estavam somente curados. Estavam mais do que curados. Era como se o processo de envelhecimento tivesse sido revertido. O mais novo tinha 56 anos; o mais velho, 70. Pareciam estar na casa dos 20.
– É uma história e tanto.
– Está brincando? É a história. Se isso for confirmado, vai ser a descoberta médica mais importante da História.
Eu continuava cético.
– E por que não ouvi falar ainda? Não há nada na literatura.
– Boa pergunta. Meu amigo do Centro de Controle suspeita que os militares se envolveram. A coisa toda foi passada ao Instituto de Pesquisas Médicas de Doenças Infecciosas do Exército.
– Por que eles iriam querer isso?
– Quem sabe? Talvez só quisessem o crédito, mas essa é a visão otimista. Num dia você tem Einstein pensando na Teoria da Relatividade, no outro tem o Projeto Manhattan e um buraco enorme no chão. Não é que isso não tenha acontecido antes.
Ele tinha certa razão.
– Você os examinou? Os quatro pacientes?
Jonas tomou outro gole do uísque.
– Bom, esse é um probleminha. Estão todos mortos.
– Mas achei que você tinha dito...
– Ah, não foi o câncer. Todos pareceram meio... bom, acelerados, como se o corpo não conseguisse aguentar. Alguém fez um vídeo. Eles estavam praticamente ricocheteando nas paredes. O que durou mais tempo aguentou 86 dias.
– E é um probleminha e tanto.
Ele me olhou sério.
– Pense bem, Tim. Há alguma coisa por lá. Não consegui encontrar a tempo de salvar Liz e isso vai me assombrar pelo resto dos meus dias. Mas agora não posso parar. Não somente apesar dela; por causa dela. Todos os dias, morrem 155 mil seres humanos. Quanto tempo nós ficamos sentados aqui? Dez minutos? São mais de mil pessoas como Liz. Pessoas com vida, famílias que as amam. Preciso de você, Tim. E não só porque você é o meu amigo mais antigo e o cara mais inteligente que eu conheço. Vou ser honesto: estou tendo muita dificuldade com o dinheiro. Ninguém quer mais apoiar isso. Talvez sua credibilidade pudesse, você sabe, lubrificar um pouco as engrenagens.
Minha credibilidade. Se ao menos ele soubesse como ela valia pouco.
– Não sei, Jonas.
– Se não pode fazer isso por mim, faça por Liz.
Vou admitir, o cientista em mim estava intrigado. Também era verdade que eu não queria ter nada a ver com esse projeto, nem com Jonas, nunca mais. Nos escassos dez minutos em que mil seres humanos haviam perecido eu tinha chegado, muito profundamente, a desprezá-lo. Talvez sempre tivesse desprezado. Desprezava sua desatenção, seu ego monstruoso, sua pompa exaltada. Desprezava sua manipulação nua das minhas lealdades e sua fé inabalável em que a resposta para tudo estava ao seu alcance. Desprezava o fato de que ele não sabia absolutamente nada sobre nada, mas acima de tudo o desprezava por ter deixado Liz sozinha.
– Posso pensar um pouco?
Era uma desculpa fácil; eu não tinha intenção de pensar.
Ele começou a dizer alguma coisa e parou.
– Entendi. Você precisa pensar na sua reputação. Acredite, eu sei como é.
– Não é isso. É um compromisso grande. Tenho muita coisa para fazer agora.
– Não vou deixá-lo se livrar facilmente, você sabe.
– Eu tinha quase certeza de que não.
Ficamos quietos por um tempo. Jonas estava olhando o jardim, mas eu sabia que não estava vendo nada.
– É engraçado. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Agora não consigo acreditar. É como se nem estivesse acontecendo, sabe? Sinto como se fosse voltar para casa e ela estivesse lá, dando notas para os trabalhos sobre a mesa ou mexendo em alguma coisa na cozinha.
Ele soltou o ar e me olhou.
– Eu deveria ter sido um amigo melhor para você em todos esses anos. Não deveria ter deixado tanto tempo passar.
– Esqueça. Foi minha culpa, também.
A conversa acabou aí.
– Bom – disse Jonas –, obrigado por estar aqui, Tim. Sei que você viria de qualquer modo, só por ela. Mas isso significa muito para mim. Avise o que você decidir.
Fiquei sentado por um tempo depois de ele ir embora. A casa estava silenciosa; as pessoas tinham saído, voltado às suas vidas. Que sorte elas tinham, pensei.
Não recebi mais notícias de Jonas. O inverno cedeu à primavera, depois ao verão, e comecei a acreditar que afinal de contas os pontos não tinham sido ligados e que continuaria livre. Pouco a pouco a morte da mulher deixou de pairar sobre cada pensamento e cada ação. Ela continuava ali, claro; a memória chegava com frequência e sem aviso, me paralisando com uma culpa tão profunda que eu mal conseguia respirar. Mas a mente é ágil; busca se preservar. Num dia de verão particularmente generoso, fresco e seco com um céu tão límpido que parecia uma grande cúpula azul largada sobre a cidade, eu estava indo do escritório para o metrô quando percebi que durante dez minutos inteiros não tinha me sentido completamente arruinado. Talvez a vida pudesse seguir em frente, afinal de contas.
Voltei a dar aulas no outono. Um bando de novos estagiários recém-formados me esperava; como se a administração se deliciasse em me torturar, a maioria eram mulheres. Mas dizer que aqueles dias tinham passado para mim seria o maior eufemismo do século. Minha existência era monástica, como seria daí em diante. Eu fazia meu trabalho, dava minhas aulas, não buscava a companhia de ninguém, homem ou mulher. Ouvi, de segunda mão, que Jonas tinha conseguido verbas para sua expedição, afinal de contas, e estava se preparando para ir à Bolívia. Já vai tarde, pensei.
Num dia do fim de janeiro, eu estava dando notas na minha sala quando houve uma batida à porta.
– Entre.
Duas pessoas, um homem e uma mulher: eu soube instantaneamente quem e o que eles eram. Meu rosto provavelmente traiu minha culpa num instante.
– Tem um minuto, professor Fanning? – perguntou a mulher. – Sou a detetive Reynaldo, e este é o detetive Phelps. Gostaríamos de fazer algumas perguntas, se não se importa.
– Claro. – Fingi surpresa. – Sentem-se, detetives.
– Vamos ficar de pé, se não se incomoda.
A conversa durou menos de quinze minutos, mas bastou para saber que o nó da forca estava se apertando. Uma mulher havia se apresentado: a babá. Era imigrante ilegal, o que explicava a grande demora. Apesar de só ter me visto rapidamente, a descrição que fez combinava com a do barman. Ele não se lembrava do meu nome, mas tinha ouvido parte da conversa em que ela confessava a queda por mim, usando a expressão “um monte de garotas também tinha”. Isso os levou à ficha de faculdade de Nicole, e finalmente a mim, que tinha uma semelhança notável com a descrição da babá sobre o suspeito. Uma semelhança muito notável.
Dei as negativas costumeiras. Não, eu nunca havia estado no bar em questão. Não, não me lembrava da moça, das minhas aulas; tinha visto a matéria nos jornais mas não havia feito nenhuma ligação. Não, não conseguia lembrar onde estava naquela noite. Quando, exatamente? Provavelmente estava na cama.
– Interessante. Na cama, o senhor diz?
– Talvez estivesse lendo. Sou meio insone. Não lembro.
– Estranho. Porque segundo a TSA o senhor tinha programado um voo para Atenas. Gostaria de dizer alguma coisa agora, Dr. Fanning?
O suor frio do criminoso umedeceu as palmas das minhas mãos. Claro que eles saberiam disso. Como eu podia ter sido tão idiota?
– Muito bem – falei, me esforçando ao máximo para parecer chateado. – Eu gostaria que isso não viesse à tona, mas, como os senhores insistem em xeretar minha vida pessoal, eu ia fugir com uma amiga. Uma amiga casada.
Uma sobrancelha se ergueu lascivamente.
– Poderia dizer o nome dela?
Minha mente estava disparando. Será que eles poderiam nos conectar? Eu tinha pagado as passagens em dinheiro vivo e as comprado separadamente, para encobrir os rastros. Os assentos nem eram lado a lado; eu tinha planejado trocá-los antes do embarque.
– Desculpe, não posso fazer isso. Não tenho o direito.
– Um cavalheiro não revela as escapadas, não é?
– Mais ou menos isso.
A detetive Reynaldo deu um sorriso imperioso, divertindo-se.
– Um cavalheiro que foge com a mulher de outro homem. Duvido que o senhor ganharia prêmios por isso.
– Não estou procurando prêmios, detetive.
– E por que não foi embora?
Dei de ombros do jeito mais inocente.
– Ela mudou de ideia. Seu marido é meu colega. Foi uma ideia idiota, para começo de conversa. É só isso.
Durante dez segundos inteiros nenhum de nós falou – um espaço que obviamente eu deveria preencher, me incriminando.
– Bom, por enquanto é só isso, Dr. Fanning. Obrigado por nos dar esse tempo em seu dia ocupado.
O detetive me entregou um cartão de visita.
– Se pensar em mais alguma coisa ligue para mim, está bem?
– Farei isso, detetive.
– E quero dizer qualquer coisa, mesmo.
Esperei trinta minutos para ter certeza de que eles estavam fora do prédio, depois peguei o metrô para casa. Quanto tempo eu tinha? Dias? Horas? De quanta papelada eles precisariam para me colocar numa fila de identificação?
Só consegui pensar numa saída. Liguei para o escritório de Jonas, depois para o celular dele, mas ninguém atendeu. Teria de me arriscar a mandar um e-mail.
Jonas, andei pensando na sua proposta. Desculpe a demora. Não sei quanto posso oferecer, tão tarde assim, mas gostaria de embarcar no projeto. Quando você parte? TF
Esperei junto ao computador, batendo repetidamente no botão para ver se havia mensagens novas. Trinta minutos depois chegou a resposta.
Maravilha. Partimos em três dias. Já consegui seu visto com o Departamento de Estado. Não diga que não sou um homem com boas conexões. De quantos outros você precisa para a sua equipe? Conhecendo você, sei que vai trazer uma flotilha de estagiárias bonitas, que sem dúvida seriam úteis para animar o lugar.
Mexa esse rabo, meu chapa. Vamos mudar o mundo. JL
VINTE E TRÊS
Não há muito mais a dizer. Fui. Fui infectado, só eu sobrevivi. E assim foi criada uma raça para estabelecer o domínio sobre a Terra.
Houve uma noite em que Jonas veio me ver na minha câmara. Foi logo depois da minha transformação, tempo em que eu havia me ajustado às circunstâncias. Não sabia que horas eram, já que essas coisas tinham perdido todo o sentido em minha condição de cativo. Meus planos estavam bem avançados. Eu e meus colegas conspiradores tínhamos identificado a rota de fuga. Os homens de mente fraca que nos vigiavam: dia a dia tínhamos nos infiltrado em seus pensamentos, enchendo sua mente com nossos sonhos sinistros, trazendo-os para o rebanho. Suas almas frouxas estavam desmoronando; logo eles seriam nossos.
A voz dele veio pelo alto-falante:
– Tim, é o Jonas.
Não era sua primeira visita. Muitas vezes eu tinha visto seu rosto atrás do vidro. Mas ele não tinha falado diretamente comigo desde o dia do meu despertar. Os últimos anos haviam provocado mudanças espantosas na sua aparência. De cabelos compridos, barba revolta, olhos ensandecidos, Jonas tinha se tornado a própria imagem do cientista louco que eu sempre havia achado que era.
– Sei que você não pode falar. Diabos, nem sei se você pode me entender.
Senti que vinha uma confissão. Admito que só estava vagamente interessado no que ele diria. Sua consciência perturbada... que importância tinha isso? Além do mais, sua visita havia interrompido meu horário de alimentação. Ainda que em vida eu não me interessasse muito pelo gosto de carne de caça, tinha passado a gostar um bocado de coelho.
– Está acontecendo uma coisa ruim. Estou perdendo o controle.
Está mesmo, pensei.
– Meu Deus, sinto falta dela. Eu deveria ter ouvido o que ela dizia. Deveria ter ouvido você. Se ao menos você pudesse falar comigo!
Você vai ter notícias minhas logo, pensei.
– Tenho mais uma chance, Jim. Ainda acredito que isso possa dar certo. Talvez, se eu conseguir, possa fazer com que os militares recuem. Ainda posso fazer tudo virar.
A esperança é a última que morre, não é?
– O negócio é que precisa ser uma criança.
Ele ficou quieto um momento.
– Não acredito que estou dizendo isso. Acabaram de trazê-la. Nem quero saber o que fizeram para trazê-la para cá. Meu Deus, Tim, ela não passa de uma menininha.
Uma criança, pensei. Ali estava um probleminha intrigante; não era de espantar que Jonas se desprezasse. Adorei seu sofrimento. Eu tinha aprendido como um homem podia afundar; por que ele não deveria aprender também?
– Estão chamando-a de Amy SD. Sobrenome desconhecido. Foi apanhada num orfanato. Deus todo-poderoso, ela nem tem um nome de verdade. É apenas uma garota de lugar nenhum.
Senti o coração indo até aquela criança sem sorte, arrancada da vida para se tornar a última esperança lamentável de um louco. Mas ao mesmo tempo que pensava nisso, um novo pensamento frutificava dentro de mim. Uma menininha, banhada na inocência da juventude: claro. A simetria era inegável; era uma mensagem para mim. O teste seria encará-la. Ouvi o ribombar de exércitos distantes juntando-se. Essa garota de lugar nenhum. Essa Amy de sobrenome desconhecido. Quem era alfa, quem era ômega? Quem era o início e quem era o fim?
– Você a amava, Tim? Pode dizer.
Sim, pensei. Sim, sim e sim. Ela era a única coisa que sempre importou. Eu a amava mais do que qualquer homem poderia amar. Amava o suficiente para vê-la morrer.
– A polícia veio me procurar, veja bem. Eles sabiam que vocês dois iam embarcar no mesmo avião. Sabe o que é engraçado? Eu fiquei feliz por ela. Ela merecia alguém que pudesse amá-la como ela precisava. Como eu jamais poderia. Acho que o que estou dizendo é que fico feliz porque era você.
Seria possível? Será que meus olhos – os olhos de uma fera, de um demônio – tinham começado a lacrimejar?
– Bom. – Jonas pigarreou. – Acho que foi isso que vim dizer. Lamento por tudo, Tim. Espero que você saiba. Você foi o melhor amigo que já tive.
Agora está escuro. Estrelas sobem acima da cidade vazia, o diadema do céu. Faz um século que a última pessoa andou por aqui e ainda é impossível andar pelas ruas, como faço, sem ver meu próprio rosto refletido mil vezes. Vitrines. Lojas de bebidas e prédios de arenito marrom. Flancos espelhados de arranha-céus, grandes tumbas verticais feitas de vidro. Olho, e o que vejo? Homem? Monstro? Demônio? Uma aberração da natureza fria ou o utensílio cruel do céu? A primeira opção é intolerável, a segunda não é menos. Quem é o monstro agora?
Caminho. Presto atenção, e ainda é possível escutar os passos de uma multidão sepultada em pedra. No centro cresceu uma floresta. Uma floresta em Nova York! Uma grande erupção verde, cheia de sons e cheiros de animais. Os ratos estão em toda parte, claro. Crescem até dimensões fantásticas. Uma vez vi um que achei que era um cachorro, um porco selvagem ou algo totalmente novo no mundo. Os pombos giram, a chuva cai, as estações passam sem nós; no inverno tudo se veste de neve.
Cidade de memórias, cidade de espelhos. Estou sozinho? Sim e não. Sou um homem com muitos descendentes. Eles estão escondidos. Alguns estão aqui, os que já chamaram esta ilha de lar; dormem sob as ruas da metrópole esquecida. Outros se deitam em outros lugares, meus embaixadores, esperando a serventia final. No sono eles se tornam eles próprios de novo; nos sonhos, retomam suas vidas humanas. Que mundo é o real? Só quando acordam a fome os oblitera, dominando-os, com as almas se derramando na minha, e assim eu os deixo como são. É a única misericórdia que posso oferecer.
Ah, meus irmãos, Doze no total, vocês foram lamentavelmente usados por este mundo! Falei com vocês como o deus que vocês achavam que eu era, mas no fim não pude salvá-los. Não direi que deixei de ver que isso aconteceria. Desde o início o destino de vocês estava escrito; vocês não podiam deixar de ser quem eram, e era essa a nossa verdade. Pensem na espécie conhecida como humana. Nós mentimos, traímos, queremos o que os outros têm e tomamos; fazemos guerra uns com os outros e contra a Terra; colhemos vidas aos montes. Hipotecamos o planeta e gastamos o dinheiro em bobagens. Podemos ter amado, mas nunca suficientemente bem. Nunca nos conhecemos de verdade. Esquecemos o mundo; agora o mundo nos esqueceu. Quantos anos vão se passar até que a natureza, ciumenta, reivindique este lugar? Antes que seja como se ele jamais tivesse existido? Edifícios vão desmoronar. Arranha-céus despencarão com estrondo no chão. Árvores irão brotar e espalhar suas copas. Os oceanos vão subir, lavando o resto. Dizem que um dia tudo será água de novo; um vasto oceano vai cobrir o mundo. No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como é que Deus, se é que há um Deus, vai se lembrar de nós? Será que ao menos saberá nosso nome? Todas as histórias acabam quando voltam ao princípio. O que podemos fazer, senão lembrar por Ele?
Saio às ruas da cidade vazia e sempre retorno. Ocupo meu lugar acima da escada, embaixo do céu invertido. Olho o relógio; os mostradores lamentosos permanecem iguais. O tempo congelado no momento da partida do homem, o último trem deixando a estação.
VINTE E QUATRO
Peter Jaxon, 55 anos, presidente da República do Texas, estava no portão de Kerrville à luz pálida do alvorecer, esperando para se despedir do filho.
Sara e Hollis tinham acabado de chegar; Kate estava trabalhando no hospital, mas prometera que o marido, Bill, traria as meninas. Caleb estava colocando o resto do equipamento na carroça enquanto Pim, com um vestido de algodão frouxo, estava ali perto, segurando o bebê Theo. Dois cavalos fortes, bons para puxar um arado, esperavam em seus arreios.
– Acho que é isso – disse Caleb enquanto terminava de prender o último caixote.
Estava usando uma camisa de trabalho, de mangas compridas, e macacão; tinha deixado o cabelo crescer. Verificou a carga do fuzil, um calibre 30-06 de ação por alavanca, e o colocou no banco.
– A gente deveria ir logo, se quiser chegar a Hunt ao anoitecer.
Iam para um dos assentamentos mais distantes, uma viagem de dois dias na carroça. A terra tinha acabado de ser incorporada, mas as pessoas a ocupavam havia anos. Caleb tinha passado a maior parte dos últimos dois anos preparando o lugar – fazendo a estrutura da casa, cavando o poço, colocando cercas – antes de voltar para pegar Pim e o bebê. Solo bom, água limpa do rio, floresta cheia de caça: havia lugares piores para começar uma vida, pensou Peter.
– Vocês não podem ir, ainda – disse Sara. – As meninas vão ficar tristes se vocês forem embora sem falar com elas.
Sara tinha dito isso fazendo simultaneamente sinais para Pim, que então se virou para o marido com uma expressão séria.
Você sabe como é o Bill, sinalizou Caleb. Podemos ficar aqui o dia inteiro.
Não. Vamos esperar.
Não adiantava discutir quando Pim se decidia. Caleb sempre dizia que fora a teimosia da mulher que os mantivera juntos enquanto ele estava com o exército na estrada do Petróleo. Peter não duvidava disso. Os dois tinham se casado um dia depois de Caleb finalmente pedir dispensa do posto – não que ainda houvesse um exército significativo do qual ser dispensado, como ele costumava observar. Como quase tudo em Kerrville, o exército havia se espalhado aos quatro ventos; praticamente ninguém se lembrava dos Expedicionários, debandados vinte anos antes, quando o Código do Texas foi suspenso. Tinha sido uma das grandes decepções da vida de Caleb o fato de não restar mais ninguém contra quem lutar. Ele havia passado seus anos no serviço como cavador de valas, designado para a construção da linha de telégrafo entre Kerrville e Boerne. Era um mundo diferente daquele que Peter havia conhecido. Os muros da cidade não tinham mais defensores; as luzes de perímetro tinham se apagado uma a uma e nunca foram consertadas; fazia uma década que o portão não era fechado. Toda uma geração tinha chegado à vida adulta achando que os virais mal passavam de bichos-papões em histórias assustadoras contadas pelos mais velhos, que, como todos os velhos desde o início dos tempos, acreditavam que sua vida tinha sido muito mais difícil e mais importante.
Mas era costume de Bill, o marido de Kate, se atrasar. O sujeito tinha qualidades positivas – era muito mais afável do que Kate, contrabalançando sua frequente seriedade –, e não havia dúvida de que adorava as filhas. Mas era desconcentrado e desorganizado, gostava de alc e baralho e carecia de qualquer coisa parecida com ética de trabalho. Peter tinha tentado trazê-lo para a administração como um favor a Sara e Hollis, oferecendo um emprego de baixo nível no Escritório de Taxação que exigia pouco mais do que a capacidade de usar um carimbo. Mas, como acontecera com as breves tentativas de Bill como carpinteiro, ferreiro e condutor de transporte, não se passou muito tempo até que ele se afastasse. Na maior parte do tempo parecia contente em cuidar das filhas, preparar refeições ocasionais para Kate e se esgueirar para as mesas à noite – ganhando e perdendo, mas, segundo Kate, sempre ganhando só um pouquinho a mais.
O bebê Theo tinha começado a se agitar. Caleb aproveitou para limpar os cascos dos cavalos enquanto Sara pegava Theo com Pim, para trocar sua fralda. Justo quando tinha começado a parecer que Bill não viria, Kate apareceu com as meninas, Bill atrás delas com uma expressão sem graça.
– Como você conseguiu sair? – perguntou Sara à filha.
– Não se preocupe, senhora diretora. Jenny vai me cobrir. Além disso, você me ama demais para me demitir.
– Você sabe que eu odeio quando você me chama assim.
Elle e sua irmã mais nova, Merry, que todo mundo chamava de Bug, correram até Pim, que se ajoelhou e abraçou as duas ao mesmo tempo. A capacidade das meninas de falar por sinais era limitada a frases simples. Disseram eu te amo, fazendo um círculo em volta do coração com a mão esticada.
Venham me visitar, sinalizou Pim, e depois olhou para Kate, que explicou o que ela estava pedindo.
– Podemos? – perguntou Bug, ansiosa. – Quando?
– Veremos – disse Kate. – Talvez depois de o neném nascer.
Esse era um assunto difícil; Sara havia desejado que Pim retardasse a partida até depois do nascimento do segundo filho. Mas isso só aconteceria perto do fim do verão, tarde demais para plantar. E Pim, com sua teimosia, não planejava voltar sozinha para o parto. Já fiz isso antes, disse ela. Não pode ser difícil.
– Por favor, mãe? – implorou Elle.
– Eu disse que veremos.
Abraços gerais. Peter olhou para Sara; ela também estava sentindo. Seus filhos iam embora de vez. Era o que a gente deveria querer, aquilo pelo qual trabalhamos, mas encarar o fato era outra coisa.
Caleb apertou a mão de Peter e depois o puxou num abraço masculino.
– Então acho que é isso. Posso dizer umas coisas idiotas? Tipo eu te amo. Mas mesmo assim você é um péssimo jogador de xadrez.
– Prometo treinar. Quem sabe? Talvez você me encontre por lá em pouco tempo.
Caleb riu.
– Está vendo? Foi isso que eu falei. Chega de política. É hora de encontrar uma boa mulher e se acomodar.
Se você soubesse!, pensou Peter. Toda noite eu fecho os olhos e faço exatamente isso.
Ele baixou a voz um pouquinho.
– Fez o que eu pedi?
Caleb deu um sorriso indulgente.
– Faça a vontade do seu velho.
– É, eu cavei.
– E usou a moldura de aço que eu mandei? É importante.
– Fiz exatamente como você mandou, garanto. Pelo menos tenho algum lugar para dormir quando Pim me der um pé na bunda.
Peter olhou para a nora, que havia subido no banco. O bebê Theo, exaurido por toda a atenção, tinha apagado em seu colo.
Cuide dele por mim, sinalizou Peter.
Vou cuidar.
Dos nenéns também.
Ela sorriu para ele.
Dos nenéns também.
Caleb subiu na carroça.
– Fiquem em segurança – disse Peter. – Boa sorte.
O momento indelével da partida: todo mundo deu um passo atrás enquanto a carroça passava pelo portão. Bill e as meninas foram os primeiros a ir embora, seguidos por Kate e Hollis. Peter tinha uma programação inteira pela frente, mas não conseguia se obrigar a iniciar o dia.
Nem Sara, pelo jeito. Os dois ficaram juntos sem falar, olhando a carroça que levava seus filhos embora.
– Por que é que às vezes acho que eles viraram nossos pais? – perguntou Sara.
– E vão virar mesmo, em breve.
Sara fungou.
– Isso é uma coisa que eu quero ver.
A carroça ainda estava visível. Ia atravessando a antiga linha da cerca para a Zona Laranja. Para além dela apenas uma fração dos campos tinha sido arada para a plantação; simplesmente não havia pessoas suficientes. E não restavam tantas bocas assim para alimentar; a população de Kerrville tinha sido reduzida a cerca de 5 mil pessoas – 4.997, pensou Peter.
– Bill está péssimo – disse Peter.
Sara suspirou.
– Mas Kate o ama. O que uma mãe pode fazer?
– Eu poderia tentar um emprego de novo.
– Acho que ele é uma causa perdida.
Ela o encarou.
– Por falar nisso, que negócio é esse de você não se candidatar à reeleição?
– Onde você ouviu isso?
Ela deu de ombros, timidamente.
– Ah, por aí, nos corredores.
– Quer dizer, o Chase.
– Quem mais? O sujeito está mordendo o freio. Então é verdade?
– Não decidi ainda. Mas talvez dez anos sejam o suficiente.
– As pessoas vão sentir sua falta.
– Duvido que sequer notem.
Peter pensou que ela talvez perguntasse sobre Michael. O que ele tinha ouvido falar? Será que seu irmão estava bem? Eles evitavam os detalhes, uma realidade dolorosa. Michael no comércio, boatos de um projeto maluco, Greer de conluio com Dunk, um complexo armado no canal dos navios com caminhões cheios de alc e sabia Deus o que mais indo embora todo dia.
Mas não perguntou. Em vez disso:
– O que Vicky acha?
A pergunta o rasgou de culpa. Fazia semanas que pensava em visitá-la; meses, até.
– Preciso ir vê-la – falou ele. – Como ela está?
Os dois ainda estavam lado a lado enquanto os olhares acompanhavam o caminho da carroça. Agora ela mal passava de um pontinho. Subiu uma encosta pequena, começou a descer e sumiu. Sara se virou para ele.
– Eu não esperaria – disse.
Seu dia se dissolveu nas tarefas costumeiras. Uma reunião com o coletor de impostos para decidir o que fazer com os colonos que se recusavam a pagar; um novo compromisso judicial; uma agenda para marcar a próxima reunião da legislatura territorial; vários papéis para assinar, que Chase colocou à sua frente com apenas uma descrição superficial. Às três horas Apgar apareceu à porta. Será que o presidente tinha um minuto? Todos os outros funcionários o chamavam pelo primeiro nome, como ele preferia, mas Gunnar, obediente aos protocolos, se recusava. Sempre dizia “Sr. Presidente”.
O assunto eram armas – mais especificamente, a falta delas. O exército sempre havia usado uma combinação de armas civis e militares recondicionadas. Muitas tinham vindo do forte Hood; além disso o antigo Texas era um lugar bem armado. Parecia que praticamente toda casa tinha um armário de armamentos, e havia fábricas de armas por todo o estado, oferecendo um grande suprimento de peças para conserto e carregamento. Mas muito tempo havia se passado e certas armas duravam mais do que outras. Pistolas com estrutura de metal, como a velha Browning 1911, semiautomáticas SIG Sauer e Berettas M9 do exército eram praticamente indestrutíveis se tivessem manutenção adequada. Assim como a maioria dos revólveres, espingardas e fuzis de ação por alavanca. Mas as pistolas com estrutura de polímero, como as Glocks, além dos fuzis M4 e AR-15, o pão com manteiga dos militares, não tinham a mesma validade infinita. Enquanto os invólucros de plástico rachavam com a fadiga, um número cada vez maior dessas armas era aposentado; outras tinham escorrido, através do comércio, para as mãos de civis; algumas tinham simplesmente sumido.
Mas isso era apenas parte do problema. A questão mais premente era um suprimento cada vez menor de munição. Décadas tinham se passado desde que um cartucho pré-guerra fora disparado; a não ser pelos estoques no bunker de Tifty, que eram lacrados a vácuo, a espoleta e a cordite não duravam mais de vinte anos. Todas as balas do exército tinham sido recarregadas usando-se o conteúdo de cartuchos de latão já disparados, ou então produzidas a partir de cartuchos vazios tirados de duas fábricas de munição, uma perto de Waco e outra em Victoria. Fundir chumbo para balas era fácil; muito mais complicado era produzir um propelente. A cordite para arma exigia um coquetel complicado de substâncias químicas voláteis, inclusive grandes quantidades de nitroglicerina. Dava para fazer, mas não era um trabalho fácil, e exigia mão de obra e experiência, coisas que estavam em falta. Restavam apenas cerca de 2 mil homens no exército – 1.500 espalhados pelas cidades e uma guarnição de quinhentos em Kerrville. Não havia nenhum químico entre os militares.
– Acho que nós dois sabemos do que estamos falando – disse Peter.
Apgar, sentado do outro lado da vastidão da mesa de Peter, coberta de papéis, estava olhando para as unhas.
– Eu não disse que gostei. Mas o comércio tem a capacidade de fabricação e já lidamos com eles antes.
– Dunk não é Tifty.
– E Michael?
Peter franziu a testa.
– Assunto difícil.
– O cara era petroleiro. Sabe como cozinhar óleo. Ele pode fazer isso.
– E o tal barco dele? – perguntou Peter.
– Ele é seu amigo. Você é que deveria saber.
Peter respirou fundo.
– Bem que eu gostaria. Não vejo o cara há mais de vinte anos. Além disso, se dissermos ao comércio que estamos sem munição, estaremos revelando fraqueza. Dunk vai estar sentado nesta cadeira em uma semana.
– Então ameace-o. Ele aceita nossa proposta ou então é isto: o trato acabou, vamos invadir o istmo e tirá-lo dos negócios.
– Passando por aquela pista elevada? Vai ser um banho de sangue. Ele vai farejar o blefe antes que eu acabe de falar.
Peter se recostou na cadeira. Imaginou-se repassando os termos de Apgar a Dunk. O que o sujeito faria, senão gargalhar na sua cara?
– Isso tudo é uma tremenda dificuldade. Não há como dar certo. O que podemos oferecer a ele?
Gunnar fez uma careta.
– O quê, além de dinheiro, armas e prostitutas? Pelo que sei, Dunk tem tudo isso em abundância. Além do mais, o cara é praticamente um herói popular. Sabe o que aconteceu no domingo passado? Do nada um caminhão de cinco toneladas cheio de mulheres apareceu no acampamento em Bandera, onde estão abrigando as equipes da estrada. O motorista tinha um bilhete: “Com os cumprimentos do seu bom amigo Dunk Withers.” Num domingo.
– Eles mandaram as mulheres embora?
Gunnar bufou.
– Não, levaram para a igreja. O que você acha?
– Bom, tem de haver alguma coisa.
– Você mesmo poderia perguntar a ele.
Era uma piada, mas não totalmente. Também havia Michael a considerar. Apesar de tudo, Peter gostava de pensar que o sujeito pelo menos concordaria em falar com ele.
– Talvez eu faça isso.
Enquanto Gunnar se levantava, Chase apareceu junto à porta.
– O que houve, Ford? – perguntou Peter.
– Temos outro sumidouro. Dos grandes. Duas casas dessa vez.
Isso acontecera durante toda a primavera. Um ribombo na terra; depois, em instantes, o chão desmoronava. O buraco maior tinha mais de 15 metros de largura. Esse lugar está se desfazendo, pensou Peter.
– Alguém se machucou? – perguntou ele.
– Desta vez, não. As duas casas estavam vazias.
– Bom, é uma sorte.
Ford ainda olhava para ele, com expectativa.
– Mais alguma coisa?
– Acho que a gente deveria fazer uma declaração. As pessoas vão querer saber o que você está fazendo a respeito.
– O quê, por exemplo? Dizendo ao chão para se comportar?
Como Ford não disse nada, Peter suspirou.
– Ótimo, escreva alguma coisa e eu assino. Que estamos colocando a engenharia no caso, que a situação está sob controle etc.
Ele levantou uma sobrancelha, encarando Ford.
– Certo?
Apgar parecia à beira de gargalhar. Meu Deus, pensou Peter, isso não acaba nunca. Levantou-se.
– Venha, Gunnar. Vamos respirar um pouco.
Ele havia se tornado presidente não porque desejasse o cargo, mas como um favor a Vicky. Logo depois da eleição para um terceiro mandato, ela começara a sofrer um tremor na mão direita. Isso fora acompanhado por uma série de acidentes, inclusive uma queda na escadaria da sede do governo, quando quebrara o tornozelo. Sua caligrafia, sempre perfeita, decaíra até virar um garrancho; a fala passara a ter uma qualidade estranhamente monótona, carecendo de qualquer inflexão; os tremores se espalharam para a mão oposta e ela começara a fazer movimentos involuntários com o pescoço. Peter e Chase tinham cuidado da situação mantendo suas aparições públicas num nível mínimo, mas na metade do segundo ano ficara claro que ela não podia mais continuar. A Constituição do Texas, que havia sucedido o Código de Lei Marcial Modificada, permitia que ela nomeasse um presidente interino.
Na ocasião Peter era secretário de Questões Territoriais, cargo que havia assumido na metade do segundo mandato dela. Era um dos postos mais visíveis do gabinete, e Vicky não fazia segredo de que o estava preparando para algo mais. Mesmo assim ele tinha presumido que seria Chase quem ocuparia o cargo; o sujeito estava com ela havia anos. Quando Vicky o chamou à sua sala, Peter esperava uma reunião para discutir a transição para a administração de Chase; o que encontrou foi um juiz com uma Bíblia. Dois minutos depois, ele era presidente da República do Texas.
Então entendeu que era isso que a mulher havia pretendido desde o início: criar o sucessor a partir da base. Peter se candidatou à eleição dois anos depois, venceu com facilidade e concorreu sem oposição para o segundo mandato. Parte disso se devia à sua popularidade pessoal como chefe do Executivo; como Vicky tinha previsto, seu valor era tremendamente alto. Mas também era verdade que ele havia assumido o cargo num momento em que era fácil deixar as pessoas felizes.
A própria Kerrville estava a caminho de se tornar irrelevante. Quanto tempo iria se passar até que virasse apenas mais uma cidade provinciana? Quanto mais longe as pessoas se estabeleciam, menos a ideia de uma autoridade centralizada tinha força. O Legislativo havia se transferido para Boerne e quase nunca se reunia. O capital financeiro tinha seguido o capital humano para as cidades; as pessoas abriam negócios, trocavam mercadorias a preços estabelecidos pelo mercado, negociavam a vida em seus próprios termos. Em Fredericksburg, um grupo de investidores privados tinha juntado dinheiro para abrir um banco, o primeiro do tipo. Ainda havia problemas, e só a administração federal possuía recursos para grandes projetos de infraestrutura: estradas, represas, linhas de telégrafo. Mas nem isso duraria indefinidamente. Quando Peter era honesto consigo mesmo, sabia que não estava tanto administrando o lugar quanto levando-o na direção do porto. Deixe Chase ter sua chance, pensou. Duas décadas de vida pública, com suas intermináveis picuinhas por trás de portas fechadas, bastavam para qualquer um. Peter nunca havia cuidado da terra; nunca tinha sequer plantado um tomate. Mas podia aprender. E o melhor de tudo era que um arado não tinha opiniões.
Vicky havia se retirado para uma casinha com estrutura de madeira no lado leste da cidade. Boa parte do bairro estava vazia, já que as pessoas tinham ido embora muito antes. Estava escurecendo quando ele parou junto à varanda. Uma única luz estava acesa na sala da frente. Ouviu passos; então a porta se abriu revelando Meredith, a companheira de Vicky, enxugando as mãos num pano.
– Peter.
Com cerca de 60 anos, era uma mulher pequenina com olhos azuis penetrantes. Ela e Vicky estavam juntas havia anos.
– Não sabia que você vinha.
– Desculpe, deveria ter avisado.
– Não, entre, claro.
Meredith recuou para que ele passasse.
– Ela está acordada, eu já ia dar o jantar. Sei que ela vai ficar feliz em ver você.
A cama de Vicky ficava na sala. Quando Peter entrou, ela olhou na sua direção, a cabeça se sacudindo de um lado para o outro contra os travesseiros altos.
– Oooo...lá. Sssse...nhor p ...p...preee...si...dente.
Era como se ela estivesse engolindo as palavras e depois cuspindo-as. Peter puxou uma cadeira para perto da cama.
– Como você está?
– Hoooo...je n...não t...t...tão m...mal.
– Desculpe se estive longe.
As mãos dela estavam se movendo inquietas no cobertor. Ela deu um sorriso torto.
– T...tuuu...do b...bem. C...como vooo...vo...cê pooo...de ver... eu es...tiii...ve oo...cu...pada.
Meredith apareceu junto à porta com uma bandeja, que colocou na mesinha de cabeceira. Sobre ela havia uma tigela com uma sopa transparente e um copo d’água com um canudinho. Segurou a cabeça de Vicky para levantá-la do travesseiro e amarrou um babador de algodão em seu pescoço. A noite havia caído, transformando as janelas em espelhos.
– Quer que eu faça isso? – perguntou Peter a Meredith.
– Vicky, quer que o Peter ajude você com o jantar?
– P...p...por que... n...n...não.
– Goles pequenos – disse Meredith a ele, dando um tapinha em seu braço.
Em seguida abriu um sorriso levíssimo; seu rosto estava pesado de fadiga. Provavelmente não tinha dormido uma noite inteira em meses, e simplesmente sentia-se grata com a ajuda.
– Se precisar de mim, estou na cozinha.
Peter começou com a água, segurando o canudinho junto aos lábios de Vicky, que estavam se descamando de secura, depois passou para a sopa. Podia ver o esforço que ela precisava fazer para engolir uma quantidade ínfima do líquido. A maior parte pingava dos cantos da boca; usou o babador para enxugar o queixo dela.
– É... é en...gra...çaaa...do.
– O quê?
– V...vo...cê me dan...dooo comi...mi...da. Fei...to um be...bêêê.
Ele lhe deu mais sopa.
– É o mínimo que posso fazer. Você me deu comida na boca mais de uma vez.
O pescoço dela fez um movimento de bomba, com os tendões se ressaltando enquanto tentava engolir. Só de olhar aquilo ele já ficava exaurido.
– C...co...mo v...vai a c...cam...panha?
– Ainda não começou de verdade. Andei meio enrolado.
– V...voooo...cê é ch...ch...chei...o de m...m...mer...da.
Ela o pegara desprevenida, mas, claro, sempre fazia isso. Ele tentou lhe dar mais uma colherada, sem muito sucesso.
– Caleb e Pim foram para os distritos hoje.
– Vo...cê s...só es...es...tá tris...te. V...vai p...p...pas...sar.
– O quê? Acha que não posso plantar?
– E...eu c...co...nheço v...você, P...Peter. Você vvvvv...vai fff...fi...car m...malu...c...co.
Não disse mais nada. Peter colocou a tigela de lado; ela só havia consumido uma quantidade mínima. Quando ele levantou a cabeça de novo, os olhos de Vicky estavam fechados. Apagou o abajur e observou-a. Somente no sono o tumulto inquieto de seu corpo cessava. Alguns minutos se passaram; ele ouviu um som atrás e viu Meredith parada junto à porta da cozinha.
– Acontece assim – disse ela, baixinho. – Num minuto ela está aí, no outro...
Deixou o pensamento no ar.
– Posso fazer alguma coisa?
Meredith pôs uma das mãos no braço dele e o encarou.
– Ela sentia muito orgulho de você, Peter. Ver tudo o que você fez a deixava muito feliz.
– Você me chama se precisar de mim? De qualquer coisa.
– Acho que essa visita foi perfeita, não concorda? Vamos deixar que seja a última.
Ele voltou para o lado da cama de Vicky e pegou uma das mãos dela de cima do cobertor. Ela não se mexeu. Peter a segurou por um minuto, pensando na amiga, depois se inclinou e beijou seu rosto, algo que nunca tinha feito.
– Obrigado – sussurrou.
Acompanhou Meredith até a varanda.
– Ela o amava, sabe? – disse a mulher. – Não era o tipo de coisa que ela dizia com frequência, nem a mim. É como ela era. Mas amava.
– Eu também a amava.
– Ela sabe.
Os dois se abraçaram.
– Adeus, Peter.
A rua estava silenciosa, sem luzes acesas. Peter passou um dedo sob o olho; ficou molhado. Bom, ele era presidente, podia chorar se quisesse. Seu filho tinha ido embora; outros iriam em seguida. Tinha entrado na fase de sua vida em que as coisas iriam se afastar. Era verdade o que diziam sobre as estrelas. Quanto mais a gente olhava, mais estrelas via. Elas eram um conforto; sua presença vigilante, uma força tranquilizadora. Mas nem sempre tinha sido assim. Ficou parado contemplando-as, lembrando-se de um tempo em que ver tantas estrelas significava algo totalmente diferente.
VINTE E CINCO
Passaram a noite em Hunt, dormindo no chão ao lado da carroça, e chegaram à Cidade Mística na segunda tarde. A cidade era um posto avançado precário; uma pequena rua principal com apenas algumas casas, uma mercearia e um prédio do governo que servia para tudo, desde correio até cadeia. Passaram direto e seguiram o rio em direção ao oeste, através de um túnel de folhagens densas. Pim nunca havia estado nos distritos; tudo o que via parecia fasciná-la. Olhe as árvores, sinalizou para o bebê. Olhe o rio. Olhe o mundo.
O dia havia começado a se esvair quando chegaram à propriedade. A casa ficava numa colina voltada para o rio Guadalupe, com um cercado para os cavalos, campos de solo escuro no meio e uma privada nos fundos. Caleb desceu da carroça e estendeu as mãos para pegar Theo, que estava dormindo num cesto.
– O que acha?
Desde o nascimento de Theo, Caleb tinha se habituado a falar e ao mesmo tempo fazer os sinais quando o menino estava presente. Se não houvesse mais ninguém por perto, ele cresceria pensando que falar e sinalizar não eram coisas diferentes.
Você fez tudo isso?
– Bom, tive ajuda.
Mostre o resto.
Ele a levou para dentro. Havia dois cômodos no andar principal, com janelas de vidro de verdade e uma cozinha com fogão e uma bomba, além de uma escada que levava a um jirau onde os três dormiriam. O piso, feito de tábuas de carvalho serradas, era sólido.
– No verão vai ser quente demais para dormir dentro, mas posso construir uma varanda para dormirmos nos fundos.
Pim estava sorrindo; parecia incapaz de acreditar nos próprios olhos.
Quando você vai ter tempo para isso?
– Vou fazer, não se preocupe.
Descarregaram material para uma noite. Em alguns dias Caleb precisaria voltar à cidade, uma viagem de cerca de 13 quilômetros, para começar a criação de animais: uma vaca leiteira, uma ou duas cabras, galinhas. As sementes estavam prontas para serem plantadas; o solo tinha sido revolvido. Plantariam milho e feijão em fileiras alternadas, com uma horta nos fundos. O primeiro ano seria uma corrida contra o tempo. Depois disso ele esperava que as coisas se estabelecessem num ritmo mais previsível, mas a vida jamais seria fácil, de jeito nenhum.
Comeram um jantar simples e se deitaram no colchão que ele havia trazido da carroça para o piso da sala. Imaginou se Pim ficaria com medo ou pelo menos ansiosa por estarem ali, só os três. Ela nunca havia passado uma noite fora dos muros da cidade. Mas o oposto pareceu ser verdadeiro; ela parecia estar completamente à vontade, ansiosa para ver como a situação iria se desdobrar. Claro, havia um motivo. As coisas acontecidas com ela na infância tinham se tornado uma fonte de força.
Pim havia se esgueirado lentamente para a vida dele. No início, quando Sara a trouxera do orfanato para casa, ela mal parecia uma pessoa, para Caleb. Seus gestos bruscos e os gemidos guturais o irritavam. A gentileza mais simples era recebida com incompreensão, até mesmo raiva. A situação começou a mudar quando Sara ensinou a linguagem de sinais a Pim. Elas passaram por isso improvisando, a princípio soletrando cada palavra, depois avançando para frases e ideias inteiras que podiam ser capturadas com um único gesto da mão. Um livro da biblioteca tinha sido usado, mas depois, quando Kate o deu a Caleb para estudar, ele percebeu que muitos gestos que Pim usava eram inventados: uma bolha de linguagem particular que só ela e a mãe – e, até certo ponto, Kate e Hollis – compartilhavam. Nesse ponto Caleb estava com 14 ou 15 anos. Era um garoto inteligente, desacostumado com problemas que não pudesse solucionar. Além disso, Pim tinha começado a parecer interessante para ele. Que tipo de pessoa ela era? O fato de não poder se comunicar com ela como fazia com todo mundo era ao mesmo tempo frustrante e atraente. Ele fez questão de observar atentamente a interação de Pim com os membros da família, para codificar esses gestos na memória. Sozinho no quarto, treinava durante horas na frente do espelho, sinalizando os dois lados de diálogos sobre assuntos aleatórios. Como você está hoje? Muito bem, obrigado. O que acha do tempo? Gosto da chuva, mas estou ansioso por dias mais quentes.
Tornou-se importante que ele adiasse a revelação de suas novas capacidades até adquirir confiança para abordar uma variedade de assuntos com ela. A oportunidade se apresentou numa tarde de passeio que as duas famílias fizeram juntas ao vertedouro. Enquanto todo mundo desfrutava do piquenique junto da água, ele havia subido ao topo da represa. Ali, viu Pim sentada no concreto, escrevendo em seu diário. Ela vivia escrevendo; Caleb tinha pensado nisso. Ela levantou a cabeça enquanto ele se aproximava, os olhos escuros estreitando-se em direção a ele daquele jeito intenso, depois desviou o olhar, como se não desse importância. Caleb ficou parado um momento, observando. Ela era três anos mais velha do que ele, basicamente uma adulta aos seus olhos. Também tinha ficado muito bonita, se bem que de um jeito simples, que parecia condescendente e até mesmo um pouco gelado.
Sua presença obviamente não era bem-vinda, mas era tarde demais para recuar. Caleb foi até ela. Ela o olhou com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, numa expressão que era ao mesmo tempo de diversão e tédio.
Olá, sinalizou ele.
Ela fechou o caderno em volta do lápis.
Você quer me beijar, não é?
A pergunta foi tão inesperadamente direta que ele levou um susto. Queria? Era disso que se tratava? Agora ela estava mesmo rindo dele – rindo com os olhos.
Sei que você sabe o que estou dizendo, sinalizou ela.
Ele encontrou a resposta com as mãos.
Eu aprendi.
Para mim ou para você?
Ele se sentiu apanhado.
Para os dois.
Já beijou alguém?
Ele não tinha beijado. Era algo que pretendia conseguir. Sabia que estava ficando vermelho.
Algumas vezes.
Não, não beijou. As mãos não mentem.
Ele reconheceu a verdade disso. Com todos os seus estudos e treinos, não tinha percebido o fato óbvio, que Pim desnudou em apenas alguns segundos: a linguagem dos sinais era uma linguagem de sinceridade completa. Em sua retórica compacta restava pouco espaço para a evasão, para as meias verdades protetoras que representavam a maior parte do que as pessoas diziam umas às outras.
Você quer?
Ela se levantou e o encarou.
Tudo bem.
E os dois se beijaram. Ele fechou os olhos, pensando que era algo que deveria fazer, virou a cabeça ligeiramente de lado e se inclinou para a frente. Os narizes dos dois bateram, depois passaram um pelo outro, os lábios se encontrando numa colisão macia. Acabou antes que ele percebesse.
Gostou?
Caleb mal acreditou que aquilo estivesse acontecendo. Soletrou a resposta.
Muito.
Desta vez abra a boca.
Foi melhor ainda. Uma pressão macia entrou em sua boca e ele percebeu que era a língua dela. Acompanhou sua deixa; agora estavam se beijando de verdade. Ele sempre havia imaginado que o ato fosse um simples roçar de superfícies, lábios contra lábios, mas agora entendia que beijar era muito mais complexo. Era mais uma mistura do que um toque. Fizeram isso durante um tempo, explorando a boca um do outro, e então ela recuou, indicando que os beijos tinham terminado. Caleb desejou que não fosse assim; poderia fazer aquilo por muito mais tempo. Então entendeu a natureza da interrupção. Sara os estava chamando de baixo da represa.
Pim sorriu para ele.
Você beija bem.
E foi só, pelo menos por um período. No devido tempo se beijaram de novo e também fizeram outras coisas, mas não foi muito, e outras garotas surgiram. Mas aquele dia tão fugaz na represa permaneceu em sua mente como um momento singular em sua vida. Quando entrou para o exército, aos 18 anos, seu comandante disse que ele deveria ter alguém a quem escrever. Escolheu Pim. Suas cartas eram cheias de bobagens alegres, reclamações sobre a comida e histórias despreocupadas sobre os amigos, mas as dela eram diferentes de tudo o que ele já havia lido, ricamente observadoras e cheias de vida. Às vezes pareciam poesia. Uma única frase, até mesmo descrevendo alguma coisa trivial – a aparência do sol nas folhas, uma observação superficial de um conhecido, o cheiro da comida sendo feita –, agarrava sua mente e ficava ali durante dias. Diferentemente da linguagem de sinais, com seu jeito compacto e inequívoco, as palavras de Pim no papel pareciam transbordar de sentimento – uma verdade mais rica, mais perto do coração dela. Caleb escrevia a Pim com o máximo de frequência possível, faminto por mais coisas dela. Era a voz dela que ele escutava – finalmente escutava –, e não se passou muito tempo até que começou a se apaixonar. Quando disse isso, não numa carta, mas pessoalmente, de volta a Kerrville numa licença de três dias, ela gargalhou com os olhos, depois sinalizou:
Quando você finalmente deduziu?
Caleb caiu no sono com essas lembranças. Algum tempo depois acordou e descobriu que ela não estava ali. Não se preocupou; Pim era uma espécie de ave noturna. Theo continuava dormindo. Caleb vestiu a calça, acendeu o lampião, pegou o fuzil perto da porta e saiu. Pim estava sentada com as costas apoiadas na tora que ele usava para rachar lenha.
Tudo bem?
Apague a luz, sinalizou ela. Venha se sentar.
Ela só estava usando a camisola, apesar de estar frio; tinha os pés descalços. Ele sentou a seu lado e apagou o lampião. No escuro, os dois possuíam um sistema. Ela segurava sua mão e escrevia com o dedo, bem pequeno, em sua palma.
Olhe.
O quê?
Tudo.
Ele sabia o que ela estava dizendo nas entrelinhas. Isso é nosso.
Gosto daqui.
Fico feliz.
Caleb detectou movimento no mato. O som veio de novo, um farfalhar de capim à esquerda. Não era um guaxinim ou um gambá – era algo maior.
Pim sentiu seu alerta súbito.
O quê?
Espere.
Ele acendeu o lampião de novo, lançando uma poça de luz no chão. Agora o farfalhar vinha de vários lugares, se bem que, em termos gerais, da mesma direção. Posicionou o fuzil embaixo do braço e o firmou com o cotovelo. Segurando o lampião numa das mãos, o fuzil na outra, esgueirou-se adiante, na direção dos sons.
A luz captou alguma coisa: um clarão de olhos.
Era um cervo jovem. Ele se imobilizou na luz, encarando-o. Caleb viu os outros, seis no total. Por um momento nada se mexeu, homem e cervos encarando-se com perplexidade mútua. Então, como se guiado por uma mente comum, o rebanho se virou num movimento único e partiu em disparada.
O que ele poderia fazer? O que Caleb Jaxon poderia fazer, além de gargalhar?
VINTE E SEIS
– Certo, Rand, experimente agora.
Michael estava deitado de costas, enfiado no espaço estreito entre o piso e a base do compressor. Ouviu a válvula se abrir; o gás começou a circular pela tubulação.
– O que diz aí?
– Parece que está aguentando.
Não ouse vazar, pensou Michael. Dediquei metade da manhã a você.
– Não. A pressão está baixando.
– Droga!
Tinha verificado cada lacre em que podia pensar. De onde vinha o gás?
– Para o diabo! Feche.
Michael saiu contorcendo-se. Estavam no nível mais baixo da casa de máquinas. Da passarela acima vinham os sons de metal batendo em metal, o sibilar estalado de soldadores de arco voltaico, homens gritando uns com os outros, tudo isso amplificado pela acústica do compartimento do motor. Fazia 48 horas que Michael não via o sol.
– Alguma ideia? – perguntou a Rand.
O sujeito estava de pé com as mãos nos bolsos da calça. Havia nele algo de equino. Tinha olhos pequenos, que pareciam delicados no rosto forte, e cabelos pretos e ondulados que, apesar da idade – em algum ponto acima dos 45 anos –, não mostravam mais do que alguns fios dispersos de grisalho. O calmo e confiável Rand. Nunca tinha falado sobre uma esposa ou namorada; nunca visitava as prostitutas de Dunk. Michael nunca o havia pressionado, já que a questão não tinha a menor importância.
– Pode ser algum lugar no carregador – sugeriu Rand. – Mas é apertado.
Michael olhou para a passarela e gritou para quem pudesse ouvir:
– Cadê o Mancha?
O verdadeiro nome de Mancha era Byron Szumanski. O apelido vinha do anômalo quadrado branco em sua barba preto-carvão. Como muitos homens de Michael, tinha sido criado no orfanato. Passara algum tempo com os militares, aprendendo uma ou duas coisas sobre motores, depois trabalhara para a Autoridade Civil como mecânico. Não tinha parentes, nunca havia se casado e não professava desejo de fazer isso, não tinha maus hábitos, que Michael soubesse, não se importava com o isolamento, não falava muito, recebia ordens sem reclamar e gostava de trabalhar – em outras palavras, perfeito para os objetivos de Michael. Magro, com um 1,60 metro, passava dias inteiros em lugares da embarcação tão apertados que outro homem sequer poderia respirar dentro deles. Michael o pagava de modo igualmente escasso, mas ninguém poderia reclamar do salário. Cada centavo que Michael ganhava nos alambiques ia direto para o Bergensfjord.
Alguém apareceu lá em cima: Weir. Levantou a máscara de soldador acima da testa.
– Acho que ele está no passadiço.
– Mande alguém chamá-lo.
Enquanto Michael se curvava para sua sacola de ferramentas, Rand lhe deu um tapinha no braço.
– Temos companhia.
Michael levantou a cabeça; Dunk estava descendo a escada. Michael precisava do sujeito, assim como Dunk precisava dele, mas o relacionamento não era fácil. Desnecessário dizer, o chefão do comércio não sabia nada sobre o verdadeiro objetivo de Michael. Dunk considerava o Bergensfjord uma distração excêntrica, um passatempo elaborado em que Michael desperdiçava seu tempo – que seria mais bem usado colocando dinheiro nos bolsos de Dunk. O fato de ele jamais ter se incomodado em perguntar por que Michael precisava fazer um cargueiro de 600 pés funcionar era apenas mais uma prova de sua inteligência limitada.
– Fantástico – disse Michael.
– Quer que eu chame alguns caras? Ele parece puto da vida.
– Como você sabe?
Rand se afastou. Na base da escada, Dunk parou, pôs as mãos no quadril e examinou o lugar com ar de irritação e cansaço. As tatuagens em seu rosto terminavam abruptamente na antiga linha dos cabelos. Uma vida inteira de dificuldades havia lhe feito poucos favores na questão da idade, mas ele ainda parecia um tanque de guerra. Para se divertir, gostava de levantar uma picape pelo para-choque.
– O que posso fazer por você, Dunk?
Ele tinha um modo de sorrir que fazia Michael pensar em uma rolha numa garrafa.
– Eu realmente deveria descer aqui mais vezes. Não consigo identificar metade dessas coisas. Veja só aquilo ali.
Ele balançou um dedo carnudo, grosso como uma salsicha, apontando.
– Bombas tipo sapo – falou Michael.
– O que elas fazem?
O dia estava indo embora sem muito trabalho feito; agora ele ainda precisava lidar com isso.
– É meio técnico. Não é coisa para você.
– Por que estou aqui, Michael?
Jogos de adivinhação, como se eles tivessem 5 anos.
– Um interesse súbito pelo conserto de navios?
Os olhos de Dunk endureceram enquanto fitavam o rosto de Michael.
– Estou aqui, Michael, porque você não está cumprindo com suas obrigações. Mística está abrindo para assentamento. Isso significa demanda. Preciso da caldeira nova funcionando. Não mais tarde. Hoje.
Michael dirigiu a própria voz para a passarela.
– Alguém já achou o Mancha?
– Estamos procurando!
Ele se virou para Dunk outra vez. O sujeito era um boi. Deveria estar preso a um arado.
– No momento estou meio ocupado.
– Deixe-me lembrá-lo dos termos. Você faz sua magia com os alambiques, eu lhe dou dez por cento dos lucros. Não é difícil lembrar.
Michael gritou de novo para a passarela.
– Se fosse para hoje seria bom!
Quando deu por si, Michael estava sendo jogado contra uma antepara, com o antebraço de Dunk apertando sua garganta.
– Tenho sua atenção agora?
O nariz largo e esburacado do sujeito estava a centímetros do de Michael; seu hálito era azedo feito vinho velho.
– Calma, amigo. Não precisamos fazer isso na frente das crianças.
– Você trabalha para mim, droga!
– Se eu pudesse dizer alguma coisa, seria que partir meu pescoço lhe daria uma boa sensação nesse momento, mas não iria lhe render mais alc.
– Tudo bem, Michael?
Rand estava atrás de Dunk com outros dois homens, Fastau e Weir. Rand estava segurando uma chave inglesa comprida; os outros dois tinham tubos de ferro. Seguravam esses implementos de um modo descuidado, como se apenas os tivessem apanhado no processo do trabalho.
– Foi só um pequeno desentendimento – respondeu Michael. – Que tal, Dunk? Não precisamos ter um problema aqui. Você tem minha atenção, garanto.
O braço de Dunk apertou mais seu pescoço.
– Foda-se.
Michael olhou para Weir e Fastau por cima do ombro de Dunk.
– Vocês dois, vão olhar o alambique, vejam qual é a situação e me informem. Entendido?
Em seguida voltou a atenção para Dunk.
– Está resolvido. Estou ouvindo você, alto e claro.
– Vinte anos. Já estou cheio do seu papo furado. Desse... seu passatempo.
– Entendo completamente seus sentimentos. Falei sem pensar. Caldeiras novas prontas e funcionando, sem problema.
Dunk continuou olhando para ele, irritado. Era difícil dizer como as coisas iriam ficar. Por fim, empurrando Michael com força uma última vez contra a antepara, Dunk recuou. Virou-se para os homens de Michael e cravou os olhos neles.
– Vocês três deveriam ter mais cuidado.
Michael conteve a tosse até Dunk sair de vista.
– Meu Deus, Michael – foi dizendo Rand encarando-o.
– Ah, ele só está tendo um dia ruim. Vai esfriar. Vocês dois, voltem ao serviço. Rand, você fica comigo.
Weir franziu a testa.
– Não quer que a gente vá para os alambiques?
– Não, não quero. Vou dar uma olhada neles depois.
Eles se afastaram.
– Você não deveria provocar o sujeito assim – alertou-o Rand.
Michael fez uma pausa para tossir de novo. Sentia-se meio idiota, mas por outro lado a coisa toda tinha sido estranhamente gratificante. Era bom quando as pessoas eram elas mesmas.
– Viu o Greer por aí?
– Ele pegou uma lancha e subiu pelo canal hoje cedo.
Então era dia de alimentação. Michael sempre ficava preocupado – Amy ainda tentava matar Greer todas as vezes –, mas o sujeito aceitava isso bem. A não ser por Rand, que estava com eles desde o início, nenhum dos homens de Michael sabia sobre essa parte das coisas: Amy, Carter, o Chevron Mariner, os garrafões de sangue que Greer entregava a cada sessenta dias.
Rand olhou em volta.
– Quanto tempo você acha que a gente tem antes que os virais retornem? – perguntou baixinho. – Já deve estar perto.
Michael deu de ombros em resposta.
– Não é que eu não seja grato. Todos nós somos. Mas as pessoas querem estar preparadas.
– Se elas fizerem a porcaria do serviço, vamos sair muito antes que isso aconteça.
Michael pendurou a sacola de ferramentas no ombro.
– E, por favor, alguém ache o Mancha. Não quero esperar a manhã inteira.
Era noite quando Michael finalmente saiu das entranhas do navio. Seus joelhos o estavam matando; tinha dado um jeito no pescoço também. E não encontrara o vazamento.
Mas encontraria; sempre encontrava. Encontraria esse e quaisquer outros vazamentos ou rebites enferrujados ou fios esgarçados nos quilômetros de cabos, fios e tubos do Bergensfjord, e logo, em questão de meses, carregariam as baterias e testariam os motores e, se tudo corresse como deveria, estariam prontos. Michael gostava de imaginar esse dia. As bombas funcionando, água jorrando na doca, a parede de contenção se abrindo e o Bergensfjord, todas as suas 20 mil toneladas, deslizando graciosamente dos suportes para o mar.
Por duas décadas Michael havia pensado em pouca coisa além disso. O comércio tinha sido ideia de Greer – na verdade um lance de gênio. Eles precisavam de dinheiro, muito dinheiro. O que tinham para vender? Um mês depois de ter mostrado a Lucius o jornal do Bergensfjord, Michael se viu na sala dos fundos do salão de jogos conhecido como Casa do Primo, sentado diante de Dunk Withers, do outro lado da mesa. Michael sabia que ele era um sujeito de temperamento extraordinário, sem qualquer consciência, impelido apenas pelas preocupações mais utilitárias; a vida de Michael não significava nada para ele, porque a de ninguém significava. Mas a reputação de Michael o precedia, e ele tinha feito o dever de casa. Os portões iriam se abrir; as pessoas iriam jorrar para os distritos. As oportunidades eram muitas, observou Michael, mas será que o comércio tinha capacidade para enfrentar uma demanda que crescia rapidamente? O que Dunk diria se Michael lhe dissesse que poderia triplicar – não, quadruplicar – seus lucros? Que também poderia garantir um fluxo ininterrupto de munição? Mais ainda: e se Michael soubesse de um lugar onde o comércio poderia operar em segurança total, fora do alcance dos militares ou da Autoridade Doméstica, mas com acesso rápido a Kerrville e aos distritos? Que, resumindo, poderia tornar Dunk Withers mais rico do que ele poderia imaginar?
Assim nasceu o istmo.
Um bocado de tempo foi desperdiçado no início. Antes que Michael pudesse apertar um único parafuso no Bergensfjord, precisava ganhar a confiança do sujeito. Durante três anos supervisionou a construção dos enormes alambiques que tornariam Dunk Withers uma lenda. Michael não deixava de perceber os custos. Quantas brigas deixariam um homem ensanguentado e sem dentes, quantos corpos seriam jogados em becos, quantas mulheres e crianças seriam espancadas ou mesmo mortas por causa do veneno mental que ele fornecia? Tentava não pensar nisso. Tudo o que importava era o Bergensfjord; era um preço que o navio exigia, pago em sangue.
No caminho, foi estabelecendo as bases para seu verdadeiro empreendimento. Começou com a refinaria. Indagações cautelosas: quem parecia entediado? Insatisfeito? Inquieto? Rand Horgan foi o primeiro; ele e Michael tinham trabalhado juntos com petróleo durante anos. Outros vieram em seguida, recrutados em todo canto. Greer saía durante alguns dias e voltava com um homem num jipe, trazendo apenas uma sacola de lona e a promessa de ficar no istmo durante cinco anos em troca de um pagamento tão ultrajante que iria deixá-lo preso até o fim da vida. Os números se acumularam; logo tinham 54 almas duras sem nada a perder. Michael notou um padrão. O dinheiro era algo que induzia, mas o que aqueles homens buscavam de verdade era algo intangível. Muitas pessoas passavam pela vida sem um sentimento de propósito. Cada dia parecia igual ao anterior, desprovido de significado. Quando revelava o Bergensfjord para cada novo recruta, Michael via uma mudança no olhar de todos eles. Ali estava uma coisa fora do âmbito dos dias comuns, algo anterior à época da diminuição da humanidade. Era o passado que Michael estava dando àqueles homens e, junto com isso, o futuro. Vamos consertar isso de verdade?, perguntavam sempre. “Isso”, não, corrigia Michael. “Ele.” E não, não vamos consertar. Vamos acordá-lo.
Nem sempre funcionava. A regra de Michael era a seguinte: na marca dos três anos, assim que tivesse certeza da lealdade do sujeito, levava-o a uma cabana isolada, fazia-o sentar-se numa cadeira e lhe dava a má notícia. A maioria recebia bem: um momento de incredulidade, um breve período barganhando com o cosmo, pedidos de provas que Michael se recusava a oferecer, a resistência finalmente cedendo à aceitação e, por fim, uma gratidão junto com a melancolia. Afinal de contas, eles estariam entre os vivos. Quanto aos que não duravam três anos ou fracassavam no teste da cabana... azar. Era Greer que cuidava disso; Michael ficava longe. Estavam cercados por água, na qual a pessoa poderia desaparecer discretamente. Depois seu nome jamais era mencionado.
Foram necessários dois anos para consertar a doca, mais dois para bombear água para fora do casco e fazê-lo flutuar de novo, mais um para trazê-lo para dentro do dique. O dia em que puseram o casco nos suportes, lacraram as portas e drenaram a água da doca foi o mais angustiante da vida de Michael. Os suportes aguentariam ou não, e não haveria uma segunda chance. Enquanto uma camada de luz do dia aparecia entre a água que recuava e o fundo do casco, seus homens irromperam em gritos de comemoração, mas as emoções de Michael eram diferentes. Ele não estava empolgado, e sim com um sentimento de destino. Sozinho, desceu a escada até o fundo da doca. Os gritos tinham parado; todo mundo o observava. Com a água empoçada na altura dos tornozelos, foi cautelosamente na direção do navio, como se estivesse se aproximando de uma grande relíquia sagrada. Fora da água ele havia se tornado uma coisa nova. O simples tamanho, seu volume indomável... era estarrecedor. A curvatura do casco abaixo da linha d’água tinha uma suavidade quase feminina; da proa se projetava uma forma bulbosa, como um nariz ou a frente de uma bala. Ele andou embaixo do casco; agora todo o peso do navio estava acima dele, uma montanha suspensa sobre sua cabeça. Estendeu a mão e a encostou no casco. Estava frio; uma sensação de zumbido encontrou as pontas dos seus dedos. Era como se o navio estivesse respirando, como se fosse algo vivo. Uma certeza profunda fluiu para suas veias: ali estava sua missão. Todas as outras possibilidades de sua vida foram embora; até o dia em que morresse, não teria outro objetivo além daquele.
A não ser para velejar no Nautilus, Michael não tinha saído do istmo nem uma vez. Era uma demonstração de solidariedade politicamente sensata, mas no coração ele sabia qual era o motivo verdadeiro. Seu lugar não era nenhum outro.
Caminhou até a proa para procurar Greer. Soprava um vento úmido de março. O istmo, parte de um antigo complexo de estaleiros, se projetava no canal cerca de 400 metros ao sul de sua ponte. A 100 metros o Nautilus estava ancorado. Seu casco continuava firme; a vela, perfeita. Vê-lo fez Michael sentir-se desleal; fazia meses que não velejava. O Nautilus era o precursor; se o Bergensfjord era sua esposa, o Nautilus era a garota que o ensinara a amar.
Ouviu a lancha antes de vê-la, agitando a água sob a ponte do canal à luz prateada. Desceu até o cais de serviço enquanto Greer guiava o barco para perto. Ele jogou um cabo para Michael.
– Como foi?
Greer amarrou a popa, entregou seu fuzil a Michael e subiu ao cais. Com pouco mais de 70 anos, tinha envelhecido como os touros: num minuto estavam bufando e querendo rasgá-lo; no outro você os encontrava deitados num campo, cobertos de moscas.
– Bom – disse Michael –, ela não matou você. Isso é bom.
Greer não respondeu. Michael sentiu que ele estava perturbado; a visita não tinha corrido bem.
– Lucius, ela disse alguma coisa?
– Se disse? Você sabe como isso funciona.
– Na verdade nunca soube.
Ele deu de ombros.
– É uma sensação que eu tenho. Que ela tem. Provavelmente não é nada.
Michael decidiu não pressionar.
– Há outra coisa que eu queria falar com você. Tive um pequeno entrevero com Dunk hoje.
Greer estava enrolando corda.
– Você sabe como ele é. A esta hora, amanhã, vai ter esquecido tudo.
– Acho que ele não vai deixar essa passar. Foi feio.
Greer levantou os olhos.
– Foi minha culpa – falou Michael. – Eu o irritei.
– O que aconteceu?
– Ele desceu à sala de máquinas. Veio com o papo furado de sempre sobre os alambiques. Rand e uns dois caras praticamente precisaram tirá-lo de cima de mim.
A testa de Greer se franziu.
– Isso já está passando dos limites.
– Eu sei. Ele está começando a virar um problema.
Michael fez uma pausa, depois disse:
– Talvez seja hora.
Greer ficou quieto, absorvendo.
– Já falamos sobre isso – emendou Michael.
Greer pensou por um momento, depois assentiu.
– Nas atuais circunstâncias, talvez você esteja certo.
Repassaram os nomes: com quem podiam contar, com quem não podiam, quem estava no meio do caminho e precisaria ser manobrado cuidadosamente.
– Você deveria ficar quieto por enquanto – disse Greer. – Rand e eu vamos fazer os arranjos.
– Se você acha melhor.
Os refletores tinham sido ligados, inundando o cais de luz. Michael iria trabalhar a maior parte da noite.
– Só apronte esse navio – disse Greer.
Sara levantou os olhos, sentada à sua mesa. Jenny estava parada junto à porta.
– Sara, você precisa ver uma coisa.
Sara a acompanhou, descendo para a enfermaria. Jenny puxou a cortina para mostrar.
– A segurança o encontrou num beco.
Sara demorou um momento para reconhecer o genro. Seu rosto tinha sido espancado até ficar disforme. Os dois braços estavam engessados. Elas voltaram para fora.
– Só agora vi o prontuário e percebi quem era – disse Jenny.
– Cadê a Kate?
– Está no turno da noite.
Eram quase quatro horas. Kate entraria pela porta a qualquer segundo.
– Leve-a para longe.
– O que você quer que eu diga?
Sara demorou um momento pensando.
– Mande-a ao orfanato. Eles não estão precisando de uma visita?
– Não sei.
– Descubra. Vá.
Sara entrou na enfermaria. Enquanto se aproximava, Bill virou os olhos, a expressão dizendo que tinha consciência de que seu dia iria piorar.
– Certo, o que aconteceu? – perguntou ela.
Ele virou o rosto para o outro lado.
– Estou decepcionada com você, Bill.
Ele falou por entre os lábios rachados:
– Dá pra perceber.
– Quanto você deve a eles?
Ele disse. Sara se deixou cair numa cadeira perto da cama.
– Como você pode ser tão idiota?
– Não foi assim que eu planejei.
– Você sabe que vão matá-lo. Provavelmente eu deveria deixar.
Ele começou a chorar, o que surpreendeu Sara.
– Droga, não faça isso – disse ela.
– Não consigo evitar.
Ranho escorria de seu nariz inchado.
– Eu amo Kate, amo as meninas. Sinto muito, muito mesmo.
– Lamentar não ajuda. Quanto tempo eles deram para você conseguir o dinheiro?
– Eu posso ganhar tudo de volta. Só me financie por uma noite. Não vou precisar de muito, só o suficiente para começar.
– Kate cai nesse papo furado?
– Ela não precisa saber.
– Foi uma pergunta retórica, Bill. Quanto tempo?
– O de sempre. Três dias.
– De sempre? O que isso significa? Pensando bem, não diga.
Ela se levantou.
– Você não pode contar ao Hollis. Ele vai me matar.
– E deveria mesmo.
– Desculpe, Sara. Eu fiz merda, sei disso.
Jenny apareceu meio ofegante.
– Certo, parece que ela engoliu.
Sara olhou para o relógio.
– Isso lhe dá cerca de uma hora, Bill, antes que sua mulher apareça. Sugiro que diga a verdade e implore misericórdia.
O sujeito ficou aterrorizado.
– O que você vai fazer?
– Nada que você mereça.
VINTE E SETE
Caleb estava construindo um galinheiro quando viu uma figura andando pela estrada poeirenta. Era fim de tarde; Pim e Theo estavam descansando em casa.
– Vi sua fumaça.
O homem que estava diante dele tinha um rosto agradável, marcado pelo tempo, e uma barba densa e lanosa. Usava um chapéu de palha largo e suspensórios.
– Já que vamos ser vizinhos, pensei em vir cumprimentar. Meu nome é Phil Tatum.
– Caleb Jaxon.
– Os dois apertaram as mãos.
– Nós moramos do outro lado daquele morro. Já estamos lá há um tempo, antes da maioria das pessoas. Eu e minha mulher, Dorien. Temos um filho adulto, que está começando a cuidar de um lugar próprio perto de Bandera. Você disse Jaxon?
– Isso mesmo. Ele é meu pai.
– Que coisa! O que você está fazendo aqui?
– O mesmo que todo mundo, acho. Me virando.
Caleb tirou as luvas.
– Venha conhecer minha família.
Pim estava sentada perto da lareira apagada, com Theo no colo, mostrando-lhe um livro com figuras.
– Pim – disse Caleb, sinalizando ao mesmo tempo –, este é o nosso vizinho, o Sr. Tatum.
– Como vai, Sra. Jaxon?
– Ele estava segurando o chapéu de encontro ao peito.
– Por favor, não precisa se levantar.
É um prazer conhecê-lo.
Caleb percebeu seu erro.
– Eu devia ter explicado. Minha mulher é surda. Ela disse que é um prazer conhecê-lo.
O homem assentiu.
– Eu tive uma prima assim, faleceu há um tempo. Ela aprendeu a ler lábios, um pouco, mas a coitadinha vivia num mundo próprio.
Ele levantou a voz, como muitas pessoas faziam.
– A senhora tem um menino bonito, Sra. Jaxon.
O que ele está dizendo?
Que você é linda e ele quer ir para a cama com você. Em seguida se virou para o visitante, que ainda remexia na aba do chapéu.
– Ela agradeceu, Sr. Tatum.
Não seja grosseiro. Pergunte se ele quer beber alguma coisa.
Caleb repetiu a pergunta.
– Preciso estar em casa antes do jantar, mas acho que posso me sentar um pouquinho, obrigado.
Pim encheu uma jarra com água, acrescentou fatias de limão e pôs na mesa, onde os dois homens se sentaram. Falaram de coisas triviais: o tempo, outras propriedades na área, onde Caleb poderia conseguir seus animais e a que preço. Pim tinha saído com Theo; gostava de levá-lo ao rio, onde os dois ficavam sentados em silêncio. Ficou claro para Caleb que seus vizinhos eram um tanto solitários. O filho deles tinha ido embora com uma mulher que conhecera num baile em Hunt, mal se despedindo.
– Não pude deixar de ver que sua esposa está grávida – disse Tatum.
Eles tinham acabado de beber a água, agora só estavam conversando.
– É. Para setembro.
– Tem um médico em Mística, para quando chegar a hora – informou a Caleb.
– É muita gentileza. Obrigado.
Caleb sentiu a presença de uma história triste na oferta do homem. Os vizinhos tinham tido outro filho, talvez mais de um, que não conseguira sobreviver. Isso tudo ficava no passado distante, mas não de fato.
– Muito obrigado a vocês dois – disse Tatum junto à porta. – É bom ter gente jovem por perto.
Naquela noite Caleb repassou a conversa com Pim. Ela estava dando banho em Theo na pia. A princípio o menino havia se agitado, mas agora estava gostando, batendo na água com as mãos.
Eu deveria visitar a mulher dele, sinalizou Pim.
Quer que eu vá junto? Ele queria dizer que era para traduzir.
Ela o olhou como se ele tivesse perdido a cabeça.
Não seja bobo.
Essa conversa permaneceu com ele durante vários dias. De algum modo, em todo o seu planejamento, Caleb não tinha considerado que precisariam ter outras pessoas na vida. Em parte, isso se devia ao fato de que, com Pim, ele compartilhava uma riqueza particular que fazia com que os outros relacionamentos parecessem triviais. Além disso ele não era uma pessoa naturalmente social; preferia os próprios pensamentos à maioria das interações humanas.
Era verdade, também, que o mundo de Pim era mais limitado do que o da maioria das pessoas. Para além de sua família, esse mundo se confinava a um pequeno grupo que, se não soubesse a linguagem dos sinais, podia intuir o que ela queria dizer. Ela ficava frequentemente sozinha, o que não parecia incomodá-la, e preenchia boa parte desse tempo escrevendo. Caleb havia espiado os diários dela algumas vezes no correr dos anos, incapaz de resistir a esse pequeno crime; como as cartas, suas anotações eram escritas de um modo maravilhoso. Mesmo que às vezes expressassem dúvidas ou preocupações sobre vários assuntos, em geral comunicavam uma visão otimista da vida. Além disso continham vários esboços, ainda que ele jamais a tivesse visto desenhar. A maior parte representava cenas familiares. Havia muitos desenhos de pássaros e outros animais, além de rostos de pessoas que ela conhecia, mas nenhum desenho dele. Caleb imaginava por que ela nunca tinha deixado que ele os visse, por que desenhava em segredo. Os melhores eram as cenas marinhas – notáveis, porque Pim nunca tinha visto o oceano.
Mesmo assim ela desejaria ter amigos. Dois dias depois da visita de Phil, Pim perguntou se Caleb se incomodaria em vigiar Theo durante algumas horas; ela queria visitar a família Tatum e planejava levar um pão de milho. Caleb passou a tarde trabalhando na horta enquanto Theo cochilava num cesto. Ele começou a se preocupar à medida que o dia ia terminando, mas logo antes do escurecer Pim voltou muito animada. Quando Caleb perguntou como tinha conseguido manter uma conversa durante quase cinco horas, Pim sorriu.
Com as mulheres isso não importa, sinalizou. Nós sempre nos entendemos muito bem.
Na manhã seguinte Caleb foi de carroça à cidade para pegar suprimentos e ferrar um dos cavalos, o grande capão preto que chamavam de Bonito. Pim também tinha escrito uma carta para Kate e pediu que ele a postasse. Além de cumprir essas tarefas, a ida à cidade também seria boa porque ele queria estabelecer contato com mais pessoas da área. E poderia perguntar aos homens sobre suas esposas, na esperança de expandir o círculo de Pim, de modo que ela não se sentisse solitária.
A cidade não era encorajadora. Haviam se passado apenas algumas semanas desde que ele e Pim tinham atravessado a caminho da fazenda; na ocasião houvera pessoas circulando, mas agora o lugar parecia sem vida. O prédio da sede do município estava fechado, assim como a ferraria. Mas ele teve mais sorte na mercearia. O dono era um viúvo chamado George Pettibrew. Como muitos homens da fronteira, tinha modos taciturnos, demorava a se abrir e Caleb não conseguira saber muito sobre ele. George o acompanhou enquanto ele se movia pelo espaço apinhado, atendendo aos seus pedidos: um saco de farinha, açúcar de beterraba, um pedaço de corrente grossa, linha de costura, 30 metros de tela de galinheiro, um saco de pregos, banha, fubá, sal, óleo para os lampiões e 20 quilos de ração.
– Também queria comprar um pouco de munição – disse Caleb, enquanto George fazia a soma no balcão. – Trinta ponto cinco.
O homem fez uma expressão estranha: você e todo mundo. E continuou a anotar números com um toco de lápis.
– Posso lhe dar seis.
– Quantas em cada caixa?
– Não estou falando de caixas. Balas.
Pareceu uma piada.
– Só isso? Desde quando?
George apontou o polegar por cima do ombro. Grudado na parede havia um cartaz.
100 AUSTINS DE RECOMPENSA
LEÃO DA MONTANHA
APRESENTAR CARCAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HUNT PARA RECEBER.
– O pessoal me deixou limpo. Não que eu tivesse muita, para começo de conversa. Hoje em dia a munição está escassa. Vendo a você por 1 austin cada.
– Isso é ridículo.
George deu de ombros. Negócios eram negócios; para ele era tudo igual. Caleb queria mandá-lo enfiar as balas em algum lugar, mas por outro lado um leão da montanha não era brincadeira. Desenrolou as notas.
– Pense nisso como um investimento – disse George, depositando o dinheiro em sua caixa com cadeado. – Se você ganhar aquele dinheiro, esse aqui não vai parecer grande coisa, não é?
Tudo foi para a carroça. Caleb examinou a rua vazia. Estava mesmo muito quieta para o meio do dia. Achou isso um tanto irritante, mas ficou decepcionado principalmente porque voltaria da visita com tão pouca coisa para mostrar.
Já ia sair da cidade quando se lembrou do médico sobre o qual Tatum havia falado. Seria bom se apresentar. O nome dele era Elacqua. Segundo Tatum, ele já havia trabalhado no hospital de Kerrville e tinha ido para os distritos. Não havia muitas casas, foi fácil achar a do médico: uma pequena estrutura de madeira, pintada de amarelo alegre, com uma placa que dizia BRIAN ELACQUA, MÉDICO pendurada na varanda. Uma caminhonete com para-choques enferrujados estava parada no pátio. Caleb amarrou os cavalos e bateu. Um olho único espiou pela cortina na janelinha da porta.
– O que você quer?
A voz era alta e quase hostil.
– O senhor é o Dr. Elacqua?
– Quem está perguntando?
Caleb se arrependeu de ter ido; obviamente havia algo errado com o sujeito. Pensou que ele podia estar bêbado.
– Meu nome é Caleb Jaxon. Phil Tatum é meu vizinho, ele disse que o senhor era o médico da cidade.
– Você está doente?
– Só queria dizer olá. Nós somos novos aqui. Minha esposa está grávida. Tudo bem, posso voltar mais tarde.
Mas enquanto Caleb descia da varanda a porta se abriu.
– Jaxon?
– Isso mesmo.
O médico tinha uma aparência negligente, era grosso na cintura, com uma juba de cabelos brancos e barba combinando.
– É melhor você entrar.
Sua esposa, uma mulher nervosa com um vestido amorfo, de usar em casa, serviu um pouco de chá de gosto ruim na sala. Não foi dada nenhuma explicação para o comportamento de Elacqua à porta. Talvez fosse assim que as coisas fossem feitas por aqui, pensou Caleb.
– Com quantos meses está sua mulher? – perguntou Elacqua, depois de terem ultrapassado as formalidades.
Caleb notou que ele havia colocado alguma coisa em seu chá, algo tirado de um frasco de bolso.
– Uns quatro meses – falou Caleb e percebeu uma abertura para conversarem mais. – Minha sogra é Sara Wilson. Talvez o senhor a conheça.
– Se conheço? Eu a treinei. Mas achei que a filha dela trabalhasse no hospital.
– Essa é a Kate. Minha mulher é Pim.
Ele pensou por um momento.
– Não me lembro de ninguém chamado Pim. Ah, a muda.
Ele balançou a cabeça, triste.
– Coitadinha. Bondade sua, casar com ela.
Caleb já tinha ouvido declarações duras como essa.
– Tenho certeza de que ela acha o contrário.
– Por outro lado, quem não desejaria uma mulher que não consegue falar? Eu mal consigo juntar dois pensamentos aqui.
Caleb apenas olhou para ele.
– Bom – disse Elacqua, depois pigarreou. – Posso fazer uma visita, se ela quiser, só para ver como vão as coisas.
Junto à porta, Caleb se lembrou da carta de Pim. Perguntou se Elacqua se incomodaria em postá-la para ele quando o correio abrisse.
– Posso tentar. Aquelas pessoas nunca estão por lá.
– Eu estava pensando nisso. A cidade parece meio vazia.
– Eu não tinha notado.
Ele franziu a testa, em dúvida.
– Acho que pode ser o leão da montanha. Isso acontece por aqui.
– Alguém já foi atacado?
– Não que eu saiba. Só animais. Com a recompensa, um monte de gente está procurando. É idiotice, se quer saber. Essas coisas são malignas.
Caleb saiu da cidade. Pelo menos tinha tentado postar a carta. Quanto a Elacqua, duvidava seriamente que Pim desejaria alguma coisa dele. O leão da montanha não o preocupava muito. Era simplesmente o preço a pagar pela vida na fronteira. Mesmo assim diria para Pim não levar Theo ao rio durante um tempo. Os dois deveriam ficar perto de casa até que a questão fosse resolvida.
Jantaram e foram para a cama. A chuva estava caindo, fazendo um som pacífico no telhado. No meio da noite Caleb acordou com um grito agudo. Durante um segundo aterrorizante achou que alguma coisa teria acontecido com Theo, mas então o som veio de novo, lá de fora. Era medo que ele estava ouvindo – medo e dor mortal. Um animal estava morrendo.
De manhã, procurou no mato atrás de casa. Chegou a uma área de galhos quebrados; tufos de pelos curtos e rígidos, grudados com sangue, estavam espalhados no chão. Pensou que podia ser um guaxinim. Examinou a área procurando rastros, mas a chuva os havia apagado.
No dia seguinte, atravessou o morro até a propriedade de Tatum. A sede deles era muito maior do que a de Jaxon, com um celeiro de bom tamanho e uma casa com teto de metal. Havia caixas de centáureas azuis embaixo das janelas da frente. Dorien Tatum o recebeu à porta. Era uma mulher de bochechas gordas com cabelos grisalhos presos num coque; ela indicou a extremidade oposta da propriedade, onde o marido estava limpando o mato.
– Um leão da montanha, é?
Phil tirou o chapéu para enxugar a testa por causa do calor.
– É o que dizem na cidade.
– Já tivemos disso antes. Mas foi há muito tempo, acho. Eles são uns malditos filhos da puta.
– Foi o que pensei. Provavelmente não é nada.
– Mas vou ficar de olho. Agradeça à sua mulher pelo pão de milho, viu? Dolly gostou mesmo da visita dela. As duas ficaram escrevendo mensagens uma para a outra durante horas.
Caleb fez menção de sair, e parou.
– Como costuma ser na cidade?
Tatum estava tomando água de um cantil.
– Como assim?
– Bom, o lugar estava muito quieto. Pareceu estranho, no meio do dia.
Agora que tinha falado, ele se sentiu meio bobo.
– A sede do município estava fechada, a ferraria também. Eu queria ferrar um cavalo.
– Em geral as pessoas estão por lá. Talvez Juno tenha ficado doente.
Juno Brand era o ferreiro.
– Talvez seja isso.
Phil sorriu por entre a barba.
– Volte daqui a um ou dois dias. Aposto que você vai encontrá-lo. Mas se estiver precisando de alguma coisa, avise a gente.
Caleb tinha decidido não contar a Pim sobre o que tinha encontrado no mato; não parecia haver motivo para assustá-la, e um guaxinim morto não queria dizer nada. Mas naquela noite, enquanto guardavam os pratos, repetiu o pedido de que ela e Theo ficassem perto de casa.
Você se preocupa demais, sinalizou ela.
Desculpe.
Não precisa. Ela se virou junto à pia para surpreendê-lo com um beijo demorado. É um dos motivos pelos quais eu te amo.
Ele balançou as sobrancelhas, bem-humorado.
Isso quer dizer o que eu estou pensando?
Deixe-me pôr o Theo para dormir antes.
Mas não havia necessidade. O menino já estava dormindo.
VINTE E OITO
Ela começou a noite, como começava todas as noites, em cima da torre de escritórios parcialmente construída na esquina da Rua 43 com a Quinta Avenida. O ar estava agitado, com uma sugestão de calor; estrelas salpicavam o céu, densas como poeira. As formas dos grandes prédios criavam no céu muralhas em silhuetas de negrume perfeito. Empire State. Rockefeller Center. O magnífico Edifício Chrysler, o predileto de Fanning, erguendo-se acima de tudo ao redor com sua graciosa coroa art déco. As horas depois da meia-noite eram aquelas de que Alicia mais gostava. O silêncio parecia mais intenso; o ar, mais puro. Sentia-se próxima do cerne das coisas, da saturação intensa de som, cheiro e textura do mundo. A noite fluía através dela, percorrendo o sangue. Ela inspirava e expirava. Uma escuridão indomável, suprema.
Cruzou a cobertura até o alto do guindaste de obra e começou a subir. Presa às vigas expostas dos andares superiores do edifício, a estrutura se erguia mais 30 metros acima do teto. Havia uma escada, mas Alicia nunca se importava com ela, já que escadas eram coisa do passado, uma característica antiquada de uma vida que ela mal recordava. A lança, com muitas dezenas de metros, estava posicionada em paralelo à face oeste do prédio. Foi pela passarela até a ponta da lança, de onde uma comprida corrente com gancho pendia no escuro. Içou-a, soltou o freio e puxou o gancho para trás. No ponto onde a lança encontrava o mastro havia uma pequena plataforma. Pôs o gancho ali, voltou à ponta e travou de novo o freio da corrente. Então voltou à plataforma. Uma ansiedade aguda a preenchia, como uma fome a ponto de ser saciada. De pé, ereta, com a cabeça erguida, segurou o gancho com as mãos.
E saltou.
Mergulhou para baixo e para longe. O truque era soltar o gancho no momento exato, quando sua velocidade e o ímpeto para cima estivessem em equilíbrio perfeito. Isso ocorreria ligeiramente a dois terços do lado de trás do arco do gancho. Passou pela parte mais baixa, ainda acelerando. Seu corpo, seus sentidos, seus pensamentos – tudo estava afinado com a velocidade e o espaço.
Soltou o gancho. Seu corpo girou, ela apertou os joelhos contra o peito. Deu três cambalhotas aéreas e se desenrolou. O teto plano do outro lado da rua: esse era o alvo. Ele subiu, recebendo-a. Bem-vinda, Alicia.
Pousou.
Suas capacidades tinham se expandido. Era como se, na presença de seu criador, algum poderoso mecanismo interno tivesse se liberado completamente. Os espaços aéreos da cidade eram triviais; ela podia saltar por distâncias enormes, pousar nas lajes mais estreitas, agarrar-se às menores ranhuras. Para Alicia a gravidade era um brinquedo; ela passava sobre Manhattan como um pássaro. Nas faces de vidro dos arranha-céus sua imagem refletida mergulhava e saltava, descia e subia.
Pegou-se algum tempo depois acima da Terceira Avenida, perto da demarcação entre a terra e o mar; alguns quarteirões ao sul da Astor Place as águas invasoras começavam, borbulhando do submundo inundado da ilha. Ela desceu, fazendo pingue-pongue entre os prédios, até chegar à rua. Havia conchas quebradas por toda parte, em meio às cascas secas de algas oceânicas trazidas por tempestades. Ela se ajoelhou e encostou o ouvido no pavimento.
Eles estavam realmente se movendo.
A grade foi tirada com facilidade; ela entrou no túnel, acendeu a tocha e começou a andar para o sul. Uma fita de água escura chacoalhava aos seus pés. Os Muitos de Fanning tinham estado comendo. Seu esterco se espalhava em toda parte, fedido, ureico, assim como os restos de esqueletos de seus alimentos: camundongos, ratos, as pequenas criaturas do úmido substrato da cidade. Alguns dejetos eram frescos, no máximo teriam alguns dias.
Passou pela estação Astor Place. Agora podia sentir: o mar. Seu grande volume, sempre comprimindo, buscando aumentar o domínio, afogar o mundo com o peso frio e azul. Seu coração havia se acelerado; os pelos dos braços se eriçavam. É só água, disse a si mesma. Só água...
A antepara surgiu. Um fino borrifo de água, quase uma névoa, saltava das bordas. Foi até lá. Do outro lado, toneladas de pressão aguardavam, estáticas, contidas por um século pelo peso da porta. Fanning havia explicado a história. Todo o sistema de metrô de Manhattan ficava abaixo do nível do mar; um desastre programado para acontecer. Depois de o furacão Wilma inundar os túneis, os administradores da cidade construíram uma série de portas pesadas para segurar a água. No auge da epidemia, quando a eletricidade pifou, um mecanismo automático as lacrou. Tinham ficado assim durante mais de um século, segurando o oceano.
Não tenha medo, não tenha medo...
Ela ouviu um som raspado atrás de si. Girou, levantando a tocha. Na borda da escuridão, um par de olhos laranja reluziu. Era um macho grande mas magro, com os contonos das costelas aparecendo; estava agachado como um sapo entre os trilhos, com um rato preso na boca pelas pontas dos dentes. O rato se retorcia e guinchava, o rabo careca chicoteando.
– O que está olhando? – perguntou Alicia. – Saia daqui.
As mandíbulas se fecharam bruscamente. Um estalo de sangue voando e um som de sucção, e o viral cuspiu o saco vazio de ossos e pele no chão. O estômago de Alicia se revirou, não de náusea, e sim de fome; fazia uma semana que não comia. O viral estendeu as garras, acariciando o ar como se fosse um gato. Inclinou a cabeça. Que tipo de ser é esse?
– Vá! – insistiu ela balançando a tocha como se fosse uma lança. – Xô! Passa fora!
Um último olhar, quase carinhoso. O viral sumiu rapidamente.
Fanning já havia se preparado para o amanhecer fechando as janelas. Estava sentado à mesa de sempre na sacada acima do salão principal, lendo um livro à luz de uma vela. Seus olhos se levantaram quando ela se aproximou.
– Boa caçada?
Alicia ocupou uma cadeira.
– Não estava com fome.
– Você deveria comer.
– Você também.
A atenção dele voltou ao livro. Alicia olhou o título: A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca.
– Fui à biblioteca.
– Estou vendo.
– É uma peça muito triste. Não, não é triste. É raivosa.
Fanning deu de ombros.
– Não leio há anos. Agora parece diferente.
Ele encontrou uma determinada página, olhou para ela e levantou um dedo com ar de professor.
– Ouça.
O espírito que eu vi
Pode ser o demônio, e o demônio tem o poder
De assumir formas agradáveis; sim, e
Por minha fraqueza e minha melancolia,
Já que é poderoso com almas assim,
Talvez me tente para me condenar. Terei motivos
Mais fortes do que este. É com a peça
Que pegarei a consciência do rei.
Como Alicia não disse nada, ele levantou uma sobrancelha.
– Você não é fã?
Os humores de Fanning eram assim. Podia ficar em silêncio durante dias, pensando incessantemente, e então, sem aviso, emergia. Nos últimos tempos tinha adotado um tom de animação seca, quase presunçosa.
– Dá para ver por que você gosta.
– Talvez a palavra não seja “gosta”.
– Mas o final não faz sentido. Quem é o rei?
– Exatamente.
Cunhas de luz do sol espiavam através das cortinas, formando pálidas riscas no chão. Fanning não parecia incomodado com elas, mas sua sensibilidade era muito maior do que a dela. Para Fanning, o toque do sol era profundamente doloroso.
– Ele estão acordando, Tim. Caçando. Percorrendo os túneis.
Fanning continuou a ler.
– Está ouvindo?
Ele levantou a testa franzida.
– Bom, e daí?
– Não foi isso que combinamos.
A atenção dele tinham voltado para o livro, mas só estava fingindo ler. Ela se levantou.
– Vou ver Soldado.
Ele bocejou, mostrando as presas, e deu um sorriso de lábios pálidos.
– Vou estar aqui.
Alicia pôs os óculos, saiu para a Rua 43 e seguiu para o norte pela Avenida Madison. A primavera tinha chegado preguiçosa; apenas algumas árvores floriam e ainda havia bolsões de neve nas sombras. O estábulo ficava no lado leste do parque, na Rua 63, logo ao sul do zoológico. Tirou o cobertor de Soldado e deixou que ele saísse da baia. O parque parecia estático, como se apanhado entre as estações. Alicia sentou na pedra à beira do lago e observou o cavalo pastar. Ele havia aceitado os anos com dignidade; cansava-se mais facilmente, mas só um pouco, e ainda era forte, com o passo firme. Haviam aparecido fios brancos na cauda e na cara, mais nos tufos das patas. Ela o viu comer até se fartar, depois o encilhou e montou.
– Um pouco de exercício, garoto, o que acha?
Guiou-o pela campina, para a sombra das árvores. Veio-lhe uma lembrança do dia em que o tinha visto pela primeira vez, com toda aquela selvageria enrolada por dentro, sozinho do lado de fora dos destroços da guarnição de Kearney, esperando por ela como uma mensagem. Sou seu e você é minha. Para cada um de nós sempre haverá um. Para além das árvores ela o instigou num trote, depois a um meio-galope. À esquerda ficava o reservatório, bilhões de litros, o sangue vital do coração verde da cidade. Na transversal da Rua 97, apeou.
– Já volto.
Entrou na floresta, tirou as botas e escalou uma árvore de bom tamanho na beira da clareira. Ali, equilibrada nos calcanhares, esperou.
Finalmente seu desejo foi concedido: uma corça jovem surgiu nas pontas dos cascos, as orelhas agitando-se, o pescoço abaixado. Alicia observou o animal se aproximar. Mais perto. Mais perto.
Fanning não tinha se movido da mesa. Levantou o olhar do livro, sorriu.
– O que é isso que eu vejo?
Alicia tirou a corça dos ombros e pôs em cima do balcão. A cabeça pendia com a frouxidão da morte, a língua rosada se desenrolando da boca como uma fita.
– Eu disse: você precisa mesmo comer.
VINTE E NOVE
Os primeiros tiros ressoaram na hora certa, uma série de estalos distantes vindos do fim da pista elevada. Era uma da madrugada, e Michael estava escondido com Rand e os outros dentro do barracão pré-fabricado. A porta se abriu com um clarão e risos; um homem saiu cambaleando, o braço em cima dos ombros de uma prostituta.
Morreu gorgolejando. Deixaram-no onde caiu, com o sangue escurecendo a terra a partir da incisão do arame em volta do pescoço. Michael foi até a mulher. Não a conhecia. A mão de Rand estava cobrindo a boca da prostituta, abafando os berros apavorados. Ela não poderia ter mais de 18 anos.
– Não vai acontecer nada com você se ficar quieta. Entendeu?
Era uma garota bem alimentada, com cabelo ruivo e curto. Os olhos, muito maquiados, estavam arregalados. Ela confirmou com a cabeça.
– Meu amigo vai destapar sua boca e você vai me dizer em que quarto ele está.
Cautelosamente, Rand afastou a mão.
– No último, no fim do corredor.
– Tem certeza?
Ela assentiu vigorosamente. Michael lhe deu uma lista de nomes. Quatro estavam jogando baralho na sala da frente; havia mais dois atrás, nos cubículos.
– Certo, saia daqui.
Ela saiu correndo. Michael olhou para os outros.
– Vamos em dois grupos. Rand, comigo; o resto fique na sala externa até que todo mundo esteja pronto.
Olhares se levantaram da mesa enquanto eles entravam, mas foi só isso. Eram camaradas, sem dúvida indo ao barracão pelo mesmo motivo que todo mundo: uma bebida, um jogo de cartas, alguns minutos de felicidade nos cubículos. O segundo grupo se espalhou pela sala enquanto Michael e os outros entravam no corredor e se posicionavam do lado de fora das portas. O sinal foi dado, as portas foram abertas bruscamente.
Dunk estava de costas, nu, com uma mulher cavalgando-o.
– Michael, que porra é essa?
Mas quando viu Rand e os outros, sua expressão mudou.
– Ah, dá um tempo!
Michael olhou para a prostituta.
– Por que não vai dar uma volta?
Ela pegou o vestido no chão e saiu correndo. De outro lugar do barracão chegou uma variedade de gritos, som de vidro quebrando, um único tiro.
– Isso ia acontecer cedo ou tarde – disse Michael, dirigindo-se a Dunk. – É melhor aproveitar ao máximo.
– Você acha que é tão esperto assim, porra? Vai estar morto no minuto em que sair daqui.
– Nós praticamente limpamos a casa, Dunk. Guardei você para o final.
O rosto de Dunk se iluminou com um riso falso; por baixo da arrogância ele sabia que estava olhando para um abismo.
– Entendi. Você quer uma parte maior. Bom, você certamente merece. Posso fazer com que isso aconteça.
– Rand?
O sujeito avançou, segurando o arame. Outros três seguraram Dunk enquanto ele tentava se levantar e o empurraram com força contra o colchão.
– Pelo amor da porra, Michael!
Ele estava se retorcendo feito um peixe.
– Eu tratei você como um filho!
– Você não faz ideia de como isso é engraçado.
Enquanto o arame passava em volta do pescoço de Dunk, Michael saiu do quarto. Os últimos seguranças do chefão estavam resistindo um pouco no segundo cubículo, mas então Michael ouviu um grunhido final e a pancada de alguma coisa pesada caindo no chão. Greer o encontrou na sala da frente, onde havia corpos espalhados no meio de mesas de jogo viradas. Um deles era Fastau; tinha levado um tiro no olho.
– Acabamos? – perguntou Michael.
– McLean e Dybek fugiram num caminhão.
– Vão pará-los na pista elevada. Não vão a lugar nenhum.
Michael olhou para Fastau, morto no chão.
– Perdemos mais alguém?
– Não que eu saiba.
Puseram os corpos no caminhão de cinco toneladas que esperava do lado de fora. Trinta e seis cadáveres no total, o círculo interno de assassinos, cafetões e ladrões de Dunk: seriam levados ao cais, colocados numa lancha e jogados no canal.
– E as mulheres? – perguntou Greer.
Michael estava pensando em Fastau – o sujeito era um dos seus melhores soldadores. Qualquer perda nesse ponto era uma preocupação.
– Mande Mancha colocá-las sob vigilância num dos barracões das máquinas. Assim que estivermos prontos para agir, coloquem-nas num transporte para longe daqui.
– Elas vão falar.
– Bom, considere a fonte.
– Entendo seu argumento.
O caminhão com os corpos se afastou.
– Não quero pressionar – disse Greer –, mas você se decidiu com relação a Lore?
Essa pergunta havia preocupado Michael durante semanas. Sempre voltava à mesma resposta.
– Acho que ela é a única em quem eu confio o suficiente para isso.
– Concordo.
Michael se virou para Greer.
– Tem certeza de que não quer comandar as coisas aqui? Acho que você seria bom nisso.
– Esse não é o meu papel. O Bergensfjord é seu. Não se preocupe. Vou manter as tropas na linha.
Ficaram em silêncio um tempo. As únicas luzes acesas eram os grandes refletores no cais. Os homens de Michael trabalhariam durante toda a noite.
– Eu estava querendo falar uma coisa – disse Michael.
Greer inclinou a cabeça.
– Na sua visão, sei que você não enxergava quem mais estava no navio...
– Só a ilha, as cinco estrelas.
– Entendo.
Ele hesitou.
– Não sei bem como dizer. Parecia... que eu estava lá?
Greer ficou perplexo com a pergunta.
– Realmente não sei. Isso não fazia parte da coisa.
– Pode ser honesto comigo.
– Sei que posso.
Sons de tiros vieram da pista elevada: cinco disparos, uma pausa, mais dois, deliberados, definitivos. Dybek e McLean.
– Acho que é só isso – disse Greer.
De repente Michael sentiu o peso daquilo. Não de ordenar a morte de tantos; isso tinha sido mais fácil do que o esperado. Agora estava no comando – o istmo era seu. Verificou o pente da pistola, travou o percussor e recolocou-a no coldre. De agora em diante nunca iria se separar dela.
– Certo, aquele óleo vai ser embarcado em 36 dias. É hora de começar o espetáculo.
TRINTA
ESTADO LIVRE DE IOWA
(Anteriormente Pátria)
População: 12.139
O xerife Gordon Eustace começou a manhã de 24 de março – como todo dia 24 de março – pendurando o revólver com o coldre na guarda da cama.
Porque não seria correto portar uma arma. Não seria respeitoso. Nas próximas horas ele seria apenas um homem, como qualquer outro, parado no frio com as juntas doloridas, pensando em como as coisas poderiam ter sido.
Tinha um quarto nos fundos da cadeia. Durante dez anos, desde a noite em que não conseguiu se obrigar a voltar para casa, era ali que dormia. Sempre havia se considerado o tipo de homem que podia se controlar e ir em frente, e não era a primeira pessoa cuja sorte tinha virado de cabeça para baixo. Mas algo havia sumido dele para jamais voltar, e assim era ali que morava, numa caixa de blocos de concreto sem nada além de uma cama, uma pia, uma cadeira para se sentar e um banheiro mais adiante no corredor, sem ter ninguém a não ser bêbados ocasionais como companhia.
Do lado de fora o sol nascia de um jeito desanimado, como se fosse maio em Iowa. Esquentou uma chaleira no fogão e a levou até a bacia, com a navalha e sabão. Seu rosto o encarou no velho espelho rachado. Bom, não era uma bela visão. Metade dos dentes da frente tinham sumido, a orelha esquerda arrancada com um tiro até sobrar um cotoco rosado, um olho opaco e inútil: parecia algo saído de uma história infantil, o velho ogro malvado que morava embaixo da ponte. Barbeou-se, jogou água na cara e embaixo dos braços e se enxugou. Tudo que tinha para o café da manhã eram uns biscoitos que haviam sobrado, duros feito pedra. Sentado à mesa, trabalhou neles com os dentes de trás e ajudou a descer com uma dose de uísque de milho da jarra embaixo da pia. Não era de beber muito, mas gostava de um gole de manhã, principalmente nesta manhã, a de 24 de março.
Pôs o chapéu e o casaco e saiu. O resto da neve tinha derretido, transformando a terra em lama. A cadeia era uma das poucas construções ainda usadas no velho centro da cidade; a maior parte estava desocupada havia anos. Soprando as mãos, passou pelas ruínas da Cúpula – agora não restava nada além de uma pilha de pedras e umas poucas madeiras queimadas – e desceu o morro até a área que todo mundo ainda chamava de Planície, se bem que os antigos alojamentos dos trabalhadores tinham sido desmantelados muito antes e usados como lenha. Algumas pessoas ainda moravam lá embaixo, mas não muitas; as lembranças eram ruins demais. Os que moravam geralmente eram mais jovens, nascidos depois dos dias dos olhos-vermelhos, ou então muito velhos e incapazes de quebrar as correntes psicológicas do antigo regime. Era um amontoado esquálido de barracos sem água corrente, rios miasmáticos de esgoto correndo nas ruas e um número mais ou menos equivalente de crianças sujas e cachorros magros remexendo o lixo. O coração de Eustace se partia sempre que via aquilo.
Não deveria ser assim. Ele tivera planos, esperanças. Claro, muitas pessoas tinham aceitado a oferta de ir para o Texas naqueles primeiros anos; Eustace havia esperado isso. Ótimo, pensara, deixe que vão. Os que permanecessem seriam as almas calorosas, os verdadeiros crentes que viam o fim dos olhos-vermelhos não apenas como uma libertação das amarras, porém algo mais: a chance de reparar um malfeito, recomeçar, construir uma vida nova desde o início.
Mas enquanto assistia à população diminuir ele começou a se preocupar. As pessoas que ficavam não eram os construtores, os sonhadores. Muitas estavam simplesmente fracas demais para viajar; algumas tinham medo; outras estavam tão acostumadas a ter tudo decidido por elas que eram incapazes de fazer muita coisa. Eustace havia tentado, mas ninguém tinha a menor ideia de como fazer uma cidade funcionar. Podiam operar as máquinas que os olhos-vermelhos tinham deixado, mas ninguém sabia consertá-las quando quebravam. A usina de energia tinha dado defeito em três anos; o sistema de água e esgoto, em cinco. Uma década depois, quase nada funcionava. Ensinar as crianças mostrou-se impossível. Poucos adultos sabiam ler e a maioria não via sentido nisso. Os invernos eram brutais – pessoas morriam congeladas em casa – e os verões eram quase tão ruins quanto, seca num ano e inundações no outro. O rio era imundo, mas as pessoas enchiam seus baldes mesmo assim; a doença que todos chamavam de “febre do rio” matava dezenas. Metade do gado tinha morrido, assim como a maioria dos cavalos e ovelhas e todos os porcos.
Os olhos-vermelhos tinham deixado todas as ferramentas para construir uma sociedade que funcionasse, menos uma: a vontade de fazê-lo.
A estrada que passava pela Planície se juntava ao rio e o levou para o leste, até o estádio. Logo depois ficava o cemitério. Eustace passou pelas fileiras de lápides. Várias estavam enfeitadas: velas derretidas, brinquedos de crianças, ramos de flores selvagens ressecados havia muito tempo e expostos pela neve que recuava. O arranjo era organizado; a única coisa em que as pessoas eram boas era em cavar sepulturas. Chegou à que estava procurando e se agachou ao lado.
NINA VORHEES EUSTACE
SIMON TIFTY EUSTACE
ESPOSA AMADA, FILHO AMADO
Tinham perecido com poucas horas de intervalo. Eustace só ficou sabendo disso dois dias depois; estava ardendo em febre, a mente à deriva em sonhos psicóticos que ele se sentia satisfeito por não lembrar. A epidemia tinha cortado a cidade como uma foice. Quem vivia e quem morria parecia algo aleatório; um adulto saudável tinha tanta probabilidade de sucumbir quanto um bebê ou alguém de 70 anos. A doença chegou rapidamente: febres, calafrios, uma tosse do fundo dos pulmões. Com frequência parecia cumprir seu curso apenas para voltar furiosa, derrubando a vítima em minutos. Simon tinha 3 anos – era um garoto atento, com olhos inteligentes e riso alegre. Eustace nunca sentira um amor tão profundo por alguém, nem por Nina. Os dois brincavam sobre isso – como, em comparação, o afeto de um pelo outro parecia menor, ainda que, claro, isso não fosse totalmente verdadeiro. Amar o menino era apenas outro modo de amarem um ao outro.
Passou alguns minutos perto da sepultura. Gostava de se concentrar em coisas pequenas. Refeições que tinham compartilhado, trechos de conversas, toques rápidos trocados sem motivo. Praticamente nunca pensava na insurgência; parecia não ter mais importância, e a ferocidade de Nina como lutadora constituía apenas uma pequena parte da mulher que ela era. Seu eu verdadeiro era algo que ela só havia mostrado a ele.
Um sentimento de plenitude lhe disse que era hora de ir. Então, mais um ano. Tocou a pedra, deixando a mão se demorar ali enquanto se despedia, e voltou pelo labirinto de lápides.
– Ei, moço!
Eustace girou quando um pedaço de gelo do tamanho de um punho passou perto da sua cabeça. Três garotos, adolescentes, estavam a uns 20 metros, no meio das lápides, rindo feito idiotas. Mas, quando o viram, o riso cessou abruptamente.
– Merda! É o xerife!
Correram antes que Eustace pudesse dizer uma palavra. Era uma pena, verdade; havia algo que queria dizer a eles. Tudo bem, teria dito. Não me importo. Ele teria mais ou menos a idade de vocês.
Quando voltou à cadeia, Fry Robinson, seu auxiliar, estava sentado com as botas em cima da mesa, roncando. Na verdade não passava de um garoto, não teria nem 25 anos, com rosto largo e otimista e um queixo macio e redondo que mal precisava barbear. Não era o mais inteligente, mas também não era o mais burro; tinha ficado com Eustace por mais tempo do que a maioria dos homens, o que significava alguma coisa. Eustace deixou a porta bater depois de entrar, fazendo Fry dar um pulo.
– Meu Deus, Gordon. Por que você fez isso?
Eustace prendeu a arma à cintura. Era principalmente pela aparência; mantinha-a carregada, mas a munição dos olhos-vermelhos havia praticamente acabado, e o que restava não era confiável. Em mais de uma ocasião o percussor havia falhado.
– Já alimentou o Rudy?
– Ia fazer isso quando você me acordou. Aonde você foi? Achei que ainda estava lá atrás.
– Fui visitar Nina e Simon.
Fry lançou a ele um olhar vazio; depois entendeu.
– Merda, é dia 24, não é?
Eustace deu de ombros. O que havia a dizer?
– Posso cuidar das coisas por aqui, se você quiser – ofereceu. – Por que não tira o resto do dia de folga?
– E fazer o quê?
– Dormir, ou alguma coisa. Encher a cara.
– Acredite, pensei nisso.
Eustace levou o desjejum de Rudy para a cela dele: dois biscoitos rançosos e batata crua cortada em fatias.
– Acorde e veja o sol, parceiro.
Rudy levantou o corpo emaciado de cima da cama. Sempre roubando, brigando, sendo um pé no saco em termos gerais: o sujeito passava tanto tempo na cadeia que tinha uma cela predileta. Desta vez a acusação era bebedeira e arruaça. Com uma fungada sinistra ele liberou um monte de catarro, cuspiu-o no balde que servia de toalete e arrastou os pés até as grades, com as calças sem cinto seguras na mão. Talvez eu devesse deixar que ele ficasse com o cinto da próxima vez, pensou Eustace. O sujeito poderia fazer um favor a todos nós e se enforcar. Eustace passou o prato pela fenda.
– Só isso? Biscoitos e uma batata?
– O que você quer? É março.
– O serviço aqui não é mais como antigamente.
– Então fique longe de encrenca, para variar.
Rudy sentou na cama e mordeu um biscoito. Seus dentes eram nojentos, marrons e parecendo frouxos, mas não seria Eustace quem iria falar. Migalhas saltaram de sua boca quando ele falou.
– Quando Harold vem?
Harold era o juiz.
– Como é que eu vou saber?
– E preciso de um balde limpo.
Eustace estava na metade do corredor.
– Estou falando sério! – gritou Rudy. – Aqui está fedendo!
Eustace voltou para sua mesa. Fry estava limpando o revólver, algo que fazia umas dez vezes por dia. A arma parecia seu bicho de estimação.
– Qual é o problema dele?
– Não gostou muito da culinária.
Fry franziu a testa com desprezo.
– Ele deveria agradecer. Eu mesmo não comi muito mais do que isso.
Em seguida parou e farejou o ar.
– Meu Deus, que cheiro é esse?
– Ei, seus escrotos – gritou Rudy dos fundos. – Tenho um presente para vocês!
Rudy estava de pé na cela, segurando o balde agora vazio, com um ar de triunfo no rosto. Merda e mijo escorriam pelo corredor num rio marrom.
– É isso que eu acho da porra da batata de vocês.
– Que merda! – gritou Fry. – Você vai limpar isso!
Eustace se virou para o auxiliar.
– Me dê a chave.
Fry soltou o chaveiro do cinto e entregou a Eustace.
– Estou falando sério, Rudy. – Você está numa tremenda encrenca, meu chapa.
Eustace destrancou a fechadura, entrou na cela, encostou a porta, estendeu o braço para fora através das grades e trancou a cela de novo. Colocou o chaveiro no fundo do bolso.
– Que diabo é isso? – perguntou Rudy.
– Gordon? – falou Fry, olhando com cautela. – O que você vai fazer?
– Só me dê um segundo.
Eustace sacou o revólver, girou-o na mão e bateu com a coronha no rosto de Rudy. O sujeito cambaleou para trás e caiu no chão.
– Ficou maluco?
Rudy se arrastou para trás até encostar na parede da cela. Remexeu a língua e cuspiu um dente ensanguentado na palma da mão. Segurou-o pela raiz comprida e podre.
– Olha só isso! Como é que eu vou comer agora?
– Duvido que você vá sentir muita falta.
– Você pediu por isso, seu merda – disse Fry. – Venha, Gordon, vamos entregar um pano de chão a esse escroto. Acho que ele aprendeu a lição.
Eustace não concordava. Dar uma lição no sujeito – o que isso queria dizer? Não sabia direito o que estava sentindo, mas ia descobrir. Rudy estava estendendo o dente com ar de indignação. Ver aquilo era absolutamente nauseante; parecia conter tudo de errado na vida de Eustace. Ele guardou o revólver no coldre, deixando Rudy achar que o pior havia passado, depois puxou-o de pé e bateu com o rosto dele na parede. Um estalo úmido, como uma barata gorda sendo esmagada com o pé: Rudy soltou um uivo de dor.
– Gordon, sério – disse Fry. – É hora de abrir essa porta.
Eustace não estava com raiva. A raiva o havia abandonado anos antes. O que sentia era alívio. Jogou o sujeito através da cela e começou a trabalhar: punhos, a coronha do revólver, os bicos das botas. Os pedidos de Fry para que ele parasse mal eram registrados na consciência. Algo tinha sido destampado dentro dele e era empolgante, como montar um cavalo a pleno galope. Rudy estava caído no chão, tentando proteger o rosto sob os braços. Seu arremedo patético de ser humano. Carcaça sem valor. Você é tudo o que há de errado neste lugar e vou fazer com que você se dê conta disso.
Estava no processo de levantar Rudy pelo colarinho e bater a cabeça dele na beira da cama – que estalo satisfatório isso faria! – quando uma chave se virou na fechadura e Fry o agarrou por trás. Eustace acertou um cotovelo na cintura de Fry, derrubando-o, e envolveu o pescoço de Rudy com o braço. O sujeito parecia um enorme boneco de trapos, um saco carnudo de partes desorganizadas. Apertou os bíceps contra a traqueia de Rudy e forçou o joelho no traseiro dele, como apoio. Um puxão com força e seria o fim do sujeito.
Então: flocos de neve. Fry estava parado acima dele, arfando, segurando o atiçador de fogo que tinha acabado de usar contra a cabeça de Eustace.
– Meu Deus, Gordon. Que diabo foi aquilo?
Eustace piscou; os flocos de neve sumiram um a um. Sua cabeça parecia um pedaço de lenha rachada; e estava com um pouco de náusea.
– Acho que me excedi um pouco.
– Não que o cara não merecesse, mas que porra!
Eustace virou a cabeça para avaliar a situação. Rudy estava todo encolhido no chão, as mãos enfiadas entre as pernas. O rosto parecia um pedaço de carne crua.
– Realmente peguei pesado com ele, não foi?
– O cara nunca foi bonito, de qualquer modo.
Fry direcionou a voz para Rudy.
– Ouviu? Se disser uma palavra sobre isso, vão encontrar você numa vala, seu escroto!
Fry olhou para Eustace.
– Desculpe, não quis bater com tanta força.
– Tudo bem.
– Não quero apressá-lo, mas provavelmente seria melhor se você saísse um pouco. Acha que consegue ficar de pé?
– E Rudy?
– Eu cuido disso. Levante-se.
Fry o ajudou a ficar de pé. Eustace precisou se segurar nas grades por um segundo para fazer o chão parecer sólido. Os nós dos dedos da mão direita estavam ensanguentados e inchados, a pele partida ao longo do osso. Tentou fechar o punho, mas as juntas não iam tão longe.
– Tudo certo? – perguntou Fry, olhando para ele.
– Acho que sim.
– Vá clarear a cabeça. Talvez fosse bom cuidar dessa mão também.
À porta da cela, Eustace parou. Fry estava colocando Rudy sentado. A camisa dele era um babador de sangue.
– Sabe, você estava certo – disse Eustace.
Fry levantou os olhos.
– Como assim?
Eustace não lamentava o que tinha feito, mas achava que talvez lamentasse mais tarde. Muitas coisas eram assim; a reação que você deveria ter demorava a chegar.
– Talvez eu devesse ter tirado o dia de folga, afinal.
TRINTA E UM
Alicia começou a passar as noites no estábulo.
Fanning praticamente não notou sua ausência. Aquele seu cavalo, podia comentar, mal levantando os olhos de um dos livros que agora ocupavam completamente as horas em que estava acordado. Não sei por que você sente essa necessidade, mas não é da minha conta. Sua mente parecia distante, os pensamentos velados. É, ele estava diferente; algo havia se deslocado. A mudança parecia tectônica, um ribombo no fundo da terra. Ele não estava dormindo, isso era certo – se é que a espécie deles seria capaz de dormir. No passado as horas diurnas provocavam uma espécie de exaustão melancólica. Ele entrava num estado parecido com um transe – olhos fechados, as mãos cruzadas no colo com os dedos entrelaçados com força. Alicia conhecia os sonhos dele. Os ponteiros do relógio girando sem remorso. A multidão anônima passando. Seu pesadelo era uma espera infinita num universo despido de piedade – sem esperança, sem amor, sem o objetivo que só a esperança e o amor poderiam trazer.
Alicia tinha um sonho assim. Seu bebê. Sua Rose.
Às vezes pensava no passado. Nova York sempre foi um lugar de memória, costumava dizer Fanning.
Ela sentia falta dos amigos, assim como os mortos podiam sentir falta dos vivos, cidadãos de um reino de onde ela havia partido definitivamente. De que Alicia se lembrava? Do Coronel. De quando era uma menininha no escuro. Seus anos como Vigia, como eles pareciam verdadeiros. Havia uma noite que lhe voltava com frequência; parecia definir alguma coisa. Tinha levado Peter à cobertura da estação de energia para mostrar as estrelas. Lado a lado ficaram deitados no concreto, ainda quente do calor esmagador do dia, os dois apenas conversando sob um céu noturno tornado mais notável pelo fato de que Peter nunca o tinha visto antes. Aquilo os tirou de si mesmos. Você pensa nisso?, tinha perguntado Alicia. Em quê?, perguntou ele; e ela disse, nervosa, aparentemente incapaz de se conter: Vai me obrigar a dizer? Em se casar, Peter. Ter Pequenos. Muito mais tarde ela entendeu o que estava pedindo de verdade: para salvá-la, para levá-la para a vida. Mas era tarde demais; sempre havia sido tarde demais. Desde a noite em que o Coronel a abandonara, Alicia não era mais uma pessoa de verdade; tinha desistido disso.
E então, os anos. Fanning dizia que o tempo era diferente para a espécie deles, e era. Os dias se fundindo de forma incessante, estação em estação, ano em ano. O que eram um para o outro? Ele era gentil. Ele a entendia. Viajamos na mesma estrada, dizia. Fique comigo, Lish. Fique comigo, e tudo acaba. Será que ela acreditava? Havia ocasiões em que ele parecia conhecer suas verdades mais profundas. O que dizer, o que perguntar, quando ouvir e por quanto tempo. Fale sobre ela. Como sua voz era suave, como era gentil! Era diferente de todas que ela já ouvira; era como flutuar numa banheira de lágrimas. Fale sobre sua Rose.
Mas havia outra parte dele, velada, impenetrável. Seus silêncios longos e meditativos a perturbavam, assim como as ocasiões de uma alegria ligeiramente desafinada que parecia totalmente artificial. Ele começou a sair durante a noite, algo que não fizera durante anos. Não anunciou; simplesmente saiu. Alicia decidiu segui-lo. Durante três noites Fanning andou sem destino aparente, uma figura solitária assombrando as ruas; então, na quarta noite, ele a surpreendeu. Com passos deliberados foi para o sul da ilha, para o West Village, e parou diante de um prédio residencial comum, com cinco andares e uma escada ligando a portaria à rua. Alicia se escondeu atrás do parapeito de um telhado na ponta do quarteirão. Vários minutos se passaram. Fanning examinava a fachada do prédio. De repente ela percebeu: Fanning tinha morado ali. Algo pareceu estalar dentro dele e ele foi até a porta, forçou-a com o ombro e desapareceu no interior da construção.
Ficou lá durante um longo tempo. Uma hora, depois duas. Alicia começou a se preocupar. A não ser que Fanning aparecesse logo, não haveria tempo para voltar à estação antes do nascer do sol. Por fim ele emergiu. Parou na base da escada. Como se sentisse a presença dela, olhou para os dois lados da rua, depois diretamente para ela. Alicia se abaixou atrás do parapeito e grudou o corpo à cobertura.
– Sei que você está aí, Alicia. Mas tudo bem.
Quando ela olhou de novo, a rua estava vazia.
Ele não mencionou os acontecimentos da noite, e Alicia não pressionou; tinha vislumbrado alguma coisa, uma pista, mas o significado lhe escapava. Por que, depois de tanto tempo, Fanning faria essa peregrinação?
Ele nunca mais saiu.
O que iria acontecer em seguida, Fanning devia ter previsto; Alicia obviamente iria fazer isso. Por dentro o prédio estava arruinado. Manchas pretas de mofo escalavam pelas paredes e os pisos eram moles sob os pés. No poço da escada pingava água de um vazamento no teto, lá em cima. Ela subiu ao segundo andar, onde havia uma porta aberta, convidativa. O interior do apartamento tinha sido razoavelmente poupado da destruição. A mobília, apesar de coberta de poeira, estava arrumada. Livros, revistas e vários objetos decorativos ainda ocupavam seus lugares. Alicia supôs que estariam exatamente como nas últimas horas da vida humana de Fanning. Enquanto percorria os cômodos meticulosamente organizados, percebeu o que estava sentindo. Fanning queria que ela conhecesse o homem que ele havia sido. Uma intimidade nova, mais profunda, tinha sido oferecida.
Entrou no quarto. Parecia diferente dos outros espaços do apartamento, com uma sensação intangível de ocupação mais recente. A mobília era simples: uma escrivaninha, uma penteadeira, uma poltrona perto da janela, uma cama arrumada. Dividindo o centro do colchão havia uma depressão de dimensões nitidamente humanas. Uma reentrância semelhante marcava o travesseiro.
Óculos descansavam na mesinha de cabeceira. Alicia sabia a quem tinham pertencido; faziam parte da história. Pegou-os gentilmente. Eram pequenos, com armação de metal. A cama afundada, os lençóis, os óculos ao alcance. Fanning havia se deitado ali. E tinha deixado tudo isso para que ela visse.
Para que ela visse, pensou. O que ele queria que ela visse?
Deitou-se na cama. O colchão era informe por baixo, a estrutura interna havia desmoronado muito tempo antes. Então colocou os óculos.
Jamais poderia explicar. No momento em que olhou através das lentes foi como se tivesse se tornado ele. O passado jorrou dentro dela, a dor. A verdade acertou seu coração como eletricidade. Claro. Claro.
O amanhecer a encontrou na ponte. Seu medo das águas agitadas, ainda que forte, parecia trivial; empurrou-o de lado. O sol lançava os raios longos e dourados atrás dela. Atravessou montada em Soldado, seguindo a própria sombra.
TRINTA E DOIS
Encontraram Bill no poço de retenção no fundo do vertedouro. Na noite anterior ele havia saído do hospital, levando os sapatos e as roupas. Depois disso seu caminho era incerto. Alguém disse que o tinha visto nas mesas de jogo, se bem que o homem se mostrou inseguro; podia estar pensando numa noite diferente, disse. Bill vivia nas mesas. Seria espantoso se não fosse assim.
A queda o matara: 30 metros desde o topo da represa, depois a rampa longa até o poço, onde seu corpo ficou preso num dreno. As pernas estavam despedaçadas; o peito, afundado. Afora isso, parecia o mesmo. Teria pulado ou sido empurrado? Sua vida não tinha sido como eles achavam que era; Sara se perguntou quanto Kate havia escondido dela. Mas não era uma pergunta que devesse ser feita.
A questão das dívidas de Bill permaneceu. Juntando suas economias com as de Kate, Sara e Hollis não conseguiriam pagar nem metade do montante. Três dias depois do enterro, Hollis levou o dinheiro ao prédio na Cidade-H que todo mundo ainda chamava de Casa do Primo, se bem que o próprio Primo tivesse morrido anos antes. Hollis esperava que esse sinal de boa-fé, combinado com antigos conhecimentos, resolvesse a questão. Voltou balançando a cabeça, desanimado. Os donos do jogo haviam mudado; ele não fazia a menor ideia de quem eram.
– Isso vai ser um problema – disse.
Kate e as meninas estavam dormindo na casa de Sara e Hollis. Kate parecia entorpecida, uma mulher que havia aceitado o destino que previra muito antes, mas o sofrimento das meninas era terrível de ver. Aos seus olhos jovens, Bill era simplesmente o pai. Seu amor por ele não era descolorido pelo conhecimento de que, de certa forma, ele as havia abandonado, escolhendo um caminho que iria afastá-lo para sempre. À medida que crescessem, a ferida se transformaria num sentimento diferente – não de perda, e sim de rejeição. Sara teria feito qualquer coisa para poupá-las dessa dor. Mas não havia nada que pudesse fazer.
A única possibilidade era esperar que a situação se resolvesse sozinha. Dois dias se passaram e Sara encontrou Hollis sentado à mesa da cozinha, sério. Kate estava no chão jogando cartas com as meninas, mas Sara podia ver que era apenas para distraí-las; alguma coisa séria tinha acontecido. Hollis lhe mostrou o bilhete que tinha sido enfiado embaixo da porta. Em letras de forma, como de criança, duas palavras: meninas adoráveis.
Hollis mantinha um revólver numa caixa trancada embaixo da cama. Carregou-o e o entregou a Sara.
– Atire em qualquer um que passar por essa porta – instruiu.
Não disse o que tinha feito, mas foi naquela noite que a Casa do Primo pegou fogo até os alicerces. De manhã Sara foi com Kate até o correio, mandar a carta que, com toda a probabilidade, chegaria à Cidade Mística muitos dias depois dela. Estou indo fazer uma visita, escreveu a Pim. As meninas mal podem esperar para ver você.
TRINTA E TRÊS
É, estou cansado. Cansado de esperar, cansado de pensar. Cansado de mim mesmo.
Minha Alicia: como você tem sido boa comigo. Solamen miseris socios habuisse doloris: “Para os desgraçados, é um conforto ter companheiros no sofrimento.” Quando penso em você, Alicia, e no que somos um para o outro, me lembro da primeira ida à barbearia, quando era criança. Tenha paciência comigo: a memória é meu método em todas as coisas, e a história tem mais a ver do que você imagina. Na cidade onde cresci só havia uma. Era uma espécie de clube. Numa tarde de sábado, acompanhado pelo meu pai, entrei naquele sagrado espaço masculino. Os detalhes eram inebriantes. O odor de tônico, couro, talco. Os pentes mergulhados em seu líquido desinfetante azul-piscina. Os sibilos e estalos de um rádio AM transmitindo muitas partidas em campos verdes. Com meu pai ao lado, esperei numa cadeira de vinil verde rachado. Homens estavam sendo barbeados, cobertos de espuma, aparados. O dono tinha sido um piloto de bombardeiro da Segunda Guerra Mundial relativamente famoso. Na parede atrás da caixa registradora havia uma foto de quando ele era um jovem combatente. Abaixo da tesoura que estalava e da navalha que zumbia, cada crânio de cidade pequena emergia como um perfeito simulacro do dele no dia em que tinha posto os óculos de aviador, enrolado uma echarpe no pescoço e atravessado os beirais do céu para fazer picadinho dos samurais.
Chegou a minha vez; fui convocado. Muitos sorrisos e piscadelas foram trocados entre as testemunhas. Ocupei meu assento – uma tábua equilibrada nos braços cromados da cadeira –, e o barbeiro, como um toureiro brandindo a capa, sacudiu a cortina com a qual pretendia me vestir, enrolou papel-toalha em volta do meu pescoço e envolveu meu corpo num plástico que só deixava de fora minha cabeça. Foi então que notei os espelhos. Um na parede à minha frente, um atrás, e minha figura – um reflexo de um reflexo de um reflexo – ricocheteando pelo corredor de fria eternidade. Ver isso me provocou uma náusea existencial. Infinito. Eu conhecia essa palavra, mas o mundo da infância é finito e firme. Olhar no coração dele e ver minha imagem estampada um milhão de vezes me desconcertou profundamente. Enquanto isso o barbeiro tinha iniciado alegremente sua tarefa, ao mesmo tempo engajado numa conversa despreocupada com meu pai sobre vários temas adultos. Pensei que, se focalizasse os olhos na primeira imagem, talvez conseguisse banir as outras, mas o efeito foi o oposto: fiquei ainda mais consciente dos inumeráveis seres de sombra atrás dela, ad infinitum, infinitum, infinitum.
Mas então aconteceu outra coisa. Meu desconforto sumiu. O luxuriante pacote sensorial daquele lugar, combinado com os estalos delicados da tesoura do barbeiro no meu pescoço, me levou a um estado de fascínio parecido com um transe. A ideia me veio: eu não era somente uma coisa pequena. Na verdade era uma multidão. Olhando mais adiante, acreditei detectar em meio aos meus infinitos seres certas diferenças sutis. Os olhos deste eram um pouco mais juntos, as orelhas de um segundo eram posicionadas um pouquinho mais altas na cabeça, um terceiro estava sentado um pouquinho mais baixo em sua cadeira. Para testar minha teoria, comecei a fazer pequenos ajustes – desviando o olhar, franzindo o nariz, piscando um olho e depois o outro. Cada versão de mim reagia do mesmo modo, no entanto eu discernia um atraso minúsculo, apenas um soluço de tempo entre minha ação e a multiplicação. O barbeiro disse que, se eu não ficasse parado, poderia cortar minha orelha sem querer – mais risos viris –, porém suas palavras não causaram impacto, a tal ponto eu estava gostando da nova descoberta. Aquilo virou uma espécie de jogo. Fanning mandou: ponha a língua para fora. Fanning mandou: levante um dedo. Que poder delicioso eu possuía!
– Ora, filho – ralhou meu pai. – Pare de fazer bagunça.
Mas não era bagunça, longe disso. Eu nunca tinha me sentido tão vivo.
A vida arranca de nós esse sentimento. Dia a dia os vislumbres sublimes da infância vão passando. É o amor, claro, e só o amor, que nos restaura para nós mesmos, ou pelo menos assim esperamos, mas isso é tirado de nós. O que resta quando não há amor? Uma corda e uma pedra.
Estive morrendo para sempre. É isso que quero dizer. Estive morrendo assim como você está morrendo, minha Alicia. Foi você que eu vi no espelho, naquela manhã da infância, tanto tempo atrás; é você que vejo agora, enquanto ando por essas ruas de vidro. Existe um amor feito de esperança e outro feito de sofrimento.
Amei você, minha Alicia.
Agora você se foi; eu sabia que esse dia iria chegar. A expressão de seu rosto quando entrou no salão: havia fúria nele, sim. Como você estava com raiva de mim, como seus olhos chamejavam com sentimentos de traição, como as palavras eram cuspidas com fúria indignada dos seus lábios! Não foi esse o nosso acordo, você afirmou. Você disse que iria deixá-los em paz. Mas, tanto quanto eu, você sabe que não podemos; nosso propósito está ordenado. A esperança não passa de uma doçura rápida na língua, se não houver o gosto de sangue. O que somos, Alicia, senão a prova pela qual a humanidade deve passar? Somos a faca do mundo, presa entre os dentes de Deus.
Desculpe meu modesto ardil, Alicia. Você o tornou bastante fácil. Em minha defesa posso dizer que não menti. Eu teria dito, se você perguntasse. Você acreditou porque quis. Você poderia se perguntar: quem, minha querida, estava seguindo quem? Quem vigiava e quem era vigiado? Noite após noite você percorreu os túneis como um bedel escolar contando cabeças. Honestamente, sua credulidade foi meio decepcionante. Você acreditou mesmo que todos os meus filhos estão aqui? Que eu poderia ser tão descuidado: que ficaria contente em esperar uma eternidade sem sentido? Sou um cientista, metódico em todas as coisas; meus olhos estão em toda parte, vendo tudo. Meus descendentes, meus Muitos: eu ando com eles, assombro a noite, vejo como eles veem, e o que vejo? A grande cidade indefesa, praticamente abandonada. As pequenas cidades e fazendas ganhando espaço. A humanidade explodindo, madura, fluindo sobre a terra. Eles nos esqueceram; suas mentes voltaram às preocupações comuns da vida. Como vai estar o clima? O que vou usar no baile? Com quem devo me casar? Devo ter um filho? Que nome vou dar a ele?
O que você dirá a eles, Alicia?
O céu brinca comigo; terei satisfação. Esperei o bastante por essa salvadora, essa Garota de Lugar Nenhum, essa Amy de sobrenome desconhecido. Ela me assombra com seu silêncio, sua calma ilimitada, tática. A aspiração dela é me expulsar, e assim há de ser. Sei o que você está pensando, Alicia. Sem dúvida você deve desprezá-la pela morte dos meus companheiros ignóbeis, meus Doze. Longe disso! O dia em que ela os enfrentou foi um dos mais felizes do meu exílio longo e infeliz. O sacrifício dela foi supremo. Foi sem dúvida abençoado. Ele me deu – será que ouso usar a palavra? – esperança. Sem o alfa não pode haver o ômega; sem princípio não pode haver fim.
Traga-a até mim, eu disse a você. Minha disputa não é com a humanidade; é apenas um sequestro com um objetivo mais nobre. Traga-a até mim, minha querida, minha Lish, e pouparei o resto.
Ah, não tenho ilusões. Sei o que você vai fazer. Sempre soube e não a amei menos por isso – pelo contrário. Você é a melhor parte de mim; cada um de nós deve fazer seu papel.
Daí o dia muito esperado. Você perguntou: quem é o rei, de quem é a consciência que devo pegar? Sou eu ou há outro? Será que o criador deve ser levado a ter piedade de sua criação? Logo saberemos. O palco está montado, as luzes se apagam, os atores assumem as marcas.
Que comece!
TRINTA E QUATRO
– Todo mundo, desliguem os motores.
4h40: na escuridão remaram os últimos 50 metros até a terra e arrastaram as lanchas para a areia. Algumas centenas de metros ao sul o brilho de butano queimando tremeluzia no céu. Michael verificou seu fuzil, sacudiu o revólver e o devolveu ao coldre. Todo mundo fez o mesmo.
Dividiram-se em três grupos e subiram as dunas. O esquadrão de Rand tomaria os alojamentos dos trabalhadores; o de Weir, as salas do rádio e de controle. A equipe de Michael, a maior, iria se encontrar com a de Greer para ocupar os alojamentos e a armaria do exército. Era lá que aconteceria o tiroteio.
Michael levou o rádio à boca.
– Lucius, está posicionado?
– Positivo. Esperando seu sinal.
A refinaria era protegida por uma cerca de duas camadas de arame com torres de vigia; o resto do perímetro era um labirinto de minas acionadas por fios escondidos. O único acesso a partir do norte era direto através do portão. Greer comandaria o ataque frontal usando um caminhão-tanque equipado com barras metálicas pontiagudas na frente. Dois caminhões cheios de homens iriam em seguida. Uma picape na retaguarda, armada com uma metralhadora calibre 50 e um lançador de granadas, cuidaria das torres, se necessário. As ordens de Michael eram de evitar mortes, se possível, mas se fosse necessário...
As equipes se dispersaram a passo rápido. Michael e seus homens ocuparam posições em volta do alojamento, um comprido barracão pré-fabricado com porta na frente e nos fundos. Eles estavam esperando cinquenta homens bem armados lá dentro, talvez mais.
– Equipe um.
– Pronta.
– Equipe dois.
– Positivo.
Michael verificou o relógio: 4h50. Olhou para Mancha, que confirmou com a cabeça.
Michael levantou a pistola de sinalização e disparou. Um estalo e um clarão e o complexo apareceu ao redor deles em blocos de luz e sombra. Um segundo depois Mancha lançou a granada de gás. Gritos e tiros no portão, depois um estrondo quando o caminhão atravessou a cerca. O gás tinha começado a sair por baixo da porta do alojamento. Enquanto ela se escancarava, os homens de Michael dispararam uma saraivada de tiros contra o chão. Os soldados em fuga se jogaram para trás, confusos. Mais homens se chocavam contra eles vindos de trás, engasgando, tossindo e cuspindo.
– De joelhos! Larguem as armas! Mãos na cabeça!
Os soldados não tinham para onde fugir; ajoelharam-se.
– Todo mundo: informe.
– Equipe dois, tudo certo.
– Lucius?
– Sem baixas. Indo na sua direção.
– Equipe um?
Os homens de Michael tinham avançado para amarrar os pulsos e os tornozelos dos soldados com fortes cordões. A maioria ainda estava tossindo, alguns vomitando desamparados.
– Equipe um, informe.
Um estalar granuloso de estática; depois uma voz, que não era a de Rand:
– Tudo certo.
– Cadê o Rand?
Uma pausa, seguida por uma gargalhada.
– Você vai ter de lhe dar um minuto. A mulher tem mesmo um soco forte.
Tinha sido fácil demais. Michael havia esperado mais luta – qualquer tipo de luta.
– Essas armas estão praticamente vazias.
Greer mostrou; nenhum pente dos soldados tinha mais de duas balas.
– E a armaria?
– Totalmente limpa.
– Isso não é bom.
Greer assentiu, tenso.
– Eu sei. Precisamos fazer alguma coisa a respeito.
Foi Rand que lhe trouxe Lore. Os pulsos dela estavam amarrados. Ao vê-lo, ela levou um susto, depois se recompôs rapidamente.
– Acho que você sentiu minha falta, não foi, Michael?
– Olá, Lore.
Depois, para Rand:
– Tire isso.
Rand cortou a corda. Lore o havia derrubado com um cruzado de direita. O olho dele estava meio fechado, a bochecha marcada com a impressão do punho dela. Michael ficou quase orgulhoso.
– Vamos a algum lugar, conversar – disse a ela.
Levou Lore para a sala da chefe do posto. A sala dela: fazia quinze anos que a refinaria era comandada por Lore. Michael sentou atrás da mesa para marcar posição; Lore sentou do outro lado. O dia havia nascido, esquentando a sala com sua luz. Ela parecia mais velha, claro, envelhecida pelo sol e o trabalho, mas a materialidade crua ainda estava ali, a força.
– Como vai seu colega, o Dunk?
Michael sorriu para ela.
– É bom ver você. Não mudou nada.
– Está tentando ser engraçado?
– Estou falando sério.
Ela olhou para longe, com uma expressão austera.
– Michael, o que você quer?
– Preciso de combustível. Diesel pesado, o material sujo.
– Vai entrar no negócio de petróleo? É uma vida dura, não recomendo.
Ele respirou fundo.
– Sei que isso não a deixa feliz. Mas há um motivo.
– É mesmo?
– Quanto você tem?
– Sabe do que eu sempre mais gostei em você, Michael?
– Não, o quê?
– Também não lembro.
Era verdade: ela continuava a mesma. Michael sentiu um frisson de atração. A força dela não havia diminuído.
Recostou-se na cadeira, juntou as pontas dos dedos e disse:
– Você tem uma grande entrega para o depósito de Kerrville programada para daqui a cinco dias. Acrescente a isso o que está nos tanques de depósito. Imagino que tenha algo em torno de 300 mil litros.
Lore deu de ombros, indiferente.
– Então devo aceitar isso como um sim? – perguntou Michael.
– Você deve enfiar isso no cu.
– Vou descobrir, de qualquer modo.
Ela suspirou.
– Está bem. São de fato 300 mil, mais ou menos. Isso o satisfaz?
– Bom. Vou precisar de tudo.
Lore inclinou a cabeça.
– O quê?
– Com vinte caminhões-tanque acho que posso transportar tudo em menos de seis dias. Depois vamos soltar seu pessoal. Sem danos, sem nada de ruim. Você tem minha palavra.
Lore o estava encarando.
– Levar para onde? Para que diabo você precisa de 300 mil litros?
Ah.
Os caminhões-tanque estavam sendo carregados; o primeiro comboio estaria pronto para partir às nove horas. Para Michael seriam cinco dias olhando o relógio, gritando com todo mundo: Depressa com isso!
Um probleminha, talvez pequeno, talvez não. Quando os homens de Weir invadiram o barracão de comunicações, o operador de rádio estava mandando uma mensagem. Não havia como saber o que era, porque o sujeito estava morto – a única baixa da manhã.
– Como diabo isso aconteceu?
Weir deu de ombros.
– Lombardi achou que ele tinha uma arma. Pareceu que a estava sacando contra nós.
A arma era um grampeador.
– Alguma mensagem chegou desde então? – perguntou Michael, pensando: Lombardi, claro que seria você, seu escroto nervosinho.
– Até agora, nenhuma.
Michael praguejou contra si mesmo. A morte do sujeito era lamentável, mas essa não era a verdadeira fonte de sua raiva. Eles deveriam ter tomado o rádio primeiro. Um erro idiota, provavelmente não o primeiro.
– Mande um aviso – disse, depois pensou melhor. – Não, faça isso ao meio-dia. É quando eles esperam que a refinaria faça contato.
– O que devo dizer?
– “Desculpe, matamos o operador de rádio. Ele estava apontando um material de escritório contra nós.”
Weir apenas olhou para ele.
– Não sei, alguma coisa normal. “Está tudo bem, e você? O dia não está ótimo?”
O homem saiu rapidamente. Michael foi até o Humvee, onde Lore esperava no banco de trás. Rand a estava algemando ao corrimão de segurança.
– Você deveria levar outra pessoa – disse Rand.
Michael aceitou a chave das algemas e entrou na cabine. Olhou para Lore pelo espelho.
– Promete ser boazinha ou precisa de uma babá?
– O homem em quem vocês atiraram. O nome dele era Cooley. O cara era incapaz de fazer mal a uma mosca.
Michael olhou para Rand.
– Vou ficar bem. Só comece a transportar esse diesel.
A viagem até o canal levou três horas. Lore não disse praticamente nenhuma palavra e Michael não se esforçou para fazer com que ela falasse. Tinha sido uma manhã difícil para ela – o fim de uma carreira, a morte de um amigo, uma humilhação pública, tudo isso nas mãos de um homem que ela tinha todos os motivos para desprezar. Precisava de um tempo ainda mais considerando as coisas que Michael iria dizer.
Passaram pelas cercas e seguiram pela pista elevada. Ele parou o veículo atrás do barracão das máquinas na beira do cais. Dali o Bergensfjord não era visível. Ele queria uma revelação grandiosa.
– Por que estou aqui?
Michael abriu a porta de Lore e soltou seus pulsos. Enquanto ela descia do Humvee, ele tirou o revólver e estendeu para ela.
– O que é isso?
– Uma arma, é óbvio.
– E você está me dando?
– Você é que escolhe. Pode atirar em mim, pegar a picape e estar de volta a Kerrville ao anoitecer. Se ficar, vai saber de que se trata isso. Mas há regras.
Lore não disse nada, apenas levantou uma sobrancelha.
– A primeira regra é que você não pode ir embora a não ser que eu deixe. Você não é prisioneira, é uma de nós. Assim que eu lhe disser o que está acontecendo, você vai ver a necessidade. A segunda regra é que eu estou no comando. Diga o que quiser, mas jamais me questione na frente dos meus homens.
Ela o estava encarando como se ele estivesse completamente louco. Mesmo assim, a oferta precisava ser feita; ela precisava escolher.
– Por que diabo eu iria querer me juntar a você?
– Porque vou lhe mostrar uma coisa que vai mudar tudo o que você pensava que sabia sobre sua vida. E porque, bem no fundo, você confia em mim.
Ela o encarou, depois gargalhou.
– A comédia não acaba nunca, não é?
– Não fui justo com você, Lore. Não tenho orgulho do que fiz, você merecia coisa melhor. Mas havia um motivo. Eu disse que você não mudou, e é verdade. É por isso que eu a trouxe aqui. Preciso da sua ajuda. Entendo por que você diria não, mas espero que não diga.
Ela o encarou com suspeitas.
– Onde, exatamente, está o Dunk?
– Isto nunca teve a ver com o comércio. Eu precisava de dinheiro e mão de obra. Mais do que isso, precisava de sigilo. Há cinco dias Dunk e todos os seus auxiliares foram para o fundo do canal. Não existe mais comércio. Só eu e os que são leais a mim.
Ele estendeu o revólver para ela.
– O pente está cheio e há uma bala na agulha. Faça o que quiser.
Lore aceitou a pistola. Por um longo momento olhou para ela, até que, com um suspiro pesado, enfiou-a no cós dos jeans, junto à coluna.
– Se não for problema para você, vou ficar com isso.
– Tudo bem. Agora ela é sua.
– Devo estar maluca.
– Você fez a escolha certa.
– Já me arrependi. Só vou dizer isso uma vez, mas você realmente partiu o meu coração, sabe?
– Sei. E peço desculpas.
Um silêncio breve. Depois ela assentiu apenas uma vez: caso encerrado.
– E então?
– Prepare-se.
Queria que Lore visse o Bergensfjord por baixo. Era o melhor modo. Não simplesmente vê-lo, mas ter a experiência dele; só então o significado poderia ser compreendido. Subiram até o piso da doca seca. Michael esperou enquanto Lore se aproximava do casco. Os flancos do navio eram lisos e graciosamente curvos, com cada rebite fixado. Abaixo das enormes hélices da embarcação, Lore parou, olhando para cima. Michael iria deixar que ela falasse primeiro. Acima, o som de passos, homens gritando uns com os outros, o zumbido de uma furadeira pneumática, a vastidão de metal do navio amplificando cada som como um diapasão gigante.
– Eu sabia que havia um barco...
Michael estava ao lado dela. Ela se virou para encará-lo. Em seus olhos, uma luta estava sendo travada.
– Ele se chama Bergensfjord – disse ele.
Lore abriu as mãos e olhou em volta.
– Tudo isso?
– É. Para ele.
Lore avançou, estendeu a mão direita sobre a cabeça e a encostou no casco – assim como Michael tinha feito na manhã em que haviam tirado a água da doca, revelando o Bergensfjord em toda a sua glória enferrujada e invencível. Lore a manteve ali. Depois, como se levasse um susto, afastou-se.
– Você está me assustando – disse.
– Eu sei.
– Por favor, diga que só estava mantendo as mãos ocupadas. Não estou vendo o que acho que estou vendo.
– O que você acha que está vendo?
– Um barco salva-vidas.
Um pouco da cor havia sumido do seu rosto; ela parecia insegura com relação a para onde deveria olhar.
– Infelizmente, é – concordou Michael.
– Você está mentindo. Está inventando isso.
– A notícia não é boa. Sinto muito.
– Como você pode saber?
– Há muita coisa a explicar. Mas vai acontecer. Os virais estão voltando, Lore. Eles nunca foram embora de verdade.
– Isso é loucura.
Sua confusão se transformou em raiva.
– Você está maluco. Sabe o que está dizendo?
– Infelizmente, sei.
– Não quero ter nada a ver com isso.
Ela estava recuando.
Não pode ser verdade. Por que as pessoas não sabem? Elas saberiam, Michael.
– É porque nós não contamos.
– Quem diabos é “nós”?
– Greer e Eu. Um punhado de outros. Não há outro modo de dizer, por isso simplesmente vou falar. Qualquer pessoa que não estiver neste barco vai morrer, e estamos ficando sem tempo. Há uma ilha no Pacífico Sul. Acreditamos que lá seja seguro, talvez o único lugar seguro. Temos comida e combustível para setecentos passageiros, talvez um pouco mais.
Ele não tinha esperado que isso fosse fácil. Em circunstâncias ideais teria suavizado o golpe. Mas Lore aguentaria porque essa era a sua natureza, a carne e o tutano de Lore DeVeer. O que havia acontecido entre os dois anos antes era, para ela, uma lembrança dolorosa, talvez, um rápido surto de raiva e pesar que tocava sua vida de vez em quando, mas não para Michael. Ela era parte de sua vida, e era uma parte boa, porque era uma das poucas pessoas que o tinham entendido de verdade. Havia pessoas que simplesmente tornavam a existência mais suportável; Lore era uma delas.
– Foi por isso que eu trouxe você aqui. Temos uma longa viagem pela frente. Preciso do diesel, mas não é só isso. Os homens que trabalham para mim... bom, você os conheceu. Trabalham duro e são leais, mas isso só resolve uma parte. Preciso de você.
A luta dela não havia terminado. Havia mais conversas para acontecer. Mesmo assim Michael viu suas palavras chegando ao alvo.
– Ainda que o que você diz seja verdade, o que eu posso fazer?
O Bergensfjord: Michael tinha dado tudo a ele. Agora iria lhe dar isso.
– Preciso que você aprenda a pilotá-lo.
TRINTA E CINCO
O enterro aconteceu de manhã. Um serviço simples à beira da sepultura: Meredith havia solicitado que nenhum anúncio da morte de Vicky fosse feito até o dia seguinte. Apesar de sua importância, Vicky tinha sido uma pessoa reservada, que compartilhava sua vida particular com apenas algumas pessoas. Sejamos somente nós. Peter disse algumas palavras, seguido pela irmã Peg. A última a falar foi Meredith. Parecia controlada; tinha tido anos para se preparar. Mesmo assim, com um pequeno embargo na voz, disse que ninguém jamais está preparado. Em seguida contou uma série de histórias hilárias que deixaram todos chorando de tanto rir. No fim todo mundo estava dizendo a mesma coisa: Vicky ficaria muito feliz com isso.
Foram para a casa que agora era somente de Meredith. A cama na sala havia sumido. Peter andou no meio dos convidados – autoridades do governo, militares, alguns amigos. Então, enquanto se preparava para ir embora, Chase o chamou de lado.
– Peter, se tiver um segundo, há algo que eu gostaria de discutir.
Aí vem, pensou ele. O momento fazia sentido; agora que Vicky tinha partido, Chase sentia que o caminho para ele estava aberto. Foram para a cozinha. Chase parecia numa ansiedade pouco característica, mexendo na barba.
– Isso é meio incômodo para mim – admitiu.
– Pode parar aí mesmo, Ford. Está tudo bem. Decidi não me candidatar de novo.
Isso surpreendeu Peter um pouco, a facilidade com que as palavras saíram. Sentiu um fardo sendo retirado.
– Vou lhe dar apoio total. Você não deve ter problemas.
Chase pareceu perplexo, depois riu.
– Acho que você entendeu mal. Quero me demitir.
Foi a vez de Peter ficar perplexo.
– Eu estava esperando até Vicky... bom. Eu sabia que ela ficaria decepcionada comigo.
– Mas eu sempre achei que você queria isso.
Chase deu de ombros.
– Ah, houve um tempo em que eu queria. Quando ela escolheu você, fiquei bem chateado, não vou negar. Mas não mais. Nós tivemos nossas diferenças, mas ela estava certa, você era perfeito para o cargo.
Como Peter podia ter julgado tão mal?
– Não sei o que dizer.
– Diga “Boa sorte, Ford”.
Ele fez exatamente isso.
– O que você vai fazer?
– Olivia e eu estamos pensando em Bandera. É uma terra boa para criar gado. Os telégrafos estão funcionando, a cidade é a primeira do projeto para a ferrovia. Acho que daqui a cinquenta anos vou deixar meus netos ricos.
Peter assentiu.
– É um bom plano.
– Sabe, se você não vai mesmo se candidatar de novo, eu estaria disposto a aceitar um sócio.
– Sério?
– Na verdade a ideia foi de Olivia. Ela me conhece; sou todo detalhista. Se você quiser consertar os esgotos na hora certa, sou o cara certo. Mas criar gado exige mais do que isso. Exige coragem e capital. A simples menção do seu nome abriria um monte de portas.
– Realmente não sei nada sobre vacas, Ford.
– E eu lá sei? Vamos aprender. É o que todo mundo está fazendo hoje em dia, não é? Vamos formar uma boa equipe. Até agora formamos.
Peter tinha que admitir: a ideia era intrigante. De algum modo, no correr dos anos, tinha deixado de notar que ele e Chase haviam se tornado... imagine só, amigos.
– Mas quem vai se candidatar, se não for você? – perguntou Peter.
– Isso importa? Nós somos meio governo agora. Daqui a dez anos este lugar vai estar vazio, vai ser uma relíquia. As pessoas vão fazer seu próprio caminho. Acho que o próximo cara a se sentar naquela cadeira vai ser quem vai apagar as luzes. Particularmente, fico feliz que não seja você. Sou seu conselheiro, portanto que este seja meu último conselho: vá com força, fique rico, deixe uma fortuna para trás. Tenha uma vida, Peter. Você merece. O resto se ajeita.
Peter não pôde questionar.
– Quando você precisa da minha resposta?
– Não sou Vicky. Pense quanto quiser. Sei que é um passo grande.
– Obrigado.
– Por quê?
– Por tudo.
Chase deu um sorriso.
– De nada. A carta está na sua mesa, por sinal.
Depois de Chase sair, Peter se demorou na cozinha; saiu alguns minutos depois e descobriu que quase todo mundo tinha ido embora. Despediu-se de Meredith e foi para a varanda, onde Apgar estava esperando com as mãos nos bolsos.
– Chase deu o fora.
Uma sobrancelha se levantou.
– É?
– Por acaso você não estaria disposto a se candidatar a presidente?
– Rá!
Um jovem policial subiu correndo pelo caminho. Estava sem fôlego e suando, evidentemente depois de correr uma grande distância.
– O que houve, filho? – perguntou Peter.
– Senhores – disse ele, ofegando. – Os senhores precisam ver uma coisa.
O caminhão estava parado na frente da sede do governo. Quatro soldados montavam guarda. Peter abriu a traseira e puxou a lona de lado. Caixotes militares preenchiam o espaço, até o teto. Dois soldados tiraram um caixote da primeira fileira e puseram no chão.
– Não vejo um desses há anos – disse Apgar.
Os caixotes vinham do bunker de Dunk. Dentro, lacrada a vácuo em tiras de plástico, havia munição: calibres 223, 5.56, 9 mm, 45 ACP.
Apgar quebrou o lacre de uma bala, levantou-a à luz e assobiou, admirando.
– Isso é material do bom. Original do exército.
Em seguida se levantou e se virou para um soldado.
– Cabo, quantas balas você tem na sua pistola?
– Só uma, senhor.
– Me dê aqui.
O soldado a entregou. Apgar soltou o pente, esvaziou a câmara e pôs um cartucho novo no topo do pente. Acionou o cursor e entregou a arma a Peter.
– Quer fazer as honras?
– Esteja à vontade.
Apgar apontou a pistola para um quadrado de terra a três metros dali e puxou o gatilho. Houve um estrondo satisfatório quando a terra saltou.
– Vamos ver o que mais temos – disse Peter.
Tiraram um segundo caixote. Este continha uma dúzia de M16s com pentes extras de 35 balas, igualmente lacradas, parecendo novas como no dia em que foram feitas.
– Alguém viu o motorista? – perguntou Peter.
Ninguém tinha visto; o caminhão simplesmente havia aparecido.
– E por que Dunk está mandando isso para a gente? – perguntou Apgar. – A não ser que você tenha feito algum acordo e não tenha me contado.
Peter deu de ombros.
– Não fiz.
– Então como explicar?
Peter não sabia.
TRINTA E SEIS
Alicia entrou no Texas pela antiga Autoestrada 20. Manhã do 43o dia; tinha viajado metade do continente. A princípio a viagem era lenta – abrindo caminho pelos destroços do litoral, penetrando no interior pelas dobras rochosas dos Apalaches. Em seguida o caminho ficou mais fácil e ela conseguiu acelerar um pouco o ritmo. Os dias ficaram mais quentes, as árvores explodiam em flor, a primavera se espalhou. Dias inteiros se passaram com chuva forte; depois o sol se lançou sobre a terra. Noites incríveis, sem nuvens e estreladas, a lua rolando por seu ciclo enquanto ela cavalgava.
Mas agora pararam para descansar. À sombra do toldo de um posto de gasolina Alicia se deitou no chão, enquanto Soldado pastava ali perto. Descansariam apenas algumas horas e iriam em frente. Seus ossos estavam ficando pesados; ela se sentiu mergulhando no sono. Durante toda a viagem este tinha sido o padrão. Dias acordada, a mente tão alerta que era quase doloroso, depois caía como um pássaro que levasse um tiro no céu.
Sonhou com uma cidade. Não era Nova York; não era uma cidade que ela tivesse visto ou conhecido. A visão era majestosa. No escuro ela flutuava como uma ilha de luz. Fortificações poderosas a cercavam, protegendo-a de todo o perigo. De dentro vinham sons de vida: vozes, risos, música, os gritos deliciados de crianças brincando. Os sons caíam sobre ela como uma chuva constante. Como Alicia ansiava por estar entre os habitantes daquela cidade feliz! Foi na direção dela e andou ao redor do perímetro, procurando uma entrada. Parecia não existir nenhuma, mas então encontrou uma porta. Era minúscula, feita para uma criança. Ajoelhou-se e virou a maçaneta, mas a porta não cedia. Percebeu que as vozes tinham parado. Acima dela a muralha da cidade se erguia no negrume. Me deixem entrar! Começou a bater na porta com os punhos; o pânico a consumia. Alguém, por favor! Estou sozinha aqui fora! A porta continuava a recusá-la. Seus gritos viraram uivos, e então ela viu: não havia porta. A parede era perfeitamente lisa. Não me deixem! Do outro lado a cidade tinha ficado silenciosa: as pessoas, as crianças, tudo havia sumido. Bateu até não conseguir mais e desmoronou no chão, soluçando. Por que me deixaram, por que me deixaram...
Acordou na hora do crepúsculo. Deitada imóvel, piscou para afastar o sonho, depois se apoiou nos cotovelos e viu Soldado parado na beira do abrigo. Ele virou um olho escuro para ela.
– Certo. Já estou indo.
Kerrville estava a quatro dias de distância.
TRINTA E SETE
Kate e as meninas estavam com eles havia pouco mais de um mês. No início Caleb não se incomodou. Era bom para Pim ter a família por perto, e as meninas adoravam Theo. Mas, à medida que as semanas passavam, o humor de Kate só parecia ficar mais sombrio. Aquilo preenchia a casa como um gás. Ela realizava algumas tarefas e passava longas horas dormindo, ou então sentada nos degraus da frente, olhando para o espaço.
Quanto tempo ela vai ficar se lamentando desse jeito?
Pim estava lavando os pratos do desjejum. Enxugou as mãos numa toalha e olhou para ele. Ela é minha irmã. Acabou de perder o marido.
É melhor que ela vá embora, pensou Caleb, mas não disse; não precisava.
Dê tempo a ela, Caleb.
Caleb saiu de casa. Junto à porta, Elle e Bug estavam brincando com Theo, que tinha aprendido a engatinhar. O menino era capaz de desenvolver uma velocidade espantosa; Caleb lembrou às meninas para ficarem de olho no primo e não se afastarem de casa.
Estava atrelando os cavalos ao arado quando ouviu um grito de susto e dor. Voltou correndo para o quintal, enquanto Kate e Pim vinham correndo de dentro de casa.
– Tira elas! Tira elas!
As pernas de Elle estavam cheias de formigas – centenas. Caleb a pegou no colo e correu até a gamela, a menininha retorcendo-se e berrando em seus braços. Mergulhou-a na água e começou freneticamente a tirar as formigas das pernas da sobrinha, passando as mãos para cima e para baixo na pele. As formigas estavam nele também; sentiu a picada elétrica das presas cravando-se nos braços, nas mãos, dentro do colarinho da camisa.
Por fim Elle se aquietou, os gritos virando soluços. Uma camada escura de corpos de formigas flutuava na superfície da gamela. Caleb ergueu a sobrinha e a entregou a Kate, que a enrolou numa toalha. As pernas estavam cobertas de inchaços.
Tem unguento lá dentro, sinalizou Pim.
Kate levou Elle. Caleb tirou a camisa por cima da cabeça e sacudiu-a, espalhando formigas. Tinha um monte de picadas também, mas nem de longe como a sobrinha.
Cadê Theo e Bug?, perguntou.
Em casa, disse Pim.
Tinha sido uma primavera terrível com as formigas. As pessoas diziam que era o clima – o inverno úmido, a primavera seca, o verão precoce, de um calor chocante. As florestas estavam cheias de formigueiros, alguns alcançando proporções gigantescas.
Pim olhou preocupada para o marido.
Podemos fazer alguma coisa?
Isso não pode durar para sempre. Devemos manter as crianças dentro de casa até passar.
Mas não passou. Na manhã seguinte o terreno em volta da casa estava lotado dos insetos. Caleb decidiu queimar os formigueiros. Pegou uma lata de combustível no barracão e a levou à beira da floresta. Escolheu o maior monte, com um metro de largura e meio de altura, jogou querosene, acendeu um fósforo e recuou para olhar.
Uma fumaça preta subiu, e formigas jorraram do monte de terra numa horda. Ao mesmo tempo, a terra dura da superfície do formigueiro começou a inchar como um vulcão, depois se rachou como um pedaço de fruta podre. O solo cascateou pelas laterais. Caleb saltou para trás. Que diabo havia ali embaixo? Devia ser uma colônia gigantesca, com milhões daquelas sacaninhas, levadas ao pânico pela fumaça e as chamas.
O formigueiro desmoronou.
Caleb deu um passo à frente, cauteloso. As últimas chamas estavam se apagando. Só restava uma reentrância rasa na terra.
Pim chegou ao seu lado.
O que aconteceu?
Não sei bem.
De onde estava, contou outros cinco montes.
Vou pegar a carroça. Fique dentro de casa.
Aonde você vai?, sinalizou Pim.
Preciso de mais gasolina.
TRINTA E OITO
O Homem Gambá estava sumido.
O Homem Gambá, mas também cachorros – montes de cachorros. Em geral a cidade vivia atulhada deles, pricipalmente na planície. Não era possível dar dez passos por lá sem ver uma daquelas coisas desgraçadas, pernas magricelas, pelo embolado e olhos remelentos, farejando uma pilha de lixo ou se agachando para dar uma cagada mole na lama.
Mas de repente não havia cães.
O Homem Gambá morava no rio, perto do antigo perímetro. Parecia o que era: pálido, de nariz pontudo, com olhos escuros, ligeiramente esbugalhados, e orelhas que saltavam das laterais do rosto. Tinha uma mulher com metade da sua idade, mas não era do tipo que alguém quisesse. Segundo ela, eles ouviram um barulho no quintal tarde da noite. Acharam que poderiam ser raposas que tinham entrado nos viveiros antes. O Homem Gambá tinha pegado seu fuzil e ido olhar. Um tiro, depois nada.
Eustace estava ajoelhado perto do que restava dos viveiros, que pareciam golpeados por um tornado. Se havia rastros, não encontrou nenhum; a terra do quintal era muito dura. Havia cadáveres de gambás espalhados, transformados em nacos sangrentos, mas a alguns metros de distância dois deles se remexiam na terra, olhando-o tristonhos, como testemunhas traumatizadas. Na verdade eram quase bonitos. Enquanto o que estava mais próximo saltava para ele, Eustace estendeu a mão.
– Não queira fazer isso – alertou a mulher. – Eles são uns bichos malignos. Vão arrancar seu dedo com uma dentada.
Eustace puxou a mão de volta.
– Certo.
Ficou parado olhando a mulher. O nome dela era Rena, Renee, algo assim, e era a coisa mais descarnada em que ele já pusera os olhos. Era inteiramente possível que seus pais a tivessem dado ao Homem Gambá em troca de comida. Esse tipo de barganha era comum.
– Você disse que achou o fuzil.
Ela o pegou na casa. Eustace acionou a alavanca, soltando um cartucho vazio. Perguntou onde ela o havia encontrado. Os olhos da mulher não apontavam exatamente na mesma direção; isso tornava um pouco difícil falar com ela.
– Mais ou menos onde o senhor está.
– E você não ouviu mais nada. Só um tiro.
– Aconteceu como eu falei.
Ele estava começando a se perguntar se ela teria feito aquilo – atirado no Homem Gambá, arrastado o corpo dele para o rio, arrebentado os viveiros para encobrir os rastros. Bom, se tinha feito isso, provavelmente era por um bom motivo, e sem dúvida Eustace não iria fazer nada a respeito.
– Vou espalhar a notícia. Se ele aparecer, avise.
– Tem certeza de que não quer entrar, xerife?
Ela o estava encarando. Eustace demorou um segundo para deduzir o que era. O olhar vesgo viajou por toda a extensão do seu corpo, depois se demorou num local específico. O gesto deveria ser sedutor, mas era mais como uma cabeça de gado tentando se vender.
– Dizem que o senhor não tem mulher.
Eustace não se perturbou com o comentário. Bom, talvez um pouco. Mas a mulher tinha sido tratada como objeto durante toda a vida; não tinha outro modo de fazer as coisas.
– Não acredite em tudo o que você ouve.
– Mas o que eu vou fazer se ele estiver morto?
– Você tem dois gambás, não é? Faça mais.
– Aqueles ali? Os dois são machos.
Eustace devolveu o fuzil.
– Tenho certeza de que você vai pensar em alguma coisa.
Voltou à cadeia. Fry, sentado com as botas em cima da mesa, estava folheando um livro ilustrado.
– Ela tentou trepar com você? – perguntou, sem levantar os olhos.
Eustace ocupou a cadeira atrás da sua mesa.
– Como você sabe?
– Dizem que ela faz isso.
Ele virou uma página.
Acha que ela matou o cara?
– Pode ser.
Eustace indicou o livro.
– O que você tem aí?
Fry o exibiu. Onde vivem os monstros.
– Esse é bom – disse Eustace.
A porta se abriu e um homem entrou, batendo poeira do chapéu. Eustace o reconheceu; ele e a mulher plantavam num terreno do outro lado do rio.
– Xerife. Oficial.
E assentiu para um de cada vez.
– Em que posso ajudar, Bart?
Bart pigarreou, nervoso.
– É a minha mulher. Não consigo encontrá-la em lugar nenhum.
Eram nove da manhã. Ao meio-dia Eustace tinha ouvido a mesma história catorze vezes.
TRINTA E NOVE
Era o meio da tarde quando Caleb chegou de carroça à cidade. O local parecia totalmente morto – não havia pessoas em lugar nenhum. Em duas horas na estrada, ele não tinha visto ninguém.
A porta da mercearia estava trancada. Caleb protegeu os olhos com as mãos, espiando pelo vidro. Nada, nenhum movimento dentro. Imobilizou o corpo, prestando atenção em meio ao silêncio. Onde diabo estava todo mundo? Por que George fecharia o estabelecimento no meio do dia? Deu a volta até o beco. A porta dos fundos estava escancarada. O portal quebrado; a porta tinha sido arrombada.
Voltou à carroça para pegar o fuzil.
Abriu a porta com a ponta do cano e entrou. Era o depósito. O lugar estava atulhado – pilhas de sacos de ração, rolos de arame farpado, carretéis de corrente e corda –, deixando apenas um corredor estreito por onde passar.
– George? – gritou. – George, você está aí?
Sentiu e ouviu algo sendo esmagado sob os pés. Um saco de ração tinha sido rasgado. Quando se ajoelhou para olhar, ouviu um estalo agudo acima da cabeça. Saltou para trás, levantando o cano do fuzil.
Era um guaxinim. O animal estava sentado na pilha. Levantou-se nas patas traseiras, esfregando as da frente, e deu a ele um olhar de inocência profunda. Essa bagunça no chão? Não tem nada a ver comigo, meu chapa.
– Anda, vá embora – falou Caleb, cutucando-o com a ponta do fuzil. – Tire esse rabo daqui antes que eu transforme você num chapéu.
O guaxinim desceu correndo a pilha de sacos e saiu pela porta. Caleb respirou para acalmar o coração e passou pela cortina de contas, entrando na loja. A caixa trancada onde George mantinha os ganhos do dia estava atrás do balcão, no lugar de sempre. Passou pelos corredores sem encontrar nada fora do lugar. Um lance de escada atrás do balcão levava ao segundo andar – presumivelmente onde George morava.
– George, se você está aí, é o Caleb Jaxon. Estou subindo.
Chegou a um cômodo grande com mobília estofada e cortinas nas janelas. O ambiente aconchegante o surpreendeu – tinha esperado um local desleixado de solteirão. Mas George já tinha sido casado. O cômodo era dividido em duas áreas, uma de estar e a outra para dormir. Uma mesa de cozinha; um sofá e poltronas com panos de renda nos encostos de cabeça; uma cama de ferro fundido com colchão afundando; um guarda-roupa com ornamentos entalhados, do tipo que em geral ficava na família, viajando pela estrada de várias gerações. Tudo parecia bastante arrumado, mas, enquanto observava, Caleb começou a notar algumas coisas. Uma cadeira de jantar tinha sido derrubada; livros e outros objetos – uma panela, uma bola de lã, um lampião – estavam jogados no piso; um espelho grande, de tamanho natural, tinha sido quebrado, o vidro rachado em círculos concêntricos, como uma teia de aranha reflexiva.
Enquanto seguia até a cama, o odor o acertou: o fedor rançoso, biológico, de vômito velho. O penico de George estava no chão, perto da cabeceira; era de onde vinha o fedor. Havia cobertores embolados ao pé do colchão, como se tivessem sido chutados por alguém com sono inquieto. Na mesinha de cabeceira estava a arma de George, um revólver calibre 357 de cano longo. Caleb abriu o tambor e empurrou a haste de ejeção. Seis balas caíram na palma da sua mão; uma tinha sido disparada. Virou-se e girou a pistola pelo cômodo, depois a baixou e foi na direção do espelho quebrado. No epicentro das rachaduras havia um único buraco de bala.
Algo tinha acontecido ali. Sem dúvida George estava doente, mas havia algo mais. Um assalto? Mas a caixa de dinheiro não tinha sido tocada. E o buraco de bala era estranho. Uma bala perdida, talvez, ainda que alguma coisa naquilo parecesse deliberada – como se, deitado na cama, George tivesse atirado em seu próprio reflexo.
No beco, encheu os garrafões no tanque e colocou na carroça. Não seria bom sair sem pagar; fez uma avaliação e deixou as notas sob o balcão, com um bilhete: “Não tinha ninguém aqui, a porta estava destrancada. Peguei quinze galões de querosene. Se o dinheiro não bastar, volto daqui a uma semana e pago. Atenciosamente, Caleb Jaxon.”
Na saída da cidade parou diante da sede do município para informar o que tinha encontrado. Alguém deveria ao menos consertar a porta da mercearia e trancar o lugar até que soubessem o que havia acontecido com George. Mas também não havia ninguém lá.
O crepúsculo estava baixando quando chegou em casa. Caleb descarregou o querosene, pôs os cavalos no cercado e entrou em casa. Pim estava sentada com Kate perto do fogão frio, escrevendo em seu diário.
Conseguiu o que queria?
Ele confirmou com a cabeça. Era estranho como agora Kate é que era a silenciosa. Mal levantara os olhos do tricô.
Como estava a cidade?
Caleb hesitou, depois sinalizou:
Muito quieta.
Jantaram bolo de milho, brincaram com um jogo e foram para a cama. Pim apagou feito uma luz, mas Caleb dormiu mal; praticamente não dormiu. Durante toda a noite sua mente parecia saltar pelo limiar do sono como uma pedra sobre a água, jamais rompendo a superfície. À medida que o amanhecer se aproximava, desistiu de tentar e saiu de casa. O terreno estava úmido com orvalho, as últimas estrelas recuando num céu que empalidecia lentamente. Pássaros cantavam em toda parte, mas isso não duraria; ao sul, uma parede de nuvens rolava no horizonte: aproximava-se uma tempestade de primavera. Caleb calculou que teria uns vinte minutos antes que ela chegasse. Ficou olhando para ela durante mais um minuto, depois pegou o primeiro garrafão de querosene e o levou ao limite da floresta.
Não sabia o que estava vendo. Simplesmente não fazia sentido. Talvez fosse a luz. Mas não.
Não havia mais formigueiros.
QUARENTA
6h: Michael Fisher, chefão do comércio, estava no cais olhando a luz da manhã chegar. Um alvorecer denso, nublado; as águas do canal, apanhadas entre as marés, estavam absolutamente imóveis. Quanto tempo fazia desde que tinha dormido? Não estava exatamente cansado – havia ultrapassado muito esse ponto –, mas funcionando numa espécie de reserva de energia que parecia vagamente mortal, como se estivesse se consumindo até se exaurir. Quando ela acabasse, seria o seu fim; ele desapareceria num sopro de fumaça.
Tinha saído das entranhas do Bergensfjord com alguma vaga intenção que não recordava; no momento em que bateu no ar puro, o plano fugiu da sua mente. Tinha ido até a beira do cais e se pegou simplesmente parado. Vinte e um anos: era incrível como tanto tempo podia passar. Os acontecimentos agarravam a gente e num piscar de olhos estávamos ali, com joelhos doloridos, estômago azedo e um rosto no espelho que mal reconhecíamos, imaginando como tudo isso havia acontecido. Se essa era mesmo a nossa vida.
O Bergensfjord estava quase pronto. Propulsão, hidráulica, navegação. Eletrônica, estabilizadores, leme. Os depósitos estavam carregados, os dessalinizadores funcionando.
Tinham despido o navio até a configuração mais simples; o Bergensfjord era basicamente um tanque de gasolina flutuante. Mas muita coisa tinha sido deixada ao acaso. Por exemplo: será que ele flutuaria? Cálculos feitos em papel eram uma coisa; a realidade era outra. E, se flutuasse, será que o casco montado a partir de mil placas diferentes de aço recuperado, um milhão de parafusos, rebites e soldas resistiria a uma viagem de tamanha duração? Será que tinham combustível suficiente? E o clima, especialmente quando tentasse contornar o cabo Horn?
Michael tinha lido tudo que havia sido possível encontrar sobre as águas que pretendia cruzar. As notícias não eram boas. Tempestades lendárias, correntes transversais de tamanha violência que podiam arrancar o leme, ondas de dimensões assustadoras que podiam inundar o barco num segundo.
Sentiu alguém chegando por trás: Lore.
– Bela manhã – disse ela.
– Parece que vai chover.
Ela deu de ombros, olhando a água.
– Mas mesmo assim está bela.
Queria dizer: quantas outras manhãs teremos? Quantos alvoreceres para olhar? Vamos aproveitar enquanto podemos.
– Como vão as coisas na casa do leme? – perguntou Michael.
Ela soltou o ar com força.
– Não se preocupe – disse ele. – Você vai conseguir.
Agora havia um pouquinho de rosa nas nuvens. Gaivotas voavam baixo sobre a água. Era mesmo uma bela manhã, pensou Michael. Sentiu um orgulho súbito. Orgulho de seu navio, seu Bergensfjord. Que tinha viajado metade do mundo para testar seu valor. Que tinha lhes dado uma chance e dito: Aproveitem se puderem.
Um brilho de luz apareceu na pista elevada.
– Lá está o Greer – disse ele. – É melhor eu ir.
Michael foi andando pelo cais e encontrou o primeiro caminhão-tanque no instante em que Greer saltava da cabine.
– É o último carregamento – explicou Greer. – Conseguimos trazer tudo com dezenove caminhões, por isso deixamos o último para trás.
– Algum problema?
– Uma patrulha viu a gente ao sul do alojamento em Rosenberg. Acho que devem ter imaginado que estávamos a caminho de Kerrville. Calculei que já estariam em cima de nós agora, mas, pelo jeito, não.
Michael olhou por cima do ombro de Greer e sinalizou para Rand.
– Pegou esse?
Homens iam em bando para os caminhões. Rand levantou o polegar.
Michael olhou de novo para Greer, que estava claramente exaurido. Seu rosto tinha se afinado a ponto de atingir proporções esqueléticas: malares afiados como facas, olhos vermelhos e fundos, pele pálida e úmida. Uma geada de pelos brancos cobria as bochechas e o pescoço; seu hálito estava azedo.
– Vamos comer alguma coisa – disse Michael.
– Quero dormir um pouco.
– Primeiro coma o desjejum comigo.
Tinham montado uma barraca no cais, com uma cozinha e camas, para que todos pudessem descansar. Michael e Greer encheram as tigelas com mingau aguado e se sentaram à mesa. Alguns outros homens estavam encolhidos sobre a comida, os rostos frouxos de exaustão. Ninguém falava.
– Todo o resto está pronto? – perguntou Greer.
Michael deu de ombros. Mais ou menos.
– Quando você quer que a gente inunde a doca?
Michael tomou uma colherada de mingau.
– Ele deve estar pronto dentro de um ou dois dias. Lore quer inspecionar o casco pessoalmente.
– É uma mulher cuidadosa, a nossa Lore.
Mancha apareceu do outro lado da barraca. Olhos desfocados, aproximou-se andando, levantou a tampa da panela, pensou por um instante, mudou de ideia e, em vez de comer, ocupou uma cama, mais sucumbindo do que deitando, como se fosse derrubado por uma bala.
– Você também deveria tirar um cochilo – sugeriu Greer.
Michael deu um riso dolorido.
– Não seria ótimo?
Terminaram o desjejum e foram até a área de carga, onde a picape de Michael estava parada. Dois caminhões-tanques já tinham sido esvaziados e estavam estacionados. Uma ideia tomou forma na mente de Michael.
– Vamos deixar um caminhão cheio e levar ao fim da pista. Ainda temos algum daqueles acendedores de enxofre?
– Devemos ter.
Não eram necessárias maiores explicações.
– Deixo isso por sua conta.
Michael entrou na picape e pôs sua arma no suporte embaixo do volante; uma espingarda de cano curto com cabo de pistola e um alforje com munição extra estavam enfiados entre os bancos. Sua mochila fora colocada no banco do carona. Nela havia mais balas, uma muda de roupas, fósforos, um kit de primeiros socorros, um pé de cabra, um vidro de éter, um trapo e uma pasta de papelão fechada com barbante.
Michael ligou o motor.
– Sabe, nunca estive na cadeia. Como é?
Greer riu através da janela aberta.
– A comida é melhor do que aqui. Os cochilos são sensacionais.
– Então deve ser ótimo.
A expressão de Greer ficou séria.
– Ele não pode saber sobre ela, Michael. Nem sobre Carter.
– Você não está facilitando meu trabalho, sabe?
– É assim que ela quer.
Michael observou o amigo por mais alguns segundos. O sujeito parecia mesmo péssimo.
– Vá dormir – disse.
– Vou acrescentar isso à minha lista de tarefas.
Os dois trocaram um aperto de mãos.
Michael engrenou a picape.
QUARENTA E UM
– Calma, pessoal!
O auditório estava lotado, todas as cadeiras tomadas, com mais pessoas apinhadas no fundo e nos corredores. O salão fedia a medo e falta de banho. Na frente, o prefeito, de rosto vermelho e suando, bateu inutilmente seu martelo de madeira no pódio, berrando por silêncio, enquanto atrás dele os membros do Conselho do Estado Livre – o grupo de indivíduos mais ineficaz em que Eustace já havia posto os olhos – encontravam papéis para remexer e botões para ajeitar, desviando os olhos cheios de culpa como um grupo de alunos apanhados colando na prova.
– Minha mulher sumiu!
– Meu marido! Alguém o viu?
– Meus filhos! Dois!
– O que aconteceu com todos os cachorros? Alguém mais notou isso? Não tem cachorro em lugar nenhum!
Mais batidas com o martelo.
– Que desgraça, pessoal, por favor!
E continuou assim. Eustace olhou para Fry, parado do outro lado do salão. O companheiro de trabalho estava lhe dirigindo um olhar que dizia: Ah, meu chapa, isso vai ser muito divertido.
Por fim o salão silenciou o bastante para que o prefeito fosse ouvido.
– Certo, assim está melhor. Sabemos que todo mundo está preocupado e quer respostas. Quero chamar o xerife, que talvez possa dar alguma luz. Gordon?
Eustace ocupou o pódio e foi direto ao ponto:
– Bom, neste momento não sabemos muito mais do que vocês. Cerca de setenta pessoas sumiram nas últimas duas noites. Mas pode ser que sejam mais. O oficial Fry e eu ainda não fomos a todas as fazendas.
– Então por que não estão procurando por elas? – gritou uma voz.
Eustace identificou o rosto do homem na multidão.
– Porque estou aqui falando com você, Gar. Agora cale a boca para eu terminar com isso.
Uma voz gritou no outro lado do salão:
– É, fecha a boca e deixa o cara falar!
Mais gritos, vozes ansiosas de um lado e do outro. Eustace deixou a balbúrdia seguir seu curso.
– Como eu estava dizendo – continuou –, não sabemos onde essas pessoas foram parar. O que parece ter acontecido é que, por algum motivo, esses indivíduos se levantaram no meio da noite, saíram e não voltaram.
– Talvez alguém esteja pegando eles! – gritou Gar. – Talvez essa pessoa esteja aqui mesmo, nesta sala!
O efeito foi instantâneo; todo mundo começou a olhar para todo mundo. Um murmúrio baixo percorreu o recinto. Será que...?
– Por ora não estamos descartando nada – disse Eustace, sabendo como isso parecia insatisfatório –, mas essa hipótese não parece muito provável. Estamos falando de muita gente.
– Talvez haja mais de uma pessoa fazendo isso!
– Gar, quer vir aqui e comandar a reunião?
– Só estou dizendo...
– O que você está fazendo é assustar as pessoas. Não vou permitir que comece a gerar pânico, as pessoas olhando de esquelha umas para as outras. Agora cale a boca antes que eu o ponha na cadeia.
Uma mulher na fila da frente se levantou.
– Está dizendo que meus garotos fugiram? Eles têm 6 e 7 anos!
– Não, não estou dizendo isso, Lena. Estou dizendo apenas que não temos mais informações no momento. O melhor que vocês podem fazer é ficar em casa até a gente resolver isso.
– E a minha mulher? – perguntou alguém que Eustace não conseguiu identificar. – Está dizendo que ela simplesmente me abandonou?
O prefeito, avançando para retomar o pódio, levantou as duas mãos.
– Acho que o que o xerife está tentando expressar...
– Ele não está “expressando” nada! Você ouviu! Ele não sabe!
Todo mundo começou a gritar de novo. Não havia como voltar atrás; a coisa estava fugindo ao controle. Eustace olhou para Fry, do outro lado do palco. Este inclinou a cabeça na direção das coxias. Enquanto o prefeito voltava a bater seu martelo, Eustace se esgueirou para os bastidores e encontrou Fry junto à porta. Os dois saíram.
– Bom, sem dúvida foi produtivo – disse Fry. – Achei bom sairmos antes que o tiroteio começasse.
– Eu não brincaria com isso. Vamos ficar no topo da lista de todo mundo se não descobrirmos o que está acontecendo.
– Acha que eles ainda estão vivos?
– Na verdade, não.
– O que você quer fazer?
O dia estava claro e quente, o sol no meio de um céu sem nuvens. Eustace se lembrou de um dia como esse: primavera no ápice do verão, a terra se abrindo, folhas verdes e densas, cheias de fragrância, engordando as árvores. Uma caminhada perto do rio, Simon equilibrado em seus ombros, Nina ao lado. O dia parecia um presente maravilhoso, e então o momento inconfundível em que o menino ficou farto daquilo; a volta à casa e colocá-lo para dormir, Nina chamando-o da porta com seu sorriso especial, reservado só para ele, e os dois indo nas pontas dos pés para o quarto, para fazer um amor silencioso, preguiçoso, numa tarde ensolarada. Sempre a brincadeira: Como você pode beijar esse meu rosto feio? Mas ela podia; beijava. O último dia assim; para Eustace nunca mais viria outro.
– Vamos encontrar essas pessoas desaparecidas.
QUARENTA E DOIS
Apgar encontrou Peter onde ele sempre estava: atrás da mesa, abrindo caminho por uma massa de papéis.
Apenas dois dias sem a presença de Chase para organizar tudo, e Peter se sentia completamente atolado.
– Tem um minuto?
– Seja rápido.
Apgar ocupou a cadeira à frente dele.
– Temos um problema.
Ele estava preenchendo um formulário.
– Você também vai embora?
– Provavelmente não é o momento para isso. Recebi uma mensagem de Rosenberg hoje de manhã. Um monte de caminhões-tanque passando por lá nos últimos dias, mas nenhum apareceu aqui.
Peter levantou a cabeça.
– É isso mesmo – confirmou Apgar.
– O que a refinaria diz?
– Tudo segue segundo a programação, blá-blá-blá. Até que, hoje de manhã, nem um pio, e não conseguimos falar com eles.
Peter se recostou na cadeira. Santo Deus.
– Mandei homens à refinaria para dar uma olhada, mas acho que já sei o que vamos encontrar. Você precisa admitir que o sujeito tem colhões.
– Para que diabos Dunk precisaria de óleo?
– Minha aposta é que ele não precisa. Ele quer alguma coisa.
– Por exemplo?
– Aí você me pegou. Mas não vai ser uma coisa pequena. O pessoal de Luz e Força diz que temos gasolina suficiente para dez dias ou um pouco mais, se fizermos racionamento. Mesmo que a gente consiga ocupar a refinaria, não haverá combustível bastante para pôr de volta no sistema a fim de manter as luzes acesas. Em menos de uma semana esta cidade vai estar às escuras.
Dunk os havia encurralado. Peter precisava admitir, mesmo a contragosto, que era uma estratégia brilhante. Mas uma peça não se encaixava.
– Então ele nos manda um caminhão cheio de armas e munição, depois sequestra todo o nosso combustível? Não faz muito sentido.
– Talvez as armas tenham vindo de outra pessoa.
– Era munição de bunker. Só o comércio tem isso.
Apgar se remexeu na cadeira.
– Bom, eis outra coisa para pensar. Primeiro você tem a Casa do Primo virando fumaça, depois um boato de que uma mulher de Dunk apareceu na cidade dizendo que aconteceu alguma coisa lá. Um monte de tiros.
– Quer dizer, um jogo de poder por parte de um dos homens dele.
– Pode ser apenas fofoca. E não sei como as peças se encaixam, mas é uma coisa em que se pensar.
– Onde ela está agora?
– A mulher?
Apgar quase gargalhou.
– Quem vai saber?
As armas e o combustível estavam conectados, mas como? E não parecia coisa de Dunk; manter uma cidade como refém estava acima do nível dele, e agora o exército tinha armas suficientes para tomar o istmo e tirá-lo dos negócios. Seria uma matança dos dois lados – a pista elevada era uma caixa de morte –, mas, assim que a poeira baixasse, Dunk Withers estaria morto numa vala com cinquenta buracos ou pendurado numa corda.
Então, pensou Peter, e se o combustível não fosse somente uma jogada? E se fosse realmente para alguma coisa?
– O que sabemos sobre o tal barco dele? – perguntou.
Apgar franziu a testa.
– Não muita coisa. Ninguém de fora põe os olhos naquilo há anos.
– Mas é grande.
– É o que dizem. Acha que tem alguma coisa a ver?
– Não sei o que pensar. Mas estamos deixando escapar alguma coisa. Já distribuímos aquela munição?
– Ainda não. Continua na armaria.
– Distribua. E vamos mandar uma patrulha para verificar o istmo. Quanto tempo até termos notícia de Freeport?
– Umas duas horas.
Eram pouco mais de três da tarde.
– Vamos colocar homens no perímetro. Diga que é um treinamento. E coloque alguns mecânicos no portão. Ele não é fechado há mais de uma década.
Apgar lhe lançou um olhar de cautela.
– As pessoas vão perceber.
– É melhor prevenir do que remediar. Nada disso faz sentido para nós, mas faz para alguém.
– E o istmo? Não devemos esperar demais para pôr um plano em ação.
– Não vou esperar. Pode escrever.
Apgar se levantou.
– Vou colocá-lo em sua mesa dentro de uma hora.
– Tão rápido assim?
– Só há uma entrada. Não há muito que dizer.
Ele se virou quando já estava junto à porta.
– Isso é uma merda e tanto, eu sei, mas talvez seja a oportunidade que estivemos esperando.
– É um modo de ver a coisa.
– Só fico feliz que não seja Chase sentado nessa cadeira.
Apgar deixou Peter sozinho. Apenas cinco minutos tinham sido necessários para que as pilhas de papel se tornassem completamente insignificantes. Peter girou a cadeira para a janela. O dia tinha começado com céu límpido, mas agora o tempo estava virando. Nuvens baixas pairavam sobre a cidade, uma pesada massa cinzenta. Um vento agitou as copas das árvores, seguido por um clarão que branqueou o céu. Enquanto o trovão ribombava em seguida, as primeiras gotas de chuva, pesadas e lentas, bateram no vidro.
Michael, ele pensou, que diabo você está aprontando?
QUARENTA E TRÊS
Anthony Carter, Décimo Segundo dos Doze, tinha acabado de desligar o cortador de grama quando olhou na direção do pátio e percebeu que o chá havia chegado.
Tão cedo? Será que já era meio-dia? Ergueu o rosto na direção do céu – um céu opressivo de verão em Houston, pálido como se tivesse sido lavado com água sanitária. Tirou o lenço, depois o chapéu, para enxugar o suor da testa. Um copo de chá certamente cairia bem.
A Sra. Wood, ela sabia disso. Se bem que, claro, não fora a Sra. Wood quem o havia trazido. Carter não sabia direito quem era. A mesma pessoa que entregava as caminhonetes de flores e os sacos de terra adubada no portão, que consertava suas ferramentas quando quebravam, que fazia o tempo girar do jeito que acontecia neste lugar, todo dia uma estação, cada estação um ano.
Empurrou o cortador de grama para o barracão, limpou-o e foi para o pátio. Amy estava trabalhando na terra do outro lado do gramado. Havia um pouco de gengibre ali. Crescia que era uma barbaridade, sempre necessitando de poda, cercado pelos canteiros onde a Sra. Wood gostava de colocar uma corzinha de verão. Hoje eram três caminhonetes de cosmos, os do tipo cor-de-rosa que a Srta. Haley adorava, e catava e colocava no cabelo.
– O chá chegou – disse Carter.
Amy levantou a cabeça. Estava usando um lenço enrolado no pescoço; havia terra em suas mãos e no rosto, onde ela havia enxugado o suor.
– Pode ir.
Ela afastou um mosquito do rosto.
– Quero terminar isso aqui primeiro.
Carter se sentou e bebericou o chá. Estava perfeito, como sempre; doce, mas não demais, e o gelo fazia um tilintar agradável nas laterais do copo. De trás dele, na casa, vieram as notas luminosas das meninas brincando. Às vezes eram Barbies ou brincadeiras de se vestir. Às vezes elas assistiam à televisão. Carter ouvia os mesmos filmes repetindo-se – um deles era Shrek, e havia também A princesa prometida – e sentia pena das duas, a Srta. Haley e sua irmã, sozinhas e enfiadas dentro de casa, esperando que a mãe voltasse. Mas quando Carter espiava pelas janelas nunca havia ninguém lá dentro; o interior e o exterior eram lugares diferentes, e os cômodos estavam vazios; nem mesmo havia móveis para indicar que alguma pessoa vivia ali.
Ele tivera algum tempo para pensar nisso. Tinha pensado num monte de coisas. Por exemplo, no que era esse lugar, exatamente. O melhor que podia deduzir era que seria uma espécie de sala de espera, como no consultório de um médico. Você esperava, talvez folheando uma revista, e, quando chegava sua vez, uma voz chamava seu nome e você ia para o lugar seguinte, onde quer que fosse. Amy chamava o jardim de “mundo atrás do mundo”, e para Carter isso parecia adequado.
Como o dia estava correndo, pensou. Precisaria voltar logo ao trabalho; havia um esguicho de água que precisava ser reposicionado, tinha de limpar a piscina e aparar todas as bordas dos canteiros. Sr. Carter, que trabalho maravilhoso o senhor está fazendo, cuidando deste lugar! O senhor é um enviado de Deus. Não sei como conseguia me virar sem o senhor. Ele gostava de pensar nas coisas que diriam um ao outro quando chegasse esse dia. Os dois teriam uma boa conversa, como antigamente, sentados no pátio, como dois amigos.
Mas por enquanto Carter estava contente em se acomodar num encantamento enquanto o calor perdia o gume. Desamarrou as botas e fechou os olhos. O jardim era um lugar onde pensar, e foi isso que ele fez. Lembrou-se de Wolgast vindo a ele em Terrell, que era a casa da morte, e depois uma viagem num furgão com um frio profundo e montanhas nevadas a toda a volta, e então os médicos lhe dando uma injeção. Aquilo o deixou doente, era uma coisa medonha, mas não era o pior.
O pior eram as vozes na cabeça. Sou Babcock. Sou Morrison. Sou Chávez Baffes Turrell Winston Sosa Echols Lambright Martínez Reinhardt... Viu imagens também, coisas horríveis, gente morrendo, como se estivesse tendo os sonhos de outra pessoa. Tinha frequentado um pouco a escola, e na turma tinham lido um livro do Sr. William Shakespeare. O próprio Carter não tinha lido uma parte muito grande. Mas a professora, a Sra. Coe, uma moça branca e bonita que enfeitava as paredes da sala com cartazes de animais, escaladas em montanhas e frases como “Busque as estrelas” e “Seja um amigo que faz um amigo”, tinha mostrado um vídeo à turma. Carter gostou, todo mundo lutando com espadas toda hora e todos vestidos que nem piratas, e a Sra. Coe explicou que o sujeito principal, que se chamava Hamlet e que também era príncipe, estava ficando maluco porque alguém tinha matado o pai dele derramando veneno no ouvido. Havia mais coisas na história, mas Carter recordava essa parte porque era isso que as vozes pareciam. Eram como veneno derramado no ouvido.
As coisas tinham continuado assim por um tempo, Carter não sabia direito quanto. Os outros sussurravam, diziam várias coisas, coisas feias, mas na maior parte do tempo o que diziam eram seus nomes, repetidamente, como se não conseguissem se fartar de si mesmos. Então ficaram quietos como o ar antes de uma tempestade, e foi então que Carter o ouviu: Zero. “Ouviu” não era exatamente a palavra. Zero podia fazer você pensar com a mente dele. Zero entrava em sua cabeça e era como pisar num degrau que não estava ali e cair por um buraco sem luz, e no fundo do buraco havia uma estação de trem. Pessoas corriam de um lado para outro com casacos de inverno, a voz no alto-falante dizia os números das plataformas e o que ia para onde. New Haven. Larchmont. Katonah. New Rochelle. Carter não conhecia esses lugares. Estava frio. O piso estava escorregadio com neve derretida. Ele estava parado no balcão do salão principal, o do relógio com quatro faces. Estava esperando alguém, alguém importante. Um trem chegava, depois outro. Onde ela estava? Será que alguma coisa tinha acontecido? Por que não tinha telefonado, por que não atendia? Um trem depois do outro, a ansiedade intensa, depois, enquanto os últimos passageiros se afastavam rapidamente, o esmagamento mais cruel de suas esperanças. Seu coração estava se despedaçando, mas ele não conseguia se obrigar a se mexer. Os ponteiros do relógio zombavam dele, girando. Ela disse que estaria aqui, onde ela estava?, como ansiava por abraçá-la, Liz, você é a única coisa que já importou, deixe-me abraçá-la enquanto você se esvai...
Depois disso Carter tinha ficado simplesmente maluco. Era como um longo sonho ruim em que ele se observava fazendo os piores tipos de coisas e não conseguia parar. Comia pessoas. Picava-as em pedacinhos. Algumas ele não matava, apenas provava, sem motivo, era só uma coisa que ele fazia porque era isso que Zero queria.
Lembrou-se de um casal num carro. Estavam indo para algum lugar com pressa e Carter tinha saltado das árvores sobre eles. Deixe essas pessoas em paz, estava dizendo a si mesmo, o que elas fizeram a você?, mas a parte faminta dele não ligava para isso, fazia o que gostava de fazer, e o que ela gostava de fazer era matar pessoas. Pousou com força no capô e permitiu que lhe dessem uma longa olhada, em seus dentes, suas garras e no que ele ia fazer. Os dois eram jovens. Havia o homem ao volante e a mulher ao lado, que Carter supôs que fosse a esposa dele. Tinha cabelos louros curtos e olhos grandes e fixos. O carro começou a rabear. Estavam derrapando para todo lado. O homem gritava Puta que pariu! e Que porra é essa?. Mas a mulher praticamente não reagia, como se seu cérebro não conseguisse lidar com a visão de um monstro no capô. E isso fez Carter parar, para ver como era esquisito, e foi então que notou a arma – uma grande pistola brilhante com um cano onde seria possível enfiar o dedo, que o homem estava tentando apontar por cima do volante. Não, não aponte isso, estava pensando a parte dele, a parte que ainda era Carter; nunca se deve apontar uma arma para ninguém, Anthony; e talvez fosse a lembrança da voz da sua mãe ou então o modo como o carro oscilava em curvas longas como uma criança num balanço indo cada vez mais alto, cada vez mais rápido, mas por um segundo Carter se imobilizou, e enquanto o carro começava a capotar a arma disparou num estardalhaço de luz e som e Carter sentiu uma ardenciazinha aguda no ombro, não mais do que uma abelha poderia fazer, e quando deu por si estava rolando no pavimento.
Levantou-se a tempo de ver o carro tombando de lado. Girou 360 graus e caiu sobre o teto em uma explosão de vidro e um guincho de metal se rasgando. Começou a rolar pelo asfalto feito uma tora, de novo e de novo, com pedaços brilhantes sendo lançados longe, até tombar de novo sobre o teto e finalmente parar.
Tudo ficou muito silencioso; estavam no campo, a quilômetros de qualquer cidade. Destroços cobriam a estrada com uma camada ampla e reluzente. Ele sentiu cheiro de gasolina e de algo quente e pungente, como plástico derretido. Soube que deveria sentir alguma coisa, mas não sabia o quê. Todos os seus pensamentos estavam misturados por dentro, como quadros de um filme que ele não conseguisse colocar em ordem. Foi até o carro e se agachou para olhar. Os dois estavam pendurados de cabeça para baixo nos cintos de segurança, o painel esmagado contra as cinturas. O homem tinha morrido por causa do grande pedaço de metal na cabeça, mas a mulher estava viva. Olhava à frente, os olhos arregalados, coberta de sangue – o rosto e a blusa, as mãos e o cabelo, os lábios, a língua e os dentes. Uma fumaça preta subia de baixo do painel. Um pedaço de vidro se partiu sob o pé de Carter e o rosto dela girou para ele, lentamente. Não havia nenhuma outra parte se movendo, acompanhando a origem do som.
– Tem alguém aí?
Bolhas de sangue se formaram nos lábios dela, atrapalhando as palavras.
– Por favor. Tem... al...guém... aí?
A mulher estava olhando direto para ele. Foi então que Carter percebeu que ela não enxergava. Era cega. Com um uummpf suave as chamas apareceram, lambendo por baixo do painel.
– Ah, meu Deus – gemeu ela. – Estou ouvindo você respirar. Pelo amor de Deus, por favor, responda.
Algo estava acontecendo com ele, uma coisa estranha. Como se os olhos cegos da mulher fossem um espelho, e o que ele via era a si próprio – não o monstro em que o haviam transformado, e sim o homem que ele tinha sido. Como se estivesse acordando e lembrando quem era. Tentou responder. Estou aqui, queria dizer. Você não está sozinha. Desculpe o que fiz. Mas sua boca não formava palavras. As chamas estavam se espalhando, a cabine se enchendo de fumaça.
– Ah, meu Deus, estou queimando, por favor, ah, meu Deus, ah, meu Deus...
A mulher estava estendendo a mão para ele. Não era isso, percebeu Carter. Ela estendia a mão com alguma coisa. Havia algo na mão dela. Um espasmo forte a sacudiu; ela havia começado a engasgar com o sangue que saía da boca. Seus dedos se abriram e um objeto caiu no chão.
Era uma chupeta.
O bebê estava no banco traseiro, ainda preso na cadeirinha de cabeça para baixo. A qualquer segundo o carro iria explodir. Carter saltou no chão e entrou pela janela de trás. Agora o bebê estava acordado e chorando. A cadeirinha não iria passar – ele precisaria tirar o bebê dela. Soltou a fivela, guiou os ombros da criança pelas alças, e num instante o peso macio de um bebê chorando preencheu seus braços. Era uma menininha usando pijama cor-de-rosa. Apertando-a com força no peito, Carter saiu do carro e começou a correr.
Mas era só disso que lembrava. A história terminava ali. Nunca soube o que foi feito da menininha. Anthony Carter, Décimo Segundo dos Doze, deu três passos inteiros antes que as chamas encontrassem o que estavam procurando, a gasolina no tanque se incendiou e o carro explodiu completamente.
Nunca mais tomou outra pessoa.
Ah, ele comeu. Ratos, gambás, guaxinins. De vez em quando um cachorro, do qual sempre sentia pena. Mas não se passou muito tempo até que o mundo ficasse silencioso e já não houvesse muitas pessoas para tentá-lo, até que um dia, depois de mais tempo ter se passado, ele percebeu que não existiam mais pessoas de fato.
Tinha se fechado para Zero, também – tinha se fechado para todos eles. Carter não queria participar do que eles estavam fazendo. Construiu uma parede na mente, com Zero e os outros de um lado e ele do outro; e apesar de a parede ser fina e Carter poder ouvi-los se quisesse, nunca mandava nada de volta.
Foi um tempo solitário.
Viu sua cidade se afogar. Tinha feito um lugar para si naquele prédio, o One Allen Center, porque era alto e à noite ele podia ficar no telhado, entre as estrelas, e sentir-se perto delas, para ter alguma companhia. Ano a ano as águas subiram em volta da base dos prédios, até que certa noite veio uma ventania enorme. Carter já havia passado por um ou dois furacões em seu tempo, mas este não era parecido com nenhuma tempestade que já tivesse visto. A tormenta fez o arranha-céu oscilar como um bêbado. Paredes estalavam, janelas saltavam dos caixilhos, tudo estava num tumulto. Imaginou se o fim do mundo estaria chegando, se Deus simplesmente teria enjoado de tudo. Enquanto as águas subiam, o prédio balançava e os céus uivavam, ele começou a rezar, dizendo para Deus levá-lo, se era isso que Ele queria, repetindo que lamentava pelas coisas que tinha feito, e que se havia um lugar melhor para ir, ele sabia que não o merecia, mas ainda assim esperava ter a chance de vê-lo, presumindo que Deus pudesse perdoá-lo, e Carter achava que Ele não podia.
Então ouviu um som. Um som aterrorizante, de rasgar o coração, inumano, como se os portões do inferno tivessem se aberto e liberado um milhão de almas berrando no redemoinho. Do negrume emergiu uma grande forma negra. Aquilo cresceu e cresceu, e então o relâmpago espocou e Carter viu o que era, mas não pôde acreditar. Um navio no centro de Houston. Ia direto para ele, a quilha enorme arrastando-se pela rua, indo para as torres do Allen Center como a bola de boliche de Deus, e como se os prédios fossem os pinos.
Carter se jogou no chão e cobriu a cabeça, preparando-se para o impacto.
Nada aconteceu. De repente tudo ficou quieto. Até o vento havia parado. Ele se perguntou como isso podia ser, o céu tão furioso num minuto e parado no outro. Levantou-se e olhou pela janela. Acima, as nuvens tinham se aberto como uma escotilha. O olho, pensou Carter, era isso; ele estava no olho da tempestade. Olhou para baixo. O navio tinha encostado na lateral do prédio, estacionado como um táxi no meio-fio.
Desceu pela fachada do edifício. Não sabia quanto tempo tinha até a volta da tempestade. Só sabia que aquele navio parecia uma mensagem. Acabou por se ver nas entranhas da embarcação, no labirinto de corredores e tubos. Mas não se sentia perdido; era como se uma influência invisível estivesse guiando cada ação. A água do mar misturada com óleo chacoalhava em volta dos pés. Escolheu uma direção, depois outra, atraído por essa presença misteriosa. Uma porta apareceu no fim do corredor – aço pesado, como a porta de um cofre de banco. T1, estava escrito: Tanque No 1.
A água vai protegê-lo, Anthony.
Levou um susto. Quem estava falando com ele? A voz parecia vir de toda parte: do ar que ele respirava, da água chacoalhando aos seus pés, do metal do navio. Envolvia-o como um cobertor de suavidade perfeita.
Ele não pode encontrá-lo aqui. More aqui em segurança e ela virá até você.
Foi então que ele a sentiu: Amy. Não sombria, como os outros; sua alma era feita de luz. Um grande soluço rasgou o corpo dele. Sua solidão o estava abandonando. Saiu de cima de seu espírito como um véu, e o que havia atrás era uma tristeza diferente: um tipo de tristeza linda, santa, pelo mundo e todos os seus pesares. Ele estava segurando o timão. Lentamente, ele girou sob suas mãos. Lá fora, para além das paredes do navio, o vento uivava outra vez. A chuva caía, o céu ribombava, as ondas rasgavam as ruas da cidade afogada.
Venha para dentro, Anthony.
A porta se abriu; Carter entrou. Seu corpo estava no navio, o Chevron Mariner, mas Carter não estava mais naquele lugar. Estava caindo, caindo e caindo, e quando a queda parou ele soube exatamente onde estava, antes mesmo de abrir os olhos, porque podia sentir o cheiro de flores.
Carter tinha acabado de tomar o chá. Amy havia terminado com as mudas de cosmos e estava ajeitando os canteiros. Carter pensou em lhe dizer para descansar um pouco, que ele cuidaria imediatamente das ervas daninhas, mas sabia que ela iria recusar. Quando havia trabalho a fazer, Amy fazia.
Para ela, a espera era difícil. Não só por causa das coisas que teria de enfrentar, mas pelas coisas das quais tinha aberto mão. Ela nunca dizia uma palavra sobre isso; Amy não era assim. Mas Carter sabia. Sabia como era amar uma pessoa e perdê-la nesta vida.
Porque Zero viria. Isso era um fato. Carter conhecia o sujeito, sabia que ele não descansaria até que o mundo inteiro fosse um espelho de seu sofrimento. O negócio é que não conseguia deixar de sentir pena dele. Carter passara pela mesma situação. Não era a pergunta do homem que estava errada, e sim seu modo de fazê-la.
Levantou-se da cadeira, pôs o chapéu e foi até onde Amy estava ajoelhada na terra.
– Tirou um bom cochilo? – perguntou ela, levantando a cabeça.
– Eu estava dormindo?
Ela jogou uma erva daninha na pilha.
– Você deveria se ouvir roncando.
Ora, isso era novidade para Carter. Se bem que, pensando direito, ele podia ter descansado os olhos por um segundo.
Amy se inclinou para trás sobre os calcanhares e abriu os braços acima dos canteiros recém-plantados.
– O que acha?
Ele deu um passo atrás para olhar. Tudo estava totalmente organizado.
– Esses cosmos são bonitos. A Sra. Wood vai gostar. A Srta. Haley também.
– Eles vão precisar de água.
– Vou cuidar disso. Você deveria sair um pouco do sol. O chá ainda está lá, se você quiser.
Ele estava prendendo a mangueira à torneira perto do portão quando ouviu a pressão suave de pneus no asfalto e viu o Denali vindo pela rua. O carro parou na esquina e depois veio devagar. Carter podia ver a forma do rosto da Sra. Wood pelas janelas escuras. O carro passou lentamente pela casa, mal se movendo, mas também não parando, como um fantasma poderia fazer, depois acelerou e foi embora.
Amy apareceu ao seu lado.
– Ouvi as meninas brincando antes – comentou ela.
Ela também estava olhando para a rua, mas o Denali já havia sumido.
– Trouxe isso para você.
Amy estava segurando um esguicho. Por um segundo, Carter não conseguiu conectar a ideia daquilo a qualquer outra coisa. Mas era para os cosmos, claro.
– Você está bem? – perguntou ela.
Carter respondeu dando de ombros. Pôs o esguicho na ponta da mangueira e abriu a torneira. Amy voltou ao pátio enquanto Carter arrastava a mangueira até os canteiros e começava a molhar. Não importava, ele sabia; o outono chegaria logo. As folhas iriam empalidecer e cair, o jardim iria secar, o vento ficaria forte. A geada mataria as pontas da grama e o corpo da Sra. Wood iria subir. Todas as coisas chegavam ao fim. Mas Carter continuava com aquilo, passando o esguicho por cima das flores, para lá e para cá, para lá e para cá, o coração sempre acreditando que até mesmo as menores coisas podiam fazer diferença.
QUARENTA E QUATRO
A chuva caiu forte o dia inteiro. Todo mundo estava irritado, preso em casa. Caleb via que a paciência de Pim com a irmã estava se exaurindo e sentia a aproximação de uma briga. Alguns dias antes poderia ter recebido isso bem, nem que fosse para resolver logo a situação.
O crepúsculo estava chegando quando as nuvens se abriram. Um sol radiante se espalhou baixo sobre os campos, tudo encharcado e brilhando à luz. Caleb examinou o terreno em volta da casa procurando formigas; não encontrando nenhuma, declarou que eles podiam sair para desfrutar do resto do dia. Tudo o que restava dos formigueiros eram ovais de lama afundada, praticamente indistinguíveis da terra ao redor. Relaxe, disse a si mesmo. Você está deixando o isolamento incomodar, só isso.
Kate e Pim supervisionaram as crianças, que faziam tortas de lama enquanto Caleb ia olhar os cavalos. Tinha construído um abrigo com a lateral aberta no lado oposto do cercado, para protegê-los do mau tempo, e foi ali que os encontrou. Bonito não parecia mal, porém Jeb respirava com força, mostrando o branco dos olhos. Além disso mantinha a pata traseira esquerda fora do chão. O cavalo deixou que Caleb dobrasse sua junta o suficiente para que visse um pequeno furo na estrutura central, elevada, do casco. Havia alguma coisa comprida e pontuda cravada ali. Foi até o barracão e voltou com um cabresto, um alicate de bico fino e uma corda. Estava prendendo o cabresto de Jeb quando viu Kate vindo na sua direção.
– Ele não parece muito feliz.
– Está com uma farpa no casco.
– Posso dar uma mãozinha?
Ele estava bem, sozinho, mas não recusaria o súbito interesse da mulher em ajudá-lo.
– As cordas devem segurá-lo. Apenas fique com a mão no cabresto.
Kate segurou o couro perto da boca do cavalo.
– Ele parece doente. Era para estar respirando assim?
Caleb estava agachado atrás do animal.
– Você é a médica. Diga.
Ele levantou a pata do cavalo. Com a outra mão, guiou o alicate para o ferimento. Não havia grande coisa para agarrar. Quando as pontas fizeram contato, o animal empurrou o peso para trás, relinchando e sacudindo a cabeça.
– Mantenha-o parado, droga!
– Estou tentando!
– Ele é um cavalo, Kate. Mostre quem manda.
– O que você quer que eu faça, dê um soco nele?
Jeb não estava aceitando. Caleb saiu do abrigo e voltou com um pedaço de corrente grossa, que passou pelo cabresto e por cima do focinho do animal. Apertou a corrente contra o maxilar de Jeb e deu as pontas a Kate.
– Segure isso – disse. – E não seja boazinha.
Jeb não gostou, mas a corrente deu certo. Apanhado nas pontas do alicate, o objeto ofensivo emergiu aos poucos. Caleb o levantou à luz. Tinha cerca de 5 centímetros, era feito de um material rígido e quase translúcido, como um osso de pássaro.
– Acho que é algum tipo de espinho – disse.
O cavalo havia relaxado um pouco, mas continuava respirando de forma acelerada. A saliva pendia dos cantos da boca; o pescoço e os flancos estavam cobertos de suor. Caleb lavou o casco com água de um balde e jogou iodo na ferida. Bonito estava parado perto do abrigo, observando-os com cautela. Enquanto Kate segurava o cabresto, Caleb enfiou o casco numa meia de couro e prendeu com um barbante. Não havia muita coisa que pudesse fazer por enquanto. Deixaria o animal amarrado durante a noite e de manhã veria sua condição.
– Obrigado pela ajuda.
Os dois estavam parados junto à porta do barracão; a luz havia praticamente sumido.
– Olha – disse Kate por fim. – Sei que não tenho sido uma companhia especialmente boa no últimos tempos.
– Tudo bem, esqueça. Todo mundo entende.
– Não precisa ser gentil, Caleb. Nós nos conhecemos há muito tempo.
Caleb não disse nada.
– Bill era um escroto. Tudo bem, eu sei.
– Kate, não precisamos fazer isso.
Ela não parecia com raiva, estava apenas resignada.
– Só estou dizendo que sei o que todo mundo pensa. E as pessoas não estão erradas. Na verdade elas não sabem nem de metade das coisas.
– Então por que você se casou com ele?
Caleb estava surpreso consigo mesmo; a pergunta simplesmente havia saltado.
– Desculpe, isso foi meio direto.
– Não, é uma pergunta justa. Acredite, eu mesma me perguntei isso.
Um momento se passou, em seguida ela se animou um pouco.
– Sabia que, quando Pim e eu éramos crianças, costumávamos brigar para ver quem iria se casar com você? Estou falando de brigas físicas, tapas, puxões de cabelo, a coisa toda.
– Está brincando.
– Não pareça tão feliz, fico surpresa que nenhuma de nós tenha ido parar no hospital. Uma vez roubei o diário dela. Acho que eu tinha 13 anos. Ah, meu Deus, eu era uma tremenda merdinha. Havia um monte de coisas sobre você. Como você era bonito, como era inteligente. O seu nome e sobrenome com um coração enorme desenhado em volta. Era simplesmente nojento.
Caleb achou a ideia hilária.
– O que aconteceu?
– O que você acha? Ela era mais velha, as brigas não eram exatamente justas.
Kate balançou a cabeça e riu.
– Olha só. Você está adorando.
Era verdade, estava mesmo.
– É uma história engraçada. Eu nunca soube de nada disso.
– E não fique lisonjeado, neném: não vou me jogar aos seus pés.
Ele sorriu.
– Que alívio!
– Além disso, iria parecer meio incestuoso.
Ela estremeceu.
– Sério, ia ser nojento.
A noite havia caído nos campos. Caleb percebeu do que vinha sentindo falta: a sensação da amizade de Kate. Quando eram crianças, os dois tinham sido próximos, como irmãos. Mas então a vida aconteceu – o exército, o estudo de medicina para Kate; Bill e Pim, Theo, as meninas e todos os seus planos –, e os dois tinham se perdido um do outro na confusão. Anos haviam se passado sem que conversassem de verdade, como estavam fazendo agora.
– Mas eu não respondi à sua pergunta, não é? Por que me casei com Bill. A resposta é bem simples. Eu me casei com ele porque o amava. Não consigo pensar num único motivo bom para isso, mas a gente não escolhe. Ele era um homem doce, feliz, inútil, e era meu.
– Ela parou um instante e mudou de assunto:
– Não vim aqui para ajudar com os cavalos, sabe?
– Não?
– Vim perguntar o que está deixando você tão nervoso. Acho que Pim não notou, mas vai notar.
Caleb sentiu-se apanhado.
– Provavelmente não é nada.
– Conheço você, Caleb. É alguma coisa. E preciso pensar nas minhas meninas. Estamos com problemas?
Ele não queria responder, mas Kate o havia encurralado.
– Não sei bem. Talvez.
Um relincho alto no cercado interrompeu seus pensamentos. Eles ouviram um estrondo, depois uma série de pancadas fortes, rítmicas.
– Que diabo é isso? – perguntou Kate.
Caleb pegou uma lanterna no barracão e correu até o cercado. Jeb estava caído de lado, a cabeça sacudindo-se violentamente. Os cascos traseiros batiam contra a parede do abrigo, espasmódicos.
– O que há de errado com ele? – perguntou Kate.
O animal estava morrendo. Suas tripas soltaram seu conteúdo, depois a bexiga. Um trio de convulsões agitou seu corpo, seguido por um último tremor violento, cada parte dele se enrijecendo. Ele manteve essa posição por vários segundos, como se estivesse esticado por fios. Então o ar saiu dos pulmões e ele ficou imóvel.
Caleb se agachou ao lado da carcaça, levantando o lampião sobre a cara do animal. Uma espuma tingida de sangue escorria da boca. Um olho escuro espiava para cima, brilhando com a luz refletida.
– Caleb, por que você está segurando uma arma?
Ele olhou para baixo; estava mesmo. Era o revólver de George, o grande 357, que tinha escondido no barracão. Devia tê-lo apanhado quando pegou o lampião – uma ação automática a ponto de escapar de sua percepção consciente. Além disso, ele o engatilhara.
– Você precisa me dizer o que está acontecendo – disse Kate.
Caleb soltou o percussor e olhou para o lado oposto, em direção à casa. As janelas reluziam com luz de vela. Pim estaria fazendo o jantar, as meninas brincando no chão ou olhando livros, o bebê Theo remexendo-se em sua cadeira alta. Talvez não; talvez o menino já estivesse dormindo. Às vezes ele fazia isso, apagava no momento do jantar para acordar horas depois, uivando de fome.
– Responda, Caleb.
Ele se levantou, enfiou a pistola no cós da calça e puxou a camisa por cima da coronha, para escondê-la. Bonito estava parado na área iluminada, de cabeça baixa, como um enlutado. Pobrezinho, pensou Caleb. Era como se soubesse que cairia sobre ele o trabalho de arrastar a carcaça de seu único amigo pelo campo até um trecho de terreno inútil onde, de manhã, Caleb usaria o resto do combustível para queimá-la.
QUARENTA E CINCO
No fim da tarde Eustace e Fry tinham percorrido a maioria das fazendas mais distantes. Mobília revirada, camas desfeitas, pistolas e fuzis caídos no chão, uma ou duas balas disparadas, se muito.
E nenhuma alma viva.
Passava das seis horas quando terminaram de verificar a última, um lugar que parecia um lixão 6 quilômetros rio abaixo, perto da antiga fábrica de etanol da ADM. A casa era minúscula, só um cômodo, a estrutura feita a partir de sobras de madeira e telhas de asfalto apodrecidas. Eustace não sabia quem morava ali. Achou que jamais saberia.
Sua perna ruim estava doendo um bocado; só teriam tempo suficiente para chegar à cidade antes do anoitecer. Montaram nos cavalos e viraram para o norte, mas 100 metros depois Eustace parou.
– Vamos dar uma olhada naquela fábrica.
Fry estava inclinado sobre o arção da sela.
– Só temos uns dois palmos de luz, Gordon.
– Quer voltar sem ter nada para mostrar? Você ouviu aquelas pessoas.
Fry pensou por um momento.
– Vamos ser rápidos.
Foram até o complexo. A fábrica tinha três prédios compridos, de dois andares, arranjados em U, com um cômodo muito maior do que os outros fechando o quadrado – um volume de concreto sem janelas ligado aos silos de grãos por um labirinto de tubos e rampas. Cascos esqueléticos de veículos enferrujados e outras máquinas preenchiam os espaços no meio do mato. O ar tinha ficado imóvel e mais frio; pássaros voavam pelas janelas sem vidro. As três estruturas pequenas eram somente cascas, já que os telhados haviam desmoronado havia muito tempo, mas a quarta estava quase totalmente estanque. Era nessa que Eustace estava interessado. Se você quisesse esconder umas duzentas pessoas, era ali que iria colocá-las.
– Você tem uma lanterna de dínamo no alforje, não é? – perguntou Eustace.
Fry a pegou. Eustace girou a manivela até que a lâmpada começasse a brilhar.
– Essa coisa não vai durar mais de uns três minutos – alertou Fry. – Você acha que eles estão aí?
Eustace estava verificando sua arma. Fechou o tambor e a colocou de novo no coldre, mas deixou a aba solta. Fry fez o mesmo.
– Acho que vamos descobrir.
Uma das portas de carga estava parcialmente aberta; abaixaram-se e passaram sob ela rolando. O cheiro os acertou como um tapa.
– Acho que isso responde à sua pergunta – disse Eustace.
– Puta que pariu, isso é nojento.
Fry estava apertando o nariz.
– Precisamos mesmo olhar?
– Prepare-se.
– Sério, acho que vou vomitar.
Eustace girou mais algumas vezes a manivela. Um corredor ladeado de armários ia até a área de trabalho principal do prédio. O cheiro ficava mais intenso a cada passo. Eustace já tinha visto sua cora de coisas ruins, mas tinha quase certeza de que esta seria pior. Chegaram ao fim do corredor e a uma porta dupla de vaivém.
– Acho que essa pode ser a hora de pedir um aumento – sussurrou Fry.
Eustace sacou a pistola.
– Preparado?
– Está brincando, porra?
Empurraram a porta. Várias coisas acertaram os sentidos de Eustace, uma atrás da outra. A primeira foi o fedor – um miasma de podridão tão medonho que ele botaria o almoço para fora ali mesmo se tivesse se dado ao trabalho de comer. A isso era acrescentado um som, um vibrato denso que acariciava o ar como o zumbido de um motor. No centro do salão havia uma grande massa escura. Suas bordas pareciam se mover. Enquanto Eustace avançava, moscas explodiram de cima dos cadáveres.
Eram cachorros.
Enquanto levantava a pistola, ouviu Fry gritar, mas foi só até aí que chegou quando um peso enorme caiu de cima sobre ele e o derrubou no chão. Todas aquelas pessoas sumidas; ele deveria ter entendido o que era. Tentou se arrastar para longe, mas alguma coisa medonha estava ocorrendo dentro dele. Uma espécie de... redemoinho. Então era assim que seria. Estendeu a mão para a arma, para atirar em si mesmo, mas o coldre estava vazio, claro, e então suas mãos ficaram entorpecidas e aquosas, seguidas pelo resto. Eustace estava mergulhando. Havia um redemoinho em sua cabeça e ele estava sendo sugado para dentro, para baixo, para baixo, para baixo. Nina, Simon. Meus queridos, prometo que nunca esquecerei vocês.
Mas foi exatamente isso que aconteceu.
QUARENTA E SEIS
Eram quase nove horas quando a irmã Peg saiu com Sara.
– Obrigada por vir – disse a velha. – Sempre significa muito para mim.
Eram 116 crianças, desde bebês até jovens adolescentes. Sara tinha levado dois dias inteiros para examinar todas. O orfanato era um dever que ela poderia ter abandonado muito tempo atrás. Certamente a irmã Peg entenderia. Mas Sara nunca fora capaz. Quando uma criança adoecia à noite, ficava de cama com febre ou pulava de um balanço e aterrissava mal, era Sara que atendia ao chamado. A irmã Peg sempre a recebia com um sorriso que dizia que não tinha duvidado, nem por um segundo, de quem chegaria à sua porta. Como o mundo iria em frente sem nós?
Sara achava que a irmã Peg devia ter uns 80 anos. Era um milagre que a velha senhora continuasse a administrar o lugar, aquele caos contido por pouco. De algum modo ela havia se suavizado no correr dos anos. Falava de modo sentimental sobre as crianças, tanto as que estavam sob seus cuidados quanto as que tinham ido embora; acompanhava a vida delas, como prosseguiam no mundo, com quem tinham se casado, os filhos, caso tivessem, como faria qualquer mãe. Ainda que Sara soubesse que ela jamais diria, as crianças eram sua família, não menos do que Hollis, Kate e Pim eram a família de Sara; pertenciam à irmã Peg, e ela pertencia a elas.
– Não tem problema, irmã. Fico feliz em fazer isso.
– Alguma notícia de Kate?
A irmã Peg era uma das poucas pessoas que sabiam da história.
– Até agora, nada, mas eu não esperava notícias. O correio é tão lento.
– Foi muito difícil, aquela situação com o Bill. Mas Kate saberá o que fazer.
– Ela sempre parece que sabe.
– Devo me preocupar com você?
– Vou ficar bem, de verdade.
– Sei que vai. Mas vou me preocupar mesmo assim.
Despediram-se. Sara foi para casa pelas ruas escuras; não havia nenhuma luz acesa em lugar nenhum. Isso tinha alguma coisa a ver com o suprimento de combustível para os geradores – um pequeno problema na refinaria, segundo a versão oficial.
Encontrou Hollis cochilando em sua poltrona de leitura, com um lampião a querosene aceso na mesa e um livro de grossura intimidante pousado na barriga. A casa, onde viviam fazia dez anos, fora abandonada na primeira onda de assentamentos – um pequeno bangalô de madeira, praticamente desmoronando. Hollis tinha passado dois anos restaurando-o nas horas de folga da biblioteca, da qual era agora o encarregado. Quem teria pensado que aquele urso passaria os dias empurrando um carrinho entre prateleiras empoeiradas e lendo para crianças? Mas era isso que ele amava fazer.
Ela pendurou o casaco no armário e foi até a cozinha esquentar um pouco d’água para o chá. O fogão ainda estava quente – Hollis sempre deixava assim para ela. Esperou a chaleira ferver, depois derramou a água pelo coador cheio de ervas, que havia tirado das latas muito bem enfileiradas na prateleira acima da pia, cada uma etiquetada com a letra de Hollis: “erva-cidreira”, “hortelã”, “cinorródio” e assim por diante. Era um hábito de bibliotecário, dizia Hollis, transformar os menores detalhes em fetiches. Sozinha, Sara teria de passar trinta minutos procurando tudo.
Hollis se mexeu quando ela entrou na sala. Esfregou os olhos e sorriu, grogue.
– Que horas são?
Sara estava se sentando à mesa.
– Não sei. Dez?
– Acho que caí no sono.
– A água está quente. Posso fazer um chá para você.
Eles sempre tomavam chá juntos no fim do dia.
– Não, eu pego.
Ele foi cambaleando até a cozinha e voltou com uma caneca fumegante, que colocou sobre a mesa. Em vez de se sentar, foi para trás dela, segurou seus ombros e começou a trabalhar com os polegares nos músculos, com pressão cada vez maior. Sara deixou a cabeça tombar para a frente.
– Ah, isso é bom – gemeu.
Ele massageou seu pescoço por mais um minuto, depois segurou seus ombros e fez movimentos circulares, provocando uma série de estalos.
– Ai.
– Relaxe – disse Hollis. – Meu Deus, você está tensa.
– Você também estaria se tivesse de examinar cem crianças.
– Então conte. Como está a bruxa velha?
– Hollis, não seja mau. Ela é uma santa. Espero ter metade da energia que ela tem, na idade dela. Ah, bem aí.
Ele continuou a tarefa prazerosa; pouco a pouco as tensões do dia foram se esvaindo.
– Posso fazer em você depois, se você quiser – disse Sara.
– Ah, agora sim.
Ela se sentiu culpada de repente. Inclinou o rosto para trás, para olhá-lo.
– Andei ignorando você um pouco, não é?
– Faz parte.
– De envelhecer, você quer dizer.
– Para mim você está ótima.
– Hollis, nós somos avós. Meu cabelo está praticamente branco; minhas mãos parecem carne-seca. Não vou mentir: isso me deprime.
– Você fala demais. Incline-se para a frente de novo.
Ela baixou a cabeça sobre a mesa e a aninhou com os braços.
– Sara e Hollis – suspirou ela –, o casal de velhos. Quem imaginaria que nós seríamos essas pessoas, um dia?
Tomaram o chá, despiram-se e foram para a cama. Geralmente havia ruídos à noite – pessoas conversando na rua, um cachorro latindo, os vários sons pequenos da vida –, mas com a eletricidade desligada tudo estava muito quieto. Era verdade: fazia um tempo. Um mês, ou seriam dois? Mas o ritmo antigo, a memória muscular do casamento, ainda estava ali, latente.
– Estive pensando – disse Sara em seguida.
Hollis estava aninhado atrás dela, envolvendo-a com os braços. De conchinha, como diziam.
– Achei que poderia estar.
– Sinto falta deles. Desculpe. Não é a mesma coisa. Achei que ia aceitar bem, mas simplesmente não consigo.
– Também sinto falta deles.
Ela se virou para encará-lo.
– Você realmente se importaria muito? Seja honesto.
– Depende. Você acha que precisam de um bibliotecário nos distritos?
– Podemos descobrir. Mas precisam de médicos, e eu preciso de você.
– E o hospital?
– Deixe a Jenny comandar. Ela está pronta.
– Sara, você não faz nada além de reclamar da Jenny.
Sara ficou pasma.
– É?
– Sem parar.
Imaginou se seria verdade.
– Bom, alguém precisa assumir o comando. No começo podemos fazer apenas uma visita, para ver qual é a sensação. Perceber o ambiente.
– Talvez eles não nos queiram lá, sabe? – disse Hollis.
– Talvez. Mas se parecer certo, e se todo mundo concordar, podemos tentar conseguir um terreno. Ou construir alguma coisa na cidade. Eu poderia abrir um consultório. Diabos, você tem livros suficientes aqui para abrir uma biblioteca nova.
Hollis franziu a testa em dúvida.
– Todos nós apinhados naquela casa minúscula.
– Então vamos dormir do lado de fora. Não me importa. Eles são nossos filhos.
Ele respirou fundo. Sara já sabia o que Hollis iria dizer.
– Quando você quer ir?
– O negócio é esse – disse ela, e o beijou. – Eu estava pensando em ir amanhã.
Lucius Greer estava parado sob os refletores na base da doca seca, olhando uma figura distante se balançar acima da lateral do navio numa cadeirinha suspensa.
– Pelo amor de Deus – gritou Lore. – Quem fez a porra dessa solda?
Greer suspirou. Em seis horas Lore tinha visto pouca coisa que aprovava. Baixou a cadeira até a doca e saiu dela.
– Preciso de meia dúzia de caras aqui embaixo agora. Não os mesmos palhaços que fizeram essas soldas.
Ela inclinou o rosto para cima.
– Weir! Está aí em cima?
O rosto do sujeito apareceu junto à amurada.
– Pendure mais três cadeiras. E vá chamar o Rand. Quero essas emendas refeitas ao nascer do sol.
Lore espiou Greer com o canto do olho.
– Não diga nada. Eu comandei aquela refinaria durante quinze anos. Sei o que estou fazendo.
– Você não vai ouvir nenhuma reclamação da minha parte. Foi por isso que Michael quis você aqui.
– Porque sou muito exigente.
– Palavras suas, não minhas.
Ela recuou, as mãos nos quadris, os olhos examinando distraidamente o casco.
– Mas então, me diga uma coisa – pediu.
– Certo.
– Em algum momento você achou que isso tudo era besteira?
Ele gostava de Lore, de seu jeito direto.
– Nunca.
– Nem uma vez?
– Eu não diria que o pensamento nunca me passou pela cabeça. A dúvida faz parte da natureza humana. O que importa é o que fazemos com ela. Sou velho. Não tenho tempo para hesitações.
– É uma filosofia interessante.
Um par de cordas desceu pelo flanco do Bergensfjord, em seguida mais duas.
– Sabe – disse Lore –, em todos esses anos me perguntei se Michael encontraria a mulher certa e iria se acomodar. Jamais, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que minha concorrente eram 20 mil toneladas de aço.
Rand apareceu junto à amurada. Ele e Weir começaram a prender as cadeirinhas.
– Ainda precisa de mim aí? – perguntou Greer.
– Não, vá dormir.
Ela acenou para Rand.
– Espere, já estou subindo!
Greer saiu do cais, entrou em sua picape e seguiu pela pista elevada. A dor havia piorado; ele não poderia esconder por muito mais tempo. Às vezes era fria, como uma espada de gelo; em outras ocasiões era quente, como brasas ardendo dentro dele. Mal conseguia manter qualquer coisa no estômago; quando conseguia mijar, parecia sangue arterial. Sempre havia um gosto ruim na boca, azedo e ureico. Nos últimos meses tinha contado a si mesmo um monte de histórias, mas na verdade só havia um final que podia ver.
Perto do fim a pista elevada ficava mais estreita, contida pelo mar dos dois lados. Uma dúzia de homens armados com fuzis estava parada nesse gargalo. Enquanto Greer chegava, Mancha saiu da cabine do caminhão-tanque e se aproximou.
– Alguma coisa acontecendo aí? – perguntou Greer.
O sujeito estava sugando alguma coisa nos dentes.
– Parece que o exército mandou uma patrulha. Vimos luzes a oeste logo depois do pôr do sol, mas, desde então, nada.
– Quer mais homens aqui?
Mancha deu de ombros.
– Acho que, por esta noite, estamos bem. Por enquanto eles estão só farejando.
– Ele focalizou o rosto de Greer.
– Você está legal? Não parece muito bem.
– Só preciso me deitar um pouco.
– Bom, a cabine do caminhão é sua, se quiser. Tire um cochilo. Como eu disse, não tem nada acontecendo por aqui.
– Tenho outras coisas para ver. Talvez eu volte mais tarde.
– Vamos estar aqui.
Greer virou a picape e se afastou. Assim que estava fora das vistas, parou na beira da pista elevada, saiu, apoiou uma das mãos no para-choque para se equilibrar e vomitou no cascalho. Durante uns dois minutos permaneceu nessa posição. Quando decidiu que não havia mais nada, pegou o cantil na cabine, lavou a boca, jogou um pouco d’água na palma da mão e molhou o rosto. A solidão daquilo era a pior parte. Não tanto a dor quanto carregar a dor. Imaginou o que aconteceria. Será que o mundo iria se dissolver ao redor, recuando como um sonho, até que ele não tivesse nenhuma lembrança, ou seria o oposto: todas as coisas e pessoas da sua vida surgindo diante dele em bênção vívida até que, como alguém olhando para o sol num dia luminoso demais, ele fosse obrigado a desviar os olhos?
Ergueu o rosto para o céu. As estrelas estavam embotadas, veladas por um ar úmido do oceano que as fazia oscilar. Colocou os pensamentos em apenas uma estrela, como tinha aprendido a fazer, e fechou os olhos. Amy, está ouvindo?
Silêncio. Depois:
Sim, Lucius.
Amy, sinto muito. Mas acho que estou morrendo.
QUARENTA E SETE
Uma tarde de primavera: Peter estava trabalhando na horta. A chuva havia caído à noite, mas agora o céu estava limpo. Com as mangas da camisa dobradas, ele cravou a enxada na terra macia. Meses comendo a conserva dos vidros enquanto olhavam a neve cair; como seria bom ter legumes frescos de novo, pensou:
– Trouxe uma coisa para você.
Amy tinha chegado por trás. Sorrindo, ela lhe estendeu um copo d’água. Peter o pegou e bebeu. Estava gelada contra os dentes.
– Por que não entra? Está ficando tarde.
Estava mesmo. A casa se alongava na sombra, os últimos raios de luz espiando por cima da crista do morro.
– Há muita coisa a fazer – disse ele.
– Sempre há. Você pode voltar ao trabalho amanhã.
Jantaram no sofá, o cachorro velho farejando em volta de seus pés. Enquanto Amy lavava a louça, Peter acendeu a lareira. A lenha pegou fogo rapidamente, estalando. O intenso contentamento de certa hora: embaixo de um cobertor grosso eles viram as chamas crepitar.
– Quer que eu leia para você?
Peter disse que seria ótimo. Amy o deixou brevemente e voltou com um volume grosso e quebradiço. Acomodando-se no sofá, abriu o livro, pigarreou e começou:
– David Copperfield, de Charles Dickens. Capítulo um. Nasci.
Se acabarei sendo o herói da minha própria vida ou se esse posto será ocupado por outra pessoa, estas páginas irão mostrar. Para iniciar minha vida com o início da minha vida, registro que nasci (como foi informado e eu acredito) numa sexta-feira, à meia-noite. Foi observado que o relógio começou a bater as horas e eu comecei a chorar, simultaneamente.
Como era maravilhoso ouvir alguém ler! Ser transportado deste mundo para outro, carregado por palavras. E a voz de Amy, enquanto contava a história: essa era a melhor parte. Fluía através dele como uma corrente elétrica benigna. Ele poderia ouvi-la para sempre, os corpos juntos, sua mente em dois lugares ao mesmo tempo, dentro do mundo da história, com sua maravilhosa chuva de sensações. E ali, com Amy, na casa onde moravam e sempre haviam morado, como se o sono e a vigília não fossem estados adjacentes com fronteiras firmes, e sim parte de um continuum.
Depois de um tempo percebeu que a história havia parado. Teria dormido? E não estava mais no sofá; de algum modo, sem perceber, fora para o andar de cima. O quarto estava escuro, o ar frio sobre seu rosto. Amy estava dormindo ao lado. Que horas seriam? E o que era essa sensação que tivera – a de que alguma coisa não estava certa? Empurrou os cobertores de lado e foi até a janela. Uma meia-lua preguiçosa havia subido, iluminando parcialmente a paisagem. Aquilo era movimento na borda do jardim?
Era um homem. Vestia terno preto; estava olhando para a janela, com as mãos às costas, numa postura de observação paciente. O luar batia nele em diagonal, afiando os ângulos do rosto. Peter não sentiu alarme, e sim um reconhecimento, como se estivesse esperando esse visitante noturno. Talvez um minuto tenha se passado, Peter olhando para o homem no quintal, o homem no quintal olhando para ele. Então, com um movimento cortês do queixo, o estranho se virou e foi andando pela escuridão.
– Peter, o que foi?
Ele deu as costas para a janela. Amy estava sentada na cama.
– Havia alguém lá fora.
– Alguém? Quem?
– Era só um homem. Estava olhando a casa. Mas foi embora.
Durante um momento Amy não disse nada. Depois:
– Deve ser Fanning. Eu estava imaginando quando ele apareceria.
O nome não significava nada para Peter. Ele conhecia algum Fanning?
– Tudo bem.
Amy puxou o cobertor para ele.
– Volte para a cama.
Ele entrou sob as cobertas; imediatamente a lembrança do homem recuou para a desimportância. A pressão quente dos cobertores e Amy ao lado: era só disso que ele precisava.
– O que você acha que ele queria? – perguntou Peter.
– O que Fanning sempre quer? – rebateu Amy, suspirando de forma cansada, quase com tédio. – Quer nos matar.
Peter acordou com um susto. Tinha ouvido alguma coisa. Respirou fundo e prendeu o fôlego. O som voltou: o estalo de uma tábua do piso.
Rolou, estendeu a mão direita para o chão e sentiu o peso da pistola quando a pegou. O estalo tinha vindo do corredor da frente. Parecia uma pessoa; ela estava tentando se manter em silêncio; não sabia que ele estava acordado; portanto a surpresa estava a seu favor. Levantou-se e atravessou o quarto até a janela da frente. Seus seguranças, dois soldados estacionados na varanda, tinham sumido.
Soltou a trava. A porta do quarto estava fechada; as dobradiças, ele sabia, faziam barulho. No momento em que a porta se abrisse, o intruso seria alertado de sua presença.
Abriu a porta e seguiu rápido pelo corredor. A cozinha estava vazia. Sem perder um passo, virou a esquina para a sala, estendendo a pistola.
Havia um homem sentado na velha cadeira de balanço perto da lareira. Seu rosto estava virado parcialmente para o outro lado, os olhos focalizando as últimas brasas acesas. Pareceu não perceber Peter.
Peter chegou por trás, apontando a arma. O homem não era alto, mas tinha compleição sólida, os ombros largos preenchendo a cadeira.
– Mostre suas mãos.
– Que bom. Você está acordado.
A voz do homem era calma, quase casual.
– As mãos, droga!
– Certo, certo.
Ele afastou as mãos do corpo, os dedos esticados.
– Levante-se. Devagar.
Ele se levantou da cadeira. Peter apertou a pistola com mais força.
– Agora vire-se para mim.
O homem se virou.
Puta que pariu, pensou Peter. Puta, puta que pariu.
– Acha que poderia parar de apontar essa coisa para mim?
Michael tinha envelhecido, mas, claro, todos tinham envelhecido. A diferença era que o Michael que ele conhecia – sua imagem mental do sujeito – havia saltado duas décadas à frente num instante. De certa forma era como olhar num espelho; as mudanças que você não notava em si mesmo eram desnudadas no rosto de outra pessoa.
– O que aconteceu com os seguranças?
– Não se preocupe. Mas as dores de cabeça vão ser históricas.
– O turno muda às duas horas, para o caso de você estar se perguntando.
Michael olhou seu relógio.
– Noventa minutos. Eu diria que é tempo suficiente.
– Para quê?
– Uma conversa.
– O que você fez com nosso combustível?
Michael franziu a testa para a arma.
– Sério, Peter. Você está me deixando nervoso.
Peter baixou a arma.
– Por falar nisso, eu lhe trouxe um presente.
Michael fez um gesto para sua sacola no chão.
– Você se importa...
– Ah, por favor, fique à vontade.
Michael pegou uma garrafa enrolada em tecido impermeável manchado. Desembrulhou-a e a estendeu para que Peter visse.
– Minha última receita. É capaz de tirar você da realidade rapidinho.
Peter pegou dois copos na cozinha. Quando voltou, Michael tinha movido a cadeira de balanço para a mesinha diante do sofá. Peter sentou-se à frente dele. Sobre a mesa havia uma grande pasta de papelão. Michael cortou a cera da boca da garrafa, serviu duas doses e levantou seu copo.
– Compadres – disse ele.
O gosto explodiu nos sínus de Peter. Era como beber álcool puro.
Michael estalou os lábios, apreciando.
– Nada mau, modéstia à parte.
Peter conteve uma tosse, os olhos lacrimejando.
– E então, Dunk mandou você?
– Dunk? – repetiu Michael, fazendo uma cara azeda. – Não. Nosso velho amigo Dunk está dando um mergulho bem longo com seus camaradinhas.
– Foi o que suspeitei.
– Não precisa agradecer. Recebeu as armas?
– Você só não disse para que elas são.
Michael pegou a pasta e desamarrou os barbantes. Tirou três documentos: uma espécie de pintura; uma folha de papel coberta com textos escritos à mão e um jornal. O nome era INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE.
Michael serviu uma segunda dose no copo de Peter e a empurrou para ele.
– Não quero mais.
– Acredite, você vai querer.
Michael estava esperando que Peter dissesse alguma coisa. Seu amigo estava parado junto à janela, olhando para a noite, mas Michael duvidava que estivesse vendo qualquer coisa.
– Desculpe, Peter. Sei que a notícia não é boa.
– Como você pode ter tanta certeza?
– Você vai ter de confiar em mim.
– Ah, então é isso? Confiar em você? Eu estou cometendo uns cinco crimes só de falar com você.
– Vai acontecer. Os virais vão voltar. Para começo de conversa, eles nunca foram embora de verdade.
– Isso é... loucura.
– Eu gostaria que fosse.
Michael nunca havia sentido tanta pena de alguém desde o dia em que tinha se sentado na varanda com Theo, uma vida atrás, e contado que as baterias estavam falhando.
– Esse outro viral... – começou Peter.
– Fanning. O Zero.
– Por que você o chama assim?
– É como ele se refere a si mesmo. Elemento Zero, o primeiro a ser infectado. Os documentos que Lacey nos deu no Colorado descreviam treze elementos sendo testados, os Doze mais Amy. Mas o vírus tinha de vir de algum lugar. O hospedeiro era Fanning.
– E o que ele está esperando? Por que não nos atacou há anos?
– Só sei que fico feliz por não ter feito isso. Garantiu o tempo de que nós precisávamos.
– E Greer sabe disso por causa de uma... visão.
Michael esperou. Às vezes, ele sabia, era isso que precisava fazer. A mente recusava certas coisas; era preciso deixar que a resistência seguisse seu curso até o final.
– Faz 21 anos desde que abrimos o portão. Agora você entra aqui valsando e diz que tudo foi um grande equívoco.
– Sei que é difícil, mas você não podia saber. Ninguém podia. A vida precisava continuar.
– E exatamente o que você quer que eu diga às pessoas? Que um velho teve um pesadelo e eu acho que todos vamos morrer, afinal de contas?
– Você não vai dizer nada. Metade não vai acreditar, a outra metade vai enlouquecer. Vai ser um pandemônio, tudo vai desmoronar. As pessoas vão fazer as contas. Só temos espaço para setecentas pessoas no navio.
– Para ir a essa tal ilha – concluiu Peter fazendo um gesto para a pintura de Greer, sem dar importância. – Essa imagem da cabeça dele.
– É mais do que uma imagem, Peter. É um mapa. Quem sabe de verdade de onde isso vem? É departamento do Greer, não meu. Mas ele viu por algum motivo, disso eu sei.
– Você sempre pareceu tão sensato!
Michael deu de ombros.
– Admito que demorei um tempo para me acostumar à coisa toda. Mas as peças se encaixam. Você leu a carta. O Bergensfjord estava indo para lá.
– E quem decide quem vai? Você?
– Você é o presidente: em última instância essa tarefa é sua. Mas acho que você vai concordar...
– Não vou concordar com nada.
Michael respirou fundo.
– Acho que você vai concordar que precisamos de algumas capacidades. Médicos, engenheiros, agricultores, carpinteiros. Precisamos de liderança, obviamente, de modo que isso inclui você.
– Não seja absurdo. Mesmo se o que você diz for verdade, o que é ridículo, não vou de jeito nenhum.
– Eu repensaria isso. Vamos precisar de um governo, e a transição deve ser o mais tranquila possível. Mas isso é assunto para mais tarde.
Michael pegou em sua mochila um caderninho encapado em couro.
– Eu esbocei uma lista. Há alguns nomes, pessoas que sei que vão se encaixar, e incluímos as famílias mais próximas deles. A idade também é um fator. A maioria tem menos de 40 anos. Além disso há profissões agrupadas por categorias.
Peter pegou o caderno, abriu na primeira página e começou a ler.
– Sara e Hollis – disse ele. – Bom para você.
– Não precisa ser sarcástico. Caleb também está aí, para o caso de você se perguntar.
– E Apgar? Não o estou vendo em lugar nenhum.
– O sujeito tem quantos anos? Sessenta e cinco?
Peter balançou a cabeça, enojado.
– Sei que ele é seu amigo, mas estamos falando de reconstruir a raça humana.
– Além de meu amigo, ele é general do exército.
– Como eu disse, estas são apenas recomendações. Mas leve-as a sério. Eu pensei um bocado nisso.
Peter leu o resto sem comentar, depois levantou a cabeça.
– O que é essa última categoria, esses 55 lugares?
– São os meus homens. Prometi lugares a eles no navio. Nisso não vou recuar.
Peter jogou o caderno na mesa.
– Você perdeu a cabeça.
Michael se inclinou adiante.
– Isso vai acontecer, Peter. Você precisa aceitar. E não temos muito tempo.
– Vinte anos, e agora isso é uma enorme emergência.
– Reconstruir o Bergensfjord exigiu o que exigiu. Se eu pudesse terminar antes, teria terminado. Teríamos ido há muito tempo.
– E como você propõe colocarmos as pessoas nesse seu barco sem provocar um pânico?
– Provavelmente não conseguiremos. É para isso que são as armas.
Peter apenas o encarou.
– Consigo ver três opções – continuou Michael. – A primeira é uma loteria pública para os lugares disponíveis. Eu me oponho a isso, obviamente. A segunda opção é nós escolhermos, dizer às pessoas da lista o que está acontecendo, dar a opção de ficar ou ir, e fazer o máximo para manter a ordem enquanto as tiramos daqui. Particularmente, acho que seria um desastre. De jeito nenhum conseguiríamos manter segredo, e o exército pode não nos apoiar. A terceira opção é não contar nada aos passageiros, a não ser a alguns indivíduos-chave em quem possamos confiar. Pegamos o resto e os tiramos na calada da noite. Assim que estiverem no istmo, damos a notícia de que eles são os sortudos.
– Sortudos? Nem acredito que estamos falando assim.
– Não se engane, é o que eles são. Vão poder continuar com a vida. Mais do que isso. Vão recomeçar num lugar realmente seguro.
– E esse seu navio pode mesmo levá-los até lá? Essa banheira velha?
– Espero que sim. Acredito que sim.
– Você não parece convencido.
– Fizemos o máximo. Mas não há garantias.
– Então essas setecentas pessoas de sorte podem estar indo direto para o fundo do oceano.
Michael assentiu.
– Pode ser exatamente isso. Nunca menti para você e não vou começar agora. Mas ele conseguiu atravessar o mundo uma vez. Vai fazer isso de novo.
A conversa foi interrompida por um jorro de vozes lá fora e três batidas fortes à porta.
– Bom – disse Michael, e bateu nos joelhos. – Parece que nosso tempo acabou. Pense no que eu falei. Enquanto isso, precisamos fazer com que isso pareça certo.
Ele enfiou a mão na mochila e pegou a Beretta.
– Michael, o que você está fazendo?
Ele apontou a arma mais ou menos na direção de Peter.
– Faça o máximo para fingir que é um refém.
Dois soldados invadiram a sala. Michael se levantou erguendo as mãos.
– Eu me rendo – disse, bem a tempo de o mais próximo dar dois passos longos na direção dele, levantar a coronha do fuzil e acertá-lo no crânio.
QUARENTA E OITO
Rudy estava com fome. Realmente com uma fome da porra.
– Olá! – gritou ele, encostando o rosto nas barras para mandar a voz pelo corredor sem luz. – Esqueceram de mim? Ei, seus escrotos, estou morrendo de fome aqui!
Não adiantava gritar; ninguém estivera no escritório desde o início da tarde – nem Fry nem Eustace. Rudy se deixou cair na cama, tentando não pensar no estômago vazio. O que não daria por uma daquelas batatas horríveis agora!
Tombou para trás na cama e tentou ficar confortável. Havia um monte de lugares que ainda doíam; cada posição que Rudy experimentava fazia doer de um modo diferente. Certo, ele praticamente havia pedido uma surra. Não diria que não. Mas o que teria acontecido se Fry não tivesse aberto a porta? Rudy estaria morto, era isso.
Vagueou durante um tempo. Esguichos líquidos borbulhavam nas suas entranhas. Não tinha certeza das horas; era tarde, provavelmente, mas sem Fry voltando para trazer as refeições o dia tinha perdido o ritmo. Ele não se incomodaria em ter um livro com o qual se ocupar, se houvesse alguma luz para enxergar ou se ele soubesse ler, coisa que não sabia, já que nunca tinha visto sentido nisso.
Maldito Gordon Eustace.
Mais tempo se passou. Sua mente estava flutuando na crista do sono quando um choque de pavor o despertou.
Em algum lugar lá fora uma mulher estava gritando.
A janela ficava no alto da parede; Rudy precisou ficar nas pontas dos pés e agarrar as barras para manter o nariz acima do parapeito. Agora ouvia um monte de sons – tiros, gritos, berros. Uma silhueta escura passou rapidamente pela janela, depois mais duas.
– Ei! – gritou Rudy para elas. – Ei, eu estou aqui!
Alguma coisa estava acontecendo, e não era boa. Ele gritou mais um pouco, mas ninguém parou nem atendeu. Os gritos morreram e depois recomeçaram, mais altos do que antes, muitas pessoas ao mesmo tempo. Talvez não fosse uma ideia tão boa dizer a todo mundo onde ele estava, pensou. Soltou-se e recuou para longe da janela. Independentemente do que estivesse acontecendo lá fora, ele estava preso como um rato numa lata. Melhor calar a boca.
O mundo ficou quieto de novo. Talvez um minuto tivesse se passado até que Rudy ouviu a porta da frente se abrir. Tombou no chão e se arrastou para baixo da cama. O guincho de uma cadeira, um som arrastado, uma gaveta sendo aberta: alguém estava procurando alguma coisa. Então Rudy escutou: o tilintar de chaves.
– Xerife?
Não houve resposta.
– Oficial Fry? É você?
Uma luz verde e suave preencheu o corredor.
Ao mesmo tempo, nos arredores mais distantes da Cidade Mística, no Texas, três virais emergiram da terra.
Como pupas lutando para se livrar das coberturas protetoras, os membros da corja apareceram aos poucos: primeiro as pontas peroladas das garras, depois os dedos longos e ossudos, seguidos por uma explosão de solo que desnudou às estrelas seus rostos esguios e inumanos. Levantaram-se, sacudindo a terra com um movimento canino, e estenderam os membros sonolentos. Foi necessário um instante para avaliar a situação. Era noite. Estavam num campo recém-arado. O primeiro a emergir, o membro dominante da corja, era o merceeiro viúvo, George Pettibrew; o segundo era o ferreiro da cidade, Juno Brand; o terceiro era uma garota de 14 anos da cidade de Hunt, que tinha sido tomada quatro noites antes ao sair para a latrina externa da fazenda da família. A questão da identidade estava além de suas capacidades de lembrança, já que não tinham nenhuma; só tinham uma missão.
Viram a casa de fazenda.
Um preguiçoso arabesco de fumaça brotava da chaminé. Eles circularam ao redor da estrutura, avaliando-a. Ela possuía duas portas, uma na frente e outra atrás. Ainda que não estivesse em sua natureza se incomodar com portas, nem com o antiquado costume humano de virar uma maçaneta, sua tarefa era tal que eles fizeram exatamente isso.
Entraram. Seus sentidos percorreram o espaço. Um som veio de cima.
Alguém estava roncando.
O primeiro viral, o alfa, se esgueirou escada acima. Tão cuidadosos eram seus movimentos que nem mesmo uma tábua rangeu; ele mal dividia o ar. Do quarto em cima vinha o brilho fraco de um lampião, deixado aceso descuidadamente depois de os moradores terem se recolhido. Na cama grande, duas pessoas dormiam, um homem e uma mulher.
O viral se curvou para a mulher. Ela estava de lado, um dos braços dobrado sob os travesseiros, o segundo exposto sobre os cobertores. Sob a luz fraca do lampião, sua pele reluzia deliciosamente. O viral destravou a mandíbula e baixou o rosto para ela. Um furo mínimo, os dentes deslizando delicadamente nos espaços microscópicos da carne, e acabou.
Ela se remexeu, gemeu, rolou. Talvez tenha sonhado que estava podando roseiras e fora espetada por um espinho.
O viral foi para o outro lado da cama. Só a cabeça e o pescoço do homem estavam expostos. O viral também sentiu que o homem, cujos roncos chacoalhavam com uma textura catarrenta, não estava dormindo tão profundamente quanto a mulher. Inclinando-se para a frente, o viral virou a cabeça de lado, como se fosse lhe dar um beijo.
Os olhos do homem se abriram bruscamente.
– Puta que pariu, porra!
Empurrou a palma da mão contra a testa do viral para segurá-lo a distância enquanto enfiava a outra embaixo do travesseiro.
– Dory! – gritou. – Dory, acorde!
O viral, perplexo, ficou imóvel: não era assim que as coisas deveriam acontecer. E esse nome, Dory, sacudiu sua mente. Ele conhecia alguma Dory? Conhecia o homem também? Será que os dois, em alguma ocasião, tinham sido pessoas em sua vida? E por que o homem estava enfiando a mão embaixo do travesseiro?
Era uma arma. Com um uivo, o homem enfiou o cano na boca do viral, apertando-o contra o palato, e disparou.
Um estalo de trovão, uma parábola de sangue, os miolos do viral atravessando o tampo do crânio e espirrando no teto. O corpo se sacudiu para a frente, peso morto. Agora a mulher estava acordada, imobilizada de terror e gritando sem parar. Os outros virais subiram a escada. Empurrando o cadáver de lado, o homem disparou na direção do primeiro enquanto este atravessava a porta. Na verdade não estava mais mirando. Simplesmente apertava o gatilho. O terceiro tiro acertou de modo geral, mas só isso. Mais dois tiros e o percussor bateu numa câmara vazia. Enquanto um dos virais saltava para ele, o homem agarrou a única coisa em que pôde pensar – o lampião de querosene – e jogou contra os agressores.
A mira foi boa. O viral explodiu em chamas.
E então tudo pegou fogo.
A sensação acertou Amy como um soco na barriga. Ela se dobrou ao meio, com a pá de jardineiro caindo da mão, e tombou de quatro no solo.
– Amy, você está bem?
Carter estava ajoelhado ao seu lado. Ela tentou responder, mas não conseguiu; a respiração parou no peito.
– Está sentindo dor? Diga o que há de errado.
No mesmo momento, Caleb Jaxon acordou com o cheiro desconcertante de fumaça. Tinha passado a noite numa cadeira junto à porta, com a pistola de George na mesa, o fuzil aninhado no colo. Seu primeiro pensamento foi de que sua casa estava pegando fogo. Ficou de pé com um salto, atravessado pelo pânico. Mas não, a sala estava em ordem; o cheiro vinha de outro lugar. Pegou a pistola e saiu. A oeste, para além da crista do morro, o céu estava iluminado pelo fogo.
– Por favor, Srta. Amy – disse Carter. – A senhorita está me assustando.
Ela estava tremendo; não conseguia falar. Era tão grande a dor que eles sentiam, era tão grande o terror! Tantos, todos ao mesmo tempo! Sua respiração se destravou; o ar voltou para os pulmões.
– Começou.
QUARENTA E NOVE
Logo depois do amanhecer, Caleb sacudiu Pim pelo ombro.
Alguma coisa aconteceu na casa de Tatum.
Ela se sentou, instantaneamente acordada. O quê?
Caleb abriu os dedos das duas mãos e os girou na frente do peito: Fogo.
Pim empurrou os cobertores para longe. Vou com você.
Fique aqui. Vou olhar.
Ela é minha amiga.
Pim estava se referindo a Dory, claro.
Certo, sinalizou ele.
As crianças ainda estavam dormindo. Enquanto Pim se vestia, Caleb acordou Kate para contar o que estava acontecendo.
– O que você acha que isso significa?
A voz dela estava grogue, mas os olhos pareciam límpidos.
– Não sei.
Ele tirou o revólver da cintura e o estendeu à cunhada.
– Fique com isso à mão.
– Alguma ideia de em que eu deveria atirar?
– Se eu soubesse, diria. Fique dentro de casa, não vamos demorar.
Caleb encontrou Pim no quintal. Ela estava olhando para a crista do morro, as mãos no quadril. Uma grossa coluna de fumaça branca, parecida com uma nuvem de verão, se erguia a distância. A cor significava que o fogo havia apagado.
Jeb?, sinalizou ela.
O cavalo estava onde havia caído. Bonito tinha ido para a outra extremidade do cercado, mantendo distância.
Morreu ontem à noite.
O rosto de Pim estava controlado. Como?
Talvez cólica. Não quis preocupar você.
Sou sua mulher. Ela sinalizou essas palavras com uma raiva abrupta. Eu vi você dar uma arma a Kate. Diga o que está acontecendo.
Caleb não tinha resposta.
Tudo o que restava da casa da fazenda era uma pilha de madeira queimada e cinzas reluzentes. O calor tinha sido tão intenso que o vidro das janelas havia derretido. Iriam se passar várias horas, talvez um dia, antes que Caleb pudesse procurar corpos, mas duvidava que restasse algo além de ossos e dentes.
Você acha que eles saíram?, perguntou Pim.
Caleb só pôde balançar a cabeça. Como aquilo havia acontecido? Uma brasa caída do fogão? Um lampião derrubado? Algo pequeno, e agora eles estavam mortos.
Notou outra coisa. O cercado estava vazio. A porteira aberta; o terreno ao redor parecia raspado, como se alguém tivesse matado os cavalos e arrastado as carcaças para longe. O que isso significava?
Vamos olhar o celeiro, sinalizou ele.
Caleb entrou primeiro. Seus olhos demoraram um momento para se acostumarem ao escuro. No fundo, numa sombra profunda, havia um volume no chão.
Era Dory. Estava caída em posição fetal. Seu cabelo tinha sido queimado, as sobrancelhas e os cílios tinham sumido, o rosto estava inchado e com queimaduras. A camisola estava queimada em alguns pontos, em outros tinha se fundido à carne. O braço direito e as duas pernas estavam enegrecidas e crispadas; em outras partes a pele tinha formado bolhas, como se fervida por dentro.
Caleb se ajoelhou ao lado dela.
– Dory. Somos nós, Caleb e Pim.
O olho direito dela se abriu numa fresta minúscula; o outro parecia ter as pálpebras soldadas. Ela virou o olhar rapidamente para ele. Da garganta saiu um som, meio gemido, meio gorgolejo. Caleb não conseguia imaginar tamanha agonia. Queria vomitar.
Pim pegou um balde e uma concha de madeira. Ajoelhou-se ao lado de Dory, segurou a cabeça dela para levantá-la ligeiramente e levou a concha aos lábios. Dory conseguiu tomar um gole pequeno, depois tossiu, cuspindo o resto.
Precisamos levá-la de volta, sinalizou Pim. Kate vai saber o que fazer.
O fato de a mulher ainda estar viva era um milagre; sem dúvida não sobreviveria por muito tempo. Mesmo assim precisavam tentar. Havia um carrinho de mão encostado na parede. Caleb o trouxe, pegou um par de almofadas de sela no caixote de arreios e as colocou no fundo.
Pegue as pernas dela.
Caleb se posicionou atrás de Dory e passou os cotovelos debaixo dos ombros dela. Dory começou a berrar e corcovear. Depois dos cinco segundos mais longos de sua vida eles conseguiram colocá-la no carrinho de mão. Uma substância pegajosa se grudou aos antebraços nus de Caleb: pedaços da pele da mulher.
Os gritos diminuíram. Ela estava respirando rapidamente, em espasmos curtos. A viagem seria insuportável; cada sacudida iria provocar novas ondas de tortura. Enquanto Caleb levantava as barras do carrinho de mão, viu outro problema. Dory não era uma mulher pequena. Manter aquela coisa toda equilibrada exigiria cada átimo de suas forças.
Me dê um lado, sinalizou Pim.
Caleb balançou a cabeça com firmeza. O bebê.
Eu paro se me cansar.
Caleb não queria, mas Pim não admitiu que ele a impedisse. Levaram Dory até a porta. Enquanto a luz do sol caía sobre ela, todo o seu corpo se encolheu, fazendo o carrinho de mão pender perigosamente de lado.
São os olhos dela, sinalizou Pim. Devem estar queimados.
Ela voltou ao celeiro e retornou com um pano, que umedeceu no balde e depois colocou sobre a metade superior do rosto da mulher. O corpo dela começou a relaxar.
Vamos, sinalizou Pim.
Demoraram quase uma hora para levar Dory de volta à casa, e nesse ponto ela havia caído numa inconsciência misericordiosa. Kate saiu correndo para encontrá-los. Quando viu Dory, virou-se de volta para a porta, onde Elle e Bug estavam paradas atentas, curiosas com a agitação. Theo estava focinhando por baixo das pernas de Bug como um cachorrinho.
– Voltem para dentro de casa – ordenou ela. – E levem seu primo.
– A gente quer ver! – gemeu Elle.
– Agora.
Todos entraram. Kate se agachou perto de Dory.
– Santo Deus.
– Nós a encontramos no celeiro – explicou Caleb.
– E o marido?
– Nenhum sinal dele.
Kate olhou para Pim. As meninas não devem ver.
Pim concordou. Vou levá-las lá para trás.
– Precisamos de uma lona ou de um cobertor pesado – Kate disse a Caleb. – Podemos colocá-la no quarto dos fundos, longe das crianças.
– Ela vai sobreviver?
– Ela está péssima, Caleb. Não posso fazer muita coisa.
Caleb pegou um dos grossos cobertores de lã que usava para os cavalos. Abriram-no no chão perto do carrinho, depois tiraram Dory e a colocaram no cobertor, amarraram as pontas juntas e passaram um caibro pelas extremidades, formando uma rede. Enquanto a levantavam do chão ela emitiu um ruído do fundo da garganta, que parecia um grito estrangulado. Caleb estremeceu; mal conseguia continuar ouvindo aquilo. O fato de Dory não ter morrido parecia uma crueldade de proporções imensas. Carregaram-na para a casa, até a pequena despensa onde as meninas vinham dormindo, e a colocaram no estrado. Caleb pregou uma almofada de sela na janela minúscula, para fazer sombra.
– Preciso tirar essa camisola – avisou Kate, lançando um olhar grave para Caleb. – Isso vai ser... ruim.
Ele engoliu em seco. Mal conseguia se obrigar a olhar para a mulher, para a carne queimada e cheia de bolhas.
– Não sou bom com coisas assim – admitiu.
– Ninguém é, Caleb.
Ele percebeu outra coisa. Tinha esperado demais; agora estavam presos ali, aguardando que a mulher morresse. Com apenas um cavalo, não poderiam usar a carroça para levar Dory à Cidade Mística. E Pim jamais iria abandoná-la.
– Vou precisar de panos limpos, uma garrafa de álcool, tesoura – ordenou Kate. – Ferva a tesoura e depois não toque nela, só coloque num pano. Depois vá cuidar das crianças. Pim pode me ajudar aqui. Você vai querer mantê-las longe de casa durante um tempo.
Caleb não se sentiu insultado, só agradecido. Pegou as coisas que ela pediu, levou-as para o quarto e trocou de lugar com Pim. Perto da horta, as meninas estavam brincando de boneca, fazendo camas para elas com folhas e gravetos, enquanto Theo se distraía por perto.
– Venham, crianças, vamos dar um passeio no rio.
Ajeitou Theo no quadril e segurou a mão de Elle, que, por sua vez, pegou a da irmã, como tinham aprendido, formando uma corrente. Estavam na metade do caminho para o rio quando um grito rasgou o ar. O som atravessou Caleb como uma bala.
Lucius. Começou. Preciso de você agora.
Greer estivera dirigindo desde antes do amanhecer.
Deixe esse barco preparado, tinha dito a Lore. Passou por Rosenberg no escuro, correu para noroeste e chegou à Autoestrada 10 enquanto o sol nascia atrás dele.
Chegaria a Kerrville às quatro da tarde, no máximo às cinco. O que a escuridão traria?
Amy, estou indo.
CINQUENTA
Michael voltou à consciência no escuro. Deitado no catre, passou os dedos no ferimento da cabeça. O cabelo estava rígido com sangue seco; tivera sorte de não terem rachado seu crânio. Mas imaginava que um criminoso armado na casa do presidente merecia pelo menos uma boa pancada na cachola. Não era o modo ideal de ter uma noite de descanso, mas no geral não era uma coisa totalmente desagradável.
Dormiu mais um pouco; quando acordou, a luz suave do dia estava atravessando a janela. Houve um estalo de fechadura e um par de policiais apareceu. Um deles segurava uma bandeja. Enquanto o outro ficava de guarda, o primeiro colocou a bandeja no chão.
– Muito obrigado, pessoal.
Os dois saíram. Provavelmente tinham recebido ordem de não falar com ele. Michael levantou a bandeja e a colocou na cama. Uma tigela com mingau de aveia, ovos mexidos, um pêssego – uma refeição melhor do que tivera em muitos dias. Tinham lhe dado apenas uma colher – nenhum garfo, claro –, por isso comeu os ovos com ela, seguidos pelo mingau. Guardou o pêssego para o fim. O sumo explodiu no queixo. Fruta fresca! Tinha esquecido como era.
Mais tempo se passou. Por fim ouviu passos e vozes no corredor. Era Peter, provavelmente, rebocando alguém. Apgar? Cedo ou tarde a conversa teria de ser ampliada.
Mas não era Peter.
Sara estava junto à porta. Tinha mudado menos do que ele pensava. Estava mais velha, claro, mas envelhecera com graça, como algumas mulheres conseguiam, as que não lutavam contra isso, que aceitavam a passagem do tempo.
– Não acredito no que estou vendo.
– Olá, Sara.
Michael sentou na cama enquanto sua irmã entrava. Estava carregando uma pequena bolsa de couro. Um guarda veio atrás, segurando um cassetete.
– Droga, Michael.
Ela estava parada longe dele.
– Eu sei.
Era uma observação absurda: o que significava? Sei que magoei você? Sei como isso deve parecer? Sei que sou o pior irmão do mundo?
– Estou com tanta... raiva de você!
– Você tem direito.
Uma sobrancelha se levantou.
– É só isso que você tem a dizer?
– Que tal sinto muito?
– Está brincando comigo? Você sente muito?
– Você parece bem, Sara. Senti sua falta.
– Nem tente. E você está com uma aparência péssima.
– Ah, estou num dos meus melhores dias.
– Michael, o que você está fazendo aqui? Achei que nunca mais iria vê-lo.
Ele examinou o rosto dela. Será que sabia?
– O que o Peter lhe disse?
– Só que você foi preso e estava com um talho na cabeça – falou, exibindo um pouco a sacola. – Vim aqui costurar você.
– Então ele não disse mais nada.
Ela assumiu um ar de incredulidade.
– Tipo o quê, Michael? Que provavelmente vão enforcá-lo? Ele não precisava dizer isso.
– Não se preocupe. Ninguém vai ser enforcado.
– Vinte e um anos, Michael.
A mão direita dela, a que segurava a sacola, estava fechada com força, como se ela fosse lhe dar um soco.
– Vinte e um anos sem uma mensagem, uma carta, nada. Ajude-me a entender isso.
– Não posso explicar agora. Mas você precisa saber que havia um motivo.
– Sabe o que eu tinha de fazer? Com você? Há dez anos eu disse: é isso, ele nunca mais vai voltar. Pode muito bem estar morto. Eu enterrei você, Michael. Coloquei você embaixo da terra e me esqueci de você.
– Fiz algumas coisas horríveis, Sara.
Por fim as lágrimas vieram.
– Eu cuidei de você. Criei você. Já pensou nisso?
Ele se levantou da cama. Sara deixou a sacola cair no chão, levantou os punhos e começou a bater no peito dele. Agora estava chorando de verdade.
– Seu ridículo – disse.
Michael a puxou num abraço apertado. Ela lutou em seus braços, depois deixou que ele a segurasse. O guarda olhava para eles com cautela. Michael lançou um olhar para ele: Para trás.
– Como você pôde fazer isso comigo? – soluçou ela.
– Jamais quis magoar você, Sara.
– Você me abandonou, como eles. Você não é melhor do que eles.
– Eu sei.
– Você é um desgraçado, Michael, um desgraçado.
Ele a segurou assim por um longo tempo.
– Uma história e tanto.
Era o fim da manhã; Peter havia organizado o escritório. Agora ele e Apgar estavam sentados à mesa de reuniões, esperando Chase. Era uma aposentadoria curta para o sujeito.
– Eu sei – respondeu Peter.
– Você acredita nele?
– E você?
– Você é que conhece o cara.
– Isso foi há vinte anos.
Chase apareceu junto à porta.
– Peter, o que está acontecendo? Cadê todo mundo? Esse lugar parece um túmulo.
Estava usando o jeans, a camisa de trabalho e as botas pesadas do vaqueiro que ele tinha anunciado a intenção de se tornar.
– Sente-se, Ford – disse Peter.
– Isso vai demorar? Olivia está me esperando. Vamos encontrar umas pessoas no banco.
Peter se perguntou quantas daquelas conversas precisaria ter. Era como levar as pessoas à beira de um penhasco, mostrar a paisagem e depois empurrá-las.
– Infelizmente, vai – respondeu.
Alicia viu os primeiros montes de terra do lado de fora de Fredericksburg – três, cada um do comprimento de um homem, avolumando-se no chão à sombra de uma nogueira-pecã. Continuou e chegou à primeira fazenda. Apeou no quintal de terra batida. Nenhum som de vida vinha da casa. Entrou. Mobília virada, objetos espalhados, um fuzil no chão, camas desfeitas. Os habitantes tinham sido infectados enquanto dormiam; agora dormiam na terra, embaixo da nogueira.
Deu água da gamela a Soldado e continuou a viagem. As colinas rochosas subiam e desciam. Logo viu mais casas – algumas aninhadas discretamente nas dobras do terreno, outras expostas nas áreas planas, cercadas por campos de solo recém-arado, dominados com esforço. Não precisava olhar mais de perto; a imobilidade dizia tudo o que Alicia precisava saber. O céu parecia pender acima dela com um cansaço infinito. Tinha esperado que a coisa acontecesse assim, primeiro nas bordas externas. Os primeiros sendo tomados, depois mais e mais, um exército crescendo, multiplicando-se enquanto se movia para a cidade.
A cidade em si estava abandonada. Alicia cavalgou por toda a extensão da empoeirada rua principal, passando por pequenas lojas e casas, algumas novas, outras reivindicadas do passado. Apenas alguns dias atrás as pessoas seguiam com a vida cotidiana ali: criavam filhos, realizavam negócios, falavam amenidades, ficavam bêbadas, trapaceavam no jogo de cartas, discutiam, brigavam aos socos, faziam amor, paravam nas soleiras para cumprimentar os colegas que passavam. Será que sabiam o que estava acontecendo? Será que o fato se esgueirara para eles aos poucos – primeiro uma pessoa desaparecida, uma curiosidade mal observada, depois outra e outra, até que o significado baixasse – ou será que os virais tinham vindo num jorro, numa única noite de horror? Na extremidade sul da cidade, Alicia chegou a uma plantação. Começou a contar. Vinte montes de terra. Cinquenta. Setenta e cinco.
Quando chegou a cem, desistiu da contagem.
CINQUENTA E UM
O dia continuou. E Dory não morreu.
Vindos do quarto onde ela estava, Caleb só escutava sons baixos: gemidos, murmúrios, uma cadeira sendo arrastada no chão. Kate ou Pim podiam aparecer brevemente, para pegar algum utensílio ou ferver mais panos. Caleb ficava sentado no quintal com as crianças, mas não tinha energia para diverti-las. Sua mente se desviava para tarefas inacabadas, mas então outra voz falava com ele, dizendo que tudo aquilo era por nada; logo estariam saindo daquele lugar, com todas as suas orgulhosas esperanças esmagadas.
Kate saiu e sentou-se ao lado dele, na soleira. As crianças tinham ido cochilar dentro de casa.
– E então? – perguntou Caleb.
Kate franziu os olhos à luz da tarde. Uma mecha de cabelo dourado estava grudada à testa; ela a prendeu atrás da orelha.
– Ainda está respirando, ao menos.
– Quanto tempo isso vai durar?
– Ela já deveria estar morta. – disse Kate. – Se ainda estiver viva de manhã, você deveria pegar Pim e as crianças e sair daqui.
– Se alguém tem que ficar, que seja eu. Só me diga o que fazer.
– Caleb, eu posso cuidar disso.
– Sei que pode, mas fui eu que coloquei a gente nessa encrenca.
– O que você ia fazer? Um cavalo fica doente, pessoas somem, uma casa pega fogo. Quem pode dizer que isso está relacionado?
– Mesmo assim não vou deixar você aqui.
– E acredite, agradeço seu gesto. Nunca fui muito chegada à vida no campo, e esse lugar me dá arrepios. Mas é o meu trabalho, Caleb. Deixe que eu o faça, e vamos nos dar bem.
Durante um tempo ficaram sentados sem falar. Então Caleb disse:
– Seria bom ter sua ajuda em uma coisa.
O corpo de Jeb tinha inchado e enrijecido no calor. Eles amarraram as patas traseiras do animal, colocaram Bonito no arreio de arado e começaram o lento processo de arrastar o corpo até a outra ponta do campo. Quando Caleb achou que estavam suficientemente longe da casa, levaram Bonito de volta para o abrigo e trouxeram um dos garrafões de combustível. Caleb pegou alguns galhos mortos na floresta e colocou em cima do cadáver, montando uma pira; jogou querosene em cima, tampou o garrafão de novo e se afastou.
– Por que você o chamou de Jeb? – perguntou Kate.
Caleb deu de ombros.
– É o nome com o qual ele veio.
Nada restava a ser dito. Caleb riscou um fósforo e jogou. Com um estalido as chamas envolveram a pilha. Praticamente não ventava. A fumaça densa subiu direto para o céu, cheia de fagulhas estalando. Durante um tempo cheirou a algarobo; depois virou outra coisa.
– É isso aí, acho – disse ele.
Voltaram na direção da casa. Enquanto se aproximavam, Pim apareceu junto à porta. Seus olhos estavam arregalados.
Tem alguma coisa acontecendo, sinalizou ela.
O quarto estava frio e escuro. Só o rosto de Dory aparecia; o resto estava coberto por panos fervidos.
– Sra. Tatum – disse Kate –, está me ouvindo? A senhora sabe onde está?
Olhando para o teto, a mulher parecia não percebê-los. Uma mudança notável tinha acontecido. Notável, mas também perturbadora. A aparência áspera das queimaduras no rosto tinha se suavizado. Agora a cor era rosada, quase refrescante; em outras partes a pele estava branca como talco. Dory se remexeu ligeiramente na cama, expondo a mão esquerda e o antebraço. Antes havia sido uma garra medonha, feita de carne cozida. Agora era uma mão humana reconhecível – as bolhas tinham sumido, as partes queimadas tinham saído em escamas, revelando uma pele rósea por baixo.
Kate olhou para Pim. Há quanto tempo ela está acordada?
Não estava. Isso acabou de acontecer.
– Sra. Tatum – disse Kate, mais enfaticamente. – Sou médica. A senhora esteve num incêndio. Está na fazenda da família Jaxon. Caleb e Pim estão comigo. Lembra-se do que aconteceu?
O olhar dela, percorrendo o quarto descoordenadamente, localizou o rosto de Kate.
– Incêndio? – murmurou.
– Isso mesmo, houve um incêndio na sua casa.
– Pergunte se ela sabe o que o provocou – pediu Caleb.
– Incêndio – repetiu Dory. – Incêndio.
– É. O que a senhora lembra do incêndio?
Pim deu um passo à frente e se ajoelhou perto da cama. Levantou gentilmente a mão exposta de Dory, encostou a ponta do indicador na palma da mão dela e começou a formar letras.
– Pim – disse Dory.
Mas foi só isso. A luz em seus olhos se esvaiu. Ela os fechou de novo.
– Caleb, vou examiná-la – disse Kate. Depois, para Pim: Fique para ajudar.
Caleb esperou na cozinha. As crianças, misericordiosamente, ainda dormiam. Alguns minutos se passaram e as mulheres apareceram.
Kate indicou a porta dos fundos. Vamos conversar lá fora.
A luz havia mudado para o fim de tarde.
– O que está acontecendo com ela? – perguntou Caleb, sinalizando ao mesmo tempo.
– Ela está melhorando, é isso.
– Como é possível?
– Se eu soubesse, engarrafaria para vender. As queimaduras ainda estão feias, ela ainda não está fora de perigo. Mas nunca vi ninguém se curar tão depressa. Achei que o choque simplesmente iria matá-la.
– E quanto a ela acordar daquele jeito?
– É um bom sinal, o fato de ela reconhecer Pim. Mas não creio que tenha entendido muita coisa a mais. Talvez nunca se recupere.
– Quer dizer que ela vai ficar assim?
– Já vi isso acontecer.
Kate se dirigiu à irmã: Fiquei com ela. Se acordar de novo, tente fazer com que fale.
Sobre o quê?
Coisas fáceis. Mantenha a mente dela longe do incêndio, por enquanto.
Pim voltou à casa.
– Isso muda as coisas – disse Caleb.
– Concordo. Talvez possamos transportá-la antes do que eu pensava. Você acha que pode arranjar um veículo em Mística?
Ele se lembrou da picape que tinha visto no quintal de Elacqua.
Kate pareceu surpresa.
– Brian Elacqua?
– O próprio.
– Aquele maldito velho bêbado. Eu bem que me perguntava o que tinha sido feito dele.
– Foi mais ou menos isso que eu achei do sujeito.
– Mesmo assim, tenho certeza de que ele nos ajudaria.
Caleb assentiu.
– Vou até lá de manhã.
Sara estava esperando na varanda com as bagagens quando Hollis apareceu, montado numa égua de aparência lamentável. Com ele estava um homem que Sara não conhecia, montado num segundo cavalo, um capão preto com as costas arqueadas como uma rede e olhos velhos, remelentos.
– O que é isso que estou vendo? – perguntou Sara. – Ah, dois dos piores cavalos em que já pus os olhos.
Os homens apearam. O companheiro de Hollis era um sujeito atarracado usando macacão sem camisa. O cabelo era comprido e branco e havia um ar de astúcia em seu rosto. Hollis e o homem trocaram algumas palavras, apertaram-se as mãos e o sujeito foi embora, andando.
– Quem é o seu amigo? – perguntou Sara.
Hollis estava amarrando os cavalos ao corrimão da varanda.
– Uma pessoa que eu conheci nos velhos tempos.
– Pensei que tínhamos falado de uma caminhonete, Hollis.
– É, quanto a isso... por acaso uma caminhonete custa dinheiro de verdade. Além disso, não há gasolina. Pelo lado positivo, Dominic deu os arreios de graça, de modo que, tecnicamente, não estamos cem por cento sem dinheiro no momento.
– Dominic. Seu amigo sem camisa.
– Ele meio que me devia um favor.
– Eu deveria perguntar sobre isso?
– Acho melhor não.
Voltaram à casa, diminuíram a bagagem, colocaram o resto em bolsas de sela e as prenderam nos cavalos. Hollis ficou com a égua, Sara com o capão. Tinha ganhado a melhor parte do trato, mas não muito. Anos haviam se passado sem que ela montasse num cavalo, mas a sensação foi automática, tocando um acorde profundo em sua memória física. Curvando-se adiante na sela, deu três tapinhas firmes no pescoço do animal.
– Você não é um velho malvado, é? Talvez eu esteja pegando pesado demais com você.
Hollis levantou os olhos.
– Desculpe, está falando comigo?
– Ora, ora.
Foram até o portão e desceram o morro. Alguns trabalhadores esparsos labutavam nos campos sob um sol de fim de tarde. Aqui e ali uma flâmula pendia frouxa no mastro, marcando o local de uma caixa-forte; as torres de vigia com suas trombetas de alerta e as plataformas para atiradores, que não eram usadas havia anos, se projetavam do fundo do vale.
Na extremidade da Zona Laranja a estrada se bifurcava: para o oeste em direção aos distritos do rio, para leste na direção de Comfort e da estrada do Petróleo. Hollis parou e pegou o cantil no cinto. Tomou um gole e passou-o a Sara.
– Como está indo o velho?
– É um perfeito cavalheiro.
Ela enxugou a boca com as costas da mão e fez um gesto para o leste, com o cantil.
– Parece alguém com pressa.
Hollis também viu: a nuvem de fumaça provocada por um veículo, vindo rapidamente para a cidade.
– Quem sabe ele não quer trocar o carro pelos cavalos? – brincou Hollis.
Sara examinou o marido por um momento, subindo e descendo o olhar.
– Devo dizer que você está bem bonitão aí em cima. Isso me traz lembranças do passado.
Hollis estava curvado para a frente, firmando o peso com as duas mãos sobre o arção da sela.
– Eu gostava de olhar quando você cavalgava, sabe? Quando trabalhava no turno do dia na Vigilância, às vezes esperava no Muro até você voltar com o rebanho.
– Sério? – falou ela. – Eu não sabia.
– Era uma coisa meio sinistra da minha parte, admito.
De repente ela se sentiu feliz. Um sorriso lhe veio ao rosto, o primeiro em dias.
– Ah, e como você poderia evitar?
– Eu não era o único. Às vezes você atraía uma tremenda multidão – disse Hollis.
– Então foi sorte sua as coisas terem acontecido como aconteceram.
Ela tampou o cantil e devolveu.
– Agora vamos ver nossos bebês.
CINQUENTA E DOIS
– Ei, boa tarde, todo mundo.
Dois policiais da segurança tomavam conta da sala externa da cadeia – um sentado à mesa; o segundo, muito mais velho, parado atrás do balcão. Greer reconheceu o segundo homem imediatamente; anos antes o sujeito tinha sido um dos seus carcereiros. Winthrop? Não, Winfield. Na época ele era só um garoto. Quando os olhares dos dois se cruzaram, Lucius viu uma série de cálculos rápidos se desdobrando por trás dos olhos do homem.
– Maldição – disse Winfield.
Sua mão baixou para a arma à cintura, mas o movimento foi espantado e sem jeito, dando a Greer bastante tempo para levantar a espingarda de baixo do casaco e apontá-la para o peito dele. Com um estalo alto, pôs um cartucho na câmara.
– Tsc, tsc, tsc.
Winfield se imobilizou. O policial mais novo ainda estava sentado atrás da mesa, com os olhos arregalados. Greer virou a espingarda para ele.
– Armas no chão. Você também, Winfield. Vamos ser rápidos.
Eles colocaram as pistolas no chão.
– Quem é esse cara? – perguntou o mais novo.
– Já faz um tempo, 62 – disse Winfield, usando o antigo número de prisioneiro de Greer.
Parecia mais divertido do que com raiva, como se tivesse encontrado um velho amigo de reputação dúbia que houvesse superado as expectativas.
– Ouvi dizer que você andou ocupado. Como vai o Dunk?
– Michael Fisher – respondeu Greer. – Está aqui?
– Ah, está, sim.
– Mais algum policial no prédio? Vamos manter o papo furado no mínimo, isso não precisa ser um problema.
– Está falando sério? Eu estou cagando e andando. Ramsey, jogue as chaves para mim.
Winfield abriu a porta do bloco de celas. Greer acompanhou alguns passos atrás dos dois homens, mantendo a espingarda apontada para as costas deles. Michael, deitado na cama, apoiou-se nos cotovelos quando a porta da cela se abriu.
– Isso foi rápido – observou.
Greer ordenou que Winfield e o outro entrassem na cela, depois olhou para Michael.
– Vamos?
– É bom ver você, 62 – gritou Winfield às costas dele. – Não mudou nem um pouco, seu escroto.
Greer fechou a porta, virou a fechadura e guardou a chave no bolso.
– Fiquem frios aí – rosnou através da fenda. – Não quero ter de voltar.
Em seguida se virou para examinar Michael.
– O que aconteceu com a sua cabeça? Isso aí deve estar doendo.
– Não quero parecer ingrato, mas acho que sua vinda não é uma notícia boa.
– Estamos passando para o plano B.
– Eu não sabia que tínhamos um.
Greer lhe entregou a pistola de Winfield.
– Explico no caminho.
Peter, Apgar e Chase estavam olhando a lista dos passageiros de Michael quando irromperam gritos no corredor.
– Abaixe isso! Abaixe isso!
Um estalo: um tiro.
Peter enfiou a mão na gaveta para pegar a pistola que guardava ali.
– Gunnar, o que você tem?
– Nada.
– Ford?
O sujeito balançou a cabeça.
– Entrem atrás da minha mesa.
A maçaneta da porta foi sacudida. Peter e Apgar se posicionaram contra a parede do outro lado. A madeira estremeceu: alguém a estava chutando.
A porta se escancarou com um estrondo.
Quando o primeiro homem entrou, Apgar o atacou por trás. Uma espingarda caiu no chão e deslizou. Apgar o prendeu com os joelhos, uma das mãos no pescoço, a outra levantada, pronta para golpear. Ele parou.
– Greer?
– Olá, general.
– Michael – disse Peter, baixando a arma. – Que porra!
Três soldados invadiram a sala com os fuzis apontados.
– Não atirem! – gritou Peter.
Com visível incerteza, os soldados obedeceram.
– Que tiro foi aquele lá fora, Michael?
O policial acenou num gesto casual.
– Ah, ele errou. Estamos bem.
Peter estava tremendo de raiva.
– Vocês três – disse aos soldados –, saiam.
Eles partiram. Apgar saiu de cima de Greer. Enquanto isso Chase tinha saído de trás da mesa de Peter.
Michael sinalizou na direção de Chase.
– Tudo bem com ele?
– Em que sentido?
– Quero dizer, ele sabe?
– Sei – respondeu Chase, irritado. – Sei.
Peter ainda estava furioso.
– Vocês dois, o que acham que estão fazendo?
– Nas circunstâncias atuais, achamos que seria melhor uma abordagem direta – respondeu Greer. – Temos um veículo lá fora. Precisamos que venha conosco, Peter, e precisamos ir agora mesmo.
A paciência de Peter estava no final.
– Não vou a lugar nenhum. Se não começarem a falar algo que faça sentido, vou enfiar pessoalmente os dois na cadeia e jogar a chave fora.
– Infelizmente a situação mudou.
– Então os virais não vão voltar, afinal de contas? Isso tudo é uma espécie de piada?
– Infelizmente é o contrário – disse Greer. – Eles já estão aqui.
CINQUENTA E TRÊS
Amy ia sentir falta daquele lugar.
Tinham decidido deixar o restante das tarefas incompletas, pelo resto do dia. Parecia não haver sentido em terminá-las. Às vezes, disse Carter, é preciso deixar que um jardim cuide de si mesmo.
Ela se sentiu nauseada, quase febril. Será que conseguiria controlar a coisa? Será que iria matá-lo? E a água?
Você tem de fazer como Zero fez, disse Carter. Não há outro modo de voltar a ser como você era.
Dentro de casa as meninas estavam assistindo a um filme. Era um filme do qual Amy se lembrava, de quando também era só uma menina: O mágico de Oz. O filme a havia aterrorizado – o tornado, o campo de papoulas, a bruxa malvada com sua pele verde doentia e o batalhão de macacos alados com chapéus de mensageiros de hotel –, mas também a encantara. Sua mãe vestia a saia curta e a blusa justa para ir à estrada e, antes de sair, fazia Amy se sentar diante da televisão com algo para comer, alguma coisa gordurosa numa sacola, e dizia: Fique quietinha. Mamãe volta logo. Não abra essa porta para ninguém. Amy podia ver a culpa nos olhos da mãe – sabia que deixar uma criança sozinha não era algo que deveria fazer –, e o coração de Amy sempre ia até ela, porque a amava, e a mulher estava sempre com remorsos e triste o tempo todo, como se a vida fosse uma série de frustrações que ela não podia impedir. Às vezes a mãe mal conseguia sair da cama o dia todo, e aí a noite caía, e vinham a saia, a blusa e a televisão, e ela deixava Amy sozinha de novo.
A noite do Mágico de Oz tinha sido a última das duas no motel, ou pelo menos era o que Amy lembrava. Tinha assistido a desenhos animados durante um tempo e, quando eles acabaram, um programa de jogos, depois ficou trocando de canais até que o filme atraiu seu olhar. As cores eram estranhas, vívidas demais. Essa foi a primeira coisa que ela notou. Deitada na cama, que tinha o cheiro de sua mãe – uma mistura de suor, perfume e algo nitidamente dela –, Amy se acomodou para assistir. Entrou na história quando Dorothy, tendo salvado seu cachorro das garras da maligna Srta. Gulch, estava fugindo da tempestade. O tornado a levou para longe; ela foi parar na terra dos Munchkins, que cantavam sobre como sua vida era feliz. Mas, claro, havia o problema dos pés – os pés da Bruxa Malvada do Leste, projetando-se para fora da casa de Dorothy levada pelo tornado.
E prosseguiu a partir daí. A atenção de Amy era completa. Ela entendia o desejo de Dorothy, de ir para casa. Esse era o cerne da história, e fazia sentido para Amy. Fazia muito tempo que ela não ficava em casa; mal se lembrava dela, tinha apenas uma sombra da sensação de determinados cômodos. Quando o filme foi chegando ao final e Dorothy bateu os calcanhares e acordou no seio de sua família, Amy decidiu experimentar isso. Não tinha sapatinhos de rubi, mas sua mãe tinha um par de botas, muito altas, com saltos pontudos. Amy as calçou. Elas subiam pelas pernas magricelas, de menininha, quase até a virilha; os saltos eram muito altos, tornando difícil andar. Ela deu alguns passos aos tropeços pelo quarto, para se acostumar, e quando se sentiu confortável fechou os olhos e bateu os calcanhares três vezes. Não existe lugar como o nosso lar, não existe lugar como o nosso lar, não existe lugar como o nosso lar...
Tão convencida estava do poder mágico desse gesto que, quando abriu os olhos, ficou surpresa ao descobrir que nada tinha acontecido. Ainda estava no motel, com o carpete sujo e os móveis feios e impossíveis de serem movidos. Tirou as botas, jogou-as do outro lado do quarto, lançou-se na cama e começou a chorar. Deve ter caído no sono, porque a próxima coisa que viu foi o rosto assustado da mãe. Ela a estava sacudindo com força pelos ombros; sua blusa estava manchada e rasgada. Venha, querida, disse. Acorde. Precisamos ir.
Carter estava limpando a piscina. As primeiras folhas caíam, secas e marrons.
– Achei que íamos tirar o dia de folga – disse Amy.
– E vamos. Só preciso pegar essas aqui. Fico incomodado vendo.
Ela estava sentada no pátio. Dentro da casa as meninas tinham chegado à parte do filme em que Dorothy e seus companheiros entravam na Cidade Esmeralda.
– Elas deviam diminuir um pouco o volume – observou Carter, enquanto arrastava a peneira pelas bordas, tentando colocar alguns pedacinhos de sujeira na tela. – Vão acabar estragando os ouvidos.
É, ela sentiria falta daquilo. A suavidade do lugar, a sensação fresca de verdor. As pequenas tarefas que preenchiam os dias de espera. Carter deixou a peneira no deque da piscina e ocupou uma cadeira à frente dela. Ouviram o filme durante um tempo. Quando a Bruxa Malvada se derreteu, as meninas irromperam em gritinhos felizes.
– Quantas vezes elas viram esse filme? – perguntou Carter.
– Ah, um bocado.
– Quando eu era garoto, parecia que passava na TV na metade do tempo. Eu ficava morrendo de medo.
Carter fez uma pausa.
– Mas sempre gostei desse filme.
Carregaram o Humvee com latas de combustível. No compartimento de carga estavam caixotes de plástico com os suprimentos que Greer havia trazido – cabo e guincho, uma rede de cordas, um par de chaves de porca, cobertores, um vestido de algodão simples.
– Eu ficaria mais feliz se pudesse trazer Sara – disse Peter. – Ela saberia melhor do que qualquer um de nós o que fazer.
Greer passou um garrafão por cima da borda da carroceria.
– Nesse momento não é uma boa ideia. Precisamos manter o número de pessoas no mínimo.
– Precisamos avisar os distritos – disse Peter a Apgar. – As pessoas precisam procurar abrigo. Porões, cômodos internos, o que tiverem. De manhã, podemos mandar veículos para resgatar o maior número possível.
– Vou cuidar disso.
Peter olhou para Chase.
– Ford, você fica no comando.
– Entendido.
Peter falou de novo com Apgar:
– Meu filho e a família dele...
O general não deixou que ele terminasse.
– Vou avisar o destacamento de Luckenbach pelo rádio. Vamos mandar alguns homens lá.
– Caleb tem uma caixa-forte na propriedade.
– Vou avisar sobre isso.
Greer estava esperando ao volante, com Michael no banco do carona. Peter subiu atrás.
– Vamos – disse ele.
Eram 18h30. O sol iria se pôr em duas horas.
CINQUENTA E QUATRO
Sara e Hollis viajavam num ritmo bom. Tinham entrado na zona que todo mundo chamava de Hiato – um trecho de estrada vazia entre Ingram e o distrito de Hunt. Agora seguiam à margem do Guadalupe, que gorgolejava agradavelmente nos baixios. Gordos carvalhos estendiam as copas sobre a estrada. Então chegaram a um terreno aberto, com o sol baixo no rosto, e em seguida mais árvores e sombras.
– Acho que esse cara precisa de um descanso – disse Sara.
Apearam e levaram os cavalos para a beira do rio. Parada na margem, a égua de Hollis mergulhou a cara comprida na água sem hesitar, mas o capão parecia inseguro. Sara tirou as botas, enrolou as pernas das calças e o levou para beber numa parte rasa. A água estava maravilhosamente fria, o fundo do rio feito de calcário liso, firme sob os pés.
Depois que os cavalos beberam até se fartar, Sara e Hollis tiraram um momento para deixar os animais soltos. Depois se sentaram num afloramento de rocha acima da margem. A vegetação era densa – salgueiros, nogueiras-pecãs, carvalhos, algumas algarobeiras e pereiras espinhentas. Insetos da tarde eclodiam da água em pontos de luz que ascendiam. Uma centena de metros rio acima, a água formava um poço largo e fundo.
– É tão pacífico aqui – disse Sara.
Hollis assentiu, o rosto cheio de contentamento.
– Acho que eu conseguiria me acostumar com isso.
Ela estava pensando num determinado lugar do passado. Tinha sido muitos anos atrás, quando ela, Hollis e os outros viajaram para o leste com Amy, até o Colorado. Nessa época Theo e Mausami haviam se separado deles, e ficaram para trás na fazenda para que Mausami tivesse o bebê. Tinham atravessado as montanhas La Sal e descido até um vale amplo com capim alto e céu azul e pararam para descansar. A distância, cobertos de neve, erguiam-se os picos das Rochosas, mas o ar ainda estava agradável. Sentada à sombra de uma macieira, Sara havia experimentado uma sensação que nunca tinha tido antes – um sentimento da beleza do mundo. Porque ele era mesmo lindo. As árvores, a luz, o modo como o capim se movia na brisa, as faces de gelo reluzente das montanhas: como não tinha notado essas coisas antes? E, se tivesse, por que haviam parecido diferentes, mais comuns, menos carregadas de vida? Ela havia se apaixonado por Hollis e entendia, sentada sob a macieira com os amigos em volta (na verdade Michael tinha caído no sono, abraçando a espingarda como se fosse um bichinho de pelúcia), que o motivo era Hollis. O amor, e só o amor, era o que abria os olhos.
– É melhor irmos – disse Hollis. – Vai escurecer logo.
Pegaram os cavalos e partiram.
O general Gunnar Apgar, de pé no topo do muro, olhava as sombras se estendendo sobre o vale.
Olhou o relógio: 20h15. Faltavam minutos para o pôr do sol. Os últimos transportes trazendo os trabalhadores dos campos vinham subindo o morro. Todos os seus homens tinham assumido posição no topo do muro. Tinham armas e munição nova, mas o efetivo era pequeno – insuficientes para vigiar cada palmo de um perímetro de 10 quilômetros, quanto mais defendê-lo.
Apgar não era religioso. Muitos anos tinham se passado desde que uma oração encontrara seus lábios. Apesar de se sentir meio idiota, decidiu fazer uma agora. Deus, pensou, se estiver ouvindo, e não for problema de mais, por favor, faça com que nada disso seja verdade.
Passos vieram pela passarela na sua direção.
– O que foi, cabo?
O nome do soldado era Ratcliffe – era operador de rádio. Estava sem fôlego devido à corrida escada acima. Dobrou o corpo e pôs as mãos nos joelhos, inalando grandes haustos entre as palavras.
– General, senhor, passamos a mensagem, como o senhor mandou.
– E como está Luckenbach?
Ratcliffe assentiu rapidamente, ainda olhando para baixo.
– É, eles vão mandar um esquadrão.
Ele fez uma pausa e tossiu.
– Mas o negócio é esse. Eles foram os únicos que responderam.
– Respire, cabo.
– Sim, senhor. Desculpe, senhor.
– Agora explique melhor.
O soldado ficou ereto.
– É como eu disse. Hunt, Comfort, Boerne, Rosenberg. Não estamos recebendo nenhuma resposta. Nem confirmação de presença, nada. Todos os postos, menos o de Luckenbach, estão desligados.
O último ônibus estava passando pelo portão. Embaixo, na área de desembarque, trabalhadores desciam. Alguns estavam conversando, contando piadas e rindo; outros se separavam rapidamente do grupo e se afastavam, indo para casa.
– Obrigado pelo aviso, cabo.
Apgar o viu se afastar, cambaleante, antes de se virar e olhar de novo para o vale. Uma cortina de escuridão baixava sobre os campos. Bom, pensou, acho que é isso aí. Seria bom se pudesse ter durado mais. Desceu a escada e foi até a base do portão. Dois soldados esperavam junto com um civil, um homem de cerca de 40 anos, vestindo macacão manchado e segurando uma chave inglesa do tamanho de uma marreta.
O homem cuspiu alguma coisa no chão.
– O portão deve estar funcionando direito, general. Lubrifiquei tudo. O negócio vai estar silencioso feito um gato.
Apgar olhou um soldado.
– Todos os transportes entraram?
– Pelo que sabemos.
Ele virou o rosto para o céu; as primeiras estrelas tinham aparecido, piscando no escuro.
– Certo, senhores – disse ele. – Vamos trancar.
Caleb estava sentado na soleira da frente, olhando a noite chegar.
Naquela tarde tinha inspecionado a caixa-forte, que não olhava fazia meses. Tinha construído aquilo só para agradar ao pai; na ocasião parecera uma bobagem. Tornados aconteciam, era verdade, algumas pessoas tinham sido mortas, mas quais eram as chances? Caleb havia tirado as folhas e outros entulhos de cima do alçapão e descido a escada. O interior estava fresco e escuro. Havia um lampião a querosene e galões de combustível junto a uma parede; o alçapão era fechado por dentro com um par de barras de aço. Quando Caleb mostrou o abrigo a Pim, na segunda noite passada na fazenda, sentira-se meio embaraçado com aquela coisa, que parecia uma indulgência cara e desnecessária, completamente fora de contexto com o otimismo do empreendimento dos dois. Mas Pim aceitou bem. Seu pai sabe o que diz, sinalizou ela. Pare de se desculpar. Fico feliz que tenha dedicado tempo a isso.
Agora, olhando para o oeste, Caleb avaliou o sol. A borda inferior estava beijando o topo da montanha. Nos últimos instantes ele pareceu acelerar, como sempre.
Indo, indo, foi-se.
Sentiu o ar mudar. Tudo ao redor pareceu ficar imóvel. Mas no instante seguinte algo atraiu seus olhos – uma agitação no alto de uma nogueira na borda da floresta. O que ele estava vendo? Não eram pássaros; o movimento era pesado demais. Levantou-se. Uma segunda árvore estremeceu, depois uma terceira.
Lembrou-se de uma expressão do passado: Quando eles vêm, vêm de cima.
Tinha colocado uma bala na câmara do fuzil quando, atrás, na casa, uma voz gritou seu nome.
– Espere um segundo – disse Hollis.
Um caminhão do exército estava tombado na estrada; uma das rodas de trás ainda girava, rangendo.
Sara apeou rapidamente.
– Alguém pode estar ferido.
– Talvez tenham ido embora – disse Hollis.
– Não, isso aconteceu agora mesmo.
Ela olhou pela estrada e apontou.
– Ali.
O soldado estava caído de costas. Respirava em haustos rápidos, os olhos abertos, focando o céu. Sara se ajoelhou junto dele.
– Soldado, olhe para mim. Você consegue falar?
Ele agia como se estivesse muito ferido, mas não havia sangue, nenhum sinal óbvio de nada quebrado. As mangas do uniforme tinham divisas de cabo. Ele virou o rosto para ela, expondo um pequeno ferimento, brilhante de sangue, na base da garganta.
– Fuja – grasnou ele.
Caleb entrou correndo em casa. Pim estava segurando Theo, recuando para longe da porta do quarto de Dory. Bug e Elle se agarravam às suas pernas.
A voz de Kate.
– Caleb, venha depressa!
Dory estava se sacudindo na cama, tinha baba escorrendo dos lábios. Com um som parecido com um espirro, seus dentes voaram da boca. Kate estava parada junto à cama, segurando o revólver.
– Atire nela! – gritou Caleb.
Kate não parecia ouvi-lo. Com um estalo enjoativo, os dedos de Dory se alongaram, as garras reluzentes se estendendo das pontas. O corpo tinha começado a reluzir. Sua mandíbula se desencaixou; a boca escancarou, revelando os dentes enfileirados.
– Atire nela agora!
Kate estava imobilizada. Enquanto Caleb levantava o fuzil, Dory saltou de pé, agachou-se rolando e saltou na direção dos dois. Uma confusão de corpos, Dory se chocando em Kate, Kate trombando em Caleb; o fuzil saltou das mãos dele e deslizou pelo chão. De quatro, Caleb correu para ele. Estava gritando para Pim correr, mas, claro, ela não podia ouvir. Sua mão encontrou a arma e ele rolou de costas. Kate estava se empurrando para trás, na direção da parede oposta; Dory se erguia acima dela, as mandíbulas se flexionando, os dedos estendidos, dedilhando o ar. Caleb levantou as costas do chão, separou os joelhos e apontou o fuzil para ela com as duas mãos.
– Dory Tatum!
Ao ouvir seu nome, ela enrijeceu, como se fosse golpeada por um pensamento curioso.
– Você é Dory Tatum! Phil é seu marido! Olhe para mim!
Ela se virou para ele, expondo a parte de cima do corpo. Um tiro, pensou Caleb, colocando o centro do peito dela na mira, então apertou o gatilho.
O soldado começou a tremer. O movimento começou nos dedos, que se dobraram em formas parecidas com garras de falcão. Um gemido brotou do fundo da garganta. Os tremores aumentaram até uma convulsão de corpo inteiro, a coluna arqueando, baba se acumulando nos lábios. Sara ficou de pé e recuou. Sabia o que estava vendo. Parecia impossível, mas acontecia diante de seus olhos. Sentiu movimento acima, mas não conseguia afastar o olhar do soldado, cuja transformação acontecia com velocidade inaudita.
– Sara, venha! Precisamos sair daqui!
Um dos cavalos relinchou e passou correndo por ela. Conseguiu cobrir quinze metros inteiros pela estrada antes que uma forma reluzente viesse de cima e o derrubasse. Mandíbulas rasgaram o pescoço do animal.
A mente de Sara saltou de volta para uma percepção mais ampla. Hollis estava puxando-a pelo pulso.
– O rio! – gritou ele. – Precisamos chegar ao rio!
Com um puxão forte ele a arrastou para a cobertura das árvores; começaram a correr. Formas saltavam acima, de galho em galho. Ramos chicoteavam seu rosto e seus braços. Onde estava o rio, a salvação? Sara podia ouvi-lo mas não conseguia localizá-lo no escuro.
– Pule!
No meio do ar ela percebeu o que estava acontecendo. Tinham saltado de um penhasco. Quando bateu na superfície, uma escuridão nova, mais profunda, a escuridão da água, a envolveu. Parecia que nunca pararia de descer, mas finalmente seus pés tocaram o fundo. Ela se empurrou para cima, disparando em direção à superfície.
– Hollis! – ela girou na água, procurando às cegas. – Hollis, cadê você?
– Aqui. Fale baixo.
Ela estava girando freneticamente, tentando localizar a origem da voz.
– Não consigo encontrar você.
– Fique onde está.
Hollis apareceu nadando atrás dela.
– Está machucada?
Estava? Sara fez uma avaliação do próprio corpo. Parecia estar bem.
– O que está acontecendo? De onde eles vieram?
– Não sei.
– Não me deixe.
– Respire, Sara.
Ela lutou para se acalmar. Inspiração, expiração, inspiração, expiração.
– Parece que há umas cavidades na base do penhasco – disse Hollis. – Vamos nadar até lá. Você consegue?
Ela confirmou. A água estava gelada; seus dentes tinham começado a chacoalhar.
– Fique perto.
Ele foi nadando com braçadas firmes e Sara o acompanhou. O penhasco tomou forma acima dela. Não era tão alto quanto havia pensado, talvez uns seis metros, e tinha formato irregular, com projeções de calcário acima do poço. A água ficou mais rasa; Sara percebeu que conseguia ficar de pé. Hollis a levou para baixo de um afloramento de rocha. Um pedregulho de topo plano se erguia sobre a superfície da água. Hollis a ajudou a subir.
– Devemos estar seguros aqui para passar a noite – disse ele.
Tremendo, Sara se encostou nele; Hollis passou o braço por ela e a puxou. Ela pensou nas filhas, lá no escuro. Enterrou o rosto no peito de Hollis e começou a chorar.
Dory tombou no chão como uma marionete com os fios cortados. Caleb passou por cima do corpo. Kate ainda estava encostada na parede, inerte, atordoada pelo choque e o medo.
– Tem outros lá fora – disse Caleb. – Precisamos ir para o abrigo.
Ela o encarou com o olhar desfocado.
– Kate, acorde!
Não podia esperar. Agarrou-a pelo pulso e a levou porta afora. Pim estava encolhida perto do fogão com as crianças. Não tinha ouvido o tiro, mas Caleb sabia que ela o havia sentido, estremecendo pela estrutura da casa.
Caleb sinalizou uma única palavra: Vamos.
Baixou o fuzil e pegou Elle e Bug, equilibrando-as no quadril; Pim estava carregando Theo. Saíram correndo pela porta dos fundos e chegaram ao quintal. Pim estava à frente dele, Kate atrás. A escuridão ia ganhando vida. As copas das árvores estavam agitadas como se pelo vento de uma tempestade que se aproximasse. Pim e Theo chegaram primeiro ao abrigo. Caleb pôs as meninas no chão e abriu a porta da caixa-forte. Pim desceu a escada e levantou os braços para pegar Theo e as meninas, e Caleb veio atrás.
Parou no topo da escada. Kate estava imóvel a 10 metros de distância.
– Kate, venha!
Ela puxou a gola da blusa para o lado. Na base do pescoço brotava sangue de um ferimento. Caleb sentiu o estômago se contrair. Ficou paralisado.
– Feche a porta! – ordenou ela.
Kate estava segurando o revólver. Ele não conseguia se mexer.
– Caleb, por favor!
Ela tombou de joelhos. Um tremor profundo sacudiu seu corpo. Kate estava aninhando o revólver no colo, tentando levantá-lo. Balançou a cabeça para o céu quando um segundo espasmo a atravessou.
– Estou implorando! – soluçou ela. – Se você me ama, feche a porta!
A traqueia de Caleb se fechou; ele mal conseguia respirar. Atrás de Kate, formas caíam das árvores. Caleb levantou a mão acima da cabeça, segurando a alça da porta.
– Sinto muito – sussurrou.
Baixou a porta, lacrando-os no negrume, e empurrou as barras de aço. As crianças estavam chorando. Ele tateou em busca da lanterna, pegou uma caixa de fósforos no bolso. Suas mãos tremiam quando acendeu o pavio. Pim estava encolhida com as crianças contra a parede.
Os olhos dela se arregalaram.
Cadê a Kate?
Lá fora, um tiro.
CINQUENTA E cinco
Peter acordou com o barulho de galhos arrastando-se contra a lateral do Humvee. Afastou o sono e sentou-se.
– Onde estamos?
– Houston – respondeu Greer.
Michael estava dormindo no banco do carona.
– Agora não falta muito – emendou Greer.
Alguns minutos depois ele parou o veículo. A leste, a escuridão tinha começado a se suavizar.
– Agora vamos ser rápidos – disse.
Peter e Michael descarregaram o equipamento. Estavam na borda da laguna; a leste, arranha-céus de altura indizível recortavam retângulos pretos contra as estrelas que iam diminuindo. Greer arrastou um barco a remo para a água rasa. Michael sentou na proa; Peter, na popa. Greer entrou no meio, virado para trás. O barco afundou quase até a borda, mas permaneceu flutuando.
– Fiquei meio preocupado com isso – confessou Greer.
Com remadas amplas, levou-os pela laguna. Peter olhava o núcleo da cidade se endurecer em suas dimensões plenas. O Mariner surgiu acima, a proa grande e larga erguendo-se alta sobre a água. Dentro do One Allen Center eles amarraram o barco, pegaram os suprimentos e começaram a subir.
De uma janela no décimo andar desceram para o convés. Faltavam alguns minutos para o alvorecer. Greer tinha reformado um pequeno guindaste do tipo usado antigamente para baixar carga pelo costado do navio. Abriu a rede sob ele, ajustou a mola da junta giratória, depois prendeu a rede à corda que corria para a ponta da lança. Uma segunda corda seria usada para girar a lança sobre a água. Greer cuidaria da primeira; Michael, da segunda. O serviço de Peter era bancar a isca – já que a teoria de Greer era que Peter era a pessoa que Amy teria menos probabilidade de matar.
Greer lhe entregou a chave de boca.
– Lembre-se, ela não é a Amy que nós conhecemos.
Assumiram posições. Peter encaixou a extremidade da chave em volta do primeiro parafuso.
– Eles chegaram – disse Amy.
Carter estava sentado à mesa, diante dela.
– Também senti.
O coração dela estava disparado; Amy se sentia meio tonta. A coisa vinha sempre assim, com uma sensação de aceleração física que culminava numa expulsão abrupta de um mundo para o outro, como se ela fosse uma pedra lançada de uma atiradeira.
– Gostaria que você fosse comigo – disse ela.
– Enquanto eu estiver aqui, eles estão em segurança. Você sabe.
Ela sabia. Se Carter morresse, os patetas, seus Muitos, morreriam com ele. Sem eles, Amy e Carter não tinham chance.
Olhou pela última vez o jardim ao redor, despedindo-se. Fechou os olhos.
Faltavam dois parafusos, um de cada lado. Peter afrouxou o primeiro, deixando-o no lugar. Enquanto encaixava a extremidade da chave no segundo parafuso, uma força enorme, como um punho gigantesco, acertou a escotilha pelo lado oposto. O convés sob seus joelhos estremeceu com o impacto.
– Amy, sou eu! Peter!
Outro estrondo. O parafuso frouxo saltou do buraco e quicou pelo convés. Ele tinha apenas alguns segundos. Com um puxão final, soltou o último parafuso e começou a correr.
A escotilha explodiu para o alto.
Amy saltou no convés, comprimindo-se num agachamento reptiliano. Seu corpo era brilhante e compacto, anelado com músculos duros sob a cobertura cristalina da pele. Peter estava parado logo depois da rede. Por um momento ela pareceu perplexa com o ambiente; depois sua cabeça se inclinou com um movimento rápido, colocando-o na mira. Avançou devagar. Peter não percebeu nenhum reconhecimento nos olhos dela.
– Amy – chamou.
Ele levantou a mão espalmada para ela.
– Sou eu.
Ela parou a centímetros da rede.
– É o Peter.
Levantando-se, Amy avançou. Greer puxou a corda. A rede a engolfou e saltou para cima, com o peso dela soltando o freio da junta giratória. A rede começou a girar, mais e mais rápido. Amy estava gritando e se sacudindo, presa. Michael puxou a segunda corda, guiando a lança por cima do costado do navio.
Greer soltou. A corda que prendia a rede guinchou, passando pelo bloco. Peter correu até a amurada. Só teve tempo para ver a água oleosa espirrando antes de Amy desaparecer.
Escuridão.
Ela estava girando, retorcendo-se e caindo. Seus sentidos se enchiam com a água medonha, de gosto químico. Aquilo entrava em sua boca. Enchia o nariz, os olhos e os ouvidos, um aperto de morte pura. Tocou o fundo lamacento. O emaranhado da rede segurava seu corpo. Precisava respirar. Respirar! Estava se sacudindo, mostrando as garras, mas não havia como fugir. A primeira bolha de ar subiu da boca. Não, pensou ela, não respire! Essa coisa simples, abrir os pulmões e receber o ar: o corpo exigia isso. Uma segunda bolha e sua garganta se abriu e a água entrou com força. Começou a engasgar. O mundo estava se dissolvendo. Não, era ela que estava se dissolvendo. Seu corpo parecia desligado dos pensamentos, uma coisa separada, que não era mais dela. O coração começou a bater mais devagar. Uma nova escuridão baixou. Espalhou-se de dentro para fora. É assim, pensou. Pânico, e dor, e depois o abandono. Morrer é assim.
Então estava em outro lugar.
Tocando um piano. Era estranho, porque nunca havia aprendido. Mas ali estava, tocando não somente bem, mas com habilidade, os dedos saltitando nas teclas. Não havia partitura à frente; a música vinha de sua cabeça. Uma canção triste e linda, cheia de ternura e das tristezas doces da vida. Por que a música parecia totalmente nova mas também lembrada? Enquanto tocava, começou a discernir padrões nas notas. A relação entre elas não era arbitrária; elas se moviam em ciclos discerníveis. Cada ciclo trazia uma ligeira variação do núcleo emocional da música, uma linha melódica que jamais se afastava totalmente, que, em vez disso, sustentava o resto como roupa num varal. Que espantoso! Sentia como se estivesse falando uma língua nova, muito mais sutil e expressiva do que a fala comum, capaz de comunicar as verdades mais profundas. Aquilo a deixava feliz, muito feliz, e ela continuou tocando, os dedos movendo-se com destreza, o espírito voando com deleite.
A música virou uma esquina; ela podia sentir o fim aproximando-se. As últimas notas baixaram. Pairaram como grãos de poeira no ar, depois sumiram.
– Foi maravilhoso.
Peter estava parado atrás dela. Amy encostou a nuca no peito dele.
– Não escutei você chegar – disse ela.
– Não queria incomodar você. Sei como você gosta de tocar. Vai tocar outra para mim?
– Você gostaria?
– Ah, sim. Muito.
– Puxe-a! – gritou Peter.
Greer estava olhando o relógio.
– Ainda não.
– Maldição, ela está se afogando!
Greer continuou olhando o relógio com paciência enlouquecedora. Por fim levantou os olhos.
– Agora – disse.
Ela tocou por muito tempo, uma música depois da outra. A primeira era leve, com uma energia bem-humorada. Dava a Amy a impressão de que estava numa reunião de amigos, todo mundo falando e rindo, a escuridão se adensando fora das janelas enquanto a festa continuava até de madrugada. A seguinte foi mais séria. Começava com um acorde profundo, sonoro, na extremidade grave do teclado, com um tom ligeiramente azedo. Uma canção de arrependimento, de atos que não podiam ser lembrados, erros que jamais poderiam ser desfeitos.
Houve outras. Uma era como olhar uma fogueira. Outra parecia neve caindo. Uma terceira evocava cavalos galopando no capim alto sob um céu azul de outono. Tocou e tocou. Havia tanto sentimento no mundo. Tanta tristeza. Tanta saudade. Tanta alegria. Tudo tinha uma alma. As pétalas das flores. Os camundongos no campo. As nuvens, a chuva e os galhos nus das árvores. Todas essas coisas e muitas outras estavam nas suas músicas. Peter continuava atrás dela. A música era para ele, uma oferenda de amor. Ela se sentia em paz.
Puxaram a rede por cima da amurada e a baixaram no convés. Greer pegou uma faca e começou a cortar as cordas.
Na rede havia o corpo de uma mulher.
– Depressa – disse Peter.
Greer continuou cortando. Estava fazendo um buraco.
– Pegue os pés dela.
Michael e Peter puxaram Amy e a colocaram de rosto para cima no convés. O sol ia nascendo. O corpo estava frouxo, com um tom azulado. Na cabeça, um veludo de cabelos pretos.
Ela não estava respirando.
Peter se ajoelhou. Michael montou no peito dela, pôs a palma de uma das mãos em cima da outra e as posicionou em cima do esterno de Amy. Peter enfiou a mão esquerda embaixo do pescoço dela, levantando-o ligeiramente para desobstruir as vias aéreas; com a outra apertou o nariz dela. Cobriu a boca de Amy com a sua e soprou.
– Amy.
Os dedos dela se imobilizaram, trazendo um silêncio súbito à sala. Ela levantou as mãos acima do teclado, as palmas abertas, dedos estendidos.
– Preciso que você faça uma coisa para mim – disse Peter.
Ela levou a mão por cima do ombro, segurou a mão esquerda dele e a encostou no rosto. A pele dele estava fria e tinha cheiro do rio, onde ele gostava de passar os dias. Como tudo era maravilhoso!
– Diga.
– Não me deixe, Amy.
– O que faz você pensar que eu vou a algum lugar?
– Ainda não é hora.
– Não entendo.
– Você sabe onde está?
Ela queria girar e olhar o rosto dele, mas não podia.
– Sei. Acho que sei. Estamos na fazenda.
– Então sabe por que não pode ficar.
Ela sentiu frio de repente.
– Mas eu quero.
– É cedo demais. Sinto muito.
Ela começou a tossir.
– Preciso de você comigo – disse Peter. – Há coisas que precisamos fazer.
A tosse ficou mais intensa. Todo o seu corpo se sacudia. Os membros pareciam de gelo. O que estava acontecendo?
– Volte para mim, Amy.
Ela estava sufocando. Ia vomitar. A sala começou a sumir. Outra coisa estava tomando seu lugar. Uma dor aguda acertou seu peito, como um soco. Ela se dobrou, o corpo enrolando-se no ponto em que sentira o impacto. Uma água de gosto imundo se derramou de sua boca.
– Volte para mim, Amy. Volte para mim...
– Volte para mim.
O rosto de Amy estava frouxo; o corpo, imóvel. Michael estava contando as compressões. Quinze. Vinte. Vinte e cinco.
– Maldição, Greer! – gritou Peter. – Ela está morrendo!
– Não pare.
– Não está funcionando!
Peter baixou o rosto para o de Amy outra vez, apertou o nariz dela e soprou.
Algo estalou dentro dela. Peter se afastou enquanto a boca de Amy se escancarava num som ofegante e gutural. Rolou-a, passou um braço sob o tronco para levantá-la ligeiramente e bateu nas costas. Com um som de vômito, a água saiu em jatos da boca de Amy para o convés.
Havia um rosto. Foi a primeira coisa que ela percebeu. Um rosto, feições vagas, e atrás apenas céu. Onde estava? O que havia acontecido? Quem era essa pessoa que olhava para ela, flutuando no céu? Piscou, tentando focalizar os olhos. Lentamente a imagem ficou nítida. Um nariz. A forma curva de orelhas. Uma boca larga e sorridente e, acima, olhos que brilhavam com lágrimas. Pura felicidade a preencheu, como uma estrela explodindo.
– Ah, Peter – disse ela, levantando a mão para o rosto dele. – É tão bom ver você!
CINQUENTA E SEIS
Durante toda a noite os virais bateram.
Isso acontecia em espasmos. Cinco minutos, dez, os punhos e os corpos chocando-se contra a porta – um período de silêncio, depois recomeçavam.
Até que os intervalos entre os ataques ficaram mais longos. As meninas desistiram de chorar e dormiram com a cabeça enterrada no colo de Pim. Mais tempo passou sem que viessem sons de fora, até que por fim os virais não retornaram.
Caleb esperou. Quando o alvorecer chegaria? Quando seria seguro abrir a porta? Pim também caíra no sono; os terrores da noite tinham exaurido todos. Ele encostou a cabeça na parede e fechou os olhos.
Acordou ouvindo vozes abafadas lá fora. A ajuda havia chegado. Quem quer que fosse, tinha começado a bater. Pim acordou. As meninas ainda dormiam. Ela sinalizou um simples ponto de interrogação.
É gente, respondeu ele.
Mesmo assim foi com alguma ansiedade que ele destravou a porta. Empurrou-a só um pouquinho; uma fresta de luz do dia se chocou em seus olhos. Terminou de abrir a porta, piscando por causa da luz.
Parada diante dele, Sara tombou de joelhos.
– Ah, graças a Deus – disse ela.
Hollis estava junto; os dois descalços, totalmente encharcados.
– Vínhamos ver vocês quando eles atacaram – explicou Hollis. – Nos escondemos no rio.
Pim ergueu as crianças e subiu atrás delas. Sara a abraçou, chorando.
– Graças a Deus, graças a Deus.
Em seguida se ajoelhou e envolveu as crianças com os braços.
– Vocês estão em segurança. Meus bebês estão em segurança.
O alívio de Caleb se dissolveu. Percebeu o que ia acontecer.
– Kate – gritou Sara. – Pode sair agora!
Ninguém disse nada.
– Kate?
Hollis olhou para Caleb. O rapaz balançou a cabeça. Hollis se enrijeceu, oscilando, o sangue sumindo do rosto. Por um momento Caleb pensou que o sogro iria desmoronar.
– Sara, venha cá – disse Hollis.
– Kate? – chamou, a voz frenética. – Kate, saia!
Hollis a segurou pela cintura.
– Kate! Responda!
– Ela não está na caixa-forte, Sara.
Sara se sacudiu nos braços dele, tentando se soltar.
– Hollis, me solte. Kate!
– Ela se foi, Sara. Nossa Kate se foi.
– Não diga isso! Kate, é a sua mãe, saia agora mesmo!
Suas forças a abandonaram. Ela tombou de joelhos, com Hollis ainda segurando-a pela cintura.
– Ah, meu Deus – gemeu ela.
Os olhos de Hollis se fecharam em angústia.
– Ela se foi. Ela se foi.
– Por favor, não. Ela, não.
– Nossa menininha se foi.
Sara levantou o rosto para o céu. Então começou a uivar.
A luz era suave, de nuvens baixas e úmidas que bloqueavam o sol. Peter colocou Amy no compartimento de carga do veículo e a protegeu com um cobertor. Um pouco de cor havia retornado ao seu rosto. Os olhos estavam fechados, mas parecia que ela não estava dormindo, e sim numa espécie de crepúsculo, como se sua mente flutuasse numa correnteza, com as margens do mundo passando.
A voz de Greer estava tensa:
– É melhor a gente ir.
Peter seguiu no banco de trás, com Amy. A viagem era lenta, com a estrada de terra coberta de mato. No escuro, Peter não tinha prestado atenção a quase nada da paisagem. Agora via o que era: um pântano inóspito com lagoas, estruturas arruinadas cobertas de trepadeiras, a terra vaga, como algo derretido. Às vezes a água escondia a estrada com uma profundidade desconhecida. Greer ia passando direto.
A folhagem começou a ficar menos densa; surgiu um emaranhado de viadutos que se entrecruzavam de forma caótica. Greer abriu caminho entre os destroços sob a via expressa, localizou uma rampa e subiu.
Durante um tempo seguiram pela via expressa, então Greer pegou um desvio. Apesar das sacudidas violentas do Humvee, Amy ainda não tinha se mexido. Rodearam uma segunda região com viadutos desmoronados e subiram o barranco, voltando à via expressa.
Michael se virou no banco.
– A partir daqui é mais fácil.
A chuva começou a cair, batendo no para-brisa; depois as nuvens se abriram, revelando o sol forte do Texas. Amy deu um suspiro, acordando. Peter viu que seus olhos estavam abertos. Ela piscou para ele, franzindo os olhos com força, cobriu-os com os braços.
– Está claro – disse ela.
– O que foi? – perguntou Greer, na frente.
– Ela disse que está claro.
– Ela ficou no escuro durante vinte anos. A luz pode incomodar durante um tempo.
Greer se curvou para enfiar a mão embaixo do banco.
– Dê isso a ela.
Por cima do ombro entregou um par de óculos escuros a Peter. As lentes estavam arranhadas, a armação era feita de arame soldado. Ele pôs os óculos no rosto dela, apoiando os arames gentilmente nas orelhas.
– Melhor?
Ela assentiu. Seus olhos se fecharam de novo.
– Estou tão cansada! – murmurou.
Peter se inclinou à frente.
– Quanto falta?
– Devemos chegar antes do anoitecer, mas vai ser por pouco. E vamos precisar de combustível. Deve haver algum na caixa-forte a oeste de Sealy.
Continuaram em silêncio. Apesar da tensão, Peter sentia que estava apagando. Dormiu por duas horas, e ao acordar viu que o veículo tinha parado. Greer e Michael estavam carregando dois pesados galões de plástico de dentro da caixa-forte. Seus pensamentos estavam turvos. Os membros, pesados e lentos, moviam-se como líquido empoçado. Sentia a idade em todas as partes do corpo.
Michael olhou enquanto ele descia.
– Como ela está?
– Ainda dormindo.
Greer estava derramando gasolina por um funil no tanque do veículo.
– Ela vai ficar bem. Só precisa dormir.
– Deixe que eu dirijo um pouco – ofereceu Peter. – Sei o caminho a partir daqui.
Greer se curvou para tampar o galão e enxugou as mãos na camisa.
– É melhor se Michael fizer isso por enquanto. Há alguns pontos complicados adiante.
Encontraram Kate no limite da floresta. A arma ainda estava na sua mão, os dedos enrolados na guarda do gatilho. Um tiro atravessando o ponto frágil: meticulosa até o fim, Kate quisera ter certeza.
Não tinham tempo para enterrá-la. Decidiram levá-la para a casa e deitá-la na cama que Caleb e Pim haviam compartilhado, já que nunca mais voltariam. Hollis e Caleb a carregaram para dentro. Não parecia correto deixá-la com as roupas manchadas de sangue, então Pim e Sara a despiram, lavaram o corpo e vestiram uma camisola de Pim, feita de algodão azul macio. Colocaram um travesseiro sob a cabeça e a protegeram com um cobertor bem apertado. Pim, chorando em silêncio, penteou o cabelo da irmã. Uma última pergunta: deveriam deixar que as meninas a vissem? Sim, disse Sara. Kate era a mãe delas. Elas precisavam se despedir.
Caleb esperou do lado de fora. Era o meio da manhã. A natureza zombava dele com desinteresse. Os pássaros cantavam, a brisa soprava, o sol se movia em seu arco preguiçoso, fatídico. Bonito estava morto no campo; uma turba de urubus se banqueteava com sua carne, batendo as asas enormes. Tudo era uma ruína, mas o mundo não parecia saber nem se importar. No quarto, Caleb tinha dito a Kate que a amava e dado um beijo em sua testa. A pele estava chocantemente fria, mas não era isso o mais perturbador. Ele percebeu que esperava que ela dissesse alguma coisa. Não doeu muito. Ou Tudo bem, Caleb, não culpo você. Você fez o melhor que pôde. Talvez dissesse alguma coisa sarcástica, do tipo: Sério? Vocês vão me colocar enroladinha na cama? Aposto que isso é tremendamente divertido para você, Caleb. Mas não houve nada. Seu corpo existia, mas tudo o que a tornava especial como pessoa estava ausente. A voz tinha sumido, nunca mais seria ouvida.
Pim saiu primeiro, com as meninas. Elle estava chorando baixinho; Bug parecia apenas confusa. Alguns minutos se passaram antes que Sara e Hollis saíssem.
– Se estiverem prontos, é melhor irmos andando – disse Caleb.
Hollis assentiu. Sara, separada dos outros, estava olhando as árvores. Tinha os olhos vítreos, o rosto numa imobilidade que não era natural, como se algum elemento essencial de sua vida a tivesse abandonado. Ela pigarreou e falou:
– Hollis, pode fazer uma coisa para mim?
– Claro.
Ela o olhou nos olhos.
– Mate cada um deles.
A caminhada era lenta. Logo as três crianças estavam sendo carregadas – Bug nos ombros de Caleb, Elle nas costas do avô, Theo em seu carregador, com Pim e Sara se revezando. A tarde ia avançada quando chegaram à cidade. As ruas estavam sem vida. No quintal de Elacqua encontraram a picape, ainda parada onde Caleb tinha visto. Caleb sentou no banco do motorista. Esperava que a chave estivesse na ignição, mas não estava. Procurou na cabine, sem sucesso, e saiu de novo.
– Você sabe fazer ligação direta? – perguntou a Hollis.
– Não.
Caleb olhou para a casa. Uma janela no andar de cima estava quebrada, arrancada da moldura. Vidro e madeira lascada se espalhavam no chão embaixo.
– Alguém vai ter de procurar lá dentro.
– Eu faço isso – disse Hollis.
– É minha responsabilidade. Fique aqui.
Caleb deixou o fuzil com Hollis e pegou o revólver. O ar dentro da casa estava tão imóvel que parecia não ter sido respirado. Ele se esgueirou de cômodo em cômodo, abrindo gavetas e armários. Como não encontrou nenhuma chave, subiu a escada. Havia dois quartos com portas fechadas de cada lado do corredor estreito. Abriu a primeira. Era onde Elacqua e a mulher dormiam. A cama estava desfeita. Cortinas de renda balançavam suavemente na brisa que entrava pela janela quebrada. Ele procurou em todas as gavetas, depois foi até a janela e acenou para baixo. Hollis olhou com expressão interrogativa. Caleb balançou a cabeça, negando.
Faltava um quarto. E se não encontrassem as chaves? Ele não tinha visto nenhum outro veículo na cidade. Isso não significava que não existisse, mas estavam ficando sem tempo.
Caleb respirou fundo e empurrou a porta com o pé.
Elacqua estava deitado na cama, totalmente vestido. O quarto fedia a mijo e respiração rançosa. A princípio Caleb achou que ele estivesse morto, mas então o sujeito soltou uma fungada úmida e rolou de lado. Havia uma garrafa de uísque vazia no chão ao lado da cama. O homem não estava morto, somente de porre.
Caleb o sacudiu com força pelos ombros.
– Acorde.
De olhos ainda fechados, Elacqua bateu desajeitadamente na mão de Caleb.
– Me deixe em paz – murmurou ele.
– Dr. Elacqua, é o Caleb Jaxon. Preste atenção.
A língua dele se moveu pesadamente na boca.
– Sua... vaca.
Caleb teve uma ideia do que tinha acontecido. Expulso da cama matrimonial, o homem havia se anestesiado até o esquecimento e perdera a coisa toda. Talvez estivesse bêbado mesmo antes disso, razão pela qual a mulher o mandara embora. De qualquer modo, Caleb praticamente o invejava: o desastre havia passado, inofensivo, por ele. Como os virais não o tinham visto? Talvez ele simplesmente cheirasse mal demais; talvez essa fosse a solução. Talvez todos devessem se embriagar e ficar assim.
Sacudiu Elacqua de novo. Os olhos do sujeito se abriram com um tremor. Viraram-se, remelentos, para um lado e para o outro, pousando finalmente na direção do rosto de Caleb.
– Quem diabo é você?
Não havia sentido em tentar explicar a situação; o sujeito estava chapado demais.
– Dr. Elacqua, olhe para mim. Preciso das chaves da sua picape.
Era como se Caleb estivesse fazendo o pedido mais incompreensível do mundo.
– Chaves?
– É, as chaves. Onde estão?
Os olhos dele perderam o foco. Ele os fechou de novo e a cabeça com a juba revolta relaxou no travesseiro. Caleb percebeu que havia um lugar onde não tinha procurado. As calças do sujeito estavam encharcadas de urina, mas não havia o que fazer a respeito disso. Revistou-o. No fundo do bolso esquerdo da frente sentiu alguma coisa fina. Enfiou a mão e tirou-a: uma única chave, azinhavrada pelo tempo, num pequeno aro de metal.
– Achei.
Seus pensamentos foram rompidos pelo rugir de motores vindo pela rua. Foi até a janela. Sara e os outros estavam acenando freneticamente na direção do som, gritando:
– Ei! Aqui!
Caleb saiu à varanda enquanto os caminhões do exército, três deles de 5 toneladas, paravam diante da casa. Um homem de peito largo, usando uniforme, saiu da cabine do primeiro: Gunnar Apgar.
– Caleb. Graças a Deus.
Trocaram um aperto de mãos. Hollis e Sara tinham se juntado a eles.
– São só vocês? – perguntou Apgar, avaliando o grupo.
– Há mais um na casa, mas vamos precisar de ajuda para tirá-lo. Está completamente bêbado.
– Está brincando?
Como Caleb não disse nada, Apgar se dirigiu a dois soldados que tinham descido do segundo veículo.
– Carreguem-no para cá, depressa.
Eles subiram correndo os degraus.
– Nós viemos para o oeste procurando pessoas – disse Apgar.
– Quantos sobreviventes encontraram?
– Só vocês. Não estamos encontrando nem corpos. Os virais os arrastaram para longe ou eles foram transformados.
– E em Kerrville? – perguntou Hollis.
– Ainda não há sinais deles. O que quer que esteja acontecendo, está acontecendo primeiro aqui.
Ele fez uma pausa, com a expressão subitamente insegura.
– Tem outra coisa que você deveria saber, Caleb. É sobre o seu pai.
Peter pegou o volante a leste de Seguin. Amy tinha acordado brevemente no meio da tarde, pedindo água. Sua febre havia baixado e os olhos incomodavam menos, mas ela reclamou de dor de cabeça e ainda estava muito fraca. Franzindo os olhos junto a uma janela, perguntou quanto mais precisariam ir. Usava o cobertor sobre a cabeça e os ombros. Três horas, disse Greer, talvez quatro. Amy pensou nessa resposta e disse muito baixinho:
– Deveríamos nos apressar.
Atravessaram o Guadalupe e viraram para o norte. O primeiro povoado a que chegaram ficava a leste da antiga cidade de Boerne. Não era grande coisa, mas tinha um posto de telégrafo. Apenas dois palmos de luz do dia permaneciam quando eles pararam na pequena praça central.
– Está um silêncio medonho por aqui – disse Michael.
As ruas estavam vazias. Isso era estranho para a hora, pensou Peter. Desembarcaram numa quietude fantasmagórica. A cidade tinha apenas umas poucas construções: uma mercearia, um escritório distrital, uma capela e um punhado de casas malfeitas, algumas pela metade, como se os construtores tivessem perdido o interesse.
– Tem alguém aí? – gritou Michael. – Olá?
– Estranho – observou Greer.
Michael enfiou a mão no Humvee e tirou a espingarda do suporte. Peter e Greer verificaram as pistolas.
– Vou ficar com Amy – disse Greer. – Vocês dois vão encontrar o posto de telégrafo.
Peter e Michael atravessaram a praça e foram até o escritório distrital. A porta estava aberta, outra coisa estranha. Tudo parecia normal do lado de dentro, mas não havia sinais de vida.
– E para onde foi todo mundo? – perguntou Peter.
O telégrafo ficava numa salinha nos fundos do prédio. Michael sentou à mesa do operador e examinou o livro de registros, grande e encadernado em couro.
– A última mensagem daqui foi mandada na sexta-feira às 17h20, para o posto de Bandera. A suposta destinatária era a Sra. Mills Grath.
– Qual era a mensagem?
– “Feliz Aniversário, tia Lottie.”
Michael levantou a cabeça.
– Nada depois disso, pelo menos que alguém tenha se incomodado em registrar.
Já era domingo. O que quer que tivesse acontecido ali, pensou Peter, tinha acontecido em algum momento das últimas 48 horas.
– Mande uma mensagem para Kerrville – instruiu Peter. – Avise Apgar que estamos indo.
– Meu Morse está meio enferrujado. Provavelmente vou dizer para ele me preparar um sanduíche.
Michael apertou um interruptor no painel e começou a batucar na tecla. Alguns segundos depois, parou.
– O que há de errado?
Michael apontou para o painel.
– Está vendo esse medidor? A agulha deveria se mover quando as placas se tocassem.
– E daí?
– E daí que estou falando comigo mesmo. O circuito não fecha.
Peter não sabia nada sobre isso.
– Você pode consertar?
– Sem chance. Há uma interrupção na linha, pode ser em qualquer lugar entre aqui e Kerrville. Uma tempestade pode ter derrubado um poste. Um raio também poderia fazer isso. Não é preciso muita coisa.
Saíram pela porta dos fundos. Um velho gerador a gasolina estava curvado feito um monstro no meio do mato rasteiro, ao lado de uma picape enferrujada e uma carroça com eixo quebrado e capim alto atravessando as tábuas do piso. Todo tipo de lixo – entulho de obra, caixotes quebrados, barris com as soldas abertas – cobria o pátio. Destroços da fronteira, jogados pela porta no instante em que haviam ultrapassado o ponto da utilidade.
– Vamos verificar outras construções – disse Peter.
Entraram na casa mais próxima. Era de um andar, com dois cômodos. Havia pratos sujos empilhados numa mesa; moscas voavam acima deles. No quarto dos fundos havia uma bacia numa mesa, um armário e uma grande cama com colchão de penas. A cama era forte e bem-acabada, com um entalhe de flores entrelaçadas na cabeceira, cheio de detalhes. Alguém tinha demorado para fazer aquilo. Era uma cama nupcial, pensou Peter.
Mas onde estavam as pessoas? O que havia acontecido para que os habitantes sumissem antes de ter chance de tirar os pratos da mesa? Peter e Michael foram para a sala enquanto Greer entrava.
– Qual é o problema?
– O telégrafo não funciona – respondeu Michael.
– O que há de errado com ele?
– A linha está cortada em algum lugar.
Greer encarou Peter.
– Precisamos ir embora.
O que eles não estavam vendo? O que esse lugar assombrado estava tentando dizer a ele? O olhar de Peter pousou em alguma coisa no chão.
– Peter, ouviu? – insistiu Greer. – Se quisermos chegar antes do escurecer, precisamos ir agora.
Peter se agachou para olhar mais de perto, ao mesmo tempo que indicava a mesa.
– Me dê aquele pano de prato.
Usando um canto do tecido ele segurou o objeto. Os dentes dos virais tinham um jeito de captar a luz, quase prismático, com um brilho perolado e leitoso. A ponta era tão afiada que parecia quase invisível, pequena demais para ser percebida a olho nu.
– Não creio que Zero esteja mandando um exército – disse Peter.
– Então o que ele está fazendo? – perguntou Michael.
Peter olhou para Greer. A expressão do sujeito mais velho dizia que ele estava pensando a mesma coisa.
– Acho que ele está criando um.
CINQUENTA E SETE
Quando o comboio chegou a Kerrville, já eram quase sete horas. O grupo desembarcou num estado de sítio. Ao longo do topo do muro, soldados corriam de um lado para o outro, distribuindo pentes de balas e outros equipamentos. Metralhadoras calibre 50 estavam posicionadas de cada lado do portão. Apgar tinha saído da cabine e estava parado junto de Ford Chase, apontando para um dos refletores. Enquanto Chase se afastava, Caleb chegou perto dele.
– General, eu gostaria de retomar meu posto.
Apgar franziu a testa.
– Devo dizer que isso é novidade. Ninguém nunca pede para voltar ao exército.
– Pode me rebaixar para soldado raso, não importa.
O general olhou por cima do ombro de Caleb, na direção de Pim, que estava parada com Sara e as crianças.
– Você pediu permissão à sua comandante?
– Eu mentiria se dissesse que ela está feliz com isso. Mas ela entende. Ela perdeu a irmã ontem à noite.
Apgar sinalizou para um subalterno que vigiava o portão.
– Sargento, leve este homem ao arsenal e arranje um uniforme para ele. Uma divisa.
– Obrigado, general – disse Caleb.
– Você pode repensar isso mais tarde. E seu pai vai pegar no meu pé por causa disso.
– Chegou alguma notícia?
Apgar balançou a cabeça.
– Tente não se preocupar, filho. Ele já passou por coisa pior do que isso. Apresente-se ao coronel Henneman na plataforma. Ele vai dizer aonde você deve ir.
Caleb foi até Pim e a abraçou. Encostou a palma da mão na curva da barriga dela, depois beijou a testa de Theo.
Tenha cuidado, sinalizou ela.
– Nós vamos ao hospital – disse Sara. – Há uma caixa-forte no porão. Vamos levar os pacientes lá para baixo.
O sargento se remexeu, impaciente.
– Senhor, é melhor irmos.
Caleb olhou uma última vez para a família. Sentiu uma distância crescendo, como se os estivesse vendo da extremidade de um túnel cada vez maior.
Eu te amo, sinalizou Pim.
Eu também te amo.
Ele saiu correndo.
A partir de Boerne, Greer pegou o volante. Estavam indo na direção do sol. Michael no banco do carona, Peter atrás com Amy.
Não viram nenhum outro veículo, nenhum sinal de vida. O mundo parecia morto, uma paisagem alienígena. As sombras dos morros se alongavam: a tarde ia acabando. Greer, franzindo os olhos à luz incômoda, tinha uma expressão de grande ansiedade – os braços e as costas rígidos como madeira, os dedos apertando o volante com força. Peter viu os músculos do maxilar dele se avolumando: o sujeito estava trincando os dentes.
Passaram por Comfort. As ruínas de construções antigas – restaurantes, postos de gasolina, hotéis – ladeavam a via expressa, raspadas pela areia e saqueadas até os ossos. Chegaram ao povoado a oeste da cidade, longe dos destroços do mundo antigo. Como Boerne, a cidade estava abandonada. Não pararam.
Faltavam 80 quilômetros.
Sara e os outros encontraram Jenny na porta do hospital. A mulher estava à beira do pânico, de olhos arregalados.
– O que está acontecendo? Há soldados em toda parte. Um Humvee acabou de passar por aqui com um megafone, dizendo para todo mundo procurar abrigo.
– Vai acontecer um ataque. Precisamos levar essas pessoas para o porão. Quantos pacientes estão nas enfermarias?
– Como assim, um ataque?
– Estou falando de virais, Jenny.
A mulher ficou pálida e não disse nada.
– Escute – falou Sara pegando as mãos de Jenny e obrigando-a a encará-la. – Não temos muito tempo. Quantos?
Jenny sacudiu ligeiramente a cabeça, como se tentasse focalizar os pensamentos.
– Quinze?
– Alguma criança?
– Só duas. Um menino tem pneumonia, o outro quebrou o pulso e nós acabamos de pôr no lugar. Temos uma mulher em trabalho de parto, mas ainda é cedo.
– Cadê a Hannah?
Hannah era a filha de Jenny, uma menina de 13 anos; o filho dela era adulto e tinha ido embora. Jenny e o marido haviam se separado muito tempo antes.
– Em casa, acho.
– Vá correndo pegá-la. Eu posso cuidar da situação até você voltar.
– Meu Deus, Sara.
– Rápido.
Jenny saiu correndo. Pim, segurando Theo, estava parada com as meninas. Sara se agachou diante delas.
– Quero que vocês vão com sua tia Pim, agora.
Elle parecia temerosa e perdida, com o nariz escorrendo. Sara o enxugou com a bainha da blusa.
– Aonde a gente vai? – perguntou a menina, aflita.
Pessoas passavam apressadas – enfermeiras, médicos, auxiliares com macas. Sara olhou para Pim, depois de novo para a neta.
– Para o porão, lá embaixo. Vocês vão ficar em segurança lá.
– Quero ir para casa.
– É só por um tempinho.
Abraçou Elle, depois a outra neta; Pim levou as meninas para a escada. Enquanto desciam, Sara se virou para o marido. Reconheceu a expressão dele. Era a mesma da noite depois de Bill ser morto, quando tinha lhe mostrado o bilhete.
– Tudo bem – disse ela.
– Tem certeza?
– Tenho o que fazer aqui. Vá antes que eu mude de ideia.
Não eram necessárias mais palavras. Hollis a beijou e saiu pela porta.
Saíram da Autoestrada 10. Dali era seguir direto para o sul, numa estrada de cascalho até a cidade. A picape sacudia ferozmente enquanto passavam pelos buracos. O vento penetrava forte pelas janelas abertas; o sol, batendo no ombro direito, estava baixo e brilhante.
– Michael, pegue o volante e mantenha firme.
Greer enfiou a mão embaixo do banco.
– Peter, dê isso a ela.
Peter se inclinou para pegar a pistola. Já havia uma bala na câmara.
– Você não vai ter tempo de mirar – explicou Peter a Amy. – Só aponte e atire, como se estivesse apontando algo com o dedo.
Ela pegou a arma. Sua expressão era incerta, mas o aperto parecia firme.
– Você tem quinze balas. Vai ter de ser de perto. Não tente acertar de longe.
– Destrave a espingarda – disse Greer a Michael.
Michael soltou a arma. Havia um tubo extra embaixo do cano, com oito cartuchos.
– O que há aqui? – perguntou a Greer.
– Balas sólidas, grandes. Não podemos errar, e isso aqui vai derrubar qualquer um deles depressa.
A forma da cidade emergiu a distância, sobre o morro. Parecia pequena como um brinquedo.
– Isso vai se apertado – disse Greer.
Os últimos pacientes eram trazidos do andar principal. Jenny estava junto à porta da caixa-forte com uma prancheta, verificando nomes numa lista, enquanto Sara e os enfermeiros se moviam entre as camas, fazendo o máximo para garantir que todos ficassem confortáveis.
Sara chegou à cama onde estava a grávida de quem Jenny tinha falado. Era jovem, com cabelos densos e escuros. Enquanto media a pulsação, Sara olhou rapidamente o prontuário da garota. Uma enfermeira tinha feito um exame uma hora antes; o colo do útero mal havia se dilatado. O nome dela era Grace Alvado.
– Grace, sou a Dra. Wilson. É o seu primeiro bebê?
– Fiquei grávida antes, mas perdi.
– E quantos anos você tem?
– Vinte e um.
Sara parou; a idade estava certa. Se esta era a mesma Grace, Sara a tinha visto quando ela estava com apenas um dia de idade.
– Seus pais são Carlos e Sally Jiménez?
– A senhora conhecia minha família?
Sara quase sorriu; poderia ter conhecido, em outras circunstâncias.
– Isso pode surpreender você, Grace, mas eu estava presente no dia em que você nasceu.
Sara olhou para o companheiro dela, sentado num caixote do outro lado da cama. Era mais velho, com cerca de 40 anos, de aspecto rude, mas como muitos pais novatos parecia meio abalado com a súbita urgência dos acontecimentos, depois de meses de espera.
– É o Sr. Alvado?
– Pode me chamar de Jock. É como todo mundo me chama.
– Preciso que a mantenha relaxada, Jock. Respirando fundo, e nada de fazer força por enquanto. Pode fazer isso por mim?
– Vou tentar.
Jenny chegou atrás de Sara.
– Todo mundo está dentro – disse ela.
Sara pôs a mão no braço de Grace.
– Apenas se concentre em ter seu bebê, está bem?
A porta do porão era de aço pesado, engastada em paredes de concreto grosso. Sara já ia fechá-la quando o cômodo mergulhou na escuridão. Houve murmúrios ansiosos, em seguida as pessoas começaram a gritar.
– Calma, todo mundo, por favor! – disse Sara.
– O que aconteceu com as luzes? – gritou uma voz no escuro.
– O exército está desviando a corrente para os refletores, só isso.
– Isso significa que os virais estão chegando!
– Não sabemos. Tentem ficar calmos, todos.
Jenny estava ao lado dela.
– É isso mesmo que eles estão fazendo? – perguntou baixinho.
– Como é que eu vou saber? Vá pegar lampiões e velas no depósito.
Ela voltou alguns minutos depois. Lampiões foram acesos e distribuídos pelo espaço. Os gritos tinham se transformado em sussurros e, depois, na penumbra, num silêncio tenso.
– Jenny, me dê uma mão.
A porta pesava 200 quilos. Sara e Jenny a fecharam e viraram o volante da tranca.
Um quarto dos homens de Apgar havia se posicionado a 500 metros do portão; o resto se espalhava a intervalos regulares ao longo do muro e estava conectado por rádio. Caleb comandava um esquadrão de doze homens. Seis deles estavam estacionados em Luckenbach pouco antes – parte de um pequeno contingente que conseguira chegar a uma caixa-forte enquanto a guarnição era dominada. Nenhum oficial tinha sobrevivido, deixando-os órfãos na cadeia de comando. Agora eram subordinados de Caleb.
Hollis veio correndo pela passarela, em sua direção. Não usava uniforme, mas estava com um coldre de peito, segurando meia dúzia de pentes extras e uma faca comprida, embainhada. Um M4 estava atravessado pela alça, com o cano apontando para baixo; havia uma pistola no coldre da coxa.
Ele prestou continência rapidamente.
– Soldado Wilson, senhor.
Era absurdo Hollis falar com ele desse jeito. Quase parecia estar representando um papel.
– Você está brincando.
– As mulheres e crianças estão em segurança. Recebi ordens de me apresentar ao senhor.
Seu rosto tinha uma expressão que Caleb nunca vira. Aquele homem grande e gentil, colecionador de livros e que lia para crianças havia se tornado um guerreiro.
– Fiz uma promessa, tenente – lembrou Hollis. – Creio que o senhor estava lá na ocasião.
Os refletores foram ligados, derramando um perímetro defensivo de luzes brancas e nítidas na base do muro. Rádios começaram a estalar; um tremor de energia percorreu a passarela.
Um grito soou:
– Atenção!
Os estalos de balas entrando nas câmaras. Caleb apontou seu fuzil por cima do muro e soltou a trava. Olhou para a direita, onde Hollis estava a postos: pés separados, coronha firmada, olhos apontando ao longo do cano num alinhamento perfeito. De algum modo seu corpo estava ao mesmo tempo tenso e relaxado, cheio de propósito e à vontade consigo mesmo. Parecia um sentimento antigo costurado nos ossos, invocado sem esforço para a superfície.
De onde os virais chegariam? Quantos seriam? Seu peito estava se inflando e desinflando sem ritmo; a visão parecia limitada de um modo antinatural. Obrigou-se a respirar fundo e demoradamente. Não pense, disse a si mesmo. Há ocasiões para pensar, mas esta não é uma delas.
Um ponto reluzente apareceu a distância, diretamente ao norte. A adrenalina acertou seu coração; ele firmou a coronha contra o ombro. A luz começou a oscilar, depois a se separar, como uma célula se dividindo. Não eram virais: eram faróis.
– Contato! – gritou uma voz. – Trinta graus à direita! Duzentos metros!
– Contato! Vinte à esquerda!
Pela primeira vez em duas décadas a sirene começou a uivar.
Greer apertou o acelerador até o fundo. O velocímetro saltou, os campos passavam num borrão, o motor rugindo, a estrutura da picape estremecendo.
– Eles estão logo atrás! – gritou Michael.
Peter girou no banco. Pontos de luz se erguiam dos campos.
– Cuidado! – gritou Greer.
Peter se virou a tempo de ver três virais saltando diante dos faróis. Greer mirou e passou direto pela corja. Enquanto corpos giravam sobre o capô, Peter foi jogado para a frente e ricocheteou de volta contra o banco. Quando olhou de novo, um único viral estava agarrado ao capô.
Michael apontou a espingarda por cima do painel e atirou.
O vidro explodiu. Greer virou o volante para a esquerda. Peter foi jogado contra a porta, com Amy em cima. Estavam indo a toda a velocidade por uma plantação de feijões, movendo-se lateralmente na direção do portão. Greer virou o volante na direção oposta. O chassi se inclinou para a esquerda, o veículo ameaçou capotar, então as rodas bateram no chão. Greer passou pelo topo de uma ladeira e a picape voou brevemente antes de girar de volta para a estrada. Ouviram um ruído agourento vindo de baixo; começaram a desacelerar.
Peter gritou para Greer:
– O que foi?
Saía fumaça da grade; o motor rugia inutilmente.
– Devemos ter batido em alguma coisa. A transmissão estourou. À sua direita!
Peter se virou, captou o viral na mira e apertou o gatilho, errando. Atirou de novo e de novo. Não fazia ideia se estava acertando alguma coisa. O cursor travou: o pente estava vazio. Ainda faltavam 100 metros para o perímetro iluminado.
– Vou sair! – gritou Michael.
Quando a picape parou, sinalizadores voaram da passarela, arrastando esteiras de luz e fumaça no alto. Peter se virou para Amy. Ela estava encolhida contra a porta, com a pistola pendendo na mão, sem ter sido disparada.
– Greer – chamou Peter. – Ajude aqui.
Saiu da cabine. Os movimentos dela eram pesados e frouxos como os de um sonâmbulo. Os sinalizadores começaram sua descida preguiçosa, tremeluzente. Enquanto as pernas de Amy se desdobravam para fora da picape, Greer passou pela frente do veículo, colocando balas novas no pente da espingarda. Pôs a arma na mão de Peter e passou o ombro direito embaixo do braço de Amy, para segurar o peso dela.
– Dê cobertura – disse.
Caleb olhava impotente o veículo se aproximar. Os virais ainda estavam fora do alcance até mesmo para o tiro mais sortudo. Para um lado e para o outro no muro, vozes gritavam para não atirar, para esperar até que chegassem ao alcance.
Viu a picape parar. Quatro figuras saíram. Na parte de trás do grupo um homem se virou e atirou com uma espingarda para o centro de uma corja que se aproximava. Um tiro, dois, três, com chamas saltando do cano da arma para a escuridão.
Caleb soube que aquele homem era seu pai.
Tinha vestido o arnês e prendido a corda de rapel antes mesmo que percebesse que fazia isso. A ação foi automática; não tinha um plano, só instinto.
– Caleb, que diabo você está fazendo?
– Diga ao Apgar que preciso de um esquadrão no portão de pedestres. Vá.
Antes que Hollis pudesse dizer mais alguma coisa, Caleb saltou. Fez um longo arco, afastando-se do muro, depois suas botas tocaram no concreto; impulsionou-se de novo para longe. Mais dois empurrões e pousou na terra. Soltou o arnês e girou o fuzil.
Seu pai estava correndo com os outros morro acima, logo dentro do perímetro iluminado. Os virais se amontoavam nas bordas. Alguns cobriam os olhos; outros tinham se agachado como se fossem bolas. Um instante de hesitação, com os instintos em guerra por dentro. Será que as luzes bastariam para contê-los?
Os virais atacaram.
As metralhadoras abriram fogo; Caleb se abaixou num reflexo enquanto as balas passavam assobiando sobre sua cabeça, acertando as criaturas com um som molhado, de tapa. Sangue espirrou; carne foi arrancada de osso; pedaços inteiros dos corpos dos virais eram decepados. Eles não pareciam meramente morrer, e sim desintegrar-se. As metralhadoras matraqueavam, balas e mais balas. Era uma chacina, mas sempre havia mais criaturas brotando nas luzes.
– A porta! – gritou Caleb.
Estava correndo num ângulo de 45 graus com relação ao muro, acenando acima da cabeça.
– Sigam para a porta!
Caleb se abaixou sobre um dos joelhos e começou a atirar. Será que seu pai o vira? Será que sabia quem ele era? O cursor se travou: trinta balas, disparadas num instante. Soltou o pente, enfiou a mão no colete para pegar outro e o encaixou no fuzil.
Algo se chocou contra ele, por trás. Respiração, visão, pensamento: tudo o abandonou. Sentiu-se voando, quase pairando. Aquilo parecia extraordinário. No meio do voo só teve tempo para se maravilhar com a leveza do próprio corpo comparado com outras coisas. Então seu corpo ficou pesado de novo e ele bateu no chão. Estava rolando ladeira abaixo, o fuzil chicoteando preso pela alça. Tentou controlar o corpo, a rolagem louca pelo morro. Sua mão encontrou a parte de baixo do fuzil, mas o indicador se prendeu na guarda do gatilho. Rolou de novo, de peito para baixo, o fuzil enfiado entre o corpo e o chão, e não havia como impedir: a arma disparou.
Dor! Parou deitado de costas, com o fuzil no peito. Será que havia atirado em si mesmo? O chão estava girando embaixo dele, recusava-se a parar. Piscou na direção dos refletores. Não se sentia como imaginava que uma pessoa que tivesse levado um tiro se sentiria. A dor estava em dois lugares: no peito, que tinha recebido a força explosiva do fuzil disparando, e em um ponto na testa, perto da borda externa da sobrancelha direita. Levou a mão até o lugar, esperando ver sangue; os dedos voltaram secos. Entendeu o que tinha acontecido. O cartucho ejetado, ricocheteando no chão, tinha acertado seu rosto, errando o olho por pouco. Você é um tremendo sortudo, Caleb Jaxon, pensou. Espero mesmo que ninguém tenha visto isso.
Uma sombra caiu sobre ele.
Caleb levantou o fuzil, mas, quando sua mão esquerda avançou para firmar o cano, percebeu que o encaixe do pente estava vazio; o pente havia sido arrancado. Em várias ocasiões da vida tinha imaginado o momento da própria morte. Essas fantasias não incluíam estar caído de costas com um fuzil vazio enquanto um viral o despedaçava. Talvez fosse assim para todo mundo: Aposto que você não pensou nisso. Largou o fuzil. A única esperança era a pistola. Será que a havia carregado? Teria se lembrado de soltar a trava? Será que a arma ao menos estaria lá, ou será que, como o pente do fuzil, teria sido arrancada do coldre? A sombra havia assumido a forma de uma silhueta humana, mas não era humana, nem um pouco. A cabeça se inclinou de lado. As garras se estenderam. Os lábios recuaram, revelando uma caverna escura repleta de dentes. A pistola estava na mão de Caleb e subindo.
Um jato de sangue; a criatura se enrolou em volta do buraco no centro do peito. Com um gesto quase terno ela estendeu uma das mãos com garras e tocou o ferimento. Levantou o rosto com expressão suave. Estou morto? Você fez isso? Mas Caleb não tinha feito nada; sequer havia puxado o gatilho. O tiro tinha vindo por cima do ombro dele. Por um segundo os dois se examinaram, Caleb e a coisa agonizante; então uma segunda figura saiu da direita de Caleb, enfiou o cano de uma espingarda na cara do viral e disparou.
Era seu pai. Com ele havia uma mulher, descalça, com um vestido simples, do tipo que as irmãs usavam. Seu cabelo era apenas uma pátina escura no crânio. Na mão estendida ela segurava a pistola usada para dar o primeiro tiro, fatal.
Amy.
– Peter... – disse ela.
E tombou de joelhos.
Então estavam correndo.
Não foi dita nenhuma palavra que Caleb recordasse mais tarde. Seu pai carregava Amy no ombro. Havia outros dois homens com ele, um segurando a espingarda que seu pai tinha lhe passado. A porta estava aberta; um esquadrão de seis soldados tinha formado uma linha de tiro na frente dele.
– Abaixem-se! A voz era de Hollis. Todos se jogaram no chão. Tiros passaram por eles, com estrondo, e cessaram abruptamente. Caleb levantou o rosto. Por cima do cano do fuzil, Hollis acenava para que eles prosseguissem.
– Corram!
Seu pai e Amy entraram primeiro, com Caleb atrás. Uma saraivada de tiros irrompeu atrás deles. Os soldados estavam gritando uns para os outros – À sua esquerda! À sua direita! Vai, vai! – disparando os fuzis enquanto um a um recuavam pela passagem estreita. Hollis foi o último a entrar. Baixou o fuzil, fechou a porta e começou a trancá-la, segurando o volante que, assim que fosse virado, encaixaria as trancas. Justo quando a porta ia fazer contato com o portal, parou.
– Preciso de ajuda aqui!
Hollis estava firmando a porta com o ombro. Caleb saltou à frente e empurrou; outros fizeram o mesmo. Mesmo assim a abertura começou a aumentar. Dois centímetros, mais cinco. Meia dúzia de homens se comprimia contra a porta. Caleb girou o corpo para empurrar com as costas e cravou os calcanhares das botas no chão. Mas o fim estava determinado: mesmo se conseguissem segurar a porta por mais alguns minutos, a força dos virais iria derrotá-los.
Caleb viu um modo.
Levou a mão ao cinto. Odiava granadas; não conseguia deixar de lado o medo irracional de que uma delas detonaria por vontade própria. Assim, foi com algum esforço psicológico que soltou uma do cinto e tirou o pino. Segurando a alavanca de disparo no lugar, virou o rosto para a borda da porta. Precisava de mais espaço; a abertura entre a porta e o portal era estreita demais. Recuou; a porta se virou 20 centímetros para dentro. Uma mão apareceu na beirada, dedos com garras se enrolando num gesto de busca. Um coro de gritos irrompeu. O que você está fazendo? Empurre a porcaria da porta! Caleb afrouxou a mão na granada, soltando a alavanca de disparo.
– Pegue – disse, e a empurrou pela abertura.
Empurrou o ombro contra a porta. De olhos fechados, contou os segundos, como uma oração. Um, dois, três...
Um estrondo.
Estalos de estilhaços.
Poeira caindo.
CINQUENTA E OITO
– Precisamos de alguém do corpo médico!
Peter pôs Amy no chão. Os lábios dela se moviam hesitantes. Por fim ela perguntou muito baixinho:
– Estamos dentro?
– Todo mundo em segurança.
A pele dela estava pálida, os olhos com as pálpebras pesadas.
– Desculpe, achei que poderia conseguir sozinha.
Peter levantou os olhos.
– Cadê meu filho? Caleb!
– Aqui, pai.
Seu garoto estava atrás dele. Peter se levantou e lhe deu um abraço feroz.
– Que diabo você estava fazendo lá fora?
– Indo pegar vocês.
Havia arranhões em seus braços e no rosto; um dos cotovelos estava sangrando.
– E Pim e Theo?
Peter não pôde evitar; estava falando aos arrancos.
– Em segurança. Chegamos há algumas horas.
De repente Peter se sentiu fraco. Pensamentos atulhavam sua mente vindos de todas as direções. Estava exausto, precisava de água, a cidade sob ataque, seu filho e sua família em segurança. Dois paramédicos apareceram com uma maca; Greer e Michael colocaram Amy sobre ela.
– Vou acompanhá-la ao posto de enfermagem – disse Greer.
– Não, eu faço isso.
Greer segurou o braço do amigo acima do cotovelo e o encarou.
– Ela vai ficar bem, Peter, nós conseguimos. Vá fazer seu trabalho.
Levaram-na. Peter levantou os olhos e viu Apgar e Chase vindo na sua direção. Acima deles o tiroteio havia se reduzido a disparos esparsos.
– Sr. Presidente – disse Apgar –, eu apreciaria muito se, no futuro, o senhor não chegasse tão perto de se dar mal.
– Qual é a nossa situação?
– O ataque parece ter vindo apenas do norte. Não avistamos nada em nenhum outro ponto do muro.
– Que notícias tivemos dos distritos?
Apgar hesitou.
– Nenhuma.
– Como assim, nenhuma?
– Todo mundo está fora do ar. Patrulhamos esta manhã até Hunt no oeste, até Bandera no sul e até Fredericksburg no norte. Nenhum sobrevivente, e quase nenhum corpo. Só podemos presumir que todos foram dominados.
Peter não tinha palavras. Mais de 200 mil pessoas desaparecidas.
– Sr. Presidente?
Apgar estava olhando para ele. Peter engoliu em seco.
– Quantas pessoas temos dentro do muro?
– Incluindo os militares, 4 mil, talvez 5 mil, no máximo. Não é muita coisa para lutar.
– E o istmo? – Michael perguntou ao general.
– Na verdade recebemos um chamado deles pelo rádio há duas horas. Uma mulher chamada Lore estava perguntando onde você estava. Eles não sabiam nada sobre o ataque de ontem à noite, por isso acho que os dracs não os encontraram. É isso ou eles foram espertos demais para tentar atravessar aquela pista elevada.
Acima deles as armas silenciaram.
– Talvez seja só isso, por esta noite – disse Chase e em seguida examinou o rosto dos companheiros, com esperança. – Talvez nós os tenhamos assustado.
Peter não achava que fosse isso. Dava para ver que Apgar também não.
– Precisamos tomar algumas decisões, Peter – interveio Michael. – A janela temporal está se fechando depressa. Deveríamos falar sobre tirar as pessoas daqui.
De repente a ideia pareceu absurda.
– Não vou deixar essas pessoas sem defesa, Michael. Nesse momento preciso de todo mundo que consiga segurar um forcado em cima desse muro.
– Você está cometendo um erro.
Da passarela:
– Contato! Duzentos metros!
A primeira coisa que viram foi uma linha de luz a distância.
– Soldado, me dê seu binóculo.
O observador o entregou. Peter levou as lentes aos olhos. Parados junto dele na plataforma, Apgar e Michael também examinavam o norte.
– Dá para ver quantos são? – perguntou Peter ao general.
– Estão longe demais para dizer.
Apgar tirou o walkie-talkie do cinto e o levou à boca.
– Todos os postos, o que estão vendo?
Um estalo de estática, depois:
– Posto 1, negativo.
– Posto 2, sem contato.
– Posto 3, a mesma coisa aqui. Não estamos vendo nada.
E continuou assim, por todo o perímetro. A linha de luz começou a se estender, mas não parecia chegar mais perto.
– Que diabo eles estão fazendo? – perguntou Apgar. – Estão apenas parados, esperando.
– Espere aí – falou Michael, então apontou. – Trinta graus à esquerda.
Peter acompanhou a mira dele. Uma segunda linha estava se formando.
– Há outra – disse Apgar. – Quarenta à direita, perto da linha das árvores. Parece uma corja grande. E há mais vindo do norte também.
Agora a linha principal tinha várias centenas de metros de largura. Os virais chegavam de todas as direções, indo para a massa central.
– Não há nenhum grupo avançado – observou Peter.
– Mensageiros, preparem-se para se mexer! – gritou Apgar, em seguida se virou para Peter. – Sr. Presidente, precisamos levá-lo à segurança.
Peter se dirigiu a um dos vigias.
– Cabo, me entregue esse M16.
– Peter, por favor, não é uma boa ideia.
O soldado entregou a arma a Peter. Ele soltou o pente, soprou na bala de cima para tirar qualquer poeira, recolocou-o no encaixe e puxou a alavanca de carga.
– Sabe, Gunnar, acho que é a primeira vez em dez anos que você me chama pelo primeiro nome.
A conversa terminou aí. Um som grave, trovejante, rolou na direção deles. A cada segundo aumentava de intensidade.
– O que estou ouvindo? – perguntou Michael.
Era o som de pés batendo na terra. A massa continuou a se adensar, com seu grande volume arfante vindo na direção deles. Atrás dela, uma nuvem de poeira subia.
– Santo Deus – disse Peter. – É todo mundo.
Apgar levantou a voz acima do barulho:
– Não atirem até que eles cheguem ao perímetro!
A horda estava a 300 metros de distância e se aproximando depressa. Parecia menos um exército do que um grande espetáculo da natureza – uma avalanche, um furacão, uma enchente. A plataforma começou a zumbir, os parafusos e rebites vibrando no ritmo do impacto sísmico do ataque viral.
– O portão vai aguentar? – perguntou Peter a Apgar, que também havia trocado o binóculo por um fuzil.
– Contra isso?
Duzentos metros. Peter comprimiu o cabo da arma contra a clavícula.
– Pronto! – berrou Apgar.
Cem metros.
– Apontar!
Tudo parou.
Os virais tinham parado na borda da luz. Não pararam simplesmente, ficaram congelados no lugar, como se um interruptor tivesse sido desligado.
– Que diabo...?
A massa começou a se dividir ao meio, formando um corredor. Começando nos fundos, a divisão fluiu pelo meio com uma ondulação de cada lado. O movimento pareceu um tanto reverente, como se os virais estivessem abrindo caminho para a passagem de um grande rei, fazendo reverência enquanto ele vinha. Uma forma escura avançava pelo coração da horda. Parecia algum tipo de animal. Aproximou-se da cidade com uma lentidão insuportável, com o corredor dissolvendo-se aos poucos à sua frente. Todas as armas estavam apontadas para o local onde a coisa emergiria. Trinta metros, vinte, dez. A parede da frente dos virais se separou, abrindo-se como um portão para revelar a figura chocantemente comum de uma pessoa a cavalo.
– É ele? – perguntou Apgar. – É o Zero?
O cavaleiro avançou para as luzes. Na metade do caminho até o portão, parou o cavalo e apeou. Não era um “ele”, percebeu Peter. Era ela. A claridade dos refletores ricocheteou nas lentes dos óculos escuros que obscureciam a metade superior do rosto. Uma bainha contendo algum tipo de arma, uma espada ou espingarda, estava atravessada às costas. Cruzadas na parte superior do corpo ela usava um par de bandoleiras.
Bandoleiras.
– Puta merda! – ofegou Michael.
A mente de Peter estava tombando num buraco do tempo.
– Não atirem!
Ele levantou os braços bem alto, acima da cabeça.
– Todo mundo, baixar armas!
Com as costas eretas a mulher virou o rosto para o topo da parede.
– Sou Alicia Donadio, capitã dos Expedicionários! Onde está Peter Jaxon?
CINQUENTA E NOVE
Trinta minutos haviam se passado; todo mundo estava em posição. Peter se afastou da porta e assentiu para Henneman.
– Abra, coronel.
Henneman girou o volante e recuou. De dentro do túnel veio um cloc-cloc lento de cascos. Um frisson de energia ondulou pela linha de soldados voltados para a porta: todas as armas estavam erguidas, todos os olhares focados por sobre os canos. Uma sombra se alongou pela parede do túnel, então Alicia emergiu. Uma das mãos segurava uma corda curta presa ao cabresto do cavalo, a segunda estava solta, tranquila, ao lado do corpo. O cabelo, aquela característica coroa ruiva, estava preso, esticado sobre o couro cabeludo, encurralado numa trança densa que caía até a metade das costas. Usava uma camiseta sem mangas, revelando os músculos dos braços e ombros; embaixo, calças frouxas, amarradas na cintura, e um par de botas de couro. Um exame rápido da multidão, as luzes da área de desembarque ricocheteando nas lentes dos óculos como faróis de busca, outro passo adiante, e ela parou, esperando instruções.
– Avance – disse Peter. – Devagar.
Ela avançou pouco mais de 5 metros. Peter ordenou que parasse.
– Facas primeiro. Jogue-as.
– É só isso que você tem a dizer?
Ele teve um súbito sentimento de irrealidade; era como se estivesse falando com um fantasma.
– As facas, Lish.
Ela olhou à direita de Peter.
– Michael. Não notei você aí parado.
– Olá, Lish.
– E coronel Apgar – comentou Alicia, que assentiu rapidamente com o queixo. – É um prazer vê-lo, senhor.
– Para você é “general”, Donadio.
Os braços do sujeito estavam cruzados diante do peito; o rosto era uma carranca dura.
– Sr. Presidente, dê a ordem e isso termina.
– “Sr. Presidente”? – respondeu Alicia, fazendo uma carranca irônica. – Você subiu na vida, Peter.
O velho tom de zombaria, de piada: seria um truque?
– Mandei tirar as facas.
De um modo que lhe pareceu preguiçoso, Alicia desafivelou os cintos e jogou as bandoleiras no chão.
– Agora a espada – disse Peter.
– Estou aqui para falar, só isso.
Peter levantou a voz para o topo do muro.
– Atiradores! Mirem no cavalo!
Depois, para Alicia.
– Soldado, não é?
Se ele a havia irritado, Alicia não demonstrou. Mesmo assim, puxou a bainha por cima da cabeça e jogou-a à frente.
– Agora os óculos – disse Peter.
– Não sou a ameaça, Peter. Sou apenas a mensageira.
Ele esperou.
– Como quiser.
Os óculos saíram, revelando os olhos. A cor laranja tinha ficado mais forte, mais penetrante. Para ela o tempo não havia passado; não tinha envelhecido nem um dia. Mas alguma coisa estava diferente, uma qualidade que não era tanto vista quanto sentida, como sentir o pinicar de uma tempestade muito antes da chegada das nuvens. Seu olhar não se desviou, sustentou o dele. Um olhar de desafio, se bem que, agora que o rosto estava descoberto, havia nela algo despido, quase vulnerável. Sua confiança era um ardil; por baixo havia sentimentos de incerteza.
– Acendam as luzes.
Três estruturas portáteis com lâmpadas de vapor de sódio estavam posicionadas atrás dele. Elas se acenderam como um canhão, acertando o rosto de Alicia. Enquanto as mãos dela subiam rapidamente, meia dúzia de soldados avançou e a jogou de rosto no chão. Com um relincho alto, Soldado empinou nas patas traseiras e pateou o ar violentamente. Um dos soldados apertou o cano de uma pistola contra a nuca de Alicia enquanto os outros cobriam seu corpo.
– Alguém controle esse animal – gritou Peter. – Se ele criar problema, atire.
– Deixem-no em paz!
– Coronel Henneman, algeme a prisioneira.
Enquanto dois soldados levavam o cavalo para longe, Henneman pôs sua pistola no coldre, avançou e acorrentou os pulsos e os tornozelos de Alicia. Uma terceira corrente conectava as algemas às costas.
– Levante-se e olhe para mim – disse Peter.
Alicia se ergueu rapidamente até ficar de joelhos. Seus olhos estavam fechados com força, o rosto virado para baixo e para longe da claridade dolorosa, como se quisesse se desviar de um soco.
– Estou tentando salvar a vida de vocês, Peter.
– Você tem um modo interessante de demonstrar isso.
– Você precisa ouvir o que tenho a dizer.
– Então fale.
Um momento se passou; então ela começou a falar:
– Há um homem... mais do que um homem, uma espécie de viral, mas tem a nossa aparência. O nome dele é Fanning. Está em Nova York, num prédio chamado Grand Central. Foi ele que me mandou.
– Então era lá que você estava todo esse tempo?
Alicia confirmou com a cabeça.
– Existem coisas que eu nunca lhe contei, Peter. Coisas que eu não podia contar. Minha parte viral sempre foi mais forte do que dei a entender. A sensação ficou cada vez pior, e eu sabia que não poderia controlar por muito tempo. Logo depois de Iowa, comecei a ouvir Fanning dentro da cabeça. Por isso fui para Nova York. Pretendia matá-lo. Ou ele poderia me matar. Eu não me importava muito. Só queria que tudo acabasse.
– E por que não fez isso?
– Acredite, eu quis. Quis decepar a porcaria da cabeça dele. Mas não pude. O viral que me mordeu no Colorado não era de Babcock. Era de Fanning. É o vírus dele que eu carrego. Eu pertenço a ele, Peter.
Eu pertenço a ele. A frase era arrepiante. Peter olhou para Apgar, para ver se o sentido inteiro fora registrado.
– Fanning e eu fizemos um trato. Se eu ficasse com ele, ele deixaria vocês em paz.
– Parece que ele mudou de ideia.
Ela balançou a cabeça enfaticamente.
– Não tive nenhuma participação nisso. Quando descobri o que ele estava fazendo, era tarde demais para impedir. Durante todo o tempo ele estava esperando que vocês se espalhassem, que suas defesas baixassem. É Amy que ele quer. Se eu a levar até ele, ele cancela tudo.
Então ali estava.
– O que ele quer com ela?
– Não sei.
– Não minta para mim.
– Não faço ideia. Ninguém vê Amy há mais de vinte anos.
O tom de Alicia havia mudado; toda a fanfarronice tinha sumido.
– Escute, por favor. Não há como impedir isso. Vocês viram o que ele pode fazer. Ele não é como os outros. Os outros não eram nada.
– Nós temos muros. Temos luzes. Lutamos contra eles antes. Volte e diga isso a ele.
– Peter, você não entende. Ele não precisa fazer nada. Vocês têm... o quê, alguns milhares de soldados? E quanta comida? Quanto combustível? Dê o que ele quer. É sua única chance.
– Soldado Wilson, avance, por favor.
Hollis entrou na área de luz.
– Você se lembra do Hollis, não lembra, Lish? Por que não diz olá?
A cabeça dela estava baixa.
– Por que está me pedindo isso?
– Que tal a filha dele, Kate? Ela devia ser uma menininha quando você a viu pela última vez.
Alicia assentiu.
– Diga. Diga que se lembra de Kate.
– É, eu lembro.
– Ainda bem. Ela cresceu e virou médica, como a mãe. Tinha duas filhinhas. Então um dos seus amigos a mordeu ontem à noite. Quer saber o que aconteceu em seguida?
Alicia ficou em silêncio.
– Quer?
– Apenas ande logo com isso, Peter.
– Certo, vou andar. Sabe aquela garotinha de quem você se lembra? Ela se matou com um tiro.
O silêncio de Alicia o enfureceu. O que havia acontecido com ela? Em que ela havia se transformado?
– Você não tem nada a dizer?
– O que você quer que eu diga? Que sinto muito? Pode fazer o que quiser comigo, mas isso não vai impedir nada.
A pulsação de Peter estava latejando; suas mãos estavam fechadas com força. Ele apontou um dedo para Alicia.
– Olhe para ele. Vou trazer Sara aqui, as filhas de Kate também. Você pode dizer a elas quanto sente muito, porra.
Alicia não disse nada.
– Duzentas mil pessoas, Lish. E você vem aqui falar em rendição? Como se ele fosse seu amigo?
Os ombros dela tremeram. Estaria chorando?
– Vou perguntar de novo. O que Fanning quer com Amy?
A cabeça dela balançou de um lado para o outro.
– Não sei.
– Gunnar, me dê sua pistola.
Apgar sacou a pistola, girou-a na mão e a entregou a Peter. Peter soltou o pente, verificou e o enfiou de novo no encaixe, com estardalhaço.
– Peter, que diabo você está fazendo? – perguntou Michael.
– Essa mulher é uma viral. Uma aliada do inimigo.
– É Alicia! É uma de nós!
Peter avançou e apontou o cano para a têmpora de Alicia.
– Diga, maldição!
– Sei que ela está aqui – murmurou Alicia. – Posso ouvir isso na sua voz.
Ele puxou o percussor com o polegar e falou por entre os dentes. Agora estava seguindo o instinto, uma fúria cega obliterando qualquer pensamento.
– Responda à pergunta ou vou enfiar uma bala na sua cabeça.
– Espere.
Ele se virou. Amy, segurando o braço de Greer para se equilibrar, estava parada na borda do círculo.
– Lucius, tire-a daqui.
Dois soldados se moveram para bloquear o caminho dos dois. Um deles apertou o peito de Greer. Ele se retesou. Depois, aparentemente mudando de ideia, permitiu isso.
– Deixe-me falar com ela – disse Amy.
A ideia era ridícula. Amy mal conseguia ficar de pé; um sopro de vento poderia jogá-la de joelhos.
– Estou falando sério, Greer – vociferou Peter.
– Sei que você está com raiva – continuou Amy. – Mas há muitas coisas que você não sabe.
Ela falou com ele como alguém se dirigindo a um animal perigoso ou a um homem na beira de um abismo. De repente Peter teve consciência do peso da pistola na mão.
– Lucius pode ficar onde está – disse Amy –, mas, se você quer respostas, precisa deixar que eu faça isso.
Peter olhou de volta para Alicia. A cabeça dela estava baixa, em submissão. Ela parecia pequena, frágil, derrotada. Será que ele ia mesmo atirar nela? Parecia impossível, mas no momento alguma coisa o havia dominado, fora do seu controle.
– Por favor, Peter.
O momento se alongou. Todo mundo estava olhando.
– Certo – disse ele. – Deixem que ela passe.
Os soldados recuaram. A sombra de Amy se estendia longa no chão enquanto ela se aproximava da figura encolhida de Alicia. Usando o corpo para proteger o rosto de Alicia da luz, Amy se ajoelhou diante dela.
– Olá, irmã. É bom ver você.
– Desculpe, Amy.
Os ombros dela tremeram.
– Sinto muito.
– Não precisa.
Com ternura, Amy levantou o queixo de Alicia com as pontas dos dedos.
– Sabe como sinto orgulho de você? Você tem sido muito forte.
Lágrimas escorriam pelo rosto de Alicia, formando riscas brilhantes na sujeira.
– Como você pode me dizer isso?
Amy sorriu para ela.
– Porque somos irmãs, não é? Irmãs de sangue. Meus pensamentos nunca se afastaram muito de você, sabe?
Alicia não disse nada.
– Ele consolou você, não foi?
Os lábios dela estavam molhados, com lágrimas pingando do queixo.
– Foi.
– Ele pegou você, cuidou de você. Fez com que sentisse que não estava sozinha.
A voz de Alicia mal passava de um sussurro.
– É.
– Você vê? É por isso que tenho tanto orgulho. Porque você não desistiu, não no coração.
– Mas eu desisti.
– Não, irmã. Sei como é estar sozinha. Estar fora dos muros. Mas agora isso acabou.
Sem afastar o olhar de Alicia, Amy levantou a voz para as pessoas em volta.
– Todos vocês, estão ouvindo? Podem baixar as armas. Esta mulher é amiga.
– Mantenham as posições – ordenou Peter.
Amy virou o rosto para ele.
– Peter, você não me ouviu? Ela está conosco.
– Preciso que você se afaste da prisioneira.
Confusa, Amy olhou de volta para Alicia, depois de novo para Peter.
– Tudo bem – disse Alicia. – Faça o que ele diz.
– Lish...
– Ele só está fazendo o que precisa fazer. Você precisa recuar agora.
Um momento de incerteza passou. Amy ficou de pé. Outra pausa, com a expressão hesitante, e ela recuou. Alicia baixou a cabeça.
– Coronel, prossiga – ordenou Peter.
Henneman se aproximou de Alicia por trás. Havia calçado um par de grossas luvas de borracha; trazia nas mãos uma haste de metal enrolada com fio de cobre, uma extremidade conectada por um fio comprido ao gerador que alimentava as luzes. Quando a ponta da haste fez contato com a nuca de Alicia, ela se sacudiu para cima, os ombros puxados para trás e o peito impelido à frente, como se tivesse sido empalada. Não fez nenhum som. Durante alguns segundos ficou assim, cada músculo retesado como arame. Então o ar saiu de seus pulmões e ela tombou de rosto no chão.
– Ela apagou?
Henneman cutucou as costelas de Alicia com o bico da bota.
– É o que parece.
– Peter, por quê?
– Sinto muito, Amy. Mas não posso confiar nela.
Um caminhão estava dando marcha a ré na direção deles. Dois homens saltaram da carroceria e baixaram a parte traseira.
– Certo, senhores – disse Peter. – Vamos levar esta mulher para a cadeia. E cuidado. Não esqueçam o que ela é.
SESSENTA
5h30: Peter estava com Apgar na passarela sobre o muro, olhando o dia chegar. Uma hora antes do alvorecer, a horda havia partido – uma retirada vasta e silenciosa, como uma onda recuando da praia para se dobrar no volume escuro do mar. Tudo o que restou foi uma grande área de terra pisoteada e, mais além, um milharal destruído.
– Acho que por esta noite é só – disse Apgar.
Sua voz estava pesada, resignada. Esperaram, sem falar, cada homem sozinho em seus pensamentos. Alguns minutos se passaram, e então a sirene soou – uma expansão de som como um grande pulmão respirando, seguido pela exalação inevitável, suspirando sobre o vale, e sumindo. Por toda a cidade pessoas amedrontadas saíam de porões e abrigos, de armários e de baixo das camas. Velhos, vizinhos, famílias com crianças. Encaravam-se com os olhos arregalados: Acabou? Estamos em segurança?
– Você deveria dormir um pouco – disse Apgar.
– Você também.
Mas nenhum dos dois se mexeu. O estômago de Peter estava azedo e vazio – ele não conseguia se lembrar de quando tinha se alimentado pela última vez –, enquanto o resto dele parecia entorpecido, quase sem peso. O rosto estava tenso, parecendo de papel. As exigências do corpo: o mundo podia acabar, mas mesmo assim era preciso dar uma mijada.
– Sabe – disse Apgar e bocejou na mão –, acho que o Chase tinha alguma razão. Talvez devêssemos deixar a garotada resolver isso.
– Ideia interessante.
– E aí, você atiraria mesmo nela?
A pergunta o havia incomodado a noite toda.
– Não sei.
– Bom, não fique se censurando. Eu não teria problema com isso.
Uma pausa, e depois:
– Donadio estava certa com relação a uma coisa. Mesmo se conseguirmos contê-los, não temos combustível para manter as luzes acesas por mais do que algumas noites.
Peter chegou à beira do muro. Era uma manhã cinzenta, a luz pálida e apática: parecia adequado.
– Eu deixei isso acontecer.
– Todos deixamos.
– Não, a culpa é minha. Nunca deveríamos ter aberto os portões.
– O que você ia fazer? Não é possível manter as pessoas trancadas para sempre.
– Você não vai me tirar da berlinda.
– Só estou mostrando a realidade. Se quer culpar alguém, culpe Vicky. Diabos, culpe a mim. A decisão de abrir os distritos foi tomada muito antes de você aparecer.
– Eu é que estou no posto, Gunnar. Eu poderia ter impedido.
– E teria de enfrentar uma revolução. Assim que os dracs desapareceram, essa era a sequência natural dos fatos. Estou surpreso por termos mantido este lugar funcionando por tanto tempo.
O que quer que Gunnar dissesse, Peter sabia da verdade. Tinha baixado a guarda, permitindo-se acreditar que tudo ficara no passado – a guerra, os virais, o velho modo de fazer as coisas –, e agora 200 mil pessoas não existiam mais.
Henneman e Chase vieram andando pela passarela. Chase parecia ter dormido embaixo de alguma ponte, mas Henneman, sempre ligado às aparências, tinha conseguido passar pela noite praticamente sem um fio de cabelo fora do lugar.
– Ordens, general? – perguntou o coronel.
Não era hora de baixar as defesas, mas os homens precisavam de um descanso. Apgar os colocou em turnos de quatro horas: um terço deles na muralha, um terço patrulhando o perímetro e um terço dormindo.
– E agora? – perguntou Chase enquanto Henneman se afastava.
Mas Peter tinha parado de ouvir. Uma ideia estava se formando no fundo da sua mente. Uma coisa antiga; uma coisa do passado.
– Sr. Presidente?
Peter se virou para os dois.
– Gunnar, quais são nossos pontos fracos? Além do portão?
Apgar pensou por um momento.
– Os muros estão bons. A represa é praticamente inexpugnável.
– Então o portão é que é o problema.
– Eu diria que sim.
Será que daria certo? Poderia.
– Na minha sala – disse Peter. – Em duas horas.
– Abra a porta.
O policial virou a chave na fechadura. Peter entrou. Alicia estava sentada no piso da cela. Seus braços e pernas tinham sido algemados à frente. Uma terceira corrente ligava as mãos a uma grossa argola de ferro na parede. Um tecido grosso tinha sido usado para cobrir a janela, diminuindo a intensidade da luz.
– Já não era sem tempo – disse ela com a voz engrolada. – Estava começando a achar que você tinha me esquecido.
– Eu bato na porta quando tiver terminado – disse Peter ao guarda.
Ele os deixou a sós. Peter sentou-se na cama, virado para Alicia. Um momento de silêncio, os dois se olhando por uma distância que parecia muito mais vasta do que era.
– Como está se sentindo? – perguntou ele.
– Ah, você sabe – falou ela, dando de ombros com desdém. – É melhor do que uma bala no cérebro. Você me deixou na dúvida por um segundo, lá.
– Eu estava com raiva. Ainda estou.
– É, deu para sentir.
Os olhos dela avaliaram lentamente seu rosto.
– Agora que estou tendo uma chance de olhar de verdade, devo dizer que você está se aguentando bem. Esses cabelos brancos ficam ótimos em você.
Ele sorriu só um pouquinho.
– E você parece a mesma.
Ela olhou o cômodo minúsculo.
– E você está mesmo comandando o show aqui? Presidente e coisa e tal.
– Parece que sim.
– Está gostando?
– Os últimos dias não foram muito legais.
O diálogo irônico. Como dançar com uma música que só os dois pudessem ouvir: ele não conseguia evitar; tinha sentido falta disso.
– Você me colocou numa encrenca, Lish. O que você fez ontem à noite foi um tremendo estardalhaço.
– Meu timing não foi dos melhores.
– Para este governo, você é uma traidora.
Ela levantou os olhos.
– E o que Peter Jaxon acha?
– Você ficou longe muito tempo. Amy parece acreditar que você está do nosso lado, mas não é ela que dá as ordens.
– Estou do seu lado, Peter. Mas isso não muda a situação. No fim, você vai ter de abrir mão dela. Não dá para derrotá-lo.
– Veja bem, é aí que eu tenho um problema. Nunca ouvi você falar desse jeito com relação a nada.
– Isso é diferente. Fanning é diferente. Ele vem controlando tudo desde o início. O único motivo para termos conseguido matar os Doze foi porque ele deixou. Para ele, somos peças num tabuleiro.
– E por que você confia nele agora?
– Talvez eu não esteja sendo clara. Não confio.
– “Ele consolou você.” “Ele cuidou de você.” Estou lembrando direito?
– Ele fez isso, Peter. Mas não é a mesma coisa.
– Você vai ter de se esforçar um pouco mais.
– Para quê? Para você acreditar? Do modo como eu vejo, você não tem escolha.
– Com quem estou falando aqui? Com você ou com Fanning?
Os olhos de Alicia ficaram afiados de raiva; as palavras dele tinham acertado na mosca.
– Eu fiz um juramento, Peter. O mesmo que você, o mesmo que Apgar, o mesmo que cada homem naquele muro ontem à noite. Fiquei com Fanning porque acreditei que ele deixaria Kerrville em paz. É, ele foi bom para mim. Eu nunca disse o contrário. Acredite ou não, na verdade sinto pena do cara, até que me lembro do que ele é.
– E o que ele é?
– O inimigo.
Ela estaria mentindo? Por enquanto não importava. O fato de Alicia querer que ele acreditasse era a vantagem que ele poderia usar.
– Diga contra o que estamos lutando, quantos dracs estão aí fora.
– Acho que você viu ontem à noite.
– Em outras palavras, o resto das forças de Fanning está em Nova York. Ele as está mantendo na reserva.
Alicia confirmou.
– Eu não fui seguida, se é o que você quer dizer. O resto está nos túneis sob a cidade.
– E você não sabe o que ele quer com Amy?
– Se eu soubesse, diria. Tentar entender Fanning é idiotice. Ele é um homem complicado, Peter. Fiquei com ele durante vinte anos e nunca o entendi completamente. Na maior parte do tempo ele só parece triste. Fanning não gosta do que é, mas vê nisso uma espécie de justiça. Ou pelo menos quer ver.
Peter franziu a testa.
– Não estou entendendo.
Alicia demorou um momento para formar os pensamentos.
– Há um relógio na estação. Muito tempo atrás, Fanning deveria ter encontrado uma mulher lá.
Ela levantou os olhos.
– É uma longa história. Posso contar tudo, mas levaria horas.
– Dê a versão curta.
– O nome dela era Liz. Era mulher de Jonas Lear.
Peter ficou pasmo.
– É, isso também me surpreendeu. Todos se conheciam. Fanning a amava desde que eram jovens. Quando ela se casou com Lear, ele praticamente desistiu dela, mas no fundo, não. Então ela adoeceu. Estava morrendo, algum tipo de câncer. Por acaso ela o amava também; tinha amado o tempo todo. Ela e Fanning iam fugir, passar os últimos dias dela juntos. Você deveria ouvi-lo contar a história, Peter. Partiria o seu coração. Era sob o relógio que eles iriam se encontrar, mas Liz não apareceu. Tinha morrido a caminho, mas Fanning não sabia; achou que ela havia mudado de ideia. Naquela noite ele se embebedou num bar e foi para a casa de uma mulher, uma estranha. Ele a matou.
– Então, em outras palavras, ele é um assassino.
Alicia fez cara de objeção.
– Bom, foi uma espécie de acidente, do jeito como ele conta. Ele estava meio fora de si; achou que sua vida tinha acabado. Ela apontou uma faca para ele, os dois lutaram e ela caiu em cima da faca.
– O que o colocou no corredor da morte, como os Doze.
– Não, ele se livrou. Na verdade se sentia péssimo com aquilo tudo. Estava muito confuso, mas não era um assassino endurecido, pelo menos naquele momento. Mais tarde ele foi com Lear para a América do Sul, de onde vem o vírus. Lear o procurava havia anos; achava que ele poderia salvar a mulher, mas nesse ponto esse já não era o motivo. Fanning descreve o cara como totalmente obcecado.
– E foi assim que Fanning pegou o vírus?
Alicia assentiu.
– Pelo que sei, de acordo com a história de Fanning, isso aconteceu por acaso, se bem que na cabeça dele Lear foi o responsável. Depois que Fanning se infectou, Lear o levou de volta para o Colorado. Ainda estava esperando usar o vírus como uma espécie de cura total, mas os militares se envolveram. Queriam usá-lo como arma, fazer algum tipo de supersoldado com ele. Foi então que levaram os doze prisioneiros.
Peter pensou durante um momento. Então, com os pensamentos se cristalizando:
– E Amy? Por que o Exército a fez?
– Não foi o Exército; foi Lear. Ele usou um vírus diferente, que não descendia do que Lear carregava. Por isso ela não é como os outros. Isso, e o fato de ela ser tão nova. Acho que ele talvez soubesse que a coisa toda tinha dado errado e estivesse tentando consertar.
– É um modo estranho de fazer isso.
– Como eu disse, Fanning acha que o sujeito estava maluco. De qualquer modo, na mente dele, Amy é o peixe que se livrou da rede. Matar os Doze foi um teste – não para nós, já que nunca tivemos chance contra eles. Fanning estava testando Amy. Não sei por que não pensei nisso na época, no fato de ele ter posicionado todos no mesmo lugar, daquele jeito. Ele nunca gostou particularmente deles, para não dizer de modo pior. Como ele diz, era um bando de psicóticos.
– E ele não é?
Alicia deu de ombros.
– Depende da sua definição. Se quer dizer que ele não sabe diferenciar o certo do errado, devo dizer que não. Na verdade ele é bastante versado no tema. O que é o mais estranho nele, a parte que nunca entendi de verdade. Os dracs comuns não estão nem aí para isso – não passam de máquinas de comer. Fanning pensa em tudo. Talvez Michael pudesse entendê-lo, mas eu nunca consegui. Falar com ele era como ser arrastada por um cavalo.
– Então por que testá-la? O que ele estava tentando descobrir?
Alicia desviou os olhos, depois disse:
– Acho que ele queria saber se ela era mesmo diferente dos outros. Não creio que ele queira matá-la. Seria óbvio demais. Se tivesse de adivinhar, eu diria que tudo tem a ver com os sentimentos dele em relação a Lear. Fanning odiava o sujeito. Odiava mesmo. E não só por causa do que Lear fez com ele. A coisa é mais profunda. Lear fez Amy como um modo de consertar as coisas. Talvez Fanning não consiga aceitar isso. Como eu disse, na maior parte do tempo ele parece sofrer terrivelmente. Fica sentado naquela estação olhando o relógio como se o tempo tivesse parado para ele quando Liz não apareceu.
Peter esperou mais alguma coisa, mas Alicia pareceu terminar aí.
– Ontem à noite você o chamou de homem.
Ela assentiu.
– Pelo menos é como ele se parece, se bem que há algumas diferenças. Ele é sensível à luz, muito mais do que eu. Nunca dorme, ou quase nunca. Gosta do jantar quente. E – ela usou o polegar e o indicador para indicar os incisivos – ele tem essas coisas.
Peter franziu os olhos.
– Presas?
Ela assentiu.
– Só as duas.
– Ele sempre foi assim?
– Na verdade, não. No início ele era exatamente como os outros. Mas aconteceu uma coisa, um acidente. Ele caiu numa pedreira inundada. Isso foi no início, só alguns dias depois de sair do laboratório do Projeto Noé. Nenhum de nós é capaz de nadar. Fanning foi direto para o fundo. Quando acordou, estava caído na margem, com a aparência atual.
Ela fez uma pausa, o olhar fixado no rosto dele, como se golpeada por um pensamento súbito.
– Foi isso que aconteceu com Amy?
– Algo assim.
– Mas você não vai me contar.
Peter deixou a coisa aí.
– A água poderia transformar de volta os Muitos dele?
– Fanning diz que não, que só ele.
Peter se levantou da cama. Uma onda de tontura o atravessou: precisava mesmo se deitar, nem que fosse por alguns minutos. Mas parecia importante não demonstrar como estava exausto – era um velho hábito, dos dias em que os dois montavam guarda juntos, cada qual tentando ser melhor do que o outro. Eu consigo, e você?
– Desculpe pelas correntes.
Alicia levantou os pulsos, examinando-os com expressão neutra – como se as mãos não fossem dela, e sim de outra pessoa. Deu de ombros e as deixou cair no colo de novo.
– Tudo bem. Não estou tornando isso fácil para você.
– Precisa de alguma coisa? Comida, água?
– Ultimamente minha dieta é meio peculiar.
Peter entendeu.
– Verei o que posso fazer.
Um momento de silêncio, cada um reconhecendo o incômodo da situação.
– Sei que você não quer acreditar em mim – disse Alicia. – Diabos, eu não acreditaria. Mas estou falando a verdade.
Peter não disse nada.
– Nós éramos amigos, Peter. Por todos aqueles anos você foi a única pessoa com quem eu sempre pude contar. Nós defendíamos um ao outro.
– É.
– Apenas diga que isso ainda significa alguma coisa.
Quando olhou para ela, a mente de Peter voltou à noite em que tinham se despedido na guarnição do Colorado, fazia tantos anos – a noite antes de ele subir a montanha com Amy. Como eram jovens! Parados do lado de fora do alojamento dos soldados, com o vento frio a cortá-los, tinha amado Alicia ferozmente, como nunca havia amado ninguém na vida – nem os pais, nem Titia, nem mesmo seu irmão Theo: ninguém. Não era o amor de um homem por uma mulher ou o de um irmão por uma irmã, era algo mais delgado, aparado até restar a essência: um elo, uma energia subatômica que nenhuma palavra poderia definir. Peter não conseguia mais lembrar o que tinham dito um ao outro. Só restava a impressão, como pegadas na neve. Era um daqueles momentos em que parecia possível entender a vida e o que significava viver – ele era suficientemente jovem para acreditar que isso era possível – e a lembrança carregava uma espantosa nitidez de emoção, como se não tivessem passado três décadas desde aquela hora fria e distante em que ele estivera à luz protetora da coragem de Alicia. Mas então piscou para afastar a memória, a mente voltou ao presente e o que restou foi apenas um grande peso de tristeza no peito. Duzentas mil almas perdidas, e Alicia no centro de tudo aquilo.
– É – disse ele. – Significa. Mas infelizmente não muda nada.
Bateu três vezes na porta. A chave girou na fechadura e o guarda apareceu.
– Não seja bobo, Peter. Fanning é tudo o que eu disse que ele é. Não sei o que você está planejando, mas não faça isso.
– Obrigado – disse ele ao guarda. – Terminei aqui.
A corrente que prendia Alicia à parede chacoalhou ao ser puxada.
– Escute, droga! Não adianta lutar contra ele!
Mas essas palavras mal alcançaram seus ouvidos. Peter já estava andando pelo corredor.
SESSENTA E UM
E agora, minha Alicia, você reside entre eles.
Como eu sei disso? Sei como sei de tudo; sou um milhão de mentes, um milhão de histórias, um milhão de pares de olhos. Estou em toda parte, Alicia, vigiando você. Vigiei você desde o início, avaliando. Seria exagero dizer que senti sua chegada no dia em que você nasceu para este mundo – uma pepita úmida, guinchando, o sangue quente do protesto já se derramando pelas suas veias? Impossível, claro; mas parece. Tal é o caminho enfeitiçante da providência: tudo parece ordenado, tudo é conhecido, tanto para a frente quanto para trás.
Que entrada você fez! Com que declaração ousada, que espetáculo, com que pose de autoridade você entrou nas luzes da cidade e fez sua reivindicação! Como os ocupantes da metrópole sitiada não conseguiram desmaiar sob seu feitiço, encantados pela dramaticidade da sua chegada? Sou Alicia Donadio, capitã dos Expedicionários! Desculpe esses voos empolgados, Alicia; meu humor está grandioso. Desde que o grande Aquiles se levantou diante das muralhas da poderosa Troia não se criava algo como você. Dentro daqueles muros, sem dúvida, começa uma grande assembleia. Debates, éditos, ameaças e contra-ameaças – a esgrima costumeira de uma cidade sitiada. Lutamos? Fugimos? Sérias e admiráveis, no entanto – e você deve me perdoar a analogia –, essas discussões são para o resultado final o mesmo que o tombo na água é para o afogamento: só fazem a coisa toda acontecer mais depressa.
Na sua ausência, Alicia, passei a usá-la como modelo, por assim dizer. Noite após noite as trevas me chamam; meus pés me fazem percorrer de novo as ruas da poderosa Gotham. O verão finalmente chegou nesta ilha do exílio. Os pássaros cantam nos galhos; as árvores e as flores atulham a brisa com sua excreção sexual aérea; criaturas recém-nascidas de todo tipo fazem suas primeiras aventuras incertas no capim. (Ontem à noite, lembrando-me de suas preocupações com minhas forças, devorei uma ninhada de seis coelhinhos em sua homenagem.) O que é essa nova inquietude dentro de mim? À deriva no labirinto de vidro, aço e pedra de Manhattan, me sinto mais perto de você, sim, mas também outra coisa: um sentimento do passado tão intenso e reluzente a ponto de ser quase alucinatório. Afinal de contas, foi no verão que viajei a Nova York para o enterro do meu amigo Lucessi, quando esta cidade pôs pela primeira vez sua mão de amor sobre mim. Fecho os olhos e lá estou, com ela, minha Liz. A mulher e o lugar são indeléveis, os dois são a mesma coisa. A hora marcada no relógio, depois nossa saída no calor tremendamente humano da hora do rush precoce na estação do ano; o enclausuramento abrupto no táxi, com seu banco de vinil rachado e as marcas de um milhão de ocupantes anteriores; o desfile de humanidade arfante apinhando as ruas e calçadas; as majestosas torres da região central da ilha, vitrificadas e reluzentes com a luz exausta daquela hora; minha percepção clara, quase dolorosa, de tudo, um jorro de dados indiferenciados no cérebro, tudo isso permanentemente inseparável da amada e eterna ela. Seus ombros brilhantes, abençoados pelo sol. O leve aroma feminino de sua perspiração no espaço lacrado do táxi. Seu rosto pálido, expressivo, com o toque de mortalidade, e seu olhar míope, sempre enxergando mais fundo nas coisas. A perfeição da mão dela na minha enquanto andávamos juntos pelas ruas escuras, sozinhos entre milhões. Dizem que nos tempos antigos só havia um sexo; nesse estado abençoado a humanidade existiu até que, como castigo, os deuses dividiram cada um de nós em dois, uma mitose cruel que fez cada metade vagar para sempre pela Terra em busca de seu parceiro, para que pudesse ficar inteira de novo.
Era essa a sensação da mão dela na minha, Alicia: como se, dentre todos as pessoas na Terra, eu tivesse encontrado minha metade.
Ela me beijou naquela noite enquanto eu estava dormindo? Foi um sonho? Há alguma diferença? Esta é a minha Nova York, como um dia foi a de tantas pessoas: o beijo com que sonhamos.
Tudo perdido, tudo acabado – como a cidade do seu amor, Alicia, a cidade da sua Rose. Ligue para o Fanning, escreveu meu amigo Lucessi. Ligue para o Fanning para dizer a ele que tudo o que existe é o amor, e que o amor é dor, e que o amor é tirado da gente. Por quantas horas ele ficou lá? Durante quantos dias e noites minha mãe ficou flutuando num mar de agonia? E onde eu estava? Como somos idiotas! Como somos idiotas, os mortais!
Assim se aproxima a hora de nosso ajuste de contas. A Deus faço minha reclamação justa; foi ele que cruelmente pendurou o amor diante dos nossos olhos, como um brinquedo multicolorido acima do berço de um bebê. A partir do nada fez este mundo de espanto; ao nada este mundo retornará.
Sei que ela está aqui, disse você. Posso ouvir isso na sua voz.
E eu na sua, minha Alicia. Eu na sua.
SESSENTA E DOIS
Dois soldados, com os fuzis pendurados no ombro, estavam na extremidade da passarela. Enquanto Peter se aproximava eles se enrijeceram, prestando continência rápida.
– Tudo calmo por aqui? – perguntou Peter.
– A Dra. Wilson entrou há um tempo.
– Mais alguém?
Ele se perguntou se Gunnar tinha feito uma visita, ou talvez Greer.
– Não desde que entramos de serviço.
A porta se abriu quando ele pisou na varanda: Sara, carregando sua pequena maleta de couro com instrumentos. Os olhares dos dois se encontraram de um modo que Peter entendeu. Ele a abraçou e recuou.
– Não sei o que dizer – começou Peter.
O cabelo dela estava úmido e grudado na testa, os olhos inchados e vermelhos.
– Todos nós a amávamos.
– Obrigada, Peter. – As palavras dela saíram monótonas, sem emoção. – É verdade, sobre Alicia?
Ele confirmou.
– O que você vai fazer com ela?
– No momento não sei. Ela está presa.
Sara não disse nada; não precisava. Seu rosto falava tudo. Nós confiamos nela, e agora veja.
– Como está Amy?
Sara deu um suspiro.
– Você pode ver por si mesmo. Não entendo muito essa coisa, mas, pelo que dá para perceber, ela está bem. Com “bem” quero dizer humana. Meio desnutrida e muito fraca, mas a febre passou. Se você a tivesse trazido aqui sem me contar quem ela era, eu diria que é uma mulher perfeitamente saudável, de 20 e poucos anos, que acabou de sair de uma gripe forte. Alguém, por favor, me explique isso.
O mais resumidamente que pôde, Peter relatou a história: o Bergensfjord, a visão de Greer, a transformação de Amy.
– O que você vai fazer? – perguntou Sara.
– Estou pensando, ainda.
Sara parecia atordoada; a informação tinha começado a se assentar.
– Acho que talvez eu deva um pedido de desculpas ao Michael. É engraçado pensar nisso num momento assim.
– Vai haver uma reunião na minha sala às sete e meia. Preciso de você lá.
– Por que eu?
Havia um monte de motivos. Ele deu o mais simples:
– Porque você faz parte disso desde o início.
– E agora faço parte do fim – disse Sara, com tristeza.
– Esperemos que não.
Ela ficou em silêncio, depois disse:
– Uma mulher chegou ontem ao hospital, em trabalho de parto. Estava nos primeiros estágios. Poderíamos tê-la mandado para casa, mas ela e o marido estavam lá quando a sirene tocou. Mais ou menos às três da madrugada ela decidiu ter o bebê. Um bebê, no meio de tudo isso.
Sara encarou Peter.
– Sabe o que eu quis dizer a ela?
Ele balançou a cabeça.
– “Não faça isso.”
A porta do quarto estava escancarada. Peter parou na soleira. As cortinas tinham sido fechadas, banhando o quarto numa luz fraca e amarelada. Amy estava de lado – olhos fechados, rosto relaxado, um braço enfiado sob o travesseiro. Ele já ia sair quando os olhos dela se abriram.
– Ei.
Sua voz estava muito suave.
– Tudo bem, volte a dormir. Só queria ver como você está.
– Não, fique.
Ela olhou o quarto ao redor, grogue.
– Que horas são?
– Não sei bem. Cedo.
– Sara esteve aqui.
– Eu sei. Vi quando ela saiu. Como você está?
Ela franziu a testa, pensativa.
– Não... sei – falou então, com os olhos se arregalando, como se a ideia a surpreendesse: – Com fome?
Um desejo tão comum. Peter assentiu.
– Vou ver o que posso fazer.
Na cozinha, acendeu o fogão a querosene – fazia meses que não o usava –, depois saiu para dizer aos soldados do que precisava. Enquanto esperava, tomou banho; quando eles voltaram, carregando um cesto pequeno, o fogo estava pronto para funcionar. Leitelho, ovos, uma batata, um pão denso e escuro e geleia de frutas mistas num vidro lacrado com cera. Começou a trabalhar, feliz por ter essa pequena tarefa para tirar a mente de outras coisas. Numa panela de ferro fundido fritou as batatas e depois os ovos; cortou o pão em fatias grossas e passou geleia. Quanto tempo fazia que não preparava uma refeição para outra pessoa? Provavelmente para Caleb, quando era menino. Anos.
Arrumou o desjejum de Amy numa bandeja, acrescentou um copo de leitelho e levou tudo para o quarto. Tinha imaginado se ela havia caído no sono de novo durante sua ausência; em vez disso a encontrou alerta e sentada. Ela havia aberto as cortinas; evidentemente a luz tinha deixado de incomodá-la. Um sorriso brotou ao vê-lo parado junto à porta como um garçom, com a bandeja.
– Uau! – exclamou Amy.
Peter colocou a bandeja no colo dela.
– Não sou grande coisa como cozinheiro.
Amy estava olhando a comida como se fosse uma prisioneira liberta de anos na cadeia.
– Nem sei por onde começar. Pelas batatas? Pelo pão?
Ela sorriu, decidida.
– Não, pelo leite.
Bebeu todo o copo e começou a trabalhar no resto, cravando o garfo na comida como um trabalhador do campo.
Peter puxou uma cadeira para perto da cama.
– Talvez você devesse ir mais devagar.
Ela levantou os olhos, falando com a boca cheia de ovo.
– Você não vai comer?
Ele estava esfomeado, mas gostava de olhá-la.
– Como alguma coisa mais tarde.
Peter foi à cozinha encher de novo o copo dela. Quando voltou, o prato estava vazio. Entregou o leitelho e observou-a engolir tudo. Uma cor saudável tinha voltado às suas bochechas.
– Venha se sentar perto de mim – chamou ela.
Peter tirou a bandeja e sentou na beira da cama. Amy enfiou a mão na dele.
– Senti sua falta – disse.
Parecia irreal demais estar sentado ali, falando com ela.
– Desculpe ter ficado velho.
– Ah, acho que nesse quesito eu venço.
Ele quase gargalhou. Havia tanta coisa que queria dizer, contar! Ela estava exatamente com a mesma aparência dos sonhos; a única diferença era o cabelo curto. Já os olhos, o calor do sorriso, o som da voz... tudo estava igual.
– Como era, no navio?
Ela baixou o rosto. O polegar moveu-se suavemente em cima da mão dele.
– Solitário. Estranho. Mas Lucius cuidou de mim.
Ela o encarou de novo.
– Desculpe, Peter. Você não podia saber.
– Por quê?
– Porque eu queria que você tocasse sua vida. Que fosse... feliz. Ouvi Caleb chamá-lo de “pai”. Fico feliz por vocês dois.
– Ele se casou, sabe? A mulher dele é Pim.
– Pim – repetiu Amy, e sorriu.
– Eles têm um filho também. Chama-se Theo.
Ela apertou sua mão suavemente.
– Então existe uma vida, bem aí. O que mais fez você feliz? Quero saber.
Você, pensou ele. Você me fez feliz. Estive com você toda noite, desde que você se foi. Tive uma vida inteira com você, Amy. Mas não conseguiu encontrar as palavras para dizer isso.
– Aquela noite em Iowa – disse ele. – Foi real, não foi?
– Não tenho certeza se sei o que é real.
– Quero dizer, aconteceu. Não foi um sonho.
Amy assentiu.
– É.
– Por que você foi até mim?
Os olhos de Amy se desviaram, como se a lembrança fosse dolorosa.
– Não tenho certeza. Eu estava confusa, a mudança tinha acontecido depressa demais. Provavelmente eu não deveria ter feito aquilo. Estava com vergonha demais do que eu era.
– Por quê?
– Eu era um monstro, Peter.
– Não para mim.
Os olhares dos dois se encontraram e se sustentaram; a mão dela estava quente, mas não de febre; era o calor da vida. Mil vezes ele a havia segurado, e ao mesmo tempo esta era a primeira.
– Alicia está bem? – perguntou Amy.
– Ah, ela é mais forte do que isso. O que você quer que eu faça com ela?
– Não creio que a decisão seja minha.
– Não é. Mas mesmo assim preciso saber o que você acha.
– Isso não é simples para ela. Ela está com ele há muito tempo. Acho que há muita coisa que ela não contou.
– O quê, por exemplo?
Amy pensou por um momento, depois balançou a cabeça.
– Não sei dizer. Ela está muito triste. Mas é como se houvesse uma caixa trancada dentro dela. Não consigo ultrapassar.
Os olhares dos dois se encontraram de novo.
– Ela precisa que você confie nela, Peter. Eu sou um lado dela; Fanning é o outro. Entre nós está você. Foi você que ela veio realmente ver aqui. Alicia precisa saber quem ela é. Não só quem ela é: o que ela é.
– E o que ela é?
– O que sempre foi. Parte disso, parte de nós. Você é a família dela, Peter. Foi assim desde o início. Ela precisa saber que ainda é.
Peter sentiu a verdade das palavras de Amy. Mas saber uma coisa não era o mesmo que acreditar. Isso era o pior de tudo, pensou.
– Você não vai com ela – disse. – Não posso permitir.
– Talvez você não tenha chance com relação a isso. Alicia está certa, a cidade não vai aguentar indefinidamente. Cedo ou tarde vou ter de enfrentá-lo.
– Não me importa. Perdi você uma vez. Não vou perder de novo.
Passos no corredor: Peter se virou enquanto Caleb aparecia junto à porta, com Pim atrás. Por um momento o filho de Peter pareceu perplexo. Uma luz quente se acendeu nos olhos dele.
– É você mesmo – disse Caleb.
Amy sorriu.
– Caleb, acho que eu gostaria de abraçar você.
Peter recuou. Amy se apoiou nos cotovelos enquanto Caleb se inclinava sobre a cama e os dois se abraçavam. Quando finalmente se separaram, continuaram segurando um ao outro pelos cotovelos, cada um sorrindo para o rosto feliz do outro. Peter sabia o que estava vendo: o elo profundo que Amy e seu filho compartilhavam, forjado nos dias anteriores a Iowa, quando Amy cuidava dele no orfanato.
– Você está tão adulta! – disse Caleb, rindo.
Amy também riu.
– E você também.
Caleb se virou para a esposa, falando e sinalizando ao mesmo tempo.
– Amy, esta é Pim, minha mulher. Pim, Amy.
Como vai, Pim?, sinalizou Amy.
Muito bem, obrigada, respondeu Pim.
As mãos de Amy se moviam com velocidade, hábeis. É um nome lindo. Você é exatamente como eu imaginei.
Você também.
Caleb ficou olhando as duas. Só então ocorreu a Peter que o diálogo que tinha acabado de testemunhar era, tecnicamente, impossível.
– Amy – disse Caleb –, como você fez isso?
Ela franziu os olhos para os dedos abertos.
– Ah, acho que não sei. Imagino que as irmãs devam ter me ensinado.
– Nenhuma delas sabe a linguagem dos sinais.
Ela baixou as mãos no colo e levantou os olhos.
– Bom, alguém deve ter me ensinado. De que outro modo eu poderia saber?
Mais passos; uma atmosfera de atividade oficial acompanhou Apgar para dentro do quarto.
– Sr. Presidente, desculpe a interrupção, mas achei que poderia encontrá-lo aqui.
Seu queixo se levantou na direção da cama.
– Desculpe, senhora. Como está se sentindo?
Agora Amy estava sentada, as mãos cruzadas no colo.
– Muito melhor, obrigada, general.
Ele voltou a atenção para Caleb.
– Tenente, não deveria estar em sua cama?
– Eu não estava cansado, senhor.
– Não foi isso que eu perguntei. E não olhe para o seu pai, ele não está interessado.
Caleb segurou a mão de Amy e apertou uma última vez.
– Fique melhor, está bem?
– Agora, Sr. Jaxon.
Caleb trocou um sinal rápido e ilegível com Pim e saiu.
– Se o senhor terminou aqui – disse Apgar –, é hora. As pessoas devem estar esperando.
Peter se virou para Amy.
– É melhor eu ir.
Amy pareceu não ter ouvido; seu olhar estava fixo nos olhos de Pim. Os segundos se alongaram enquanto as duas se olhavam com uma intensidade elétrica, como se estivessem envolvidas numa conversa privada, inaudível.
– Amy?
Ela levou um susto, rompendo o circuito. Pareceu demorar um instante para perceber onde estava. Depois disse, muito calmamente:
– Claro.
– E você, vai ficar bem aqui? – perguntou Peter.
Outro sorriso, mas não era o mesmo – mais de tranquilização do que algo genuíno. Havia algo vazio nele, até mesmo forçado.
– Perfeitamente.
SESSENTA E TRÊS
– Espelhos – repetiu Chase.
Em volta da mesa de reuniões, em sentido horário a partir da esquerda de Peter, estavam os participantes, o gabinete de guerra de Peter: Apgar, Henneman, Sara, Michael, Greer.
– Não precisa ser um espelho especificamente. Qualquer coisa que reflita vai funcionar, desde que eles possam se ver.
Chase respirou fundo e cruzou as mãos na mesa.
– É a coisa mais maluca que eu já ouvi.
– Não é maluca. Há trinta anos, em Las Vegas, Lish e eu estávamos fugindo de uma corja de três e fomos encurralados numa cozinha. Estávamos sem munição, praticamente indefesos. Havia um bocado de potes e panelas pendurados no teto. Peguei uma para usar como porrete, mas quando segurei na frente do primeiro viral aquilo fez o filho da mãe parar, como se estivesse hipnotizado. E era só uma panela de cobre. Michael, me apoie.
– Ele está certo. Eu também vi.
– E o que isso faz com eles? – perguntou Apgar a Michael – Por que eles param?
– É difícil dizer. Acho que deve ser algum tipo de memória residual.
– Como assim?
– Quero dizer que eles não gostam do que veem, porque não combina com outros aspectos da imagem que fazem de si mesmos.
Ele se virou para Peter.
– Você se lembra da viral com quem lutou na jaula de Tifty?
Peter assentiu.
– Depois de matá-la, você disse uma coisa a Tifty. “O nome dela era Emily. A última lembrança dela é de ter beijado um menino.” Como você soube?
– Foi há muito tempo, Michael. Não sei explicar. Ela estava me olhando, e simplesmente aconteceu.
– Ela não estava simplesmente olhando. Estava encarando você. Vocês dois estavam se encarando. As pessoas não olham nos olhos de um viral quando ele está a ponto de rasgá-las ao meio. O impulso natural é desviar os olhos. Você não fez isso. E, como o espelho, isso fez com que ela parasse.
Michael fez uma pausa, depois disse com certeza mais profunda:
– Quanto mais penso nisso, mais faz sentido. Explica um monte de coisas. Quando uma pessoa é tomada, o primeiro impulso é ir para casa. As pessoas que estão morrendo sentem a mesma coisa. Sara, estou certo?
Ela confirmou com a cabeça.
– É verdade. Às vezes é até mesmo a última coisa que as pessoas dizem. “Quero ir para casa.” Nem sei dizer quantas vezes escutei isso.
– Então um viral é uma pessoa infectada com um vírus forte, superagressivo. Mas em algum lugar lá no fundo ela se lembra de quem é. Durante a fase de transição, digamos, essa memória é enterrada, mas não vai embora, pelo menos não completamente. É só um núcleo, mas está lá. Os olhos são reflexivos, como os espelhos. Quando eles se veem, a memória vem à superfície e os confunde. É isso que faz com que eles parem, uma espécie de nostalgia. É a dor de se lembrar da vida humana e ver o que eles se tornaram.
– É uma teoria e tanto – disse Henneman.
Michael deu de ombros.
– Talvez. Talvez eu só esteja falando bobagem, e não seria a primeira vez. Mas deixe-me perguntar uma coisa, coronel. Quantos anos você tem?
– O quê?
– Sessenta? Sessenta e três?
Ele fez uma pequena carranca.
– Cinquenta e oito, obrigado.
– Desculpe. Já se olhou num espelho?
– Tento evitar.
– É exatamente o meu argumento. Na sua mente você é a pessoa que sempre foi. Diabos, na minha cabeça ainda sou um garoto de 17 anos. Mas a realidade é diferente, e é deprimente de contemplar. Não vejo ninguém de 20 anos em volta desta mesa, por isso imagino que não esteja sozinho nisso.
Peter se virou para seu chefe do estado-maior.
– Ford, o que temos que sirva para refletir? Precisamos cobrir todo o portão, e é melhor se tivermos pelo menos 100 metros de cada lado, ou mais, se conseguirmos.
Ele pensou por um momento.
– Metal galvanizado para telhado deve servir, acho. É bem brilhante.
– Quanto temos?
– Uma boa parte do material foi levada para os distritos, mas devemos ter o suficiente. Podemos tirar de algumas casas, se faltar.
– Coloque a engenharia nisso. Também precisamos reforçar o portão. Diga para soldarem aquela porcaria trancada, se for preciso. A porta também.
Chase franziu a testa.
– Como as pessoas vão sair?
– No momento, “sair” não é a questão. Por enquanto elas não vão sair.
– Sr. Presidente, se é que posso dizer – interveio Henneman. – Presumindo que tudo isso funcione, e é uma grande hipótese, na minha opinião, ainda temos uns 200 mil virais à solta por aí. Não podemos ficar dentro dos muros para sempre.
– Odeio contradizê-lo, coronel, mas era exatamente o que fazíamos na Califórnia. A Primeira Colônia durou quase um século, com uma fração dos recursos que temos. Estamos com apenas alguns milhares de pessoas, uma população sustentável, se administrarmos direito. Dentro desses muros temos terra arável suficiente para plantar e para os animais. O rio nos dá uma boa fonte contínua de água potável e para irrigação. Com algumas modificações ainda podemos trazer óleo de Freeport em cargas menores, e a refinaria em si é defensável. Com racionamento cuidadoso, usando todo o nosso petróleo refinado para as luzes, devemos ficar em boas condições por um tempo bem longo.
– E as armas?
– O bunker de Tifty pode nos suprir durante um tempo, e provavelmente podemos fabricar mais, pelo menos para durar mais alguns anos. Depois disso usaremos bestas, arcos e flechas incendiárias. Fizemos isso dar certo na Primeira Colônia. Vamos fazer o mesmo aqui.
Silêncio em volta da mesa. Todo mundo estava pensando a mesma coisa, Peter sabia. Trata-se disso.
– Com todo o devido respeito – disse Michael –, isso tudo é besteira, e você sabe.
Peter se virou para ele.
– Talvez os espelhos façam com que eles fiquem mais lentos – prosseguiu Michael. Fanning ainda está por lá. Se o que Alicia disse é verdade, os virais que vimos ontem à noite são só a ponta do iceberg. Ele tem um exército inteiro de reserva.
– Deixe que eu me preocupe com isso.
– Não seja paternalista comigo. Eu venho pensando nisso há vinte anos.
Apgar fez uma carranca.
– Sr. Fisher, sugiro que pare de falar.
– Por quê? Para que ele possa fazer com que todos nós sejamos mortos?
– Michael, quero que você me escute com muita atenção.
Peter não estava com raiva; tinha esperado que ele questionasse. O que importava agora era certificar-se de que todo mundo permanecesse a bordo.
– Conheço seus sentimentos. Você os deixou bem claros. Mas a situação evoluiu.
– A linha temporal avançou, só isso. Nós estamos jogando fora uma chance, permanecendo sentados desse jeito. Deveríamos estar enchendo os ônibus agora mesmo.
– Talvez tivesse dado certo antes. Mas se começarmos a tirar pessoas daqui agora, vai haver um tumulto. Esse lugar vai se desfazer. E de jeito nenhum podemos transportar setecentas pessoas até o istmo à luz do dia. Os ônibus seriam apanhados em terreno aberto. Elas não teriam a menor chance.
– Não temos chance de jeito nenhum. O Bergensfjord é tudo o que temos. Lucius, não fique aí parado.
O rosto de Greer estava calmo.
– A decisão não é nossa. Peter está no comando.
– Não acredito no que estou ouvindo.
Michael olhou em volta, depois de novo para Peter.
– Você é simplesmente teimoso demais para admitir que foi derrotado.
– Fisher, já chega – alertou Apgar.
Michael se virou para a irmã.
– Sara, você não pode estar engolindo isso. Pense nas meninas.
– Estou pensando. Estou pensando em todo mundo. Estou com o Peter. Ele nunca nos guiou para o lado errado.
– Michael, preciso saber se você está conosco – disse Peter. – É simples assim. Sim ou não.
– Certo: não.
– Então está dispensado. A porta fica ali.
Peter não sabia o que aconteceria em seguida. Durante vários segundos Michael o encarou. Depois, com um suspiro de raiva, levantou-se da mesa.
– Ótimo. Se sobreviverem à noite, me avisem. Lucius, você vem?
Greer olhou para Peter com as sobrancelhas erguidas.
– Tudo bem – disse Peter. – Alguém precisa cuidar dele.
Os dois partiram. Peter pigarreou e continuou:
– O importante é sobrevivermos a esta noite. Espero que cada pessoa em condições esteja no muro, mas precisamos de abrigo para os outros. Ford?
Chase se levantou, foi até a mesa de Peter e voltou com um papel enrolado num tubo, que ele desenrolou na mesa e prendeu com pesos nos cantos.
– Esta é uma das plantas originais dos construtores. Caixas-fortes foram montadas aqui – ele apontou –, aqui e aqui. Todas as três datam dos primeiros dias da cidade, e nenhuma é usada há décadas, desde a Incursão de Páscoa. Não acho que estejam em boas condições, mas com alguns reforços podemos usá-las numa situação de aperto.
– Quantas pessoas podemos colocar nelas? – perguntou Peter.
– Não muitas, no máximo algumas centenas. Agora, aqui – continuou ele – você tem o hospital, que pode abrigar... ah, talvez mais cem. Outra caixa, menor, fica embaixo deste prédio, é o velho cofre do banco. Cheio de arquivos e outros lixos, mas basicamente está em boas condições.
– E os porões?
– Não existem muitos. Uns poucos embaixo de prédios comerciais, em alguns prédios de apartamentos, e podemos garantir com segurança que existem alguns em mãos particulares. Mas pelo modo como a cidade foi feita, quase tudo é construído sobre sapatas ou colunas. O solo perto do rio é principalmente de argila, de modo que não existem porões. Isso vai desde a Cidade-H até o muro sul.
Não era bom, pensou Peter. Até agora ele conseguia abrigar menos de mil pessoas.
– Bom, aqui está o vovô.
Chase atraiu a atenção de todos para o orfanato, marcado com um “HB1”.
– Quando transferiram o governo de Austin, um dos motivos para escolherem Kerrville foi por causa disso. Enquanto os muros eram construídos, eles precisavam de um local seguro para abrigar os trabalhadores e o resto do governo durante a noite. Essa parte da cidade fica em cima de uma grande formação de calcário e é cheia de bolsões. O maior fica embaixo do orfanato, e é fundo, pelo menos 10 metros abaixo da superfície. Segundo os velhos registros, foi originalmente usado pelas irmãs como parte da Ferrovia Subterrânea, um local para esconder escravos fugitivos antes da Guerra Civil.
– E como descemos até lá? – perguntou Apgar.
– Fui olhar hoje cedo. O alçapão fica sob as tábuas do piso da área de jantar. Há uma escada de madeira, bem precária, mas utilizável, que leva à caverna. É úmida feito um túmulo, mas é grande. Se atulharmos as pessoas lá, ela pode abrigar pelo menos mais quinhentas.
Chase levantou os olhos.
– Agora, antes que qualquer um pergunte, eu examinei os dados do censo ontem à noite. É só uma estimativa, mas é aqui que as coisas se quebram. Dentro dos muros temos cerca de 1.100 crianças com menos de 13 anos. Sem contar os militares, o resto se divide mais ou menos igualmente em termos de sexo, mas a população está envelhecendo. Temos um bocado de gente com mais de 60 anos. Algumas vão querer lutar, mas não creio que sejam de muita ajuda, francamente.
– E o resto? – perguntou Peter.
– De resto temos cerca de 1.300 homens em idade para lutar. Mais ou menos o mesmo número de mulheres, talvez um pouquinho menos. É seguro presumir que algumas mulheres optarão por defender o muro, e não há motivo para não ajudarem. O problema é armamento. Só temos armas para cerca de quinhentos civis. Provavelmente há armas suficientes espalhadas por aí, mas não há como saber quantas. Vamos ter de esperar para ver o que aparece quando chegar a hora.
Peter olhou para Apgar.
– E munição?
O general franziu a testa.
– A coisa não é muito boa. A noite passada custou um bocado. Temos talvez 20 mil balas de vários calibres, na maioria de 9 mm, calibre 45 e 46. Um bocado de cartuchos de espingarda, mas só são bons de perto. Para as armas grandes só temos umas 10 mil balas calibre 50. Se os dracs atacarem o portão, nossa munição não vai durar muito.
A situação ficou clara de modo desconcertante: talvez mil defensores no muro, munição suficiente para durar no máximo alguns minutos, caixas-fortes para mil, e 2 mil civis desarmados sem ter onde se esconder.
– Tem de haver algum lugar para colocarmos as pessoas – disse Peter. – Alguém me dê alguma coisa.
– Na verdade – observou Chase –, tenho uma ideia.
Ele abriu outro mapa: uma planta da represa.
– Podemos usar os tubos de drenagem. São seis, cada um com 30 metros de comprimento, de modo que talvez caibam cento e cinquenta pessoas em cada um. As aberturas rio abaixo são fechadas com barras; nenhum viral jamais entrou. O único acesso acima é através da represa, e há três portas pesadas entre os tubos e o lado de fora. A beleza da coisa é que, mesmo se os dracs atravessarem o muro, não há motivo para pensarem em olhar lá. As pessoas dentro estariam completamente escondidas.
Fazia sentido.
– Ford, acho que você acaba de merecer seu salário. Gunnar?
Apgar franziu os lábios e assentiu.
– É uma excelente ideia.
– Mais alguém?
Um murmúrio de concordância soou ao redor.
– Bom, está resolvido. Chase, você controla o lado civil. Precisamos começar a levar as pessoas para os abrigos quanto antes, sem correrias de última hora. Sara, quantos pacientes você tem no hospital?
– Não muitos. Uns vinte.
– Podemos usar a caixa-forte do porão para as pessoas que sobrarem, além das caixas-fortes no lado oeste da cidade. Gunnar, vou precisar de um destacamento de segurança em todas elas. Só crianças, além de mães com filhos pequenos. Mas nenhum homem. Se eles conseguem andar, conseguem lutar.
– E se não quiserem?
– Lei marcial é lei marcial. Se não aceitarem seu conselho, eu apoio sua decisão, mas não queremos agitar as coisas.
Apgar assentiu.
– O resto que não quiser lutar deve ir para os tubos. Quero todos os civis abrigados às dezoito horas, mas vamos fazer isso de modo ordeiro, para manter o pânico num nível mínimo. Coronel, supervisione a reunião da força civil. Mande dois esquadrões de casa em casa e requisite quaisquer armas adicionais. As pessoas podem ficar com um fuzil ou uma pistola. Qualquer arma extra vai para o arsenal, para ser distribuída. A partir deste momento qualquer arma de fogo que funcione é propriedade dos militares do Texas.
– Vou cuidar disso – disse Henneman.
Peter se dirigiu ao grupo:
– Não sabemos quanto tempo vamos ter de segurá-los, pessoal. Podem ser minutos, podem ser horas, pode ser a noite toda. Eles podem não atacar, só ficar esperando. Mas se os dracs entrarem, o orfanato é nossa posição de recuo. Vamos proteger as crianças. Está claro?
Todos assentiram em silêncio.
– Então vamos suspender a reunião. Quero todo mundo de volta aqui às três da tarde. Gunnar, fique um minuto. Preciso trocar uma palavrinha com você.
Os dois esperaram enquanto a sala se esvaziava. Apgar, com os cotovelos na mesa, olhou Peter por cima dos dedos cruzados.
– O que é?
Peter se levantou e foi até a janela. A praça estava silenciosa, sem ninguém por perto, tudo calmo no calor de verão. Onde estava todo mundo? Provavelmente escondido em casa, pensou Peter, com medo de sair.
– Precisaremos cuidar do Fanning – disse. – De outro modo isso nunca vai terminar.
– Esta seria a parte da conversa em que você me diz que vai a Nova York.
Peter se virou.
– Vou precisar de um pequeno contingente, digamos duas dúzias de homens. Podemos usar os portáteis para ir até o norte, a Texarkana, talvez um pouco mais além, antes de ficarmos sem combustível. A pé, devemos chegar a Nova York no inverno.
– É suicídio.
– Já fiz isso antes.
Apgar o encarou.
– E teve uma puta de uma sorte, se me perdoa a palavra. Não importa que você esteja trinta anos mais velho e que Nova York fique a 3 mil quilômetros. Segundo Donadio, o lugar está apinhado de dracs.
– Vou levar Alicia. Ela conhece o território, e os virais não vão atacá-la.
– Depois do desempenho de ontem à noite? Você não está falando sério.
– A cidade não vai suportar se não o atacarmos. Cedo ou tarde o portão vai cair.
– Não discordo. Mas atacar Fanning com duas dúzias de soldados não me parece um grande plano.
– O que você sugere? Entregarmos Amy?
– Você deveria me conhecer melhor. Além disso, assim que a entregarmos a Donadio, ficamos sem nada. Sem nenhuma carta para jogar.
– Então o quê?
– Bom, você já pensou mais no barco do Fisher?
Peter ficou sem fala.
– Não me entenda mal – continuou Apgar. – Não confio nem um pouco no sujeito, e fico feliz que você o tenha chutado para fora daqui. Não tolero divisão nas fileiras, e ele estava fora da linha. Além disso, não sei sequer se aquela coisa vai flutuar.
– Não acredito no que estou ouvindo.
Apgar deixou um momento passar.
– Sr. Presidente. Peter. Sou seu conselheiro militar. Além disso, sou seu amigo. Conheço você, sei como pensa. Esse modo de pensar lhe serviu bem, mas a situação é diferente. Se fosse por mim, eu diria: claro, vamos cair dançando. O gesto pode ser simbólico, mas o simbolismo é importante para os velhos cavalos de batalha como nós. Odeio essas coisas, sempre odiei. Mas, segundo qualquer avaliação, isso não vai terminar bem. Gostando ou não, você é o último presidente da República do Texas. Isso praticamente o deixa responsável pelo destino da raça humana. Talvez Fisher esteja cheio de merda. Você conhece o cara, portanto você é que sabe. Mas setecentos é melhor do que nada.
– Este lugar vai se desfazer. De jeito nenhum poderemos montar uma defesa coerente.
– É, provavelmente.
Peter se virou de volta para a janela. Estava mesmo um silêncio medonho lá fora. Teve a sensação inquietante de observar a cidade num futuro distante: construções vazias e abandonadas, folhas mortas rolando nas ruas, cada superfície sendo lentamente reivindicada pelo vento, a poeira e os anos – o silêncio permanente de vidas interrompidas, todas as vozes desaparecidas.
– Não que eu esteja questionando – disse ele – mas esse negócio de usar meu primeiro nome vai virar hábito?
– Quando eu precisar, sim.
Abaixo dele, na praça, surgiu um grupo de garotos. O mais velho não teria mais de 10 anos. O que estavam fazendo ali fora? Então Peter entendeu a situação: um dos garotos tinha uma bola. No centro da praça ele a jogou no chão e chutou, fazendo o resto correr atrás. Dois caminhões de cinco toneladas chegaram à praça; soldados desembarcaram e começaram a montar uma fila de mesas. Outros estavam tirando caixotes de armas e munições para distribuir entre os civis mobilizados. Os garotos mal prestaram atenção, perdidos no jogo, que parecia não ter qualquer estrutura formal: nenhuma regra nem fronteiras, nenhum objetivo ou modo de fazer uma contagem de pontos. Quem ficasse com a bola tentava mantê-la longe dos outros, até ser suplantado por um colega, assim recomeçando a perseguição louca. Os pensamentos de Peter o levaram para muitos anos antes, primeiro para as disputas que divertiam Caleb e seus amigos durante horas e sua contagiante energia juvenil – só mais cinco minutos, pai, ainda tem bastante luz, por favor, só mais uma partida –, e então sua própria infância: aquele período breve, inocente, em que ele tinha existido em esquecimento total, fora do fluxo da história e do peso acumulado da vida.
Deu as costas para a janela.
– Você se lembra do dia em que Vicky me chamou para oferecer um emprego?
– Na verdade, não.
– Quando eu estava saindo, ela me chamou de volta. Perguntou sobre Caleb, quantos anos ele tinha. Disse, e acho que me lembro bem: “É pelas crianças que estamos fazendo isso. Nós teremos partido muito antes, mas nossas decisões vão determinar o tipo de mundo em que elas vão viver.”
Apgar assentiu lentamente.
– Pensando bem, talvez eu me lembre. Ela era uma velha esperta, preciso admitir. Foi uma manipulação magistral.
– Eu não tinha chance de recusar. Era só uma questão de tempo até me render.
– E o que você está querendo dizer com isso agora?
– Quero dizer que esse terreno não nos pertence, Gunnar. Pertence a elas. A Primeira Colônia estava morrendo. Todo mundo tinha desistido. Mas aqui, não. Foi por isso que Kerrville sobreviveu tanto tempo. Porque as pessoas daqui se recusaram a morrer em silêncio.
– Estamos falando da sobrevivência da nossa espécie.
– Sei que estamos. Mas precisamos merecer o direito, e abandonar 3 mil pessoas para salvar setecentas não é uma equação que eu aceite. De modo que talvez tudo termine aqui. Esta noite, mesmo. Mas esta cidade é nossa. Este continente é nosso. Se nós fugirmos, Fanning vence, o que quer que aconteça. Vicky diria o mesmo.
Houve um momento de impasse, os dois se entreolhando. Depois:
– É um belo discurso – disse Apgar.
– É, aposto que você não sabia que eu era um pensador profundo.
– Então é isso?
– É isso. É minha palavra final. Nós ficamos e lutamos.
SESSENTA E QUATRO
Sara desceu a escada do porão. Grace estava no fim da segunda fila de camas, sentada, com o bebê no colo. Parecia cansada, mas também aliviada. Deu um pequeno sorriso quando Sara se aproximou.
– Ele está meio agitado – disse ela.
Sara pegou o bebê, colocou-o na cama ao lado e desenrolou a manta para examiná-lo. Era um menino grande e saudável, com cabelo preto encaracolado. O coração batia alto e forte.
– Vamos chamá-lo de Carlos, como o meu pai – disse Grace.
Durante a noite, Grace tinha contado a história a Sara. Quinze anos antes seus pais haviam se mudado para os distritos, estabelecendo-se em Boerne. Mas Carlos teve pouca sorte como agricultor e foi obrigado a pegar um emprego com as equipes do telégrafo, deixando a família sozinha durante meses seguidos. Quando morreu ao cair de um poste, Grace e a mãe – os dois irmãos mais velhos tinham se mudado muito antes – voltaram a Kerrville para morar com parentes. Mas foi uma vida dura, e a mãe também tinha morrido, mas disso Grace não deu detalhes. Com 17 anos, foi trabalhar num bar ilegal – mostrou-se vaga com relação ao serviço, e Sara não fez perguntas – e foi assim que conheceu Jock. Não era um começo auspicioso, mas Grace garantiu que os dois estavam muito apaixonados. Quando ela engravidou, Jock fez a coisa honrada.
Sara enrolou o bebê de novo e o devolveu à mãe, assegurando-lhe que tudo estava bem.
– Ele vai reclamar um pouco até seu leite chegar. Não se preocupe, não significa nada.
– O que vai acontecer com a gente, Dra. Wilson?
A pergunta parecia ampla demais.
– Você vai cuidar do seu filho, é isso.
– Ouvi falar da tal mulher. Dizem que ela é uma espécie de viral. Como pode ser?
Sara foi apanhada desprevenida – mas, claro, as pessoas não deixariam de falar.
– Talvez seja, não sei.
Pôs a mão no ombro de Grace.
– Tente descansar. O exército sabe o que está fazendo.
Encontrou Jenny no depósito, fazendo um inventário dos suprimentos: bandagens, velas, cobertores, água. Mais caixas tinham sido trazidas do primeiro andar e empilhadas junto à parede. Sua filha, Hannah, estava ajudando – uma garota de 13 anos, sardenta e de olhos de um verde desconcertante, com pernas longas, de potro.
– Querida, será que eu podia trocar uma palavrinha com a sua mãe? Vá ver se precisam de alguma coisa lá em cima.
A garota as deixou a sós. Rapidamente, Sara revisou o plano.
– Quantas pessoas você acha que podemos colocar aqui? – perguntou.
– Umas cem. Mais, se a gente apertar, acho.
– Vamos colocar uma mesa na porta da frente, para fazer a contagem. Nenhum homem entra, só mulheres e crianças.
– E se eles tentarem?
– O problema não é nosso. Os militares cuidam disso.
Sara examinou mais quatro pacientes – o menino com pneumonia; uma mulher de 40 e poucos anos que tinha chegado com problemas respiratórios e que ela temera que fosse um ataque cardíaco, mas não passava de pânico; duas menininhas, gêmeas, que tinham chegado à noite com diarreia aguda e febre –, depois voltou ao primeiro andar a tempo de ver dois caminhões de cinco toneladas chegarem rugindo. Saiu para encontrá-los.
– Sara Wilson?
– Isso mesmo.
O soldado se virou para o primeiro caminhão.
– Certo, comecem a descarregar.
Movendo-se em pares, os soldados começaram a carregar sacos de areia para a entrada. Simultaneamente, dois Humvees com metralhadoras calibre 50 presas no teto deram marcha a ré até o prédio e assumiram posições de flanco dos dois lados da porta. Sara olhou entorpecida; a estranheza de tudo aquilo a incomodava.
– Pode me mostrar as outras entradas? – perguntou o sargento.
Sara o levou até as portas dos fundos e laterais. Soldados chegaram com placas de compensado e começaram a pregá-las nos batentes.
– Isso aí não vai manter um drac do lado de fora – disse Sara.
Eles estavam na frente do prédio, onde mais placas de compensado estavam sendo usadas para cobrir as janelas.
– Não são para os dracs.
Meu Jesus, pensou ela.
– A senhora tem uma arma?
– Isto é um hospital, sargento. Não deixamos armas largadas por aí.
Ele foi até o primeiro caminhão e voltou com um fuzil e uma pistola. Estendeu-os.
– Escolha.
Tudo na oferta dele ia contra a lógica; um hospital ainda significava alguma coisa. Então ela pensou em Kate.
– Certo, a pistola – disse, enfiando-a na cintura.
– Já usou uma antes? – perguntou o sargento. – Posso lhe ensinar o básico.
– Não será necessário.
Na cadeia, Alicia avaliava a força das correntes.
O parafuso na parede era insignificante – um puxão forte bastaria – mas as algemas eram um problema. Eram feitas de algum tipo de liga endurecida. Provavelmente tinham vindo do bunker de Tifty; o sujeito havia transformado a contenção de virais numa ciência. De modo que, mesmo que se livrasse da parede, ainda estaria amarrada feito um porco no matadouro.
A ideia de dormir a atraiu. Não apenas para obliterar o tempo, mas para afastar os pensamentos. Mas seus sonhos, sempre os mesmos, não eram algo que ela quisesse revisitar: a cidade muito iluminada dissolvendo-se em escuridão; os gritos felizes de vida interior desfazendo-se, depois sumindo; a porta implacável desaparecendo.
E havia a outra questão: Alicia não estava sozinha.
O sentimento era sutil, mas dava para saber que Fanning continuava ali: uma espécie de zumbido baixo no cérebro, mais tátil do que auditivo, como uma brisa passando na superfície da mente. Isso a deixava com raiva, nauseada e cansada, pronta para acabar com tudo.
Saia da minha cabeça, droga. Não fiz o que você pediu? Deixe-me em paz!
A comida prometida não apareceu. Peter tinha esquecido, ou então decidido que uma Alicia com fome era mais segura do que uma alimentada. Poderia ser uma tática para deixá-la maleável: A comida está vindo. Ora, não, não está. De qualquer modo se sentia perversamente satisfeita; parte dela ainda odiava aquilo. No momento em que as mandíbulas se cravavam em carne, com o sangue quente espirrando no palato, um coro de repulsa irrompia em sua cabeça: Que diabo você está fazendo? Mas ela sempre bebia até se fartar, absolutamente enojada consigo mesma, sentava-se de volta nos calcanhares e deixava a lassidão engolfá-la.
As horas se moviam lentamente, até que, por fim, a porta se abriu.
– Surpresa.
Michael entrou. Havia uma pequena gaiola de metal junto ao seu peito.
– Cinco minutos, Fisher – disse o guarda, e fechou a porta com força.
Michael pôs a gaiola no chão e sentou-se na cama, virado para ela. Na gaiola havia um coelho marrom.
– Como você entrou? – perguntou Alicia.
– Ah, eles me conhecem muito bem por aqui.
– Você os subornou.
Michael pareceu satisfeito.
– Por acaso um pouco de dinheiro trocou de mãos, sim. Mesmo nesses tempos conturbados um cara precisa pensar na família. Além disso, ninguém mais teve coragem de trazer seu desjejum.
Ele assentiu na direção da gaiola.
– Parece que a trouxinha de pelos é o bichinho de alguém. O nome dele é Otis.
Alicia deu uma boa e longa olhada em Michael. O garoto que ela havia conhecido não existia mais, substituído por um homem de meia-idade com tendões fortes, compacto e competente. O rosto tinha uma aparência cinzelada, sem nenhum desperdício. Mas os olhos ainda possuíam o jeito alerta, brilhante, ocupado. Havia um aspecto mais sombrio neles, mais conhecedor: os olhos da experiência, de um homem que tinha visto coisas na vida.
– Você mudou, Michael.
Ele deu de ombros descuidadamente.
– É uma coisa que ouço um bocado.
– Como tem se virado?
– Ah, você me conhece – brincou, sorrindo. – Basta manter as luzes acesas.
– E Lore?
– Não posso dizer que deu certo.
– Sinto muito.
– Você sabe como é. Eu fiquei com os vasos de plantas, ela com a casa. Foi pelo bem de todos, verdade.
Ele inclinou a cabeça para o chão de novo, onde o coelho engaiolado mexia as bochechas, ansioso.
– Não vai comer?
Ela queria muito. O cheiro inebriante de carne quente, de vida quente. O chiado e o latejar do sangue do animal nas veias, como se ela encostasse uma concha do mar no ouvido: a ansiedade era intensa.
– Não é bonito de ver – disse. – Provavelmente é melhor eu esperar.
Durante vários segundos os dois apenas se olharam.
– Obrigada por me defender ontem à noite – disse Alicia.
– Não precisa agradecer. Peter estava fora de si.
Ela examinou o rosto dele.
– Por que você não me odeia, Michael?
– Por que odiaria?
– Todo mundo parece odiar.
– Então acho que não sou todo mundo. Pode-se dizer que também não tenho muitos fãs por aqui.
– Acho difícil acreditar.
– Ah, acredite. Tenho sorte de não estar morando num cômodo aí no corredor.
Um sorriso incontido surgiu nos lábios dela. Era bom conversar com um amigo.
– Parece interessante.
– Essa é uma boa palavra para definir.
Ele juntou as pontas dos dedos das mãos, como se quisesse apresentar um argumento.
– Eu sempre soube que você estava por aí, Lish. Talvez os outros tenham desistido de você. Eu nunca desisti.
– Obrigada, Circuito. Isso significa muito para mim.
Ele riu.
– Bom, como foi você que falou, vou deixar o apelido passar.
– Converse com ele, Michael.
– Já dei minha opinião.
– O que ele vai fazer?
Michael deu de ombros.
– O que o Peter sempre faz. Atirar-se no problema até resolvê-lo a pancada. Adoro o cara, mas ele é igual a um boi.
– Desta vez não vai dar certo.
– Não.
Ele a olhava com atenção – se bem que, diferentemente de Peter, seu olhar não tinha suspeitas. Ela era uma confidente, uma colega conspiradora, uma parte confiável de seu mundo. Os olhos dele, seu tom de voz, o modo como seu corpo ocupava o espaço: tudo irradiava uma força inegável.
– Pensei um bocado em você, Lish. Por muito tempo acreditei que estava apaixonado por você. Quem sabe? Talvez ainda esteja. Espero que isso não a deixe sem graça.
Alicia ficou perplexa.
– Pela sua expressão, vejo que isso é surpresa. Receba como um elogio, porque foi essa a minha intenção. O que estou dizendo é que você importa demais para mim, sempre importou. Quando apareceu ontem à noite, eu percebi uma coisa. Quer saber o que foi?
Alicia confirmou com a cabeça, ainda sem palavras.
– Percebi que estava esperando você o tempo todo. Não só esperando. Desejando.
Ele fez uma pausa.
– Você se lembra da última vez que nos vimos? Foi no dia em que você me visitou no hospital.
– Claro que me lembro.
– Durante um tempo enorme fiquei pensando: por que eu? Por que Alicia me escolheu, dentre todas as pessoas, justo nesse momento? Eu imaginava que seria o Peter. A resposta me veio quando pensei numa coisa que você disse sobre mim. “Algum dia, quando a gente precisar, ele vai salvar a nossa pele.”
– Estávamos falando sobre quando éramos crianças.
– Isso mesmo. Mas estávamos falando sobre muito mais do que isso.
Ele se inclinou para a frente.
– Mesmo naquela época você sabia, Lish. Talvez não soubesse. Mas sentia, sentia a forma das coisas, como eu. Como sinto agora, sentado aqui vinte anos depois, falando com você numa cela. Bom, o “porquê” é outra questão. Não tenho resposta para isso e parei de perguntar. Quanto a como isso tudo vai se desenrolar, sei tanto quanto você. Dada a direção geral das últimas 24 horas, não estou especialmente otimista. Mas, de qualquer modo, não posso fazer isso sem você.
O som da chave na fechadura; o guarda apareceu junto à porta.
– Fisher, eu disse cinco minutos. Você precisa sair daqui.
Michael enfiou a mão no bolso da camisa e balançou um maço de notas por cima do ombro, sem ao menos se incomodar em olhar enquanto o guarda o pegava e saía, carrancudo.
– Meu Deus, como eles são idiotas – suspirou. – Acham mesmo que o dinheiro vai valer alguma coisa amanhã a essa hora?
Ele enfiou a mão no bolso de novo e tirou uma folha de papel.
– Tome, pegue isto.
Alicia o abriu: era um mapa, desenhado rapidamente por Michael.
– Quando chegar a hora, siga a estrada de Rosenberg para o sul. Logo depois da guarnição vai chegar a uma antiga fazenda com um tanque d’água à esquerda. Pegue a estrada depois dela e siga direto para o leste, 83 quilômetros.
Alicia levantou a cabeça. Havia algo novo nos olhos dele: uma espécie de selvageria, quase maníaca. Por trás do exterior controlado de Michael, de sua aura de força serena, havia um homem incendiado pela crença.
– Michael, o que há no fim dessa estrada?
Sozinha de novo, Alicia deixou a mente vaguear. Então havia uma mulher para Michael, afinal de contas. Seu navio, seu Bergensfjord.
Nós somos os exilados, tinha dito ele ao se despedir. Somos os que entendem a verdade e sempre entenderam; esta é a nossa dor na vida. Como ele a conhecia bem!
O coelho a olhava desconfiado. Seus olhos pretos, sem piscar, brilhavam como gotas de tinta: nas superfícies curvas Alicia podia ver o fantasma do próprio rosto refletido, um eu de sombra. Percebeu que estava com as bochechas molhadas; por que não conseguia parar de chorar? Foi até a gaiola, abriu a porta e enfiou a mão dentro. A pele macia encheu sua mão. O coelho não fez qualquer tentativa de escapar. Era manso, um bicho de estimação, como Michael tinha dito, ou estava apavorado demais para reagir. Ela soltou o animal e o colocou no colo.
– Tudo bem, Otis – disse. – Sou sua amiga.
E ficou assim, acariciando o pelo macio, por um longo tempo.
SESSENTA E CINCO
Passos e o ranger da porta se abrindo: Amy abriu os olhos.
Olá, Pim.
Ela parou junto à porta. Era alta, com rosto oval e olhos expressivos, e usava um vestido simples de algodão azul. Por baixo das dobras macias, sua barriga se avolumava com a gravidez.
Que bom que você voltou para me ver, sinalizou Amy.
Uma expressão de incerteza profunda, e Pim veio para perto da cama.
Posso?, perguntou Amy.
Pim confirmou. Amy pôs a palma da mão no tecido curvo. A força ali dentro, sendo tão nova, exalava um puro sentimento de vida – se fosse uma cor, seria o branco das nuvens de verão –, mas também estava cheia de perguntas. Quem eu sou? O que eu sou? Isso é o mundo? Eu sou tudo ou só uma parte?
Mostre o resto, sinalizou Amy.
Pim sentou-se na cama, virada para o outro lado. Amy soltou os botões do vestido dela e puxou o tecido de lado. As riscas nas costas, as queimaduras – estavam desbotadas, mas não apagadas. O tempo havia lhes dado uma qualidade de cristas e sulcos, como raízes correndo por baixo do solo. Amy passou as pontas dos dedos pela extensão das marcas. Nos lugares intocados a pele de Pim era macia, com um calor pulsante, mas os músculos eram duros por baixo, como se forjados pela dor lembrada.
Amy abotoou o vestido. Pim girou no colchão para encará-la.
Sonhei com você, sinalizou Pim. Sinto que a conheço a vida toda.
E eu sinto que conheço você.
Os olhos de Pim estavam cheios de emoção inexprimível. Mesmo quando...
Amy pegou as mãos dela para acalmá-las. Sim, respondeu. Mesmo naquela época.
Pim tirou um caderno do bolso do vestido. Era pequeno, mas tinha a grossura de papel pergaminho rígido costurado junto. Trouxe isso para você.
Amy o pegou e abriu a capa de couro macio. Ali estavam, página após página. Os desenhos. As palavras. A ilha com suas cinco estrelas.
Quem mais viu isso?, sinalizou ela.
Só você.
Nem o Caleb?
Pim balançou a cabeça. Uma película de lágrima cobria a superfície dos seus olhos. Ela parecia completamente sobrecarregada, para além das palavras. Como sei essas coisas?
Amy fechou o caderno. Não sei dizer.
O que significa?
Acho que significa que você vai viver, que seu bebê vai viver. Uma pausa, depois: Você me ajuda?
Na sala, ela encontrou papel e uma caneta. Escreveu o bilhete, dobrou e deu a Pim, que saiu rapidamente. Sozinha de novo, Amy foi ao banheiro no corredor. Acima da pia havia um pequeno espelho redondo. As mudanças ocorridas em sua pessoa tinham sido mais sentidas do que observadas; ela ainda não tinha se visto. Foi até o espelho. O rosto que viu não parecia seu, no entanto era também a pessoa que ela sentira ser durante muito tempo: uma mulher de cabelos escuros, rosto bem esculpido mas não totalmente anguloso, pele clara e sem manchas, olhos profundos. O cabelo era curto, como o de um garoto, mostrando as curvas do crânio, e eriçado ao toque, como a extremidade de uma vassoura. O reflexo possuía um ar comum inquietante: ela poderia ser qualquer pessoa, apenas mais uma mulher na multidão. No entanto, era dentro desse rosto, desse corpo, que residiam todos os seus pensamentos e percepções – seu senso de individualidade. A ânsia de estender a mão e tocar o espelho era forte, e ela se permitiu isso. Quando o dedo fez contato com o vidro, com o reflexo reagindo do mesmo modo, aconteceu uma mudança. Esta é você, disse sua mente. Esta é a única Amy verdadeira.
Estava na hora.
Aquietar a mente, levá-la a uma condição de imobilidade absoluta – esse era o truque. Amy gostava de usar um lago. Esse corpo d’água não era imaginário; era o lago no Oregon onde Wolgast, nos primeiros dias que passaram juntos acampados, a havia ensinado a nadar.
Fechou os olhos e se obrigou a ir até lá. Gradualmente, a cena surgiu em seus pensamentos. O início da noite e as primeiras estrelas atravessando um céu preto-azulado. A parede de sombras onde os altos pinheiros, de fragrância intensa, se erguiam, soberanos, no litoral rochoso. A água em si, fria, límpida e de gosto afiado, a macia cobertura de agulhas de pinheiro atapetando o fundo. Nessa construção mental, Amy era ao mesmo tempo o lago e quem nadava nele. Ondulações se moviam pela superfície de acordo com seus movimentos. Ela respirou e mergulhou num mundo invisível. Quando o fundo apareceu, começou a se mover ao longo dele com um movimento suave, deslizante. Lá em cima, as ondulações de seu mergulho se dispersavam de forma concêntrica pela superfície. Quando as últimas dessas agitações tocassem na margem e a superfície do lago voltasse ao equilíbrio perfeito, o estado que ela exigia seria alcançado.
As ondulações tocaram. O lago se imobilizou.
Pode me ouvir?
Silêncio. Depois:
Sim, Amy.
Acho que estou pronta, Anthony. Acho que finalmente estou pronta.
Michael esperara junto ao portão durante quase uma hora. Onde diabo estava Lucius? Eram quase dez e meia da manhã; o tempo estava apertado. Homens soldavam braçadeiras pesadas para colocar traves de ferro atravessando o portão. Outros martelavam folhas de metal galvanizado na face externa. Se Greer não aparecesse logo, eles ficariam trancados ali dentro, como todo mundo.
Por fim Greer apareceu, vindo de fora e passando rapidamente pela porta pequena. Subiu na picape e assentiu na direção do para-brisa.
– Vamos.
– Ela está se enganando.
Greer o encarou: não entre nessa.
Michael ligou o motor, inclinou a cabeça para fora da janela e gritou para o capataz da equipe de trabalho:
– Vou passar!
Como o homem não reagiu, ele apertou a buzina.
– Ei! Precisamos sair!
Isso atraiu a atenção do capataz, que foi até a janela do motorista.
– Por que diabo você está buzinando?
– Diga para esses caras saírem do caminho.
Ele cuspiu no chão.
– Ninguém deve sair. Nós estamos trabalhando aqui.
– É, bom, isso não se aplica a nós. Diga para eles se mexerem ou vão ser atropelados. O que vai ser?
O homem parecia a ponto de dizer alguma coisa, mas se conteve. Virou-se de novo para o portão.
– Certo, abram caminho para esse cara.
– Muito obrigado – disse Michael.
O capataz cuspiu de novo.
– O enterro é seu, babaca.
Seu também, pensou Michael.
SESSENTA E SEIS
16h30: os últimos evacuados estavam sendo instalados na represa; as caixas-fortes estavam cheias; os poucos civis convocados que restavam esperavam ordens. Tinha havido alguns incidentes – algumas prisões, até alguns tiros disparados –, mas a maioria das pessoas via o bom senso do que era pedido. Era a vida delas que estava em jogo.
Porém resolver a situação dos convocados estava demorando mais do que esperavam. Filas compridas, confusão com relação a armas e quem prestava contas a quem, à distribuição de equipamentos e à delegação de tarefas: Peter e Apgar tentavam montar um exército em metade de um dia. Alguns mal sabiam segurar uma arma, quanto mais carregar e disparar. A munição era escassa, mas uma área de tiros tinha sido montada na praça; sacos de areia recebiam as balas. Um curso rápido para os não iniciados: três tiros, bons ou rins, e iam para o muro.
Restavam apenas algumas armas, só pistolas. Os fuzis tinham ido todos, a não ser uns poucos que ficariam de reserva. Os ânimos estavam exaltados; todo mundo tinha ficado ao sol durante horas. Peter se posicionava ao lado da mesa da organização com Apgar, olhando os últimos homens a passar. Hollis verificava os nomes.
Um homem se aproximou da mesa – 40 e poucos anos, magro como alguém cuja vida não tinha sido fácil, com testa alta e curva e antigas marcas de espinhas nas bochechas. Um fuzil de caça pendia no ombro. Peter levou um momento para reconhecê-lo.
– Jock, não é?
O sujeito assentiu – um tanto sem graça, pensou Peter. Vinte anos tinham se passado, mas Peter sabia que a lembrança daquele dia no telhado ainda o afligia.
– Acho que nunca lhe agradeci de verdade, presidente.
Apgar olhou para Peter.
– O que você fez?
– Ele salvou minha vida, foi isso – disse, depois se voltou para Peter: – Nunca esqueci. Votei no senhor nas duas vezes.
– O que você fez da vida? Parou com os telhados, aposto.
Jock deu de ombros. Sua vida comum, como a de todo mundo, estava ficando no passado.
– Trabalhei principalmente como mecânico. E me casei há pouco tempo. Minha mulher teve um bebê ontem à noite.
Peter se lembrou da história de Sara. Indicou o fuzil de Jock, um calibre 30-30 de ação por alavanca.
– Vejamos sua arma.
Jock a entregou. Estava meio emperrada, com o gatilho mole e o vidro da mira arranhado e esburacado.
– Quando foi a última vez que você disparou com isto?
– Nunca. Ganhei do meu pai há anos.
Hollis levantou a cabeça.
– Não temos nenhuma 30-30.
– Quantas balas você tem para isso? – perguntou Peter a Jock.
O sujeito estendeu a mão aberta, mostrando quatro cartuchos, velhos como as montanhas.
– Essa coisa é inútil. Hollis, dê um fuzil de verdade a ele.
A arma foi trazida: um dos M16 de Tifty, novo e reluzente.
– Presente de casamento – disse Peter, entregando-o a Jock. – Apresente-se à área de treino. Vão lhe dar munição e mostrar como se usa.
Jock levantou a cabeça, apanhado desprevenido. Seu rosto estava cheio de gratidão; ninguém nunca tinha lhe dado um presente assim.
– Obrigado, senhor.
Um cumprimento rápido de cabeça e ele se afastou.
– Certo, o que foi isso? – perguntou Apgar.
O olhar de Peter acompanhou Jock enquanto ele ia para a área de treino.
– Para dar sorte – respondeu ele.
No orfanato, as últimas mulheres e crianças estavam descendo para o abrigo. Fora decidido que só mulheres com crianças de menos de 5 anos teriam permissão de acompanhar os filhos; houvera muitas cenas lacrimosas de separação, angustiantes e terríveis. Um bom número de mães declarava uma idade menor para os filhos. Nas situações em que a idade parecia próxima, Caleb as deixava passar. Simplesmente não tinha coragem de dizer não.
Caleb estava preocupado com Pim; o abrigo vinha se enchendo rapidamente. Por fim ela chegou, explicando que as crianças tinham passado a manhã na casa de Kate e Bill. Para Pim tinha sido doloroso ter recordações de Kate por toda parte, mas para as meninas fora uma distração útil: algumas horas em cômodos familiares, brincando com brinquedos familiares. Tinham pulado nas camas durante meia hora, segundo Pim.
No entanto alguma coisa não estava certa; Caleb sentia a presença de palavras não ditas. Eles estavam perto do alçapão aberto. Uma das irmãs, posicionada na plataforma abaixo, estendeu a mão para ajudar as crianças, primeiro Theo, depois as meninas. Quando chegou a vez de Pim, Caleb a segurou pelo cotovelo.
O que foi?
Ela hesitou. É, havia alguma coisa.
Pim?
Um tremor de incerteza nos olhos dela, depois ela se recompôs.
Eu te amo. Tenha cuidado.
Caleb deixou para lá. Não era hora, com o alçapão aberto e todo mundo esperando. A irmã Peg observava de lado. Caleb já havia abordado a questão de ela se juntar às crianças lá embaixo. Tenente, dissera ela com um olhar de censura, eu tenho 81 anos.
Caleb abraçou a esposa e a ajudou a descer. Quando as mãos dela seguraram o degrau de cima da escada, Pim levantou os olhos uma última vez. Um peso frio caiu dentro dele. Ela era sua vida.
Mantenha nossos filhos em segurança, sinalizou ele.
Mais crianças passaram. Então, subitamente, o abrigo estava cheio. De fora do prédio soou um grito, seguido por uma voz num megafone, ordenando que a multidão se dispersasse.
O coronel Henneman entrou no corredor.
– Jaxon, estou colocando você no comando aqui.
Era a última coisa que Caleb desejava.
– Eu seria mais útil no muro, senhor.
– Isto não está sob discussão.
Caleb sentiu que alguém interferira naquela decisão.
– Meu pai tem alguma coisa a ver com isso?
Henneman ignorou a pergunta.
– Precisaremos de homens no telhado, no perímetro, e dois esquadrões dentro. Entendido? Ninguém mais entra. Como vai conseguir isso é problema seu.
Palavras duras. Também inevitáveis. As pessoas fariam qualquer coisa para sobreviver.
SESSENTA E SETE
Michael e Greer pegaram os primeiros sobreviventes ao norte de Rosenberg, um grupo de três soldados – atordoados, famintos, as carabinas e pistolas vazias. Os virais tinham atacado o alojamento duas noites antes, segundo eles, despedaçando o local como um tornado, destruindo tudo, veículos e equipamentos, o gerador e o rádio, arrancando os tetos dos galpões pré-moldados como se estivessem abrindo latas de comida.
Havia outros. Uma mulher, uma das garotas de Dunk, com o cabelo preto com riscas de branco, andando descalça pela estrada com os sapatos bambos pendurados nas pontas dos dedos e que disse ter se escondido numa casa de bomba. Dois homens de uma equipe dos telégrafos. Um petroleiro chamado Winch – Michael se lembrava dele, dos velhos tempos – sentado com as pernas cruzadas na beira da estrada, riscando formas sem sentido no chão com uma faca de 15 centímetros e balbuciando coisas incoerentes. Seu rosto estava coberto de poeira, o macacão preto sujo de sangue seco, mas não era dele. Todos ocuparam os lugares na carroceria num silêncio atordoado, nem mesmo perguntando aonde iam.
– Essas são as pessoas mais sortudas do planeta – disse Michael. – E nem sabem disso.
Greer olhava a paisagem passar, mato seco dando lugar ao denso emaranhado da plataforma costeira. A intensidade das últimas 24 horas tinha mantido a dor a distância, mas agora, no silêncio desestruturado de seus pensamentos, ela voltava rugindo. Uma ânsia grave e onipresente de vomitar agitava suas tripas. A saliva estava grossa e com gosto de metal. A bexiga pulsava, cheia, febril e enorme. Quando pararam para pegar a mulher, Greer fora até o mato na esperança de mijar, mas só conseguira produzir um fiapo tingido de vermelho.
Ao sul de Rosenberg viraram para o leste, na direção do canal dos navios. A água lamacenta espirrava embaixo deles. Cada batida do chassi da picape na estrada esburacada provocava novas pancadas de dor. Greer queria muito tomar um gole d’água, nem que fosse para suavizar o gosto na boca, mas quando Michael pegou o cantil embaixo do banco, tomou um gole demorado e o ofereceu a ele enquanto olhava pelo para-brisa, Greer o descartou. Michael olhou para ele de esguelha – Tem certeza? – e nesse momento pareceu saber alguma coisa, ou pelo menos suspeitar. Mas como Greer não disse nada, enfiou o cantil entre os joelhos e o tampou, dando de ombros.
O ar dentro da picape mudou, depois o céu; estavam se aproximando do canal.
– Puta que pariu, eu vim daqui agora mesmo – disse a mulher.
Mais oito quilômetros e a pista elevada apareceu. Mancha e seus homens estavam esperando no gargalo. Barreiras de arame farpado tinham sido atravessadas. Quando a picape parou, Mancha veio até a janela do motorista.
– Não esperava você de volta tão cedo.
– O que Lore contou? – perguntou Michael.
– Só as partes ruins. Mas aqui não houve nenhum sinal deles – contou, depois, olhando para a traseira do veículo, emendou: – Vejo que trouxe alguns amigos.
– Onde ela está?
– No navio, acho. Rand diz que ela está deixando todo mundo maluco lá embaixo.
Michael se virou para seus passageiros.
– Vocês três – disse aos soldados –, saiam.
Eles estavam olhando em volta, perplexos.
– O que você quer que a gente faça? – perguntou um deles, o de posto mais alto, um cabo com olhos vazios como os de uma vaca e o rosto suave de um garoto de 15 anos.
– Não sei – respondeu Michael secamente. – Que sejam soldados? Atirem em coisas?
– Já disse: não temos munição.
– Mancha?
O sujeito assentiu.
– Vou dar um jeito.
– Este é Mancha – disse Michael aos três. – É o seu novo comandante.
– Vocês não são... tipo... criminosos? – perguntou o cabo.
– Neste momento, honestamente, você liga para isso?
– Venham – interveio Mancha –, sejam bonzinhos e façam o que o homem manda.
Olhando desconfiados uns para os outros, os soldados desembarcaram. Assim que Mancha e os outros tinham afastado a barreira, Michael ligou o motor e partiu pela pista elevada. Rand os encontrou no barracão, sem camisa e suados, com um trapo oleoso amarrado na cabeça.
– Qual é a nossa situação? – perguntou Michael, descendo. – Já inundaram o dique?
– Tem um problema. Lore encontrou outra seção ruim. Tem lugares fracos.
– Onde?
– Proa a estibordo.
– Porra!
Michael sinalizou na direção dos outros passageiros, que estavam de pé em grupo, olhando perplexos.
– Descubra o que fazer com essas pessoas.
– Onde você as pegou?
– Encontrei pelo caminho.
– Aquele não é Winch? – perguntou Rand, falando do sujeito que estava murmurando sozinho. – Que diabo aconteceu com ele?
– O que quer que tenha sido, não foi legal – respondeu Michael.
Os olhos de Rand ficaram sombrios.
– É verdade o que aconteceu nos distritos? Foram todos destruídos?
Michael assentiu.
– É, parece que é isso aí.
– Michael, acho que precisamos colocar mais homens na pista elevada – interrompeu Greer. – Vai escurecer em algumas horas.
– Rand, que tal?
– Acho que podemos abrir mão de alguns. Lombardi e aqueles outros caras.
– Vocês dois – disse Rand aos homens do telégrafo –, venham comigo. E você – disse à mulher –, o que você sabe fazer?
Ela arqueou as sobrancelhas.
– Quero dizer, além disso.
Ela pensou por um momento.
– Cozinhar um pouco?
– Um pouco é melhor do que o que temos. Está contratada.
Michael desceu a rampa até o navio. Um guindaste tinha sido colocado na doca, perto da proa, e seis homens estavam em cadeirinhas, pendurados junto ao costado. Na extremidade oposta do dique, homens com máscaras de soldador e luvas grossas usavam serras circulares para cortar uma placa e fazer uma peça de substituição. Fagulhas saltavam das lâminas.
Lore, parada junto à amurada, viu Michael e desceu.
– Lamento, Michael – praticamente gritou para ser ouvida acima do ruído das serras. – O momento não é ótimo, eu sei.
– Que diabo, Lore!
– Você quer que ele afunde? Porque afundaria. Não fui eu que deixei isso passar. Você deveria estar me agradecendo.
Era mais do que um atraso: era uma catástrofe. Até que o casco estivesse perfeito, não poderiam inundar a doca; enquanto não a inundassem, não poderiam ligar os motores. Só a inundação levaria mais de seis horas.
– Quanto tempo você acha que vai demorar para substituir?
– Para cortar as placas, tirar as antigas, colocar no lugar, rebitar e soldar, eu diria que no mínimo dezesseis horas.
Não havia motivo para questioná-la; não era algo que pudesse ser apressado. Ele deu meia-volta e foi andando pelo cais.
– Aonde você vai? – gritou Lore.
– Cortar um pouco de aço, porra.
SESSENTA E OITO
Eram cinco e meia; o sol iria se pôr em três horas. Por enquanto Peter tinha feito tudo o que podia. Vencera a necessidade de dormir, mas queria um momento para se recolher. Pensou em Jock enquanto andava de volta para casa. Não sentia uma ligação específica com o sujeito; ele fora um rapaz chato e teimoso que quase fizera Peter ser morto. O fuzil provavelmente seria desperdiçado com ele. Mas Peter reconhecia que o dia no telhado tinha sido um ponto de virada e acreditava em segundas chances.
A equipe de segurança havia sumido.
Peter subiu correndo a escada e entrou em casa.
– Amy? – gritou.
Silêncio, depois:
– Estou aqui.
Ela estava sentada na cama, virada para a porta, as mãos cruzadas no colo.
– Você está bem? – perguntou ele.
Ela levantou os olhos. Seu rosto havia mudado. Deu um sorriso melancólico.
Um silêncio peculiar tomou conta do quarto – não era meramente uma ausência de som, e sim algo mais profundo, mais frágil.
– É, estou bem – garantiu, depois deu um tapinha no colchão. – Venha se sentar comigo.
Ele ocupou um lugar ao lado dela.
– O que foi? O que há de errado?
Ela segurou a mão dele, sem olhá-lo. Peter sentiu que estava à beira de fazer um anúncio.
– Quando eu estava na água, fui a um lugar – disse ela. – Pelo menos minha mente foi. Não sei se consigo explicar direito. Eu era feliz demais lá.
Ele percebeu o que ela estava dizendo.
– A fazenda.
O olhar dela encontrou o dele.
– Também estive lá.
Estranhamente ele não ficou surpreso; as palavras vinham esperando para ser ditas.
– Eu tocava piano.
– É.
– E nós estávamos juntos.
– É. Estávamos. Só nós dois.
Como era bom dizer isso, pronunciar essas palavras. Saber que ele não estava sozinho com os sonhos, afinal de contas, que havia alguma realidade naquilo, se bem que não pudesse saber que realidade era, só que existia. Ele existia. Amy existia. A fazenda, e a felicidade dos dois naquele lugar, existia.
– Hoje de manhã você me perguntou por que fui até você em Iowa. Não contei a verdade. Ou pelo menos não toda.
Peter esperou.
– Quando a gente muda, pode guardar uma coisa, uma lembrança. Só uma, da vida inteira. O que está mais próximo do coração.
Ela levantou os olhos.
– O que eu queria guardar era você – revelou.
Ela estava chorando, só um pouquinho: lágrimas pequenas, como joias, suspensas nas pontas dos cílios, como gotas de orvalho nas folhas.
– Peter, pode fazer uma coisa por mim?
Ele assentiu.
– Por favor, me beije.
Ele beijou. Não tanto beijou quanto caiu no mundo dela. O tempo ficou mais lento, parou, moveu-se num círculo sem pressa ao redor dos dois, como ondas em volta de um cais. Sentiu-se em paz. Seus sentidos voavam. Sua mente estava em dois lugares, neste mundo e também no outro: o mundo da fazenda, um lugar para além do espaço, do tempo, onde só os dois residiam.
Separaram-se. Os rostos estavam a centímetros um do outro. Amy segurou o rosto dele, o olhar travado no dele.
– Desculpe, Peter.
A fala era estranha. O olhar dela se aprofundou.
– Sei o que você planeja fazer – disse ela. – Você não sobreviveria.
Algo se desfez dentro dele. Todas as forças sumiram de seu corpo. Ele tentou falar, mas não conseguiu.
– Você está cansado – disse Amy.
Ela o segurou enquanto ele caía.
Amy o colocou na cama. No outro cômodo, tirou o vestido pela cabeça e o trocou pela roupa que Greer havia trazido: calças grossas de lona com bolsos, botas de couro, camisa marrom com as mangas rasgadas e a insígnia dos Expedicionários nos ombros. Tinha um odor quente, humano – cheiro de trabalho, de vida. Quem quer que fosse o dono daquelas peças de roupa era pequeno; elas cabiam quase perfeitamente. Na varanda de trás os soldados dormiam a sono solto, como bebês, as mãos enfiadas embaixo do rosto, sem qualquer preocupação. Amy pegou gentilmente uma das pistolas e a enfiou na calça, junto à coluna.
Um silêncio profundo guardava a rua, todo mundo escondido, preparando-se para a tempestade. Enquanto Amy ia para o centro da cidade, soldados a viram, mas nenhum falou com ela; estavam com a mente em outro lugar, o que importava uma mulher? Não havia ninguém vigiando a parte de fora da cadeia. Amy foi direto até a porta e entrou.
Contou três homens. Atrás do balcão, o oficial encarregado levantou os olhos.
– Em que posso ajudá-la, soldado?
Som de chave na fechadura: Alicia levantou os olhos. Amy?
– Olá, irmã.
Alicia olhou para além dela, mas não viu ninguém. Amy estava sozinha.
– O que você está fazendo aqui?
Amy estava abrindo as algemas. Entregou óculos a Alicia.
– Explico no caminho.
Na sala externa, os guardas estavam dormindo no chão. Com as orientações de Greer, Amy e Alicia seguiram por ruas secundárias e becos cheios de lixo até a Cidade-H. Logo o muro sul apareceu. Amy entrou numa casinha, pouco mais do que um barraco. Não havia móveis. Na sala, puxou um tapete puído e revelou um alçapão com uma escada. Era um depósito usado pelo comércio, explicou Amy, mas Alicia já havia deduzido isso. Desceram para um espaço úmido e frio com cheiro de frutas podres.
– Ali – disse Amy, apontando.
As prateleiras cheias de bebida alcoólica foram puxadas, revelando um túnel. Na extremidade oposta chegaram a outra escada e, três metros acima, a um alçapão de metal engastado em concreto. Amy girou a argola e empurrou.
Estavam fora da cidade, a 100 metros do muro, num bosque. Soldado e um segundo cavalo estavam amarrados ali, pastando. Enquanto Alicia saía pelo alçapão, Soldado levantou a cabeça: Ah, aí está você.
Sua espada e as bandoleiras pendiam da sela. Alicia prendeu as facas enquanto Amy cobria o alçapão com mato.
– Você é que deveria montá-lo – disse Alicia.
Ela estava lhe estendendo a espada.
– Certo – disse Amy depois de pensar um pouco.
Ela pendurou a espada atravessada nos ombros e montou em Soldado. Alicia montou no segundo cavalo, um garanhão baio escuro, novo mas com aparência feroz. Era fim de tarde, o sol agressivo.
Partiram.
O sonho com a fazenda foi diferente. Peter estava deitado na cama. O luar enchia o quarto, fazendo com que as paredes parecessem reluzir. Os lençóis estavam frios; essa frieza o acordou. Tinha a sensação de ter dormido muito tempo.
O lado de Amy na cama estava vazio.
Chamou o nome dela. Sua voz parecia fraca no escuro, mal era uma presença. Levantou-se e foi até a janela. Amy estava no quintal, de costas para a casa. Sua postura significava alguma coisa. Pânico brotou no coração de Peter. Ela começou a andar – para longe da casa, para longe dele e da vida que conheciam, a silhueta ao luar ficando cada vez menor. Peter não conseguia se mexer nem gritar. Era como se sua alma estivesse sendo arrancada do corpo. Não me deixe, Amy...
Despertou com um susto. O coração martelava, o corpo brilhava de suor. O rosto de Apgar entrou em foco.
– Sr. Presidente, aconteceu uma coisa.
Não precisava dizer mais nada. Peter já entendera. Amy tinha ido embora.
SESSENTA E NOVE
As serras tinham silenciado; o aço fora cortado. No flanco de estibordo do navio um buraco enorme revelava os conveses escondidos e os corredores por dentro. O sol estava recuando, brilhando nas águas do canal. Refletores tinham sido acesos.
Rand estava operando o guindaste. Do piso da doca, Michael olhou a primeira placa descendo no suporte. Vozes saltavam pelo cais, outras de cima do convés, onde Lore dava ordens.
A altura necessária foi alcançada. Homens correram pela superfície, com martelos e pistolas pneumáticas balançando nos cintos, enquanto outra equipe guiava a placa por dentro. Com um estrondo, a enorme chapa de aço fez contato. Michael subiu a escada e atravessou a prancha até o convés.
– Até agora tudo bem – disse Lore.
Contra todas as probabilidades, estavam no prazo. As horas que passavam eram como um funil, atraindo-os para um único momento. Cada decisão era fundamental. Não haveria segundas chances.
Lore foi até o corrimão e gritou uma saraivada de ordens para baixo, tentando ser ouvida acima do rugido dos geradores e do gemido das pistolas pneumáticas. Michael foi para perto dela. A primeira placa estava junto ao costado. Faltavam seis.
– Quer saber como eles fizeram?
Lore o encarou com estranheza.
– Como os passageiros se mataram.
Ele não pretendera puxar o assunto. Parecia ter surgido por vontade própria, mais um segredo do qual desejava se livrar.
– Tudo bem.
– Eles guardaram um pouco de combustível. Não muito, mas o suficiente. Lacraram as portas e redirecionaram os canos de descarga para a ventilação do navio. Deve ter sido como cair no sono.
O rosto de Lore não demonstrava qualquer expressão. Então, com um leve movimento de cabeça:
– Que bom que você disse alguma coisa.
– Talvez não devesse ter dito.
– Não se desculpe.
Ele percebeu por que tinha contado. Se fosse necessário, poderiam fazer a mesma coisa.
SETENTA
A luz se esvaía.
Mensageiros tinham começado a se movimentar. No posto de comando na passarela, Peter sentia com uma clareza gélida como as defesas eram frágeis. Um perímetro de 10 quilômetros, homens sem treinamento, um inimigo diferente de qualquer outro, sem medo nenhum.
Embora Apgar não houvesse dito nada a respeito, Peter podia ler seus pensamentos. Talvez Amy tivesse ido com Alicia para se entregar. Talvez os dracs não viessem, afinal de contas. Talvez viessem de qualquer modo. Talvez esse fosse o ponto. Lembrava-se do sonho: a imagem de Amy ao luar, afastando-se, sem olhar para trás. Tudo o que o mantinha de pé era a certeza do que viria nas próximas horas. Tinha um papel a representar e iria representá-lo.
Chase chegou à plataforma. Peter quase não reconheceu seu chefe do estado-maior. O sujeito vestia um uniforme de oficial, mas a insígnia tinha sido retirada, cortada grosseiramente, como se às pressas, talvez por respeito. Estava segurando um fuzil, tentando assumir certa aparência com ele. Peter ia dizer alguma coisa, depois se conteve. Apgar levantou uma sobrancelha, desconfiado, mas só isso.
– Onde está Olivia? – perguntou Peter enfim.
– Na caixa-forte do presidente – respondeu Chase, mas em seguida pareceu inseguro. – Espero que não tenha problema.
Os três ficaram ouvindo enquanto os postos mandavam informações pelo rádio. Todos estavam posicionados, prontos para o ataque. As sombras se alongavam pelo vale. Era uma linda tarde de verão, as nuvens com matizes variados.
SETENTA E UM
Amy não precisava conhecer o lugar. Sabia que o lugar viria a ela.
Galopavam para longe do sol, o chão voando embaixo. A poeira subia numa nuvem granulosa; torrões de terra voavam dos cascos dos cavalos. Um sentimento crescia dentro dela. Ampliava-se a cada quilômetro, como um sinal de rádio ficando mais forte, atraindo-as. O passo de Soldado era poderoso e suave. Você cuidou maravilhosamente bem da nossa amiga, Amy disse a ele. Como você é corajoso, como é forte! Você será sempre lembrado. Campos verdes o esperam: você vai passar uma eternidade nobre junto aos seus.
O galope de Soldado se reduziu a um passo. Elas pararam os cavalos e apearam. A espuma intensa do esforço brotava da boca de Soldado; os flancos escuros brilhavam com suor.
– Aqui – disse Amy.
Alicia assentiu, mas não disse nada, e Amy detectou na amiga um gume de medo. Afastou-se e ficou em silêncio, esperando. O vento passou junto aos seus ouvidos, pelos cabelos, depois se reduziu a nada. Tudo parecia imóvel, lacrado numa calma enorme. Os últimos minutos do dia foram passando. No chão diante dela sua sombra se alongava – mais e mais.
Ela sentiu o momento da união do sol com a terra, o primeiro toque na linha de montanhas, audível, como um suspiro. Fechou os olhos e lançou a mente num mergulho nas trevas. As ondulações se alargaram na superfície plácida do lago, lá em cima.
Anthony, estou aqui.
Primeiro silêncio, depois:
Sim, Amy. Eles estão preparados. São seus.
A noite estava caindo.
Venham a mim, pensou ela.
A noite caiu.
SETENTA E DOIS
Eram chamados de patetas. Mas em vida tinham sido muitas coisas.
Vinham de todos os cantos do continente, de cada estado e cidade. Seattle, Washington. Albuquerque, Novo México. Mobile, Alabama. O tóxico pântano químico de Nova Orleans, as planícies varridas pelo vento de Kansas City e os cânions gelados de Chicago. Como um corpo, eram o sonho de um estatístico, uma perfeita amostra representativa dos habitantes do Grande Império Norte-americano. Vinham de fazendas e pequenas cidades, subúrbios sem rosto e metrópoles esparramadas. Eram de todas as cores e credos. Tinham vivido em trailers, casas, apartamentos, mansões com vista para o mar. Em suas condições humanas, cada um ocupava um eu discreto e particular. Haviam tido esperança, tinham odiado, amado, sofrido, cantado e chorado. Tinham conhecido a perda. Tinham se cercado e se reconfortado com objetos. Tinham dirigido automóveis. Tinham passeado com cachorros, empurrado crianças em balanços e esperado na fila da mercearia. Tinham dito coisas idiotas. Tinham guardado segredos, alimentado ressentimentos, soprado as brasas do arrependimento. Tinham adorado uma variedade de deuses ou deus nenhum. Tinham acordado à noite com o som da chuva. Tinham se desculpado. Tinham comparecido a várias cerimônias. Tinham explicado a história de si mesmos a psicólogos, sacerdotes, amantes e estranhos em bares. Em momentos inesperados, tinham experimentado surtos de alegria tão puros, tão desconectados dos acontecimentos, que pareciam vir do alto. Tinham ansiado por ser conhecidos e, às vezes, quase foram.
Herdeiros da linhagem viral de Anthony Carter, Décimo Segundo dos Doze, eram intrinsecamente menos sedentos de sangue do que suas contrapartidas; observadores humanos tinham dito muitas vezes que os patetas satisfaziam seus apetites com uma atitude de obrigação sem júbilo, e que era essa característica, singular entre os virais, que tornava mais fácil matá-los. Burro feito um pateta, era a expressão. Era verdadeira, mas ao mesmo tempo escondia uma verdade mais profunda. De fato eles não gostavam daquilo; a chacina de inocentes os incomodava. Mas dentro deles havia uma ferocidade não expressada, não testemunhada pela humanidade. Durante mais de um século tinham esperado, antevendo o dia em que chegaria o chamado para liberar esse poder oculto.
Em sua vida tinham sido muitas coisas. Depois eram outra. Agora eram um exército.
Primeiro no crepúsculo, depois no negrume, sob as estrelas do Texas, eles rugiram em direção ao oeste, uma parede de som e poeira. Na frente da horda, como a ponta de uma lança, um par de amazonas mostrava o caminho. Para Alicia, a sensação era de puro ímpeto; ela estava tanto liderando quanto sendo liderada, unida a uma força primal. Para Amy, o sentimento era de expansão, uma reunião interna de almas. No momento em que entregaram suas forças ao comando dela, os virais de Carter tinham deixado de ser entidades externas. Tinham se tornado extensões de sua percepção e de sua vontade: seus Muitos.
Venham comigo. Venham comigo, venham comigo, venham comigo...
Adiante, como luzes num litoral distante, surgiu a cidade sitiada.
– Preparar armas!
Ao longo de toda a passarela o estalo de pentes, o correr de ferrolhos, balas entrando em câmaras. As últimas sombras haviam sumido, afogadas na escuridão.
Não demorou muito.
Uma linha reluzente apareceu a leste. Segundo a segundo ficou mais densa, espalhando-se no terreno. Um sentimento de destino: pairava como uma névoa. A cidade parecia insignificante à frente daquilo.
– Aí vêm eles!
A horda veio ribombando. Sua velocidade era tremenda. Disparos aleatórios partiram o ar: homens com a adrenalina do terror, que não conseguiam conter a ânsia de disparar.
Peter encostou o rádio na boca.
– Não atirem! Esperem até estarem ao alcance!
As estrelas foram desaparecendo, bloqueadas pela grande nuvem de poeira que subia atrás dos virais. A corja tinha assumido a forma de uma ponta de lança.
– Parece que a fase de negociação terminou – disse Apgar.
Mais disparos em pânico. A corja continuava a se aproximar. Iria passar direto pelo portão, dividindo-o como se fosse um alvo.
– Esperem um segundo – disse Apgar, que estava olhando pelos binóculos. – Tem alguma coisa estranha.
– O que você está vendo?
Ele hesitou, depois disse:
– Eles estão se movendo de um modo diferente. Saltos curtos, passos longos no meio-tempo, como fazem os mais antigos.
Ele afastou as lentes.
– Acho que são patetas.
Alguma coisa estava acontecendo. A corja foi desacelerando.
Da plataforma de observação veio um grito:
– Cavaleiros! A duzentos metros!
Preparem-se.
Amy diminuiu o ritmo de Soldado até um meio-galope, depois um trote.
Vamos defender esta cidade. Vamos sustentar esse portão, meus irmãos e irmãs de sangue.
Fluindo como um líquido, suas forças se espalharam. Amy se movia no meio delas. Não ousava demonstrar medo; sua coragem seria deles. Cavalgava com as costas eretas, as rédeas de Soldado seguras levemente numa das mãos, a outra estendida num gesto de bênção, como um sacerdote.
Eles já foram pessoas, como vocês. Mas seguem outro, o Zero.
Trezentos lado a lado, trezentas fileiras, as forças de Amy formaram uma barreira protetora ao longo do muro norte e se viraram de frente para o campo. A leste, a primeira borda da lua espiava sobre os morros.
Não hesitem, porque eles não hesitarão. Matem-nos, meus irmãos e irmãs, mas sempre com uma bênção de misericórdia no coração.
Ela sentiu os olhares dos soldados fixos nela, percebeu os postos de observação e as miras das armas. A grande nuvem de poeira estava se assentando. Havia um gosto de terra na boca.
Fiquem eretos. Tenham coragem. Mostrem a ele quem e o que vocês são.
Elas pararam os cavalos na frente da linha. Amy tirou a pistola do cinto, entregou-a a Alicia, e desembainhou a espada por cima das costas. O cabo possuía uma grossura satisfatória, confortável na mão. Sacudiu o pulso para girar a lâmina no ar.
– É uma bela arma, irmã.
– Eu estava meio que adivinhando, quando fiz.
Sua mente permanecia controlada, os pensamentos organizados e calmos. Havia medo, mas também alívio e, por cima, curiosidade com relação ao que viria.
– Nunca participei de uma batalha – disse. – Como é?
– É muito... movimentado.
Amy pensou nisso.
– As coisas acontecem depressa. Você só vai ter consciência delas depois. A maior parte vai parecer que aconteceu com outra pessoa.
– Acho que faz um bocado de sentido. – Depois: – Alicia, se eu não sobreviver...
– Mais uma coisa.
– O quê.
Alicia a encarou.
– Você não tem permissão para dizer coisas assim.
Em cima da muralha reinava o caos. Mensageiros corriam, dedos tremiam nos gatilhos, ninguém sabia o que fazer. Não atirar? Eles são virais! E por que estão posicionados na direção errada?
– Sério – gritou Peter no rádio. – Todos os postos, baixem as armas agora!
Jogou o rádio para Apgar e se virou para o mensageiro mais próximo.
– Soldado, me consiga um arnês.
– Peter, você não vai lá fora – disse Apgar.
– Amy pode me proteger. Você mesmo está vendo. Eles estão aqui para nos defender.
– Não importa se eles estão aqui para consertar o encanamento, você perdeu a cabeça. Não me obrigue a derrubá-lo, porque vou fazer isso, sem dúvida.
O soldado virou os olhos rapidamente para Peter, depois para o general, depois de volta para ele.
– Senhor, devo pegar o arnês ou não?
– Soldado, se você der um passo, vou jogá-lo desse muro – alertou Apgar.
Outro grito do observador:
– Temos movimento! Os cavaleiros estão se afastando!
Peter levantou a cabeça.
– Como assim, se afastando?
Um rosto surgiu acima do parapeito. Uma conversa rápida com alguém atrás, depois o homem apontou para o norte.
– Do outro lado do campo, senhor!
Peter voltou para a borda do muro e levantou seu binóculo.
– Gunnar, está vendo isso?
– O que eles estão fazendo? – perguntou Apgar. – Estão se rendendo?
Com um sopro de poeira, Amy e Alicia fizeram seus cavalos parar. Amy levantou a espada. Não era um gesto de rendição, e sim de desafio.
Eles estavam se posicionando como iscas.
– Fanning, está me ouvindo?!
As palavras de Amy sumiram na escuridão.
– Se me quer, venha pegar!
– Será que devemos ir mais longe ainda? – perguntou Alicia.
– Se formos, talvez não consigamos voltar.
Depois, levantando a voz de novo:
– Está ouvindo? Estou aqui, seu filho da mãe!
Alicia esperou. Nada, ainda. Depois:
Você agiu bem, Alicia.
Ela apertou os ouvidos com as mãos, um reflexo inútil; a voz de Fanning estava dentro dela.
Tudo o que eu poderia desejar você conseguiu. O exército dela não é nada, posso acabar com ele com um peteleco. Você me deu isso e muito mais.
– Cale a boca! Me deixe em paz!
Amy a estava encarando.
– Lish, o que é? É o Fanning?
Está sentindo, Alicia? prosseguiu Fanning com sua voz suave, provocante. Era como um líquido oleoso espalhando-se pelo cérebro. Claro que está. Você sempre sentiu. Assombrando as ruas, caçando cabeças. Eles são parte de você, tanto quanto eu.
Então Alicia ouviu o som. Não, não ouviu: sentiu. Uma espécie de... raspagem. De onde vinha?
Ela deve vir até mim em ruínas. Será o teste mais verdadeiro. Sentir o que eu sinto. O que nós sentimos, Alicia. Conhecer o desespero. Um mundo sem esperança, sem propósito, tudo perdido.
– Alicia, diga o que está acontecendo.
Eu conheço seus sonhos, Alicia. A grande cidade murada e os sons de vida dentro. A música e os gritos felizes das crianças. Seu desejo de estar entre eles e a porta por onde você não pode entrar. Você sabia, Alicia, mesmo então? Sabia o que estava guardado?
O som ficou mais intenso. O sangue latejava em seu pescoço; ela achou que ia vomitar.
Minha Alicia, já está feito. Você pode sentir? Pode senti-los?
Sua mente voltou bruscamente à consciência. Virou-se na sela. Para além da barreira do exército de Amy, as luzes da cidade brilhavam.
Do lado de fora, pensou. Estou do lado de fora, exatamente como no sonho.
– Ah, meu Deus, não.
Sara estava tentando se obrigar a respirar.
Havia 120 almas apinhadas no porão. Velas e lampiões espalhados pelo espaço lançavam sombras estranhas, animadas. A pistola de Sara estava no colo, a mão em cima, frouxa mas preparada.
Jenny e Hannah tinham organizado uma brincadeira de corre cotia para distrair algumas crianças. Outras se ocupavam com brinquedos contrabandeados para o abrigo. Algumas choravam, mas provavelmente não sabiam por quê; estavam canalizando a ansiedade dos adultos.
Sara estava sentada no chão com as costas apoiadas na porta. A face de metal era fria junto à pele. Será que ela aguentaria? Várias situações se desdobravam na mente: batidas na porta, o metal se curvando, todo mundo gritando, recuando, então um estalo final e a morte jorrando para dentro, engolfando todos.
Estava observando Jenny e Hannah. Jenny parecia aterrorizada – ela usava as emoções como se fossem um casaco –, mas Hannah se mostrava firme. Ela que tinha começado a brincadeira.
Existiam pessoas assim, Sara sabia, pessoas que não se abalavam ou então não o demonstravam, que possuíam enormes reservas internas de calma. Hannah estava correndo em volta do círculo com suas pernas longas, rindo com ar de conspiração, perseguida por um menininho. Hannah ia deixar que ele a pegasse, claro; rendeu-se de um jeito que levou o garoto a um ataque de risos de felicidade que, por um momento, aliviou Sara. Ela se lembrava desses jogos, de como eram divertidos, com o objetivo tão simples e puro. Tinha brincado de corre cotia na infância, e mais tarde com Kate e os amigos dela. Mas no instante seguinte o pensamento foi substituído por outro. Kate, pensou, Kate, onde você está, aonde você foi? Seu corpo está numa cama longe de casa; seu espírito voou. Estou perdida sem você. Perdida.
– Dra. Wilson, a senhora está bem?
Segurando Carlos, Grace havia parado junto dela. Sara afastou as lágrimas com um toque da mão.
– Como ele está?
– Ele é um bebê, não sabe de nada.
Sara abriu espaço. Grace sentou ao lado dela no chão.
– Vamos ficar em segurança aqui? – perguntou Grace.
– Claro.
Silêncio, depois Grace deu de ombros.
– A senhora está mentindo, mas tudo bem. Eu só queria ouvi-la dizer.
Ela virou o rosto para Sara.
– Foi a senhora que transferiu seu direito de nascimento para os meus pais, não foi?
– Imagino que eles tenham contado.
– Só contaram que foi a médica. Não estou vendo nenhuma outra médica por aqui, de modo que achei que tinha de ser a senhora. Por que fez isso?
Provavelmente havia uma resposta, mas Sara não conseguia pensar nela.
– Pareceu a coisa certa a fazer.
– Meus pais foram bons comigo. As coisas não eram fáceis, mas eles me amavam muito. Nós sempre rezávamos pela senhora antes do jantar. Achei que a senhora deveria saber.
O bebê Carlos bocejou devagar: o sono estava chegando. Durante cerca de um minuto Sara e Grace observaram a brincadeira. De repente Grace levantou os olhos.
– Que barulho é esse?
– Posto 6. Temos movimento.
Peter pegou o rádio.
– Repita.
– Não sei direito.
Uma pausa.
– Parece que parou.
O posto 6 ficava na extremidade sul da represa.
– Todo mundo, mantenham-se a postos! – gritou Apgar. – Mantenham as posições!
– O que você está vendo? – perguntou Peter pelo rádio.
Um estalo, depois a voz disse:
– Esqueça, eu estava errado.
Peter olhou para Chase.
– O que fica embaixo do posto 6?
– Só mato baixo.
– O suficiente para dar cobertura?
– Um pouco.
Peter pegou o rádio de novo.
– Posto 6, informe. O que você viu?
– Já falei, não é nada – repetiu a voz. – Parece que é só mais um sumidouro se abrindo.
Em seu posto no telhado do orfanato, Caleb Jaxon mais sentiu do que ouviu o som: uma perturbação que não tinha fonte discernível, como se o ar estivesse eriçado com um enxame de abelhas invisíveis. Examinou a cidade com o binóculo. Tudo parecia comum, inalterado. No entanto, à medida que sua mente se acalmava, percebeu outros sons vindos de várias direções. Estalos de madeira rachando. O tilintar de vidro quebrando. Um ribombo de um tipo desconhecido, que durava uns cinco segundos. Ao redor, e no chão embaixo, alguns dos seus homens tinham começado a sentir essas coisas também. As conversas pararam, um homem ou outro dizendo: Ouviu isso? O que foi? Com os olhos ardendo de necessidade de dormir, Caleb perscrutou a escuridão. Do telhado, tinha uma visão clara do prédio do governo e da praça central da cidade. O hospital ficava quatro quarteirões a leste.
Ele soltou o rádio do cinto.
– Hollis, você está aí?
Seu sogro estava posicionado na entrada do hospital.
– Estou.
Outro estrondo. Vinha do meio das ruas da cidade.
– Está ouvindo isso?
Uma pausa, depois Hollis disse:
– Positivo.
– O que você está vendo? Algum movimento?
– Negativo.
Caleb apontou o binóculo para o prédio do governo. Dois caminhões e uma mesa grande permaneciam na praça, deixados lá após o fim das convocações. Pegou o rádio de novo.
– Irmã, está me ouvindo?
– Sim, tenente.
– Não sei, mas acho que há alguma coisa acontecendo aqui fora.
Uma pausa.
– Obrigada por dizer, tenente Jaxon.
Ele prendeu o rádio no cinto. Seu punho apertou o fuzil num reflexo. Mesmo sabendo que havia uma bala na câmara, puxou suavemente o cursor de carregamento para verificar de novo. Através da janela minúscula o cartucho de latão brilhou.
O rádio estalou: Hollis.
– Caleb, volte.
– O que há?
– Tem alguma coisa aqui fora.
O coração de Caleb acelerou.
– Onde?
– Foi para a praça, canto noroeste.
Caleb apertou o binóculo contra os olhos de novo. Com uma lentidão irritante, a praça entrou em foco.
– Não estou vendo nada.
– Estava aí há um segundo.
Ainda examinando, Caleb levou o rádio à boca para falar com a plataforma de comando.
– Posto 1, aqui é o posto 1...
Parou no meio da frase; sua visão tinha percebido alguma coisa. Girou as lentes de volta para o lugar de onde tinham vindo.
A mesa na praça tinha sido virada; atrás dela, a frente de um caminhão estava apontada para cima, num ângulo de 45 graus, as rodas afundadas na terra.
Um sumidouro. Enorme, abrindo-se.
Peter virou as costas para o campo de batalha. As construções na cidade eram formas contra a escuridão, iluminadas pelo luar inclinado.
Apgar estava ao lado dele.
– O que está havendo?
A sensação pinicava sua pele como eletricidade estática.
– Há alguma coisa que não estamos vendo.
Ele levantou uma das mãos.
– Espere aí. Ouviu isso?
– Ouvi o quê?
Os olhos de Apgar se estreitaram enquanto ele inclinava a cabeça.
– Espere. É.
– Igual a... ratos dentro de paredes.
– Também ouvi – disse Chase.
Peter pegou o rádio.
– Posto 6, alguma coisa aí?
Nada.
– Posto 6, informe.
A irmã Peg entrou na copa. O fuzil estava na prateleira de cima, enrolado em tecido impermeável. Tinha pertencido ao seu irmão – que sua alma estivesse em paz. Ele havia servido nos Expedicionários anos antes. Ela se lembrava do dia em que o soldado chegara ao orfanato com a notícia da morte dele. Tinha trazido o baú do irmão. Ninguém tinha verificado o conteúdo, caso contrário o fuzil seria levado de volta para o depósito. Pelo menos era o que a irmã Peg havia imaginado na ocasião. A maior parte dos pertences no baú do irmão não continha qualquer traço dele e não parecia valer a pena ser guardada. Mas não a arma. Seu irmão a havia segurado, lutado com ela; ela representava o que ele era. Era mais do que uma lembrança, era um presente, como se ele o tivesse deixado para que ela o tivesse quando precisasse.
Pôs a escada de mão no lugar e, com passos cautelosos, pegou o fuzil e o colocou na mesa onde as irmãs faziam massa de pão. A irmã Peg havia cuidado meticulosamente da arma; o cursor estava justo e bem lubrificado. Ela gostava de como o fuzil disparava, com gatilho decidido e um estalo bom, limpo. Uma vez por ano, em maio – o mês da morte do irmão –, tirava seu hábito, vestia roupas de trabalhadora comum e pegava o transporte até a Zona Laranja. O fuzil ia ao lado, escondido numa sacola de lona. Para além do quebra-vento ela colocava um alvo de latas, às vezes maçãs ou um melão, ou folhas de papel pautado pregadas numa árvore.
Levou o fuzil, agora carregado, até a sala de jantar. Com o passar dos anos a arma tinha ficado mais pesada nos seus braços, mas ela ainda conseguia manuseá-la, inclusive aguentar o coice, que era aliviado por um tubo de amortecimento com uma mola ligada à culatra. Isso era muito importante para disparos seguidos. Escolheu uma posição junto ao alçapão, com visão clara para o corredor e as janelas dos dois lados do salão.
Achou que deveria tirar um momento para rezar. Mas, como estava segurando um fuzil carregado, uma oração convencional não parecia totalmente adequada. A irmã Peg esperava que Deus a ajudasse, mas era sua crença que Ele preferia que as pessoas se virassem sozinhas. A vida era um teste; ficava por sua conta passar ou não. Levou a arma à clavícula e inclinou a cabeça, espiando pela extensão do cano.
– Minhas crianças, não – disse, e puxou a alavanca, pondo a primeira bala na câmara. – Esta noite, não.
– Cavaleiro se aproximando!
Uma energia nova e tensa estremeceu ao longo do topo do muro. Alguma coisa estava mudando. A barreira de virais se partiu, formando um corredor como o da noite anterior. Por esse corredor um cavaleiro veio galopando. Por toda a passarela os olhos se posicionavam nas miras das armas; uma pressão cada vez maior fluía dos ombros para os antebraços, até as pontas dos indicadores. A ordem para não atirar era clara, mas a ânsia de desobedecer a ela era forte. O cavaleiro continuava vindo. Erguida sobre a sela, essa pessoa – o sexo ainda era desconhecido – gritava palavras incompreensíveis. Enquanto uma das mãos segurava as rédeas, a outra girava no ar acima da cabeça, um gesto de significado ambíguo. Seria uma ameaça? Um pedido de paciência?
Na plataforma de comando, Peter entendeu o que ia acontecer. Os convocados não tinham experiência; não tinham a memória muscular do treinamento militar. No segundo em que Alicia chegasse ao perímetro iluminado, ele perderia o controle da situação.
– Não atirem! – estava gritando. – Não atirem!
Mas as palavras só chegavam até uma certa distância.
Alicia chegou ao perímetro iluminado a pleno galope.
– É uma armadilha!
As palavras não faziam sentido para ele.
Ela parou derrapando.
– É uma armadilha! Eles estão dentro!
Um grito veio da esquerda de Peter.
– É a mulher de ontem à noite!
– Ela é viral!
– Atira nela!
A primeira bala acertou a coxa direita de Alicia, despedaçando seu fêmur; a segunda pegou o pulmão esquerdo. As patas da frente do cavalo se dobraram, jogando-a para a frente, por cima do pescoço dele. Os primeiros estalos se tornaram um tiroteio completo. Poeira voava ao redor enquanto ela se arrastava para trás do animal caído, que agora estava morto. Os disparos acertavam. Balas encontravam o alvo. Alicia as experimentava como uma saraivada de socos. A palma da mão esquerda, cravada como uma maçã recebendo uma flecha. A extremidade da pélvis do lado direito, em estilhaços como uma granada explodida. Mais duas no peito, e a segunda ricocheteou na quarta costela, mergulhou diagonalmente na cavidade torácica e partiu a segunda vértebra lombar. Ela se esforçou ao máximo para se enfiar embaixo do cavalo caído. O sangue espirrava da carne do animal enquanto as balas acertavam.
Perdido, pensou ela enquanto baixava uma cortina de escuridão. Está tudo perdido.
A maioria dos virais entrou na cidade por quatro pontos: a praça central, o canto sudeste da represa, um grande sumidouro na Cidade-H e a área logo em frente ao portão principal. Outros tinham aberto caminho pela terra esburacada, emergindo em corjas menores por toda a cidade. Os pisos das casas; terrenos abandonados, cheios de mato e sem cuidados, onde crianças brincavam antigamente; as ruas de bairros densamente habitados. Eles cavavam e se arrastavam. Seguiam o esgoto e as linhas de suprimento de água. Eram inteligentes; buscavam os pontos mais fracos. Durante meses tinham se movido pelas fissuras geológicas e por aquelas abertas pelo homem por baixo da cidade, como uma infestação de formigas.
Vão agora, ordenou seu senhor. Cumpram com seu propósito. Façam o que ordenei.
Na passarela, Peter não teve muito tempo para pensar nas palavras de alerta de Alicia. No meio do trovejar das armas – muitos soldados, apanhados no frenesi de uma turba, atiravam também contra os patetas –, a estrutura chacoalhava embaixo dele. Era como se a grade de metal sob seus pés fosse um tapete levantado e sacudido numa das pontas. A sensação penetrava no estômago, um redemoinho de náusea, como enjoo do mar. Olhou de um lado para outro, procurando a fonte do movimento, ao mesmo tempo percebendo que ouvia gritos. Uma segunda sacudida fez a estrutura baixar bruscamente. Seu equilíbrio falhou; jogado para trás, ele caiu no piso da passarela. Armas espocavam, vozes gritavam. Balas assobiavam por cima do seu rosto. O portão, gritou alguém, eles estão abrindo o portão! Atirem neles! Atirem nesses escrotos! Um gemido de metal se dobrando, e a passarela começou a se soltar do muro.
Ele estava rolando em direção à borda.
Não tinha como impedir; suas mãos não encontravam nada para segurar. Corpos passavam rolando, despencando no escuro. Enquanto Peter rolava por cima da borda, sua mão agarrou algo escorregadio; uma estrutura de sustentação. Seu corpo girou em volta dela como um pêndulo. Ele não conseguiria se segurar; tinha meramente feito uma pausa. Abaixo dele a cidade girava, cheia de gritos e tiros.
– Pegue minha mão!
Era Jock. Ele havia se alojado embaixo do corrimão, um braço pendurado por cima da borda. A passarela tinha parado num ângulo de 45 graus em relação ao chão.
– Agarre!
Uma série de estalos: os últimos parafusos estavam se soltando do muro. As pontas dos dedos de Jock, a centímetros das de Peter, pareciam a quilômetros de distância. O tempo se movia em duas correntes. Havia uma, de ruído, pressa e ação violenta, e uma segunda, concomitante, em que Peter e tudo ao redor pareciam apanhados numa correnteza preguiçosa. Sua mão estava escorregando. A outra se balançava inútil, tentando agarrar a de Jock.
– Empurre-se para cima!
Peter se soltou.
– Agarrei!
Jock o segurava pelo pulso. Um segundo rosto apareceu embaixo do corrimão: Apgar. Enquanto ele estendia a mão para baixo, Jock puxou Peter para cima. Apgar o agarrou pelo cinto. Juntos, puxaram-no pelo resto do caminho.
A passarela começou a cair.
A matança havia começado.
Liberados dos esconderijos, os virais se derramaram pela cidade. Subiam em enxames sobre o muro, jogando homens no espaço. Lançavam-se do chão e dos telhados como um reluzente show de fogos de artifício. Atravessavam pisos de caixas-fortes para chacinar os ocupantes e explodiam através do chão das construções para arrancar os moradores de dentro de armários e de baixo das camas. Atacaram o portão que, apesar de formidável, não era projetado para repelir um ataque por dentro. Tudo que era necessário para abrir a cidade à invasão era tirar as barras transversais dos suportes, soltar o freio e empurrar.
A corja que havia emergido perto da área de desembarque tinha uma missão específica. Durante todo o dia seus delicados órgãos sensoriais haviam detectado os passos de um grande número de pessoas, todas indo na mesma direção. Tinham ouvido o rugir de veículos e os gritos em megafones. Tinham escutado a palavra “represa”. Tinham percebido a palavra “abrigo”. Tinham discernido a palavra “tubos”. Os que buscaram um acesso direto à represa ficaram confusos. Como Chase previra, não havia como entrar. Outros, como uma força de ataque de elite, partiram para um prédio compacto ali perto. Este era guardado por um pequeno contingente de soldados, que morreram depressa e de modo feio. Com suas mandíbulas estalando, os dedos que se moviam depressa e os olhos inquietos que se viravam para um lado e para outro, os virais avaliaram o interior. Uma escada descia.
Chegaram a um corredor com paredes de pedra úmidas. Uma escada de mão os levou mais para baixo; uma segunda, mais para baixo ainda. Havia uma humanidade densa ali perto. Estavam chegando mais perto. Estavam chegando.
Alcançaram uma porta de metal com uma argola pesada. O primeiro viral, o alfa, abriu a porta e entrou, com os outros atrás.
A sala estava preenchida pelo odor de homens. Uma fileira de armários, um banco, uma mesa com os restos de uma refeição abandonada às pressas. Conectado a uma complexa montagem de tubos e engrenagens havia um painel com seis volantes de aço do tamanho de entradas de poços.
Sim, disse Zero. Esses.
O alfa segurou o primeiro volante. Estava marcado com ENTRADA No 1.
Gire.
Seis volantes. Seis tubos.
Oitocentos gritos de agonia.
Com a pistola estendida, Sara se aproximou do depósito e moveu a porta suavemente com o pé.
– Talvez sejam só camundongos – sussurrou Jenny.
O som raspado voltou. Vinha de trás de uma pilha de caixotes. Sara pôs a lanterna no chão e estendeu a pistola com as duas mãos. Os caixotes estavam em pilhas de quatro. Um, embaixo, começou a se mexer, sacudindo os de cima
– Sara...
Os caixotes estavam caindo. Sara tombou para trás quando o viral irrompeu através do chão, girando no ar para se agarrar ao teto como uma barata. Ela disparou a pistola às cegas. O viral pareceu não se importar com a arma, ou então sabia que Sara estava assustada demais para mirar. O cursor da pistola voltou; o cartucho da bala foi ejetado. Sara se virou, empurrou Jenny para fora da porta e começou a correr.
Na base do muro, Alicia, imobilizada, quebrada, estava sozinha. Sua respiração era difícil e úmida, pontuada por pequenos espasmos extremamente dolorosos. Havia sangue em sua boca. A visão estava errada. As imagens se recusavam a ficar nítidas. Não tinha nenhum sentido de tempo. Podia ter levado os tiros trinta segundos atrás. Podia ter sido uma hora antes.
Uma forma escura se materializou acima: era Soldado, baixando a cabeça para a dela. Ah, veja o que você fez consigo mesma, disse ele. Eu a deixo por um minuto e olhe o que acontece. Seu hálito quente beijou o rosto dela. Ele abaixou a cabeça mais ainda, focinhando-a, exalando suavemente pelas narinas.
Meu bom garoto. Ela levantou uma das mãos sangrentas para a cara dele. Meu grande, meu magnífico Soldado, desculpe.
– Irmã, o que fizeram com você?
Amy estava ajoelhada ao seu lado. Os ombros dela se sacudiram com um soluço. Ela enterrou o rosto nas mãos.
– Ah, não – gemeu. – Ah, não.
Os refletores haviam apagado. Alicia ouviu tiros e gritos, mas eram distantes, iam ficando mais fracos. Uma escuridão misericordiosa a envolveu. Amy estava segurando sua mão. Parecia que tudo o que acontecera antes tinha sido uma viagem, que a estrada a havia levado até ali e terminado. A noite deslizou para o silêncio. Ela sentiu um frio súbito. Voou para longe.
Espere.
Seus olhos se abriram. Uma brisa estava passando sobre ela – densa, granulosa – e junto veio um ribombo, como um trovão, mas o som não parou. Rolou e rolou, com o volume se acumulando, o ar girando com matéria jogada pelo vento. O chão começou a tremer. Com um relincho, Soldado empinou, os cascos cortando o ar.
O exército dela não é nada. Posso acabar com ele com um peteleco.
Alicia levantou a cabeça bem a tempo de vê-los chegando.
Peter, Apgar e Jock seguiam às pressas para descer da plataforma que tombava. Sua queda acontecia aos poucos, como dominós caindo alinhados. A ordem de Peter, de recuar até o orfanato, a última linha de defesa da cidade, não fora obedecida; reinava um estado de pânico. O problema não era meramente o colapso em série da passarela, de onde os soldados caíam por 30 metros para a morte. Os virais também percorriam toda a extensão do muro. Alguns homens eram jogados longe, outros devorados, estremecendo e gritando ao serem cravados pelas mandíbulas dos virais. Um terceiro grupo era mordido e em seguida deixado por conta própria. Como tinha sido testemunhado nos distritos, o vírus de Fanning fazia seu serviço com uma rapidez sem precedentes; em pouco tempo uma porcentagem crescente dos defensores de Kerrville se voltava contra os antigos colegas.
A 100 metros do posto de comando já inexistente, Peter, Apgar e Jock se viram encurralados. Atrás deles a passarela continuava a cair, parte por parte: à frente, os virais vinham em sua direção.
Não havia nenhuma escada ao alcance.
– Ah, diabos – disse Apgar. – Sempre odiei fazer isso.
Jogaram cordas no muro. Jock também não era fã de altura: o incidente no teto da missão o havia marcado pelo resto da vida. Mas também era verdade que nas últimas 24 horas havia acontecido uma mudança. Ele sempre acreditara ser um homem frágil, uma lasca na correnteza da vida. Mas desde o nascimento do filho, e do jorro de amor produzido por isso, havia descoberto dentro de si uma solidez de caráter que nunca achara possível, um senso cada vez maior da importância da vida e do lugar dele dentro de sua teia. Queria ser um homem de quem poderia ser dito que colocava os outros em primeiro lugar e morria defendendo-os. Assim, o recém-convocado e pessoalmente transformado soldado Jock Alvado jogou o terror longe, passou por cima do corrimão e virou as costas para a bocarra de espaço abaixo; Peter e Apgar fizeram o mesmo.
Pularam.
Trinta metros, tendo apenas a fricção das mãos e dos pés para diminuir a velocidade: pousaram na terra batida. Peter e Apgar se levantaram rapidamente, mas Jock não. Tinha torcido o tornozelo, talvez quebrado. Peter o puxou, colocando-o de pé, e passou o braço dele por cima do ombro.
– Meu Deus, você é pesado.
Correram.
O porão era uma armadilha mortal.
Enquanto Sara corria para a porta, um berro soou atrás dela, agudo, como metal sendo cortado, depois o salão irrompeu em gritos. Estava segurando uma menininha; havia pegado-a sem pensar. Teria carregado mais, se pudesse. Teria carregado todas.
Jenny chegou primeiro à porta. As pessoas vinham em bando atrás. De repente ela não conseguia se mexer; o peso dos corpos em pânico a havia imobilizado, comprimindo-a contra o metal. Estava gritando para as pessoas recuarem, mas mal podia ser ouvida. Os gritos das crianças eram como as notas mais agudas de uma escala, de uma estridência improvável.
A porta se abriu com um estrondo e uma centena de pessoas aterrorizadas tentou passar ao mesmo tempo. O instinto cego havia tomado conta – fugir, sobreviver independentemente do custo. Pessoas caíam, crianças eram pisoteadas. Virais ricocheteavam pelo salão, lançando-se de uma parede a outra, de uma vítima a outra. Seu prazer era obsceno. Um deles carregava uma criança na boca, sacudindo-a como um cachorro com uma boneca de pano. Enquanto Sara se espremia pela porta, uma mulher indiscernível arrancou a menininha de seus braços e seguiu em frente, fazendo com que Sara caísse na base da escada. Pessoas passavam trovejando. Um rosto familiar emergiu do caos: Grace, segurando seu bebê. Estava encolhida contra a parede do poço da escada. Lá em cima, armas espocavam. Sara a agarrou pela manga da blusa, para fazer com que a encarasse. Fique comigo, segure minha mão.
Jenny e Hannah estavam acenando para ela do topo da escada. Sara meio puxou, meio arrastou Grace até o saguão. Do outro lado da porta uma batalha feroz era travada. Crianças gritavam, mães estavam encolhidas com os filhos, ninguém sabia para onde ir. Uns poucos saíam cegamente pela porta, para o coração do tumulto. Os virais estavam atrás deles, subindo a escada.
Um estrondo enorme: a frente do prédio foi jogada para dentro. Tijolos, cacos de vidro, compensado lascado saíram voando. De repente um caminhão de 5 toneladas do Exército estava no saguão, com Hollis ao volante.
– Todo mundo para dentro!
Amy cobriu o corpo de Alicia com o seu. Seu exército estava morrendo; sentia-os abandonando-a, almas sendo levadas para o éter. Você não falhou comigo, pensou. Fui eu que errei. Vá em paz, pelo menos você está livre.
Os virais de Fanning passaram. Amy enterrou o rosto no pescoço de Alicia, segurando-a com força. Tudo aconteceria depressa, mais rápido do que a luz. Pensou em Peter, depois em nada.
Parecia que estavam no meio de um bando de aves; como se o ar em volta tivesse se transformado em um milhão de asas batendo.
Do teto do orfanato Caleb via a cidade morrer.
Ouviu a passarela desmoronar, um estrondo terrível. A cena diante dele possuía uma estranha qualidade de desconexão. Era como se ele estivesse observando acontecimentos que não tinham a ver totalmente com ele, desdobrando-se a uma grande distância. Mas quando o tiroteio começasse, sabia que sentiria algo diferente. Vinte e cinco homens: quanto tempo durariam?
Os tiros foram diminuindo, um clarão de balas disparadas, gritos dignos de pena, angustiantes. A cidade estava deslizando para o silêncio, um lugar de fantasmas. Um momento de calmaria espantoso; depois um novo som acumulado. Caleb encostou os olhos no binóculo. Um caminhão de 5 toneladas, envolto em lona, vinha a toda a velocidade na direção deles, a partir da praça, flanqueado por um par de Humvees. Os homens nas torrinhas disparavam a esmo, outros atiravam através das janelas da cabine. Ao mesmo tempo Caleb percebeu um segundo movimento, mais compacto, à direita. Girou as lentes. Escuridão impenetrável; depois apareceram duas figuras. Um terceiro homem estava sendo carregado.
Apgar.
Seu pai.
Eles cruzariam com o caminhão na frente do prédio. Os pés de Caleb mal tocaram a escada enquanto ele descia. Um dos Humvees se desviou dos outros veículos; virais se agarravam a ele. O veículo tombou de lado e começou a rolar, como um animal tentando se livrar de um enxame de marimbondos. O caminhão se movia depressa demais; ia trombar no prédio. No último segundo o motorista virou o volante à esquerda e parou cantando pneus.
Hollis saltou da cabine, Sara da carroceria. Todo mundo estava agarrando crianças, puxando-as pela porta. Caleb saltou por cima dos sacos de areia e correu na direção do pai e do general.
– Pegue-o – disse seu pai.
Caleb passou um braço pelas costas do homem ferido. A situação tomou forma na mente de Caleb: o orfanato seria o local de resistência final.
Na sala de jantar, a irmã Peg esperava junto ao alçapão aberto. Estava segurando um fuzil. A visão era tão estranha que a mente de Caleb simplesmente a rejeitou.
– Depressa! – gritou a irmã Peg.
Seu pai e Apgar estavam ordenando que os homens assumissem posição junto às janelas. Mãos subiram pela abertura no piso para ajudar as crianças, que se afunilaram, entrando no alçapão com uma lentidão dolorosa, fora de sincronia com todo o resto que estava acontecendo. Pessoas empurrando, mulheres gritando, bebês chorando. Caleb sentiu cheiro de gasolina. Uma lata de combustível vazia estava caída de lado no chão, uma segunda perto da porta da copa. A presença daquilo não fazia sentido – estava na mesma categoria de detalhes incompreensíveis, como o fuzil da irmã Peg. Homens jogavam cadeiras da sala de jantar pelas janelas. Outros viravam mesas para servir como barricadas. Todas as coisas do mundo estavam colidindo. Caleb se posicionou ao lado da janela mais próxima, apontou o fuzil para a escuridão, e começou a atirar.
Para Peter Jaxon, último presidente da República do Texas, os últimos segundos da noite não foram nem um pouco como ele havia previsto. Assim que a passarela tinha começado a desmoronar e a natureza da situação ficou clara, ele tivera toda a intenção de morrer. Era o único resultado honrado previsível. Amy havia partido, seus amigos tinham partido, a cidade havia partido e ele só poderia culpar a si mesmo. Sobreviver à destruição de Kerrville seria uma desgraça impensável.
Os últimos civis tinham descido pelo alçapão, mas será que a porta aguentaria? A julgar pelos acontecimentos dos últimos minutos, Peter só podia concluir que, como todo o resto, isso certamente iria falhar. Fanning, como quer que tivesse feito a coisa, sabia de tudo.
Mesmo assim, era preciso tentar. O esforço significava alguma coisa, como Apgar sempre tinha dito. Os virais estavam se agrupando lá fora; invadiriam o prédio como uma horda. Ainda disparando pela janela, Peter ordenou que os homens recuassem para o abrigo; não restava nada a defender, a não ser a si mesmos. Muitos estavam sem munição, de qualquer modo. Um último disparo do fuzil de Peter e o carregador travou, sem bala. Ele jogou a arma de lado e sacou a pistola.
– Sr. Presidente, é hora de ir.
Apgar estava atrás dele.
– Achei que você tinha passado a me chamar de Peter.
– Estou falando sério. O senhor precisa descer por aquele buraco agora mesmo.
Peter disparou uma bala. Talvez tivesse acertado, talvez não.
– Não vou a lugar nenhum.
Peter jamais saberia com que Apgar o acertou. A coronha da pistola? A perna de uma cadeira quebrada? Uma pancada na nuca e suas pernas se dissolveram, seguidas pelo resto.
– Caleb – ouviu Apgar dizer –, me ajude a tirar seu pai daqui.
Seu corpo carecia de qualquer vontade; os pensamentos pareciam gelo escorregadio, impossíveis de se sustentar. Estava sendo arrastado, depois levantado, depois baixado de novo. Sentia-se estranhamente como uma criança, e esse sentimento se fundiu com algo lembrado – uma lembrança impossível, em que ele era um menininho de novo, não apenas um menino, mas um bebê, sendo passado de mão em mão. Viu rostos acima, feições inchadas e vagas. Estava sendo colocado numa plataforma de madeira. Um único rosto entrou em foco: o do seu filho. Mas Caleb não era mais um garoto, era um homem, e a situação havia se invertido. Caleb era o pai e ele era o filho, ou pelo menos assim parecia. Era uma inversão agradável, inevitável de certa forma, e Peter se sentiu feliz por ter vivido o suficiente para ver isso.
– Tudo bem, pai – disse Caleb. – Você está em segurança.
E então a luz se apagou.
Apgar bateu o alçapão e ouviu enquanto as trancas se fechavam por dentro.
– Você poderia ter ido – disse a irmã Peg.
– A senhora também.
Ele se levantou e olhou para ela. Tudo parecia subitamente calmo.
– A gasolina foi boa ideia.
– Também achei.
– Pronta?
Sons acima: os virais estavam passando pelo telhado. Apgar levantou um fuzil do chão, verificou o pente e o enfiou de volta no encaixe. A irmã Peg pegou a caixa de fósforos no bolso da túnica. Acendeu um, jogou-o. Um rio de chamas azuis serpenteou pelo chão, depois se separou, correndo em várias direções.
– Vamos? – disse Apgar.
Andaram rapidamente pelo corredor. Uma fumaça densa estava subindo. Pararam junto à porta.
– Sabe – observou a irmã Peg –, acho que vou ficar, afinal de contas.
Os olhos dele examinaram o rosto da irmã.
– Acho melhor assim – explicou ela. – Estar... com eles.
Claro que era isso que ela desejaria. Para afirmar sua compreensão, Apgar segurou o queixo dela, inclinou o rosto à frente e lhe deu um beijo leve nos lábios.
– Bom... – conseguiu dizer ela. Lágrimas lhe subiram à garganta. Jamais tinha sido beijada por um homem adulto. –... eu não esperava isso.
– Espero que não se incomode.
– Você sempre foi um garoto maravilhoso.
– É gentileza sua.
Ela segurou as mãos dele.
– Deus o abençoe e o proteja, Gunnar.
– A senhora também, irmã.
Então ele se foi.
Ela voltou para o corredor. Na sala de jantar, as chamas saltavam pelas paredes. A fumaça era densa e formava redemoinhos. A irmã Peg começou a tossir. Deitou-se sobre o alçapão. Seu tempo no mundo físico estava terminando. Não tinha medo do que viria, da mão do amor para a qual seu espírito iria passar. O fogo tomou conta do prédio. As chamas crepitavam, consumindo tudo. Enquanto a fumaça penetrava dentro dela, a mente da irmã Peg se encheu de rostos. Centenas, milhares de rostos. Suas crianças. Estaria com elas de novo.
Em volta de todo o prédio os virais vigiavam. Pareciam num estado de dormência, com o brilho das chamas roçando seus rostos desnudos. Tinham sido derrotados: o fogo era uma barreira que não podiam atravessar. Mas aguardavam, sempre esperançosos. As horas passaram. O prédio ardeu, ardeu e ardeu mais um pouco. As brasas ainda estavam reluzindo quando o alvorecer chegou, uma lâmina de luz varrendo a cidade silenciosa.
SETENTA E TRÊS
– Greer.
Estava morto para o mundo. Num mundo diferente uma voz chamava seu nome.
– Lucius, acorde.
Ele saltou bruscamente para a consciência. Estava sentado na cabine do caminhão-tanque. Mancha tinha subido no estribo junto à porta aberta. Pelo para-brisa chegava um amanhecer nevoento.
– Que horas são?
Sua boca estava seca.
– Seis e meia.
– Você devia ter me acordado.
– O que você acha que acabei de fazer?
Greer desceu. A água estava parada, pássaros voando baixo sobre a superfície vítrea.
– Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava dormindo?
Mancha encolheu os ombros magros e fortes.
– Nada importante. Logo antes do amanhecer, vimos uma pequena corja vindo pela beira d’água.
– Onde?
– Na base da ponte do canal.
Greer franziu a testa.
– E isso não pareceu importante?
– Eles nunca chegam muito perto. Não pareceu que valia a pena acordar você.
Greer entrou em sua picape e seguiu pelo istmo. Lore estava parada dentro do dique; com as mãos nos quadris, examinando o casco. O conserto estava quase terminado.
– Quanto tempo até inundarmos? – perguntou ele.
– Três, talvez quatro horas.
Ela levantou a voz e se dirigiu a outra pessoa.
– Rand! Cuidado com essa corrente!
– Onde ele está? – perguntou Greer.
– No barracão, acho.
Encontrou Michael sentado junto ao rádio de ondas curtas.
– Kerrville, responda, por favor. Aqui é o posto do istmo.
Uma pausa momentânea e ele repetiu o chamado.
– Alguma coisa? – perguntou Greer.
Michael balançou a cabeça. Sua expressão estava vazia, a mente distante, preocupada.
– Tenho outras notícias. Uma corja de virais foi vista perto da ponte, há pouco tempo.
Michael se virou rapidamente.
– Eles se aproximaram?
– Mancha disse que não.
Michael se recostou na cadeira. Esfregou o rosto com a mão pesada.
– Então eles sabem que estamos aqui.
– É o que parece.
Os trincos continuavam quentes demais para serem tocados. Peter estava parado na plataforma logo abaixo do alçapão. Sua mente havia clareado, mas a dor de cabeça parecia um furador de gelo enterrado na nuca.
– Deve estar claro lá fora – disse Sara. – O que devemos fazer?
Caleb e Hollis também estavam ali. Peter examinou o rosto deles; ambos tinham a mesma expressão de cansaço e derrota; a capacidade de decidir estava além deles. Ninguém tinha dormido nada.
– Esperar, acho.
Cerca de uma hora passou. Peter estava cochilando na plataforma quando ouviu uma batida no alçapão. Estendeu a mão para tocar na superfície: o metal havia esfriado um pouco. Tirou a camisa de malha e a enrolou nas mãos. Ao seu lado, Caleb fez o mesmo. Cada um pegou uma alavanca e girou. Frestas de luz do dia apareceram nas bordas e, com elas, um forte cheiro de fumaça. Água pingou. Terminaram de empurrar o alçapão.
Chase estava parado acima deles, segurando um balde. Seu rosto estava preto de fuligem. Peter subiu a escada, com os outros atrás. Saíram numa cena de ruína. O orfanato não existia mais, reduzido a escombros soltando fumaça, cinzas e traves desmoronadas. O calor ainda era intenso. Atrás do chefe do estado-maior de Peter estava um grupo de sete pessoas: três soldados de várias patentes e quatro civis, entre os quais uma adolescente e um homem que devia ter pelo menos 70 anos. Todos seguravam baldes, com as roupas encharcadas, braços e rostos pretos como carvão. Tinham molhado um caminho entre as cinzas, liberando uma passagem para fora da destruição. O fogo havia saltado para diversas construções adjacentes, que queimavam em vários estágios.
– É bom vê-lo, Sr. Presidente.
Como tinha acontecido com todos os que sobreviveram àquela noite terrível, a sobrevivência de Chase era uma história de sorte e timing perfeito. Quando a passarela começou a cair, ele havia acabado de deixar o posto de comando em busca de mais balas. Assim, estava perto da escada no lado oeste do portão. Tinha chegado embaixo bem a tempo de ver a coisa toda despencar. Dois soldados o haviam reconhecido; colocaram-no num caminhão para levá-lo à caixa-forte da presidência, mas não conseguiram chegar muito longe antes de serem atacados, e o motorista foi puxado através do para-brisa. Enquanto o veículo continuava andando, Chase foi lançado para fora. Com o fuzil vazio e a caixa-forte fora do alcance, correu para a construção mais próxima, uma pequena casa de madeira que o departamento de impostos usava como depósito. Passou as duas horas seguintes entre as caixas de papelada sem importância, enquanto os sete sobreviventes que estavam com ele iam chegando. Ficaram ali durante o resto da noite, tentando não atrair atenção, esperando um fim que não chegou.
Desde o alvorecer, mais sobreviventes tinham aparecido, mas não muitos. A visão de tantos corpos era chocante, nauseante. Os abutres tinham começado a pousar, bicando a carne. Não era algo que as crianças devessem ver. Durante a noite, Sara tinha contado cabeças. O abrigo continha 654 almas, na maioria mulheres e crianças. Sara desceu a escada para ajudar Jenny a organizar a remoção.
– E as outras caixas-fortes? – perguntou Peter.
O rosto de Chase estava sério.
– Eles entraram pelo chão.
– Olivia?
Chase balançou a cabeça.
– Meus sentimentos, Ford.
Ele balançou a cabeça levemente. Ainda não conseguira registrar nada daquilo por completo.
– E os tubos?
– Inundados. Não sei como eles fizeram, mas aconteceu.
O estômago de Peter se revirou; uma onda de tontura fria o atravessou.
– Peter? – chamou-o Chase.
Estava segurando seu braço; de repente ele é que era o forte.
– Nenhum sobrevivente?
Chase balançou a cabeça.
– Há outra coisa que você precisa ver.
Era Apgar. Estava vivo, mas por pouco. Estava caído no chão ao lado de um Humvee tombado. As pernas tinham sido esmagadas pelo veículo, mas isso não era o pior; na mão esquerda, em cima do peito, havia uma marca semicircular de dentes. Ele ainda estava na sombra, mas logo o sol iria encontrá-lo.
Peter se ajoelhou ao lado.
– Gunnar, está me ouvindo?
A consciência dele parecia dividida. Então, com um leve tremor, seus olhos se viraram para o rosto de Peter.
– Peter, olá.
A voz saiu fraca, sem qualquer emoção, a não ser, talvez, uma leve surpresa.
– Fique parado.
– Ah, não vou a lugar nenhum.
Suas pernas tinham sido totalmente esmagadas, mas ele não parecia sentir dor. Levantou a mão ferida com um gesto vago.
Dá para acreditar nessa merda?
– Alguém tem água?
Caleb apareceu com um cantil; só havia alguns centímetros de água no fundo. Peter segurou o pescoço de Apgar para levantar sua cabeça e encostou o cantil em seus lábios. Imaginou por que Apgar ainda não tinha se transformado. Claro, havia uma gama; variava de pessoa para pessoa. Alguns goles fracos, água pingando dos cantos da boca, e Apgar se recostou.
– É verdade o que dizem. Dá para sentir a coisa por dentro.
Ele inspirou longamente, com um tremor.
– Quantos sobreviventes? – perguntou.
Peter balançou a cabeça.
– Não muitos.
– Não se culpe.
– Gunnar...
– Aceite isso como meu último conselho oficial. Você fez tudo o que pôde. É hora de tirar essas pessoas daqui.
O general lambeu os lábios e levantou de novo a mão sangrenta.
– Mas não deixe que isso continue por muito tempo. Não quero que as pessoas me vejam assim.
Peter virou o rosto e examinou o grupo: Chase, Hollis, Caleb, alguns soldados. Todos estavam olhando. Sentia-se entorpecido; nada parecia real.
– Alguém me dê alguma coisa.
Hollis pegou uma faca. Peter aceitou o peso frio do objeto. Por um momento teve dúvidas de que encontraria coragem para fazer o que era necessário. Agachou-se de novo ao lado de Apgar, segurando a faca um pouco atrás do corpo, para mantê-la longe da vista.
– Foi uma honra servir com você, Sr. Presidente.
Com a garganta embargada de lágrimas, Peter levantou a voz, falando palavras que ninguém tinha dito por vinte anos.
– Este homem é soldado dos Expedicionários! É hora de ele viajar! Saúdem todos o general Gunnar Apgar! Hip hip...
– Urra!
– Hip hip...
– Urra!
– Hip hip...
– Urra!
Apgar respirou fundo e deixou o ar sair lentamente. Seu rosto ficou em paz.
– Obrigado, Peter. Agora estou pronto.
Peter empurrou a faca.
Havia mais dois.
Peter estava olhando o corpo de Apgar. Ele havia morrido rapidamente, quase sem fazer barulho. Um grunhido quando a faca penetrou, os olhos se arregalando, a morte entrando neles.
– Alguém me arranje um cobertor.
Ninguém disse nada.
– Maldição, qual é o problema com vocês? Você... – reagiu, apontando um dedo para um soldado. – Qual é o seu nome?
O sujeito parecia meio atordoado.
– Senhor?
– O quê, não sabe qual é o seu nome? É tão idiota assim?
Ele engoliu em seco, nervoso.
– É Verone, senhor.
– Organize uma equipe de enterro. Quero todo mundo reunido no campo de exercícios em trinta minutos. Honras militares completas, entendido?
Ele olhou para os outros.
– Algum problema, soldado?
– Pai...
Caleb o segurou pelo braço e o fez olhar para ele.
– Sei que é doloroso. Todos entendemos como o senhor se sentia com relação a ele. Vou arranjar um cobertor, está bem?
As lágrimas tinham começado a correr; seu queixo tremia com fúria contida.
– Não vamos deixá-lo aqui para os pássaros, droga.
– Há um monte de corpos aqui. Não temos tempo.
Peter o empurrou.
– Esse homem foi um herói. Ele é o motivo de ainda estarmos vivos.
Caleb falou em tom contido.
– Sei disso, pai. Todo mundo sabe. Mas o general estava certo. Precisamos pensar no que vem em seguida.
– Vou dizer o que vem em seguida. Vamos enterrar este homem.
– Sr. Presidente...
Peter se virou. Era Jock. Alguém tinha enrolado seu tornozelo e encontrado um par de muletas. Ele estava suado e um pouco sem fôlego.
– Que diabo está acontecendo agora?
O sujeito parecia inseguro.
– Pelo amor de Deus, diga.
– Parece que... tem alguém vivo lá fora.
O portão não existia mais: uma das bandas tinha sido meio arrancada e pendia de uma única dobradiça. A outra metade estava no chão, 30 metros muro adentro. Enquanto passavam pela abertura, a primeira impressão de Peter, impossível, foi de que tinha nevado durante a noite. Uma poeira fina, clara, cobria cada superfície. Um momento se passou antes que ele entendesse o significado daquilo. O exército de Carter estava morto; seus ossos, agora ao sol, tinham começado a se desfazer.
Amy estava sentada junto à base do muro, os braços em torno dos joelhos, olhando por cima do campo. Coberta de cinzas, parecia um fantasma, um espectro de história infantil. Poucos metros atrás dela, ao lado do corpo de Soldado, estava Alicia. A garganta do cavalo estava rasgada, dentre outras coisas. Moscas zumbiam em volta dele, entrando e saindo dos ferimentos.
Peter avançou cada vez mais rápido.
Amy virou o rosto para ele.
– Ele não nos matou – disse ela. Falava como se estivesse atordoada. – Por que ele não nos matou?
Sua presença mal foi registrada na mente de Peter; era Alicia que ele queria.
– Você sabia!
Passou feito um louco por Amy, agarrou Alicia pelo braço e rolou-a de rosto para cima.
– Você sabia o tempo todo!
– Peter, pare! – gritou Amy.
Ele se ajoelhou e montou sobre a cintura de Alicia. Seus dedos envolveram o pescoço dela. Seus olhos e mente se encheram com a visão desprezível da mulher.
– Ele era meu amigo!
Mais vozes, não somente de Amy, estavam gritando com ele, mas não importava. Era como se o estivessem chamando da Lua. Alicia gorgolejava. Seus lábios empalideceram até ganharem uma cor azulada. Ela estava franzindo os olhos à luz da manhã. Através dessas fendas estreitas, os olhares dos dois se encontraram. Nos olhos dela Peter não viu medo, e sim uma aceitação fatalista. Vá em frente, diziam os olhos. Nós fizemos todo o resto juntos, por que não isto? Sob as pontas dos polegares ele sentiu a cartilagem dura da traqueia. Desceu os dedos um pouco, posicionando-os na depressão da base do pescoço. Mãos o haviam agarrado. Algumas puxavam seus ombros, outras tentavam soltar seus dedos do pescoço dela.
– Ele era meu amigo e você o matou! Você matou todos eles! – Um empurrão forte para esmagar a laringe, e seria o fim dela.
– Diga, traidora! Diga que sabia!
Uma força tremenda o puxou para longe. Ele caiu de costas na poeira. Hollis.
– Respire, Peter.
O sujeito havia se posicionado entre Peter e Alicia, que tinha começado a tossir. Amy estava ajoelhada ao lado dela, segurando sua cabeça.
– Todos nós a ouvimos – disse Hollis. – Ela estava tentando nos alertar.
O rosto de Peter ardia. Os punhos, fechados com força, tremiam de tanta adrenalina.
– Ela mentiu para nós.
– Entendo sua raiva. Todos entendemos. Mas ela não sabia.
A consciência de Peter se expandiu. Os outros o observavam numa incompreensão muda. Caleb. Chase. Jock, apoiado nas muletas. O velho que, por algum motivo, ainda segurava um balde.
– Agora, você concorda em deixá-la em paz? Sim ou não? – perguntou Hollis.
Peter engoliu em seco. A névoa da fúria tinha começado a se dissipar. Outro momento se passou e ele assentiu.
– Certo, então – disse Hollis.
Ele estendeu a mão e puxou Peter de pé. A tosse de Alicia havia se aliviado um pouco. Amy levantou os olhos.
– Caleb, vá correndo chamar Sara.
Amy esperou perto de Alicia, até Sara chegar. Ao ver Alicia, ela levou um susto.
– Vocês estão brincando comigo – falou, a voz sem qualquer piedade.
– Por favor, Sara – disse Amy.
Havia lágrimas em seus olhos.
– Você acha que eu vou ajudá-la?
Sara examinou os outros.
– Ela que vá para o inferno!
Hollis a segurou pelos ombros para fazer com que ela o encarasse.
– Ela não é nossa inimiga, Sara. Por favor, acredite. E vamos precisar dela.
– Para quê?
– Para nos ajudar a sair daqui. Não só você e eu. Pim. Theo. As meninas.
Um momento se passou. Sara deu um suspiro e se afastou dele. Agachou-se ao lado de Alicia, examinando-a rapidamente com os olhos, sem expressão, depois levantou a cabeça.
– Não vou fazer isso com uma plateia. Amy, você fica. O resto, um pouco de espaço, por favor.
O grupo recuou. Caleb levou Peter de lado.
– Pai? Tudo bem?
Ele não sabia direito o que dizer. Sua raiva havia se esvaído, mas não a dúvida. Olhou para além dos ombros do filho. Sara estava passando as mãos sobre o peito e a barriga de Alicia, apertando as pontas dos dedos.
– Tudo.
– Todo mundo entende.
Caleb não disse mais nada. Ninguém disse. Mais alguns minutos se passaram antes que Sara se levantasse e fosse até eles.
– Ela está muito machucada e com fraturas.
Seu tom era indiferente: estava fazendo um serviço, e só.
– Não sei qual é a extensão. E no caso dela provavelmente as coisas vão acontecer de modo diferente. Uns dois ferimentos de bala já se fecharam, mas não sei o que está acontecendo por dentro. Ela tem uma fratura na coluna e umas outras seis que consigo detectar.
– Vai sobreviver? – perguntou Amy.
– Se fosse outra pessoa, já estaria morta. Posso costurá-la e engessar a perna. Ela precisa ser imobilizada. Quanto ao resto... – Sara deu de ombros sem sentimento. – Não faço a menor ideia.
Caleb e Chase voltaram com uma maca e carregaram Alicia para dentro. Todos os sobreviventes tinham sido levados do abrigo e reunidos na área de desembarque. Jenny e Hannah percorriam o grupo com baldes de água e conchas. Aqui e ali uma pessoa soluçava; outras falavam baixinho ou olhavam para o espaço.
– E agora? – perguntou Chase.
Peter se sentia desligado de tudo, quase flutuando. Partículas de cinzas, com cheiro amargo, continuavam caindo. Os incêndios tinham começado a se espalhar. Saltando de construção em construção, chegariam até o rio, consumindo tudo no caminho. Outras partes da cidade, poupadas das chamas, durariam mais – anos, décadas. Chuva, vento, os dentes devoradores do tempo – tudo faria seu trabalho. Peter podia ver isso na mente. Kerrville iria se tornar mais uma ruína num mundo cheio delas. De repente foi esmagado pela simplicidade de tudo aquilo. A cidade tinha caído, a cidade tinha morrido. Sentia isso com intensidade, a facada da derrota.
– Caleb?
– Aqui, pai.
Peter se virou. Seu filho estava esperando. Todo mundo estava.
– Precisamos de veículos. Ônibus, caminhões, o que você puder encontrar. Combustível também. Hollis, vá com ele. Ford, o que temos de energia?
– Tudo está apagado.
– O alojamento tem um gerador reserva. Veja se podemos fazer com que funcione. Precisamos mandar uma mensagem ao Michael, dizer que estamos indo. Sara, você está no comando aqui. As pessoas vão precisar de comida e água, o suficiente para o dia. Mas todo mundo precisa estar preparado. Nada de se afastar, nada de procurar parentes ou recuperar pertences.
– Que tal formar uma equipe de busca? – sugeriu Amy. – Ainda pode haver pessoas lá fora.
– Pegue dois homens e um veículo. Comece do outro lado do rio e volte para cá. Fique longe de áreas sombreadas e das construções.
– Eu gostaria de ajudar – disse Jock.
– Ótimo, façam o que puderem, mas sejam rápidos. Vocês têm uma hora. Nada de passageiros, a não ser que estejam feridos. Qualquer um que possa andar pode chegar aqui por conta própria.
– E se encontrarmos mais infectados que ainda não se transformaram? – perguntou Caleb.
– Isso é decisão deles. Façam a oferta. Se eles não aceitarem, deixem onde estão. Não vai fazer diferença.
Ele fez uma pausa.
– Está claro para todo mundo?
Assentimentos e murmúrios percorreram o grupo.
– Então é isso – disse Peter. – Terminamos aqui. Sessenta minutos, pessoal, e vamos embora.
SETENTA E QUATRO
Eram 764 almas.
Estavam sujos, exaustos, aterrorizados, confusos. Viajavam em seis ônibus – três em cada banco –, quatro caminhões de 5 toneladas atulhados de gente e oito caminhões menores e picapes, tanto militares quanto civis, com as carrocerias cheias de suprimentos: água, comida, combustível. Tinham apenas umas poucas armas e praticamente nenhuma munição. Dentre eles contavam 532 crianças com menos de 13 anos, 309 destas com menos de 6; 122 mães de crianças com 3 anos ou menos, inclusive dezenove mulheres que ainda amamentavam. Dos 110 restantes, havia 68 homens e 42 mulheres de várias idades e origens. Trinta e dois eram ou tinham sido soldados. Nove estavam com mais de 60 anos; a mais velha, uma viúva que tinha ficado sentada em casa durante a noite, murmurando sozinha que todo o barulho lá fora não passava de um monte de absurdos, tinha 82 anos. No grupo havia mecânicos, eletricistas, enfermeiros, tecelões, vendedores, contrabandistas, agricultores, ferreiros, um armeiro e um sapateiro.
Um dos passageiros era o médico bêbado, Brian Elacqua. Inebriado demais para entender as ordens de ir para a represa, quando a noite caiu se pegou imaginando para onde todo mundo teria ido. Tinha passado as 24 horas desde a volta a Kerrville bebendo até apagar na casa abandonada que já fora sua – um milagre ter conseguido encontrá-la – e acordara sob um silêncio e uma escuridão que o incomodara. Ao sair de casa à procura de mais bebida, chegara à praça justo quando irrompia um tiroteio junto ao muro. Estava profundamente desorientado e ainda bastante bêbado. Pensara, atônito: por que as pessoas estão atirando? Decidira ir para o hospital. Era um lugar que ele conhecia, um marco. Além disso, talvez alguém pudesse lhe dizer o que diabos estava acontecendo. Enquanto ia para lá, sua apreensão cresceu. Os tiros continuavam e ele estava escutando outros sons, também: veículos correndo, gritos de pavor. Quando o hospital surgiu, ouviu um grito seguido por um tiroteio feroz. Jogou-se no chão. Não tinha ideia do que era aquilo; parecia algo totalmente desconectado. Além disso, percebeu, com preocupação súbita: o que tinha sido feito da sua mulher? Era verdade que ela o desprezava, mas ele estava acostumado com a presença dela. Por que ela não estava ali?
Essas perguntas foram postas de lado com o som e o choque de um impacto tremendo. Elacqua afastou o rosto do chão. Um caminhão tinha colidido com a frente do prédio. Não somente isso: tinha atravessado direto a parede. Levantou-se e foi cambaleando até lá. Talvez alguém estivesse ferido, pensou. Talvez precisassem de ajuda. “Entrem!”, gritou um homem na cabine. “Todo mundo, dentro do caminhão!”
Elacqua subiu cambaleando os degraus do prédio e viu uma cena de tamanha desordem que seu cérebro embebedado não conseguiu computar. A sala estava cheia de mulheres e crianças gritando. Soldados as empurravam e jogavam na carroceria ao mesmo tempo que atiravam por cima da cabeça na direção da escada. Elacqua foi apanhado na confusão. No caos, sua mente destilou a imagem de um rosto familiar. Era Sara Wilson? Teve a sensação de que a vira recentemente, mas não conseguia dar forma à memória. De qualquer modo, pareceu boa ideia entrar no caminhão. Abriu caminho pela balbúrdia. Crianças se empurravam a toda a volta e embaixo dos pés. O motorista do veículo estava ligando o motor. Nesse ponto Elacqua havia chegado à aba traseira da carroceria. O caminhão estava apinhado, praticamente sem espaço. Além disso havia o problema de colocar um pé no para-choque e subir na carroceria, ato que exigia certa coordenação física, que ele achava não possuir. “Me ajudem” gemeu.
A mão de alguém, certamente enviada pelo céu, se estendeu para baixo. Ele entrou no caminhão, caindo sobre corpos enquanto o veículo se lançava em frente. Em seguida sentiu o ritmo sincopado de pancadas capazes de fazer doer os ossos enquanto o caminhão saía do prédio e descia os degraus. Através da névoa de terror e confusão, Brian Elacqua teve uma revelação: sua vida tinha sido indigna. Poderia não ter sido assim – ele pretendera ser um homem bom e decente –, mas com o passar dos anos havia se afastado muito do caminho. Se eu sair dessa, pensou, nunca mais vou tocar em bebida.
E foi assim que, dezesseis horas mais tarde, Brian Elacqua se viu num ônibus escolar com 87 mulheres e crianças, afundado nas tristezas físicas e existenciais da abstinência aguda do álcool. Ainda era de manhã cedo, a luz era suave, com uma cor dourada. Junto com muitos outros, tinha visto a cidade ficando para trás, depois desaparecendo de vez. Não tinha completa certeza de para onde iam. Falava-se num navio que iria levá-los a algum lugar seguro, mas ele achava difícil acreditar. Por que, dentre todas as pessoas, logo ele, um homem que tinha desperdiçado a vida, o mais indigno dos bêbados indignos, sobrevivera? Sentada no banco ao seu lado estava uma menininha com cabelo louro-ruivo, amarrado atrás com uma fita. Supôs que teria 4 ou 5 anos. Usava um vestido frouxo feito de tecido grosso; os pés estavam sujos e descalços, cobertos por numerosos arranhões e cascas de ferida. Junto à cintura segurava um velho brinquedo de pelúcia, algum tipo de bicho, um urso ou talvez um cachorro. Ainda não tinha reconhecido a presença dele de nenhum modo, com os olhos voltados para a frente.
– Onde estão seus pais, querida? – perguntou Elacqua. – Por que você está sozinha?
– Porque eles morreram – declarou a menininha.
Não olhou para ele enquanto falava.
– Estão todos mortos – falou ela.
E com isso Brian Elacqua baixou o roso sobre as mãos, o corpo se sacudindo com as lágrimas.
Ao volante do primeiro ônibus, Caleb estava olhando o relógio. Era quase meio-dia; estavam na estrada havia pouco mais de quatro horas. Pim e Theo ocupavam um banco atrás dele, com as meninas. Seu tanque estava pela metade; planejavam parar em Rosenberg, onde um caminhão-tanque vindo do istmo iria se encontrar com eles, para reabastecer. O ônibus estava silencioso; ninguém falava. Acalentadas pelo balanço do chassis, a maioria das crianças tinha caído no sono.
Haviam passado pelo último distrito exterior quando o rádio estalou:
– Parem, todo mundo. Parece que perdemos um.
Caleb parou o ônibus e desceu enquanto seu pai, Chase e Amy saíam do Humvee que ia à frente do comboio. Um dos ônibus, o quarto da fila, estava parado com o capô aberto. Vapor e líquido brotavam do radiador.
Hollis estava de pé em cima do para-choque, batendo no motor com um trapo.
– Acho que é a bomba d’água.
– Você pode fazer alguma coisa? – perguntou o pai de Caleb. – E teria de ser bem rápido.
Hollis pulou no chão.
– Sem chance. Essas latas-velhas não foram feitas para isso. Estou surpreso que tenha demorado tanto para pifar.
– Já que paramos – sugeriu Sara –, melhor aproveitar para levar as crianças.
– Levar as crianças aonde?
– Ao banheiro, Peter.
Hollis suspirou, impaciente. Qualquer minuto de atraso era um minuto em que estariam viajando no escuro, na outra ponta.
– Cuidado com as cobras. Só nos faltava isso agora.
As crianças saíram e foram levadas para o mato baixo, as meninas de um lado dos ônibus e os meninos do outro. Quando o comboio estava pronto para andar de novo, tinham parado por vinte minutos. Soprava um vento quente texano. Era uma e meia da tarde. O sol acima parecia a cabeça de um martelo no céu.
O remendo estava terminado: a doca pronta para ser enchida. Michael, Lore e Rand, numa das seis casas de bombas ao longo da represa, preparavam-se para acionar as aberturas para o mar. Greer tinha saído com Mancha e Rosenberg no último caminhão-tanque.
– Não deveríamos dizer alguma coisa? – perguntou Lore a Michael.
– Que tal “Abra, por favor, seu filho da mãe”?
O volante não era girado havia dezessete anos.
– Isso vai ter de servir – disse Lore.
Michael enfiou um pé de cabra entre os raios. Lore empunhava uma marreta. Michael e Rand seguraram o pé de cabra e fizeram força.
– Bata agora.
Posicionada de lado, Lore bateu com a marreta. Ela resvalou na parte de cima do aro.
– Pelo amor de Deus! – reclamou Michael, com os dentes trincados e o rosto vermelho com o esforço. – Bata no filho da mãe.
Um golpe depois do outro: o volante continuava se recusando a girar.
– Isso não está bom – disse Rand.
– Deixe-me tentar – sugeriu Lore.
– Como isso vai ajudar?
Lore simplesmente o encarou, ele se pôs de lado.
– Fique à vontade.
Lore deixou o pé de cabra de lado. Em vez disso agarrou o volante.
– Você não tem apoio de alavanca – disse Rand. – Não vai dar certo.
Lore o ignorou. Firmou os pés bem separados. Os músculos dos braços se retesaram, cordas grossas esticadas sobre ossos.
– Não adianta – declarou Michael. – Precisamos tentar outra coisa.
Então, milagrosamente, o volante começou a girar. Um centímetro, em seguida dois. Todos ouviram: a água tinha começado a se mover. Um fino borrifo saltou pela abertura no piso da doca. Com um solavanco, o volante se soltou. Abaixo deles o mar começou a jorrar para dentro. Lore recuou, flexionando os dedos.
– Nós devemos ter afrouxado – disse Rand, sem graça.
Ela deu um sorriso de desprezo.
A hora estava chegando depressa.
Seu exército não existia mais. Carter sentiu os patetas abandonando-o: um grito de terror, uma explosão de dor e então o abandono. As almas tinham passado por ele como um vento, um redemoinho de memórias, enfraquecendo, depois sumindo.
Fez as últimas tarefas do dia com a sensação de que cumpria um rito importante. Nuvens baixas se moviam pelo céu enquanto ele empurrava o cortador de grama até o barracão, trancava a porta com cadeado e se virava para o quintal para examinar seu trabalho. O gramado bem cortado, cada folha do mesmo tamanho. As bordas arrematadas junto aos caminhos, com a faixa de grama fininha para demarcar. As árvores todas podadas, e as flores, vários canteiros, parecendo um tapete de cor sob as cercas vivas. Naquela manhã um bordo-japonês tinha aparecido junto ao portão. A Sra. Wood sempre quisera um. Carter o havia levado no vaso de plástico até o canto do quintal e plantado no solo. Os bordos-japoneses tinham um ar elegante, como as mãos de uma mulher bonita. Parecia um ato solene plantá-lo ali, um último presente ao quintal do qual tinha cuidado por tanto tempo.
Enxugou a testa. Os irrigadores foram ligados, espalhando uma névoa fina pelo gramado. Dentro de casa as meninas estavam rindo. Carter desejou poder vê-las, falar com elas. Imaginou-se sentado no pátio enquanto as observava a brincar no quintal, jogando bola ou correndo uma atrás da outra. As menininhas precisavam passar tempo ao sol.
Esperava não estar fedendo muito. Cheirou as axilas e supôs que dava para passar. Junto à janela da cozinha, inspecionou o próprio reflexo. Fazia muito tempo que não se incomodava com isso. Achava que tinha a aparência de sempre, que não era uma coisa nem outra, só um rosto como o da maioria das pessoas.
Pela primeira vez em mais de um século, Carter abriu o portão e passou.
O ar não era diferente ali. Imaginou por que tinha pensado que seria. A cidade movimentada zumbia ao fundo, mas a rua estava silenciosa, todas as casas grandes olhando-o de volta sem qualquer interesse particular. Caminhou até o fim da entrada de veículos para esperar, abanando-se com o chapéu.
Era a hora em que tudo muda. Os pássaros, os insetos, os vermes na grama – todos sabem. As cigarras cantavam nas árvores.
SETENTA E CINCO
17h: Greer e Mancha estavam esperando no caminhão-tanque havia duas horas. Mancha lia uma revista – ou talvez só olhava. Chamava-se National Geographic Kids. As páginas estavam quebradiças e se soltavam quando viradas. Ele cutucou Greer no ombro e a estendeu para mostrar uma foto.
– Acha que vai ser assim?
Uma cena de selva: folhas verdes e gordas, pássaros multicoloridos, tudo entrelaçado com trepadeiras. Greer estava preocupado demais para olhar com atenção.
– Não sei. Talvez.
Mancha a pegou de volta.
– Imagino se tem gente lá.
Greer usou o binóculo para examinar o horizonte ao norte.
– Duvido.
– Porque, se houver, espero que sejam amistosos. Depois de tanto esforço, vai ser muito frustrante se não forem.
Mais quinze minutos se passaram.
– Talvez a gente devesse ir procurá-los – sugeriu Mancha.
– Espere. Acho que são eles.
Uma nuvem de poeira tinha se formado a distância. Greer olhou pelo binóculo enquanto uma imagem do comboio tomava forma. Os dois desceram da cabine quando o primeiro veículo se aproximou.
– Por que demoraram? – perguntou a Peter.
– Perdemos dois ônibus. Um radiador estourado e um eixo quebrado.
Todos os veículos usavam diesel, a não ser as picapes menores, que carregavam seu próprio combustível extra. Greer organizou uma equipe para colocar o diesel em garrafões. Formaram uma fila e começaram a passá-los de mão em mão para abastecer os ônibus. As crianças foram autorizadas a desembarcar, mas não podiam ir longe.
– Quanto tempo isso vai demorar? – perguntou Chase a Greer.
Demorou quase uma hora. As sombras tinham começado a se alongar. Ainda faltavam 80 quilômetros, mas seriam os mais difíceis. Nenhum dos ônibus poderia ir a mais de 30 quilômetros por hora no terreno acidentado.
O comboio começou a se movimentar de novo.
A doca estava se enchendo havia sete horas. Tudo estava pronto – baterias carregadas, as bombas do porão funcionando normalmente, os motores prontos para serem ligados. Correntes tinham sido fixadas para segurar o Bergensfjord no lugar. Michael estava na casa do leme com Lore. O mar havia subido um metro acima da linha-d’água – dentro de uma margem razoável de erro, mas mesmo assim era perturbador.
– Não aguento isso – disse Lore.
Ela estava andando de um lado para outro no espaço minúsculo, toda a energia subitamente sem ter algo em que ser canalizada. Michael pegou o microfone no painel.
– Rand, o que está vendo aí embaixo?
Ele estava percorrendo os corredores abaixo do convés, verificando as emendas.
– Tudo bem até agora, sem vazamentos. Parece estanque.
A água subiu mais e mais, envolvendo o casco em seu abraço frio. E o navio continuava se recusando a se erguer.
– Por todos os voadores, isso está me matando – gemeu Lore.
– Essa é uma expressão que nunca ouvi você usar – disse Michael.
– Bom, agora vejo sentido em usá-la.
Michael levantou a mão; tinha percebido alguma coisa. Forçou todos os sentidos a entrar em foco. A sensação voltou: um tremor minúsculo, ondulando pelo casco. Seu olhar encontrou o de Lore. Ela também tinha detectado. A grande criatura estava voltando à vida. O convés se mexeu embaixo dele com um gemido profundo.
– Vamos lá! – gritou Lore.
O Bergensfjord começou a se levantar dos suportes.
No final do quarteirão surgiu o Denali, virando a esquina com cuidado meticuloso. Carter saiu para a rua e se posicionou no caminho do veículo. Não levantou a mão de nenhum modo para indicar o desejo de que ele parasse. Ficou de lado quando o carro se imobilizou à sua frente. Com um ronronado baixo, mecânico, a janela do motorista baixou. Um ar frio e um cheiro de couro bateram no rosto dele.
– Sr. Carter?
– Que bom vê-la, Sra. Wood.
Ela estava usando as roupas de tênis. Os embrulhos prateados no banco de trás, a cadeirinha de bebê com o móbile de brinquedos de pelúcia, os óculos escuros empoleirados na cabeça: igual à manhã em que tinham se conhecido.
– A senhora está com boa aparência – disse ele.
Os olhos dela se estreitaram, examinando-o, como se estivesse tentando ler letras pequenas.
– O senhor me fez parar.
– Sim, senhora.
– Não entendo. Por que fez isso?
– Por que não para na entrada de veículos? Aí podemos conversar.
Ela olhou em volta, confusa.
– Vá em frente – tranquilizou ele.
Com relutância, ela virou o Denali para a entrada de veículos e desligou o motor. Carter foi de novo até a janela do motorista. O motor estava fazendo um tique-taque baixo. Com as mãos apertando o volante, Rachel olhava direto pelo para-brisa, como se tivesse medo de encará-lo.
– Acho que eu não deveria estar fazendo isso – disse ela.
– Está tudo bem.
A voz dela ficou mais aguda, de pânico.
– Mas não está certo. Não está nem um pouco certo.
Carter abriu a porta.
– Por que não vem ver o quintal, Sra. Wood? Mantive ele bonito para a senhora.
– Eu deveria dirigir o carro. É isso que eu faço. É a minha tarefa.
– Esta manhã mesmo plantei um daqueles bordos de que a senhora gosta. A senhora deveria ver como é bonito.
Ela ficou em silêncio por um momento. Depois:
– Um bordo-japonês, é?
– Sim, senhora.
Ela assentiu, pensativa.
– Sempre pensei que seria a coisa certa para aquele canto, sabe?
– Claro que sei.
Ela se virou para olhá-lo. Por um momento examinou o rosto dele, com os olhos azuis ligeiramente semicerrados.
– O senhor sempre pensa em mim, não é, Sr. Carter? Sempre sabe a coisa certa a dizer. Acho que nunca tive um amigo como o senhor.
– Ah, imagino que tenha.
– Ah, por favor. Eu tenho pessoas, claro. Há um monte de gente na vida de Rachel Wood. Mas nunca houve alguém que me entendesse como o senhor.
Ela o olhou com gentileza.
– O senhor e eu... somos uma dupla e tanto, hein?
– Eu diria que sim, Sra. Wood.
– Bom, se eu já disse uma vez, vou dizer mil vezes. Pode me chamar de Rachel.
Ele assentiu.
– Anthony, então.
O rosto dela se abriu como se ela tivesse descoberto uma coisa.
– Rachel e Anthony! Somos como dois personagens de um filme.
Ele estendeu a mão.
– Por que não vem agora, Rachel? Vai ficar tudo bem, você vai ver.
Aceitando a mão dele para se equilibrar, ela saiu do carro. Junto à porta aberta, parou com grande deliberação e encheu os pulmões de ar.
– Ora, que cheiro maravilhoso! – disse. – O que é?
– Cortei a grama agorinha mesmo. Acho que é isso.
– Claro. Agora me lembro.
Ela sorriu com satisfação.
– Quanto tempo faz que não sinto cheiro de grama cortada? Quanto tempo que não sinto cheiro nenhum, por sinal!
– O jardim está esperando. Tem um monte de cheiros bons lá.
Ele lhe ofereceu o braço. Rachel o aceitou e deixou Carter ir à frente. As sombras estavam se estendendo no chão; a tarde ia cair. Ele a guiou até o portão, onde ela parou.
– Sabe como você me faz sentir, Anthony? Andei tentando pensar num modo de dizer.
– Como?
– Você me faz sentir que sou vista. Como se eu fosse invisível até você chegar. Parece maluquice? Provavelmente sim.
– Para mim, não.
– Acho que eu senti imediatamente, naquela manhã embaixo do viaduto. Você lembra?
A sensação de algo distante chegou aos olhos dela.
– Foi tudo tão perturbador! Todo mundo buzinando e gritando, e você ali com a placa. ESTOU COM FOME. POR FAVOR, AJUDE. Pensei: esse homem significa alguma coisa. Não está aqui por acidente. Esse homem entrou na minha vida com um propósito.
Carter abriu o trinco. Ela passou. Ainda estava segurando o braço dele, os dois como um casal andando pelo caminho. Os passos dela eram solenes e medidos, como se cada um exigisse um ato consciente de vontade.
– Ora, Anthony, isso está mesmo lindo!
Estavam junto à piscina. A água perfeitamente imóvel e azul. Em volta o jardim era uma demonstração refulgente de cor e vida.
– Honestamente, mal posso acreditar nos meus olhos. Depois de todo esse tempo. Você deve ter trabalhando demais.
– Não foi nada. E tive alguma ajuda.
Rachel olhou para ele.
– Verdade? De quem?
– Uma mulher que eu conheço. Chama-se Amy.
Rachel pensou nisso.
– Bom – disse ela, levando um dedo aos lábios –, acho que conheci uma Amy, não faz muito tempo. Acho que dei uma carona a ela. Mais ou menos dessa altura, de cabelo escuro?
Carter assentiu.
– Uma garota muito doce. E que pele! Pele absolutamente gloriosa.
Ela sorriu de repente.
– E o que temos aqui?
Seu olhar havia pousado nos cosmos. Ela se separou dele e andou pelo gramado até os canteiros, com Carter atrás.
– São simplesmente lindos, Anthony.
Ela se ajoelhou diante das flores. Carter havia plantado dois tons de rosa: o primeiro profundo e sólido, o segundo mais suave, com clarões verdes, em hastes longas e pontudas.
– Posso, Anthony?
– Faça o que quiser. Eu plantei para você.
Ela escolheu uma das rosas de tom mais profundo e partiu a haste. Segurou-a entre o polegar e o indicador e girou-a lentamente, respirando com suavidade pelo nariz.
– Sabe o que o nome significa? – perguntou.
– Acho que não.
– É grego. Significa “universo equilibrado”.
Ela se balançou para trás nos calcanhares.
– É engraçado, não tenho ideia de como sei disso. Provavelmente aprendi na escola.
Um silêncio se passou.
– Haley adora.
Rachel estava olhando a flor, como se fosse um talismã ou a chave de uma porta que ela não conseguia destrancar.
– Adora mesmo – concordou Carter.
– Vive colocando no cabelo. E no da irmã também.
– A Srta. Riley. Mais bonitinha, impossível.
Uma noite suave estava chegando por entre os galhos das árvores. Rachel apontou o rosto para o céu.
– Tenho tantas lembranças, Anthony. Às vezes é difícil demais separá-las.
– As coisas vão voltar para você – garantiu ele.
– Eu me lembro da piscina.
Estava acontecendo. Carter se agachou ao lado dela.
– Aquela manhã, como tudo foi terrível. O ar tão cru.
Ela respirou longamente, de um jeito lamentoso.
– Eu estava triste demais. Incrivelmente triste. Como se houvesse um grande oceano negro, e ali estava eu, flutuando nele, à deriva, sem terra em lugar nenhum, nada para querer ou esperar. Só eu, a água, a escuridão, e a gente sabe que vai ser sempre assim, para todo o sempre.
Ela ficou em silêncio, perdida naqueles pensamentos antigos e perturbados. O ar tinha ficado mais frio; as luzes da cidade, acendendo, refletiam-se nas nuvens baixas, criando um brilho pálido. Depois:
– Foi então que vi você. Você estava no quintal com Haley. Só... – Ela deu de ombros. –... mostrando alguma coisa a ela. Um sapo, talvez. Uma flor. Você vivia fazendo isso, mostrando coisas pequeninas para deixá-la feliz.
Ela balançou a cabeça devagar.
– Mas essa é a questão. Eu sabia que era você, acreditava que era você. Mas não era você que eu via.
Ela estava olhando para o chão, os olhos secos, além de qualquer sentimento. Agora tudo iria se derramar, as lembranças, a dor, os horrores daquele dia.
– Era a Morte, Anthony.
Carter esperou.
– Sei que é uma ideia estranha. Uma ideia maluca. E você tão doce comigo, com todos nós. Mas vi você ali parado com Haley e pensei: a morte chegou. Está aqui, está agora mesmo com a minha menininha. É tudo um erro, um erro terrível, sou eu que ela quer. Sou eu que preciso morrer.
O dia estava acabando, as cores se desbotando, o céu liberando as últimas luzes. Ela levantou o rosto. Seus olhos imploravam, úmidos e arregalados.
– Foi por isso que eu fiz o que fiz, Anthony. Não foi justo. Não foi certo, eu sei. Há coisas que nunca podem ser perdoadas. Mas foi por isso.
Rachel tinha começado a chorar. Carter passou os braços em volta dela enquanto ela se afrouxava contra seu corpo. A pele era quente e tinha um cheiro doce, com apenas uma leve sugestão de perfume. Como ela era pequena! E ele não era um homem nem um pouco grande. Era como se ela fosse um passarinho, só uma coisinha na mão dele.
As meninas gargalhavam dentro de casa.
– Ah, meu Deus, eu as abandonei – soluçou Rachel.
Estava apertando a camisa dele entre os punhos cerrados.
– Como pude abandoná-las? Meus bebês. Minhas menininhas lindas.
– Pronto, pronto – disse ele. – É hora de deixar de lado todas as coisas antigas.
Ficaram assim durante um tempo, abraçados. A noite havia baixado completamente. O ar estava imóvel e úmido com orvalho. As meninas cantavam. A música era doce e sem palavras, como o canto dos pássaros.
– Estão esperando você – disse Carter.
Ela balançou a cabeça, encostada no peito dele.
– Não posso encará-las. Não posso.
– Seja forte, Rachel. Seja forte para as suas filhas.
Ela deixou que ele a puxasse lentamente de pé e segurou o braço dele, apertando com as duas mãos, logo acima do cotovelo. Com passos pequenos, Carter a levou ao redor da piscina, em direção à porta dos fundos. A casa estava escura. Carter tinha esperado que fosse assim, mas não podia dizer por quê. Era simplesmente uma parte, outra parte, de como as coisas eram neste lugar.
Pararam diante da porta. Do interior da casa vinham mais risos e estalos de molas: as meninas estavam pulando nas camas.
– Não vai abrir? – perguntou Rachel.
Carter não respondeu. Rachel olhou para ele com atenção; algo mudou no rosto dela. Soube que ele não iria junto.
– Tem de ser assim – explicou ele. – Vá agora. Diga olá a elas por mim, está bem? Diga que pensei nelas todo dia.
Ela olhou a maçaneta com uma hesitação profunda. Do lado de dentro, as meninas gargalhavam deliciadas.
– Sr. Carter...
– Anthony.
Ela pôs a palma da mão no rosto dele. Estava chorando de novo. Pensando bem, Carter também estava chorando um pouco. Quando ela o beijou, ele sentiu não somente a suavidade da boca e o calor do hálito, mas também o sal das lágrimas – não era estritamente um gosto de tristeza, mas havia tristeza naquilo.
– Deus o abençoe também, Anthony.
E, antes que ele percebesse – antes que a sensação do beijo tivesse sumido dos seus lábios –, a porta tinha se aberto e ela se fora.
SETENTA E SEIS
20h30: a luz havia quase sumido. O comboio se arrastava lentamente.
Estavam numa planície costeira coberta de mato baixo embolado, a estrada cheia de buracos em alguns pontos, em outros ondulada como a beirada de um tanque de roupas. Chase dirigia, o olhar atento enquanto lutava com o volante. Amy viajava no banco de trás.
Peter falou pelo rádio com Greer, que estava dirigindo o caminhão-tanque na retaguarda da coluna.
– Quanto falta?
– Oito quilômetros.
Oito quilômetros a 30 por hora. Atrás deles o sol estivera afundando num horizonte plano, apagando todas as sombras.
– Devemos ver a ponte do canal daqui a pouco – acrescentou Greer. – O istmo fica logo ao sul de lá.
– Pessoal, precisamos ir mais rápido – disse Peter.
Aceleraram até 55. Peter girou no banco para se certificar de que o comboio acompanhava o ritmo. A distância entre eles cresceu, depois diminuiu. A cabine do Humvee clareou quando o primeiro ônibus da fila acendeu os faróis.
– Quanto mais rápido deveríamos ir? – perguntou Chase.
– Continue assim por enquanto.
Houve uma pancada forte enquanto saltavam por um buraco fundo.
– Esses ônibus vão se desfazer – disse Chase.
Uma lasca de luz apareceu adiante: a lua. Levantou-se devagar do horizonte leste, gorda e feroz. Ao mesmo tempo, a ponte do canal se ergueu diante deles numa silhueta longínqua – uma figura imponente, vagamente orgânica com seus longos punhados de cabos pendendo dos altos cavaletes. Peter pegou o rádio de novo.
– Motoristas, alguém está vendo alguma coisa por aí?
Negativo. Negativo. Negativo.
Pela janela da casa do leme, Michael e Lore olhavam a porta dupla que ligava a doca ao mar. A banda de bombordo tinha se aberto sem reclamação. O problema era a de estibordo. Tinha parado num ângulo de 150 graus com relação à doca. Eles vinham tentando abrir o resto havia quase duas horas.
– Estou sem ideias – avisou Rand pelo rádio, no cais. – Acho que só vamos conseguir isso.
– Vamos conseguir passar? – perguntou Lore.
A porta pesava 40 toneladas.
Michael não sabia.
– Rand, vá à sala de máquinas. Preciso de você lá.
– Desculpe, Michael.
– Você fez o que pôde. Vamos ter de nos virar.
Ele pendurou o microfone de volta no painel.
– Merda.
As luzes do painel se apagaram.
Quarenta e cinco quilômetros a oeste, a mesma lua de verão tinha subido acima do Chevron Mariner. Sua chamejante luz laranja brilhava no convés, tremeluzia sobre as águas oleosas da laguna como uma pele de chamas.
Com um estrondo parecido com uma pequena explosão, a escotilha saiu voando para o céu. Pareceu não tanto voar quanto saltar, lançar-se ao firmamento noturno por vontade própria. Subiu e subiu, girando no eixo horizontal com um chiado. Depois, como alguém que perdesse o fio dos pensamentos, pareceu pausar no meio do voo. Por um instante ínfimo não subiu nem caiu – quem a visse poderia pensar que ela possuía algum poder mágico, capaz de desafiar a gravidade. Mas não: ela mergulhou nas águas imundas.
Depois: Carter.
Pousou no convés de proa com um ruído, absorvendo o impacto com pernas e ao mesmo tempo comprimindo o corpo num agachamento: coxas afastadas, cabeça ereta, uma das mãos grandes tocando o convés para se equilibrar, como um atacante de futebol americano se preparando para correr. As narinas se abriram com o sabor do ar, imbuído com o frescor da liberdade. Uma brisa lambeu seu corpo com uma sensação que pinicava. Visões e sons bombardeavam os sentidos, vindo de todas as direções. Olhou para a lua. Sua visão era tal que ele conseguia detectar as menores características – as rachaduras e fendas, as crateras e os cânions – com uma qualidade tridimensional quase espantosa. Sentia a plenitude da lua, seu grande peso rochoso, como se a estivesse segurando nos braços.
Era hora de ir.
Foi até o topo do One Allen Center. Muito acima da cidade inundada, avaliou os prédios: sua altura e pontos de apoio, os golfos entre eles, parecidos com fiordes. Uma rota se materializou em sua mente. Tinha a força e a clareza da premonição ou de algo absolutamente conhecido. Cem metros até o primeiro topo de prédio, talvez mais 50 até o segundo, longos 200 até o terceiro, mas com uma queda de 15 metros que expandia seu alcance...
Recuou para a extremidade da plataforma. O truque era primeiro ganhar velocidade, depois saltar no momento exato. Agachou-se como um corredor antes da partida.
Dez passos longos e saltou. Voou pelo céu enluarado como um cometa, uma estrela libertada. Chegou ao primeiro topo de prédio com espaço de sobra. Pousou, agachou-se, rolou; levantou-se correndo e se lançou de novo.
Estivera se poupando.
Na carroceria do terceiro veículo do comboio, no meio de outros feridos, Alicia estava imobilizada. Grossas tiras de borracha a prendiam à maca pelos ombros, pela cintura e pelos joelhos; havia uma quarta por cima da testa. A perna direita estava presa com uma tala desde o tornozelo até o quadril; um braço, o direito, estava fixo acima do peito. Várias outras partes do corpo tinham bandagens, pontos e amarras.
Dentro do seu corpo, o rápido reparo celular de sua espécie acontecia. Mas esse era um processo imperfeito e complicado pela vastidão e a complexidade dos ferimentos. Isso era especialmente verdadeiro com relação à extremidade direita do quadril, cujo desenho lembrava uma asa e que tinha sido pulverizada. Sua parte viral podia realizar muitas coisas, mas não conseguia montar de volta um quebra-cabeça. Não seria exagero dizer que a única coisa que mantinha Alicia Donadio viva era o hábito – sua predisposição de ir até o final das coisas, como sempre havia feito. Mas não tinha mais ânimo para nada disso. Enquanto as horas passavam como pancadas nos ossos, o fato de ter fracassado em morrer lhe parecia cada vez mais um castigo, e prova suficiente das palavras de Peter. Sua traidora. Você sabia. Você os matou. Você matou todos eles.
Sara estava sentada no banco acima dela. Alicia sabia que a mulher a odiava; podia ver isso nos olhos dela, no modo como a olhava – ou melhor, não olhava – enquanto cuidava dos seus ferimentos: verificando as bandagens, medindo a temperatura e a pulsação, pingando o elixir de gosto horrível em sua boca, que a mantinha num crepúsculo de dor entorpecida. Alicia desejava ser capaz de dizer alguma coisa àquela mulher, cujo ódio ela merecia. Sinto muito por Kate. Ou Tudo bem, eu já me odeio o suficiente. Mas isso só iria piorar as coisas. Era melhor que Alicia aceitasse o que era oferecido e não dissesse nada.
Além do mais, agora nada disso importava; Alicia estava dormindo e sonhando. Nesse sonho ela estava num bote, e a toda a volta havia água. O mar estava calmo, coberto de névoa, sem horizonte visível. Ela estava remando. Os estalos dos remos nos toletes, o chiado da água sob as pás: eram os únicos sons. A água era densa, com uma textura ligeiramente viscosa. Aonde estava indo? Por que a água tinha deixado de aterrorizá-la? Porque não aterrorizava; Alicia se sentia perfeitamente à vontade. Suas costas e os braços eram fortes, as remadas compactas, nada desperdiçado. Remar num barco era algo que ela não se lembrava de já ter feito, mas parecia completamente natural, como se o conhecimento tivesse sido gravado em seus músculos para uso posterior.
Remava, as pás cortando elegantemente a água suja e escura. Percebeu que algo se movia na água – um volume sombrio deslizando logo abaixo da superfície. Parecia estar seguindo-a, mantendo uma distância atenta. Sua mente não registrou a presença daquilo como algo ameaçador; pelo contrário, parecia apenas uma característica natural do ambiente, algo que ela deveria ter previsto se tivesse pensado antes.
– Seu barco é muito pequeno – disse Amy.
Ela estava sentada na popa. A água escorria de seu rosto e do cabelo.
– Você sabe que nós não podemos ir – declarou Amy.
A observação era enigmática. Alicia continuou a remar.
– Ir aonde?
– O vírus está em nós.
A voz de Amy era desapaixonada, sem qualquer tom perceptível.
– Não podemos partir jamais.
– Não sei o que você está dizendo.
A forma tinha começado a girar ao redor delas. Grandes volumes de água começaram a sacudir o bote de um lado para outro.
– Ah, acho que sabe. Somos irmãs, não somos? Irmãs de sangue.
O movimento aumentou de intensidade. Alicia puxou os remos para dentro do barco e agarrou as bordas, para se equilibrar. Seu coração virou chumbo. A bile borbulhou na garganta. Por que não tinha conseguido prever o perigo? Tanta água ao redor, e seu barquinho, pequeno a ponto de parecer nada. O casco começou a subir; de repente não estavam mais em contato com a água. Um grande volume azul emergiu sob elas, a água escorrendo dos flancos cheios de crostas.
– Você sabe quem é essa – disse Amy, impassível.
Era uma baleia. Estavam equilibradas como uma ervilha em cima de sua cabeça imensa e horrível. Mais e mais alto foram erguidas. Bastaria um peteleco da cauda imensa para mandá-las para o ar. As barbatanas iriam se chocar contra elas e fazer o barco em pedacinhos. Um terror sem esperança, o do destino, a agarrou. Na popa, Amy deu um suspiro entediado.
– Estou tão... cansada dele – disse ela.
Alicia tentou gritar, mas o som parou na garganta. Estavam subindo, o mar estava ficando lá embaixo, a baleia estava se elevando...
Acordou com uma sacudida forte. Piscou e tentou focalizar os olhos. Era noite. Estava na carroceria do caminhão, e o caminhão chacoalhava violentamente. O rosto de Sara surgiu.
– Lish? O que houve?
Os lábios dela se moveram lentamente ao redor das palavras.
– Eles estão... vindo.
Na retaguarda do comboio, o som de armas de fogo.
Merda. Merda, merda, merda.
Michael desceu a escada da casa do leme de três em três degraus; correu pelo convés, os pés mal tocando o aço, e desceu pela escotilha. Estava gritando no rádio:
– Rand, desça aqui agora mesmo!
Chegou correndo à passarela da casa de máquinas, agarrou as barras verticais da escada e deslizou pelo resto do caminho. Os motores estavam silenciosos, tudo parado. Rand surgiu acima dele.
– O que aconteceu?
– Alguma coisa desengatou o principal!
Lore, pelo rádio:
– Michael, estamos ouvindo tiros aqui em cima.
– Pode repetir?
– Tiros, Michael. Estou olhando pelo istmo agora. Há luzes vindo do continente para cá.
– Faróis ou virais?
– Não sei direito.
Ele precisava de eletricidade para rastrear o problema. No painel elétrico, conectou os serviços de diagnóstico ao gerador auxiliar. Os medidores se acenderam.
– Rand! – berrou Michael. – O que você está vendo?
Rand estava posicionado diante dos controles dos motores do outro lado da sala, verificando mostradores.
– Parece que é alguma coisa nas bombas d’água.
– Isso não desengataria o principal! Olhe mais adiante na linha!
Um breve silêncio.
– Entendi – falou Rand, em seguida bateu num mostrador. – A pressão caiu no carregador do lado de estibordo. Isso deve ter desligado o sistema.
Lore de novo:
– Michael, o que está acontecendo aí embaixo?
Ele estava colocando o cinto de ferramentas.
– Pegue – disse, jogando o rádio para Rand. – Fale com ela.
Rand parecia perdido.
– O que vou dizer?
– Diga para estar preparada para acionar as hélices direto da casa do leme.
– Ela não deveria esperar o sistema pressurizar de novo? Podemos estourar um tubo.
– Apenas vá para o painel elétrico. Quando eu mandar, passe o sistema de volta para o alimentador principal.
– Michael, fale comigo – disse Lore. – As coisas estão parecendo sérias pra caralho aqui em cima.
– Vá! – ordenou Michael a Rand.
Em seguida, correu em direção à popa, conectou sua lanterna, deitou-se de costas e se enfiou embaixo do carregador.
Essa porcaria de vazamento vai ser minha morte, pensou.
O comboio chegou ao istmo fazendo 90 quilômetros por hora. Os ônibus quicavam; decolavam. O caminhão-tanque, o último da fila, não tinha conseguido acompanhá-los. Os virais estavam logo atrás e se amontoando. A barreira de arame farpado apareceu na luz dos faróis.
Peter gritou pelo rádio:
– Todo mundo, continuem! Não parem!
Atravessaram direto a barreira. Chase pisou fundo no freio e foi para a lateral da pista enquanto o comboio passava rugindo com centímetros de folga, criando uma parede de vento que golpeou o veículo como um vendaval uivante. Peter, Chase e Amy saltaram da cabine.
– Cadê o caminhão-tanque?
Ele se aproximava lentamente na base da pista elevada – os faróis acesos, o motor rugindo, viajando na direção deles como um foguete bem iluminado em câmera lenta. Depois da curva começou a acelerar. Dois virais estavam agachados no teto da cabine. Chase levantou o fuzil e olhou através da mira telescópica.
– Ford, não – alertou Peter. – Se acertar aquele tanque, pode explodir.
– Quieto. Eu consigo.
Uma bala partiu o ar. Um dos virais tombou. Ford estava mirando no segundo quando ele saiu do capô. Sem um tiro.
– Merda!
Da cabine, dois tiros de espingarda vieram em rápida sucessão. O para-brisa se despedaçou para fora ao luar. Houve um gemido de freios chiando. O viral tombou, entrando na claridade cônica dos faróis do caminhão, e desapareceu embaixo das rodas da frente com uma explosão úmida.
De repente a cabine estava em ângulo reto com relação à pista elevada: o caminhão-tanque se dobrando como um canivete. Começou a girar, atravessado. Quando as rodas de trás tocaram a água, a traseira do veículo desacelerou abruptamente, girando a cabine na direção oposta como um peso preso a uma corda. Agora o caminhão estava a menos de 100 metros. Peter via Greer lutando para controlar o volante, mas seus esforços eram inúteis: as leis da física tinham assumido o comando do veículo.
Ele tombou de lado. A cabine se separou da carga, que se chocou nela por trás num segundo estalo de vidro e metal. Houve uma derrapagem longa, guinchante, e a coisa toda parou, deixando o lado do motorista para cima, num ângulo de 45 graus com relação à estrada.
Peter correu até lá, com Chase e Amy logo atrás. O combustível jorrava por toda parte. Uma fumaça preta subia do chassi. Os virais vinham se afunilando para o istmo; chegariam em segundos. Mancha estava morto, a cabeça esmagada; o que restava dele estava esparramado no painel. Greer tinha caído em cima dele, encharcado de sangue. Seria de Mancha ou seu? Estava olhando para cima.
– Lucius, cubra os olhos.
Peter e Chase começaram a chutar o para-brisa. Três golpes fortes e o vidro afundou. Amy entrou na cabine e segurou Greer pelos ombros enquanto Peter pegava as pernas.
– Estou bem – murmurou Greer, como se pedisse desculpas.
Enquanto o puxavam para fora, os primeiros dedos de chamas apareceram.
Chase e Peter o seguraram pelos dois lados. Correram.
Os passageiros haviam se amontoado junto à estreita prancha de embarque, tentando se empurrar pelo gargalo. Gritos de pânico golpeavam o ar. Homens corriam pelo convés do navio para soltar as correntes que o prendiam. Muitas crianças pareciam atordoadas e inseguras, à deriva no cais como um rebanho de ovelhas na chuva.
Pim e as meninas já estavam no navio. No topo da prancha de embarque, Sara estava levantando as crianças menores para colocá-las a bordo, puxando outras pelas mãos para apressá-las. Hollis e Caleb iam guiando as crianças que estavam mais ao fundo. Um homem chegou correndo por trás, quase derrubando Hollis. Caleb o agarrou, jogou-o no pavimento e enfiou um dedo em sua cara.
– Espere a sua vez, porra!
Não iriam conseguir, pensou Caleb. As pessoas tinham começado a usar as correntes, tentando subir por elas até o navio. Uma mulher não conseguiu se aguentar; com um grito, mergulhou na água. Subiu à superfície, o rosto visível apenas por um momento, os braços balançando acima da cabeça: não sabia nadar. Afundou de novo.
Onde estavam seu pai e os outros? Por que não tinham chegado?
Na pista elevada, uma explosão. Todos os rostos se viraram. Uma bola de fogo subia no céu.
Enfiado embaixo do carregador, Michael tentava acompanhar o leve sibilo do gás vazando. Fique frio, disse a si mesmo. Faça isso seguindo a receita, junta por junta.
– Alguma coisa? – perguntou Rand, parado na base do carregador.
– Você não está ajudando.
Não adiantava. A abertura devia ser pequena demais; devia estar vazando fazia horas.
– Pegue um pouco de água com sabão – gritou ele. – E preciso de um pincel também.
– Onde diabos vou arranjar isso?
– Não quero saber! Dê um jeito!
Rand saiu correndo.
A explosão os acertou como um tapa, jogando-os à frente, derrubando-os. Destroços passaram: pneus, peças de motor, lascas de metal afiadas como facas. Enquanto uma parede de calor vinha por cima, Peter ouviu um grito, um grande esmagamento de metal e vidro quebrando.
Estava caído com o rosto na lama. Seus pensamentos eram desordenados; nenhum deles parecia se relacionar com qualquer outro. Havia uma espécie de trouxa de trapos à esquerda. Era Chase. As roupas e o cabelo dele soltavam fumaça. Peter se arrastou até lá. Os olhos do amigo estavam abertos, mas não pareciam enxergar. Aninhando a cabeça dele, sentiu algo mole e úmido. Virou Chase de lado.
A parte de trás do crânio havia sumido.
O Humvee estava totalmente arrebentado, esmagado e pegando fogo. Uma fumaça oleosa enchia o ar. Cobria o interior da boca e do nariz de Peter com um gosto rançoso. A cada respiração aquilo penetrava nos pulmões, cada vez mais fundo.
– Amy, cadê você?
Cambaleou na direção do Humvee.
– Amy, responda!
– Aqui!
Ela estava tirando Greer da água. Os dois emergiram cobertos com lama gosmenta e desmoronaram no chão.
– Cadê o Chase? – perguntou ela.
Tinha queimaduras rosadas no rosto e nas mãos.
– Morto.
– Peter se agachou perto de Greer:
– Você consegue andar? – perguntou.
O sujeito estava segurando a cabeça. Depois, olhando para cima:
– Cadê o Mancha?
O caminhão em chamas manteria os virais a distância, mas assim que o fogo morresse a horda viria num jorro pelo istmo. Os três não tinham com que lutar, a não ser a espada de Amy, que ainda estava na bainha às costas.
Uma luz branca e áspera acertou o rosto deles; uma picape vinha a toda velocidade pela estrada. Peter protegeu os olhos da claridade. O motorista parou derrapando.
– Entrem! – gritou Caleb.
Alicia só via o céu. O céu e a nuca de um homem. Sentia a presença de uma multidão. Sua maca balançava com força, havia vozes, pessoas gritando, tudo correndo em volta.
Não me levem. Seu corpo estava quebrado; ela sentia-se frouxa como uma boneca. Sou uma deles. Não pertenço a esse lugar.
Passos ressoando: estavam atravessando a rampa de embarque.
– Coloquem-na ali – ordenou alguém.
Os carregadores baixaram a maca no convés e se afastaram rapidamente. Uma mulher estava sentada ao lado, o corpo enrolado em volta de uma trouxa feita com um cobertor. Estava murmurando para a trouxa, algum tipo de frase repetida que Alicia não conseguia decifrar, embora possuísse o ritmo mecânico de uma oração.
– Você – disse Alicia.
Duas sílabas e foi como levantar um piano. A mulher não a notou.
– Você – repetiu ela.
A mulher levantou os olhos. A trouxa era um bebê. O modo como a mulher o segurava era quase implacável, como se temesse que alguém fosse agarrá-lo a qualquer momento.
– Preciso que... você me ajude.
O rosto da mulher se franziu.
– Por que não estamos indo?
Ela inclinou o rosto para o bebê outra vez, enterrando-o no pano.
– Ah, meu Deus, por que ainda estamos aqui?
– Por favor... escute.
– Por que está falando comigo? Eu nem conheço você. Não sei quem você é.
– Sou... Alicia.
– Você viu meu marido? Ele estava aqui há um segundo. Alguém viu meu marido?
Alicia a estava perdendo. Dentro de um instante ela teria partido.
– Diga... o nome dela.
– O quê?
– Seu bebê. O... nome dela.
Era como se ninguém jamais tivesse feito essa pergunta.
– Diga – pediu Alicia. – Diga... o nome dela.
A mulher estremeceu com um soluço.
– É um menino – gemeu ela. – O nome dele é Carlos.
Um momento se passou, a mulher chorando, Alicia esperando. Havia caos a toda a volta, no entanto era como se estivessem sozinhas, ela e essa mulher desconhecida, que poderia ser qualquer pessoa. Rose, minha Rose, pensou Alicia, como fracassei com você. Não pude lhe dar a vida.
– Você pode... me ajudar?
A mulher enxugou o nariz com as costas da mão.
– O que eu posso fazer? – rebateu, numa voz absolutamente sem esperanças. – Não posso fazer nada.
Alicia lambeu os lábios. Sua língua estava pesada e seca. Haveria dor, muita. Ela precisaria de cada grama de força.
– Preciso que você... desamarre... as tiras.
Voando num salto depois do outro, Carter seguia pelo canal na direção do istmo. As formas de cogumelo dos tanques de produtos químicos. Os topos dos prédios. Os grandes campos de lixo esquecidos da América industrial. Ele se movia rapidamente, com um poder inexaurível, como um gigantesco motor arfante.
Uma grande forma iluminada por trás surgiu diante dele: a ponte do canal. Carter lançou o corpo para o céu. Voou para cima, agarrando um suporte logo abaixo da superfície despedaçada da ponte. Um momento de calibração e ele se lançou para cima de novo, agarrou um cabo com uma das mãos e deu uma cambalhota até a pista.
Abaixo, a batalha que se desenrolava surgiu diante dele como uma miniatura. O navio e a turba de pessoas afunilando-se para embarcar; o caminhão disparando pela pista elevada; a barricada de chamas e a horda de virais reunida atrás. Carter inclinou a cabeça para calcular seu arco: precisava de mais altura.
Usando um cabo de suporte, subiu ao topo da torre. A água brilhava abaixo, imóvel como vidro. Como um grande espelho liso para a lua. Sentiu alguma incerteza, até um pouco de medo. Afastou-a. Bastaria uma minúscula pitada de dúvida e fracassaria, mergulharia no abismo. Para atravessar essa distância – dominar a vastidão – era preciso entrar num reino abstrato. Tornar-se não o saltador, mas o salto, não um objeto no espaço, mas o espaço em si.
Agachou-se, contendo a própria força. A energia se expandiu para fora a partir de seu centro e jorrou nos membros.
Estou indo, Amy.
Na casa do leme, Lore olhava a horda de virais através do binóculo. Bloqueada pelos destroços em chamas, parecia uma coluna de luz latejante que se estendia até longe, no continente, alargando-se até abarcar todo o longínquo litoral.
Levou o rádio à boca.
– Não quero apressá-lo, Michael, mas você precisa consertar o que quer que esteja errado agora mesmo, porra!
– Estou tentando!
Alguma coisa estava acontecendo com a horda, uma espécie de... ondulação. Uma ondulação mas também uma compactação, como uma mola que se contraísse. Começando atrás, o movimento deslizava para a frente, ganhando velocidade ao prosseguir pela pista elevada em direção às chamas. O caminhão estava caído, atravessado na pista. O que ela estava vendo?
A frente da coluna se chocou contra o tanque em chamas como um aríete. Jatos de fumaça e fogo dispararam no céu. O caminhão-tanque começou a se arrastar para a frente, raspando na pista. Virais em chamas se jogavam na água enquanto outros eram impelidos por trás, para a destruição.
Lore olhou de cima da amurada. As correntes que ligavam o convés ao cais tinham sido soltas; dezenas de pessoas espadanavam, impotentes, na água. Pelo menos cem, inclusive algumas crianças, continuavam no cais. Gritos em pânico retalhavam o ar.
Saiam da frente!
Peguem minha filha!
Por favor, eu imploro!
– Hollis! – gritou ela.
Ele levantou os olhos. Lore apontou para o istmo. Percebeu seu erro: outros no convés a tinham visto. A turba fez força à frente, todo mundo tentando se enfiar na estreita prancha de embarque ao mesmo tempo. Socos foram trocados, corpos atirados longe; pessoas pisoteadas. No centro da confusão soou um tiro. Hollis correu adiante, os braços balançando como os de um nadador, abrindo caminho pelo caos. Mais tiros. A multidão se espalhou, revelando um homem sozinho com uma pistola e dois corpos no chão. Por um segundo ele ficou simplesmente parado, como se estivesse pasmo com o que havia feito, antes de se virar e correr pela prancha. Tarde demais: deu cinco passos antes que Hollis o agarrasse pelo colarinho, o empurrasse para trás, colocasse a outra mão embaixo das suas nádegas, levantasse-o acima da cabeça – o homem sacudindo os braços e as pernas como uma tartaruga emborcada – e o jogasse por cima do corrimão.
Lore pegou o rádio:
– Michael, a coisa está ficando feia aqui em cima!
Bolhas apareceram, espumando. Rand entregou a Michael um metro de tubo e uma bisnaga de graxa. Michael soltou o tubo antigo, lubrificou as pontas do substituto e o encaixou no lugar. Rand tinha voltado ao painel.
– Ligue! – gritou Michael.
As luzes oscilaram. Os misturadores começaram a girar. A pressão penetrou nos tubos.
– Vamos lá! – exclamou Rand.
Michael se espremeu para fora. Rand jogou o rádio para ele.
– Lore...
Tudo se desligou de novo.
Ela havia fracassado; seu exército não existia mais, transformado em poeira. De todo o coração, Amy queria estar naquele navio, partir daquele lugar a não voltar nunca mais. Porém não poderia ir, nem naquele navio nem em qualquer outro. Ficaria no cais enquanto ele partisse.
Como eu queria ter aquela vida com você, Peter, pensou. Sinto muito, sinto muito, sinto muito.
A picape disparava para o leste, Caleb ao volante, Peter, Amy e Greer na carroceria. À frente surgiam as luzes do cais. Atrás deles, a uma distância cada vez maior, Amy viu o caminhão-tanque em chamas girando. Os primeiros virais apareceram nessa abertura. Seus corpos estavam pegando fogo. Eles cambalearam à frente, pavios de chamas do tamanho de pessoas. A passagem continuou a aumentar, abrindo-se como uma porta.
Amy se virou para a janela da cabine.
– Caleb...
Ele estava olhando pelo retrovisor.
– Estou vendo!
Caleb pisou fundo. A picape disparou, fazendo Amy tombar. Sua cabeça bateu no piso de metal com um ruído e uma dor que desorientava. Caída de costas, de rosto para o céu, Amy viu as estrelas. Centenas, milhares de estrelas, e uma delas estava caindo. Cresceu e cresceu, e ela soube o que era aquela estrela.
– Anthony.
A mira de Carter foi certeira; enquanto a picape passava a toda a velocidade, ele pousou atrás dela na pista elevada e se levantou. Os virais vinham em sua direção. Ele ficou ereto.
Irmãos, irmãs.
Sentiu a confusão deles. Quem era esse ser estranho que tinha caído em seu caminho?
Sou Carter, Décimo Segundo dos Doze. Matem-me se puderem.
– Que diabo aconteceu?
– Não sei!
O rádio estalou. Lore:
– Michael, precisamos ir agora!
Rand estava verificando loucamente os mostradores.
– Não é o carregador, deve ser alguma coisa elétrica.
Michael parou diante do painel em desolação completa. Não havia esperança: estava derrotado. Seu navio, seu Bergensfjord, o havia rejeitado. A paralisia se transformou em raiva; a raiva, em fúria. Bateu com o punho no metal.
– Seu filho da puta!
Recuou e bateu de novo.
– Seu filho da puta sem coração! Está fazendo isso comigo?
Com lágrimas de frustração transbordando, agarrou uma chave inglesa no convés e começou a bater com ela no metal, de novo e de novo.
– Eu... lhe... dei... tudo!
Um trovão súbito, como o rugido de uma grande fera enjaulada. Luzes se acenderam. Todos os ponteiros de mostradores se moveram.
– Michael – disse Rand –, que diabo você fez?
– Funcionou! – gritou Lore.
O som aumentou de intensidade, zumbindo pelas placas do navio. Rand gritou acima do barulho:
– A pressão está se mantendo! Oito mil rpm! Doze! Vinte! Trinta e cinco!
Michael pegou o rádio no chão.
– Acione as hélices!
Um gemido. Um tremor, fundo nos ossos.
O Bergensfjord começou a se mexer.
Pararam derrapando na área de carga. Amy saltou da carroceria antes que a picape parasse de andar.
– Amy, pare!
Mas ela já se fora, correndo para a pista elevada.
– Caleb, pegue Lucius e entre naquele navio.
Parado junto à carroceria, seu filho parecia atônito.
– Faça isso! – ordenou Peter. – Agora!
E partiu atrás dela. A cada passo, se obrigava a ir mais depressa. A respiração arfava no peito, o chão voava sob ele. O espaço entre eles começou a diminuir. Seis metros, cinco, três. Um esforço final de velocidade e ele a agarrou pela cintura, fazendo os dois rolarem no chão.
– Me solte!
Amy estava de joelhos, lutando para se livrar.
– Precisamos ir agora mesmo.
Havia lágrimas na voz dela.
– Eles vão matá-lo!
Carter se encolheu. Flexionou os dedos das mãos, as garras brilhando. Flexionou os dedos dos pés, sentindo os fios retesados dos ligamentos. O luar azulado o cobria como uma bênção.
Estendendo uma das mãos, Amy soltou um uivo de dor.
– Anthony!
Ele atacou.
Precisavam percorrer 250 metros.
Na popa da embarcação, a hélice fez uma parede de espuma borbulhante. Gritos soaram no cais. Eles estão indo embora sem nós! Os últimos passageiros correram, empurrando-se na rampa, que tinha começado a raspar ao longo do píer enquanto o Bergensfjord se afastava.
Parada junto à amurada, Pim olhava em silêncio a cena se desdobrar. A extremidade inferior da prancha estava deslizando para a borda; logo iria cair. Onde estava seu marido? Então o viu. Ajudando Lucius, andava em passo rápido pelo cais. Ela começou a sinalizar enfaticamente para quem pudesse ver: Aquele é o meu marido! E: Parem esse navio! Mas, claro, ninguém entendia.
A rampa de embarque estava apinhada de pessoas. Espremidas entre os corrimões, elas faziam força para a frente, apenas uma ou duas chegando ao navio de cada vez, ejetadas da massa espremida. Pim começou a gemer. A princípio não percebeu que fazia isso. O som tinha emergido por vontade própria, uma expressão de sentimento violento que não podia ser contido – assim como, vinte anos antes, nos braços de Sara, tinha gemido com tamanha ferocidade a ponto de poder ser confundida com um animal agonizante. À medida que o volume aumentava, o som começou a assumir uma forma nítida, totalmente nova na vida de Pim Jaxon: ela estava a ponto de formar palavras.
– Caaaa... leb! Coooooorrrreee!
A borda da prancha parou. Tinha se alojado contra uma saliência alta na beira do cais. Sob a pressão da massa do navio acelerando, começou a girar em seu eixo. Rebites saltavam, o metal se dobrando. Caleb e Greer estavam a passos de distância. Pim acenava, gritando palavras que não podia ouvir, mas que sentia – sentia com cada átomo do corpo.
A prancha de embarque começou a cair.
Ainda presa ao navio, dobrou-se contra o costado. Corpos mergulharam na água, alguns sem palavras, aceitando o destino, outros com gritos de dar pena. Na base da rampa, Caleb tinha enganchado um cotovelo no corrimão ao mesmo tempo que segurava Greer, cujos pés estavam equilibrados no degrau mais baixo. O Bergensfjord foi ganhando velocidade, arrastando um redemoinho borbulhante. À medida que a popa passava, os que estavam na água eram arrastados para baixo, puxados pela espuma das hélices. Talvez um grito, uma mão se estendendo em vão, e sumiam.
Nas entranhas do Bergensfjord, Michael estava correndo. Subia convés por convés, as pernas voando, os braços balançando, o coração bombeando na boca. Com um jorro de energia, chegou ao ar livre. A ponta da proa estava passando pela extremidade da comporta.
Não conseguiriam passar. De jeito nenhum.
Subiu a escada até a casa do leme de três em três degraus e entrou.
– Lore...
Ela estava olhando pela janela da frente.
– Eu sei!
– Vire mais o leme!
– Acha que não fiz isso?
O espaço entre a comporta e o flanco direito do navio estava se estreitando. Seis metros. Três. Um e meio.
– Ah, merda – ofegou Lore.
Peter e Amy corriam pelo cais.
O navio estava partindo, deslizando para longe. Tiros espocavam na popa, balas assobiando acima da cabeça dos dois; os virais tinham atravessado.
Um estrondo.
A lateral do casco havia colidido com a extremidade da comporta que ligava a doca ao mar. Um som longo, raspado, veio em seguida, a força irresistível do ímpeto do navio encontrando o peso da comporta, impossível de ser movido. O casco tremeu ao mesmo tempo que não conseguia desacelerar, fazendo força à frente.
A grande parede de aço deslizava, implacável. Em mais alguns segundos o Bergensfjord teria ido embora. Não havia como embarcar. Peter viu alguma coisa pendendo na lateral do navio: a prancha de embarque tombada, ainda presa ao topo. Havia duas pessoas agarradas a ela.
Caleb. Greer.
Com um dos braços dobrado no corrimão da prancha, seu filho chamava os dois, apontando para a extremidade do cais. A comporta para o mar tinha sido empurrada para longe do navio; agora estava em ângulo agudo com relação ao casco móvel. Quando a prancha passasse pela extremidade da porta, o espaço seria reduzido a uma distância possível de ser alcançada com um salto.
– Amy, venha!
– Preparem-se para pular! – gritou Caleb.
Os virais tinham chegado à outra ponta do cais. Amy desembainhou a espada e gritou para Peter por cima do ombro.
– Entre naquele navio!
– O que você está fazendo? A gente consegue!
– Não tenho tempo de explicar. Apenas vá!
De repente ele entendeu: Amy não pretendia partir. Talvez nunca tivesse planejado ir embora.
Então viu a menina.
Fora de seu alcance, estava agachada atrás de um gigantesco carretel de cabo. O cabelo louro-ruivo amarrado com uma fita, arranhões no rosto, um bicho de pelúcia apertado contra o peito, braços finos como gravetos.
Amy também a viu.
Embainhou a espada e correu. Os virais vinham em disparada pelo cais. A menininha estava congelada de terror. Amy a agarrou e começou a correr. Com a mão livre, acenou para Peter.
– Não espere! Preciso que você nos agarre!
Ele correu para a comporta. A parte de baixo da prancha de embarque estava a 10 metros de distância e se aproximando rapidamente.
– Agora!– gritou Caleb.
Peter saltou.
Por um instante pareceu que tinha pulado cedo demais; mergulharia na água borbulhante. Mas então suas mãos agarraram o corrimão da rampa. Empurrou-se para cima, encontrou um apoio para os pés e girou. Ainda segurando a menina, Amy corria pelo topo do quebra-mar. A rampa estava passando por elas; jamais conseguiria. Peter estendeu a mão no momento em que Amy deu cinco passos, cada um maior do que o outro, e se lançou sobre o abismo.
Peter não conseguia se lembrar do momento em que agarrara a mão dela. Só que havia conseguido.
Tinham saído da doca. Michael desceu correndo da casa do leme e foi até a amurada. Viu uma mossa funda, com pelo menos 15 metros de comprimento, mas ficava muito acima da linha d’água. Olhou para a terra. Cem metros atrás, na extremidade da doca, uma massa de virais observava o navio partir como uma multidão de enlutados.
– Socorro!
A voz vinha da popa.
– Alguém caiu!
Correu até lá. Uma mulher, segurando um bebê, apontava por cima da amurada.
– Eu não sabia que ela ia pular!
– Quem? Quem foi?
– Ela estava numa maca, mal conseguia andar. Disse que se chamava Alicia.
Havia uma corda enrolada no convés. Michael apertou o botão do rádio.
– Lore, corte as hélices!
– O quê?
– Faça isso! Parada total!
Ele já estava enrolando a corda na cintura, tendo empurrado o rádio na mão da mulher, que olhava confusa.
– Aonde você vai? – perguntou ela.
Ele passou por cima do corrimão. Lá embaixo, as águas redemoinhavam num torvelinho. Corte, pensou. Santo Deus, Lore, pare essas hélices agora mesmo!
E pulou.
Braços estendidos, pés tomando impulso no casco. Rompeu a superfície como uma lança. A correnteza o agarrou instantaneamente, empurrando-o para baixo. Michael bateu no fundo lamacento e começou a rolar ao longo dele. Seus olhos ardiam com o sal. Não conseguia ver nada, nem mesmo as próprias mãos.
Caiu direto em cima dela.
Uma confusão de membros: ambos estavam rolando, espiralando pelo fundo. Agarrou o cinto de Alicia, puxou o corpo dela contra o seu e envolveu sua cintura com os braços.
A corda se esticou.
Um puxão forte; Michael sentiu como se estivesse sendo partido ao meio. Ainda segurando Alicia, disparou para cima num ângulo de 45 graus. Já estava na água havia trinta segundos. Seu cérebro gritava pedindo ar. As hélices não giravam mais, porém isso não importava. Estavam sendo puxados pelo ímpeto do navio. A não ser que chegassem logo à superfície, iriam se afogar.
De repente um som agudo: as hélices tinham voltado a se acionar. Não! Então Michael percebeu o que havia acontecido: Lore tinha revertido os motores. A tensão na corda começou a afrouxar, depois sumiu. Uma nova força os agarrou. Estavam sendo sugados para a frente, na direção das hélices que giravam.
Iam ser transformados em picadinho.
Olhou para cima. Lá no alto, a superfície tremeluzia. Qual seria a fonte daquela luz misteriosa que o chamava? O som das hélices parou abruptamente. De repente entendeu a intenção de Lore. Ela estava criando frouxidão suficiente no cabo para que eles subissem. Michael começou a bater os pés. Alicia, não desista. Me ajude a fazer isso. Do contrário, estamos mortos. Mas não adiantava: estavam afundando feito pedras. A luz foi recuando implacavelmente.
A corda se retesou de novo. Estavam sendo puxados.
Quando romperam a superfície, Michael escancarou a boca, sugando uma enorme quantidade de ar. Estavam abaixo da popa, com uma montanha de aço erguendo-se acima deles. A luz que tinha visto era da lua. Brilhava sobre eles, gorda e cheia, derramando-se pela superfície da água.
– Tudo bem, peguei você – disse Michael.
Alicia estava tossindo e engasgando em seus braços. Um bote salva-vidas desceu.
– Peguei você, peguei você.
SETENTA E SETE
Os olhos de Carter estavam cheios de estrelas.
Ele estava caído na pista elevada, quebrado e coberto de sangue. Algumas partes de seu corpo pareciam ausentes, não mais conectadas. Não havia dor; pelo contrário, o corpo parecia distante, fora de seu controle.
Irmãos, irmãs.
Estavam em volta, num círculo. Com relação a eles sentia apenas amor. O navio tinha partido; estava se afastando. Sentia um grande amor por tudo. Teria envolvido o mundo com o coração, se pudesse. Na beira da pista, o luar deslizava sobre a água, criando uma estrada reluzente sobre a qual viajar.
Deixem-me fazer isso. Deixem que eu sinta isso saindo de mim. Deixem que eu seja um homem de novo, antes de morrer.
Começou a se arrastar. Os virais recuaram, permitindo que ele passasse. Havia no comportamento deles um sentimento de respeito, como se fossem alunos, ou soldados aceitando a espada do inimigo. Do outro lado da pista, Carter fez a passagem. Sua mão esquerda, estendendo-se, foi a primeira parte a tocar no mar. A água estava fresca e receptiva, rica de sal e terra. Um bilhão de coisas vivas a atravessava; a elas ele se juntaria.
Irmãos, irmãs, obrigado.
Ele deslizou para o fundo da água.
SETENTA E OITO
Alvorecer no mar.
O Bergensfjord estava ancorado, os grandes motores descansando. As nuvens eram baixas, a água lisa feito pedra. Ao longe, uma cortina de chuva caía no golfo. A maior parte dos passageiros dormia no convés, seus corpos largados em desordem, como se tivessem caído ao mesmo tempo. Estavam a 150 quilômetros da terra.
Amy se encontrava na proa, Peter ao seu lado. Sua mente permanecia à deriva, recusando-se a se ligar a qualquer pensamento, a não ser um. Anthony havia partido. Só restava ela.
O nome da menininha era Rebecca. Sua mãe tinha morrido no ataque; o pai, anos antes. A recordação que Amy tinha dela – o peso e o calor do corpo, a força desesperada com que tinha se agarrado enquanto subiam pelo espaço – ainda era palpável. Amy achava que esse momento jamais iria embora; tinha se tornado parte dela, costurado em seus ossos. Tinha definido o momento, fazendo a escolha por ela. Não era somente Rebecca que Amy tinha visto no cais, mas seu próprio eu infantil, que, afinal de contas, estivera igualmente solitário, abandonado pelo grande motor arfante do mundo e precisando ser salvo.
Durante algum tempo, talvez dez minutos, nem ela nem Peter falaram nada. Assim como ela, Peter só estava meio presente, olhando para o espaço – o céu pálido do amanhecer, o mar infinitamente calmo.
Foi Amy que rompeu o silêncio.
– É melhor você ir falar com ela.
De madrugada, tinham chegado a uma decisão. Amy não poderia ir; nem Alicia. Se os sobreviventes quisessem fazer uma vida nova, todos os traços dos terrores antigos precisariam ficar para trás. O que importava agora era que os outros aceitassem.
– Ela não fez isso, Peter.
Ele a encarou, mas não disse nada.
– Nem você – acrescentou ela.
Outro silêncio. De todo o coração, Amy queria que Peter acreditasse, mas sabia que, para ele, era impossível pensar de outro modo.
– É preciso fazer as pazes com ela, Peter. Por vocês dois.
O sol subia de modo imperceptível por trás das nuvens. O céu parecia não ter cor, as bordas fundidas com o horizonte. A chuva mantinha distância. Michael havia garantido que o tempo não seria problema; sabia como ler essas coisas.
– Bom – disse Peter com um suspiro –, acho melhor resolver isso.
Deixou-a e desceu até o alojamento da tripulação. O ar embaixo do convés estava mais fresco, cheirando a metal úmido e ferrugem. A maior parte dos homens de Michael roncava nas camas, usando essa breve pausa para descansar e se preparar para o que viria.
Alicia estava numa cama baixa, na outra extremidade do corredor. Peter pegou um banquinho e pigarreou.
– Bem...
Com a cabeça virada para cima, ela ainda não tinha olhado para ele.
– Diga o que está pensando.
Ele não tinha plena certeza do que era. Desculpe ter tentado estrangulá-la? Ou O que você estava pensando? Talvez quisesse dizer Vá para o inferno.
– Vim oferecer uma trégua.
– Uma trégua – repetiu Alicia. – Parece ideia da Amy.
– Você tentou se matar, Lish.
– E teria dado certo se Michael não tivesse decidido bancar o herói. Preciso ter uma conversa séria com ele.
– Acha que a água poderia mudá-la de volta?
– Você se sentiria melhor se eu achasse?
Ela soltou o ar.
– Infelizmente essa opção não existe para mim. Fanning foi bem claro com relação a isso. Não: devo dizer que o objetivo era me afogar.
– Não consigo acreditar.
– Peter, o que você quer? Se está aqui para demonstrar pena, não estou interessada.
– Sei disso.
– O que você quer dizer é que precisa de mim.
Ele assentiu.
– Correto – confirmou ele.
– E, nas circunstâncias, é melhor deixarmos as diferenças de lado. Colegas, irmãos em armas, sem divisão nas fileiras.
– Mais ou menos, é.
Com uma lentidão dolorosa ela se virou para encará-lo.
– Quer saber o que eu estava pensando? Quero dizer, enquanto suas mãos estavam em volta do meu pescoço?
– Se quiser contar.
– Eu estava pensando: bom, se alguém vai me estrangular, fico satisfeita que seja o meu velho amigo Peter.
Tinha dito essas palavras sem amargura; estava apenas declarando um fato.
– Eu estava errado – disse ele. – Você não merecia. Não sei o que há entre você e Fanning. Duvido que algum dia entenda, francamente. Mas subestimei você.
Ela avaliou essas palavras, depois deu de ombros.
– Bom, você fez merda. No lugar de um pedido de desculpas direto, acho que vou ter de aceitar isso.
– Acho que sim.
Ela lançou a ele um olhar de advertência.
– Eu disse que posso levá-lo até lá, e é verdade. Mas você está jogando sua vida fora.
– Eu diria que é o oposto.
Alicia fez um som que começou como uma gargalhada, mas virou uma tosse – profunda, áspera. Seus olhos se fecharam de dor. Peter esperou que passasse.
– Lish, você está bem?
O rosto dela estava vermelho; havia salpicos de saliva nos lábios.
– Eu pareço bem?
– No todo, já pareceu melhor.
Ela balançou a cabeça com indulgência, como uma mãe faria com uma criança que não tem jeito.
– Você não muda nunca, Peter. Conheço você há cinquenta anos, e é sempre o mesmo sujeito. Talvez por isso eu não consiga ficar com raiva.
– Vou aceitar isso – disse ele, levantando-se. – Precisa de alguma coisa antes de irmos embora?
– Um corpo novo seria legal. Esse parece ter esgotado o que tinha para dar.
– Afora isso.
Alicia pensou por um momento, depois sorriu.
– Não sei. Acho que um coelho seria bom.
Encontrou o filho no convés, sentado num caixote de madeira e vendo Michael fazer os preparativos na popa.
– Posso? – perguntou.
Caleb deu espaço para ele se sentar.
– Cadê a Pim?
– Dormindo – respondeu apenas e se virou para lançar um olhar sério ao pai. – Ajude-me a entender.
– Não sei se consigo.
– Então por quê? Que diferença pode fazer agora?
– Algum dia as pessoas vão voltar. Se Fanning ainda estiver vivo, começará tudo de novo.
– Você vai por causa dela.
Peter ficou sem fala.
– Ah, não fique tão surpreso. Sei disso há anos.
Peter não sabia como reagir. No fim, só pôde admitir a verdade.
– Bom, você está certo.
– Claro que estou certo.
– Deixe-me terminar. Amy tem alguma coisa a ver com isso, mas não é o único motivo.
Ele parou um instante para organizar os pensamentos.
– O melhor modo que tenho para explicar é o seguinte: é uma história sobre o seu pai. Na Colônia, havia uma tradição. Nós chamávamos de ficar no posto de Misericórdia. Quando uma pessoa era tomada, um parente esperava a cada noite no muro da cidade. Colocávamos uma jaula com um cordeiro dentro, como isca. Sete noites, esperando que a pessoa voltasse, e, se voltasse, o trabalho do posto de Misericórdia era matá-la. Em geral era responsabilidade do parente do sexo masculino mais próximo. De modo que, quando seu pai desapareceu, precisei ficar no posto para ele.
Caleb o olhava com atenção.
– Quantos anos você tinha?
– Vinte, vinte e um? Era só um garoto.
– Mas ele não voltou. Tinha sido levado para o Refúgio.
– É, mas eu não sabia. Sete noites, Caleb. É muito tempo para ficar pensando em matar uma pessoa, principalmente meu próprio irmão. No início eu me perguntei se conseguiria. Nossos pais tinham morrido, Theo era a única pessoa que me restava no mundo. Mas à medida que as noites passavam entendi uma coisa. Havia algo pior do que matá-lo: deixar que outra pessoa fizesse isso. Se a situação fosse invertida, se eu é que tivesse sido tomado, não iria querer que fosse diferente. Eu não queria, acredite, mas devia isso a ele. A responsabilidade era minha e de mais ninguém.
Peter deu um momento para as palavras se assentarem.
– É assim, filho. Não sei por que tem de ser eu. É uma pergunta que não sei responder. Mas não importa. Pim e as crianças são sua responsabilidade. Você foi posto na Terra para protegê-los até o fim. É o seu trabalho. Este é o meu. Você precisa me deixar fazê-lo.
A bordo do Nautilus, Michael estava dando instruções aos tripulantes que iriam ajudar a colocá-lo na água. O casco tinha sido envolvido numa rede de cordas grossas; um guindaste e um sistema de roldanas seriam usados para tirá-lo do suporte e baixá-lo pelo costado do navio. Assim que estivesse na água, eles cortariam as cordas e velejariam para Nova York.
– Ele vai matar você – disse Caleb.
Peter não disse nada.
– E se você conseguir? Amy não pode ir embora. Você mesmo disse.
– É, não pode.
– E aí?
– E aí vou tocar minha vida. Como você vai tocar a sua.
Peter esperou que o filho dissesse mais alguma coisa. Como Caleb não fez isso, pôs a mão no ombro dele.
– Você precisa aceitar, filho.
– Não é fácil.
– Sei que não.
Caleb olhou para cima. Engoliu em seco e disse:
– Quando eu era criança, meus amigos sempre falavam de você. Algumas coisas que diziam eram verdadeiras, um monte delas eram invenção. O engraçado é que eu me sentia mal por você. Não vou dizer que não gostava da atenção, mas também sabia que você não queria que as pessoas pensassem em você daquele jeito. Aquilo me deixava meio perplexo. Quem não gostaria de ser um figurão, uma espécie de herói? Até que um dia entendi. Você se sentia daquele jeito por minha causa. Eu era a escolha que você tinha feito, e o resto não importava mais. Você ficaria perfeitamente feliz se o mundo simplesmente se esquecesse de você.
– É verdade. É assim que eu via a situação.
– Eu me sentia tremendamente sortudo. Quando você começou a trabalhar para a Sanchez, achei que as coisas poderiam mudar, mas nunca mudaram.
Ele olhou de novo para Peter.
– E agora você me pede para deixá-lo partir. Não posso. Não consigo. Mas entendo.
Ficaram um tempo sentados sem dizer nada. Ao redor o navio estava acordando, os passageiros se levantando, espreguiçando-se. Aquilo aconteceu mesmo?, pensavam, os olhos piscando por causa da luz desconhecida, oceânica. Estou mesmo num navio? Aquilo é o sol, o mar? Como deviam estar atônitos com a calma de tudo, pensou Peter. Vozes se acumulavam – sobretudo as das crianças, para quem uma noite de terror, de um modo abrupto e imprevisto, tinha aberto uma porta para uma existência completamente nova. Tinham ido dormir num mundo e acordado em outro, tão diferente a ponto de parecer, talvez, uma versão completamente diversa da realidade. À medida que os minutos passavam, muitos passageiros eram atraídos magneticamente para a amurada – apontando, sussurrando, conversando. Enquanto ouvia, Peter era invadido por lembranças, além de uma saudade de todas as coisas que jamais veria.
Michael foi até eles. Seu olhar saltou para Caleb, avaliando rapidamente a situação, depois de volta a Peter. Enfiando as mãos nos bolsos, disse gentilmente, quase como se estivesse pedindo desculpas:
– Todos os suprimentos estão a bordo. Acho que estamos prontos.
– Certo – disse Peter, assentindo, mas não fez nenhum outro movimento.
– Você quer... que eu conte aos outros?
– Acho que seria bom.
Michael se afastou. Peter se virou para o filho.
– Caleb...
– Tudo bem.
Caleb se levantou do caixote, rigidamente, como se tivesse um ferimento.
– Vou chamar Pim e as crianças.
Todos se reuniram junto ao Nautilus. Lore e Rand operaram o guindaste que içou Alicia, ainda presa à maca, até o veleiro. Michael e Peter a carregaram até a pequena cabine, depois desceram a escada para perto dos outros: Caleb e sua família; Sara e Hollis; Greer, que tinha se recuperado suficientemente bem do acidente para se juntar a eles no convés, embora estivesse com a cabeça enrolada em bandagens e ficasse de pé um tanto inseguro, com uma das mãos se firmando no casco do Nautilus. Em toda parte do navio pessoas olhavam; a história tinha se espalhado. Eram oito e meia da manhã.
As despedidas finais: ninguém sabia por onde começar. Foi Amy que quebrou o impasse. Abraçou Lucius, os dois trocando palavras em voz baixa, que ninguém mais pôde ouvir, depois Sara e em seguida Hollis, que, mais ainda do que Sara, parecia arrasado com o peso de tudo aquilo, apertando Amy com força contra o peito.
Mas, claro, Sara estava fazendo força para se controlar. Sua compostura era um ardil. Não iria até Michael; simplesmente não podia suportar. Por fim, enquanto as várias despedidas continuavam ao redor, ele é que foi até ela.
– Ah, Michael, seu desgraçado – disse ela, arrasada. – Por que você vive fazendo isso comigo?
– Acho que é o meu talento.
Ela o envolveu com os braços. Lágrimas brotaram nos cantos dos olhos.
– Eu menti para você, Michael. Nunca desisti de você. Nem por um dia.
Separaram-se. Michael se virou para Lore.
– Acho que é isso.
– Você sempre soube que não iria, não é?
Michael não respondeu.
– Ah, diabo – disse Lore. – Acho que eu meio que sabia também.
– Cuide do meu navio. Conto com você.
Lore segurou o rosto dele e lhe deu um beijo longo e terno.
– Fique em segurança, Michael.
Ele subiu a bordo do Nautilus. Na base da escada, Peter apertou a mão de Greer, depois a de Hollis. Abraçou Sara longamente e com força. Já tinha dito adeus a Pim e às crianças. Seu filho seria o último. Caleb estava ao lado. Seus olhos permaneciam firmes, segurando as lágrimas; ele não iria chorar. De repente Peter sentiu que estava marchando para a morte. Ao mesmo tempo foi tomado, como nunca antes, por um sentimento de orgulho. Daquele homem forte à sua frente, Caleb. Seu filho, seu garoto. Peter o puxou para um abraço firme. Não iria segurá-lo por muito tempo. Se fizesse isso, talvez não fosse embora. São os filhos que nos dão a vida, pensou. Sem eles não somos nada, estamos aqui e vamos embora, como o pó. Permaneceu alguns segundos, registrando tudo o que podia, e deu um passo atrás.
– Eu te amo, filho. Tenho muito orgulho de você.
Subiu a escada para se juntar aos outros no convés. Rand e Lore começaram a acionar o guincho. O Nautilus se ergueu do suporte e balançou, descendo junto ao costado do navio. Chapinhando com um som fraco, acomodou-se na água.
– Certo, segurem firme aí! – gritou Michael para cima.
Usaram as facas para cortar a rede de cabos. Ela passou por baixo da popa, meio flutuando, depois afundou com o próprio peso. Peter e Amy prenderam os estais enquanto Michael ajustava os cabos que ergueriam o mastro. Tinham começado a se afastar do Bergensfjord. Quando tudo estava pronto, Michael começou a girar o sarilho. O mastro se ergueu até a posição certa. Ele o travou no lugar e desamarrou a vela da retranca. A distância até o Bergensfjord tinha aumentado para 50 metros. O ar estava esquentando, com uma brisa suave. Os grandes motores do navio tinham sido ligados. Um novo som emergiu, um som de correntes. Embaixo da proa do Bergensfjord a âncora apareceu, água escorrendo enquanto subia. A amurada do navio estava cheia de rostos enfileirados olhando para eles. Algumas pessoas começaram a acenar.
– Certo, estamos prontos – declarou Michael.
Levantaram a vela mestra. Ela não se inflou, mas então Michael puxou a cana do leme para um lado e a proa virou ligeiramente para o vento. Com um estalo, o pano se encheu.
– Vamos levantar a bujarrona assim que estivermos longe – disse.
Para Peter, a velocidade era espantosa. O barco, adernando levemente, tinha uma sensação estável, a ponta da proa cortando a água facilmente. O Bergensfjord foi ficando para trás. O céu parecia infinitamente profundo.
Foi acontecendo aos poucos, depois de repente: estavam sozinhos.
SETENTA E NOVE
Diário de bordo do Nautilus
Dia 4: 27°95’N, 83°99’O. Vento SSE 10-15, rajadas chegando a 20.
Céu limpo, ondas de 1 a 1,5 m.
Depois de três dias de pouco vento, estamos finalmente numa velocidade decente, de 6 a 8 nós. Acho que chegaremos ao litoral oeste da Flórida ao anoitecer, logo ao norte de Tampa. Peter parece finalmente estar ganhando pernas de marinheiro. Depois de três dias vomitando pela amurada, anunciou hoje que estava com fome. De Lish não temos grande coisa. Ela dorme na maior parte do tempo e não diz praticamente nada. Todo mundo está preocupado com ela.
Dia 6: 26°15’N, 79°43’O. Vento SSE 5-10, mudando.
Parcialmente nublado. Ondas de 30 a 60 cm.
Contornamos a península da Flórida e viramos para o norte. Daqui deixaremos o litoral para trás e iremos em linha reta até os bancos externos da Carolina do Norte. Nuvens pesadas a noite toda, mas sem chuva. Lish ainda está muito fraca. Amy finalmente a convenceu a comer, e Peter e eu tiramos a sorte no palitinho. Ele ganhou, mas acho que depende de como você vê a coisa. Fiquei meio nervoso com relação às instruções de Sara e não sou bom com agulhas, por isso Amy assumiu. Meio litro. Vamos ver se ajuda.
Dia 9: 31°87’N, 75°25’O. Ventos SSE 15-20, rajadas de até 30.
Céu limpo. Ondas de 1,5 a 2 m.
Noite horrível. A tempestade chegou logo antes do pôr do sol – ondas enormes, vento forte, chuva forte. Todo mundo ficou acordado a noite inteira pondo água para fora com baldes. Fomos tirados do curso e o piloto automático pifou. Entrou água, mas o casco parece estanque. Navegando em vento forte, sem bujarrona.
Dia 12: 36°75’N, 74°33’O. Ventos NNE 5-10.
Nuvens esparsas. Ondas de 0,5 a 1 m.
Decidimos ir para o oeste, em direção ao litoral. Todo mundo está exausto e precisa descansar. Pelo lado positivo, Lish parece ter ultrapassado a pior fase. O problema é a coluna; ela ainda está sentindo muita dor e mal consegue dobrar o corpo. Minha vez com a agulha. Lish pareceu se divertir um pouco com isso. “Ah, qual é, Circuito?”, disse ela. “Uma garota precisa comer. Talvez seu sangue me deixe mais inteligente.”
Dia 13: 36°56’N, 76°27’O. Ventos NNE 3-5. Ondas de 30 a 60 cm.
Ancorados na foz do rio James. Destroços fantásticos em toda parte – enormes embarcações da marinha, petroleiros, até um submarino. O humor de Lish melhorou. Ao entardecer ela pediu para ser levada ao convés.
Uma linda noite estrelada.
Dia 15: 38°03’N, 74°50’O. Ventos fracos e variados. Ondas de 0,5 a 1 m.
De novo a caminho com vento bom. Navegando a 6 nós. Todo mundo sente: estamos chegando mais perto.
Dia 17: 39°63’N, 75°52’O. Ventos SSE 5-10. Ondas de 0,5 a 1 m.
Amanhã chegamos a Nova York.
OITENTA
Os quatro estavam sentados no convés ao anoitecer. O barco estava ancorado. Diante da proa, a bombordo, uma longa linha de areia. A borda sul de Staten Island, que já fora densamente povoada, agora estava exposta, limpa, vazia.
– Então todos concordamos? – perguntou Peter, examinando o grupo. – Michael?
Sentado junto à cana do leme, ele brincava com um canivete, abrindo e fechando a lâmina. Seu rosto tinha ficado ressecado pelo sal e o vento. Dentes brancos brilhavam através da barba cor de areia.
– Já falei antes. Se você diz que esse é o plano, esse é o plano.
Peter se virou para Alicia.
– É a última chance de avaliar.
– Mesmo se eu dissesse não, você não ouviria.
– Desculpe, isso não basta.
Ela o encarou, desconfiada.
– Ele não vai simplesmente se render, sabe? “Desculpe, acho que eu estava errado, afinal de contas.” Esse não é o estilo dele.
– Por isso preciso de você no túnel com Michael.
– Meu lugar é na estação com você.
Peter olhou para ela de forma expressiva.
– Você não pode matá-lo, você mesma disse. Mal consegue andar. Sei que está com raiva e não quer ouvir isso. Mas precisa pôr os sentimentos de lado e deixar essa parte para mim e Amy. Você só iria nos atrasar, e preciso que proteja o Michael. Os virais de Fanning não vão atacá-la. Você pode dar cobertura a ele.
Peter podia ver que suas palavras tinham ferido. Alicia desviou o olhar, depois o encarou de volta, os olhos se estreitando com um alerta.
– Você sabe que ele sabe que estamos a caminho. Duvido seriamente que isso tenha escapado à atenção dele. Entrar dançando na estação é fazer o jogo do Fanning.
– Essa é a ideia.
– E se não der certo?
– Então todos nós morremos e Fanning vence. Estou disposto a ouvir uma ideia melhor. Você é a especialista no cara. Diga que estou errado e eu ouço.
– Isso não é justo.
– Sei que não.
Houve um breve silêncio. Alicia suspirou, rendendo-se.
– Ótimo, não posso. Você venceu.
Peter se virou para Amy. Depois de duas semanas no mar, o cabelo dela tinha crescido um pouco, suavizando as feições e de algum modo tornando-as mais nítidas, mais definidas.
– Acho que tudo depende do que Fanning deseja – disse ela.
– Quer dizer, do que deseja de você.
– Talvez ele só pretenda me matar, e nesse caso não há muita coisa para impedi-lo. Mas ele teve um trabalho enorme para me trazer aqui, e é só isso que ele tem em mente.
– O que você acha que ele quer?
A luz do dia quase havia ido embora. Da praia vinha o longo chiado das ondas.
– Não sei. Mas concordo com Lish. Ele tem alguma coisa a provar. Afora isso...
Ela parou por um tempo, depois continuou:
– O importante é garantir que ele esteja na tal estação. Colocá-lo lá e mantê-lo lá. Não deveríamos esperar o Michael. Precisamos estar lá quando a água bater. Esse é o nosso momento.
– Então você concorda com o plano.
Ela assentiu.
– É. Acho que é a nossa melhor chance.
– Vamos olhar aquele desenho.
Alicia tinha esboçado um mapa simples: ruas e prédios, mas também o que havia embaixo deles e pontos de acesso. A isso acrescentou descrições verbais: a aparência e a sensação das coisas, certos marcos, lugares onde a passagem seria obstruída por florestas ou estruturas desmoronadas, a beira do mar onde ele cobria a ponta sul da ilha.
– Fale das ruas em volta da estação – pediu Peter. – Quanta sombra existe para os virais se moverem?
Alicia pensou por um momento.
– Bom, muita. Ao meio-dia há mais sol, mas todos os prédios são muito altos. Estou falando de sessenta, setenta andares. É diferente de tudo o que você já viu na vida, e pode ficar bem escuro no nível da rua a qualquer hora do dia.
De novo ela atraiu a atenção deles para o desenho.
– Eu diria que a melhor opção seria aqui, na saída oeste da estação.
– Por quê?
– Dois quarteirões a oeste há uma construção inacabada. O prédio tem 52 andares, não é enorme pelos padrões do que há em volta, mas os trinta andares de cima só têm a estrutura. Há um bom sol em volta da base, mesmo no fim do dia. Dá para ver da estação, há um elevador externo e um guindaste na lateral do prédio. Eu costumava passar um bom tempo lá em cima.
– No guindaste?
Alicia deu de ombros.
– É, bem. Era uma coisa minha.
Não deu maiores explicações. Peter decidiu não pressionar. Apontou para outro local do mapa, um quarteirão a leste da estação.
– O que é isso?
– O Edifício Chrysler. É a coisa mais alta por lá, com quase oitenta andares. O topo é feito de uma espécie de metal brilhante, como uma coroa. Reflete muito. Dependendo de onde o sol esteja, ele pode lançar um bocado de luz.
O dia tinha acabado; a temperatura havia caído e puxara a umidade do ar. Enquanto o silêncio baixava, Peter percebeu que tinham chegado ao fim da conversa. Dentro de pouco menos de oito horas içariam as velas, o Nautilus faria o trecho final da viagem até Manhattan e o que quer que fosse acontecer por lá aconteceria. Era improvável que todos sobrevivessem, ou mesmo que algum deles sobrevivesse.
– Eu fico no primeiro turno de vigia – disse Michael.
Peter olhou para ele.
– Parece que estamos bem protegidos aqui. Isso é necessário?
– O fundo é bem arenoso. A última coisa de que precisamos é de uma âncora arrastando agora.
– Também vou ficar – disse Lish.
– Não posso dizer que me incomodo com a companhia – disse Michael, sorrindo, então se virou para Peter: – Tudo bem, já fiz isso um milhão de vezes. Vão dormir. Vocês dois precisam.
A noite abriu suas mãos sobre o mar.
Tudo estava quieto. Só havia os sons do oceano, profundos e calmos, e as batidas das ondas no casco. Peter e Amy estavam aconchegados na cama única da cabine, a cabeça dela apoiada no peito dele. A noite estava quente, mas embaixo do convés o ar era fresco, esfriado pela água que envolvia o casco.
– Fale sobre a fazenda – disse Amy.
Peter precisou de um momento para pensar na resposta. Acalentado pelo movimento do barco e a sensação de proximidade, de fato estivera patinando à beira do sono.
– Não sei bem como descrever. Não eram sonhos comuns, eram muito mais reais. Como se toda noite eu fosse a outro lugar, outra vida.
– Como... um mundo diferente. Verdadeiro, mas não o mesmo.
Ele assentiu, depois disse:
– Eu nem sempre lembrava, depois, pelo menos não em detalhes. O que durava era principalmente a sensação. Mas de algumas coisas. A casa, o rio. Dias comuns. A música que você tocava. Canções lindas. Eu poderia ouvir para sempre. Pareciam cheias de vida – disse, depois perguntou: – Para você era igual?
– Acho que sim.
– Mas não tem certeza.
Ela hesitou.
– Só aconteceu uma vez, quando eu estava na água. Eu estava tocando para você. A música vinha facilmente. Como se as canções estivessem dentro de mim e eu finalmente deixasse que elas saíssem.
– O que aconteceu, então?
– Não lembro. Só sei que acordei no convés e você estava ali.
– O que você acha que isso significa?
Ela parou, antes de responder.
– Não sei. Só que, pela primeira vez na vida, fui realmente feliz.
Durante um tempo ouviram os estalos suaves do barco.
– Eu te amo – disse Peter. – Acho que sempre amei.
– E eu te amo.
Ela chegou mais perto. Peter reagiu do mesmo modo. Pegou a mão esquerda de Amy, entrelaçou os dedos nos dela, puxou-a para o peito e a segurou ali.
– Michael está certo – disse ela. – Deveríamos dormir.
– Tudo bem.
Logo ela sentiu a respiração dele ficar mais lenta. Assumiu um ritmo profundo, longo, como ondas na praia. Amy fechou os olhos, mas sabia que não adiantava. Ficaria acordada durante horas.
No convés do Nautilus, Michael estava olhando as estrelas.
Porque era impossível se cansar delas. Em todas as suas muitas noites no mar, as estrelas tinham sido as companheiras mais leais. Ele as preferia à lua, que parecia demasiadamente franca, sempre implorando para ser notada. As estrelas mantinham certa distância cautelosa, permitindo que o mistério de suas individualidades respirasse. Michael sabia o que as estrelas eram – bolas de hidrogênio e hélio explodindo –, assim como muitos de seus nomes e os arranjos que formavam no céu noturno: informações úteis para um homem sozinho no mar num barco pequeno. Mas também sabia que essas coisas eram uma ordenação imposta, da qual as próprias estrelas não tinham conhecimento.
Esse enorme espetáculo deveria fazer com que se sentisse minúsculo e sozinho, mas o efeito era exatamente o oposto. Era durante o dia que ele sentia com mais força a solidão. Havia dias em que sua alma doía com isso, o sentimento de que tinha se afastado tanto do mundo das pessoas que jamais poderia voltar. Mas então a noite caía, revelando o tesouro oculto do céu – as estrelas, afinal de contas, não tinham ido embora durante o dia, estavam apenas obscurecidas –, e sua solidão recuava, suplantada pelo sentimento de que o Universo, apesar de toda a vastidão inescrutável, não era um lugar duro e indiferente em que algumas coisas estavam vivas e outras não, e onde tudo o que acontecia era uma espécie de acidente, governado pela mão fria das leis físicas, e sim uma teia de fios invisíveis em que tudo estava ligado a tudo, inclusive ele. Era ao longo desses fios que as perguntas e as respostas da vida pulsavam como uma corrente alternada, todas as dores e pesares, mas também a felicidade e até o júbilo, e ainda que a fonte dessa corrente fosse desconhecida, uma pessoa poderia senti-la caso se desse a chance; e a hora em que Michael Fisher – Michael Circuito, Primeiro Engenheiro de Luz e Força, Chefe do Comércio e construtor do Bergensfjord – mais sentia isso era quando olhava as estrelas.
Pensou em muitas coisas. Dias no Abrigo. O rosto cego e rígido de Elton e o espaço quente e apertado do barracão das baterias. O fedor gasoso da refinaria, onde tinha deixado a juventude para trás e encontrado seu caminho na vida. Pensou em Sara, que ele amava, e em Lore, que também amava, e em Kate e na última vez que a tinha visto, sua compacta energia juvenil e o afeto fácil por ele na noite em que Michael contou a história da baleia. Tudo tanto tempo atrás, o passado recuando para sempre até se tornar o grande acúmulo interno dos dias. Provavelmente seu tempo na Terra estava chegando ao fim. Talvez alguma coisa viesse depois, para além da existência física como pessoa. Nesse aspecto os céus eram obscuros. Greer certamente achava isso.
Michael sabia que o amigo estava morrendo. Greer tinha tentado esconder, e quase havia conseguido, mas Michael descobrira. Nenhuma coisa específica lhe dissera isso; era simplesmente o modo como sentia o sujeito. O tempo o estava deixando para trás, como fazia com todo mundo.
E, claro, pensou no seu navio, o Bergensfjord. Devia estar longe, agora, em algum lugar na costa do Brasil, indo para o sul sob o mesmo céu estrelado.
– É lindo aqui – disse Alicia.
Ela estava sentada diante dele, reclinada num banco, com um cobertor sobre as pernas. Sua cabeça, como a dele, estava virada para cima, os olhos vitrificados pela luz das estrelas.
– Eu me lembro da primeira vez que as vi – continuou ela. – Foi na noite em que o Coronel me deixou do lado de fora do Muro. Elas me deixaram completamente aterrorizada.
Alicia apontou para o horizonte sul.
– Por que aquela é tão brilhante?
Ele acompanhou seu dedo.
– Bom, aquilo não é uma estrela. É o planeta Marte.
– Como você sabe?
– Você vai vê-lo na maior parte do verão. Se olhar bem, vai notar que tem um tom levemente avermelhado. É basicamente uma enorme rocha poeirenta.
– E aquela? – quis saber, apontando diretamente acima de si.
– Arcturus.
No escuro, a expressão dela estava escondida, mas ele a imaginou franzindo a testa com interesse.
– A que distância ela está?
– Não muita, considerando essas coisas. Uns 37 anos-luz. É o tempo que a luz leva para chegar aqui. Quando a luz que você está vendo saiu de Arcturus, nós dois éramos crianças. De modo que, quando você olha o céu, o que está vendo é o passado. Mas não só um passado. Cada estrela é um diferente.
Ela deu um sorriso leve.
– Isso mexe com a minha cabeça, quando você coloca desse jeito. Eu me lembro de você falando dessas coisas quando a gente era criança. Ou tentando.
– Eu era bem metido a besta. Provavelmente só estava tentando impressioná-la.
– Mostre mais.
Ele fez exatamente isso: traçou o céu. A Estrela Polar e a Ursa Maior. A brilhante Antares e a azulada Vega e suas vizinhas, o pequeno agrupamento conhecido como Golfinho. A grande faixa galáctica da Via Láctea, correndo de um horizonte ao outro, do norte ao sul, cortando o céu do leste como uma nuvem de luz. Contou tudo em que pôde pensar, e o interesse dela jamais diminuía. Quando terminou, ela disse:
– Estou com frio.
Alicia se inclinou para a frente. Michael foi até ela e se enfiou atrás, as pernas posicionadas dos dois lados da cintura dela. Puxou o cobertor para cima, enrolando os dois, puxando-a para esquentá-la.
– Não falamos sobre o que aconteceu no navio – disse Alicia.
– E nem precisamos, se você não quiser.
– Acho que devo uma explicação.
– Não se preocupe.
– Por que você foi atrás de mim, Michael?
– Não pensei muito. Foi uma coisa no calor do momento.
– Isso não é resposta.
Ele deu de ombros, depois disse:
– Digamos que não gosto muito quando as pessoas de quem eu gosto tentam se matar. Já estive nessa estrada. Recebo isso como uma afronta pessoal.
As palavras a fizeram parar.
– Desculpe. Eu deveria ter pensado...
– E não há absolutamente nenhum motivo para você ter pensado. Só não faça isso de novo, certo? Não sou muito bom nadador.
Um silêncio baixou. Não era desconfortável, e sim o oposto: o silêncio da história compartilhada, dos que conseguem falar sem palavras. A noite estava cheia de pequenos sons que, paradoxalmente, pareciam amplificar o silêncio: cada toque da água no casco; as batidas dos cabos na mastreação; os estalos do cabo da âncora no apoio.
– Por que você batizou o barco de Nautilus? – perguntou Alicia.
Sua nuca estava apoiada no peito dele.
– Foi uma coisa de um livro que eu li quando era garoto. Pareceu combinar.
– Bom, combina. Acho bonito.
Depois de um instante, ela falou baixinho:
– O que você disse, na cela.
– Que amava você.
Ele não sentiu embaraço, só a calma da verdade.
– Só achei que você deveria saber. Do contrário, pareceria um enorme desperdício. Estou meio farto de segredos. Tudo bem, não precisa dizer nada sobre isso.
– Mas eu quero.
– Bom, um muito obrigado seria legal.
– Não é tão simples assim.
– Na verdade é exatamente simples assim.
Ela encaixou os dedos de uma das mãos nos dele, comprimindo as palmas juntas.
– Obrigada, Michael.
– De nada.
O ar estava úmido, a névoa caindo, gotas se grudando em cada superfície. Numa distância indeterminada, ondas sibilavam na areia.
– Meu Deus, nós dois – disse ela. – Lutamos a vida inteira.
– É mesmo.
– Estou tão... cansada disso!
Ela puxou o braço dele mais apertado em sua cintura.
– Eu pensava em você, sabe? Quando estava em Nova York.
– Verdade?
– Pensava: o que o Michael está fazendo hoje? O que está fazendo para salvar o mundo?
Ele sorriu.
– Fico honrado.
– E deve ficar mesmo.
Uma pausa, e ela voltou a falar:
– Você costuma pensar neles? Nos seus pais?
A pergunta, apesar de inesperada, não pareceu estranha.
– De vez em quando. Mas foi há muito tempo.
– Eu não me lembro de verdade dos meus. Morreram quando eu era muito nova. Só umas coisas pequenas, acho. Minha mãe tinha uma escova de cabelo prateada da qual gostava. Era muito velha; acho que foi da minha avó. Ela costumava me visitar no Abrigo e escovar meu cabelo com ela.
Michael pensou nisso.
– Acho que lembro de algo assim acontecendo.
– Lembra?
– Ela colocava você num banco no dormitório, perto da janela grande. Lembro dela cantarolando. Não era exatamente uma música, eram só umas notas.
– É – confirmou Alicia depois de um momento. – Eu não sabia que alguém estava prestando atenção.
Ficaram quietos por um tempo. Mesmo antes de ela dizer as palavras, Michael as sentiu se aproximando. Não sabia o que ela ia dizer, só que ia.
– Uma coisa... aconteceu comigo em Iowa. Um homem me estuprou, um dos guardas. Ele me engravidou.
Michael ficou esperando.
– Era uma menina. Não sei se ela era o que eu sou ou outra coisa, mas não sobreviveu.
Como Alicia ficou em silêncio, Michael pediu:
– Fale sobre ela.
– Rose. Foi o nome que dei. Tinha um cabelo ruivo lindo. Depois de enterrá-la, fiquei com ela um tempo. Dois anos. Achei que isso ajudaria, tornaria as coisas mais fáceis, de algum modo. Mas não ajudou.
De repente ele se sentiu mais próximo de Alicia do que já se sentira de qualquer pessoa na vida. Por mais que essa história fosse dolorosa, contá-la era um presente que ela havia lhe dado, o âmago de quem ela era, a pedra que ela carregava, e como o amor tinha acontecido em sua vida.
– Espero que não tenha sido um problema contar a você.
– Gostei muito de você ter contado.
Outro silêncio, depois:
– Você não está mesmo preocupado com a âncora, não é?
– Na verdade, não.
– Foi legal o que você fez por eles – comentou Alicia e virou a cabeça para cima para encará-lo. – A noite está linda.
– É, está.
– Não, está mais do que linda – disse ela e apertou a mão dele, aninhando-se em seu corpo. – Está perfeita.
OITENTA E UM
Assim, finalmente, uma história.
Uma criança nasceu neste mundo. Está perdida, sozinha, ao mesmo tempo amparada e traída. É portadora de um fardo especial, uma vocação que somente ela pode carregar. Caminha num ermo, uma ruína de sofrimento e sonhos atormentados. Não tem passado, apenas um futuro longo e vazio; é como uma condenada com a sentença desconhecida, que jamais visitada na cela de sua prisão interminável. Qualquer outra alma seria derrotada por esse destino, no entanto a criança sobrevive, ousa esperar que não esteja sozinha. Essa é sua missão, o papel para o qual foi escolhida no cruel teste do céu. Ela é o último receptáculo de esperança na Terra.
Então, um milagre: uma cidade lhe aparece, uma luminosa cidade murada numa colina. Suas orações foram atendidas! Reluzindo como um farol, parece uma profecia realizada. A chave vira na fechadura; a porta se abre. Dentro dos muros ela descobre uma maravilhosa raça de homens e mulheres que, como ela, resistiram. Eles se tornam seus, de certa forma. Nos olhos dessa criança sem palavra os mais prescientes dentre eles percebem uma resposta às suas perguntas mais insistentes; assim como eles aliviaram a solidão dela, a menina aliviou a deles.
Uma jornada começa. O sombrio arranjo do mundo é revelado. A criança cresce, comanda seus companheiros até uma vitória gloriosa. Por sua mão, sementes de esperança são espalhadas sobre a terra, a promessa brota de cada fonte e riacho. No entanto ela sabe que esse florescer é uma ilusão, um mero adiamento. Não pode haver segurança; seus triunfos estão longe de ser transformadores. Há um núcleo escuro, uma grande bola de ferro por baixo de todas as coisas. Seu peso é fantástico; ela é mais velha do que o próprio tempo. É um vestígio do negrume que predata toda a existência, quando um universo sem forma existia num estado de não criação caótica, sem percepção sequer de si mesmo.
Ela hesita. Tem dúvidas. Fica indecisa, até com medo. O seu erro é o maior de todos: ficou ligada à vida. Ousou, insensatamente, amar. Em sua mente é travada uma batalha, a de quem questiona o destino. Será que ela é apenas a marionete de um lunático? É escrava ou autora do destino? Será que deve dar as costas a todas as coisas e pessoas que passou a amar? E esse amor é um reflexo de algum desígnio grandioso, uma prova de uma criação divina e ordenada? É a verdade ou o afastamento da verdade? Amor romântico, amor fraterno, amor de um pai por um filho e amor devolvido – são um espelho do rosto de Deus ou a bile mais amarga num cosmo de som e fúria, sem significado algum?
Quanto a mim: houve um tempo na minha vida em que pus de lado todas as dúvidas e sorvi a flor do céu. Que sumo doce havia! Que bálsamo para todo o sofrimento, para a dor sagrada da alma! O fato de minha Liz estar morrendo não contrariava meu júbilo; ela havia chegado a mim como uma mensageira, nas horas em que está tudo desnudo, para revelar meu objetivo na Terra. Em todos os meus dias examinei os menores mecanismos da vida. Tinha realizado essa tarefa despreocupadamente, jamais avaliando minha verdadeira motivação. Olhava as menores formas e os menores processos da natureza buscando as digitais da divindade. Então a prova me veio não na extremidade de um microscópio, e sim no rosto dessa mulher esguia, agonizante, e no toque de sua mão por cima da mesa de um café. Minhas longas horas solitárias – como as suas, Amy – não pareciam um exílio ou uma prisão, e sim um teste pelo qual passei. Eu era amado! Eu, Timothy Fanning, de Mercy, Ohio! Amado por uma mulher, amado por um deus – um grande deus paternal que, medindo meus sofrimentos, tinha me considerado digno. Eu não tinha sido feito sem motivo! E não era somente amado; tinha sido encarregado como escolta do céu. O Egeu azul, onde antigos deuses e heróis supostamente residiam; a casa pintada de branco que alcançávamos por uma escada; a cama humilde e os móveis feitos em casa; os sons cotidianos de uma vida de aldeia e um terraço com a visão de um bosque de oliveiras e o mar agitado mais além; a luz branca e suave das manhãs eternas, ficando mais e mais brilhantes. Na minha mente eu vi, vi tudo. Nos meus braços ela passaria desta vida para a outra, que sem dúvida existia, afinal de contas, já que o amor tinha vindo a mim – a nós dois – finalmente.
Não iria se passar uma hora, com seu corpo esfriando no meu abraço, antes que eu a acompanhasse para fora deste mundo. Isto também fazia parte do meu desígnio. Eu tomaria os últimos comprimidos, os que tinha guardado para mim mesmo, e partiria em silêncio, de modo que fôssemos atados eternamente um ao outro e a um universo invencível. Minha certeza era implacável; meus pensamentos, claros como gelo. Não tinha absolutamente nenhuma dúvida. Assim, na hora combinada de nosso encontro, assumi minha posição, esperando que meu anjo aparecesse. Na minha mala, os instrumentos de nossa libertação mortal dormiam como pedra. Mal sabia que isso era apenas um antegosto da ruína maior – que os viajantes apressados que fluíam em volta de mim não possuíam qualquer ideia de que o príncipe da morte estava entre eles.
Por três vezes fui gerado; três vezes fui traído. Terei satisfação.
Você, Amy, ousou amar, como ousei uma vez. Você é a iludida defensora da esperança, assim como jurei ser inimigo dela. Sou a voz, a mão, o agente implacável da verdade, que é a verdade do nada. Cada um de nós foi feito por um louco. A partir de seu desígnio nos bifurcamos como estradas numa floresta escura. Tem sido sempre assim, desde que os materiais da vida se juntaram e se arrastaram para fora da gosma da natureza.
Seu grupo se aproxima; o tempo fica mais doce, hora a hora. Sei que ele está com você, Amy. Como poderia não estar do seu lado, o homem que a tornou humana?
Venha a mim, Amy. Venha a mim, Peter.
Venham a mim, venham a mim, venham a mim.
OITENTA E DOIS
A grande cidade emergiu como uma visão, erguendo-se do mar como um castelo ou uma vasta relíquia sagrada. Uma ruína de dimensões espantosas: confundia os sentidos, uma vastidão grande demais para caber na mente. O sol da manhã, baixo, com os raios inclinados, se chocava contra a face das torres, ricocheteando no vidro como balas.
Peter se juntou a Amy na proa. Ela parecia estar numa calma sobrenatural. Uma intensidade profunda irradiava dela como o calor de um fogão. Minuto a minuto a metrópole ficava mais alta.
– Santo Deus, é enorme – disse Peter.
Amy assentiu, mas isso não era tudo. A presença de Fanning saturava o lugar. Era como se um zumbido de fundo que ela estivera escutando a vida toda, onipresente a ponto de parecer quase imperceptível, aumentasse de volume. Sentia um peso. Essa era a única palavra. Um peso exausto e terrível em tudo.
Tinham decidido chegar pelo oeste. No ar tépido velejaram, subindo o Hudson, procurando um local para atracar. A luz do dia era tudo; precisavam agir depressa. A maré era forte, empurrando-os feito uma mão invisível.
– Michael...
Ele estava trabalhando com os cabos e o leme, tentando aproveitar cada sopro de vento.
– Eu sei.
O rio estava escuro como nanquim. Às vezes eles pareciam parar totalmente devido à força das águas. O dia se transformou em tarde.
– Isso é impossível – disse Michael.
Quando encontraram um lugar para atracar, eram quatro horas. Nuvens tinham vindo do sul. O ar estava opressivo, cheirando a podridão. Restavam quatro, talvez cinco horas de luz do dia. Na cabine Michael pegou a mochila com explosivos, além de um longo carretel de cabo e o detonador: uma caixa de madeira com um êmbolo. Parecia primitivo, mas era esse o objetivo, explicou. As coisas simples eram sempre mais confiáveis, e não haveria segunda chance para acertar. No convés, eles se armaram e revisaram o plano uma última vez.
– Não se enganem – disse Alicia –, esta ilha é uma armadilha mortal. Se escurecer, estamos fritos.
Desembarcaram. Estavam entre as ruas 20 e 30, a pista apinhada de carcaças de carros. Janelas sem vidro os encaravam como bocas de cavernas. Aqui iriam se separar, Michael e Lish para o sul, em direção a Astor Place, e Peter e Amy através do centro comercial da cidade em direção à Grand Central. Michael improvisara uma muleta para Alicia usando um remo.
– Sessenta minutos – disse Peter. – Boa sorte.
Separaram-se rapidamente, sem despedidas.
Peter e Amy caminharam para o norte pela Quinta Avenida. Quarteirão após quarteirão, o núcleo vertical da cidade subia, criando estreitos fiordes entre os prédios. Em alguns lugares o pavimento estava encalombado com raízes de árvores, em outros, afundado em crateras que variavam de uns poucos metros até a largura total da rua, obrigando-os a se esgueirar pela beirada. Enquanto penetravam mais na ilha, Peter observou os marcos: o Empire State, de uma altura estonteante, como um dedo imperioso apontando para o céu; o Edifício Chrysler com sua coroa curva feita de metal polido; a biblioteca, envolta numa capa de trepadeiras, os largos degraus da frente vigiados por um par de leões em pedestais. Na esquina da Rua 42 com a Quinta Avenida, surgiu a torre semiconstruída que Alicia havia descrito. As vigas expostas dos andares superiores tinham uma aparência avermelhada – produto de décadas de oxidação lenta. Um elevador externo subia ao topo da estrutura; dali o guindaste se erguia pela altura de mais dez ou quinze andares, com a lança horizontal paralela ao flanco oeste do prédio, bem acima da Quinta Avenida.
Até agora não tinham visto qualquer traço dos virais de Fanning – nenhum excremento ou carcaça de animais, nenhum som de movimento vindo dos prédios. A não ser pelos pombos, a cidade parecia morta. Cada um dos dois tinha um fuzil semiautomático e uma pistola. Além disso, Amy carregava a espada. Tinha-a oferecido a Alicia, mas ela recusara. “Peter está certo”, dissera Alicia. “Para mim ela não tem utilidade. Faça-me um favor e corte a cabeça do filho da mãe.”
Aproximaram-se pelo oeste, vindo da Rua 43, até a Vanderbilt. Entre os prédios emergiu a Grand Central. Comparada com o que havia ao redor, a estrutura parecia ter dimensões modestas, aninhada como um coração no seio da cidade. As ruas ao redor estavam abertas ao sol, mas a pista de um elevado cercava o perímetro no nível das sacadas, criando uma zona de escuridão embaixo.
Amy verificou seu relógio: faltavam vinte minutos.
– Precisamos verificar aquela porta – disse.
Era um risco, mas Peter concordou. Caso se movessem com cautela e abaixados, mantendo uma linha de visão para cima, poderiam detectar quaisquer virais embaixo do elevado antes de chegarem perto demais.
E, como Peter percebeu mais tarde, era exatamente isso que Fanning pretendera que eles fizessem: olhar para cima. Não importavam os alertas de Alicia para não subestimar o adversário. Não importava que, estranhamente, a rua estivesse atapetada de trepadeiras, ou que a cada passo adiante o ar ficasse mais denso com o odor úmido, séptico, de esgoto aberto. Não importavam os leves sons farfalhantes, que podiam ser causados por ratos, mas não eram. Só seria necessário um momento de descuido. Esgueiraram-se por baixo do elevado, com absolutamente toda a atenção focalizada no teto vazio.
Peter e Amy não os viram chegando.
Michael acompanhava a numeração decrescente das ruas. Algumas eram intransponíveis, sufocadas com vegetação ou entulho; outras, vazias, como se esquecidas pelo tempo. Em alguns prédios cresciam árvores; bandos de pombos espantados saltavam em seu caminho, voando em enormes nuvens de asas em movimento.
Na esquina da Rua 18 com a Broadway, pararam para descansar. Alicia estava ofegando, o rosto vitrificado de suor.
– Quanto falta? – perguntou Michael.
Ela tossiu e pigarreou.
– Onze quarteirões.
– Eu posso fazer isso sozinho, sabe?
– Sem chance.
A muleta era instável demais. Deixaram-na para trás e continuaram, Michael sustentando Alicia. Um fuzil pendia no ombro dela. Seus passos eram difíceis, mais um coxear do que um caminhar. De vez em quando ela emitia um pequeno som ofegante que ele sabia que estava tentando esconder. Os minutos passavam pingando. Chegaram a um pequeno abrigo de ferro fundido com arabescos elaborados, pintado de branco com guano de pombo. O cheiro do mar tinha ficado mais forte.
– É isso aí – disse ela.
Michael tirou um lampião da mochila e acendeu o pavio. Enquanto desciam a escada, ele detectou pequenos movimentos no chão. Parou e ergueu o lampião. Ratos corriam por toda parte, formando longos cordões marrons grudados às bordas das paredes.
– Eca – murmurou.
Chegaram ao fundo. Colunas de tijolos em arco sustentavam o teto acima dos trilhos. Na parede forrada de ladrilhos uma placa em letras douradas dizia ASTOR PLACE.
– Que direção? – perguntou Michael, desorientado no escuro.
– Por aqui. Sul.
Ele saltou no leito dos trilhos. Alicia lhe entregou seu fuzil e ele a ajudou a descer. Enquanto passavam para o túnel, o ar ficou mais frio. A água chacoalhava aos pés. Michael contou os passos. Quando chegou a cem, a luz de seu lampião captou um movimento: o espirro de água sibilante que vinha das bordas da antepara. Ele avançou e encostou a mão no metal grosso. Atrás dele estavam toneladas de água fazendo pressão, o peso do mar, como um canhão que não fora disparado.
– Quanto tempo? – perguntou Alicia.
Estava encostada na parede, examinando o túnel com um fuzil.
Tinham levado 45 minutos. Ele pegou a mochila e tirou os suprimentos. Alicia estava vigiando a outra extremidade do túnel. Michael torceu os fios das espoletas e depois prendeu a ponta do cabo do carretel. Manter tudo seco seria um desafio, mas precisava impedir que a água fizesse contato com os pavios. Pôs a dinamite de volta na mochila e examinou a porta, procurando alguma coisa em que pendurá-la. A superfície era absolutamente lisa.
– Ali – disse Alicia.
Ao lado da antepara, um comprido parafuso enferrujado se projetava da parede. Michael pendurou a mochila nele, entregou o detonador a Alicia e começou a desenrolar o cabo do carretel.
– Vamos.
Voltaram à estação Astor Place e subiram na plataforma. Desenrolando o cabo, foram para a escada e subiram ao primeiro patamar. Uma luz do dia cheia de partículas se filtrava do nível da rua. Ajoelhado, Michael pôs o êmbolo no chão, separou o cabo com os dentes e enrolou um fio em cada um dos parafusos no topo da caixa. Alicia estava sentada no degrau abaixo dele, com os óculos levantados sobre a testa, o fuzil apontando para o negrume embaixo. Círculos de suor encharcavam sua camisa na gola e nas axilas; seu queixo estava tenso de dor. Enquanto ele apertava os parafusos de borboleta, os olhares dos dois se encontraram.
– Isso deve servir – disse Michael.
Faltavam dez minutos.
Amy no escuro: primeiro veio a dor, uma pancada aguda na nuca. Em seguida, a sensação de ser arrastada. Seus pensamentos se recusavam a se organizar. Onde estava? O que tinha acontecido? Que força a estava puxando? Imagens solitárias passavam, empurradas por ventos mentais: uma tela de televisão cuspindo estática; flocos de neve gordos descendo de um céu negro; o jardim de Carter, um tapete de cores vivas; o mar preto-azulado batendo. Ali estava o piso – sujo, arranhado. Sua língua estava densa e pesada na boca. Tentou fazer um som, mas nada saía. O piso passava em espasmos aórticos, acompanhando o ritmo da pressão nos pulsos. A ideia de resistência se assentou, mas quando ela tentou mover os membros descobriu que não tinha forças para agir; o corpo tinha sido arrancado de sua vontade.
Sentiu, depois viu, uma luz, uma espécie de claridade filtrada, e no instante seguinte tudo mudou: o modo como o ar se movia em sua pele, como o som se comportava, seu sentido intuitivo dos parâmetros físicos ao redor. Ruídos se expandiam e saltavam para longe; o ar tinha um cheiro diferente, menos confinado, com um odor biológico.
– Deixem-na aí, por favor.
A voz – despreocupada, até mesmo um tanto entediada – vinha de algum lugar à frente. A pressão em seus pulsos se aliviou. Seu rosto bateu no chão. Uma bola quente, luminosa, ricocheteou no interior de seu crânio como brasa cuspida de uma fogueira.
– Com gentileza, pelo amor de Deus.
A consciência se esvaiu. Depois, como uma onda escura voltando à praia, quebrou sobre ela de novo. Sentiu gosto de sangue: tinha mordido a língua. O piso estava frio contra seu rosto. A luz, o que era? E o som? Um murmúrio grave, não de vozes propriamente, mas vindo de um volume de corpos respirando. Sentiu a presença de rostos. Rostos e também mãos, meio escondidos numa névoa. Seu cérebro disse: Olhe com mais atenção, Amy. Concentre os olhos e veja.
Não era bom. Não era nem um pouco bom.
Estava cercada por virais. A primeira camada estava agachada ao seu redor a uma distância de 1 ou 2 metros – mandíbulas estalando, pescoços latejando de um modo anfíbio, dedos em forma de ganchos acariciando o ar com pequenos movimentos sincopados, como se batessem nas teclas de pianos invisíveis. Isso era ruim, mas não era o pior. O salão se retorcia e latejava, uma população de centenas. Atapetavam as paredes. Olhavam das sacadas como espectadores numa disputa. Preenchiam cada reentrância e cada canto, empoleiravam-se em cada saliência. O espaço se retorcia como um poço de serpentes.
– Tudo aconteceu com muita facilidade – continuou a voz, vagarosa. – Estou meio pasmo, de fato. Estava preocupado com a hipótese de o entusiasmo deles tomar conta. Eles fazem isso.
Ela ainda estava com dificuldade para alinhar o corpo e a mente, forjar a cadeia de comando adequada. Tudo parecia atrasado e fora de sincronia. A voz parecia emanar de toda parte, como se o ar estivesse falando. Fluía por cima e por dentro dela como óleo escorregadio, alojando-se com uma doçura amanteigada, grudenta, no fundo da garganta.
– Seria óbvio demais dizer por quanto tempo esperei para conhecê-la? Mas esperei. Desde o dia em que Jonas me falou da sua existência, fiquei pensando: quando vamos nos conhecer? Quando minha Amy virá a mim?
“Minha Amy”. Por que a voz a estava chamando desse jeito? Ela descobriu o céu. Não, não era o céu: era um teto com imagens de estrelas com figuras douradas flutuando no meio.
– Ah, você deveria tê-lo ouvido. Como ele se sentia culpado. Como lamentava. “Meu Deus, Tim, ela não passa de uma menininha. Ela nem tem um nome de verdade. É apenas uma garota de lugar nenhum.”
As estrelas ao contrário, pensou Amy. Como se o céu fosse visto de fora para dentro ou refletido num espelho. Sentiu os pensamentos se ligando a essa ideia, e quando isso aconteceu novas ideias começaram a se formar. Como se rolasse de um sonho, sua mente começou a se abrir às circunstâncias atuais; lembranças vinham à superfície. Uma imagem entrou na mente: Peter, o corpo voando, atravessando uma vidraça.
Um risinho sombrio.
– Na verdade não é engraçado, acho, quando você coloca isso no contexto de alguns bilhões de cadáveres. Mesmo assim a coisa toda foi um tremendo desempenho. Jonas não seguiu seu verdadeiro talento. Ele deveria ser ator.
Fanning, pensou ela.
A voz era de Fanning.
E tudo voltou como uma pancada violenta.
– Esperei demais, Amy.
Um suspiro pesado.
– Sempre esperando que minha Liz estivesse no próximo trem. Sabe como é isso? Mas como poderia saber? Como alguém poderia saber?
Ela lutou para ficar de quatro. Estava na extremidade oeste do salão. À direita, as bilheterias, com barras como celas de uma cadeia: à esquerda, os recessos sombreados das plataformas dos trens. Janelas amortalhadas, tanto atrás dela quanto à direita, pulsavam com um brilho febril. À frente, a uma distância de cerca de 30 metros, estava o balcão, encimado pelo relógio de mostradores perolados. Havia um homem parado lá. Um homem de aparência totalmente comum, usando terno escuro. Estava posicionado de perfil, as costas eretas e o queixo inclinado ligeiramente para cima, a mão esquerda enfiada casualmente no bolso do paletó, a atenção voltada para as bocarras escuras dos túneis.
– Como ela deve ter se sentido sozinha no fim, como deve ter sentido medo! Nenhuma palavra de consolo. Nem o toque de uma mão por companhia.
Ele continuou sem olhá-la. A toda a volta os virais trinavam e acariciavam, flexionavam-se e mordiam o nada. Amy tinha a sensação de que eram mantidos sob controle apenas pela mais fina barreira invisível.
– “Conheço as noites, as manhãs, as tardes, medi minha vida em colheres de café.” Isso é de T. S. Eliot, caso você esteja se perguntando. Antigo, mas bom. Quando se trata de exaustão existencial, o sujeito era inigualável.
Onde estava Peter? Será que os virais o tinham matado? E Michael e Alicia? Pensou: água. Pensou: tempo. Quanto tempo havia se passado? Mas a resposta para essa pergunta era como uma gaveta aberta no cérebro. Movendo apenas os olhos, procurou alguma coisa para usar como arma. Mas não havia nada, só os virais, o céu invertido e seu coração batendo na garganta.
– Ah, eu tinha meus livros, meus pensamentos. Tinha minhas lembranças. Mas essas coisas só levam a gente até certo ponto.
Fanning fez uma pausa, depois disse, mais direto:
– Pense neste lugar, Amy. Imagine como ele já foi. Todo mundo apressado, correndo para cá e para lá. Os compromissos. Os encontros clandestinos. Os jantares com amigos. Como era gloriosamente vivo. Durante toda a vida, a única coisa que nunca parecíamos ter em quantidade suficiente era tempo. Tempo para trabalhar. Tempo para comer. Tempo para dormir. Tempo para amar e ser amado antes que chegasse a hora de morrer.
Ele deu de ombros.
– Mas estou divagando. Você veio me matar, não foi?
Ele se virou para encará-la. Sua mão direita, agora revelada, segurava a espada.
– Só para esclarecer, deixe-me dizer que não fico ressentido com você, nem um pouco. Au contraire, mon amie. Isso é francês, por sinal. Liz sempre dizia que era a marca de uma pessoa verdadeiramente culta. Nunca tive muito jeito para línguas, mas, com um século para matar, a gente acaba tentando coisas novas. Alguma preferência? Italiano, russo, alemão, holandês, grego? Que tal latim? Poderíamos ter toda essa conversa em norueguês, se você quisesse.
Feche a boca, ordenou o cérebro de Amy. Use o silêncio, porque é só isso que você tem.
O rosto de Fanning azedou.
– Bom, a escolha é sua. Eu só estava tentando conversar amenidades – disse, balançando a mão. – Vamos dar uma olhada em você.
Mais mãos sobre ela: um macho grande e liso e uma fêmea ligeiramente menor, com um ralo diadema de cabelos brancos no crânio sem outras características. Pegaram-na pelos braços e a empurraram à frente, os pés mal roçando o piso, e a largaram sem cerimônia no chão.
– Eu disse com gentileza, desgraça!
Pairando como uma nuvem de tempestade, Fanning estava ao lado dela, com a aura de confiança alegre substituída por uma fúria de maxilar trincado.
– Você – chamou, apontando a espada para o macho grande. – Venha cá.
Uma fagulha de hesitação nos olhos da criatura – ou será que ela imaginou isso? O viral avançou depressa. Ajoelhou-se aos pés de Fanning e baixou a cabeça em submissão, como um cachorro dominado.
Fanning levantou a voz para ser ouvido no salão.
– Todos vocês, estão ouvindo? Estão ouvindo minhas palavras, maldição? Esta mulher é nossa convidada! Não é uma bagagem para vocês jogarem de um lado para outro como quiserem! Quero que a tratem com respeito!
Quando ele levantou a espada, Amy cobriu a cabeça. Houve um estalo, seguido por um som de algo esmagado e depois a pancada de algo pesado batendo no chão. Um líquido pegajoso espirrou na lateral do rosto dela, e com ele um cheiro de podridão, como se uma porta tivesse sido aberta para uma sala cheia de cadáveres.
– Ah, pelo amor de Deus.
O viral ainda estava ajoelhado, o tronco sem cabeça dobrado para a frente até o chão. Jorros escuros, rítmicos, saltavam do pescoço decepado, formando uma poça brilhante. Fanning estava olhando para a frente da própria calça com repulsa. Amy percebeu que o terno dele estava podre e puído. Pendia do corpo com a frouxidão desestruturada de trapos.
– Olhe isso – gemeu ele. – Nunca vai sair. Eles são como animais de estimação, a sujeira que fazem. E o fedor. É simplesmente medonho.
Era absurdo tudo aquilo. O que ela havia esperado? Não isso. Não esse redemoinho de humores e pensamentos mutáveis. Esse homem à sua frente: havia algo quase patético nele.
– Bom, agora – disse ele e deu um sorriso absurdo. – Vamos nos levantar, está bem?
Ela foi puxada para ficar de pé. Fanning deu um passo à frente; pegou um lenço no bolso, abriu-o com um floreio e enxugou o sangue do rosto dela. Seus olhos pareciam ao mesmo tempo próximos e distantes, curiosamente ampliados, como se ela os estivesse observando através de um telescópio. Nas bochechas e no queixo havia uma penugem de barba esbranquiçada e os dentes eram cinza, parecendo mortos. Ele cantarolava desafinado enquanto a limpava, depois deu um passo atrás, os lábios franzidos, a testa enrugada, examinando seu trabalho e assentindo devagar.
– Muito melhor.
Olhou-a de uma distância desconfortável e depois declarou:
– Devo dizer que há algo muito atraente em você. Certa inocência. Mas suponho que haja mais do que aparenta.
– Onde está o Peter?
Os olhos dele se arregalaram.
– Ela fala! Eu estava começando a desconfiar que não. – zombou e depois, sem dar importância a nada: – Não se preocupe com seu amigo. Acho que se atrasou no trânsito. Quanto a mim, fico feliz que tenhamos essa chance de conversar. Espero não parecer muito intrometido, mas sinto um certo parentesco com você, Amy. Nossas jornadas não são muito diferentes, se pararmos para pensar. Mas primeiro: onde, por favor, está minha amiga Alicia? Este tipo de talher exagerado me diz que ela está por aí, em algum lugar.
Amy não respondeu.
– Nada a dizer sobre isso? Como quiser. Sabe o que você é, Amy? Já pensei um bocado nisso.
Deixe que ele fale, disse ela a si mesma. Precisava de tempo. Que ele usasse os minutos.
– Você é... um pedido de desculpas.
Fanning não disse mais nada. Os virais a seguravam com força. Ele se afastou na direção dos túneis de trens, onde reassumiu a posição original, olhando triste para o negrume.
– Durante muito tempo eu quis matá-la. Bom, talvez não “quisesse”. Você não pode deixar de ser o que é, assim como eu. Não era nada pessoal. Você era apenas um símbolo, uma representação do que eu mais odiava.
Ele virou a espada na mão, examinando a lâmina.
– Imagine, Amy. Imagine a tolice do homem. Ele acreditava que poderia consertar tudo, que poderia pagar pelos crimes. Mas não podia. Não depois do que fez com Liz. Comigo, com você.
Ele levantou os olhos.
– Para mim ela não era nada, a outra. Só uma mulher num bar, procurando uma noite de diversão, um pouco de companhia em sua vidinha solitária. Lamento por isso intensamente.
Amy esperou.
– Achei que poderia esquecer aquilo. Mas aquela foi a noite. Agora sei. Foi a noite em que a verdade do mundo se abriu para mim. Não foi a mulher que fez isso. Não; foi a criança. A menininha no berço. Sabe que ainda sinto o cheiro dela, Amy? Aquele odor doce e suave que todos os bebês têm. É praticamente santo. Os dedinhos das mãos e dos pés, a lisura da pele. Toda a sua vida estava nos olhos. Todos começamos assim. Você, eu, todo mundo. Cheios de amor, cheios de esperança. Pude ver: ela confiava em mim. Sua mãe estava morta no chão da cozinha, mas ali estava aquele homem que tinha vindo atender ao seu choro. Eu iria lhe dar uma mamadeira? Trocar a fralda? Talvez fosse pegá-la, pô-la no colo e ler uma história. Ela não tinha ideia do que eu havia feito, do que eu era. Senti tanta pena! Mas não foi esse o motivo. Senti pena porque ela havia tido de nascer, para começo de conversa. Eu deveria tê-la matado imediatamente. Seria um ato de misericórdia.
Um silêncio baixou e permaneceu. Depois:
– Pela sua expressão, vejo que a deixo pasma. Acredite, às vezes eu me deixo pasmo. Mas a verdade é a verdade. Não há ninguém nos vigiando. Essa é a fria verdade, a grande ilusão. Ou, se há, ele é o tipo de sacana mais cruel, que nos deixa acreditar que se importa. Não sou nada comparado com ele. Que tipo de Deus permitiria que a mãe dela morresse daquele jeito? Que tipo de Deus deixaria Liz totalmente sozinha no fim, sem o toque de alguém ou uma única palavra de gentileza para ajudá-la a deixar a vida? Vou dizer que tipo, Amy. O mesmo tipo que me fez – concluiu e, nesse momento, virou-se de novo para ela. – Seus amigos no navio vão voltar, sabe? Não fique surpresa, sei de tudo sobre isso. Praticamente os vi afastando-se do cais. Ah, talvez não logo. Mas com o tempo. A curiosidade vai dominá-los. É simplesmente a natureza humana. Até lá tudo isto será poeira, mas eu estarei aqui, esperando.
Ande logo, Alicia, pensou ela. Ande logo, Michael. Tem que ser agora.
– O que eu quero, Amy? A resposta é bem simples: quero salvar você. Mais do que isso. Quero ensinar você. Fazer com que veja a verdade.
A expressão dele ficou sombria.
– Segurem-na com força, por favor.
A hora tinha chegado. Michael olhou para Alicia.
– Pronta?
Ela assentiu.
– Talvez seja bom cobrir os ouvidos.
Ele empurrou o êmbolo.
– Que diabo, Circuito?
Ele puxou a barra e tentou de novo. Nada. Tirou o fio positivo, encostou-o de leve no contato e apertou o êmbolo pela terceira vez. Uma fagulha saltou.
Havia corrente; o problema estava na outra ponta.
– Fique aqui.
Desconectou o segundo fio, pegou a caixa do êmbolo e o lampião e desceu correndo a escada.
Um golpe quente, depois a força dos virais apertando-a aumentou. A dor fazia os olhos lacrimejar. Pontos de luz dançavam em sua visão.
– Tragam-no, por favor.
Peter.
Dois virais o arrastaram, vindo da direção dos túneis. O corpo dele estava frouxo, de rosto para baixo, as pontas das botas roçando o chão.
– É o único jeito, Amy. Queria que houvesse outro, mas simplesmente não há.
Amy mal conseguia pensar. O menor movimento provocava berros de agonia. Parecia que os ossos do braço iriam se despedaçar sob a pressão das mãos dos virais, até se desfazerem em poeira.
– Ah, aqui estamos.
Os virais pararam, ainda segurando Peter pelos ombros. Sangue pingava de seu cabelo, escorrendo pelas rugas do rosto. Fanning foi na direção dele com a espada estendida. A respiração de Amy parou na garganta. Ele posicionou a parte chata da lâmina sob o queixo de Peter e, com lentidão cruel, inclinou o rosto dele para cima.
– Você gosta deste homem, não é?
Peter encontrou Amy com os olhos, mas parecia incapaz de focalizar. Sua boca se mexia sem som, com o que poderia ser um suspiro ou um gemido.
– Responda à pergunta.
– Sim – disse ela.
– Tanto que faria qualquer coisa para salvá-lo.
A visão dela oscilava. Ser dominada tão facilmente; isso era o mais cruel.
– Diga, Amy. Deixe-me ouvir as palavras.
A resposta dela veio com um som embargado:
– Sim, eu faria qualquer coisa para salvá-lo.
Sua cabeça tombou para a frente, derrotada; não lhe restava coisa alguma.
– Por favor, solte-o.
Um movimento pequeno do pulso e a garganta dele se abriria como papel. Os olhos de Peter estavam fechados, preparando-se para a morte. Isso ou ele havia caído de volta numa inconsciência misericordiosa.
– Deixe-me mostrar uma coisa – disse Fanning. – É um pequeno talento que descobri. Jonas acharia isso um tremendo barato.
Ele fez algo estranho: começou a se despir. Primeiro o paletó, que dobrou ao meio e colocou com cuidado no chão, junto com a espada, depois a camisa, desabotoando-a para revelar um leque de pelos brancos no peito e um tronco liso, magro e musculoso.
– Devo dizer que é bom finalmente me livrar dessas roupas.
Ele precisou se ajoelhar para desamarrar os sapatos.
– Colocar de lado esses adornos.
Sapatos, meias, calça. O ar em volta dele tinha começado a mudar. Tremeluzia como ondas de calor sobre uma estrada no deserto. Ele balançou a cabeça na direção do teto; uma camada de suor oleoso surgiu na pele, seus olhos semicerraram, perdidos na sensação.
– Deus, isso é bom – disse ele.
Com um estalar de ossos, Fanning arqueou as costas e gemeu de prazer. Seu cabelo começou a ser ejetado em tufos. Veias gordas, latejantes, pulsavam sob a pele do rosto e do peito, criando uma teia azulada. Ele balançou o maxilar, mostrando as presas. Os dedos, dos quais agora se projetavam unhas compridas e amareladas, se flexionavam, inquietos.
– Não é... maravilhoso?
Michael entrou no túnel, Alicia gritando seu nome atrás. De repente havia ratos em toda parte, uma onda ondulante, fluindo na direção da comporta.
O parafuso havia se soltado. A mochila estava na água. Os pavios estariam encharcados e inúteis.
– Porra!
Seu olhar pousou num pequeno painel elétrico, ao nível dos olhos, à direita da comporta. O chão fervilhava de ratos. Eles se moviam em bandos em volta dos seus tornozelos, roçando nas pernas com seu peso macio e nauseabundo. Com a ponta de uma chave de fenda ele abriu a portinhola do painel e balançou a lanterna apontada para o interior.
– Volte!
Alicia estava parada alguns metros atrás dele. A 10 metros de distância, um viral estava agachado no piso do túnel; um segundo se agarrava ao teto, com a cabeça invertida balançando de um lado para o outro. O rabo comprido e careca de um rato chicoteava para fora de sua boca.
– Ande logo!
Os virais apenas a olhavam.
– Saia daqui!
O interior do painel era um emaranhado de fios conectados a uma placa de disjuntores. Apenas uma hora, pensou Michael, e eu posso fazer alguma coisa com isso, sem problema.
– Esses caras parecem famintos, Circuito. Diga que você percebeu isso.
Deus, como ele odiava esse apelido. Estava soltando fios, tentando separá-los de forma coerente, descobrir de onde vinham.
– Há mais deles chegando!
Michael olhou por cima do ombro. As paredes do túnel agora reluziam em verde. Havia um som raspado, como folhas secas rolando numa calçada.
– Achei que esses caras eram seus amigos!
Alicia disparou contra o viral do teto. Sua mira não estava firme: fagulhas voaram. O viral recuou rapidamente, soltou-se e caiu de quatro.
– Acho que não é em mim que eles estão interessados!
Ele cortou um pedaço de fio, desencapou as extremidades e os aparafusou no êmbolo. Segurando o fio, olhou uma última vez para o painel. Precisaria adivinhar. Este? Não, aquele.
Uma saraivada de tiros atrás.
– Não estou brincando, Michael, temos uns dez segundos!
Com quatro giros rápidos, ele juntou as pontas dos fios. Alicia vinha recuando na sua direção, disparando em rajadas curtas. O som reverberava nas paredes do túnel, martelando seus tímpanos. Santo Deus, estava cansado desse tipo de coisa. Cansado de adivinhar e trabalhar no escuro, cansado de válvulas vazando, circuitos ruins e relés estourados – cansado de coisas que não funcionavam, de coisas que se recusavam a se dobrar à sua vontade.
– Preciso de ajuda aqui! – gritou Alicia.
Seu fuzil ficou sem balas. Alicia o jogou de lado e sacou duas facas do cinto, uma para cada mão. Michael a agarrou pela cintura e a puxou.
O túnel era uma massa que se revolvia.
Eles caíram para trás quando o primeiro viral se lançou. Michael sacou sua pistola e disparou dois tiros, o primeiro resvalando no ombro do viral, o segundo acertando o olho esquerdo. Houve um jato de sangue e, com um berro, a criatura escorregou no chão. Os dois estavam recuando de costas na direção da comporta, Michael disparando a pistola, firmando os calcanhares no concreto, um braço envolvendo a cintura de Alicia para arrastá-la pela água fétida. Tinha quinze balas na arma, mais dois pentes no bolso, inúteis e fora do alcance.
O cursor da arma travou.
– Ah, merda, Michael.
Bom: fim da linha. Como tinha se aproximado rápido, como tinha chegado de repente! Nunca acreditamos de verdade que ele vai chegar, pensou Michael, e então, quando menos pensamos, ali está. Todas as coisas que fizemos na vida, e as coisas desfeitas também, extintas num instante. Largou a arma e puxou Alicia com força contra o corpo. Sua mão estava no êmbolo.
– Feche os olhos – disse.
A mudança estava completa.
O rosto de Fanning continuava virado para cima, lábios separados, olhos fechados. Um suspiro de satisfação veio do fundo do peito. O ser diante dela não era algo que Amy já tivesse visto ou imaginado – ainda era reconhecível como ele próprio, mas não era totalmente homem nem totalmente viral. Um amálgama, meio um e meio outro, como se uma nova versão da espécie tivesse nascido no mundo. Havia nele algo de roedor, o nariz parecendo um focinho com narinas largas, as orelhas triangulares no topo e inclinadas para trás. O cabelo tinha ido embora, substituído por um pelo rosado de recém-nascido. Os dentes eram os mesmos, mas a boca em si havia se alargado numa espécie de riso esticado, dando uma visão plena das presas, que pareciam pingar dos cantos. Os membros possuíam uma delicadeza de ossos finos, os indicadores das duas mãos tinham pontas curvas e alongadas.
Amy pensou num morcego gigante e sem asas.
Ele se aproximou. Seu olhar se fixou no dela. Amy não ousava desviar os olhos, por mais que quisesse fazer isso. O medo havia paralisado seus membros. Eles pareciam distantes e inúteis, frouxos como líquido. Enquanto se aproximava, Fanning ergueu a mão direita. Os dedos eram ligados por uma membrana translúcida. O indicador em forma de adaga, com uma junta no meio, se desenrolou na direção do rosto dela. Os olhos de Amy se fecharam instintivamente. Uma pontada de pressão em seu rosto, sem força suficiente para romper a pele: cada molécula de seu corpo estremeceu. Com uma lentidão lasciva, a unha riscou para baixo, seguindo a curva de seu rosto. Como se ele estivesse sentindo o gosto de sua carne através do dedo.
– Como é bom deixar a verdade sair.
Sua voz também havia se alterado, ficando com um tom agudo, oculto, como um guincho. O ar em volta dele cheirava a animais. Às pequenas coisas entocadas do mundo.
– Abra os olhos, Amy.
Fanning estava ao lado de Peter, que os virais mantinham de pé.
– Este homem é sua maldição, assim como Liz foi a minha. É o amor que nos escraviza, Amy. É a peça dentro da peça, o palco em que o drama trágico de nossa vida humana se desdobra. Esta é a lição que preciso lhe ensinar.
E com essas palavras Fanning escancarou a boca, virou o rosto de Peter para cima na extremidade de um dedo longo e membranoso – com ternura, como uma mãe com um filho – e apertou as mandíbulas em volta do pescoço dele.
A pequena corrente elétrica enviada pelo êmbolo não foi suficiente para abrir totalmente a comporta; mas bastou para dar início às coisas. Quando os contrapesos desceram bruscamente, criando uma abertura entre a comporta e o piso do túnel, Michael e Alicia foram lançados longe por um jato d’água. Em menos de um segundo o túnel se transformou num rio que rugia. Michael tentou se levantar, mas a força era grande demais, não conseguia encontrar um ponto de apoio, e então estavam rolando, arrastados pela correnteza turbulenta.
Foram lançados pela estação como um tiro disparado de uma arma. Não havia luz verdadeira, apenas um brilho vago vindo da escada, vislumbrado rapidamente enquanto passavam. A água enchia o nariz e a boca com um gosto imundo – Michael imaginou que era o gosto dos ratos – e ameaçava fazer com que ele engasgasse. Estavam passando logo abaixo da plataforma. Agarrando Alicia pelo pulso, Michael estendeu a mão livre e tentou desesperadamente agarrar a borda. Seus dedos a tocaram, mas foram puxados para longe.
Passaram pela estação. A água subia rapidamente; logo estaria acima da cabeça deles. A estação seguinte seria na Rua 14 – longe demais. À frente surgiu uma claridade fraca. À medida que se aproximavam, a luz se consolidou num facho discreto – uma abertura para o teto do túnel.
– Há uma escada! – gritou Alicia, mas sua cabeça afundou.
– O quê?
O rosto dela emergiu outra vez; estava lutando para respirar. Ela apontou.
– Uma escada na parede.
Iam direto para lá. Alicia a agarrou primeiro. Michael girou em volta do corpo dela. Depois, usando a mão esquerda, segurou um degrau e enganchou um cotovelo nele. No topo da escada havia uma grade de metal, com a luz do dia do outro lado.
– Você consegue? – perguntou Michael.
Estavam sendo puxados pela correnteza. Lish balançou a cabeça.
– Tente, porra!
Sua força tinha ido embora; não restava nada.
– Não consigo.
Michael precisaria arrastá-la. Levantou a mão acima da cabeça e se ergueu para fora d’água. A grade era outro problema: a não ser que encontrasse um modo de abri-la, iriam se afogar de qualquer modo. No topo da escada levantou uma das mãos e empurrou. Nada, nem o menor tremor. Levou o braço atrás e empurrou a palma da mão contra o metal. Golpeou a grade repetidamente. No quarto golpe ela se abriu.
Empurrou-a de lado, saiu e comprimiu o corpo contra o pavimento. A água que subia tinha levantado Alicia até a metade da escada. A luz parecia formar uma espécie de halo em volta do rosto dela.
Ele se esticou para baixo.
– Segure minha mão...
Mas foi só isso que disse. Suas palavras foram cortadas quando uma parede de água se chocou contra ela – contra os dois – irrompendo feito um gêiser pela grade aberta e jogando Michael no outro lado da rua.
O colapso da comporta logo ao sul da estação Astor Place – uma das oito barragens de retenção que protegiam as linhas de metrô de Manhattan do ganancioso Atlântico – foi o primeiro de uma série de eventos que ninguém, nem mesmo Michael, poderia ter previsto. Livre do encarceramento, a água disparou pelo túnel com a força violenta de cem locomotivas. Rasgou e despedaçou. Estourou. Detonou, esmagou e destruiu, escavando os suportes estruturais do sul de Manhattan como uma foice no trigo. Oito quarteirões ao norte da Astor Place, na Rua 14, a água saltou sobre os trilhos. Enquanto o volume principal seguia direto para o norte por baixo da avenida Lexington, em direção à Grand Central, o resto se desviou pela linha da Broadway, rugindo em direção à comporta da Times Square, que em seguida seria também arrebentada, inundando tudo embaixo do pavimento ao sul da Rua 42 entre a Broadway e a Oitava Avenida e escancarando todo o lado oeste ao mar.
E era só o começo.
Em sua esteira trovejante, a água deixou uma trilha de destruição. Tampas de bueiro voavam para o céu. Esgotos explodiam. Ruas inchavam e desmoronavam. Embaixo do chão, uma reação em cadeia havia começado. Como o oceano do qual fazia parte, a água buscava apenas a expansão de seu domínio. O prêmio era a própria ilha, que, depois de um século de negligência encharcada, estava apodrecida até o âmago.
Na esquina da Rua 10 com a Quarta Avenida, Michael voltou à consciência com a sensação inquieta de que a relação do mundo com a gravidade havia se alterado. Era como se cada objeto se movesse para longe de todos os outros num estado de repulsa geral. Piscou e esperou que a sensação parasse, mas não parou. Uma grande fonte de água jorrava para fora da grade, subindo no ar, dissolvendo-se no topo em uma névoa reluzente que lançava um arco-íris acima da rua inundada. Em sua condição mentalmente turva, Michael observou aquilo atônito, ainda sem conectar a visão a qualquer outra coisa, ao mesmo tempo que notava, um tanto distraidamente, que outras coisas aconteciam: coisas barulhentas, coisas abaladoras, coisas que mereceriam mais consideração se ele conseguisse organizar os pensamentos. A rua parecia estar afundando – ou isso ou todo o resto estava ficando mais alto – e pedaços de coisas voavam das fachadas dos prédios.
Espere um segundo.
A estrutura para a qual estava olhando – um prédio de escritórios comum, de altura mediana e feito de vidro fumê – estava fazendo uma coisa curiosa. Parecia estar... respirando. Um profundo flexionamento respiratório, como os primeiros haustos de um bebê. Era como se aquela estrutura anônima, igual a muitas na ilha, tivesse acordado depois de décadas de sono abandonado. Rachaduras como teias de aranha se materializaram na fachada reflexiva. Michael se apoiou nas palmas das mãos e ergueu as costas. O pavimento tinha começado a ondular de um modo perturbador.
O vidro explodiu.
Michael rolou e se deitou grudado no chão, cobrindo a cabeça enquanto um milhão de cacos chovia. Placas inteiras detonavam no pavimento. Ele estava gritando a plenos pulmões. Palavras absurdas, palavrões malignos, um vômito auditivo de terror. Seria completamente retalhado. Não restaria uma quantidade suficiente dele para ser enterrada, não que houvesse alguém para fazer isso. Os segundos passaram, com vidro cascateando ao redor e Michael, pela segunda vez no dia, esperando morrer.
Não morreu.
Levantou o rosto do pavimento. O sol havia sumido, o ar tinha ficado opaco. Cacos minúsculos e cintilantes cobriam seu corpo, grudando-se aos braços, às mãos, ao cabelo e ao tecido da roupa. Um vento áspero fazia redemoinhos no ar. Parecia que o céu tinha começado a produzir neve. Não, não era neve. Papel. Uma página caiu preguiçosamente em suas mãos. “Memorando”, estava escrito em cima. E abaixo disso: “De: Departamento de RH. Para: Todos os Empregados. Assunto: Período de inscrição para benefícios.” Michael ficou momentaneamente hipnotizado pela estranheza dessas palavras. Pareciam código. Em seu fraseado misterioso havia toda uma realidade, um mundo perdido no tempo.
De repente o papel sumiu. Um vento o havia arrancado de sua mão. A rua estava escurecendo. Um rugido vinha da esquerda. Aumentava segundo a segundo, junto com o vento. Ele virou a cabeça para olhar em direção ao norte, à fonte do barulho.
Um enorme monstro cinza vinha rugindo em sua direção.
Michael ficou de pé. Estava tonto; as pernas pareciam areia molhada.
Mesmo assim, correu feito o diabo.
O primeiro prédio a cair não foi o que Michael viu. Nesse ponto, o desmoronamento da área central de Manhattan começara havia vários minutos. Da borda sul do Central Park até a Washington Square, edifícios pequenos e grandes estavam no processo de aguda liquefação estrutural, derretendo e tombando no voraz sumidouro em que o centro da ilha estava a caminho de se transformar. Alguns caíam independentemente, desmoronando no sentido vertical sobre os alicerces como prisioneiros derrubados por um pelotão de fuzilamento. Outros eram encorajados pelos vizinhos, à medida que prédios e mais prédios se inclinavam e tombavam sobre os outros. Alguns, como a grande torre de vidro no lado leste do quarteirão trapezoidal da Rua 55 com Broadway, pareciam sucumbir inteiramente pela força da sugestão: Meus colegas estão entregando o espírito – por que também não faço isso? O processo poderia ser comparado com uma metástase movendo-se rapidamente: saltava pelos bulevares como de um órgão para outro, borbulhava pelas avenidas de sangue, envolvia seus dedos letais nos ossos de aço. Nuvens de poeira rugiam numa grande regurgitação carcinogênica, escurecendo o céu.
Uma noite falsa caiu sobre Manhattan.
Embaixo da estação Grand Central a água chegou de duas direções: primeiro através da linha de metrô que vinha da Astor Place pela avenida Lexington. E alguns segundos depois, pela linha que vinha da Times Square pela Rua 42. As torrentes convergiram. Como um tsunami comprimindo-se ao se aproximar do litoral, a força da água se multiplicou por mil subindo as escadas.
– Sua vaca mal-agradecida! – gritou Fanning. – O que você fez?
Não disse mais nada. A água chegou, uma parede impactante, arrancando-os do chão. Num piscar de olhos o salão principal ficou submerso. Amy afundou. Estava girando, sendo jogada, o sentido de direção obliterado. A água tinha 2 metros de altura e estava subindo. Vidro se despedaçava, coisas caíam, tudo num tumulto. Ela rompeu a superfície a tempo de ver as altas janelas do salão implodirem. A correnteza a agarrou, fazendo-a afundar de novo. Balançou os braços, impotente, procurando algo em que se agarrar. O corpo de um viral se chocou contra ela. Era a fêmea com cabelo. Através da escuridão que rugia, Amy vislumbrou os olhos dela, cheios de incompreensão e terror. Ela afundou e sumiu.
Amy estava sendo carregada para a escadaria do mezanino. Bateu com força – mais sons, mais dor –, porém conseguiu agarrar o corrimão com a mão direita. Seus pulmões gritavam pedindo ar; bolhas subiam da boca. A ânsia de respirar não podia ser contida por muito tempo. A única coisa a fazer era deixar que a correnteza a levasse, na esperança de ser carregada para um lugar seguro.
Soltou o corrimão.
Chocou-se contra a escada de novo, mas pelo menos estava indo na direção certa. Se tivesse sido levada para os túneis, iria se afogar. Uma segunda onda a acertou, lançando-a para cima.
Pousou no mezanino, finalmente fora da água. De quatro, tossiu com ânsias de vômito, a água imunda escorrendo da boca.
Peter.
Lançado escada acima pela mesma correnteza, ele estava caído pouco mais de 1 metro atrás dela. Onde estaria Fanning? Fora puxado para baixo como os outros virais, carregado para o fundo pelo próprio peso? Ela levantou a cabeça e viu um grande naco do teto se soltar e cair na água.
O prédio estava desmoronando.
O peito de Peter se movia rapidamente. A mudança ainda não havia começado. Ela o sacudiu pelos ombros, chamou seu nome. Os olhos dele se abriram com um tremor, depois se franziram para o rosto dela. Ela não viu qualquer reconhecimento neles, apenas uma vaga perplexidade, como se ele não conseguisse situá-la.
– Vou tirar você daqui.
Levantou-o pelos braços e dobrou o corpo dele sobre o ombro direito. Seu equilíbrio oscilou, mas ela conseguiu se firmar. O piso estava escorregadio e ondulante como o convés de um barco. Pedaços do teto continuavam a se partir enquanto as estruturas do prédio ruíam.
Olhou em volta. À direita, uma porta.
Corra, pensou. Corra e continue correndo.
Estavam do lado de fora, mas nem parecia. O céu estava escuro feito a noite, o sol encoberto pela poeira, a grande cidade irreconhecível. Uma vasta imolação, tudo prestes a virar ruína. O barulho martelava em seus ouvidos, vindo de todas as direções. Ela estava no elevado do lado oeste da estação. A pista se inclinava num ângulo precário. Rachaduras se espalhavam, trechos inteiros desmoronando. Amy escolheu uma direção. Sob o peso de Peter, o melhor que conseguiria era andar depressa. O instinto era seu único guia. Correr. Sobreviver. Carregar Peter para longe.
A pista descia até o nível da rua. Ela não conseguia ir mais longe; as pernas estavam cedendo. Na base da rampa, colocou Peter no chão. Ele estava tremendo – sacudindo-se com pequenos espasmos, como arrepios de febre, que cada vez ficavam mais fortes, mais definidos. Amy sabia o que ele iria querer: morrer enquanto ainda era um homem. Os instrumentos mortais estavam em todos os lugares no meio dos destroços: barras de aço reforçado afiadas como facas, pedaços de metal retorcido, cacos de vidro. De repente ela soube: era isso que Fanning havia pretendido o tempo todo. Que fosse ela. É o amor que nos escraviza, Amy. Ela estava derrotada. No fim das contas, era tudo por nada. Ficaria sozinha de novo.
Enquanto se ajoelhava ao lado dele, foi atravessada por um grande soluço, a dor de sua vida longa demais, contida por um século, finalmente liberada. O vislumbre da vida que tinha recebido: como era fugaz! Seria melhor, talvez, nunca ter tido. Peter tinha começado a gemer. O vírus fervilhava dentro dele, começava a arrastá-lo.
Ela escolheu: um pedaço de aço de um metro com ponta triangular. Para que tinha servido? Seria parte de um poste de sinalização? A moldura de uma janela que um dia olhara o mundo agitado? Os suportes de uma torre portentosa que se erguia para o céu? Ajoelhou-se de novo perto do corpo de Peter. O homem lá dentro estava indo embora. Ela se curvou e tocou o rosto dele. A pele estava úmida e febril. As piscadelas tinham começado. Pisca. Pisca, pisca.
Uma voz vinda de trás:
– Maldita!
Ela foi lançada pelo ar.
Michael corria pela Quarta Avenida, a nuvem de entulho rugindo atrás. Não haveria como ir mais rápido do que ela. Virou à direita na Rua 8. Nas extremidades do quarteirão, tanto à frente quanto atrás, a nuvem passou rugindo com um som de tornado. Depois, parecendo se lembrar subitamente da presença dele – Ah, Michael, desculpe se o esqueci–, virou as esquinas, correndo para ele vindo das duas direções.
Ele mergulhou pela porta mais próxima e fechou-a. Era algum tipo de loja de roupas, com casacos, vestidos e camisas pendendo sem corpos nas araras. Uma vitrine grande com manequins numa plataforma alta ficava virada para a rua.
A nuvem chegou.
A vitrine estourou para dentro; as mãos de Michael subiram para proteger os olhos. A poeira engolfou o lugar, jogando-o para trás. Pontadas de dor se anunciavam por todo o seu corpo – os braços e as mãos, a base da garganta, as partes do rosto que estavam expostas –, como se tivesse sido atacado por um enxame de abelhas. Tentou se levantar; só então descobriu o comprido caco de vidro cravado na coxa direita. Parecia estranho não doer muito – deveria ter doído feito o diabo – mas então a dor chegou, aniquilando os pensamentos. Ele estava tossindo, engasgando, afogando-se na poeira. Voltou atabalhoadamente para a vitrine e se chocou contra uma arara de roupas. Puxou uma blusa do cabide. Era feita de algum tipo de material fino como gaze. Enrolou-a na mão e comprimiu contra a boca e o nariz. Com respirações dificultosas e famintas, o oxigênio fluiu de volta para os pulmões.
Amarrou a blusa em volta da metade inferior do rosto. Com os olhos ardendo, observou a rua escura. Estava dentro da nuvem. O silêncio só era rompido por estalos fracos: som de partículas que caíam no pavimento e no teto dos carros abandonados. Suas mãos e os braços estavam escorregadios com sangue; a perna em que o comprido pedaço de vidro estava enterrado gritava ao menor movimento. Pegou sua faca e cortou, depois rasgou, a perna da calça. O vidro, um caco comprido e estreito, com borda irregular e ligeiramente curvo, tinha entrado em ângulo. O ferimento ficava mais ou menos na metade do caminho entre a virilha e o joelho, no flanco interno da perna. Santo Deus, pensou. Alguns centímetros acima e essa coisa teria cortado meus bagos.
Levantou a mão acima da cabeça para pegar outra blusa na arara e a usou para enrolar a parte exposta do caco. Achava que removê-lo poderia abrir mais ainda o ferimento, mas a dor era insuportável. A não ser que o retirasse, não iria a lugar nenhum. Fazer isso depressa: era o melhor modo.
Segurou o caco enrolado no pano. Contou até três. Puxou.
Por todo o quarteirão, figuras de tamanho humano, movendo-se na poeira, pararam de andar e viraram o rosto na direção do grito de Michael.
– Isso era um templo!
A mão de Fanning acertou seu rosto. O golpe a fez voar para trás.
– Você fez isso comigo? Com a minha cidade?
Ela levantou as mãos para proteger o rosto. Fanning a agarrou pela gola, levantou-a até que seus pés saíram da calçada e a jogou longe.
– Vou demorar muito com você. Você vai querer que eu a mate. Você vai implorar.
Veio para ela de novo, e de novo. Empurrões, tapas, chutes. Ela se descobriu caída de rosto para baixo. Sentia-se distanciada de tudo. Os pensamentos tinham uma qualidade preguiçosa, desatada. Pareciam à beira de abandoná-la em definitivo, como se com o próximo golpe fossem sair voando para longe de seu corpo, engolidos no céu como um balão cujo barbante fosse cortado.
Mas ceder, aceitar a morte: a mente proibia isso. A mente exigia continuar, contra todo o bom senso. Fanning estava em algum lugar atrás dela. A percepção de Amy era menos como se ele fosse uma presença física do que uma força abstrata, como a gravidade, um poço de escuridão para o qual ela era sugada implacavelmente. Começou a se arrastar. Por que Fanning simplesmente não a matava? Mas ele mesmo tinha dito: queria que ela sentisse. Que sentisse a vida vazando, gota a gota.
– Olhe para mim!
Uma pancada em sua cintura levantou-a do chão. Fanning tinha lhe dado um chute. O ar sumiu de seu peito.
– Eu mandei olhar para mim!
Chutou-a de novo, enterrando o pé abaixo do esterno e virando-a de costas.
– Nós deveríamos nos encontrar no balcão!
Nós?
– Você disse que estaria lá! Disse que ficaríamos juntos!
O que ele estava vendo? Quem ela era para ele? A transformação tinha feito alguma coisa na mente dele.
– Eu nunca deveria ter amado você!
Amy rolou para longe enquanto a espada baixava, golpeando o pavimento com uma nota aguda. Fanning uivava como um animal ferido.
– Eu queria morrer com você!
Ela estava de novo de costas. Fanning tinha levantado a espada acima da cabeça, pronto para o golpe. Amy levantou os braços para se defender. Só tinha uma chance.
– Tim, não.
Fanning se imobilizou.
– Eu queria estar lá. Estar com você. Era tudo que eu queria.
Os braços dele se retesaram. A qualquer segundo a espada baixaria.
– Eu esperei a noite toda! Como você pôde fazer isso comigo? Por que não veio, por quê?
– Porque... eu morri, Tim.
Por um momento, nada aconteceu. Por favor, pensou ela.
– Você... morreu.
– É. Sinto muito. Eu não queria.
A voz dele ficou entorpecida.
– No trem.
Amy falava com cautela, mantendo a voz calma.
– É. Eu vinha ver você. Eles me levaram. Não pude impedir.
O olhar de Fanning se afastou do rosto dela. Ele olhou em volta, inseguro.
– Mas estou aqui agora, Tim. É isso que importa. Desculpe ter demorado tanto.
Quanto tempo conseguiria sustentar a mentira? A espada era tudo. Se pudesse convencer Fanning a entregá-la...
– Ainda podemos fazer isso – disse ela. – Há um modo de ficarmos juntos para sempre, como planejamos.
Ele a encarou.
– Venha comigo, Tim. Há um lugar aonde podemos ir. Eu vi.
Fanning não disse nada. Ela sentiu que suas palavras começavam a se prender à mente dele.
– Onde?
– É o lugar onde podemos recomeçar. Podemos fazer do jeito certo dessa vez. Você só precisa me dar a espada.
Ela estendeu a mão.
– Venha comigo, Tim.
Os olhos de Fanning estavam travados na direção dos dela. Estava tudo dentro deles, toda a história do homem que ele havia sido. A dor. A solidão. As horas intermináveis de sua vida. Depois:
– Você.
Ela o estava perdendo.
– Me dê a espada, Tim. Você só precisa fazer isso.
– Você não é ela.
Amy sentiu tudo desmoronando.
– Tim, sou eu. É a Liz.
– Você é... Amy.
A 50 metros dali, caído de rosto no chão, o homem conhecido como Peter Jaxon tinha começado a desaparecer.
Sua mente cavalgava dois mundos. No primeiro, um mundo de escuridão e agitação, Fanning estava jogando Amy pelo ar. Peter sentia isso fracamente; não conseguia lembrar o motivo. E não podia intervir. Sua capacidade de agir, até de se mover, o havia abandonado.
No outro havia uma janela.
Uma sombra, desenhada sobre ela, reluzia com a luz de verão. A imagem parecia familiar, como um déjà-vu. A janela, pensou Peter. Significa que devo estar morrendo. Enquanto lutava para focalizar os olhos, para se trazer de volta à realidade, a luz começou a mudar. Estava virando outra coisa: não uma janela em sua mente, mas algo físico. Através da escuridão tomada pela poeira havia uma abertura, como um corredor que subia para um mundo mais elevado, e através desse túnel uma forma brilhante apareceu. Ela provocava sua memória. Ele sabia o que era. Se ao menos pudesse invocar a imagem... A coisa ficou mais nítida. Parecia uma coroa, com múltiplas camadas, cada uma delas formando um arco enquanto se estreitava até uma ponta. A luz do sol chamejava em seu rosto espelhado, lançando um facho brilhante pelo corredor, que era um buraco nas nuvens, para dentro dos seus olhos.
O Edifício Chrysler.
O corredor desmoronou. A escuridão se dobrou de novo sobre ele. Mas agora Peter sabia: a noite em que estava era falsa. O sol continuava lá em cima. Acima da nuvem de poeira ele brilhava, claro como o dia. Se pudesse chegar ao sol, se de algum modo pudesse levar Fanning para a luz do sol...
Mas esse pensamento foi perdido quando uma força enorme o agarrou, como um vórtice. O poder daquilo era colossal. Sentiu-se sendo puxado para baixo, para baixo e para baixo. Não sabia o que havia no fundo, só que, quando chegasse lá, estaria perdido para sempre. Em algum lugar distante seu corpo estava mudando. Sacudido por convulsões, golpeava o pavimento da cidade partida. Ossos se alongavam. Dentes choviam das gengivas. Ele estava afundando num mar de trevas eternas em que não restaria nenhum traço seu. Não! Ainda não! Procurou alguma coisa, qualquer coisa, em que se segurar. Em sua mente surgiu o rosto de Amy. A imagem não era imaginada, e sim tirada da vida. Eles estavam sentados na sua cama. Os rostos estavam próximos, as mãos entrelaçadas. Lágrimas pendiam dos cílios dela como orvalho. Quando a gente muda, pode guardar uma coisa, disse ela. O que eu queria guardar era você.
Era você, pensou Peter.
Você.
Caiu.
A dor na perna de Michael explodiu. A remoção do vidro tinha puxado a pele para trás como uma casca de laranja, expondo o músculo fibroso que latejava. Outra vez estendendo a mão para trás por cima da cabeça, ele pegou uma comprida echarpe de seda. Torceu-a, formando uma corda grossa, e a amarrou com força em volta do ferimento. O tecido foi saturado instantaneamente. Estaria fazendo isso direito? Gostaria que Sara estivesse ali. Sara saberia o que fazer. As coisas que vinham à mente numa hora assim: o cérebro não era gentil, não tinha senso de justiça, fazia pensar em coisas que não tínhamos ou não podíamos fazer.
O barulho lá fora diminuia à medida que a destruição marchava para o norte. O ar tinha um cheiro químico que não era natural, amargo e queimado. Pela primeira vez desde que acordara na rua, sua mente foi até Alicia. Ela havia morrido. Alicia tinha morrido.
Na rua, um som de vidro esmagado.
Michael se imobilizou. O barulho veio de novo.
Passos.
Empurrando-se com os calcanhares, Amy se arrastou para trás.
– Tim, não! Sou eu!
– Não me chame assim!
Ela o havia perdido. O feitiço estava quebrado. A fúria incandescente tinha retornado aos olhos dele. De repente Fanning levantou a cabeça. Uma nova emoção surgiu em seu rosto, uma emoção de prazer imprevisto.
– E o que temos aqui?
Era Peter. A transformação estava completa. Seu corpo, esguio, poderoso, tinha se juntado à horda anônima.
– Bom sujeito.
Os lábios de Fanning se repuxaram num sorriso, mostrando as presas.
– Por que não se junta a nós?
Peter foi na direção deles, andando pelo entulho, as pernas dobradas, os braços afastados do corpo. Seus passos pareciam inseguros, as costas e os ombros com um movimento ondulante, como alguém que se espreguiçasse depois de uma noite de sono ou se ajeitasse dentro de um terno novo.
– Permita-me apresentar um argumento, Amy.
Com um movimento do pulso, Fanning jogou a espada com o cabo virado para Peter, que a pegou no ar, automaticamente.
– Vejamos quem está aí dentro, está bem?
Fanning foi até ele, empertigou as costas e bateu no centro do próprio peito.
– Mais ou menos aqui, acho.
Peter estava olhando a espada, como se perplexo com a função dela. O que era aquele objeto alienígena em sua mão?
– Ande. Prometo que não vou mover um músculo.
Peter deu outro passo à frente. Seus movimentos eram espasmódicos, como se as partes de seu corpo não conseguissem se coordenar. Os músculos dos braços e dos ombros se retesaram enquanto ele tentava levantar a espada.
– Está ficando mais pesada, eu sei.
Outro passo, e Peter parou. Agora estava ao alcance de golpear. Fanning não fez qualquer esforço para se defender; sua cara de morcego irradiava confiança, quase diversão. A espada se recusava a subir.
– Aqui, deixe-me ajudar.
Usando a ponta do indicador com sua unha comprida, Fanning guiou a lâmina até uma posição horizontal. Moveu-se ligeiramente adiante até que a ponta fez contato com seu peito, logo abaixo do esterno.
– Um bom empurrão basta.
Um rosnado de esforço subiu do fundo da garganta de Peter. Os segundos se estenderam, cada parte do corpo retesada. Um estalo de ar foi expelido dos pulmões. Os joelhos se afrouxaram, a espada caiu no pavimento, ressoando.
– Está vendo, Amy? Simplesmente não é possível. Agora este homem me pertence.
Como o viral no salão, Peter tinha baixado a cabeça numa rendição abjeta. Fanning pôs a mão no ombro dele. Era como se estivesse dando um tapinha num cão obediente.
– Faça uma coisa por mim, está bem? – pediu Fanning.
Peter levantou a cabeça.
– Quer fazer o favor de matá-la?
Michael se afastou da vitrine apoiado nas palmas das mãos, deixando uma larga trilha de sangue no chão. Havia mais de um viral lá fora, dava para sentir. Eram como fantasmas: estavam ali e não estavam, figuras sombrias deslizando e se deslocando na poeira.
Procurando. Caçando.
Assim que o encontrassem, ele não conseguiria dar dois passos. Arrastou-se para os fundos da loja, onde havia um balcão comprido e, atrás, uma passagem meio escondida por uma cortina. Enquanto escorregava para trás do balcão, o piso começou a tremer de novo. A sensação aumentou de intensidade como um motor sendo ligado. Araras de roupas caíram. Espelhos se despedaçaram e voaram. Pedaços de reboco se soltaram do teto e caíram com estrondo no chão. Encolhido, com os braços em volta da cabeça, Michael pensou: Deus, quem quer que você seja, estou enjoado das suas merdas. Não sou seu brinquedo. Se vai me matar, por favor pare de sacanagem e ande logo com isso.
Os tremores pararam. Por toda a rua Michael ouviu os estalos de janelas se soltando dos suportes e despencando no pavimento. Os virais ainda espreitavam lá fora, mas talvez a agitação os tivesse tirado de sua pista. Talvez estivessem se escondendo em algum canto escuro, como ele. Talvez estivessem mortos.
Espiou pelo canto do balcão. O lugar parecia ter sido golpeado por uma bola de demolição, sem nada intacto a não ser um espelho de corpo inteiro, que estava de pé, anômalo, no lado direito da loja, como um perplexo sobrevivente examinando os destroços de alguma catástrofe terrível. Virado ligeiramente para a frente da loja, dava a ele uma visão parcial da rua.
Uma corja de três emergiu na penumbra. Pareciam andar sem objetivo, olhando em volta como se estivessem perdidos. Michael forçou o corpo a ficar absolutamente imóvel. Se não pudessem ouvi-lo, talvez passassem direto. Durante vários segundos eles continuaram a andar confusos, até que um parou abruptamente. Parado de perfil, o viral girou o rosto de um lado para o outro, como se tentasse triangular a origem de um som. Michael prendeu o fôlego. A criatura parou e inclinou o queixo para cima, mantendo essa posição durante vários segundos antes de girar na direção da loja. Seu nariz se franzia rápido como um focinho de rato.
Peter foi na direção dela. Não havia sentido em tentar se afastar; o resultado seria o mesmo. O tempo havia abandonado o rumo costumeiro. Tudo parecia acontecer de um modo ao mesmo tempo apressado e estranhamente lento. Sua visão tinha se estreitado, a cidade em volta reduzindo-se a uma coleção de sombras.
Ela estava chorando, mas não por si mesma. Não poderia dizer por que estava chorando. As lágrimas possuíam uma tristeza abstrata, mas também era outra coisa. Suas provações haviam terminado. De certo modo estava satisfeita. Que estranho abandonar a vida como uma carga pesada que fora obrigada a carregar por tempo de mais! Tinha esperança de ir para a casa da fazenda. Como tinha sido feliz lá! Lembrava-se do piano, da música fluindo, das mãos de Peter pousadas em seus ombros, da alegria do toque dele. Como tinham sido felizes juntos!
– Tudo bem – murmurou.
Sua voz parecia distante, não era exatamente sua. Derramava-se dos lábios em haustos curtos e rápidos.
– Tudo bem, tudo bem.
Peter direcionou a ponta da espada para a base do pescoço dela. A distância diminuiu, depois parou, a carne a centímetros do aço. A cabeça dele se inclinou de lado; em mais um segundo iria golpear.
– E então? – provocou-o Fanning.
Os olhares dos dois se encontraram e se sustentaram. Conhecer e ser conhecido: esse era o desejo final, o âmago do amor. Era a única coisa que ela poderia lhe dar. Uma força gigantesca se abria numa explosão dentro dela. Era uma espécie de luz. Se pudesse, ela a teria lançado direto no coração dele.
– Você é Peter – sussurrou Amy, e continuou sussurrando, de modo que ele estaria ouvindo essas palavras. – Você é Peter, você é Peter, você é Peter...
O sangue, pensou Michael.
Eles sentem o cheiro do meu sangue.
Não sabia se conseguiria ficar de pé, quanto mais correr. Tinha pintado uma estrada vermelha no chão, guiando-os direto até ele. Comprimiu as costas contra o balcão e juntou os joelhos no peito. Os virais tinham entrado na loja. Michael ouviu uma espécie de fungada úmida, como o barulho de porcos focinhando na lama: estavam lambendo o sangue no chão. Michael sentiu uma estranha necessidade de proteger o piso. Ei, deixem meu sangue em paz! Os virais continuavam lambendo, lascivos. Tão intensa era a concentração deles que Michael começou a pensar na porta com a cortina. O que haveria atrás? Seria um beco sem saída ou, talvez, um corredor levando mais para dentro do prédio – até mesmo para a rua? A passagem só ficava meio escondida pelo balcão. Durante algum tempo, dependendo da velocidade com que conseguisse ir, estaria exposto.
Espiou pelo canto, usando o espelho em ângulo para examinar a loja. Os virais, de quatro, estavam com as bocas grudadas no piso, as línguas girando como esfregões. Michael se arrastou junto ao balcão até ficar o mais perto possível da porta, posicionada três metros atrás dele, à direita. Se conseguisse fazer os virais irem para o canto oposto da loja, o balcão iria escondê-lo completamente.
Desenrolou a echarpe da perna. O tecido estava encharcado de sangue. Fez uma bola com ele, amarrou as pontas para manter o formato e se levantou sobre os joelhos, mantendo a cabeça logo abaixo do topo do balcão. Recuou o braço e contou até três. Então jogou a echarpe para o outro lado da loja.
Ela bateu na parede oposta com um som úmido. Michael se deitou de barriga no chão e começou a se arrastar. Atrás dele, ouviu o som de algo se movendo rapidamente, depois uma série de estalos e rosnados. Era um plano melhor do que tinha esperado: os virais estavam brigando pelo trapo. Enfiou-se embaixo da cortina e continuou em frente. Agora não conseguia ver nada. Arrastou-se mais alguns metros até estar longe da porta e tentou se levantar. O instante em que o pé da perna machucada tocou o chão foi algo que ele teve certeza de que lembraria para sempre. A dor foi simplesmente espetacular. Enfiou a mão no bolso da camisa e pegou uma caixa de fósforos. No escuro, conseguiu tirar um e riscou.
Estava num estreito corredor de paredes altas, de tijolos, que levava para o fundo do prédio. Araras de metal com cabides vazios ladeavam as paredes. O ar estava mais limpo, menos tomado pela poeira. Ele tirou o lenço de cima do rosto. Uma abertura à esquerda conduzia a um beco sem saída: uma saleta com cubículos fechados por cortinas. Olhou para baixo: gotas de sangue o haviam seguido como uma pista de migalhas. Mais sangue chapinhava em sua bota. O fósforo se apagou. Michael o jogou fora, acendeu outro e foi em frente.
Oito fósforos depois, concluiu que não havia saída. Os corredores que se ramificavam levavam sempre para o corredor central. Quem tinha projetado um prédio assim? Quanto tempo iria se passar até que o interesse dos virais pelo trapo se exaurisse e eles seguissem o sangue?
Chegou a um último cômodo. Parecia ser uma cozinha, com fogão, pia e armários em duas das quatro paredes. No centro havia uma pequena mesa quadrada coberta com latas vazias e garrafas de plástico. Dois esqueletos com ossos marrons estavam num colchão esburacado, enrolados juntos. Em toda a Nova York, eram os primeiros restos humanos que Michael havia encontrado. Agachou-se perto deles. Um era muito menor do que o outro, que parecia ser de uma mulher adulta, com um emaranhado de cabelos compridos. Uma mãe com o filho? Provavelmente tinham se escondido juntos durante a crise. Durante um século tinham ficado ali, com o último instante amoroso capturado para todo o sempre. Isso o fez sentir-se um intruso, como se tivesse violado a santidade de um túmulo.
Uma janela.
Era coberta por uma grade. Postigos com dobradiças, feitos de arame entrecruzado, presos no lugar por barras metálicas aparafusadas na parede. As duas metades eram unidas por um cadeado. O fósforo se apagou, queimando-lhe as pontas dos dedos. Ele o jogou longe. Enquanto seus olhos se acostumavam com a escuridão, Michael percebeu que uma claridade fraca vinha pela janela, apenas o suficiente para enxergar. Olhou o cômodo ao redor procurando algo para usar como alavanca. Pense, Michael. Na mesa havia uma faca de passar manteiga. O piso se sacudiu de novo, com uma única pancada horizontal. Choveu poeira de reboco. Ele enfiou a faca na haste curva do cadeado. Suas mãos estavam frias e ligeiramente entorpecidas, no limite da capacidade de comandá-las; a perda de sangue o estava dominando. Firmou os braços e os ombros e torceu a lâmina com força.
Ela se partiu ao meio.
Era isso; já bastava. Michael estava acabado. Deixou-se cair no chão e apoiou as costas na parede, para vê-los chegar.
Peter estava num campo de capim que crescia até a altura dos joelhos. A cor de tudo era estranha, com uma nitidez antinatural, acentuando os menores movimentos da paisagem. Uma brisa soprava. A terra era perfeitamente plana, mas a distância montanhas se acotovelavam no horizonte. Não era dia nem noite, e sim alguma coisa intermediária, a luz suave e sem sombras. O que era esse lugar curioso? Como ele tinha para lá? Examinou a memória; só então percebeu que na verdade não sabia quem era. Sentiu-se vagamente alarmado. Estava vivo, existia, mas parecia não ter história de que pudesse se lembrar.
Ouviu o som de água correndo e foi até lá. A ação foi automática, como se uma inteligência invisível pilotasse seu corpo. Depois de algum tempo, chegou a um rio. A água se movia preguiçosamente, murmurando em volta de pedras espalhadas. Folhas espiralavam na correnteza como mãos viradas para cima. Seguiu rio abaixo até uma curva onde a água se juntava numa piscina natural. A superfície era imóvel, de aparência quase sólida. Sentiu uma agitação curiosa. Parecia que no fundo daquele poço havia uma resposta, mas a pergunta lhe escapava. Estava na ponta da língua, mas, quando tentava se concentrar, fugia dos seus pensamentos, como um pássaro. Ajoelhou-se na beira do poço e olhou para baixo. Uma imagem surgiu: um rosto de homem. Era perturbador olhar para aquilo. O rosto era seu, mas poderia ser o de um estranho. Estendeu a mão e rompeu a superfície com o indicador. Anéis concêntricos brotaram, espalhando-se do ponto de contato, então a imagem se reorganizou. Com isso veio a sensação, a princípio distante, mas cada vez maior, de reconhecimento. Ele sabia quem era, se ao menos conseguisse lembrar! Você é... Era como se estivesse tentando levantar uma pedra enorme com a mente. Você é... você é...
Peter.
Saltou para trás. Uma represa estava estourando em sua mente. Imagens, rostos, dias, nomes – jorravam numa torrente quase dolorosa. A cena em volta – o campo, o rio e a luz do céu – começou a se dispersar. Estava sendo lavada. Atrás dela havia uma realidade totalmente diversa, de objetos, pessoas, acontecimentos e tempo organizado. Sou Peter Jaxon, pensou, e então disse:
– Sou Peter Jaxon.
Peter cambaleou para trás. A espada caiu da sua mão.
– O que você acha que está fazendo? – rosnou Fanning. – Eu mandei matá-la.
A cabeça de Peter girou. Seus olhos se estreitaram, virados para o rosto de Fanning. Estava acontecendo, pensou Amy. Ele estava lembrando. Os músculos da sua perna se comprimiram.
Ele saltou.
Jogou Fanning de cabeça para baixo. A surpresa estava do seu lado: Fanning saiu voando. Bateu no chão e rolou em cambalhotas, indo parar numa coluna de concreto. Ficou de quatro, mas seus movimentos eram vagarosos. Sacudiu a cabeça feito um cavalo e cuspiu no chão.
– Ora, isso é inesperado.
Então Amy estava sendo levantada. Peter a havia pegado no colo. Correu pela Rua 43 em passos que eram quase voos. Para onde a estava levando? Então ela entendeu: a torre de escritórios parcialmente construída. Ela virou o rosto para o céu, mas a poeira era densa demais para que pudesse ver se os andares superiores do prédio se erguiam acima da nuvem. Peter parou na base do poço do elevador. Colocou-a nas costas, subiu um andar pela estrutura externa do poço, girou Amy de novo em volta da cintura, baixou-a através das barras e a colocou no teto do elevador. Em seguida, acompanhou-a. Ela desconhecia seu objetivo em tudo isso. Ele a colocou nas costas de novo, indicando com os cotovelos que ela comprimisse as pernas em volta da cintura dele, que se segurasse com o máximo de força possível. Tudo isso tinha acontecido em segundos. Os cabos do elevador, que eram três, estavam presos numa placa de aço fixa a uma barra transversal no teto do elevador. Peter segurou os cabos e separou os pés. Amy, com os braços em volta dos ombros dele e as pernas apertando sua cintura como um torno, sentiu uma pressão cada vez maior no corpo de Peter. Ele começou a gemer entre os dentes. Só então ela entendeu suas intenções. Fechou os olhos.
A placa se soltou. Amy e Peter foram lançados para o alto, Peter agarrando os cabos, Amy montada em suas costas como o casco de uma tartaruga. Cinco andares, dez, quinze. O contrapeso do elevador passou por eles, mergulhando. O que aconteceria quando chegassem ao topo? Será que seriam lançados no espaço?
De repente toda a estrutura estremeceu: o contrapeso tinha chegado ao fundo. A tensão no cabo sumiu instantaneamente. Lançada para cima, Amy se pegou olhando para a base do poço do elevador. Estava sozinha no ar, desconectada de tudo. Seu corpo diminuiu a velocidade enquanto se aproximava do apogeu da subida e pareceu pairar um instante. Vou cair, pensou. Como o chão estava longe! Iria bater nele a 100 quilômetros por hora, talvez mais. Estou caindo.
Um solavanco: Peter, ainda segurando o cabo, a havia agarrado pela cintura. Ele balançou as pernas, mudando o centro de gravidade para fazer Amy se balançar em arcos cada vez maiores. Amy viu o alvo dele, uma abertura na parede do poço, não muito abaixo.
Ele a jogou.
Ela caiu no piso e rolou até parar. Ainda estavam dentro da nuvem de poeira. A adrenalina da subida tinha afiado seus pensamentos. Tudo entrava num foco fino, quase granuloso. Foi até a beirada e olhou para baixo, para uma bocarra de espaço estonteante.
Fanning estava escalando a lateral do prédio.
O ar se agitou com um rugido titânico. O prédio do lado oposto da Rua 43 começou a se dissolver como uma pessoa golpeada nos joelhos. O piso embaixo de Amy começou a estremecer. A vibração se aprofundou. Sons de metal se dobrando ondularam pela estrutura à medida que o piso se inclinava abruptamente na direção da rua. Materiais soltos – ferramentas enferrujadas, cavaletes, pedaços de drywall inchados pela umidade, um balde cheio de pregos – passaram deslizando por ela e caíram no abismo. Ela estava de barriga para baixo, comprimindo-se no chão. O ângulo foi aumentando. Estava escorregando, as mãos e os pés não conseguiam se fixar em nada, a gravidade tomava conta...
– Peter, socorro!
A doce pressão da mão dele em seu braço fez com que ela parasse de escorregar. Ele estava deitado de barriga para baixo, o topo das duas cabeças quase se tocando. O piso se sacudiu de novo para baixo, mas ele se segurou, os dedos dos pés escavando o concreto. Com força cada vez maior, puxou-a para longe da borda.
– Ah – disse Fanning.
Seu rosto apareceu acima da beirada do piso.
– Aí estão vocês.
Michael ouviu um leve tinido metálico no corredor – o som de cabides chacoalhando nas araras. Em seguida, um curto silêncio: a trilha de seu sangue, entrecruzando-se nos vários corredores e voltando, tinha-os deixado momentaneamente perplexos. A demora era insuportável. Se ao menos pudesse desmaiar. No mínimo sentia-se mais alerta do que nunca.
Talvez devesse fazer um barulho. Chamá-los, acabar com a coisa toda. Ei, estou aqui, imbecis! Venham me pegar, porra!
Que lugar idiota, arbitrário, para morrer! Nunca havia pensado que morreria na cama: não era esse tipo de mundo, e ele não era esse tipo de pessoa. Mas numa porcaria de cozinha?
Uma cozinha.
Ficar de pé estava fora de questão. Mas o topo do fogão era alcançável. A vertigem sacudiu seu cérebro enquanto ele oscilava, ajoelhado. Fazendo força, agarrou a frigideira. Cuspiu na parte de baixo e limpou o metal com a bainha da camisa. Seu reflexo era vago e sem detalhes, mais uma silhueta geral de rosto humano do que alguma pessoa específica, mas era o que tinha.
Os sons estavam se aproximando.
Subiram a escada correndo. Dois lances e chegaram ao topo. A poeira estava densa como sempre, mas no céu a oeste uma região mais clara, fraca porém discernível, mostrava a localização do sol.
Tinham de ir mais alto. Precisavam chegar acima da nuvem.
Amy olhou para cima. A lança do guindaste se balançava feito o pescoço de um pica-pau. Um cabo comprido, com gancho, oscilava na ponta. Uma escada dentro do mastro principal ia até o topo.
Começaram a subir. Onde estava Fanning? Vigiando-os, sem dúvida – divertindo-se, escolhendo o momento.
Foram pelo resto do caminho até o topo. A oscilação estava piorando. A coisa toda parecia instável, como se a qualquer momento o guindaste pudesse se soltar da lateral do prédio. Ainda estavam dentro da nuvem. A silhueta do centro de Manhattan era formada por destroços soltando fumaça, a destruição continuando a se estender para fora do epicentro. Um estrondo, uma nuvem, e outro prédio tombava. Surgiam aberturas largas onde antes havia quarteirões inteiros.
– Olá, aí em cima!
Fanning estava na metade do mastro. Segurando uma barra com uma das mãos, inclinou-se para fora e acenou para eles com confiança e de forma animada.
– Não se preocupem, logo estarei aí!
Uma passarela estreita levava à extremidade da lança. Amy se arrastou por ela, com Peter atrás. A lança subia e descia com pancadas fortes. Amy mantinha os olhos apontados para a frente; não ousava olhar para o vazio. Até mesmo um vislumbre iria paralisá-la.
Chegaram ao fim; não havia mais aonde ir.
– Porra, eu gosto de uma paisagem.
Fanning tinha chegado ao topo do mastro e agora estava 15 metros atrás deles. Costas arqueadas, peito estufado, deixou o olhar viajar pela cidade em ruínas.
– Você realmente fez uma tremenda bagunça, hein? Falando como nova-iorquino, devo dizer que isso traz de volta algumas lembranças desagradáveis.
Um calor súbito tocou o rosto de Amy. Ela olhou à esquerda, para o outro lado da Quinta Avenida. A fachada de vidro do prédio do lado oposto brilhava com uma leve cor alaranjada. Percebeu que a luz era um reflexo.
Fanning soltou um suspiro.
– Bom, parece que chegamos ao fim da linha. Eu pediria que você saísse da frente, Peter, mas parece que você não é muito bom ouvinte.
A violência do movimento do guindaste se intensificou. Lá embaixo a corrente com gancho oscilava feito um pêndulo. A claridade do prédio aumentava. De onde vinha a luz?
– O que acham? Talvez vocês dois possam dar as mãos e se atirar daqui. Eu ficaria feliz em esperar.
Houve um clarão. Um raio de luz intensa do sol, ricocheteando na coroa de aço do Edifício Chrysler, tinha rompido a penumbra.
Acertou Fanning diretamente no rosto.
De repente o guindaste se inclinou, afastando-se da lateral do prédio. Os parafusos que prendiam o mastro aos suportes externos da estrutura estavam se partindo. Com um gemido, a lança começou a se arquear sobre a Quinta Avenida, a princípio lentamente, depois com velocidade cada vez maior. O mastro estava se inclinando. Eles foram se movendo ao mesmo tempo para baixo e para longe, a lança caindo feito um martelo na direção da torre de vidro do outro lado da rua. Iria se cravar no prédio feito uma bala disparada de uma arma.
Ah, por favor, pensou Amy. Ela estava agarrada às bordas da passarela. Faça com que isso pare.
Vidro explodiu em volta deles.
Os virais não pareceram exatamente entrar na cozinha; foi mais como se brotassem do nada. O primeiro, o alfa, saltou direto por cima da mesa, pousando à frente dele. Michael virou a frigideira para o rosto da criatura.
O viral se imobilizou.
Os outros dois pareceram confusos, incapazes de decidir o que fazer. Era como Michael havia esperado; tinha rompido a cadeia de comando. Moveu a frigideira um pouco de lado. O olhar do viral a acompanhou infalivelmente. Essa descoberta poderia tê-lo intrigado se ele não estivesse num terror tão completo. Mal ousando respirar, Michael trouxe a frigideira para o seu lado. O viral a acompanhou, obediente. Parecia num transe completo. Centímetro a centímetro, o espaço entre os dois diminuiu. Michael moveu a frigideira para a esquerda, fazendo o viral virar o rosto.
Uma faca de manteiga quebrada, pensou Michael. É melhor eu fazer isso direito.
Golpeou.
A ponta da lança do guindaste se cravou na torre de vidro na esquina noroeste da Rua 43 com a Quinta Avenida no 32o andar. Tamanho foi o impacto que ela continuou seu caminho para baixo por mais dois andares, ao mesmo tempo que penetrava mais fundo na estrutura. Ali, parou num equilíbrio precário, mastro e lança formando duas laterais de um triângulo suspenso 100 metros acima da rua.
Amy voltou à consciência com uma lembrança apenas parcial desses acontecimentos: uma sensação de descida louca, culminando num caos tão absoluto que sua mente não conseguia separar os componentes do mesmo. Estava caída no chão, o corpo torcido e os joelhos puxados para cima, o braço esquerdo estendido para além da cabeça. À frente havia uma região de luz, vento e poeira girando, que, depois de um momento, revelou ser um buraco enorme na lateral do prédio. À esquerda, a ponta da lança penetrava no piso, oscilando de um lado para o outro com estalos ritmados. Afora isso o ar estava estranhamente imóvel. Havia algo áspero e volumoso ao seu lado: a corrente. Continuava presa à ponta da lança. Sentiu uma perplexidade profunda por ter sobrevivido, pelo mero fato de estar viva. Era a única emoção. Enquanto se virava de barriga para baixo, seu centro de gravidade, distorcido pelo longo mergulho no espaço, oscilou de modo nauseante. Mesmo assim conseguiu ficar de quatro e engatinhar em direção à ponta da lança.
Peter estava deitado de rosto para baixo na passarela. A princípio não parecia vivo. Havia sangue em toda parte e seu pescoço estava virado num ângulo que não era natural. Um braço pendia pela borda. Mas quando Amy avançou devagar, chamando o nome dele, detectou um leve movimento de respiração, seguido por um tremor da mão exposta.
– Estou indo – gritou. – Vou pegar você. Segure-se.
Não tinha muito tempo. O tênue equilíbrio do guindaste não duraria muito. A qualquer momento a coisa toda iria se soltar e cair na rua lá embaixo. Ajoelhada na passarela, Amy enfiou as mãos embaixo dos ombros de Peter. Estava ofegando, tentando respirar, com suor pingando na boca e nos olhos. Numa série de puxões bruscos, levou-o à extremidade da lança e puxou-o para o chão.
Rolou-o de costas. O corpo de Peter parecia completamente inerte, mas os olhos estavam abertos. Amy segurou seu rosto para fazê-lo olhar para ela. A língua de Peter se mexeu atrás dos dentes com um gorgolejo. Ele estava tentando falar.
– Você está ferido – disse ela. – Não tente falar.
Os músculos do rosto dele se comprimiram. Seus olhos se arregalaram. Amy percebeu que Peter não estava olhando para ela. Estava olhando atrás dela.
Uma única palavra, a última de sua vida, brotou dos seus lábios:
– Fanning.
A extremidade quebrada da faca de manteiga afundou no olho da criatura fazendo sair um jato de líquido transparente. Michael tentou segurar, mas o metal escorregou dos seus dedos enquanto a criatura emitia um guincho agudo e cambaleava para trás, com a lâmina ainda cravada. Agora Michael não tinha nada, além da frigideira. Enquanto um dos outros saltava para a frente, ele a brandiu com o máximo de força que pôde, acertando a lateral do crânio da criatura. Tombou de lado, ainda encostado na parede. Levantou a frigideira diante do rosto.
O viral deu um tapa, jogando-a longe.
Michael rolou de barriga para baixo e cobriu a cabeça com os braços.
Rugindo de fúria, Fanning se chocou contra ela. Um segundo de confusão e ela estava de costas, Fanning montado nela, as garras envolvendo seu pescoço. A pele de seu rosto estava enegrecida e chamuscada, separada em longas fendas franzidas que expunham a musculatura por trás. Os lábios tinham sumido, transformando a boca num riso esquelético de dentes nus. Pedaços de tecido úmido e fibroso pendiam das órbitas dos olhos, cujos globos tinham estourado. Ela tentou respirar, mas nenhum ar passava pelo nó de pressão na garganta. Jatos de saliva voavam da boca de Fanning para os olhos dela. As mãos de Amy bateram nos braços e no rosto dele, mas seus esforços eram débeis e vagos. O piso começou a tremer: o guindaste estava se soltando. Os limites de sua visão se estreitavam como um túnel cada vez mais apertado. Amy parou de sacudir os braços e varreu as mãos pelo chão. Ele está cego, disse a si mesma. Não pode ver o que você está fazendo. Os tremores aumentaram. Com um berro de metal se retorcendo, o guindaste saltou para cima.
Ali estava, em sua mão, a corrente.
Enquanto a enrolava no pescoço de Fanning, o rosto e o corpo dele se retesaram num susto. Amy sentiu um alívio momentâneo da pressão na traqueia. A lança do guindaste tinha começado a recuar para fora do prédio. Ela formou rapidamente uma segunda laçada e jogou sobre a cabeça dele.
Fanning a largou e se empertigou, sentado. Levou a mão à garganta, procurando. A corrente começou a se apertar.
– Procure por ela – disse Amy.
Ele não gritou. Saiu do mundo num instante. Estava ali num segundo e havia partido no outro, puxado para a poeira em redemoinhos, o corpo indo se juntar às cinzas da cidade que desaparecia.
E então acabou.
Michael esperou durante um longo tempo. O silêncio parecia um truque. Mas à medida que os segundos passavam e nada acontecia, percebeu que algo tinha mudado. A toda a volta havia um silêncio profundo, como se ele estivesse sozinho no cômodo.
Descobriu os olhos e espiou.
Os virais estavam mortos. O que tinha jogado a frigideira longe estava aos seus pés, enrolado em posição fetal. Os outros dois se encontravam do lado oposto do cômodo numa postura semelhante – até o que tinha a faca no olho, do qual ainda escorria um risco de líquido tingido de sangue. Havia algo terno nas posturas. Era como se, dominados por uma exaustão súbita, tivessem caído no chão e dormido.
Apoiou-se no fogão para se levantar e foi mancando pelo corredor, seguindo a trilha de seu próprio sangue. Pegou outra echarpe numa arara, amarrou de novo a perna e se aventurou do lado de fora. Um sol baixo, de fim de tarde, atravessava a poeira, relampejou nas nuvens. Foi para o leste até a Rua Lafayette e virou para o norte. Só quando tinha percorrido mais um quarteirão teve certeza do que havia acontecido.
Os virais estavam em toda parte. Nas calçadas. Na rua. Nos tetos dos carros antigos. Todos na mesma postura fetal, enrolados como crianças na cama, exauridos por um dia longo demais. Parecia um pouco menos morte, mais um vasto repouso coletivo. Os corpos, como a cidade da qual tinham feito parte durante tanto tempo, estavam virando pó. Era uma cena espantosa. Um espanto grande, triste e jubiloso, pesado demais para a mente suportar. Michael cambaleou para a frente. No norte da ilha, os estrondos da destruição persistiam. Durante meses, anos, até mesmo séculos, a imolação continuaria, a grande metrópole finalmente se dobrando no mar. Mas agora, enquanto Michael se movia entre os corpos, prevalecia um silêncio infinito, o mundo parando no reconhecimento, a história segura na mão do tempo.
E Michael Fisher fez a única coisa que podia. Caiu de joelhos e chorou.
Peter tinha começado a morrer.
Amy sentiu o espírito dele se esvair; Fanning o estava abandonando. Seus olhos estavam abertos, mas a luz dentro deles ia diminuindo. Logo sumiria.
Não me deixe. Levantou a mão dele e a apertou contra o rosto: a pele estava esfriando. Os músculos do rosto relaxavam em direção à morte. Por favor, disse, e estremeceu com um soluço, não me deixe sozinha.
Tinha chegado a hora de deixá-lo ir, de dizer adeus, mas a perspectiva era insuportável. Não podia aceitá-la. Talvez houvesse um jeito. O ato mais grave de todos – até mesmo uma traição. Ela teve a sensação momentânea de estar fora do próprio corpo, olhando-se, enquanto pegava o caco de vidro no chão e passava a borda na palma da mão. O sangue brotou do ferimento e se juntou rapidamente numa poça intensa, vermelha. Segurou a mão de Peter e fez a mesma coisa. Um último tremor de dúvida, depois encostou a mão dele na sua e cruzou os dedos dos dois. Sentiu um tremor minúsculo. Com uma pressão cada vez maior, Peter apertou os dedos nas costas de sua mão.
Ela fechou os olhos.
OITENTA E TRÊS
No ponto mais alto do Central Park, longe da destruição, Amy e Michael montaram acampamento. Tinham demorado quase uma semana para se encontrar; o centro da ilha estava bloqueado por impenetráveis montanhas de entulho. Foi na manhã do sexto dia que Amy o ouviu chamando. Michael saiu do meio dos escombros, uma figura fantasmagórica, coberta de cinzas. Nesse ponto Amy sabia que Alicia tinha morrido; sua presença, seu espírito, não estavam em lugar nenhum do mundo. Mesmo assim, quando Michael contou o que havia acontecido, a realidade a deixou arrasada. Ela se sentou no chão e chorou.
– E Peter? – perguntou Michael, hesitando.
Sem levantar os olhos, Amy balançou a cabeça. Não.
Ficaram ali durante três semanas para descansar e juntar suprimentos. Michael recuperou as forças devagar. Juntos construíram um pequeno fumeiro e puseram armadilhas para pegar caça de pequeno porte. Em outras partes do parque encontraram uma variedade de plantas comestíveis, até mesmo algumas macieiras cheias de frutos lustrosos. Michael se preocupou com a hipótese de a água do reservatório estar contaminada pelo mar, mas não estava; eles pegaram o filtro d’água do Nautilus para limpá-la de sujeira sólida. De vez em quando ouviam o estrondo de mais um prédio desmoronando, seguido por um silêncio que de algum modo parecia mais profundo. A princípio isso os incomodava, mas com o tempo o barulho se tornou banal, era algo que nem chamava atenção.
Os dias eram longos, o sol estava quente. Certo dia, de manhã, acordaram com um som de trovão. Uma tempestade depois da outra despencou sobre a cidade. Quando finalmente o sol voltou, o ar estava diferente. Um frescor nítido pairava sobre o parque, com a poeira lavada das folhas das árvores.
Foi na última noite que Michael trouxe a garrafa de uísque. Tinha-a encontrado num prédio de apartamentos quando fora procurar ferramentas e roupas. A tampa estava lacrada, o vidro sujo de poeira tão densa que parecia uma camada de terra. Sentado perto da fogueira, Michael foi o primeiro a experimentar.
– Aos amigos ausentes – disse, levantando a garrafa, e tomou um gole demorado.
Enquanto sua garganta subia e descia, ele começou a tossir ao mesmo tempo que, de algum modo, mostrava uma expressão de triunfo.
– Ah, você vai gostar disso – falou chiando, e a entregou a Amy.
Amy tomou um gole pequeno, para sentir. Depois, como Michael havia feito, inclinou a cabeça para trás e deixou o uísque encher a boca. Um gosto intenso, enfumaçado, brotou em sua língua, enchendo os sínus com um calor que pinicava.
Michael a olhou interrogativamente, as sobrancelhas levantadas.
– Talvez seja bom ir devagar – alertou. – Você está bebendo um uísque de 120 anos.
Ela tomou um segundo gole, saboreando mais profundamente.
– Tem gosto... de passado – disse.
De manhã, levantaram acampamento e foram para o sul, atravessando o parque e descendo a Oitava Avenida. Na beira d’água, colocaram o resto dos suprimentos no Nautilus. Ele iria primeiro para a Flórida, onde reabasteceria, depois daria o longo salto até o litoral do Brasil, mantendo-se junto à costa até chegar ao estreito de Magalhães. Assim que tivesse passado, faria uma última parada para descansar e reabastecer e velejaria em direção ao Pacífico Sul.
– Tem certeza de que consegue encontrá-los? – perguntou Amy.
Michael encolheu os ombros, despreocupado, mas os dois sabiam do perigo envolvido no que ele iria fazer.
– Depois de tudo isso, não pode ser tão difícil.
Ele parou, avaliou-a um instante e disse, com um tom de cautela:
– Sei que você acha que não pode ir comigo...
– Não posso, Michael.
Ele procurou palavras.
– Mas... como você vai se virar? Totalmente sozinha?
Amy não tinha resposta, pelo menos nenhuma que acreditasse fazer sentido para ele.
– Terei de dar um jeito.
Ela observou o rosto triste do amigo.
– Vou ficar bem, Michael.
Tinham concordado que um rompimento rápido seria melhor. Mas quando chegou o momento da separação isso não pareceu apenas idiota, mas também impossível. Abraçaram-se por muito tempo.
– Ela o amava, sabe? – disse Amy.
Michael estava chorando um pouco; os dois estavam. Ele balançou a cabeça.
– Não, não sei.
– Talvez não como você queria. Mas era como ela sabia.
Amy recuou um pouco e pôs a mão no rosto dele.
– Agarre-se a isso, Michael.
Separaram-se. Michael embarcou. Amy soltou as amarras. Um estalo da vela e o barco se afastou. Michael acenou uma vez junto à amurada. Amy acenou também. Deus o abençoe e o proteja, Michael Fisher. E olhou a imagem recuar na vastidão.
Pôs a mochila às costas e caminhou para o norte. Quando chegou à ponte era o início da tarde. Um forte sol de verão reluzia na superfície da água, lá embaixo. Atravessou e, do lado oposto, parou para beber e descansar, depois colocou a mochila de novo e continuou a jornada.
Utah ficava a quatro meses de distância.
Do mirante do Empire State – uma das últimas estruturas intactas entre a Grand Central e o mar –, Alicia viu o Nautilus velejar, descendo o Hudson.
Tinha levado quase dois dias para subir. Duzentos e quatro lances de escada, a maior parte em escuridão total – uma subida angustiante com sua muleta improvisada – e, quando a dor era forte demais, de quatro. Durante horas permanecera deitada em vários patamares, suando e ofegando, imaginando se conseguiria prosseguir. Seu corpo estava quebrado, destruído. Nos lugares em que não havia dor ela sentia apenas um entorpecimento que se espalhava. Uma a uma, as luzes da vida estavam se apagando por dentro.
Mas sua mente, seus pensamentos: esses eram seus. Sem Fanning, sem Amy. Não tinha lembrança de como havia escapado do túnel do metrô. De algum modo tinha sido lançada em terra seca. O resto eram fragmentos, clarões. Lembrava-se do rosto de Michael contornado pelo sol, das mãos dele estendendo-se para baixo; da água golpeando-a com força imensurável, grande como a de um planeta, toda a vontade desaparecida, seu corpo mergulhando e rolando; do primeiro gole involuntário, fazendo-a engasgar, a garganta abrindo-se instintivamente para respirar uma segunda vez, levando a água mais para o fundo dos pulmões; da dor, depois um afrouxamento misericordioso da dor; um sentimento de dispersão, do corpo e os pensamentos perdendo a nitidez, como um sinal de rádio saindo do alcance; e em seguida nada.
Acordou e se viu na circunstância mais atordoante. Estava sentada num banco. Ao redor, um pequeno parque com árvores crescidas demais e um playground no fundo do capim alto e viçoso. Lentamente sua percepção se expandiu. Enormes penhascos de entulho cercavam o perímetro, mas o parque em si estava milagrosamente intocado. Não havia sol. Pássaros piavam nas árvores, um som pacífico. Suas roupas estavam encharcadas e a boca tinha gosto de sal. Sentia um hiato no tempo, entre os acontecimentos lembrados e a situação presente. A calma que experimentava era totalmente anacrônica, diversa de tudo o que já conhecera. Imaginou, de modo um tanto entorpecido, se estava morta – se na verdade era um fantasma. Mas quando tentou se levantar e a dor atravessou o corpo, soube que não era isso; sem dúvida a morte traria uma ausência de sensação corporal.
Foi então que percebeu. O vírus tinha ido embora.
Ela não tinha se transmutado em algum estado novo, como acontecera com Fanning e Amy, que haviam recobrado a aparência humana ao mesmo tempo que outras características permaneciam intactas. O vírus não estava dentro dela. De algum modo a água o havia matado e depois a devolvera à vida.
Como era possível? Será que Fanning tinha mentido? Mas quando examinou a memória percebeu que ele jamais havia lhe dito, explicitamente, que a água iria matá-la, ela que não era totalmente viral nem totalmente humana, e sim algo intermediário. Talvez ele tivesse sentido a verdade. Talvez simplesmente não soubesse. Que ironia! Ela havia se atirado da popa do Bergensfjord pretendendo morrer, mas no fim das contas a água é que fora sua salvação.
Mas estar viva. Sentir o cheiro e o gosto do mundo na proporção adequada. Finalmente estar sozinha na própria mente. Inalou a sensação como se fosse o ar mais puro. Que espantoso, que maravilhoso e inesperado! Ser pura e simplesmente uma pessoa de novo.
Fanning estava morto. Primeiro os escombros da cidade lhe disseram isso, depois os corpos encolhidos e se desfazendo em cinzas. Ela se abrigou num mercadinho arruinado. Talvez os outros a estivessem procurando. Talvez não, acreditando que havia morrido. Na manhã do segundo dia ouviu alguém chamando. Era Michael. Olá! A voz dele ricocheteava nas ruas silenciosas. Olá! Tem alguém aí?
Michael!, respondeu. Me encontre! Estou aqui! Mas então percebeu que não tinha falado de verdade, não tinha dito as palavras em voz alta.
Era muito estranho. Por que não o chamava? O que era esse impulso de ficar em silêncio? Por que não podia dizer onde estava? Os chamados dele foram se afastando até sumir.
Esperou que o significado disso ficasse claro, para que um plano pudesse emergir. Os dias passaram. Quando chovia, ela colocava panelas do lado de fora da loja para pegar as gotas, e assim saciava a sede, mas não tinha comida nem os meios para encontrá-la, fato que parecia estranhamente sem importância. Não sentia fome. Dormia um bocado: noites inteiras, muitos dias também. Longos estados de inconsciência profunda em que sonhava com fascinante nitidez emocional e sensorial. Às vezes ela era uma menininha, sentada do lado de fora do Muro da Colônia. Em outras ocasiões era uma jovem no turno de Vigia com uma besta e facas. Sonhava com Peter. Sonhava com Amy. Sonhava com Michael, sonhava com Sara, Hollis, Greer e, frequentemente, com seu magnífico Soldado. Dias inteiros, episódios inteiros de sua vida repassados diante dos olhos.
Mas o maior desses sonhos foi com Rose.
Começou numa floresta – nevoenta, escura, como algo saído de uma história infantil. Ela estava caçando. Em passos cautelosos, quase flutuantes, prosseguia por baixo das copas densas, o arco preparado. De todos os lados vinham os pequenos ruídos e movimentos da caça no mato baixo, mas os alvos permaneciam esquivos. Nem bem identificava a localização de um som específico – um graveto quebrando, o farfalhar de folhas secas – e ele se movia para trás ou para o lado, como se os habitantes da floresta estivessem brincando com ela.
Saiu numa área de campos ondulantes e pastagem aberta. O sol havia se posto, mas a escuridão ainda não tinha baixado. Enquanto caminhava, o capim ficava mais alto. Ia até a cintura, depois ao peito. A luz – suave, levemente brilhante – permanecia uniforme e não parecia ter fonte. Em algum lugar adiante ouviu um som novo. Eram risos. Um riso luminoso, sonoro, de menininha. Rose!, gritou ela, porque sabia instintivamente que a voz era de sua filha. Rose, onde você está? Partiu correndo. O capim chicoteava o rosto e os olhos. O desespero agarrou seu coração. Rose, não estou vendo você! Me ajude a encontrá-la!
– Estou aqui, mamãe!
– Onde?
Alicia captou um movimento adiante e à direita. Um clarão de cabelos ruivos.
– Aqui! – provocava a menina. Ela estava gargalhando, fazendo um jogo. – Não está me vendo? Estou bem aqui!
Alicia correu na direção dela. Mas, como os animais da floresta, sua filha parecia estar em toda parte e em lugar nenhum. Seus chamados vinham de todas as direções.
– Estou aqui! – cantarolava Rose. – Tente me encontrar!
– Espere por mim!
– Venha me achar, mamãe!
De repente o capim sumiu. Ela se pegou numa estrada poeirenta que subia para a crista de uma pequena colina.
– Rose!
Não houve resposta.
– Rose!
A estrada a chamava. Enquanto ia andando, Alicia começou a sentir o ambiente, ou pelo menos o tipo de lugar que era. Ficava fora do mundo que ela conhecia, mas ao mesmo tempo fazia parte dele, uma realidade oculta que podia ser vislumbrada de esguelha, mas que jamais entrava totalmente nesta vida. A cada passo sua ansiedade diminuía. Era como se uma força invisível, puramente benévola, estivesse a guiá-la. Enquanto subia o morro, ouviu de novo a música luminosa e distante do riso da filha.
– Venha a mim, mamãe – cantava ela. – Venha a mim.
Chegou ao topo da colina.
E ali Alicia acordou. Não era para ela ver o que a esperava no vale depois do topo do morro, mas acreditava saber o que era, assim como também compreendera o significado dos outros sonhos, com Peter, Amy, Michael e todos os que havia amado e por quem tinha sido amada.
Estava se despedindo.
Chegou uma noite em que Alicia não sonhou mais. Acordou com um sentimento de plenitude. Tudo o que pretendera fazer tinha sido realizado. O trabalho de sua vida estava completo.
Apoiada na muleta que havia feito com restos de madeira, atravessou o entulho, três quarteirões para o norte e um para o oeste. Até mesmo essa distância curta a deixou ofegando de dor. Era o meio da manhã quando começou a subir. Ao anoitecer tinha chegado ao 53o andar. Sua água havia quase terminado. Dormiu no piso de um escritório com janelas, de modo que o sol a acordasse, e ao amanhecer voltou a subir.
Seria coincidência que esta fosse a mesma manhã em que Michael partia? Alicia preferiu pensar que não. Que a visão do Nautilus afastando-se ao vento era um sinal destinado a ela. Será que Michael podia senti-la? Será que, de algum modo, tinha a sensação de que ela o observava lá de cima? Impossível, mas agradava a Alicia pensar assim – que ele poderia levantar os olhos de repente, com espanto, como se tocado por uma brisa súbita. O Nautilus estava partindo do porto interno, indo para o mar aberto. A luz do sol brilhava esplendidamente sobre a água. Segurando-se ao corrimão, Alicia viu a forma minúscula ficar cada vez menor, sumindo até a não existência. Logo você, Michael, pensou. No entanto, tinha sido ele. Ele é que a havia salvado.
Uma cerca alta, curvada para dentro na parte de cima e fixada no topo do parapeito, um dia formara uma barricada em volta do perímetro da plataforma. Restavam muitos pedaços, mas não todos. Alicia tinha guardado um pouco d’água. Bebeu-a. Como era doce o resto de chuva colhida! Experimentou um profundo sentimento da interconexão de todas as coisas, o eterno subir e descer da vida – como a água, que tinha começado no mar, havia subido, juntado-se em nuvens e descido do céu como chuva, para ser reunida na panela que Alicia havia posto. Agora se tornava parte dela.
Sentou-se no parapeito. Abaixo, no lado externo, havia uma pequena saliência. Girou o corpo, usando as mãos para ajudar as pernas desobedientes a passar sobre o corrimão. De costas para o prédio, avançou alguns centímetros no concreto até que seus pés tocaram a saliência. Como fazer isso? Como dizer adeus ao mundo? Respirou longamente e deixou o ar sair aos poucos. Percebeu que estava chorando. Não de tristeza – não, não era isso –, se bem que suas lágrimas não pareciam deixar de ter relação com a tristeza. Eram as lágrimas da tristeza e da felicidade reunidas, tudo terminado.
Minha querida, minha Rose.
Empurrando-se com as palmas das mãos, ficou ereta. O espaço se abria sob ela. Alicia virou os olhos para o céu.
Rose, estou indo. Em breve vou estar com você.
Alguns poderiam dizer que ela caiu. Outros, que voou. As duas coisas eram verdadeiras. Alicia Donadio – Alicia das Facas, a Coisa Nova, capitã da Vigilância e soldado dos Expedicionários – morreria como tinha vivido.
Sempre voando alto.
A noite chegou.
Amy estava em algum lugar de Nova Jersey. Tinha deixado para trás as vias principais, penetrando no território selvagem. Seus braços e pernas estavam pesados, cheios de uma exaustão profunda, quase prazerosa. Quando a escuridão baixou, montou acampamento num campo de vaga-lumes, comeu um jantar simples e se deitou sob as estrelas.
Venha a mim, pensou.
A toda a volta, e de cima, as pequenas luzes do céu dançavam. Uma lua cheia subiu das árvores, enfatizando as sombras.
Estou esperando você. Vou sempre esperar. Venha a mim.
Um silêncio puro; nem o ar se movia. O tempo passava em seu curso lânguido. Então, como um roçar de pluma por dentro dela.
Amy.
Na extremidade mais distante do campo, nos galhos das árvores, viu e ouviu um farfalhar. Peter saltou para o chão. Tinha acabado de comer, um esquilo ou um camundongo, talvez, ou algum pássaro pequeno. Podia sentir o contentamento dele, a satisfação intensa que ele obtivera no ato, como ondas de calor atravessando seu sangue. Amy se levantou enquanto ele vinha na sua direção, passando no meio dos vaga-lumes. Havia tantos! Era como se ele – como se os dois – estivesse nadando num mar de estrelas. Amy. Sua voz parecia um fraco vento de desejo, respirando seu nome. Amy, Amy, Amy.
Ela levantou a mão. Peter fez o mesmo. A distância entre os dois diminuiu. Os dedos se juntaram e se cruzaram, a pressão suave da palma da mão de Peter contra a dela.
Eu estou...?
Ela assentiu.
– Está.
E eu... sou seu? Pertenço a você?
Ela sentiu a confusão dele. O trauma ainda era recente, a desorientação. Amy apertou os dedos, comprimindo as palmas das mãos dos dois, e sustentou o olhar dele.
– Você é meu e eu sou sua. Nós pertencemos um ao outro.
Uma pausa, depois: Somos um do outro. Você é minha e eu sou seu.
– Sim, Peter.
Peter. Ele segurou o pensamento por um instante. Eu sou Peter.
Ela segurou seu rosto.
– Sim.
Sou Peter Jaxon.
A visão dela foi turvada pelas lágrimas. A noite enluarada estava fantasticamente imóvel, tudo sustentado numa dormência, os dois parecendo atores num palco de laterais escuras com a luz de um único refletor caindo sobre eles.
– Sim, é quem você é. Você é meu Peter.
E você é minha Amy.
Enquanto Amy seguia para o oeste, e por muitos anos depois, ele iria até ela a cada noite, desse modo. A conversa seria repetida vezes incontáveis, como um cântico ou uma oração. Cada visita era como a primeira; no início ele não retinha qualquer lembrança, fosse das noites anteriores ou dos acontecimentos que as haviam precedido, como se fosse uma criatura totalmente nova no mundo, renascida a cada noite. Mas lentamente, à medida que os anos viravam décadas, o homem dentro do corpo – o espírito essencial – se reafirmava. Jamais falaria de novo, se bem que os dois conversariam sobre muitas coisas, palavras fluindo através do toque das mãos, os dois sozinhos entre as estrelas.
Mas isso foi depois. Agora, parado no campo de vaga-lumes, sob a lua de verão, ele perguntou:
Aonde vamos?
Ela sorriu entre as lágrimas.
– Para casa. Meu Peter, meu amor. Vamos para casa.
Michael tinha saído do porto. Por cima da popa a imagem da cidade foi se esvaindo. O momento de decisão havia chegado. Para o sul, como tinha dito a Amy, ou numa direção totalmente nova?
Nem era uma dúvida.
Fez uma curva com o Nautilus, virando para nordeste. O vento estava bom e as ondas, pequenas e com uma suave cor verde. Na tarde seguinte contornou a ponta de Long Island e partiu para o mar aberto. Três dias depois de sair de Nova York, parou em Nantucket. A ilha era de uma beleza impressionante, com longas praias de areia branca e pura e ondas quebrando. Parecia não haver nenhuma construção, pelo menos que ele pudesse ver. Todos os traços da civilização tinham sido varridos pela mão do oceano. Ancorado numa baía abrigada, fez os últimos cálculos e, ao alvorecer, partiu de novo.
Logo o oceano mudou. Ficou mais escuro, com ar solene. Tinha passado para uma área erma, longe de qualquer terra. Não sentia medo, mas animação e uma certeza empolgante. Seu barco, o Nautilus, era bom. Ele tinha o vento, o mar e as estrelas para guiá-lo. Esperava chegar ao litoral da Inglaterra em 23 dias, mas talvez isso não acontecesse. Havia muitas variáveis. Talvez levasse um mês ou mais; talvez fosse parar na França ou mesmo na Espanha. Não importava.
Michael Fisher iria descobrir o que havia por lá.
OITENTA E QUATRO
Fanning recuperou a consciência do ambiente aos poucos, e em partes. Primeiro veio uma sensação de areia fria nos pés, seguida o som de ondas batendo num litoral tranquilo. Depois da passagem de um tempo desconhecido, emergiram outros fatos. Era noite. Estrelas densas como pó se espalhavam num céu de negrume aveludado, imensuravelmente profundo. O ar estava fresco e imóvel, depois de um dia de chuva. Acima e atrás dele, sobre um íngreme penhasco de capim e ameixas-da-praia, havia casas. As fachadas brancas brilhavam levemente com a luz refletida da lua, que subia do oceano.
Começou a andar. As bainhas da calça estavam úmidas. Ele devia ter perdido os sapatos, ou então tinha chegado a esse lugar sem eles. Não tinha destino em mente, apenas um sentimento de que andar era algo que a situação exigia. A natureza imprevista de suas circunstâncias, a sensação de estar numa realidade sem limites fixos, não provocava qualquer ansiedade. Pelo contrário: tudo parecia inevitável, de um modo tranquilizador. Quando tentava lembrar algo que poderia ter acontecido antes de estar neste local, não conseguia pensar em nada. Sabia quem era, mas sua história pessoal parecia desprovida de coerência narrativa. Houve um tempo, ele sabia, em que tinha sido criança. No entanto esse período de sua vida, como todos os outros, só se registrava como uma coleção de impressões emocionais e sensórias com aspecto metafórico. Sua mãe e seu pai, por exemplo, residiam na memória não como seres individuais, mas como um sentimento de calor e segurança, como estar aquecido num banho de banheira. A cidade onde tinha crescido, cujo nome não lembrava, não era uma unidade cívica específica composta de prédios e ruas, e sim uma visão através de uma janela, de chuva batendo em folhas de verão. Era tudo muito curioso, não inquietante, mas simplesmente inesperado, em especial o fato de que sua vida adulta parecia quase completamente desconhecida. Sabia que tinha sido feliz, mas também triste; durante um longo tempo estivera muito, muito solitário. Mas quando tentava reconstruir as circunstâncias só se lembrava de um relógio.
Durante muito tempo, nesse estado de deslembrança imprevisto e geralmente agradável, seguiu pelo amplo bulevar de areia à beira d’água. A lua, tendo se afastado do horizonte, havia parado em seu arco ascendente. A maré estava alta, notavelmente alta; o céu, imenso. Até que percebeu uma figura a distância. Durante um tempo ela não se aproximou; depois, com uma qualidade telescópica, a distância começou a diminuir.
Liz estava sentada na areia com os braços envolvendo as canelas, olhando a água. Usava um vestido branco, de algum tecido diáfano, leve como uma camisola. Os pés, como os dele, estavam descalços. Ele se lembrava vagamente de que alguma coisa havia acontecido com ela, algo muito infeliz, mas não sabia o que podia ter sido. Ela havia ido embora, só isso, e agora tinha voltado. Ele estava feliz, muito feliz em vê-la, e, ainda que ela não indicasse qualquer percepção de sua presença, ele sentia como se o estivesse esperando.
– Liz, oi.
Ela virou a cabeça. Seus olhos brilhavam com a luz das estrelas.
– Ora, aí está você – disse, sorrindo. – Estava pensando em quando iria chegar. Tem alguma coisa para mim?
Na verdade ele tinha. Estava segurando os óculos dela. Como esse fato era curioso!
– Posso pegá-los, por favor?
Ele lhe entregou os óculos. Ela virou o rosto de novo para a água e os colocou.
– Pronto – disse, assentindo, satisfeita. – Assim está muito melhor. Não consigo ver nadinha sem eles. Toda essa beleza estava praticamente desperdiçada comigo, se quer saber a verdade. Mas agora vejo tudo muito bem.
– Onde estamos? – perguntou ele.
– Por que você não se senta?
Ele se sentou na areia ao lado dela.
– É uma excelente pergunta – disse Liz. – A resposta deve ser a praia. Aqui é a praia.
– Há quanto tempo você está aqui?
Ela encostou um dedo nos lábios.
– Bom, isso é engraçado. Há apenas alguns minutos acho que eu diria que faz um bom tempo. Mas, agora que você está aqui, não parece muito.
– Estamos sozinhos?
– Sozinhos? É, acho que sim.
Ela fez uma pausa; um ar malicioso surgiu em seu rosto.
– Você não reconhece nada disso, não é? Tudo bem; demora um tempo para a gente se acostumar. Acredite, quando cheguei aqui não tive a menor ideia do que estava acontecendo.
Ele olhou em volta. Era verdade, ele já havia estado naquele lugar.
– Sempre imaginei – continuou Liz – o que teria acontecido se você tivesse me beijado naquela noite. Como nossa vida seria diferente? Claro, você poderia ter me beijado, se eu não tivesse ficado tão bêbada. Que idiota eu banquei! Foi tudo culpa minha, desde o início.
Subitamente, ele recordou. A praia abaixo da casa dos pais dela em Cape Cod: era onde estavam. O lugar onde, tanto tempo atrás, ele tinha deixado a vida passar, não dizendo o que seu coração sabia.
– Como viemos parar... aqui?
– Ah, acho que a pergunta não é “como”.
– Então qual é?
– A pergunta é “por quê”?
Ela o olhava com ar contemplativo. Era um olhar destinado a reconfortar, como se ele estivesse doente. Tinha segurado as mãos dele sem que ele percebesse. A sensação era quente como uma xícara de chá.
– Tudo bem – disse ela baixinho. – Agora você pode pôr para fora.
De súbito a mente dele pareceu mergulhar. Lembrou-se de tudo. O passado subiu rugindo, completo. Viu rostos; habitou dias; viveu a hora de seu nascimento e todas as outras que vieram depois. Sentiu-se sufocando; os pulmões não conseguiam encontrar o ar.
– É só isso que você precisa fazer, pôr para fora.
Ela o havia envolvido com os braços. Ele estava tremendo, chorando, lágrimas que nunca tinha chorado na vida. Todas as tristezas, as dores, as coisas terríveis que tinha feito.
– Tudo está perdoado, meu querido, meu amor. Tudo é perdoado, nada é esquecido. Tudo o que você amou vai voltar. É por isso que você veio.
Ele gemeu e tremeu. Lançou gritos para o céu. As ondas vinham e iam em seu ritmo ancestral. As estrelas derramavam sua luz primordial sobre ele.
Estou aqui, estava dizendo Liz, sua Liz. Agora acabou, vai ficar tudo bem. Ah, meu amado, estou aqui.
Demorou algum tempo. Dias, semanas, anos. Mas isso não era importante. Passaria num piscar de olhos, nem mesmo isso. Todas as coisas caíram no passado, menos uma: o amor.
OITENTA E CINCO
– Desligue – disse Lore.
Rand a encarou, sem expressão. Estavam na casa de máquinas – calor sufocante, o ar latejando com o rugido rítmico dos motores. O peito largo e nu de Rand brilhava de suor.
– Tem certeza?
Restavam os últimos 6 mil litros de combustível.
– Por favor – respondeu Lore –, não discuta comigo. Não temos escolha.
Rand levou o rádio à boca.
– É isso aí, pessoal. Vamos desligar. Weir, passe o gerador para o auxiliar: só as bombas de porão, luzes e dessalinizadores.
Um estalo, depois a voz de Weir chegou:
– Ordens de Lore?
– É, isso mesmo. Estou olhando direto para ela.
Um momento passou. O latejar se interrompeu, substituído por um zumbido elétrico baixo. Acima deles as lâmpadas engaioladas se apagaram. Depois, como se relutantes, voltaram à vida.
– Então é isso? – perguntou Rand. – Morreu tudo?
Lore não tinha resposta.
– Desculpe, eu não deveria ter dito desse modo.
Ela fez um gesto vago.
– Esqueça.
– Sei que você fez o máximo. Todo mundo fez.
Ela não tinha o que dizer. Eram 20 mil toneladas de aço à deriva no oceano.
– Talvez alguma coisa dê certo – sugeriu Rand.
Lore subiu pelo navio até o convés e pegou a escada para a casa do leme. Era a manhã do 39o dia no mar, o sol equatorial já chamejava como uma fornalha. Nenhum sopro de vento movia o ar. O oceano estava absolutamente plano. Muitos passageiros acampavam no convés, amontoados na sombra de abrigos de lona. Na mesa dos mapas estavam as folhas de papel grosso, fibroso, em que Lore tinha feito os últimos cálculos. As correntes, quando contornaram o cabo Horn, quase os fizeram parar. Usando a aceleração máxima, mal conseguiram ir em frente, com ondas enormes varrendo o convés e todo mundo vomitando desamparado. Acabaram conseguindo, mas dia a dia, enquanto Lore via os mostradores de combustível cada vez mais baixos, o custo ficou dolorosamente evidente. Tinham jogado tudo o que podiam no mar: pedaços de anteparas, portas, o guindaste de carga. Tudo para reduzir o peso, ganhar mais um quilômetro com o combustível que tinham. Não bastara. Faltavam 800 quilômetros.
Caleb entrou na casa do leme. Como Rand, estava sem camisa, a pele dos ombros e das bochechas descascando por causa das queimaduras de sol.
– O que está acontecendo? Por que paramos?
Lore balançou a cabeça junto ao timão.
– Meu Deus – fez ele e por um segundo pareceu atordoado, depois levantou os olhos. – Quanto tempo?
– Podemos manter os dessalinizadores funcionando por uma semana.
– E depois?
– Realmente não sei, Caleb.
Ele tinha a aparência de alguém que precisava se sentar. Ocupou um lugar no banco junto à mesa de mapas.
– As pessoas vão deduzir, Lore. Não podemos simplesmente desligar os motores e não contar nada.
– O que você quer que eu diga?
– Poderíamos mentir, acho.
– Tenho uma ideia: por que você não pensa em alguma coisa?
A sensação de fracasso dela era avassaladora, mas tinha falado de modo muito grosseiro.
– Desculpe, você não merecia isso.
Caleb respirou fundo.
– Tudo bem, entendi.
– Diga a todo mundo que é só um conserto pequeno, nada com que se preocupar – disse Lore. – Isso deve garantir um ou dois dias.
Caleb se levantou e pôs a mão no ombro dela.
– A culpa não é sua.
– De quem é?
– Sério, Lore. É só azar.
Ele apertou com mais força, um gesto que não ofereceu conforto nenhum.
– Vou espalhar a notícia.
Depois que Caleb saiu ela ficou sentada por um tempo. Estava exausta, imunda, derrotada. Sem os motores, o navio parecia desprovido de alma, inerte como pedra.
Desculpe, Michael, pensou. Fiz tudo o que pude, mas não foi o bastante.
Escondeu o rosto nas mãos.
Já era tarde quando desceu para o convés. Encontrou Sara enquanto esta fechava a porta da cabine de Greer.
– Como ele está?
Sara balançou a cabeça, tensa: não estava bem.
– Acho que ele não tem mais muito tempo.
Fez uma pausa e mudou de assunto:
– Caleb me contou sobre os motores.
Lore assentiu, desanimada.
– Bom, avise se eu puder fazer alguma coisa para ajudar. Talvez simplesmente não fosse para ser.
– Você não é a primeira a dizer isso.
Como Lore não disse mais nada, Sara suspirou.
– Veja se consegue fazer com que ele coma. Deixei uma bandeja perto da cama.
Lore observou Sara se afastar pelo corredor, depois virou a maçaneta em silêncio e entrou. O ar tinha um cheiro de suor, urina, hálito azedo e mais alguma coisa, como fruta fermentada. Greer estava deitado de rosto para cima com um cobertor puxado até o queixo, os braços dos lados do corpo. A princípio Lore achou que estava cochilando – agora ele dormia na maior parte do tempo –, mas ao ouvi-la entrar Greer virou o rosto para ela.
– Estava imaginando quando iria ver você.
Lore puxou um banquinho para a beira da cama. O sujeito era a sombra de uma sombra, um saco de ossos. Sua carne, de um amarelo doentio, tinha uma aparência úmida e translúcida, como as camadas internas de uma cebola.
– Acho que você notou.
– É difícil não notar – falou ele.
– Não tente me animar, certo? Muita gente está fazendo isso, e já está perdendo a graça. Agora, que negócio é esse que fiquei sabendo, que você não quer comer?
– Não parece valer o incômodo.
– Bobagem. Vamos enfiar isso na boca.
Ele estava fraco demais para se levantar no colchão sozinho. Lore o pôs sentado na cama e enfiou um travesseiro entre suas costas e a parede.
– Tudo bem?
Ele deu um sorriso débil, corajoso.
– Nunca estive melhor.
Na bandeja havia um copo d’água e uma tigela de mingau, bem como uma colher e um pano. Ela pôs o pano no peito de Greer e começou a levar colheradas de mingau à sua boca. Ele movia os lábios e a língua com hesitação, como se esses atos simples exigissem uma concentração tremenda. Mesmo assim, conseguiu tomar uma boa quantidade antes de fazê-la parar com um gesto. Ela enxugou o queixo dele e levou o copo d’água aos seus lábios. Ele tomou um gole pequeno; dava para ver que só a estava agradando. Enquanto o alimentava, Lore havia notado uma bacia ao pé da cama, manchada de sangue.
– Feliz, agora? – perguntou enquanto ela punha o copo de lado.
Lore quase gargalhou.
– Que pergunta!
– Michael escolheu você por um motivo. Isso não é menos verdade agora do que há 39 dias.
De repente as lágrimas vieram.
– Ah, que droga, Lucius. O que vou dizer às pessoas?
– Por enquanto não vai dizer nada.
– Elas vão deduzir. Provavelmente um monte de gente já deduziu.
Greer indicou a mesinha de cabeceira.
– Abra aquela gaveta – pediu. – A de cima.
Dentro dela Lore encontrou uma folha de papel grosso, dobrada em três partes e lacrada com cera. Durante vários segundos apenas ficou olhando aquilo, perplexa.
– É do Michael – disse Greer.
Ela segurou o papel. Não pesava quase nada – era somente papel –, mas parecia ser muito mais. Parecia uma carta vinda do túmulo. Enxugou o rosto com as costas do pulso.
– O que diz?
– Isso é entre vocês dois. Ele só falou que você não deveria abrir antes de chegarmos à ilha. Ordens dele.
– Então por que está me dando agora?
– Porque acho que você precisa. Ele acreditava em você. Acreditava no Bergensfjord. A situação é o que é; não vou dizer que não. Mas as coisas ainda podem se ajeitar.
Ela hesitou, depois disse:
– Ele me contou como os passageiros morreram. Como eles se mataram, lacrando o navio e canalizando de volta o ar dos tubos de exaustão.
– Não ponha o carro na frente dos bois, Lore.
– Só estou dizendo que ele sabia que era uma possibilidade. Queria que eu estivesse preparada.
– Ainda não chegamos lá. Muitas coisas podem acontecer nesse meio-tempo.
– Eu gostaria de ter a sua fé.
– Sinta-se livre para usar a minha. Ou a do Michael. Deus sabe que eu peguei a dele emprestada um monte de vezes. Todos fizemos isso. Nenhum de nós estaria aqui se não fosse assim.
Um breve silêncio passou.
– Cansado? – perguntou Lore.
As pálpebras de Greer estavam pesadas.
– Um pouco, sim.
Ela pôs a mão no braço dele.
– Apenas descanse, está bem? Volto mais tarde.
Ela se levantou e seguiu até a porta.
– Lore?
Lore se virou; Greer estava olhando para o teto.
– Mil anos – disse. – Esse é o tempo.
Lore esperou mais, porém não veio nada. Por fim disse:
– Não entendo.
Greer engoliu em seco.
– Se Amy e os outros fracassarem. É o tempo até que alguém possa voltar.
Ele respirou fundo e deixou o ar sair lentamente, fechando os olhos.
– Só estou dizendo isso porque talvez eu não esteja por aí mais tarde para falar.
Ela saiu para o corredor e foi até a casa do leme, onde se sentou junto à mesa de mapas. O céu do outro lado da vidraça mostrava a noite chegando. Uma massa de nuvens, densa e texturizada como chumaços de algodão, tinha vindo do sul. Talvez eles tivessem sorte e recebessem alguma chuva. Ela olhou o sol mergulhando no horizonte, incendiando o céu com sua última luz. Um cansaço súbito a envolveu. Coitado do Lucius, pensou. Coitados todos. O mundo poderia continuar sem ela por um tempo, decidiu. Pousou a cabeça na mesa, aninhando-a com os braços, e logo dormia a sono solto.
Sonhou com muitas coisas. Num sonho ela era menina outra vez, perdida numa floresta; em outro estava trancada dentro de um armário. Carregava um objeto pesado e desconhecido e não conseguia largá-lo. Esses sonhos não eram desagradáveis, mas também não eram pesadelos. Cada um se desdobrava no outro, sem emendas, privando-os do sentido completo – nenhum clímax era alcançado, nenhum momento mortal de terror –, e, como acontecia às vezes, ela também tinha consciência de que estava sonhando, de que a paisagem que habitava era inofensivamente simbólica.
O último sonho da 39a noite de Lore no mar nem foi um sonho. Ela estava num campo. Tudo estava silencioso, mas ela sabia que um perigo se aproximava. A cor do ar começou a mudar, primeiro para amarelo, depois para verde. Os pelos dos seus braços e da nuca se eriçaram, como se com uma carga estática. Ao mesmo tempo, um vento forte soprava ao redor. Virou o rosto para o céu. Nuvens negras e prateadas tinham começado a formar um redemoinho lá em cima. Com uma explosão forte e um cheiro cortante de ozônio, um raio desceu em zigue-zague até o chão à sua frente, cegando-a.
Partiu correndo. A chuva começou a cair forte enquanto, lá em cima, as furiosas nuvens em redemoinho se condensavam num cone em forma de dedo. O chão tremia, trovões espocavam, árvores irrompiam em chamas. A tempestade a estava dominando. Iria varrê-la para o esquecimento. Quando o dedo tocou no chão atrás dela, o ar foi rasgado por um rugido animal, ensurdecedor. Sua força a agarrou como um punho; de repente o chão havia sumido. Uma voz distante chamava seu nome. Ela estava sendo levantada, estava subindo cada vez mais alto, estava sendo arrancada da face da Terra...
– Lore, acorde!
Sua cabeça se ergueu bruscamente da mesa. Rand a estava encarando. Por que ele estava tão molhado? E por que tudo estava se mexendo?
– Que diabo você está fazendo? – rosnou Rand.
A chuva e a água do mar batiam na vidraça.
– Estamos numa encrenca de verdade.
Enquanto ela tentava se levantar da bancada, o convés tombou de lado. A porta se abriu com um estrondo. Chuva e vento entraram na casa do leme. Outro gemido vindo do fundo do casco fez o convés adernar na direção oposta. Lore foi cambaleando, escorregando por ele até bater na antepara. Por um momento pareceu que continuariam em frente, mas então o movimento se reverteu. Agarrando a borda da mesa para se equilibrar, ela lutou, levantando-se.
– Quando isso começou, porra?
Rand estava segurando a borda da cadeira do piloto.
– Há uns trinta minutos. Simplesmente veio de lugar nenhum.
Estavam recebendo as ondas no costado. Os raios espocavam, o céu se sacudia. Ondas enormes estouravam por cima da amurada.
– Desça e ligue os motores – ordenou ela.
– Isso vai gastar o resto do combustível.
– Não temos escolha.
Ela se prendeu na cadeira do piloto. A água chacoalhava no chão.
– Sem o controle de leme isso vai nos despedaçar. Só espero termos o suficiente para sair dessa. Vamos precisar de todo o empuxo que tivermos.
Enquanto Rand saía, Caleb surgiu da tempestade. Seu rosto estava branco como o de um fantasma. Lore não sabia se era de terror ou enjoo.
– Todo mundo está embaixo? – perguntou ela.
– Está brincando? Aquilo lá parece um campeonato de gritos.
Ela apertou as tiras do cinto.
– Isso vai ser difícil, Caleb. Precisamos lacrar cada escotilha. Diga às pessoas para se amarrarem como puderem.
Ele assentiu, sério, e se virou para ir.
– E feche a porra dessa porta!
O navio adernou no próximo cavado entre as ondas, inclinando-se num ângulo perigoso antes de tombar para o outro lado. Com praticamente todo o combustível esgotado, não tinham lastro. Não seria necessária muita coisa para virá-los. Ela olhou o relógio: eram cinco e meia. Logo iria amanhecer.
– Maldição, Rand – murmurou. – Anda, anda...
Os manômetros saltaram. A energia fluiu pelo painel. Lore ajustou o leme, segurou o controle de aceleração e o acionou ao máximo. A bússola estava girando como um pião. Com uma lentidão insuportável, a proa começou a virar na direção do vento.
– Ande, garota!
A proa cortou uma onda e se sustentou, mergulhando no cavado seguinte como se descesse uma montanha. Água espirrou por cima do convés. Por um segundo a frente do navio ficou quase totalmente submersa. Depois subiu, o casco empinando como um grande animal acordando.
– É isso! – gritou Lore. – Faça isso pela mamãe!
E partiu para a escuridão uivante.
A tempestade os fustigou durante doze horas inteiras. Muitas vezes, quando ondas gigantes passaram por cima da proa, Lore acreditou que o fim havia chegado. A cada vez o convés de proa mergulhava no abismo; a cada vez subia de novo.
A tempestade não se esvaiu; simplesmente parou. Num segundo o vento uivava e a chuva golpeava no outro tudo havia acabado. Era como se tivessem simplesmente passado de uma sala para outra, uma feita de violência, a outra de calma quase perfeita. Com cãibras nas mãos, Lore soltou os cintos que a prendiam à poltrona. Não tinha ideia do que acontecia sob o convés, e no momento isso não a preocupava muito. Estava cansada, com sede e precisando tremendamente mijar. Agachou-se sobre o penico que mantinha na casa do leme e depois saiu para jogar o conteúdo no mar.
As nuvens tinham começado a se partir. Ela ficou um momento junto à amurada, olhando o céu da tarde. Não tinha ideia de onde estavam; não pudera ler a bússola desde o início da tempestade. Tinham sobrevivido, mas a que custo? O combustível estava quase acabado. Sob a proa do Bergensfjord as hélices faziam um barulho suave, levando-os pelo mar imóvel.
Rand emergiu da escotilha principal e subiu a escada até ela. Ocupou um lugar ao seu lado junto ao corrimão.
– Devo admitir que está bonito aqui fora – disse ele. – Engraçado como fica assim depois de uma tempestade.
– Como está a situação lá embaixo?
Os ombros dele estavam descaídos, os olhos com escuras olheiras de fadiga. Um pouco de alguma coisa, talvez vômito, estava grudado em sua barba.
– As bombas do porão estão funcionando, deve ficar seco logo. É preciso dar crédito a Michael, o cara sabia construir um barco.
– Algum ferido?
Rand deu de ombros.
– Alguns ossos quebrados, ouvi dizer. Alguns cortes e arranhões. Sara está cuidando disso. Por sorte ninguém vai querer comer durante uma semana, já que estamos tão mal de comida. O cheiro lá embaixo está bem ruim.
Ele a encarou por um momento, depois disse com cautela:
– Quer que eu desligue os motores? Você é que manda.
Ela pensou na pergunta.
– Daqui a um minuto – disse.
Durante um tempo ficaram juntos sem conversar, olhando o sol descer no lado de estibordo. As últimas nuvens iam se separando, iluminadas de dentro por uma luz púrpura. Uma área do mar perto da proa a bombordo tinha começado a se agitar, com peixes se alimentando perto da superfície. Enquanto Lore olhava, um grande pássaro com asas de pontas pretas e cabeça amarelada voou baixo, perto da superfície, baixou o bico – um movimento rápido –, pegou um peixe, jogou-o para dentro da goela e começou a subir para longe.
– Rand. Aquilo é um pássaro.
– Eu sei. Já vi pássaros antes.
– Não no meio do oceano.
Entrou correndo na casa do leme e voltou com o binóculo. Sua pulsação estava disparada, o coração na boca. Encostou as lentes nos olhos e examinou o horizonte.
– Alguma coisa?
Ela levantou uma das mãos.
– Quieto.
Fez um círculo vagaroso. Quando estava virada para o sul, parou.
– Lore, o que você está vendo?
Ela segurou a imagem nas lentes por mais alguns segundos, para ter certeza. Diabos, pensou. Baixou o binóculo.
– Traga o Greer aqui para cima – disse.
Quando puderam trazê-lo ao convés, a escuridão estava baixando. Lucius não parecia sentir dor; essa parte havia passado. Seus olhos estavam fechados. Ele já não devia saber onde estava nem o que acontecia. Sob a supervisão de Sara, Caleb e Hollis atuaram como maqueiros. Outros tinham se reunido em volta. A notícia havia se espalhado pelo navio. Pim estava lá, com Theo e as meninas. Jenny e Hannah. Jock e Grace, segurando o filhinho. Os tripulantes, cansados depois da longa batalha contra a tempestade. Todos ficaram de lado enquanto a maca passava.
Carregaram-no para a proa e baixaram a maca. Lore se agachou ao lado dele e envolveu uma de suas mãos com os dedos. A pele dele estava fria e seca, frouxa nos ossos.
– Lucius, é a Lore.
Do fundo da garganta dele, um gemido fraco.
– Tenho uma coisa para mostrar. Uma coisa maravilhosa.
Passou a palma da mão esquerda por baixo do pescoço dele e inclinou seu rosto para a frente, na direção da proa.
– Abra os olhos – disse.
As pálpebras dele se separaram, formando fendas finíssimas, depois um pouco mais. Era como se ele estivesse usando o resto das forças para realizar esse ato minúsculo. Todos permaneciam em silêncio, esperando. Agora a ilha estava bem à vista, bem à frente: uma única montanha, de um verde luxuriante, erguendo-se do mar, e, acima dela, uma cruz formada por cinco estrelas brilhantes, atravessando o crepúsculo.
– Está vendo? – sussurrou ela.
A respiração no peito dele mal era uma presença; a morte estava no seu rosto. Um longo momento se passou enquanto ele lutava para focalizar. Por fim, um sorriso levíssimo curvou seus lábios.
– É... lindo – disse Greer.
OITENTA E SEIS
Lucius Greer viveu mais três dias, assim merecendo a distinção de ser o primeiro colono da ilha, ainda sem nome, a morrer em seu solo. Não falou mais nenhuma palavra. Não era possível afirmar que tivesse recobrado de todo a consciência. Mas às vezes, enquanto Sara ou um dos outros cuidava dele, o sorriso reaparecia, como se viesse de um sonho feliz.
Enterraram-no numa clareira cercada por palmeiras altas com vista para o mar. Afora os homens que tinham trabalhado no navio, poucas pessoas o conheciam ou ao menos sabiam quem ele era, menos ainda as crianças – que tinham apenas ouvido vagos boatos sobre um homem que estava morrendo numa cabine e que permaneceram brincando ruidosamente durante toda a cerimônia. Ninguém se incomodou; aquilo parecia adequado. Lore foi a primeira a falar, seguida por Rand e Sara. Tinham decidido antecipadamente que cada um contaria uma história. Lore falou da amizade dele com Michael; Rand, das narrativas que Greer havia lhe contado sobre a vida com os Expedicionários; Sara, sobre o dia em que tinha conhecido Greer, tantos anos antes, no Colorado, e tudo o que havia acontecido lá. Ao final dos discursos, formaram uma fila de modo que cada um pudesse colocar uma pedra na sepultura, que tinha um marco simples feito por Lore com pedaços de madeira lançados pelo mar:
LUCIUS GREER
VISIONÁRIO, SOLDADO, AMIGO
Na manhã seguinte que um pequeno grupo usou dois dos escaleres para voltar ao Bergensfjord, que esperava ancorado a mil metros da praia. Houvera alguma discordância com relação a isso. O navio continha todo tipo de material utilizável, mas Lore foi firme e, como capitã, teve a palavra final: Vamos colocá-lo para descansar definitivamente, disse. Era o que Michael queria.
Na verdade, ela só abriu a carta de Michael depois do segundo dia na ilha, quando começou a suspeitar do que estaria escrito. Não poderia dizer por que suspeitava. Talvez fosse apenas a maneira como sentia o sujeito. Foi sem grande surpresa, apenas com um agradável sentimento de escutar a voz dele, que leu as três frases simples da carta.
Olhe no depósito nº 16 da proa.
Afunde o navio.
Recomece.
Com amor, M
O armário continha um caixote de explosivos, além dos carretéis de cabo e um detonador por rádio. Michael tinha deixado instruções para a distribuição adequada. Caleb e Hollis passaram os cabos pelos corredores enquanto Lore e Rand distribuíam os explosivos pelo casco. Os tanques de combustível, agora quase vazios, estavam cheios de vapores de diesel altamente inflamáveis. Lore ligou os misturadores, abriu as válvulas e pôs a carga final.
Não houve mais discussões sobre o que aconteceria em seguida; o serviço era de Lore. Os homens voltaram aos escaleres. Lore percorreu pela última vez o navio, suas salas e corredores vazios. Pensou em Michael enquanto andava, já que os dois, Michael e o Bergensfjord, eram uma coisa só em sua mente. Estava triste, mas também cheia de gratidão por tudo o que ele havia lhe dado.
Subiu ao convés e foi para a popa. O detonador era uma pequena caixa metálica operada por uma chave. Ela tirou a chave, que usava numa corrente pendurada no pescoço, e a inseriu cuidadosamente na fenda. Rand e os outros esperavam embaixo, nos barcos.
– Adeus, Michael.
Virou a chave e correu para a popa. Abaixo, as explosões rasgavam o casco, indo na direção dos tanques de combustível. Chegou correndo à amurada de popa, deu três passos longos e saltou.
Lore DeVeer, capitã do Bergensfjord, voando.
Entrou na água num movimento limpo, praticamente sem provocar espirros. Ao redor surgiu um lindo mundo azul. Ela se virou de costas e olhou para cima. Alguns segundos se passaram. Depois, um clarão iluminou a superfície. A água se sacudiu com um estrondo abafado.
Emergiu a poucos metros dos barcos. Atrás, o Bergensfjord estava em chamas, uma enorme nuvem de fumaça negra subindo para o céu. Caleb a ajudou a subir.
– Foi um belo mergulho – disse ele.
Ela se sentou no banco. O Bergensfjord estava afundando pela popa. Quando a proa subiu acima d’água, expondo o enorme nariz bulboso, gritos soaram na praia: as crianças, empolgadas com o espetáculo maravilhoso, comemoravam. Quando o casco chegou a um ângulo de 45 graus, o navio começou a deslizar para trás, acelerando com velocidade espantosa. Lore fechou os olhos. Não queria testemunhar o momento final. Quando os abriu, o Bergensfjord tinha sumido.
Remaram de volta para a praia. Enquanto se aproximavam, Sara veio correndo pela areia, a fim de encontrá-los.
– Caleb, acho melhor você vir – disse ela.
A bolsa de Pim tinha estourado. Caleb encontrou a esposa embaixo de uma lona pendurada entre árvores, num dos colchões finos tirados do Bergensfjord. Seu rosto estava calmo, mas úmido no calor tropical. Nas últimas semanas seu cabelo tinha ficado incomparavelmente denso, a cor se aprofundando para um castanho intenso que chamejava vermelho ao sol.
Oi, sinalizou ele.
Oi, você. Depois, com um sorriso. Você deveria ver a sua cara. Não se preocupe, num instantinho isso acaba.
Ele olhou para Sara.
– Como ela está de verdade?
Estava fazendo os sinais ao mesmo tempo; sem segredos. Agora, não.
– Não vejo nenhum problema. Ela só está um pouquinho adiantada. E é verdade: no segundo parto as coisas costumam andar mais depressa.
O nascimento de Theo tinha demorado uma eternidade, quase vinte horas desde a primeira contração até a última. Isso praticamente esmagara Caleb de tanta preocupação, se bem que, menos de um minuto depois de Theo sair para o ar, Pim era toda sorrisos, exigindo segurá-lo.
– Apenas fique por aí – disse Sara. – Hollis pode cuidar do Theo e das meninas.
Dava para ver que havia alguma coisa que ela não estava dizendo. Ele se afastou e Sara foi atrás.
– Desembuche – disse ele.
– Bom. O negócio é que estou ouvindo dois batimentos cardíacos.
– Dois – repetiu ele.
– Gêmeos, Caleb.
Ele a encarou.
– E você só soube agora?
– Às vezes isso acontece.
Ela o segurou pelo braço.
– Pim é forte, já fez isso antes.
– Não com dois.
– Não é muito diferente, até o final.
– Santo Deus. Como vou saber quem é quem?
Preocupação idiota, mas foi a primeira que surgiu na sua mente.
– Você vai dar um jeito. Além disso, eles podem não ser idênticos.
– Verdade? Como é isso?
Ela deu um riso despreocupado.
– Você não sabe absolutamente nada sobre isso, não é?
O estômago dele se revirou de tanta ansiedade.
– Acho que não.
– Apenas fique com ela. As contrações ainda estão espaçadas, não há nada para eu fazer por enquanto. Hollis vai manter as crianças entretidas.
Ela lhe deu um olhar maternal.
– Está bem?
Caleb assentiu. Sentia-se totalmente assoberbado.
– É isso aí, garoto.
Ele a observou indo pela praia e voltou ao abrigo. Pim estava fazendo anotações em seu caderno. Era um caderno que ele não tinha visto antes, lindamente encadernado em couro. Havia um tinteiro na areia ao lado, além de uma pilha de livros trazidos por Hollis. Pim levantou os olhos e fechou o diário com um estalo fraco, enquanto Caleb se sentava na areia.
Ela contou a você.
É.
Pim também estava rindo para ele, à beira de uma gargalhada. Caleb se sentia como se tivesse entrado no salão errado de uma festa, onde todo mundo conhecia todo mundo e ele não conhecia ninguém.
Relaxe, sinalizou ela. Não é grande coisa.
Como você sabe?
As mulheres sabem. Ela respirou fundo, o rosto franzindo de dor. Caleb viu nos olhos dela; a atitude tranquila era um disfarce. Sua mulher estava se fortalecendo para o que viria. Hora a hora, iria se afastar cada vez mais dele, indo para o lugar de onde vinha toda a sua força.
Pim? Tudo bem?
Alguns segundos se passaram. O rosto de Pim relaxou enquanto ela soltava uma respiração longa. Ela inclinou o rosto para a pilha de livros.
Pode ler para mim?
Ele pegou o primeiro volume da pilha. Nunca fora muito de ler. Achava tedioso, por mais que seu sogro o tentasse persuadir do contrário. Pelo menos o título fazia sentido para ele: Guerra e paz. O livro em si era enorme; parecia pesar 5 quilos. Abriu a capa e virou para a primeira página, coberta por letras desanimadoramente pequenas, como uma parede de tinta.
Tem certeza?, sinalizou.
Os olhos de Pim estavam brilhando, as mãos cruzadas em cima da barriga. Sim, por favor. É um dos prediletos do meu pai. Venho querendo ler há séculos.
Cheio de pavor, e ao mesmo tempo ansioso para agradá-la, Caleb sentou-se na areia, equilibrou o livro no colo e começou a sinalizar:
Bom, príncipe, agora Gênova e Luca não passam de propriedades da família Bonaparte. Não, alerto que se não me disser que entraremos em guerra, se de novo se permitir mitigar todas as infâmias e atrocidades desse Anticristo (juro que acredito que ele é), não mais o reconhecerei. Já não será o meu amigo, meu fiel escravo, como diz.
E assim por diante. Caleb estava totalmente pasmo. Nada parecia estar acontecendo, apenas conversas obscuras que não iam a lugar nenhum, cheias de referências a lugares e personagens que ele não conseguia acompanhar, nem mesmo um pouquinho. A linguagem de sinais era laboriosa; muitas palavras ele não conhecia e precisava soletrar. Mas Pim parecia estar gostando. Em instantes imprevistos ela soltava pequenos suspiros de prazer ou seus olhos se arregalavam de ansiedade, ou sorria do que Caleb supunha que fosse o equivalente de uma piada, no livro. Não se passou muito tempo até que suas mãos estavam exaustas. As contrações de Pim continuaram, os intervalos diminuindo com o tempo e as durações aumentando. Quando isso acontecia, Caleb parava de ler, esperando que a dor terminasse. Pim assentia dizendo que havia acabado, e ele recomeçava a ler.
As horas se moviam. Sara os visitava a intervalos regulares, medindo a pulsação de Pim, tocando sua barriga aqui e ali, informando que tudo ia bem, as coisas correndo normalmente. Sobre Guerra e paz ela apenas observou, com as sobrancelhas levantadas:
– Boa sorte.
Outros vieram: Lore e Rand, Jenny e Hannah, além de várias pessoas com quem Pim tinha feito amizade no navio. No meio da tarde Hollis trouxe Theo e as meninas. O menino não poderia ter se importado menos, sentado no chão ao lado da mãe e tentando encher a boca com areia, mas para as meninas o nascimento de um primo era uma empolgação longamente esperada, como um presente a ser aberto. Nas semanas no navio, tendo pouca coisa com que se divertir, Elle tinha melhorado o domínio da linguagem de sinais. Não estava mais limitada às expressões mais elementares. Conversava com Pim sem perceber o desconforto da outra, mas Pim não parecia se importar. Ou, caso se importasse, conseguia não deixar isso evidente.
– Certo – disse Hollis por fim, batendo palmas –, sua tia precisa descansar. Vamos procurar conchas, está bem?
As meninas reclamaram, mas foram, com Theo montado no quadril do avô. O olhar de Pim os acompanhou.
Ela é tão parecida com Kate, suspirou.
Qual delas?
Pim fez uma pausa.
As duas.
A tarde se esvaiu. Caleb tinha percebido certa energia voltada para a tenda, vinda de várias direções. A notícia havia corrido: um bebê ia nascer. Até que Pim pediu que ele parasse com a leitura.
Vamos deixar o resto para mais tarde, disse, dando a entender: nada além de ter um bebê vai acontecer tão cedo. As contrações se intensificaram, longas e profundas. Caleb mandou chamar Sara. Um exame rápido e ela o encarou.
– Vá lavar as mãos. Vamos precisar de algumas toalhas limpas, também.
Jenny tinha esquentado uma panela d’água. Caleb obedeceu à instrução de Sara e voltou à tenda. Pim tinha começado a fazer um tremendo barulho. Os sons que ela fazia eram diferentes dos das outras pessoas. Havia algo mais cru, quase animalesco. Sara levantou a saia de Pim e pôs uma das toalhas sob sua pelve.
Pronta para empurrar?
Pim confirmou com a cabeça.
– Caleb, sente-se ao lado dela. Preciso que você traduza o que eu digo.
A próxima contração a dominou. Pim fechou os olhos com força, levantando os joelhos e levando o queixo na direção do peito.
– É isso – disse Sara. – Continue.
Mais alguns segundos, torturantes para Caleb, e então Pim relaxou, ofegando, a cabeça tombando de volta na areia. Caleb esperou alguma folga, mas praticamente não houve nenhum tempo antes da contração seguinte. A tarde longa e tranquila tinha se transformado numa batalha. Caleb segurou uma das mãos da mulher e começou a escrever na palma.
Eu te amo. Você consegue.
– Vamos lá – disse Sara.
Pim se contorceu e fez força. Sara tinha posto as mãos embaixo da pelve dela, com as palmas abertas, como se fosse pegar uma bola. Uma calota redonda, coberta de cabelos escuros, apareceu e voltou para dentro, depois emergiu de novo. Pim estava bufando rapidamente entre os lábios franzidos.
– Mais uma vez – disse Sara.
Caleb sinalizou as palavras, mas Pim não notou. Não importava; agora seu corpo estava no controle – ela apenas seguia as ordens. Agarrou o braço de Caleb para se equilibrar, ergueu-se e cravou os dedos na carne dele, enquanto cada parte de seu corpo se comprimia.
A cabeça apareceu de novo, depois os ombros. Com um som de algo que escorrega, o bebê deslizou livre nas mãos de Sara. Uma menina. Era uma menina. Sara a entregou a Jenny, que estava ajoelhada ao lado. Jenny cortou rapidamente o cordão umbilical e equilibrou o bebê no antebraço. Segurando o rosto na mão em concha, começou a esfregar as costas minúsculas, azuladas, com um movimento gentil, circular. O ar no abrigo tinha um cheiro enfumaçado, além de algo doce, quase floral.
O bebê fez um som pequeno e úmido, como um espirro.
– Moleza – observou Jenny com um sorriso.
– Não terminamos, Caleb – disse Sara. – O próximo é seu.
– Está brincando.
– Você precisa merecer o salário neste lugar. Imite a Jenny.
Pim se balançou para a frente de novo. O último esforço pareceu menor; o caminho tinha sido liberado. Uma única tensão sustentada e a segunda criança chegou.
Um menino.
Sara o entregou a Caleb. O cordão umbilical, uma corda reluzente cheia de veias, ainda estava preso. O menino era quente contra a pele de Caleb, a cor opaca, quase cinza. A leveza do corpo era estupenda. Como era espantoso que uma pessoa pudesse crescer a partir daquela coisa pequena, que não somente pessoas, mas cada criatura viva na Terra tivesse começado assim. Caleb se sentiu varrido para um milagre. Algo macio e molhado enchia a palma da sua mão. O peito do bebê se expandiu com o ar entrando.
Uma vida os havia deixado. Agora duas tinham chegado. Pim, com o rosto vítreo de alívio, já estava segurando a filha. Sara cortou o cordão, lavou o menininho com um pano úmido, enrolou-o num cobertor e o devolveu a Caleb. Um desejo imprevisto o dominou: como desejava que o pai estivesse ali! Durante semanas tinha mantido esse sentimento a distância. Segurando o filho no colo, não suportou mais.
Lágrimas se derramaram dos seus olhos.
OITENTA E SETE
Chamaram a menina de Kate. O menino era Peter.
Dois meses tinham se passado. Rapidamente, a alegria da chegada dos colonos foi posta de lado enquanto todos se voltavam para as preocupações de tornar a ilha um lar. Grupos de caça foram organizados, comida foi coletada, redes de pesca colocadas, cipós cortados e árvores derrubadas para a construção de abrigos. A ilha parecia ansiosa para satisfazer suas necessidades. Muitas coisas eram novas. Bananas. Cocos. Enormes javalis com presas, malignos feito o diabo e com os quais ninguém mexia, mas que, quando apanhados, forneciam uma carne farta. Na selva, a menos de 100 metros da praia, um riacho de montanha, descendo numa cachoeira ofuscante, preenchia uma gruta rochosa com água tão fria e fresca que fazia a cabeça latejar.
Foi Hollis que sugeriu que a primeira estrutura cívica fosse uma escola. Isso parecia sensato. Sem algo para organizar seus dias, as crianças ficariam desregradas feito camundongos. Ele escolheu um local, organizou uma equipe e passou a trabalhar. Quando, por acaso, Caleb mencionou que tinham poucos livros, o grandalhão gargalhou.
– Parece que estamos recomeçando em mais de um sentido – disse. – Acho que precisaremos escrever alguns.
Não demorou muito para que as lembranças da vida antiga ficassem para trás. Talvez isso fosse o mais incrível. Tudo era novo: os alimentos que comiam, o ar que respiravam e o som do vento nas folhas das palmeiras, o ritmo dos dias. Era como se uma lâmina tivesse caído sobre suas vidas, dividindo-a num tempo antes e um tempo depois. Fantasmas estavam sempre com eles: as pessoas que eles tinham perdido. Mas em toda parte, na praia e na selva, sempre havia o som de crianças.
O manto da liderança tinha pousado naturalmente em Lore. A princípio ela relutou: O que eu sei sobre comandar uma cidade? Mas o precedente tinha sido estabelecido. O fato de ter sido capitã era difícil de ser posto de lado na mente das pessoas, e ela tinha o respeito não somente da tripulação, que tinha servido sob seu comando, como também o das pessoas que havia trazido em segurança ao litoral. Uma votação foi feita. Apesar de suas objeções, que tinham passado a parecer não muito entusiasmadas, ela foi eleita por aclamação. Houve algumas discussões quanto a qual seria seu título; ela optou por “prefeita”. Organizou uma espécie de gabinete: Sara cuidaria de todas as questões médicas; Jenny e Hollis supervisionariam a escola; Rand e Caleb supervisionariam a construção de todas as estruturas residenciais; Jock, que acabara por se mostrar um excelente arqueiro, organizaria as equipes de caça; e assim por diante.
Ainda precisavam investigar boa parte da ilha, que era muito maior do que parecera originalmente. Foi decidido que duas equipes de exploradores seriam enviadas, circulando a montanha em direções opostas. Rand comandou uma equipe, Caleb a outra. Voltaram uma semana depois, informando que a ilha, em vez de isolada, era a ponta sul do que parecia ser uma cadeia de ilhas. Outras duas eram visíveis a partir dos altos penhascos do lado norte, com uma terceira, talvez, espreitando a distância. Também não tinham encontrado sinais de ter sido habitada anteriormente. Isso não significava que esses sinais não existissem. Talvez um dia descobrissem evidências de que pessoas tivessem estado ali antes. Mas por enquanto a qualidade intacta da ilha, seu estado selvagem e sua fartura falavam em tons de solidão.
Era um tempo de esperança. Não sem preocupações; havia muita coisa a fazer. Mas tinham começado.
Durante muitas semanas Pim estivera pensando no que fazer com seu caderno. A obra estava completa, as palavras polidas. Claro, a história que ele contava ia apenas até certo ponto. O fim era desconhecido. Mas tinha feito todo o possível.
A decisão de enterrá-lo, ou de escondê-lo de algum modo, chegara aos poucos e com alguma surpresa. Durante um longo tempo tinha imaginado que acabaria por mostrá-lo a outras pessoas. Mas dia a dia vinha crescendo a ideia de que aqueles escritos não eram, na verdade, para quem ainda estava vivo, mas serviam a um objetivo mais grandioso. Atribuiu esta intuição à mesma influência misteriosa que a havia levado a escrever aquelas páginas, e a escrevê-las como tinha feito. Um dia, de manhã cedo, não muito depois de Caleb voltar da exploração da ilha, acordou com um sentimento de grande calma. Caleb e as crianças ainda estavam dormindo. Pim se levantou em silêncio, pegou seu diário e os sapatos e saiu.
Os primeiros raios do alvorecer se arrastavam para cima no horizonte. Logo o povoado acordaria, mas por enquanto Pim estava sozinha na praia. O mundo tinha um jeito de falar com as pessoas, se elas deixassem. O truque era aprender a ouvir. Ficou parada um momento, saboreando o silêncio, ouvindo o que o mundo lhe dizia naquela manhã.
Deu as costas para a água e entrou na selva.
Não tinha destino. Deixaria que os pés a levassem aonde quisessem. Pegou-se caminhando sob uma folhagem densa, mais ou menos paralela à praia, uns 200 metros ilha adentro. Tudo isso tinha sido explorado, claro. O orvalho pingava das folhas. O sol nascente saturava a copa da selva com uma luz verde e quente. O chão ficou irregular, dobrado em cristas pedregosas. Às vezes ela era obrigada a andar de quatro. No topo de uma crista viu, olhando para baixo, uma depressão suave, guardada de três lados por paredes de pedra cobertas de trepadeiras. Gotas de água parecendo joias escorriam pela face da parede mais distante, juntando-se na base, num poço. Ela desceu com cuidado. Algo naquele lugar parecia novo e não descoberto. Dava uma sensação de abrigo. Agachada junto ao poço, encheu as mãos em concha e bebeu. A água era limpa e tinha gosto de pedra.
Levantou-se e examinou o ambiente ao redor. Havia alguma coisa ali, dava para sentir. Uma coisa que ela deveria encontrar.
Enquanto examinava o perímetro rochoso, seu olhar caiu sobre uma zona de sombra dentro da vegetação densa. Foi até lá. Era uma caverna com uma cortina de trepadeiras na abertura. Puxou-as de lado. Era um lugar provável – na verdade era o lugar ideal – para esconder seu diário. Enfiou a mão no bolso do vestido; sim, uma caixa de fósforos, uma das últimas. Riscou um e o estendeu para dentro da boca da caverna. O espaço não era muito grande, mais ou menos como a sala de uma casa. O fósforo queimou até as pontas dos dedos. Ela o apagou com um movimento do pulso, acendeu um segundo e seguiu a luz para dentro.
Imediatamente soube que não tinha entrado meramente numa formação natural, e sim na casa de alguém. O espaço era mobiliado com uma mesa, uma cama grande e duas cadeiras, tudo feito com toras rústicas amarradas com cipós. Outros objetos, de manufatura igualmente primitiva, cobriam o chão: ferramentas simples de pedra, cestos feitos de palha seca, pratos e copos de argila não queimada. Acendeu outro fósforo e se aproximou da cama. Sombras se estendiam à frente, revelando uma forma humana por baixo do cobertor quebradiço. Puxou-o de lado. O corpo, o que restava dele – ossos secos cor de madeira, um redemoinho de cabelos –, estava enrolado de lado, os braços dobrados na altura do peito. Pim não sabia discernir se era homem ou mulher. Riscadas na parede ao lado da cama havia uma série de marcas, pequenos traços na pedra. Pim contou 32. Seriam dias? Meses? Anos? A cama era desnecessariamente grande para uma pessoa. Havia duas cadeiras, e não uma. Em algum lugar, provavelmente não longe, estaria a sepultura do outro habitante da caverna.
Pim saiu. O fato de que deveria esconder seu diário naquele lugar lhe era claro: a caverna era um repositório do passado. Mesmo assim, ansiava por saber mais. Quem eram aquelas pessoas? De onde tinham vindo? Como tinham morrido? Parada na beira do poço, podia sentir a presença daquelas vidas silenciadas. Caminhou junto às paredes de pedra. Aos poucos, como se um véu tivesse sido tirado de cima de seus olhos, outros artefatos surgiram. Cacos de cerâmica. Uma colher de pau. Um círculo de pedras onde fora feita uma fogueira. Do outro lado do poço chegou a um emaranhado de arbustos com folhas grossas e lustrosas. Algo espreitava atrás – uma forma curva, avolumando-se no chão.
Era um barco – mais exatamente, um bote salva-vidas. O casco de fibra de vidro, com cerca de 6 metros de comprimento, estava encravado fundo no solo. Trepadeiras se entrelaçavam em cima, deixando-o quase invisível; uma grossa camada de matéria orgânica atapetava o fundo, pequenas plantas brotavam. Por quanto tempo ele estivera ali, afundando lentamente no piso da floresta? Anos, décadas, mais ainda. Andou em volta do casco, procurando pistas. Não conseguiu nada até chegar à popa. Fixada na parte de trás, obscurecida pela vegetação, havia uma placa de madeira – desbotada, quebradiça, meio apodrecida. Letras espectrais estavam gravadas na superfície. Ela se agachou e puxou as trepadeiras de lado.
Durante um tempo não se mexeu, tão profunda era sua perplexidade. Como podia ser? Mas à medida que os minutos passavam, um novo sentimento cresceu por dentro. Lembrou-se da tempestade, do vendaval uivante, levando-os para a ilha quando tudo parecia perdido. Destino era uma palavra pequena demais: havia uma força agindo, que ia muito mais fundo, um fio trançado no tecido de todas as coisas. Depois de mais um tempo ela se levantou e voltou à clareira. Não tinha intenções; estava agindo por instinto. Na beira do poço, ajoelhou-se de novo. Ali, na superfície plácida da água, viu a imagem de seu rosto: um rosto jovem, liso e sem rugas, mas sabia que isso iria mudar. O tempo venceria, como sempre. Seus bebês cresceriam. Ela e todas as pessoas que amava, recuariam, virando lembranças, depois lembranças de lembranças, e finalmente nada. Era um pensamento triste, mas também a deixava feliz de um modo que parecia novo. Esta ilha de refúgio se destinava a ser deles. Tinha esperado por eles o tempo todo, para que a história pudesse recomeçar. Era o que as palavras da placa tinham dito.
Talvez chegasse um tempo em que pareceria correto compartilhar isso com os outros. Nesse dia ela iria levá-los ao bote e mostrar o que tinha descoberto. Mas por enquanto, não. Por enquanto – como seus diários e a história que eles contavam – aquilo seria seu segredo, a mensagem do passado, gravada na popa de um bote salva-vidas apodrecido.
BERGENSFJORD
OSLO, NORUEGA
OITENTA E OITO
Carter prendeu o fôlego o máximo que pôde. Bolhas subiam em volta de seu rosto. Seus pulmões gritavam por ar. O mundo acima parecia estar a quilômetros de distância, mas na verdade eram apenas alguns metros. Por fim, não conseguiu mais suportar. Empurrou-se e partiu para a superfície, explodindo no sol de verão.
– Faça de novo, Anthony!
Haley estava grudada às suas costas. Usava um biquíni cor-de-rosa e óculos azul-cobalto que a faziam parecer um inseto enorme.
– Certo – gargalhou ele. – Só me dê um segundo. Além disso, é a vez de Riley.
A irmã de Haley estava sentada no deque da piscina, com os pés pendurados na água. Seu maiô era verde, com um saiote de babados e uma margarida de plástico aplicada numa alça do ombro; estava usando boias de braço laranja. Carter podia jogá-la na água durante horas sem que ela ficasse entediada.
– De novo! De novo! – exigiu Haley.
Rachel veio do jardim, na direção deles. Usava short e uma camiseta branca suja de terra; na cabeça, um largo chapéu de palha. Numa das mãos enluvadas segurava uma tesoura de poda, na outra um cesto de flores recém-cortadas, de vários tipos e cores.
– Meninas, deixem o Anthony recuperar o fôlego.
– Está tudo bem – disse Carter, agarrado à borda. – Não me incomodo.
– Está vendo? – reagiu Haley. – Ele disse que não se incomoda.
– É porque ele está sendo educado.
Rachel tirou as luvas e as jogou no cesto. Seu rosto brilhava de suor e sol.
– Que tal um lanche?
– O que vai ser? – perguntou Haley.
– Deixe-me pensar – falou Rachel, franzindo a testa de um jeito teatral. – Cachorro-quente?
– Oba! Cachorro-quente!
Rachel abriu um sorriso.
– Acho que está decidido. Cachorro-quente. Quer um, Anthony?
Ele confirmou com a cabeça.
– Adoro cachorro-quente.
Ela voltou à casa. Carter saiu da piscina e pegou toalhas para ele e as meninas.
– Podemos nadar mais? – perguntou Haley, esfregando o cabelo.
Era louro com reflexos de cobre. O de Riley era de um castanho suave, claro, bem comprido. Gostava de usar maria-chiquinha quando nadava.
– Depende do que a sua mãe disser. Talvez depois do lanche.
Ela arregalou os olhos. Era desse jeito, sempre fazendo cena para conseguir o que desejava. Era engraçadíssimo.
– Se você disser que sim, ela também vai ter de dizer.
– Não é assim que funciona, e você sabe. Vamos ver.
Ele espremeu o resto de água do cabelo dela, mandou as duas brincar e se sentou à mesa de ferro fundido para recuperar o fôlego e vigiar. Havia brinquedos por todo o jardim – Barbies, bichos de pelúcia, um conjunto de mesa e cadeiras de plástico multicolorido infantil demais para Haley, mas com o qual ainda gostava de brincar, fingindo que aquilo era outra coisa, como o balcão de uma loja. Haley tinha ido numa direção e a irmã na outra.
– Olha! – gritou Riley. – Achei um sapo!
Estava agachada no caminho perto do portão do jardim.
– É mesmo? – perguntou Carter. – Traga aqui e deixe-me dar uma olhada.
Ela entrou no pátio com as mãos em concha estendidas à frente, a irmã maior acompanhando-a.
– Ora, vejam só que sapinho bonito! – declarou Carter.
A criatura, de um castanho pintalgado, estava respirando rapidamente, com a pele frouxa balançando nas laterais.
– Acho nojento – disse Haley com cara azeda.
– Posso ficar com ele? – perguntou Riley. – O nome dele vai ser Pedro.
– Pedro – repetiu Carter, assentindo devagar. – É um ótimo nome. Mas, claro, talvez ele já tenha nome. É uma coisa a pensar. Talvez já tenha um nome pelo qual ele é conhecido pelos outros sapos.
O rosto da menininha se franziu.
– Mas os sapos não têm nome.
– É? Como é que você sabe? Você fala sapês?
– Isso é bobagem – declarou a menina mais velha, puxando a parte de trás do maiô. – Não escuta o que ele está dizendo, Riley.
Carter se curvou para a frente e levantou um dedo, atraindo a atenção delas para seu rosto.
– Vou contar uma verdade a vocês duas. E é o seguinte: tudo tem nome. É um modo de se conhecer. Essa é uma lição importante na vida.
A menina menor o encarou.
– As árvores?
– Claro – respondeu ele.
– As flores?
– As árvores, as flores, os bichos. Tudo o que vive.
Haley olhou-o com desconfiança.
– Você está inventando isso.
Carter sorriu.
– Nem um pouco. Os adultos sabem das coisas, você vai ver.
– Ainda quero ficar com ele – insistiu Riley.
– Talvez. E tenho certeza de que o Sr. Sapo gostaria um bocado disso. Mas o lugar dos sapos é na grama, com os outros sapos que conhecem ele. Além disso, sua mãe ia ter um ataque se soubesse que eu deixei você ficar com ele.
– Eu te avisei – gemeu Haley.
Carter se recostou na cadeira.
– Vão, agora. Podem brincar um pouco com ele, se quiserem, mas depois disso deixem o sapinho em paz.
Elas se afastaram rapidamente. Carter se levantou para vestir a camisa e sentou-se de novo. O sol estava agradável no rosto, à sombra pintalgada dos carvalhos. De longe, ouvia o som fraco do trânsito. Alguns minutos se passaram antes que Rachel saísse pela porta dos fundos com a bandeja dos prometidos cachorros-quentes. O de Riley tinha ketchup e queijo, o de Haley tinha mostarda; o de Carter tinha as três coisas. Para si mesma Rachel havia feito uma salada. Voltou à cozinha e veio com pratos de papel e um saco de batatas fritas, depois trouxe mais bebidas: leite para as meninas, um jarro de chá para os adultos.
– Riley achou um sapo – observou Carter. – Queria ficar com ele, como um bichinho de estimação.
Rachel colocou os cachorros-quentes em pratos e distribuiu guardanapos.
– Claro. Estou imaginando que você disse não.
Ela se levantou e chamou:
– Meninas, venham lanchar!
Comeram os cachorros-quentes e beberam chá e leite. Depois ganharam picolés de cereja como sobremesa. Quando terminaram, as meninas estavam começando a apagar. Em geral Riley tirava um cochilo depois do lanche. Haley reclamava, mas não era velha demais para cochilar, especialmente depois da manhã que haviam tido, horas e horas brincando na piscina ao sol quente. Com promessas de nadar de novo mais tarde, eles levaram as meninas para dentro de casa, Carter carregando Riley, que já estava meio adormecida. No quarto das meninas, entregou-a a Rachel, que tirou o maiô molhado de Riley, vestiu uma camiseta e calcinha na filha e a enfiou na cama. Haley já estava embaixo das cobertas.
– Agora quero que vocês duas durmam – disse Rachel junto à porta. – Nada de ficar brincando.
Em seguida fechou a porta com um estalo baixinho.
– Pensando bem – disse –, eu também gostaria de tirar um cochilo.
Carter assentiu.
– Eu estava pensando a mesma coisa. As meninas praticamente acabaram comigo.
No quarto, trocou a roupa de banho por um short velho do qual gostava, macio depois de ser lavado, e se deitou em cima do edredom. Rachel veio para seu lado. Ele passou o braço em volta dela e puxou-a para perto. O cabelo dela tinha um cheiro limpo, doce, que ele adorava. Era praticamente a melhor coisa que existia.
– Sabe – disse ela baixinho –, eu andei pensando.
– O quê?
Ela se aninhou em seu peito.
– Como essa manhã foi maravilhosa. O jardim estava tão lindo!
Carter a puxou com mais força, dando a entender que pensava a mesma coisa.
– Eu poderia fazer isso para sempre – disse ela.
Para sempre era o que eles tinham. Logo a respiração dela se estabilizou, longa e suave, como ondas numa praia calma. O ritmo o colocou numa correnteza tranquila, levando-o com ela.
Que felicidade!, pensou Carter, e fechou os olhos. Que felicidade, enfim!
OITENTA E NOVE
Ela havia escolhido um lugar à vista do rio. Ali a terra era mais mole, mas esse não era o único motivo. À medida que o alvorecer rompia a linha das montanhas, Amy começou a cavar. O rio estava baixo, como sempre acontecia no verão; a névoa flutuava sobre a água como fumaça. Primeiro cavou ao som dos pássaros, depois, à medida que o calor aumentava, no silêncio que se espalhava sobre a terra.
Parando de vez em quando para respirar, terminou ao meio-dia. Na beira do rio molhou o rosto e juntou as mãos em concha, para beber. Estava suando profusamente no calor. Durante um tempo sentou-se numa pedra para se recuperar, com a pá encostada no barranco, acima dela. Nos baixios detectava as formas das trutas, enfiadas atrás de pedras. Protegidas da correnteza, mantinham-se no lugar com pequenos movimentos das caudas, à espera dos insetos que desciam a corrente até suas bocas abertas.
O corpo estava enrolado num cobertor. Amy usou um estrado de madeira e cordas passadas por um galho forte de árvore para baixá-lo. Seus pensamentos estavam organizados e calmos; tivera anos para se preparar para esse momento. Mas junto com os primeiros torrões de terra caindo em cima da mortalha experimentou um jorro de emoção, um transbordar de sentimento para o qual não tinha nome. Pareciam muitas coisas ao mesmo tempo; não vinham de sua mente, e sim de um lugar mais profundo, quase físico. Lágrimas se misturavam com o suor escorrendo pelo rosto. Uma pá de terra de cada vez, e o corpo desapareceu, tornando-se uno com a terra.
Compactou a superfície e se ajoelhou junto à sepultura. Não colocaria nenhum marco: o memorial adequado seria feito no devido tempo. Talvez uma hora tivesse se passado. Ela não tinha noção do tempo, nem precisava. Seu coração estava pesado e cheio. Enquanto o sol tocava a linha das montanhas, encostou a palma da mão sobre a terra recém-revirada.
– Adeus, meu amor.
Peter tinha morrido numa tarde de verão – como havia acreditado que morreria, durante muito tempo. Quatro noites antes, não tinha voltado para casa. Isso já havia acontecido outras vezes, quando suas perambulações o levavam longe demais para retornar antes das primeiras luzes. Mas quando ele não apareceu na noite seguinte, Amy foi procurá-lo. Encontrou-o enrolado sob uma laje de pedra no lado leste da região montanhosa, o corpo apertado contra as pedras. Só estava parcialmente consciente. A respiração era rápida e superficial, a pele estava pálida, as mãos secas e frias. Ela o enrolou num cobertor e o pegou no colo. A leveza do corpo a estarreceu. Carregou-o de volta para casa e subiu para o quarto no andar de cima. Já havia fechado os postigos. Colocou-o na cama e se deitou a seu lado, abraçando-o enquanto ele dormia, e na manhã seguinte sentiu algo, uma presença. A morte havia entrado na casa. Ele não parecia sentir dor, só uma espécie de desvanecimento. Não recuperou a consciência do ambiente, ou pelo menos assim pareceu. As horas se passaram. Ela não o deixava, nem por um momento. Ao meio-dia a respiração ficou mais lenta, até se tornar quase imperceptível. Amy esperou. Chegou um momento em que percebeu que ele havia partido.
Agora, com a tarefa completada, voltou à casa e fez um jantar simples. Arrumou a cozinha e guardou os pratos. O silêncio da eternidade havia se assentado sobre os cômodos. A escuridão chegou. As estrelas giravam acima da terra silenciosa. Amy tinha preparativos a fazer, mas eles poderiam esperar até de manhã. Não queria subir para o andar de cima – esses dias estavam terminados. Deitou-se no sofá, enrolou-se embaixo de um cobertor e logo estava dormindo.
O brilho suave do amanhecer nas janelas a despertou. Parada na varanda, avaliou o dia, depois voltou à casa para preparar os suprimentos. Tinha confeccionado uma mochila simples, com armação de madeira, para carregar às costas. Ali iam as coisas para a viagem: um cobertor, algumas ferramentas, roupas extras, comida para alguns dias, um prato e um copo, uma lona, um rolo de corda, uma faca afiada, garrafas d’água. O que não tinha ou não pudera prever poderia encontrar no caminho. No andar de cima tomou banho e se vestiu. No espelho sobre a penteadeira viu seu rosto. Também tinha envelhecido. Poderia ser uma mulher de 40 anos, talvez 45. Fios grisalhos, quase brancos, se entremeavam no cabelo comprido. Rugas finas se abriam em leques nos cantos dos olhos; os lábios tinham afinado e empalidecido, ficando quase sem cor. Quanto tempo iria se passar até que esse rosto, o rosto dela, fosse observado por outra alma viva? Será que isso aconteceria? Ou será que ela sairia do mundo sem ser vista?
Na sala, sentou-se ao piano. A existência dele não era algo que ela pudesse explicar. Quando tinha chegado com Peter na fazenda, tantos anos atrás, o piano esperava, um presente do além. Toda noite Amy tocava; a música era a força que atraía Peter para casa. Agora, pondo as mãos sobre as teclas, esperou que algo lhe viesse. Começou com um acorde baixo, deixando que as mãos dissessem aonde ir. Notas luminosas encheram a casa. Nas frases da música estava tudo o que ela sentia. Passava através dela em ondas, subindo e descendo, circulando e voltando, uma linguagem de pura emoção. Nunca me canso disso, era o que Peter sempre dizia. Ficava parado atrás dela, pondo as mãos em seus ombros com o toque mais suave, para sentir a música como ela, como uma força que fluía de dentro. Eu poderia ouvir você tocar para sempre, Amy.
Toda canção é uma canção de amor, pensou ela. Toda canção é para você.
Chegou ao fim. Suas mãos pararam sobre o teclado. As últimas notas pairaram, se esvaíram e se foram. Portanto, era o momento de ir embora. Um nó havia se alojado em sua garganta. Olhou a sala uma última vez. Era só uma sala, como qualquer outra – móveis simples, uma lareira enegrecida pelo uso, velas nas mesas, livros –, mas significava tanto mais. Significava tudo. Ali eles tinham vivido.
Levantou-se, pegou a mochila e saiu pela porta sem olhar para trás.
Chegou à Califórnia no outono. Primeiro os desertos calcinados pelo sol, depois montanhas emergiram da névoa, com as grandes corcovas azuis erguendo-se acima do vale árido. Mais dois dias vendo-as e começou a subir. A temperatura baixou; florestas verdes e frescas esperavam lá em cima. Atrás dela os vales e as montanhas do alto Mojave ondulavam na névoa. O vento era feroz e seco em seu rosto.
Até que o muro da Colônia apareceu. Ainda era alto em alguns lugares, em outros tinha desmoronado, com barreiras de vegetação aparecendo no meio do entulho. Amy passou por cima dos destroços e foi até o centro da cidade. Grandes árvores estavam onde antes nada crescia. A maior parte das construções tinha sumido, desmoronando sobre os alicerces. Mas um punhado das maiores permanecia. Chegou à estrutura que fora conhecida como Abrigo. O teto havia caído; o prédio era uma casca. Subiu os degraus da frente para olhar através de uma janela que, milagrosamente, permanecera intacta. Estava coberta de sujeira. Usou um pano úmido para limpar um círculo e protegeu os olhos para olhar pelo vidro. Aberto ao céu, o interior tinha virado uma floresta.
Demorou algum tempo para se orientar, mas finalmente localizou a pedra. Ela havia se acomodado na terra, de algum modo. Muitos nomes inscritos tinham se transformado em meras depressões, quase ilegíveis. Mesmo assim pôde discernir alguns. Fisher. Wilson. Donadio. Jaxon.
O fim da tarde se aproximava. Amy tirou a mochila das costas e pegou as ferramentas: cinzéis e goivas de vários tamanhos, ponteiros e dois martelos, um grande e um pequeno. Durante um tempo ficou sentada no chão, examinando a pedra. Seu olhar viajou pela superfície enquanto planejava o ataque. Poderia ter esperado até de manhã, mas o momento parecia certo. Escolheu um lugar, pegou o cinzel e o martelo e começou.
Terminou na manhã do terceiro dia. Suas mãos estavam sangrentas e feridas. O sol ia alto no céu quando ela recuou para examinar o trabalho. A qualidade da inscrição revelava falta de prática, mas, no todo, estava melhor do que havia esperado. Dormiu naquele dia e toda a noite seguinte, e de manhã, revigorada, levantou acampamento e desceu a montanha. Foi para o oeste, primeiro para longe do sol e depois na direção dele. A terra estava vazia, despida de história, desprovida de vida. Os dias passavam num silêncio varrido pelo vento até que, certa manhã, Amy ouviu o mar. No ar havia o cheiro de flores. O som, um rugido grave, se expandiu. De repente o Pacífico apareceu. A vastidão azul parecia infinita. Ela sentiu como se visse um planeta inteiro. Ondas de cristas brancas se chocavam na praia. Passou por trechos de roseiras-bravas e zosteras, descendo até a praia ampla à beira d’água. Sentia-se inquieta, mas também consumida por uma ânsia súbita. Tirou a mochila, depois a roupa e as sandálias. Enquanto a primeira onda quebrava contra seu corpo, a força quase a derrubou. Uma segunda a pegou e, em vez de resistir, ela mergulhou na água agitada. Não conseguia mais tocar o fundo – tinha acontecido muito rápido. Não sentia medo, apenas uma alegria louca, selvagem. Era como se tivesse redescoberto toda uma condição natural em que estava conectada às forças da criação. A água estava maravilhosamente fresca e salgada. Com os menores movimentos de braços e pernas podia se manter boiando. Permitiu-se oscilar livremente nas ondas, depois mergulhou de novo. Embaixo da superfície abriu os olhos, mas não conseguia ver praticamente nada, apenas formas vagas. Virou o corpo para olhar para cima. O sol brilhante ricocheteava na face da água, formando uma espécie de halo. Olhando essa luz celestial, prendeu o fôlego pelo maior tempo possível, escondida nesse mundo oculto, embaixo das ondas.
Decidiu permanecer por um tempo. Nadava toda manhã, a cada vez se afastando mais. Não estava testando a própria força de vontade: estava à espera do surgimento de um novo impulso. Seu corpo parecia limpo e forte, a mente desprovida de qualquer preocupação. Estava entrando numa nova fase da vida. Passava os dias apenas sentada, olhando as ondas e dando longos passeios pela vastidão de areia. Suas necessidades eram simples e poucas. Descobriu um laranjal e, perto dele, grandes áreas com amoreiras. Era isso que comia. Sentia falta de Peter, mas o sentimento não era como a falta de algo que tivesse perdido. Ele tinha ido embora, mas sempre faria parte dela.
Por mais contente que estivesse, com o passar dos meses percebeu que sua jornada não tinha terminado. A praia era um posto de parada, um local de preparação para o trecho final. Quando chegou a primavera, levantou acampamento e foi para o norte. Não tinha destino em mente. Deixaria que a terra lhe falasse. O terreno ficou mais irregular: promontórios rochosos, a beleza estonteante do litoral da Califórnia, árvores gigantescas golpeadas pelos ventos salgados até assumir formas estranhas, de braços estendidos, inclinadas sobre o mar. Passava os dias andando, com as mãos do sol comprimindo os ombros, o oceano ao lado, enrolando-se e caindo. À noite dormia sob as estrelas ou, se estivesse chovendo, com uma lona suspensa numa corda entre os galhos de uma árvore. Via animais de todo tipo: os pequenos, esquilos, coelhos e marmotas, mas também os maiores, criaturas mais imponentes, antílopes, linces e até ursos, grandes formas escuras passando entre os arbustos. Estava sozinha num continente que o homem havia conquistado e depois abandonado. Logo não restaria qualquer traço de sua longa presença. Tudo seria novo outra vez.
A primavera virou verão, o verão virou outono. Os dias eram límpidos e frescos, e à noite ela acendia uma fogueira para se esquentar. Estava ao norte de São Francisco, não sabia exatamente onde. Certa manhã, acordou sob sua lona e soube imediatamente que algo havia mudado. Emergiu num mundo de luz suave e branca e silêncio. A neve havia caído durante a noite. Flocos gordos flutuavam sem som, descendo do céu. Virou o rosto para cima, recebendo-os. A neve se grudava aos cílios e ao cabelo. Abriu a boca para sentir o gosto na língua. Um jorro de lembranças a engolfou. Era como se fosse menina de novo. Deitou-se de costas e estendeu os braços e pernas, movendo-os para cima e para baixo para escavar uma forma: um anjo de neve.
Então entendeu a natureza da força que a levava para o norte. Só chegou na primavera, e mesmo assim foi apanhada de surpresa. Era de manhã cedo, a floresta com uma névoa densa. O mar, lá embaixo, na base de um penhasco alto, estava pesado e escuro. Na sombra densa das árvores, estava chegando à crista de um morro quando de repente um sentimento de completude a dominou, tão intenso que a fez parar. Subiu o resto do caminho e saiu numa clareira com vista para o oceano, e ali seu coração pareceu parar.
O campo era atapetado com o espetáculo mais lustroso de flores selvagens que já vira – flores às centenas, aos milhares, milhões. Íris púrpura. Lírios brancos. Margaridas cor-de-rosa. Ranúnculos amarelos e aquilégias vermelhas, e muitas outras cujo nome ela não sabia. Uma brisa tinha começado a soprar. O sol havia rompido as nuvens. Ela tirou a mochila das costas e avançou devagar. Era como se estivesse entrando num mar de pura cor. As pontas de seus dedos roçavam as pétalas das flores por onde passava. Elas pareciam baixar a cabeça em saudação, recebendo-a num abraço. Num transe de beleza, Amy se movia no meio delas. Corredores de luz solar dourada caíam sobre o campo. Lá longe, do outro lado do mar, uma nova era havia começado.
Ali ela faria seu jardim. Faria seu jardim e esperaria.
NOVENTA
Terceira Conferência Global sobre o Período de Quarentena Norte-americano
Centro de Estudos de Culturas e Conflitos Humanos
Universidade de New South Wales, República Indo-australiana
16-21 de abril, 1003 D.V.
Transcrição: Sessão plenária 1
Palestra inaugural do Dr. Logan Miles
Professor e catedrático de Estudos do Milênio, Universidade de New South Wales, e diretor da força-tarefa do chanceler para pesquisa e reivindicação da América do Norte
Bom dia e bem-vindos, todos. Fico feliz em ver tantos colegas estimados e amigos valiosos na plateia. Temos uma programação movimentada e sei que todo mundo está ansioso para o início das apresentações, portanto serei breve nestas observações iniciais.
Este encontro, o terceiro, reúne pesquisadores de todos os territórios colonizados, em praticamente todos os campos de estudo. Contamos com estudiosos de diversas disciplinas, como antropologia humana, teoria de sistemas, bioestatística, engenharia ambiental, epidemiologia, matemática, economia, folclore, estudos religiosos, filosofia e assim por diante. Somos um grupo diversificado, com uma variedade de metodologias e interesses. Mas estamos unidos com um objetivo comum, muito mais profundo do que qualquer campo de estudo específico. Minha esperança é que esta conferência sirva não somente como um trampolim para colaborações inovadoras no conhecimento, mas também como ocasião para reflexão – a oportunidade para todos nós, individual e coletivamente, considerarmos as questões mais amplas, humanísticas, que estão no âmago da Quarentena Norte-americana e sua história. Isso é especialmente importante agora, quando ultrapassamos o marco do milênio e o projeto da reivindicação norte-americana, sob a autoridade do Conselho Transpacífico e do Acordo de Brisbane, passa para a segunda fase.
Há um milênio a história humana chegou praticamente ao fim. A pandemia viral que conhecemos como Grande Catástrofe matou mais de 7 bilhões de pessoas e levou a humanidade à beira da extinção. Alguns dentre nós afirmariam que esse acontecimento foi uma ocorrência arbitrária – o modo de a natureza limpar o convés. Cada espécie, por mais que seja bem-sucedida, um dia encontra uma força maior do que ela própria, e simplesmente foi a nossa vez. Outros postularam que o ferimento foi autoinfligido, consequência do ataque voraz da humanidade aos próprios sistemas biológicos que sustentavam nossa existência. Nós entramos em guerra contra o planeta e o planeta contra-atacou.
No entanto há muitos – e eu me coloco entre eles – que olham a história da Grande Catástrofe e veem não apenas uma narrativa de sofrimento e perda, arrogância e morte, mas também de esperança e renascimento. Como e onde o vírus se originou é uma porta que a ciência ainda não conseguiu destrancar. De onde veio? Por que desapareceu da Terra? Ainda está por aí, à espera? Talvez jamais saibamos as respostas, e em último caso rezamos para jamais saber. O que é sabido é que nossa espécie, contra todas as probabilidades, resistiu. Numa ilha isolada do Pacífico Sul, um bolsão de humanidade sobreviveu, para espalhar pelo hemisfério sul as sementes de uma civilização renascida e estabelecer uma segunda era da humanidade. Foi uma luta longa, cheia de perigos, e ainda temos muito a fazer. A história ensina que não existem garantias, e corremos riscos se ignorarmos a Grande Catástrofe. Mas o exemplo de nossos antepassados não é menos instrutivo. Nosso instinto de sobrevivência é indomável; somos uma espécie provida de vontade imbatível e capazes de esperança. E caso chegue o dia em que as forças da natureza voltem a se erguer contra nós, a humanidade não partirá em silêncio.
Até recentemente sabia-se muito pouca coisa sobre nossos ancestrais. A Escritura diz que eles fizeram a passagem para o Pacífico Sul vindos da América do Norte e que traziam um alerta. Diziam que a América do Norte era uma terra de monstros. Voltar seria trazer a morte e a ruína outra vez para o mundo. Até que mil anos se passassem, nenhum homem ou mulher deveria pôr os pés lá. Essa ordem foi um dogma central de nossa civilização, codificado como lei por praticamente toda instituição cívica e religiosa desde a fundação da república. Nenhuma prova científica existia até então para sustentar essa afirmação ou mesmo sua fonte. Aceitamos, por assim dizer, baseados na fé. Mas ela está no âmago de tudo o que somos.
Muita coisa mudou nos últimos anos. Com a descoberta dos antigos escritos que conhecemos como “O Livro dos Doze”, novas luzes foram lançadas sobre o passado. Escondido numa caverna na ilha mais ao sul das Ilhas Sagradas, esse texto, de autoria desconhecida, lançou pela primeira vez credibilidade histórica sobre nosso folclore comum, ao mesmo tempo que aprofundou os mistérios de nossas origens. Datado do século II D. V., “O Livro dos Doze” narra uma disputa épica no continente norte-americano entre um pequeno grupo de sobreviventes e uma raça de seres chamados de virais. No centro dessa luta está a jovem Amy – a Garota de Lugar Nenhum. Tendo poderes únicos de corpo e espírito, ela comanda seus seguidores – Peter, o Homem dos Dias; Alicia das Facas; Michael, o Inteligente; Sara, a Curandeira; Lucius, o Fiel; e outros – na luta para salvar a humanidade. A narrativa e seus personagens são familiares a todos nós, claro. Nenhum documento da nossa história foi objeto de tantos estudos, especulações e, em muitos casos, absoluto ceticismo. Certos elementos da narrativa são absurdos, estando mais na esfera da religião do que da ciência. Mas desde o momento de sua descoberta quase todo mundo concordou que é um documento de extraordinária importância. O fato de ter sido achado nas Ilhas Sagradas, berço da nossa civilização, forja o primeiro elo tangível entre a América do Norte e o folclore que nos guiou e moldou durante quase um milênio.
Sou historiador. Lido com fatos, provas. Meu credo profissional determina que a verdade do passado só pode ser revelada através dos prismas da dúvida e do estudo paciente. Mas uma coisa que minhas variadas viagens ao passado me ensinaram, senhoras e senhores, é que por trás de cada lenda há um elemento de verdade.
Podemos ver o primeiro slide, por favor?
Desde nosso retorno à América do Norte, há 36 meses, muita coisa foi aprendida sobre o estado do continente antes e durante o Período de Quarentena. Essas imagens lado a lado representam duas Américas do Norte muito diferentes. O contraste não poderia ser mais nítido. Na primeira imagem, vemos uma reconstituição do continente como estava nos últimos anos do Período Imperial norte-americano. Cidades com milhões de pessoas dominavam os dois litorais. Práticas agrícolas insustentáveis tinham dizimado praticamente todas as planícies interiores do continente. Indústria pesada, alimentada por combustíveis fósseis, tinham tornado áreas enormes praticamente inabitáveis, com o solo e a água contaminados por metal pesado e subprodutos químicos. Apesar de ainda existirem algumas áreas selvagens, principalmente nas regiões alpinas dos montes Apalaches, no litoral pacífico norte e no oeste, entre as cordilheiras, há pouca dúvida de que a imagem representa um continente e uma cultura se consumindo.
Na segunda imagem, vemos a América do Norte atual. O reconhecimento aéreo, realizado a partir de plataformas flutuantes situadas para além da linha de quarentena de 300 quilômetros, revelou uma vastidão intacta estonteante em sua diversidade orgânica. Florestas virgens crescem onde antes havia cidades enormes e complexos industriais tóxicos. Desapareceram os campos domados das planícies do interior, substituídos por savanas de incomparável riqueza biológica. Mais significativamente, a maior parte das grandes metrópoles costeiras, entre as quais Nova York, Filadélfia, Boston, Baltimore, Washington, Miami, Nova Orleans e Houston, praticamente desapareceu, submersa pelo nível elevado do mar. A natureza, como de praxe, reivindicou a terra, apagando os restos do poder imperialista que um dia se irradiou em seus litorais.
Imagens poderosas, de fato – mas não inesperadas. Foi no nível do solo que ocorreram nossas descobertas mais espantosas.
Próximo slide?
Estes restos mumificados, um masculino, um feminino, foram recuperados há 23 meses numa bacia árida ao pé das montanhas San Jacinto, na Califórnia. Sua aparência monstruosa é inquestionável. Observem o alongamento dos ossos, particularmente os das mãos e dos pés, que assumiram um aspecto de garra. A suavização da estrutura de suporte facial, criando uma característica quase fetal, desprovida de personalidade. As mandíbulas enormes e a dentição radicalmente alterada. Para nossa surpresa, porém, os testes genéticos indicam que, na verdade, são seres humanos – uma contrapartida paramutante de nossa espécie, dotada dos atributos fisiológicos dos predadores mais temíveis da natureza. Escavados numa profundidade de pouco menos de 2 metros, esses restos foram encontrados no meio de muitos outros, sugerindo algum tipo de morte em massa, provavelmente ocorrida perto do fim do século I D.V. – a mesma janela temporal que a datação por carbono atribuiu à escrita do “Livro dos Doze”.
Será que esses são os “virais” sobre os quais nos alertaram nossos antepassados? E, se são, como aconteceram essas mudanças dramáticas? Para isso parece não haver resposta.
Próximo slide?
Na esquerda vemos a cepa EU-1 do vírus GC, tirada do corpo do assim chamado “homem congelado”, um pesquisador polar que sucumbiu à infecção há um milênio. Acreditamos que esse vírus foi o agente primário da Grande Catástrofe, um micro-organismo de tamanha robustez e letalidade que foi capaz de matar o hospedeiro humano em horas e praticamente dizimou a população do mundo em menos de dezoito meses.
Agora chamo a atenção dos senhores para o vírus da direita, que foi extraído do tecido do timo de um dos dois cadáveres encontrados na bacia de Los Angeles. Atualmente acreditamos que este é um precursor da cepa EU-1. Enquanto o vírus da esquerda contém uma quantidade considerável de material genético de fonte aviária – mais especificamente o Corvus corax, conhecido como corvo comum –, o da direita não tem. No lugar dele encontramos material genético ligando-o a uma espécie totalmente diferente. Apesar de nossas equipes ainda não terem identificado o autor genético desse organismo, ele tem alguma semelhança com o Rhinolophus philippinensis, o morcego-ferradura-orelhudo-das-Filipinas. Estamos chamando esse vírus de AN-1, ou América do Norte-1.
Em outras palavras, a Grande Catástrofe não foi causada por um único vírus, e sim por dois: um na América do Norte e uma segunda cepa, descendente dessa, que apareceu mais tarde em outras partes do mundo. A partir desse fato os pesquisadores montaram uma hipótese de cronologia para a epidemia. O vírus emergiu primeiro na América do Norte, infiltrando-se na população humana a partir de um vetor desconhecido, mas com toda a probabilidade uma espécie de morcego. Em algum ponto posterior, o vírus AN-1 mudou, adquirindo DNA aviário; essa nova cepa, muito mais agressiva e mortal, saiu em seguida da América do Norte para o resto do mundo. Só podemos especular sobre os motivos de a cepa EU-1 não provocar as mudanças físicas causadas pelo AN-1. Talvez, em algumas situações, provocasse. Mas no geral o consenso é de que ele simplesmente matava as vítimas rápido demais.
O que isso significa para nós? Dito de modo sucinto, os “virais” do “Livro dos Doze” não são ficção. Não são, como alguns afirmaram, um mero artifício literário, uma metáfora para a fúria predadora da cultura norte-americana no período A.V. Eles existiram. Eram reais. “O Livro dos Doze” descreve esses seres como manifestação do desprazer de uma divindade todo-poderosa com a humanidade. Isso é uma questão para cada um de nós avaliar na privacidade da própria consciência. Assim como a história do homem conhecido como Zero e dos doze criminosos que atuaram como vetores originais da infecção. Falando por mim, a dúvida continua. Mas nesse meio-tempo sabemos quem e o que eram os virais: homens e mulheres comuns infectados por uma doença.
Mas e a humanidade? E a história de Amy e seus seguidores? Agora passo para a questão dos sobreviventes.
Próximo slide?
Como todo mundo aqui certamente sabe, este foi um ano empolgante nessa área – na verdade, muito empolgante. As escavações em vários povoados recém-descobertos no Oeste norte-americano, datando do primeiro século do Período de Quarentena, começaram a dar frutos. Boa parte desse trabalho ainda está no início. Mas acho que não é eufemismo dizer que o que descobrimos apenas nos últimos doze meses sinalizou uma reavaliação radical do período.
Nosso entendimento do início do Período de Quarentena pressupunha, durante muito tempo, que não restara nenhum habitante na América do Norte entre o istmo equatorial e a linha de fronteira do Hudson depois do ano zero. O rompimento das infraestruturas biológicas e sociais teria sido tão completo a ponto de deixar o continente incapaz de sustentar a vida humana, quanto mais qualquer tipo de cultura organizada.
Agora sabemos – e, mais uma vez, o último ano foi extraordinário – que essa visão do Período de Quarentena é incompleta. De fato houve sobreviventes. Quantos, talvez nunca saibamos. Mas com base nas descobertas do ano passado achamos possível, na verdade muito provável, que eles tenham chegado às dezenas de milhares, vivendo em várias comunidades por todo o Oeste entre as cadeias de montanhas e as planícies do sul.
O tamanho e a configuração desses povoados variava consideravelmente, desde uma aldeia no topo de uma montanha com apenas algumas centenas de habitantes até um complexo do tamanho de uma cidade nas colinas do centro do Texas. Mas tudo evidencia a ocupação humana muito depois de quando achávamos que o continente estaria despovoado. Além disso, essas comunidades compartilham várias características distintas, sobretudo uma cultura que era ao mesmo tempo classicamente ligada à sobrevivência e, paradoxalmente, muito atenta à prática social de ser humano. Nesses enclaves protegidos, os homens e mulheres que sobreviveram à Grande Catástrofe e gerações de seus descendentes continuaram com a vida, como fazem os homens e as mulheres. Casaram-se e tiveram filhos. Formaram governos e fizeram comércio. Construíram escolas e locais de culto. Mantinham registros de sua experiência – estou falando, claro, dos documentos conhecidos de todos nesta sala, na verdade de pessoas em todos os territórios colonizados, como “O Livro de Sara” e “O Livro de Titia” – e talvez até buscassem contato com outras pessoas, para além dos muros daquelas ilhas de humanidade isolada.
Usando o “Livro dos Doze” como mapa rodoviário, equipes de pesquisa em terra identificaram três desses povoados, todos citados nesses escritos. São Kerrville, no Texas; Roswell, no Novo México, onde aconteceu o chamado “Massacre de Roswell”; e a comunidade que conhecemos como Primeira Colônia, nas montanhas San Jacinto, no sul da Califórnia.
Podemos ver a próxima imagem, por favor?
A fotografia que vemos dá uma visão aérea do local da Primeira Colônia, que, para nossos objetivos hoje, pode ser considerada um povoado humano “típico” do Período de Quarentena. Situada num platô árido, 2 mil metros acima da formação costeira de Los Angeles, e protegida a oeste por uma crista de montanhas de granito que sobem outros 1.500 metros, o povoado é muito parecido com uma cidade medieval murada – mais ou menos 5 quilômetros quadrados, de forma irregular, com muros altos definindo o perímetro externo. Essas fortificações de aço e concreto, com 20 metros de altura, parecem ter sido construídas mais ou menos na época da Grande Catástrofe. Isso corrobora o “Livro dos Doze”, que afirma que a Primeira Colônia foi construída para abrigar crianças evacuadas da cidade litorânea da Filadélfia, no Leste. Para além dessas fortificações o terreno agora apresenta uma mistura de floresta alpina e chaparral de deserto elevado, mas amostras de solo tiradas dentro e fora dos muros indicam que a encosta foi dizimada por um incêndio recente, há cerca de cinquenta anos, e durante o primeiro século do Período de Quarentena o terreno era quase totalmente desnudo.
Parece que todo o povoado era cercado por painéis com lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão. Acreditamos que eram alimentadas por baterias de células a combustível com membrana de troca de prótons, ligadas por um cabo subterrâneo a um grupo de turbinas eólicas, também datadas do período pré-Quarentena, localizadas 42 quilômetros ao norte, no passo de San Gorgonio. Atividades sísmicas alteraram substancialmente a encosta norte da montanha, e ainda não localizamos o tronco de energia que ligava a Primeira Colônia à sua fonte de energia primária. Mas esperamos que isso aconteça em breve.
Dentro dos muros encontramos várias zonas separadas de atividade humana, arrumadas numa formação de anel e levando a um núcleo central. O anel externo, que recebeu as escavações mais amplas, parece ter servido como uma plataforma para a defesa. Nessas áreas recuperamos uma variedade de artefatos, inclusive, nos níveis inferiores, diversas armas de fogo convencionais do período pré-Quarentena e, nos níveis mais altos, armas feitas à mão, como facas, arcos e bestas. Ainda que mais primitivos, esses armamentos eram surpreendentemente sofisticados em projeto e manufatura, com pontas de flecha afiadas até apenas 50 mícrons – o suficiente, acreditamos, para romper o peitoral de silicato cristalino de um humano infectado.
Nos anéis mais interiores, encontramos regiões separadas para saneamento, agricultura, criação de animais, comércio e moradia. Estruturas nos quadrantes leste e norte parecem ter servido também como domicílios, talvez para casais ou famílias. Os alicerces expostos que vemos perto do centro parecem ter sido de algum tipo de escola datada do período pré-Quarentena, mas convertida pelos cidadãos da Primeira Colônia em lugar para a realização de uma variedade de funções físicas. Acreditamos que esse prédio, a estrutura mais substancial do sítio, poderia ser usado como último refúgio caso as defesas externas da colônia fossem penetradas. Mas na vida cotidiana parece ter servido como uma espécie de creche ou hospital comunitário.
Por si só, essas descobertas são bastante notáveis. Porém há mais. “O Livro dos Doze” fala da Primeira Colônia como o local de onde Amy e seus seguidores viajaram para o Leste, depois fazendo contato com outros sobreviventes, inclusive uma força armada do Texas, conhecida como Expedicionários. Há algum registro arqueológico para apoiar essas afirmações?
Agora chamo a atenção dos senhores para a grande área aberta no centro, e em particular para o objeto localizado no canto noroeste.
Podemos ver a próxima imagem?
Esse objeto, que estamos chamando de Pedra da Primeira Colônia, fica ao lado do espaço público central do povoado. A pedra em si é um pedaço de granito comum encontrado por toda a região elevada de San Jacinto, com 3 metros de altura e um raio de cerca de 4 metros na base. Gravados na superfície encontramos três grupos de escritos distintos. O primeiro, de longe o maior, começa com uma data, 77 D.V., seguida por uma lista do que parecem ser 206 nomes em quatro colunas. Como podemos ver, são apresentados em grupos familiares e incluem dezessete sobrenomes diferentes. Ainda que haja controvérsias quanto a este ponto, o arranjo sugere que esses indivíduos podem ter perecido num único acontecimento, talvez associado ao grande terremoto que assolou a Califórnia mais ou menos nessa época.
Abaixo vemos um segundo grupo de três nomes, também legíveis: Ida Jaxon, Elton West e uma pessoa chamada de “Coronel”, evidentemente um líder militar de alguma importância. Sob essas marcas vemos a palavra “Lembrados”. Supomos que esses indivíduos tenham perecido em algum tipo de batalha, talvez uma batalha em que o destino da própria colônia tenha sido determinado.
Mas o terceiro grupo é o mais provocador. Como podemos ver, a gravação é muito menos sofisticada, e a exposição aos elementos deixou os nomes ilegíveis a olho nu. De modo significativo, a análise de padrão de desgaste indica que essas marcas datam de aproximadamente 350 D.V., muito depois de o povoado ser abandonado. Mais uma vez há discordâncias quanto a esse ponto, mas a opinião prevalecente é de que essas marcas, como as outras, são algum tipo de memorial. O realce digital revela nomes conhecidos de todos.
Podemos ver o último slide?
Não há menção a Amy, a Garota de Lugar Nenhum. Talvez jamais saibamos quem ela foi, ou se existiu.
Há muita coisa que não entendemos. Não sabemos quem eram essas pessoas. Não sabemos que papel podem ter tido, se é que tiveram algum, na extinção da raça paramutante conhecida como virais. E não sabemos o que foi feito delas, como morreram. Espero que este encontro abra a porta para abordar alguns desses mistérios. Porém, mais ainda, o que desejo é que todos saiamos com uma apreciação mais profunda das questões mais fundamentais que nos definem. A história é mais do que dados, mais do que fatos, mais do que ciência e estudo. Essas coisas são apenas os meios para um fim mais importante. A história é uma narrativa – a narrativa de nós mesmos. De onde viemos? Como sobrevivemos? Como podemos evitar os erros do passado? Temos importância? E, se temos, qual é o nosso lugar na Terra?
Vou colocar a questão de outro modo: quem somos nós?
Num sentido muito real e premente, o estudo do Período de Quarentena Norte-americano é muito mais do que uma investigação acadêmica do passado. É – e acho que todos nesta sala vão ecoar essa noção – um passo crucial para salvaguardar a saúde e a sobrevivência de nossa espécie a longo prazo. Isso é ainda mais premente agora, enquanto contemplamos o longamente esperado retorno da humanidade àquele continente temido e vazio.
NOVENTA E UM
Para Logan Miles, 56 anos, professor de Estudos do Milênio e diretor da força-tarefa do chanceler para pesquisa e reivindicação da América do Norte, foi uma boa manhã. Uma manhã muito boa.
A conferência está tendo um início empolgante. Centenas de estudiosos compareceram. O interesse da imprensa é intenso. Antes de chegar à porta do salão, uma parede de repórteres o cerca. O que significam os nomes na pedra?, querem saber. Os doze discípulos de Amy eram pessoas reais? Qual será o efeito da reivindicação norte-americana? Vai ser adiada a formação dos primeiros povoados?
– Paciência, pessoal – diz Logan.
Flashes espocam em seu rosto.
– Vocês sabem tanto quanto eu, nem mais nem menos.
Livre da turba, ele deixa o prédio por uma saída dos fundos, na cozinha. É uma agradável manhã de outono, seca e de céu azul, com uma brisa do leste vinda do porto. Lá em cima, um par de aeronaves flutua serenamente, acompanhado pelo zumbido em vibrato das hélices enormes. A visão sempre traz à mente seu filho: Race, piloto do serviço aéreo, acaba de ser promovido a capitão, com uma nave própria – um grande feito, sobretudo para um homem tão jovem. Logan faz uma pausa para respirar antes de dobrar a esquina do prédio, em direção ao quadrângulo central do campus. Os manifestantes de sempre estão nos degraus, quarenta ou cinquenta, segurando suas placas: AMÉRICA DO NORTE = MORTE, A ESCRITURA É A LEI, A QUARENTENA DEVE CONTINUAR. A maioria é de gente mais velha – pessoas do campo, seguidores dos costumes antigos. Dentre eles estão talvez uma dúzia de clérigos amalitas, além de algumas discípulas, mulheres vestindo mantos cinza comuns amarrados com uma corda simples na cintura, a cabeça raspada ao estilo da Salvadora. Estão ali há meses, sempre aparecendo exatamente às oito da manhã, como se estivessem se apresentando para um trabalho. No início, Logan os achava irritantes, até um pouco perturbadores, mas com o tempo sua presença adquiriu uma qualidade de apatia condenada, facilmente ignorável.
A caminhada até sua sala leva dez minutos, e ele está satisfeito e surpreso por encontrar o prédio quase vazio. Até a secretária do departamento deixou seu posto. Ele vai até a sala, no segundo andar. Nos últimos três anos, tornou-se um visitante pouco frequente. A maior parte de seu trabalho está agora na sede do governo, e às vezes ele não põe o pé no campus durante semanas seguidas, sem contar as visitas à América do Norte, que devoraram meses inteiros. Com as paredes forradas de estantes, a enorme mesa de teca – uma ostentação para marcar sua promoção à chefia do departamento, quinze anos antes – e a atmosfera geral de reclusão professoral, a sala sempre o lembra de quão longe ele foi e do papel improvável que lhe foi imposto. Chegou a uma espécie de pináculo; mas ainda é verdade que de vez em quando sente falta da vida antiga, de silêncio e rotina.
Está examinando uma pasta com papéis – um relatório do comitê de avaliação de cargo, formulários de formatura que exigem sua assinatura, uma conta de fornecedor – quando ouve uma batida à porta. Levanta os olhos e vê uma mulher parada: 30 ou talvez 35 anos e bastante bonita, com cabelos castanhos, rosto inteligente e enérgicos olhos castanhos. Usa um conjunto azul-marinho e sapatos altos e meio pontudos. Uma bolsa de couro bem gasta pende do ombro. Logan sente que já a viu antes.
– Professor Miles?
Ela não espera permissão para entrar e se insinua na sala.
– Desculpe, senhorita...
– Nessa Tripp, Notícias do Território.
Enquanto vai até a mesa, ela estende a mão.
– Esperava ter um minuto do seu tempo.
Repórter, claro. Logan se lembra dela na entrevista coletiva. Seu aperto de mão é firme – não masculino, mas destinado a dar uma mensagem de seriedade profissional. Logan capta o tom agudo de seu perfume, floral e sutil.
– Infelizmente precisarei desapontá-la. Para mim este é um dia muito movimentado. Realmente eu disse tudo o que tinha a dizer por uma manhã. Talvez a senhorita possa ligar para minha secretária e marcar uma hora.
Ela ignora a sugestão, sabendo muito bem que é uma evasiva; ninguém irá marcar nada. Dá um sorriso, bastante coquete, destinado a jogar charme.
– Prometo que não vou demorar. Só tenho algumas perguntas.
Logan não quer. Não gosta de lidar com a imprensa, nem quando há um roteiro rígido. Muitas vezes abriu o jornal da manhã e viu uma citação sua errada ou suas palavras tiradas completamente de contexto. Mas sabe que essa mulher não pode ser dispensada com tanta facilidade. Melhor encarar agora e ir em frente.
– Bom, então acho...
O rosto dela se ilumina.
– Ótimo.
Ela ocupa uma cadeira diante dele e enfia a mão na bolsa para pegar um caderno, seguido por um pequeno gravador, que coloca na mesa.
– Para começar, eu estava imaginando se poderia obter alguma informação pessoal, só como pano de fundo. Não consegui encontrar muita coisa sobre o senhor, e a assessoria de imprensa da universidade não ajudou muito.
– Há um motivo. Sou uma pessoa muito reservada.
– E eu respeito isso. Mas as pessoas querem saber sobre o homem que está por trás da descoberta, não concorda? O mundo está assistindo, professor.
– Realmente não sou muito interessante, Srta. Tripp. Tenho a impressão de que vai me achar bastante tedioso.
– Não acredito. O senhor só está sendo modesto.
Ela folheia rapidamente o caderno.
– Bom, pelo que consegui averiguar, o senhor nasceu em... Headly?
Uma pergunta fácil, para começar as coisas.
– É, meus pais criavam cavalos.
– E era filho único.
– Correto.
– Parece que o senhor não gostava muito disso.
Evidentemente seu tom de voz o havia traído.
– Foi uma infância como qualquer outra. Houve pontos bons e ruins.
– Isolada demais?
Logan dá de ombros.
– Quando se tem a minha idade, esse tipo de sentimento acaba sendo atenuado, mas creio que na época eu provavelmente veria a coisa desse jeito. No fim das contas, não era a vida para mim, é tudo o que tenho a dizer sobre isso.
– Mesmo assim, Headly é um lugar muito tradicional. Algumas pessoas diriam que é até mesmo atrasado.
– Não creio que as pessoas de lá vejam desse modo.
Um sorriso rápido.
– Talvez eu tenha me expressado mal. O que quero dizer é que há uma distância enorme entre uma fazenda de cavalos em Headly e comandar a força-tarefa do chanceler para o reassentamento. Seria justo dizer isso?
– Acho que sim. Mas nunca tive dúvidas de que iria para a universidade. Meus pais eram pessoas do campo, mas deixaram que eu estabelecesse meu próprio rumo.
Ela o encara calorosamente.
– Então era um garoto que gostava de livros.
– Como quiser.
Mais uma vez, isso foi seguido por uma breve viagem pelas anotações.
– Bom – diz ela –, tenho anotado aqui que o senhor é casado.
– Infelizmente sua informação está um pouco desatualizada. Sou divorciado.
– Ah? E quando foi isso?
A pergunta o deixa desconfortável. Ainda assim, é algo que está nos registros públicos; ele não tem motivo para não responder.
– Há seis anos. Tudo muito amigável. Ainda somos amigos.
– E sua ex-mulher é juíza, não é?
– Era, da Sexta Vara de Família. Mas deixou o cargo.
– E o senhor tem um filho, Race. O que ele faz?
– É piloto do serviço aéreo.
O rosto dela se ilumina.
– Que maravilhoso!
Logan assente. Obviamente, ela sabe de tudo isso.
– E o que ele tem a dizer sobre suas descobertas?
– Não chegamos a falar sobre isso, pelo menos recentemente.
– Mas ele deve ter orgulho do senhor. O próprio pai encarregado de todo um continente.
– Acho que isso é um tanto exagerado, não?
– Vou dizer de outro modo. Voltar à América do Norte... o senhor deve admitir que é algo muito controvertido.
Ah, pensa Logan. Lá vamos nós.
– Para a maioria das pessoas, não. Pelo menos segundo as pesquisas.
– Mas certamente há quem pense diferente. A igreja, por exemplo. O que o senhor acha da oposição dela, professor?
– Não acho nada.
– Mas certamente o senhor pensou nisso.
– Não é meu papel colocar uma voz acima de qualquer outra. A América do Norte, não somente o lugar, mas a ideia do lugar, está no centro do que a humanidade pensa sobre si mesma há um milênio. A história de Amy, qualquer que seja a verdade, pertence a todo mundo, não somente aos políticos ou ao clero. Meu serviço é simplesmente nos levar até lá.
– E qual é a verdade na opinião do senhor?
– A minha opinião não importa. As pessoas terão de julgar as evidências por si mesmas.
– Isso parece muito... desapaixonado. Até mesmo distanciado.
– Eu não diria isso. Eu me importo muito, Srta. Tripp. Mas não salto às conclusões. Veja por exemplo aqueles nomes na pedra. Quem eram as pessoas? Só posso dizer que eram pessoas. Que elas viveram e morreram há muito tempo e que alguém pensava suficientemente bem sobre elas para fazer um memorial. É o que a evidência diz. Talvez venhamos a saber mais, talvez não. As pessoas podem preencher as lacunas como quiseram, mas isso é fé, e não ciência.
Por um momento ela parece perplexa. Ele não está sendo cooperativo. Então, voltando a examinar as anotações:
– Gostaria de voltar à sua infância por um momento. O senhor diria que vem de uma família religiosa?
– Não especialmente.
– Mas um pouco – sugere.
– Nós íamos à igreja – admite Logan –, se é isso que a senhorita está perguntando. Não é incomum naquela parte do mundo. Minha mãe era amalita. Meu pai não era coisa nenhuma, na verdade.
– Então ela era seguidora de Amy – diz Nessa, assentindo. – Sua mãe.
– É como ela foi criada. Existem crenças e existem hábitos. No caso dela eu diria que era mais um hábito.
– E o senhor? Diria que é um homem religioso, professor?
Então era esse o âmago da matéria. Ele sente uma cautela crescente.
– Sou historiador. Isso parece mais do que o suficiente para me ocupar.
– Mas a história pode ser considerada uma espécie de fé. O passado não é algo que a gente possa conhecer de verdade, afinal de contas.
– Eu não diria isso.
– Não?
Ele se recosta na cadeira para juntar os pensamentos.
– Deixe-me perguntar uma coisa. O que a senhorita comeu no café da manhã?
– Perdão?
– É uma pergunta direta. Ovos? Torrada? Um iogurte, talvez?
Ela dá de ombros, entrando no jogo.
– Se quer saber, comi aveia.
– E tem certeza? Não há nenhuma dúvida na sua mente?
– Nenhuma.
– Que tal na terça-feira passada? Foi aveia ou outra coisa?
– Por que essa curiosidade com o meu café da manhã?
– Responda, por favor. Na terça-feira passada. Não faz muito tempo, certamente a senhorita comeu alguma coisa.
– Não faço a menor ideia.
– Por quê?
– Porque não é importante.
– Não vale a pena ser lembrado, em outras palavras.
Ela dá de ombros outra vez.
– Acho que não.
– Bom, e quanto a essa cicatriz na sua mão?
Ele indica a que segura a caneta. A marca, uma série de depressões claras e semicirculares, vai da base do indicador até a parte de cima do pulso.
– Como conseguiu isso? Parece ser bem antiga.
– O senhor é muito observador.
– Não quero ser impertinente. Estou apenas demonstrando um argumento.
– Se quer saber, fui mordida por um cachorro. Tinha 8 anos.
– Então a senhorita se lembra disso. Não o que comeu na semana passada, mas uma coisa que aconteceu muito tempo atrás.
– É, claro. Isso me deixou morta de medo.
– Tenho certeza que sim. O cachorro era seu ou de um vizinho? Um cão sem dono, talvez?
Ela parece ficar irritada. Não irritada: exposta. Enquanto ele observa, ela leva a outra mão à cicatriz e a cobre com a palma. Ela não percebe que está fazendo isso, a atitude é só em parte consciente.
– Professor, não estou vendo o sentido disso.
– Então o cachorro era seu.
Ela leva um susto.
– Desculpe, Srta. Tripp, mas, se não fosse, a senhorita não ficaria tão na defensiva. O modo como cobriu a mão agora mesmo me diz outra coisa.
Ela afasta a mão deliberadamente.
– E o que é?
– Duas coisas. Uma: que a senhorita acredita que a culpa foi sua. Talvez estivesse brincando de um modo muito agressivo. Talvez tenha provocado o cachorro sem querer, ou talvez querendo um pouco. De qualquer modo, a senhorita participou. Fez alguma coisa e o cachorro reagiu mordendo.
Ela não demonstra reação.
– E qual é a outra?
– A senhorita jamais contou a verdade a ninguém.
A expressão dela diz a Logan que ele acertou o alvo. Há uma terceira coisa, claro, que não foi dita: o cachorro foi morto, talvez injustamente. Mesmo assim, depois de um momento ela abre um leve sorriso. Esse jogo pode ser jogado por dois.
– Um truque e tanto, professor. Aposto que seus alunos adoram.
Agora ele é que sorri.
– Touché. Mas não é um truque, Srta. Tripp, não totalmente. O argumento é significativo. A história não é o que a senhorita comeu no café da manhã. Esses são dados sem importância, que são levados pelo vento. A história é essa cicatriz na sua mão. São os fatos que deixam marcas, o passado que se recusa a permanecer no passado.
Ela hesita.
– Quer dizer... como Amy.
– Exatamente. Como Amy.
Os dois se entreolham. Durante a entrevista havia acontecido uma mudança sutil. Uma barreira caíra inesperadamente, ou pelo menos é o que parece. Logan nota mais uma vez como ela é bonita – a palavra em que ele pensa, um tanto antiquada, é “adorável” – e que não usa aliança. Faz um tempo, para ele. Desde o divórcio, Logan só namorou ocasionalmente, e nunca por muito tempo. Não continua amando a ex-esposa; o problema não é esse. Tinha passado a entender que o casamento era de fato uma espécie de amizade elaborada. Não tem certeza de qual seja o problema, mas começou a suspeitar que é simplesmente uma daquelas pessoas destinadas a ficar sozinhas, uma criatura de trabalho, dever e não muita coisa mais. Será que o flerte de sua interlocutora é apenas uma tática, ou haverá mais alguma coisa? Ele sabe que, para a idade, é passavelmente bonito. Nada cinco voltas na piscina a cada manhã, ainda é abençoado por uma cabeleira farta, gosta de ternos caros, bem cortados, e gravatas um tanto espalhafatosas. Tem consciência das mulheres e mantém um certo estilo cortês – segurando portas, oferecendo o guarda-chuva, levantando-se quando uma mulher pede licença para sair da mesa. Mas idade é idade. Nessa o chama de “professor”, o tratamento adequado, mas além disso a palavra o lembra de que ele tem pelo menos vinte anos a mais do que ela: tecnicamente, poderia ser seu pai.
– Bom – diz ele, levantando-se da cadeira. – Se me der licença, Srta. Tripp, infelizmente preciso parar por aqui. Estou me atrasando para um compromisso no almoço.
Ela parece ter sido apanhada desprevenida com esse anúncio – arrancada de algum estado mental complexo com esse detalhe comum de um dia.
– Sim, claro. Eu não deveria tê-lo segurado por tanto tempo.
– Posso levá-la à saída?
Os dois caminham pelo prédio silencioso.
– Eu gostaria de conversar mais – diz ela, quando param nos degraus da frente. – Que tal quando a conferência terminar?
Ela pega um cartão na bolsa e o entrega a ele. Logan dá uma rápida olhada – “Nessa Tripp, Repórter, Notícias do Território”, com números de casa e do trabalho – e o enfia no bolso do paletó. Outro silêncio. Para preenchê-lo, ele estende a mão. Alunos passam, sozinhos e em grupos, os de bicicleta serpenteando pela corrente como ondas em volta de um píer. O ar está animado com o zumbido de vozes jovens. Nessa deixa a mão se demorar um segundo extra na dele, mas talvez seja ele que faz isso.
– Bom. Obrigada pelo seu tempo, professor.
Ele a observa descer a escada. Embaixo, ela se vira.
– Uma última coisa. Só para constar: o cachorro não era meu.
– Não?
– Era do meu irmão. O nome dele era Trovão.
– Sei.
Como ela não diz mais nada, ele pergunta:
– Se não se importa que eu pergunte, o que foi feito dele?
– Ah, o senhor sabe.
Seu tom é casual, até mesmo um pouco cruel. Ela levanta os indicadores para formar aspas.
– Meu pai o levou para “uma fazenda”.
– Lamento saber.
Ela dá uma gargalhada.
– Está brincando? Isso não poderia ter acontecido com um filho da puta mais maligno. Tive sorte de ele não ter arrancado minha mão – diz, puxando a bolsa mais para cima. – Ligue para mim quando estiver preparado, certo?
E, enquanto diz isso, sorri.
Logan pega um bonde até o porto. Quando chega ao restaurante é quase uma hora e a recepcionista o leva à mesa onde seu filho está esperando. Alto e magro, com cabelo-louro claro, ele puxou à mãe. Está usando o uniforme de piloto – calça preta, camisa branca engomada com dragonas nos ombros e uma gravata escura e estreita presa à frente da camisa. Aos pés está a pasta gorda que sempre carrega quando viaja, com o brasão do serviço aéreo. Quando vê Logan, pousa o cardápio e se levanta com um sorriso caloroso.
– Desculpe o atraso – diz Logan.
Os dois se abraçam – um abraço rápido e masculino – e se acomodam. É um restaurante que frequentam há anos. A vista da mesa é para a movimentada beira-mar. Barcos de lazer e embarcações comerciais maiores cortam a água, que reluz ao sol claro de outono. No mar aberto, turbinas de vento se erguem em posição de sentido, as hélices girando na brisa do oceano.
Race pede um sanduíche de frango e chá. Logan, uma salada e água com gás. Pede desculpas de novo pelo atraso e pelo pouco tempo que terão juntos, o primeiro encontro em meses. A conversa é leve e fácil – os gêmeos do filho, as viagens dele, os trabalhos da conferência e a próxima viagem de Logan à América do Norte, programada para o fim do inverno. É tudo familiar e confortável, e Logan relaxa. Esteve longe por muito tempo, privando-se de desfrutar da companhia do filho. Tem alguns arrependimentos com relação à infância de Race. Logan ficava ausente demais, distraído demais pelo trabalho, e muita coisa permanecia por conta da mãe do garoto. Esse homem capaz, bonito, usando uniforme: o que Logan fez para merecer um prêmio tão grande?
Enquanto a garçonete leva os pratos, Race pigarreia e diz:
– Há uma coisa que eu queria falar com você.
Logan detecta um tom de ansiedade na voz do filho. Seu primeiro impulso, nascido da própria experiência, é que há algum problema com o casamento.
– Claro, diga o que está pensando.
O filho cruza as mãos. Agora Logan tem certeza: há algo errado.
– O negócio, pai, é que decidi sair do serviço aéreo.
Logan está pasmo, sem palavras.
– Você está surpreso – diz o filho.
Logan procura freneticamente uma resposta.
– Mas você adora o trabalho. Queria voar desde que era pequeno.
– Ainda quero.
– Então por quê?
– Kaye e eu estivemos conversamos. Todas essas viagens pesam para a gente, são difíceis para os meninos. Eu fico longe o tempo todo. Estou perdendo muita coisa.
– Mas você acabou de ser promovido. Capitão de aeronave. Pense nisso.
– Pensei. E não é fácil, acredite.
– Foi ideia de Kaye?
Logan sabe que suas palavras parecem um tanto acusadoras. Ele gosta da nora, que é professora de arte de uma escola elementar, mas sempre a considerou um pouco fantasiosa demais – efeito, talvez, de passar muito tempo com crianças.
– A princípio foi – responde Race. – Mas quanto mais falamos sobre isso, mais fez sentido. Nossa vida é simplesmente caótica demais. Precisamos que as coisas sejam mais simples.
– As coisas vão ficar mais fáceis, filho. É sempre complicado, com filhos pequenos. Você só está cansado.
– Já decidi, pai. Não há nada que você possa dizer para me fazer mudar de ideia.
– Mas então o que você vai fazer?
Race hesita. Logan percebe que o cerne do anúncio está chegando.
– Andei pensando no rancho. Kaye e eu gostaríamos de comprá-lo de você.
Está falando da fazenda de cavalos dos pais de Logan. Depois que seu pai morreu, Logan vendeu um quarto da área para pagar os impostos. Manteve o resto não sabe por quê –, mas não visita o local há anos. Na última vez que o viu, a casa e as construções externas estavam caindo aos pedaços e cheias de camundongos. Crescia mato nas calhas do telhado.
– Nós guardamos dinheiro – diz Race. – Vamos pagar um bom preço.
– Você pode ficar com ela por 1 dólar, no que depender de mim. A questão não é essa.
Ele olha o filho por um momento, absolutamente perplexo. O pedido não faz nenhum sentido para ele.
– Sério? É isso que vocês dois querem?
– Não somos só Kaye e eu. Os meninos adoraram a ideia.
– Race, eles têm 4 anos.
– Não é isso que eu quero dizer. Eles passam metade do dia na creche. Eu os vejo duas semanas em cada quatro, se tiver sorte. Meninos assim... precisam de ar puro, espaço para correr.
– Confie em mim, filho, a vida no campo é muito mais atraente em termos abstratos.
– Você se saiu muito bem. Aceite isso como elogio.
Ele sente uma frustração crescente.
– Mas o que você vai fazer lá? Você não sabe nada sobre cavalos. Sabe menos ainda do que eu.
– Nós pensamos nisso. Estamos planejando começar um vinhedo.
É um plano totalmente fora da realidade. Tem a cara da sonhadora Kaye.
– Nós mandamos verificar a terra – continua Race –, e é praticamente ideal: verões secos, invernos úmidos, o tipo certo de solo. E tenho alguns investidores. Não vai acontecer da noite para o dia, mas nesse meio-tempo Kaye pode dar aulas na escola da cidade. Ela já recebeu uma oferta. Se formos cuidadosos com o dinheiro, isso deve nos manter até as coisas correrem bem.
Claro que a crítica subjacente não é dita: Race quer ficar perto dos filhos, fazer parte da vida deles, coisa que Logan não conseguiu com ele.
– Vocês têm mesmo certeza?
– Temos, pai.
Há um breve momento de silêncio enquanto Logan procura alguma coisa para dizer, algo que possa dissuadir o filho único desse plano ridículo. Mas Race é adulto; a terra está lá, parada; ele expressou o desejo de sacrificar alguma coisa importante pela família. O que Logan pode fazer, senão concordar?
– Acho que posso ligar para o advogado e dar o pontapé inicial – assente.
Seu filho parece surpreso. Pela primeira vez ocorre a Logan que Race esperava que ele talvez recusasse.
– Sério?
– Você defendeu seu argumento. A vida é sua. Não há o que discutir.
O filho o encara, solene.
– Falei de verdade. Quero pagar o que a terra vale.
Logan fica pensando: quanto vale uma coisa daquelas? Nada. Tudo.
– Não se preocupe com o dinheiro – insiste. – Vamos pensar nisso quando chegar a hora.
A garçonete chega com a conta, que Race, num espírito brincalhão, insiste em pagar. Lá fora, um carro o espera para levá-lo ao campo de aviação. Race agradece de novo ao pai e diz:
– Vejo você no domingo, na mamãe?
Logan fica confuso por um momento. Não faz ideia do que o filho está falando. Race sente isso.
– A festa? Para os meninos?
Agora Logan recorda: uma festa de aniversário para os gêmeos, que estão fazendo 5 anos.
– Claro – diz, sem graça, em virtude do lapso.
Race descarta isso com um gesto de mão.
– Tudo bem, pai. Não se preocupe.
O motorista está parado junto à porta.
– Capitão Miles, infelizmente precisamos ir logo.
Logan e o filho trocam um aperto de mãos.
– Só não se atrase, está bem? – censura Logan. – Os garotos estão empolgados para ver você.
Na manhã seguinte, de volta da natação matutina, Logan vê a matéria de Nessa no jornal. Página 1, abaixo da dobra. É neutra, como costumam ser essas coisas. A conferência e sua palestra de abertura, uma menção aos manifestantes e à “infinda controvérsia”, trechos da conversa dos dois na sala dele. Curiosamente, isso o decepciona. Suas palavras parecem inexpressivas e ensaiadas. A matéria contém uma rigidez superficial. Nessa o descreveu como “profissional” e “reservado”, duas coisas que são bastante verdadeiras, mas parecem redutivas. Ele é só isso? Foi isso que se tornou?
Durante dois dias a conferência o ocupa totalmente. Há painéis e reuniões, almoços e, à noite, encontros para bebidas e jantar. É seu momento de triunfo, no entanto ele sente uma depressão crescente. Parte disso se deve ao anúncio de Race; Logan não gosta de pensar no filho abandonando suas realizações para ganhar a vida no meio de lugar nenhum. Headly nem pode ser considerada uma cidade de verdade. Há uma mercearia, uma agência dos correios, um hotel, uma loja de suprimentos agrícolas. A escola, que abarca todas as séries, fica num único prédio, feio, feito de concreto, sem campos de jogos nem biblioteca. Ele pensa em Race usando um chapéu de aba larga, lenço encharcado de suor enrolado no pescoço e insetos zumbindo em volta do rosto, cravando uma pá no solo implacável enquanto a mulher e os filhos, mortalmente entediados, permanecem inquietos em casa. Cenas da vida provinciana: Logan deveria ter vendido o lugar há anos. É tudo um grande erro e ele não pode corrigir.
Na noite de quinta-feira, tendo terminado as obrigações da conferência, volta ao apartamento térreo onde mora desde o divórcio. Como muitas coisas na vida, era para ser temporário, mas seis anos depois ele continua ali. É compacto, arrumado, sem muita personalidade. A maior parte da mobília foi comprada às pressas nos confusos dias depois da separação. Faz um jantar simples com massa e verduras, senta-se para comer diante da televisão e a primeira coisa que vê é seu próprio rosto. O vídeo foi feito imediatamente depois das cerimônias de encerramento da conferência. Ali está ele, com microfones pairando em volta da cabeça, o rosto lavado até uma aparência cadavérica pela claridade forte das luzes das equipes de TV. REVELAÇÕES ESPANTOSAS, diz a tarja na base da tela. Ele desliga o aparelho.
Decide ligar para Olla, sua ex-esposa. Talvez ela possa lançar alguma luz sobre os planos perturbadores do filho. Olla vive na periferia da cidade, numa casinha, na verdade um chalé, que divide com sua companheira, Bettina, que pratica horticultura. Olla insistiu que o relacionamento das duas só começou depois da separação, mas Logan suspeita que não foi assim. Não faz diferença. De certa forma, está satisfeito. O fato de Olla se relacionar com uma mulher – ele sempre soube que ela era bissexual – tornou as coisas mais fáceis. Seria mais difícil se ela estivesse casada com um homem, se um homem estivesse na cama dela.
É Bettina que atende. O relacionamento dos dois é cauteloso, mas cordial, e ela chama Olla ao telefone. Ao fundo, Logan ouve os trinos e guinchos da coleção de pássaros de Bettina, que é volumosa: tentilhões, papagaios, periquitos.
– Acabamos de ver você na TV – começa Olla.
– Verdade? Como eu estava?
– Muito elegante, na verdade. Inspirando confiança. Um homem dominando o jogo. Não concorda, Bette? Ela está concordando com a cabeça.
– Fico feliz em saber.
Um papo leve, fácil. Muito pouca coisa mudou, de certa forma. Os dois sempre foram amigos que conseguiam se falar.
– Como é a sensação? – pergunta Olla.
– Que sensação?
– Logan, não seja modesto. Você ficou famoso.
Ele muda de assunto.
– Por acaso você andou falando com o Race ultimamente?
– Ah, isso. – Olla suspira. – Não fiquei surpresa de verdade. Ele vem sugerindo isso há um bom tempo. Fico surpresa que você não tenha visto que ia acontecer.
Apenas mais uma coisa que ele não tinha percebido.
– O que você acha? – pergunta, depois acrescenta, apertando o gatilho: – Acho um erro gigantesco.
– Talvez. Mas ele sabe o que pensa. Kaye também. É isso que eles querem. Você vai vender a eles?
– Não tive escolha.
– Sempre há uma escolha, Logan. Mas, se quer saber a minha opinião, você fez a coisa certa. Aquele lugar está parado há tempos. Sempre me perguntei por que você não abriu mão dele. Talvez esse fosse o motivo.
– Para que meu filho possa jogar a carreira fora?
– Agora você está sendo cínico. O que você está fazendo é bom. Por que não se permite ver as coisas desse modo?
A voz dela é calma, cautelosa. Suas palavras, não exatamente ensaiadas, foram imaginadas antecipadamente. Logan tem a sensação inquietante, mais uma vez, de que está um passo atrás de todo mundo, tendo de ser administrado por quem sabe das coisas melhor do que ele.
– Seus sentimentos são complicados, eu sei – continua Olla –, mas muito tempo passou. De certa forma, não é só um recomeço para o Race. É um recomeço para você.
– Eu não sabia que precisava recomeçar.
Uma pausa do outro lado da linha; depois Olla diz:
– Desculpe. O que eu queria dizer é que me preocupo com você.
– Por que você se preocuparia comigo?
– Conheço você, Logan. Você não larga as coisas.
– Só estou com medo de nosso filho cometer o pior erro da vida dele. Que isso não passe de uma veneta romântica.
No silêncio que vem em seguida, Logan pensa em Olla parada em sua cozinha, com o telefone encostado no ouvido. O cômodo é aconchegante, de teto baixo; panelas de cobre e ervas secas, atadas em molhos com barbante, penduradas nas traves do teto. Ela deve estar girando o fio do telefone no indicador, um hábito antigo. Outras imagens, outras lembranças: o modo como leva os para a testa para ler as letras pequenas; o ponto avermelhado que surge na testa sempre que ela sente raiva; seu hábito de pôr sal na comida sem provar. Divorciados, mas ainda guardiões de uma história compartilhada, do inventário da vida do outro.
– Deixe-me perguntar uma coisa – diz Olla.
– Certo.
– Você está em todos os noticiários. Esteve trabalhando nessa direção a vida inteira. Pelo modo como vejo, está recebendo mais do que jamais poderia pedir. Está gostando de alguma coisa disso? Porque não parece.
A pergunta é curiosa. Gostando? É isso que deve acontecer?
– Não pensei nisso desse modo.
– Então talvez seja hora de pensar. Deixe de lado as grandes questões por um tempo e simplesmente viva.
– Achei que estava vivendo.
– Todo mundo acha. Sinto sua falta, Logan, e gostei de ser casada com você. Sei que você não acredita, mas é verdade. Nós tivemos uma família maravilhosa e sinto muito orgulho de tudo o que você realizou. Mas Bettina me faz feliz. Essa vida me faz feliz. No fim das contas, não é muito complicado. Quero que você tenha isso também.
Logan não tinha o que dizer. Ela havia acertado na mosca. Ele se sentia magoado? Por que deveria? É só a verdade. Ocorre-lhe de súbito que é exatamente isso que Race está pedindo. Seu filho quer ser feliz.
– Então vemos você no domingo? – pergunta Olla, levando a conversa de volta para um terreno mais firme. – Quatro horas, não se atrase.
– Race me disse a mesma coisa.
– É porque ele conhece você tanto quanto eu. Não se sinta ofendido, já estamos acostumados com isso.
Ela faz uma pausa.
– Pensando bem, por que não traz alguém?
Ele não sabe o que pensar dessa sugestão curiosa.
– Este não é o território das ex-esposas, falando em termos gerais.
– Sério, Logan: você precisa começar em algum lugar. Você é uma celebridade. Certamente há alguém que pode convidar.
– Não há. Mesmo.
– Que tal aquela... qual é o nome? A bioquímica.
– Olla, isso foi há dois anos.
Olla suspira – um som de esposa, som de casamento.
– Só estou tentando ajudar. Não gosto de ver você assim. É o seu grande momento. Você não deveria vivê-lo sozinho. Pense nisso, está bem?
Depois de desligar, Logan fica pensativo. O sol se pôs, escurecendo a sala. “Assim”? Como ele está? E “celebridade”: a palavra é estranha. Ele não é uma celebridade. É um homem com um trabalho, que vive sozinho, que volta para um apartamento parecido com uma suíte de hotel.
Serve-se de uma taça de vinho e vai para o quarto. No armário encontra o paletó e, num bolso externo, o cartão de Nessa. Ela atende ao terceiro toque, ligeiramente ofegante.
– Srta. Tripp, aqui é Logan Miles. Estou incomodando?
Ela não parece surpresa com o telefonema.
– Acabei de voltar de uma corrida. Pode me dar um minuto? Preciso de um copo d’água.
Ela pousa o telefone. Logan ouve seus passos, depois uma torneira aberta. Será que está ouvindo alguma coisa – alguém – a mais? Acha que não. Trinta segundos e ela retorna.
– Fico feliz por ter ligado, professor. Viu a matéria? Acho que deve ter visto.
– Achei muito boa.
Ela dá um riso leve.
– Está mentindo, mas tudo bem. O senhor não me deu muita coisa com que trabalhar. É um homem muito discreto. Queria que tivéssemos conversado mais.
– É, bom, esse é o motivo da minha ligação, veja só. Eu estava pensando, Srta. Tripp...
– Por favor – interrompe ela –, me chame de Nessa.
Ele se sente subitamente sem jeito.
– Nessa, claro. – Engole em seco e segue em frente. – Sei que está em cima da hora, mas fiquei pensando se, talvez, você gostaria de me acompanhar a uma festa neste domingo, às quatro horas.
– Ora, professor. – Ela parece timidamente divertida. – Está me convidando para sair?
Logan entende na mesma hora: está bancando o idiota. Não sabe sequer se ela está disponível. O convite é absurdo.
– Preciso avisar – diz, recuando. – É uma festa de aniversário de dois meninos de 5 anos. Meus netos.
Ah, que legal, pensa ele, você dizendo que é avô. A cada palavra sente que está cavando a própria sepultura.
– Gêmeos – acrescenta, sem necessidade.
– Vai haver um mágico?
– Como assim?
– É que eu gosto muito de mágicos.
Ela está curtindo com a sua cara? Foi uma ideia terrível.
– Claro que entendo se você não estiver livre. Talvez em outra ocasião...
– Eu adoraria.
Chega o domingo, ensolarado e claro. Logan passa a manhã comprando presentes para os meninos – um pula-pula para Noa; para o irmão, Cam, o mais concentrado dos dois, um jogo de montar –, nada um pouco para acalmar os nervos e espera a hora chegar. Às três, pega o carro na garagem – sem ser usado há muitas semanas, está bem empoeirado, para sua consternação – e segue até o endereço informado por Nessa. Vê-se diante de um complexo de apartamentos moderno e grande a dois quarteirões do porto. Nessa está esperando perto da entrada. Veste calça branca, blusa cor de pêssego e sandálias de salto baixo e abertas. O cabelo está solto e recém-lavado. Tem nas mãos um grande embrulho de papel prateado. Logan desce para abrir a porta para ela.
– É muita gentileza sua – diz, olhando o embrulho. – Mas não precisava levar presente.
– É uma bola de futebol – diz ela, satisfeita.
Coloca a caixa no banco de trás, junto com as outras.
– Não acha que eles são novos demais? Meus sobrinhos brincam com a deles durante horas.
É a primeira menção à família dela, que, como Logan fica sabendo, é bem grande. Criada num subúrbio do norte, onde os pais ainda moram – seu pai é chefe de uma agência dos correios –, ela é a quarta de seis filhos. Três, as irmãs mais velhas e um irmão mais novo, são casados e têm filhos. Assim, pensa Logan, ela não desconhece a vida que ele levou, aquela vida costumeira de crianças, deveres e jamais tempo de sobra. Logan já explicou que a festa vai ser na casa de sua ex-esposa, fato que Nessa não comentou. Ele se pergunta se é um hábito de jornalista, guardar seus pensamentos para si de modo que os outros revelem mais sobre si mesmos, depois se censura pela suspeita. Talvez não faça diferença para uma pessoa da geração dela, criada num mundo mais eticamente maleável, de parceiros mudando constantemente.
A viagem até a casa de Olla leva trinta minutos. A conversa é fácil. Breves menções à conferência. Ele pergunta sobre o trabalho dela, se ela gosta, e ela diz que sim. Ela gosta de viajar, conhecer pessoas novas, aprender sobre o mundo e tentar moldá-lo em histórias.
– Sempre fui assim, mesmo quando era criança – explica. – Ficava sentada na sala escrevendo durante horas. Na maior parte eram coisas bobas, elfos, castelos e dragões, mas à medida que fiquei mais velha fui me interessando mais pelas coisas reais.
– Você ainda escreve ficção?
– Ah, de vez em quando, só para me divertir. Todo repórter que eu conheço tem um romance pela metade em algum lugar da mesa, em geral bem ruim. É como uma doença que todos temos, esse desejo de penetrar abaixo da superfície, encontrar algum tipo de padrão mais amplo.
– Você acha isso possível?
Ela pensa na pergunta, olhando pelo para-brisa.
– Acho que existe um padrão. A vida significa alguma coisa. Não é só ir trabalhar, fazer o jantar e levar o carro para a oficina. Não concorda?
Estão indo por um subúrbio: casas ajeitadinhas, afastadas da estrada, caixas de correspondência em posição de sentido junto ao meio-fio, cães latindo nos quintais enquanto eles passam.
– Acho que a maior parte das pessoas concordaria – diz Logan. – Pelo menos esperamos que sim. Mas pode ser muito difícil de detectar.
Ela parece satisfeita com a resposta.
– Então você tem o seu jeito e eu tenho o meu. Algumas pessoas vão à igreja. Eu escrevo histórias. Você estuda história. Na verdade não são coisas muito diferentes.
Ela o encara, depois volta o olhar para o mundo que passa.
– Tenho um amigo romancista. É bem famoso, talvez você tenha ouvido falar dele. O cara é uma tragédia, bebe um litro por dia, mal se incomoda em trocar de roupa, todo o clichê do artista torturado. Uma vez perguntei: por que você faz isso, se isso o deixa tão mal? Porque, falando sério, ele não vai chegar aos 40, vivendo desse modo. E os livros dele são completamente depressivos.
– O que ele disse?
– “Porque não suporto não saber.”
Chegam. A porta está aberta, receptiva; a rua em frente tem uma fila de carros. Pais e crianças de várias idades sobem pelo caminho, as mais novas correndo à frente, carregando os presentes que mal podem esperar para ver sendo abertos, revelando o conteúdo mágico. Logan não tinha percebido que a festa seria tão grande; quem são todas essas pessoas? Colegas dos meninos na escola, vizinhos, colegas de Race, Kaye e seus parentes, as irmãs de Olla com os maridos, alguns velhos amigos que Logan reconhece, mas, em alguns casos, não vê há anos.
Olla os recebe na entrada. Está usando um vestido solto, um colar grande, um tanto desajeitado, sem sapatos nem maquiagem. O cabelo, grisalho desde os 40 e poucos anos, cai descuidado nos ombros. Lá se foi para sempre a advogada com terninho arrumado e saltos altos, substituída por uma mulher de hábitos e gostos mais simples, mais relaxados. Beija Logan nas duas bochechas e se vira para apertar a mão de Nessa, os olhos brilhando com surpresa mal contida; jamais a ex-esposa imaginou que seu desafio seria aceito. Nessa vai até a cozinha pegar bebidas enquanto Logan e Olla carregam os presentes para o quarto de hóspedes, onde há uma enorme pilha de embrulhos em cima da cama.
– Quem é ela, Logan? – pergunta Olla, entusiasmada. – É adorável.
– Você quer dizer jovem.
– Isso é totalmente da sua conta. Como a conheceu?
Ele conta sobre a entrevista.
– Foi uma espécie de tiro no escuro – admite. – Fiquei surpreso quando ela aceitou. Um velhote feito eu.
Olla sorri.
– Bom, fico feliz que a tenha convidado. E ela parece gostar de você.
Na sala, ele se move no meio dos adultos, cumprimentando os conhecidos, apresentando-se aos desconhecidos. Nessa não está em lugar nenhum. Logan sai pela porta do quintal, até o gramado amplo e inclinado, cercado por um belo jardim, obra de Bettina. As crianças estão correndo feito loucas, seguindo algum código secreto de brincadeira. Ele vê Nessa sentada com Kaye no fundo do pátio, as duas conversando animadas, mas, antes que possa ir até lá, Race o segura pelo braço.
– Pai, você devia ter me contado – diz ele com deleite malicioso. – Incrível.
– Culpe sua mãe. Foi ideia dela, eu trazer uma pessoa.
– Bom para ela. Bom para você. Garotos – chama ele –, venham dizer olá ao vovô.
Os meninos se afastam da brincadeira e correm até ele. Logan se ajoelha para envolver com os braços os corpos pequenos e quentes.
– Você trouxe presente para nós? – pergunta Cam, sorrindo.
– Claro que trouxe.
– Vem brincar com a gente – pede Noa, puxando sua mão.
Race revira os olhos.
– Garotos, deixem o vovô respirar.
Logan olha para além dos netos e vê que Nessa já se juntou às crianças.
– O quê, estou velho demais?
Ele sorri para os garotos. Está cheio de lembranças de outras festas, de quando Race era pequeno.
– Quais são as regras?
– Você vira estátua quando alguém bota a mão – explica Noa, com os olhos arregalados como se estivesse anunciando uma descoberta que vai mudar o destino da humanidade. – Quando todo mundo vira estátua, você ganhou.
– Mostre como é.
A festa prossegue animada, no clima da energia das crianças, que parece inesgotável, um motor que não se pode exaurir. Logan se permite ser apanhado o mais depressa possível, mas Nessa resiste, desviando-se e correndo até que, com um berro, sucumbe. Dois pôneis chegam num trailer, com as costas derreadas e meio carecas como roupas comidas por traças. São tão dóceis que parecem drogados. O homem que cuida deles parece ter dormido embaixo de uma ponte. Não importa: as crianças estão empolgadas. Cam e Noa são os primeiros a montar, enquanto o resto espera em fila.
– Está se divertindo?
Logan se aproxima de Nessa pelo lado e entrega uma taça de vinho. A testa dela está úmida de suor. Pais tiram fotos, colocando os filhos nas costas dos pôneis esquálidos.
– Muito – responde ela com um sorriso.
– A diversão é natural para elas. Quero dizer, para as crianças.
Nessa toma um gole de vinho.
– Sua nora é adorável. Ela me contou os planos deles.
– Você aprova?
– Se aprovo? Acho maravilhoso. Você deve estar empolgado com eles.
É apenas por causa do clima da tarde que ele se sente subitamente assim? Não empolgado, talvez, mas certamente mais confortável com a ideia. É, por que não?, pensa. Um vinhedo no campo. Espaços abertos, manhãs frescas, úmidas, um céu noturno explodindo de estrelas. Quem não desejaria isso?
– E você pode manter as terras na família – continua Nessa. Ela levanta a taça num pequeno brinde. – Um pouco de história, não é? Parece que seria bem na sua área.
Chega a grande cerimônia: os presentes são desembrulhados. Os garotos mal se olham enquanto rasgam os papéis. Hambúrgueres e cachorros-quentes, morangos e fatias de melão, bolo. Entre as crianças as cabeças começam a tombar, pequenas discordâncias explodem, as pálpebras ficam pesadas. À medida que a noite chega elas partem, enquanto alguns adultos se demoram, bebendo no pátio. Todo mundo parece reconhecer Nessa como uma importante presença nova, especialmente Bettina, que no crepúsculo que chega a leva para um passeio pelo jardim.
Quando os dois saem, quase não há mais carros na frente. Nessa, exausta e talvez um pouquinho bêbada, se recosta no banco quando eles se afastam.
– Você tem uma família maravilhosa – diz, sonolenta.
É verdade, pensa Logan. Até sua ex-mulher, que, apesar das dificuldades, surgiu nesse estágio avançado da vida como defensora da sua felicidade. Sob a influência do dia ele sente algo que estava tenso havia muito tempo relaxar por dentro. A vida não é tão ruim, tão puramente feita de obrigações, como tinha pensado. Enquanto seguem de carro, sua mente viaja até a fazenda. Já falou com o advogado para adiantar a papelada. Logo seu filho e a família estarão lá, infundindo-a com vida nova, lembranças novas.
– Eu estava pensando – começa Logan – que talvez devesse ir lá, dar uma olhada. Não vou há anos.
Nessa confirma, com ar sonhador.
– Acho uma boa ideia.
– Você gostaria de ir? Seriam só uns dois dias. Digamos que no fim de semana que vem.
Os olhos de Nessa estão fechados. Outro erro: ele pôs o carro na frente dos bois. Ela está bêbada; ele está se aproveitando desse momento de sentimento caloroso. Talvez ela tenha caído no sono.
– Poderia ser útil para você – diz ele, rapidamente. – Outra matéria, talvez.
– Uma matéria – repete Nessa em tom neutro e mais um momento se passa. – Então, só para deixar claro, você está me convidando para viajar com você no fim de semana para me ajudar a escrever uma matéria.
– É, acho. Se é isso que você quer.
– Pare.
– Está se sentindo mal?
O pior chegou. A noite está arruinada.
– Por favor, pare.
Ele leva o carro para o acostamento. Espera que ela saia correndo, mas em vez disso Nessa se vira para ele.
– Nessa, você está bem?
Ela parece a ponto de gargalhar. Antes que ele possa dizer mais uma palavra, ela segura seu rosto e o puxa, esmagando sua boca com um beijo.
Almoçam juntos na terça-feira, assistem a um filme na noite seguinte, e no sábado partem de manhã cedo. A cidade fica para trás enquanto penetram no coração do campo. O dia está fresco, com nuvens gordas e brancas, mas a temperatura começa a subir enquanto eles seguem para o oeste, para longe do mar.
É meio-dia quando chegam a Headly. A cidade melhorou um pouco. Mais estabelecimentos comerciais ladeiam a empoeirada rua principal e a escola se expandiu. Uma nova sede do município fica na parte alta da praça.
Hospedam-se na pousada – Logan reservou quartos separados, não querendo presumir demais –, e com uma cesta de piquenique vão para a fazenda.
A visão é desanimadora. A terra, sem cuidados há anos, está cheia de mato; o celeiro meio que desmoronou, além de muitas das construções externas. A casa só está um pouquinho melhor do que isso – tinta descascando, a varanda meio tombada, calhas se soltando dos beirais. Logan fica parado em silêncio por um tempo, absorvendo isso. A casa nunca foi grande, mas, como todos os lugares revisitados, parece uma versão inferior da que foi guardada na memória. O estado de degradação o perturba. Mas, além disso, ele experimenta um jorro de emoção que não teve durante anos: o sentimento de voltar para casa, para o lar.
– Logan? Tudo bem?
Ele se vira para Nessa. Ela está ligeiramente afastada.
– É estranho voltar – diz, e dá de ombros, hesitando, mas a palavra “estranho” não faz jus à situação.
– Na verdade não está tão ruim. Tenho certeza de que eles podem consertar.
Logan ainda não quer entrar na casa. Colocam o cobertor no chão e arrumam o piquenique: pão e queijo, frutas, carne defumada, limonada. O lugar que escolheram tem uma vista dos morros desbotados. O sol está quente, mas nuvens passam, rápidas, criando breves intervalos de sombra. Enquanto comem, Logan aponta para os locais, explicando a história: os celeiros, os cercados, os campos onde os cavalos pastavam, os bosques onde ele passava horas preguiçosas na infância, perdido em mundos da imaginação. Começa a relaxar. A tensão entre o que recorda e o que vê agora se suaviza; o passado flui, querendo ser contado – se bem que, claro, há mais coisas na história.
Chega o momento em que a casa não pode mais ser evitada. Logan pega a chave no bolso – ela ficou na mesa de sua escrivaninha, intocada, durante anos –, e os dois entram. A porta dá diretamente na sala de estar. O ar é rançoso. Alguns móveis permanecem ali: duas poltronas, prateleiras, a mesa onde seu pai fazia as contas. Uma grossa camada de poeira cobre todas as superfícies. Seguem adiante. Todos os armários da cozinha estão abertos, como se explorados por fantasmas famintos. Apesar do bolor, cheiros o atacam, tingidos de passado.
Vão para a sala dos fundos. Logan é atraído para ela como se por uma força magnética. Ali, coberta por uma lona, está a forma inconfundível do piano. Ele puxa o pano de lado e levanta a tampa, expondo as teclas, amarelas como dentes velhos.
– Você toca? – pergunta Nessa.
São as primeiras palavras que qualquer um dos dois diz desde que entraram na casa. Logan aperta uma tecla, expelindo uma nota azeda.
– Eu? Não.
O som paira no ar, depois some.
– Infelizmente não fui de todo honesto com você – diz, levantando os olhos. – Você perguntou se eu venho de uma família religiosa. Minha mãe era o que costumava ser conhecido como “sonhadora de Amy”. Você conhece a expressão?
Nessa franze a testa.
– Isso não é um mito?
– Você quer dizer que a ciência moderna talvez tenha dado um novo nome ao fenômeno? Em termos convencionais, acho que você poderia dizer que ela era louca. Esquizofrênica com uma tendência para a grandiosidade. É mais ou menos o que os médicos nos disseram.
– Mas você não acha que seja isso.
Logan dá de ombros.
– Não é de fato uma pergunta que possa ser respondida com um sim ou não. Às vezes acho que sim, às vezes que não. Pelo menos ela chegou a isso honestamente. Seu nome de solteira era Jaxon.
Nessa fica visivelmente pasma.
– Você descende de uma Primeira Família?
Logan assente.
– Não é algo de que eu goste de falar. As pessoas ficam fazendo suposições.
– Não creio que hoje em dia alguém daria muita importância.
– Ah, você ficaria surpresa. Por aqui as pessoas ligam para essas coisas.
Nessa faz uma pausa, depois pergunta:
– E o seu pai?
– Meu pai era um homem simples. Direto, seria a palavra. Se tinha uma religião, eram os cavalos. Isso e minha mãe. Ele a amava muito, mesmo quando as coisas ficaram ruins. Segundo ele, quando os dois se casaram ela era como todo mundo. Talvez um pouco mais devota do que a maioria, mas isso não era muito incomum por aqui. Só mais tarde foi que ela começou a ter surtos. Visões, episódios, sonhos acordada, como quer que você queira chamar.
– O piano era dela?
Nessa havia intuído corretamente.
– Minha mãe era uma garota do campo, mas vinha de uma família musical. Desde cedo ela foi bastante boa. Algumas pessoas diziam que até mesmo um prodígio. Poderia ter seguido carreira, mas então conheceu meu pai, e foi isso. Nesse sentido eles eram muito tradicionais. Ela ainda tocava às vezes, mas acho que tinha sentimentos ambíguos com relação a isso.
Ele faz uma pausa, respira fundo e continua:
– Até que uma noite acordei e a ouvi tocando. Eu era muito novo, tinha uns 6 ou 7 anos. A música era diferente de tudo o que eu já tinha ouvido. Incrivelmente linda, quase hipnótica. Nem consigo descrever. Me envolveu completamente. Depois de um tempo, desci. Minha mãe ainda estava tocando, mas não estava sozinha. Meu pai estava ali, também. Sentado numa cadeira com o rosto nas mãos. Os olhos da minha mãe estavam abertos, mas ela não olhava as teclas. Seu rosto tinha uma espécie de vazio apagado. Era como se alguma força externa estivesse pegando o corpo dela emprestado, com intenções próprias. É difícil explicar, talvez eu não esteja contando direito, mas eu soube instantaneamente que a pessoa que tocava o piano não era minha mãe. Ela havia se tornado outra pessoa. Meu pai ficava dizendo: “Penny, pare.” Na verdade estava implorando. “Isso não é real, não é real.”
– Deve ter sido aterrorizante.
– Foi. Ali estava ele, aquele homem orgulhoso, forte feito um touro, completamente impotente, tremendo e com lágrimas. Aquilo me abalou. Eu queria dar o fora e fingir que não tinha acontecido, mas então minha mãe parou de tocar.
Logan estala os dedos para dar ênfase.
– Assim, bem no meio de uma frase musical, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ela se levantou do piano e passou por mim como se eu nem estivesse ali. Perguntei ao meu pai: “O que está acontecendo? O que há de errado com ela?” Mas ele não respondeu. Nós fomos atrás dela, para fora. Não sei que horas eram, mas era tarde, no meio da noite. Ela parou na beira da varanda, olhando por cima dos campos. Durante um tempo nada aconteceu, ela só ficou parada, com a mesma expressão vazia. Então começou a murmurar alguma coisa. A princípio eu não soube o que ela estava dizendo. Uma frase, que repetia sem parar. “Venha a mim. Venha a mim, venha a mim, venha a mim.” Nunca vou esquecer.
Nessa está olhando atentamente o rosto dele.
– Com quem você acha que ela estava falando?
Logan dá de ombros.
– Quem sabe? Não lembro o que aconteceu em seguida. Acho que fui para a cama. Alguns dias depois aconteceu a mesma coisa. Com o tempo aquilo virou uma espécie de ritual noturno. Ah, mamãe está tocando piano de novo às quatro da madrugada. Durante o dia ela parecia ótima, mas isso também mudou. Ela começou a ficar agitada, obsessiva, ou então andava pela casa meio atordoada. Foi quando começaram as pinturas.
– Pinturas? – repete Nessa. – Quer dizer, quadros?
– Venha, vou mostrar.
Ele a acompanha ao andar de cima. Três quartos minúsculos sob o telhado. No teto do corredor há um alçapão com uma corda. Logan o puxa e desdobra uma precária escada de madeira que leva ao sótão.
Sobem para o espaço apinhado e baixo. De pé, em doze camadas, as pinturas de sua mãe acompanham quase uma parede inteira. Logan se ajoelha e puxa o tecido que as protege.
É como abrir a porta de um jardim. As pinturas, de vários tamanhos, revelam uma paisagem de flores selvagens, as cores ardendo quase com brilho sobrenatural. Algumas mostram um fundo de montanhas; outras, o mar.
– Logan, elas são lindas.
São. Embrulhadas em dor, mesmo assim são criações de beleza espantosa. Ele pega a primeira e leva até Nessa, que a segura.
– É... – ela começa, mas para. – Nem sei como dizer.
– Sobrenatural?
– Eu ia dizer assombrosa – confessa. – E são todas assim?
– Diferentes pontos de vista, e o estilo melhorou com o tempo. Mas os temas são idênticos. Os campos, as flores, o oceano ao fundo.
– São centenas.
– Trezentas e setenta e duas.
– O que você acha que é esse lugar? Algum local onde ela esteve?
– Se é, eu nunca vi. Nem meu pai. Não, acho que a imagem veio de dentro da cabeça dela. Como a música.
Nessa pensa nisso.
– Uma visão.
– Talvez seja essa a palavra.
Ela examina o quadro de novo. Há um longo silêncio.
– O que aconteceu com ela, Logan?
Ele respira fundo para se firmar.
– Com o tempo isso foi demais. Os surtos, a loucura. Eu tinha 16 anos quando meu pai a internou. Ele a visitava toda semana, às vezes mais, porém não deixava que eu a visse. Acho que o estado dela era muito ruim. No meu ano de calouro na faculdade ela se matou.
Por um momento Nessa não diz nada. E, realmente, o que há para dizer? Logan nunca soube. Num minuto a pessoa está ali, no outro se foi. Tudo longe no passado, quase quarenta anos atrás.
– Sinto muito, Logan. Deve ter sido muito difícil.
– Ela deixou um bilhete. Não era muito longo.
– O que dizia?
A corda, a cadeira, o prédio silencioso depois que todo mundo foi para a cama: é ali que sua imaginação termina. Ele jamais permitiu que a imagem fosse mais longe, visualizar o momento mortal.
– “Deixe-a descansar.”
Voltam à pousada. Ali, pela primeira vez, no quarto de Nessa, eles fazem amor. O ato é sem pressa; feito sem palavras. O corpo dela, firme e liso, é extraordinário para ele, o presente mais maravilhoso que já recebeu. Depois dormem.
A noite está caindo quando Logan acorda com o som de água corrente. O chuveiro se fecha com um gemido e Nessa emerge do banheiro com um roupão macio, uma toalha enrolada no cabelo. Ela se senta na beira da cama.
– Com fome? – pergunta, sorrindo.
– Não há muitas opções. Pensei em irmos ao restaurante ali embaixo.
Ela o beija na boca. O beijo é rápido, mas ela permite que o rosto se demore perto do dele.
– Vá se vestir.
Nessa volta ao banheiro para terminar seus preparativos. Com que rapidez a vida pode mudar, pensa Logan. Não havia ninguém, agora há alguém; ele não está sozinho. Percebe que contar a história da mãe era sua intenção desde o início; não tem outro modo de explicar quem ele é. É isso que duas pessoas devem dar uma à outra, pensa: sua história. De que outro modo a esperança pode ser conhecida?
Veste a calça e a camisa para ir ao quarto ao lado, trocar de roupa para o jantar, mas quando entra no corredor ouve seu nome ser chamado.
– Dr. Miles, Dr. Miles!
A voz é do proprietário do hotel, um homem pequeno e muito bronzeado com cabelo preto e modos nervosamente formais, que sobe correndo a escada.
– Telefonema para o senhor – diz, empolgado.
Em seguida para, recuperando o fôlego, balançando o ar diante do rosto.
– Alguém tentou falar com o senhor o dia inteiro.
– Verdade? Quem?
Para Logan, ninguém sabia que ele estava ali.
O proprietário olha para a porta do quarto de Nessa, depois de volta para ele.
– É, bem – diz, e pigarreia sem jeito. – A pessoa está no telefone agora. Diz que é muito urgente. Por favor, vou mostrar o caminho.
Logan o acompanha escada abaixo. Eles passam pelo saguão e seguem até uma saleta atrás da recepção, onde há um grande telefone preto sobre uma mesa vazia.
– Vou deixá-lo à vontade – diz o proprietário com uma pequena reverência.
Sozinho, Logan pega o aparelho.
– Aqui é o professor Miles.
Uma voz de mulher, desconhecida, diz:
– Dr. Miles, por favor espere enquanto eu transfiro para o Dr. Wilcox.
Melville Wilcox é o supervisor do trabalho na Primeira Colônia. Esses telefonemas só acontecem raramente, e sempre com planejamento consideravelmente antecipado. Apenas posicionando uma cadeia de aeronaves sobre o Pacífico, um arranjo tênue e caro, o sinal pode ser transmitido. O que quer que Wilcox deseje deve ser importante. Durante um minuto inteiro a linha estala com estática vazia. Logan começa a pensar que a ligação se perdeu quando chega a voz de Wilcox.
– Logan, está me ouvindo?
– Sim, ouço bem.
– Bom, passei dias tentando programar isso. Está sentado? Porque talvez você queira se sentar.
– Mel, o que está acontecendo aí?
A voz dele fica empolgada.
– Há seis dias uma aeronave de reconhecimento teleguiada examinando o litoral noroeste do Pacífico tirou uma foto. Uma foto muito interessante. Você tem acesso a um teleimagem?
Logan examina a sala. Para sua surpresa, há um.
– Me dê o número – diz Wilcox. – Vou pedir que Lucinda envie.
Logan chama o proprietário, que, entusiasmado, dá a informação e se oferece para operar a máquina.
– Certo, eles estão mandando – avisa Wilcox.
O teleimagem emite um guincho.
– Acho que a conexão está feita – declara o proprietário.
– Por que não me diz simplesmente o que é? – pergunta Logan a Wilcox.
– Ah, acredite, é melhor você ver por si mesmo.
Depois de uma série de estalos metálicos, a máquina puxa um pedaço de papel da bandeja. Enquanto a cabeça de impressão se move para lá e para cá, Logan percebe um segundo som, vindo de fora – como batidas rítmicas. Só percebe o que está ouvindo quando Nessa entra na sala, vestida para o jantar. Ela parece animada, até um pouco alarmada.
– Logan, tem um alteador lá fora. Parece que vai pousar no gramado da frente.
– E cá estamos – anuncia o proprietário.
Com um sorriso de triunfo, ele coloca a imagem transferida sobre a mesa. É a imagem de uma casa, vista de cima. Não é uma ruína, é uma casa de verdade. Tem uma cerca à sua volta; dentro do perímetro há uma segunda estrutura, menor, uma latrina, talvez, e as fileiras de uma horta muito bem plantada.
– E então? – pergunta Wilcox. – Recebeu?
Há mais. No campo ao lado da casa, pedras foram arrumadas no chão para formar letras de tamanho suficiente para serem lidas do ar.
– O que é, Logan? – pergunta Nessa.
Logan levanta os olhos. Nessa o está encarando. Ele sabe que o mundo está prestes a mudar. Não somente para ele. Para todos. Do lado de fora da pousada o barulho vai num crescendo enquanto o alteador pousa.
– É uma mensagem – diz ele, mostrando o papel a Nessa.
Três palavras: VENHA A MIM.
NOVENTA E DOIS
Seis dias se passaram. Logan e Nessa, na sala de observação, estão sentados em silêncio.
Numa aeronave, o tempo se move de maneira diferente. A empolgação da viagem se desvanece depressa, substituída por uma espécie de hibernação física e mental. Os dias parecem não ter forma, a nave em si mal parece se mover. Logan e Nessa, os únicos passageiros, objetos de uma agitação obscena por parte de funcionários em número muito maior, passam o tempo dormindo, lendo, jogando cartas. À noite, depois de comerem sozinhos na sala de jantar grande demais, escolhem filmes da coleção da aeronave e assistem sozinhos ou com tripulantes.
Mas agora, com o destino à vista, o tempo volta aos trilhos. A nave está indo para o norte, acompanhando o litoral da Califórnia numa altitude de 2 mil pés. Enormes penhascos envoltos pela névoa da manhã, florestas poderosas, de árvores antigas, a grandiosidade indomável do mar colidindo com a terra: o coração de Logan se agita, como sempre, ao ver esse local selvagem, intocado.
– É como você pensava? – pergunta a Nessa.
Olhando rapidamente pela janela, ela mal disse uma palavra desde o café da manhã.
– Não sei bem o que eu pensava.
Ela se vira para olhá-lo, os lábios apertados e os olhos ligeiramente franzidos, como alguém tentando resolver um problema.
– É lindo, mas há outra coisa. Uma sensação diferente.
Não muito mais tarde surge a plataforma. Posta 100 metros acima da superfície do oceano, tem a aparência de uma estrutura rígida, mas de fato está flutuando ancorada. A aeronave se move graciosamente para o lugar certo e se conecta à torre de ancoragem. Cordas e correntes são baixadas. O veículo é puxado lentamente para o deque. Enquanto Logan e Nessa desembarcam, Wilcox vai na direção deles com um passo bamboleante: é um homem pesadão, com barba revolta salpicada de grisalho, o rosto e os braços bronzeados pelo sol e o vento.
– Bem-vindo de volta – diz Wilcox, enquanto os dois trocam um aperto de mãos. – E você – diz ele – deve ser Nessa.
Wilcox tem conhecimento do papel de Nessa, mas Logan sabe que ele não se sente totalmente confortável com isso, acreditando que logo vai envolver a imprensa. Mas isso é parte do projeto de Logan. A segurança nunca é tão rígida quanto deveria. A notícia vai ser divulgada, e assim que isso acontecer eles perderão o controle da narrativa. Ele prefere ficar à frente da situação entregando a história a uma pessoa, alguém em quem possam confiar.
– Vocês precisam comer, se lavar? – pergunta Wilcox. – O pássaro está abastecido e pronto para quando você quiser.
– Quanto tempo vamos levar para chegar ao local? – pergunta Logan.
– Uns noventa minutos.
Logan olha para Nessa, que assente.
– Não vejo motivo para demorar – diz ele.
O alteador espera numa segunda plataforma, ligeiramente elevada, com as hélices apontando para cima. Enquanto seguem até lá, Wilcox conta as novidades a Logan. Seguindo as instruções, ninguém se aproximou da casa, ainda que a pessoa que a habita, uma mulher, tenha sido vista várias vezes, trabalhando no quintal. A equipe de Wilcox levou material para o acampamento com o objetivo de empacotar a casa, se Logan o desejar.
– Ela sabe que está sendo observada? – pergunta Logan.
– Deve saber, com todos aqueles alteadores indo e vindo, mas não age como se soubesse.
Eles ocupam os lugares no pássaro. Da pasta embaixo do braço Wilcox puxa uma foto e a entrega a Logan. A imagem, feita de grande distância, é granulada. Mostra uma mulher com uma nuvem de cabelos brancos, encolhida diante de um canteiro de verduras. Está usando o que parece ser uma espécie de saco de tecido grosseiro, quase sem forma. O rosto, virado para baixo, está obscurecido.
– Então, quem é ela? – pergunta Wilcox.
Logan apenas olha para ele.
– Sei o que você está pensando – diz Wilcox, levantando uma das mãos com indulgência –, e me perdoe, mas de jeito nenhum, porra.
– Ela é a única habitante de um continente despovoado há novecentos anos. Você tem alguma outra teoria?
– Talvez pessoas tenham voltado para cá sem que a gente saiba.
– É possível. Mas por que só ela? Por que não encontramos mais ninguém em 36 meses?
– Talvez eles não queiram ser encontrados.
– Ela não tem problema com relação a isso. “Venha a mim” parece um convite impresso.
A conversa é abafada pelo rugido dos motores do alteador. Uma sacudida e eles partem de novo, subindo verticalmente. Quando uma altitude suficiente é alcançada, o nariz se inclina para cima enquanto os rotores passam para a horizontal. O alteador acelera, seguindo baixo sobre a água e depois o litoral. O oceano desaparece. Tudo sob eles é coberto de árvores, um tapete verde. O barulho é tremendo. Cada um segue envolto numa bolha dos próprios pensamentos; não haverá mais conversas até pousarem.
Logan está à beira do sono quando sente o alteador diminuindo a velocidade. Ajeita as costas e olha pela janela.
Cor.
É a primeira coisa que vê. Vermelhos, azuis, laranja, verdes, violeta: estendendo-se da floresta na base das montanhas até o mar, flores pintam a terra numa variedade de tons tão ricamente prismáticos que é como se a própria luz tivesse se despedaçado. Os rotores se inclinam; a aeronave começa a descer. Logan para de olhar pela janela e encontra Nessa encarando-o. Os olhos dela estão cheios de um espanto silencioso que, ele sabe, é espelho do seu.
– Meu Deus – murmura ela.
O acampamento fica situado numa depressão estreita, separado do campo de flores selvagens por um bosque. Na tenda principal Wilcox apresenta sua equipe, cerca de doze pesquisadores, alguns que Logan conhece de viagens anteriores. Logan, por sua vez, apresenta Nessa ao grupo, explicando somente que ela veio como “conselheira especial”. Fica sabendo que a moradora da casa esteve trabalhando na horta desde de manhã cedo.
Logan dá instruções. Todo mundo deve esperar ali. Em nenhuma circunstância ninguém deve se aproximar da casa até que ele e Nessa retornem. Na tenda de Wilcox eles se despem e colocam as biovestimentas. A tarde é clara e quente; as vestimentas vão gerar um calor enorme. Wilcox gruda com fitas as juntas das luvas e verifica os suprimentos de ar.
– Boa sorte – diz.
Eles vão pelas árvores e entram no campo. A casa está a cerca de 200 metros.
– Logan... – diz Nessa.
– Eu sei.
Tudo é perfeito. Tudo é exatamente igual, sem a menor diferença. As flores. As montanhas. O mar. O modo como o vento se move e a luz cai. Logan mantém o olhar à frente, para não ser consumido pelas emoções poderosas que se reviram por dentro. Devagar, com as roupas volumosas, ele e Nessa vão pelo campo. A casa, de um andar, é aconchegante e bem cuidada: laterais de tábuas largas envelhecidas até o cinza, uma varanda simples, um telhado de relva, onde cresce uma grama verde.
Como foi dito, a mulher está trabalhando no quintal, onde há roseiras de várias cores. Logan e Nessa param logo antes da cerca de ripas. Ajoelhada no chão, ela não os nota, ou parece não notar. É profundamente velha. Com as mãos nodosas – dedos dobrados e enrijecidos, a pele franzida e frouxa, juntas grossas como nozes –, está arrancando ervas daninhas e colocando num balde.
– Olá – diz Logan.
Ela não responde, apenas continua a trabalhar. Seus movimentos são pacientes e concentrados. Talvez não o tenha ouvido. Talvez ouça mal ou seja surda.
Logan tenta de novo:
– Boa tarde, senhora.
Ela para, como se alertada por um som distante. Levanta o rosto devagar. Seus olhos são remelentos, úmidos e ligeiramente amarelados. Franze as pálpebras para ele durante uns dez segundos, lutando para focalizar. Faltam-lhe alguns dentes, o que faz seus lábios parecerem contraídos.
– Então vocês decidiram vir – diz ela, numa voz rouca. – Eu estava imaginando quando isso iria acontecer.
– Meu nome é Logan Miles. Esta é minha amiga Nessa Tripp. Eu esperava que pudéssemos conversar com a senhora. Tudo bem?
A mulher volta a catar as ervas daninhas. Também começa, fracamente, a murmurar consigo mesma. Logan olha para Nessa, em cujo rosto, por trás da máscara de plástico, o suor pinga, assim como no dele.
– Gostaria de ajuda? – pergunta Nessa à mulher.
A pergunta parece deixá-la perplexa. Ela se movimenta para trás, sentando-se nos calcanhares.
– Ajuda?
– É. Para tirar o mato.
A boca da mulher se franze.
– Eu conheço você, moça?
– Acho que não – responde Nessa. – Nós chegamos agora.
– De onde?
– De longe. Muito, muito longe. Percorremos uma grande distância para ver a senhora.
Ela aponta para as pedras.
– Recebemos sua mensagem.
Os olhos amarelados da mulher acompanham o gesto de Nessa.
– Ah, isso – diz depois de um momento. – Coloquei há muito tempo. Não me lembro mais por quê. Mas você disse que quer ajudar a catar o mato. Tudo bem. Passe pelo portão.
Eles entram no quintal. Nessa vai à frente, se ajoelha diante das roseiras e começa a trabalhar, afastando a terra com as luvas grossas. Logan faz o mesmo. Melhor deixar a mulher se acostumar com a presença deles antes de pressioná-la mais.
– As rosas são lindas – diz Nessa. – De que tipo elas são?
A mulher não responde. Está raspando o chão com uma garra de metal. Parece não sentir nenhum interesse por eles.
– E há quanto tempo a senhora está aqui? – pergunta Logan.
As mãos da mulher param e, depois de um tempo, voltam a trabalhar.
– Comecei o trabalho hoje de manhã. O jardim não descansa.
– Não, quero dizer neste lugar. Há quanto tempo a senhora mora aqui?
– Ah, muito tempo.
Ela arranca outra erva e, inexplicavelmente, põe a ponta verde entre os dentes da frente e mordisca, o maxilar trabalhando como o de um coelho. Com um som de insatisfação, sacode a cabeça e a joga no balde.
– Essas roupas que vocês estão usando – diz ela. – Acho que já vi antes.
Logan fica perturbado. Mais alguém já esteve aqui?
– Quando a senhora acha que foi isso?
– Não lembro.
Ela franze os lábios.
– Duvido que sejam confortáveis. Mas vocês podem usar o que quiserem. Não é da minha conta.
Mais tempo se passa. O balde está quase cheio.
– Bom, como é mesmo o seu nome? – pergunta Logan à mulher.
– Meu nome?
– É. Como a senhora se chama?
É como se a pergunta não fizesse sentido. Ela levanta a cabeça e olha para o mar. Seus olhos se estreitam na clara luz oceânica.
– Ninguém por aqui me chama de nada.
Logan olha para Nessa, que assente com cautela.
– Mas sem dúvida a senhora tem nome – pressiona ele.
Ela não responde. Os murmúrios retornaram. Não são murmúrios, percebe Logan: é uma cantiga. Notas misteriosas, quase sem tom, mas não completamente.
– Anthony mandou vocês? – pergunta ela.
De novo Logan olha para Nessa. O rosto de Nessa diz que ela também fez a conexão: Anthony Carter, o terceiro nome da pedra.
– Acho que não conheço o Anthony – responde Logan. – Ele está por aqui?
A mulher franze a testa diante do absurdo da pergunta, ou pelo menos é o que parece.
– Ele foi para casa muito tempo atrás.
– Ele é seu amigo?
Logan espera por mais, porém não há nada. A mulher pega uma rosa entre o polegar e o indicador. As pétalas estão desbotando, quebradiças e marrons. Tira do bolso do vestido uma faquinha, corta o cabo junto às primeiras folhas e larga a flor murcha no balde.
– Amy – diz Logan.
Ela para.
– É a senhora? A senhora é... Amy?
Com uma lentidão dolorosa, quase mecânica, ela gira o rosto. Encara-o por um momento, sem expressão, depois franze a testa, como se estivesse perplexa.
– Vocês ainda estão aqui.
Para onde eles teriam ido?
– Sim – diz Nessa. – Viemos ver a senhora.
Ela vira o olhar para Nessa, depois de volta para Logan.
– Por que ainda estão aqui?
Logan sente uma presença se aprofundando no olhar dela. Seus pensamentos estão assumindo uma forma mais nítida.
– Vocês são... reais?
A pergunta o faz parar. Mas, claro, faz sentido que ela pergunte isso. É a pergunta mais natural do mundo, quando alguém ficou sozinho por tanto tempo. Vocês são reais?
– Tão reais quanto você, Amy.
– Amy – repete ela., como se estivesse sentindo o gosto da palavra. – Acho que meu nome era Amy.
Mais tempo se passa. Logan e Nessa esperam.
– Essas roupas – diz ela. – São por minha causa, não é?
O que ele faz em seguida o surpreende. Mas ele não hesita. O ato parece ordenado. Tira as luvas e levanta a mão para os fechos que prendem o capacete.
– Logan – alerta Nessa.
Ele tira o capacete e coloca no chão. O gosto do ar puro invade seus sentidos. Ele respira fundo, enriquecendo os pulmões com os cheiros das flores e do mar.
– Acho que assim está muito melhor, não concorda? – pergunta.
Lágrimas chegam aos olhos da mulher. Uma expressão de espanto surge.
– Vocês estão mesmo aqui.
Logan assente.
– Vocês voltaram.
Logan segura a mão dela. Quase não tem peso e é assustadoramente fria.
– Lamento termos demorado tanto. Lamento a senhora ter ficado sozinha.
Uma lágrima escorre por seu rosto desgastado.
– Depois de todo esse tempo, vocês voltaram.
Ela está morrendo. Logan se pergunta como sabe disso, mas então a resposta vem: o bilhete de sua mãe: “Deixe-a descansar.” Sempre presumiu que ela estivesse falando de si mesma. Mas agora entende que a mensagem era para ele, para este dia.
– Nessa – diz ele, sem afastar os olhos de Amy –, volte ao acampamento e mande Wilcox juntar sua equipe e chamar um segundo alteador.
– Por quê?
Ele se vira para olhá-la.
– Preciso que eles vão embora. Todo o equipamento, tudo, menos um rádio. Dê a mensagem e volte. Eu agradeceria muito se você fizesse isso.
Ela faz uma pausa, depois assente.
– Obrigado, Nessa.
Logan fica olhando enquanto ela passa pelas flores, entra no meio das árvores e some de vista. Tanta cor, pensa. Tanta vida em toda parte. Sente-se tremendamente feliz. Um peso foi tirado de sua vida.
– Minha mãe sonhava com você, sabe?
A cabeça de Amy está abaixada. Lágrimas escorrem por seu rosto em rios brilhantes. Está feliz? Está triste? Existe uma alegria tão grande que parece tristeza, Logan sabe, e o oposto é igualmente verdadeiro.
– Muitas pessoas sonhavam. Com este lugar, Amy. As flores, o mar. Minha mãe fez pinturas sobre este lugar, centenas. Ela estava dizendo para eu vir encontrá-la.
Ele faz uma pausa e diz:
– Foi você que escreveu aqueles nomes na pedra, não foi?
Ela confirma levemente com a cabeça, com o sofrimento fluindo, direto do passado.
– Brad. Lacey. Anthony. Alicia. Michael. Sara. Lucius. Todos, sua família, seus Doze.
A resposta dela vem num sussurro.
– É.
– E Peter. Acima de tudo, Peter. “Peter Jaxon, esposo amado.”
– É.
Logan segura o queixo de Amy e levanta o rosto dela gentilmente.
– Foi um mundo que você nos deu, Amy. Está vendo? Somos os seus filhos. Seus filhos vieram para casa.
Um instante de silêncio – um instante sagrado, pensa Logan, porque dentro desse instante ele experimenta uma emoção totalmente nova. É o sentimento de um mundo, uma realidade, se expandindo para além dos limites visíveis, até um vasto desconhecido; e do mesmo modo acredita que ele – que todo mundo, os vivos, os mortos e os que ainda virão – pertence a essa existência maior, que ultrapassa o tempo. É por isso que ele veio: para ser um agente desse conhecimento.
– Você pode fazer uma coisa por mim? – pergunta.
Ela confirma com a cabeça. O tempo dos dois juntos será breve, Logan sabe. Um dia, uma noite, talvez não mais do que isso.
– Conte a história, Amy.
Justin Cronin
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















