
Remamos pela baía, passando por barcos balançantes com a ferrugem vazando das emendas dos cascos, por bandos de aves marinhas silenciosas amontoadas nas ruínas de docas afundadas e cobertas de cracas, por pescadores que baixavam as redes para nos encarar, estupefatos, sem saber se éramos reais ou imaginários — uma procissão de fantasmas flutuando na água ou de pessoas que em breve virariam fantasmas. Éramos dez crianças e uma ave em três pequenos barcos instáveis, remando em silêncio, com vontade, para alto-mar, deixando para trás rapidamente a única baía segura em quilômetros, que se exibia rochosa e mágica à luz azul-dourada do amanhecer. Nosso objetivo, a costa irregular do País de Gales, estava em algum lugar à frente, visível apenas como um borrão difuso, uma mancha de tinta ao longo do horizonte.
Passamos pelo velho farol, uma construção tranquila de longe, que ainda na noite anterior fora cenário de muitos traumas. Foi lá que, com bombas explodindo por todo lado, quase nos afogamos e quase fomos despedaçados por balas. Foi lá que peguei uma arma, puxei o gatilho e matei um homem, um ato ainda incompreensível para mim. Foi lá que perdemos a srta. Peregrine, para depois a recuperarmos das garras de aço de um submarino — embora ela tenha sido devolvida com um problema cuja solução não sabíamos como obter. Estava empoleirada na proa do mesmo barco que eu, vendo desaparecer o santuário que criara, perdendo-o um pouco mais a cada remada.
Finalmente, passamos do quebra-mar e alcançamos o oceano. A superfície espelhada da baía deu lugar a pequenas ondas que golpeavam as laterais dos barcos. Quando ouvi um avião costurando as nuvens, deixei os remos deslizarem e olhei para o alto, imaginando nossa pequena esquadra vista daquela altura: o mundo que eu escolhera, tudo o que eu tinha nele, nossas preciosas vidas peculiares, tudo contido em três lascas de madeira à deriva sobre o olho vasto e sempre aberto do mar.
Misericórdia.
Nossos barcos deslizavam pelas ondas sem grandes problemas, os três lado a lado, avançando na direção da costa com a ajuda de uma corrente. Remávamos em turnos, para adiar a exaustão, apesar de eu me sentir tão forte que passei quase uma hora me recusando a largar o posto. Eu me perdi no ritmo das remadas, os braços traçando longas elipses no ar, como se tentassem puxar algo que relutava em se aproximar. Hugh manejava os remos do outro lado, e Emma estava atrás dele, sentada na proa, os olhos ocultos pela aba larga do chapéu, debruçada sobre o mapa aberto nos joelhos. De vez em quando ela erguia a cabeça para conferir algo no horizonte. Só de olhar para seu rosto ao sol eu já sentia uma onda de energia que desconhecia em mim.
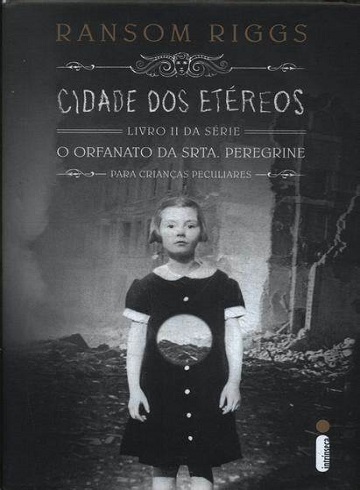
Sentia como se pudesse remar para sempre. Até que, gritando de um dos outros barcos, Horace perguntou quanto de oceano ainda nos separava da terra firme. Emma olhou para a ilha e depois para o mapa, medindo com dedos esticados, e respondeu, não muito segura:
— Sete quilômetros? — Millard, que também estava em nosso barco, murmurou algo no ouvido dela. Emma franziu o cenho, virou o mapa de lado, franziu o cenho de novo. — Quer dizer, oito e meio.
Ao ouvir essas palavras, me senti desanimar um pouco; e notei que todos tiveram a mesma reação.
Oito quilômetros e meio: uma viagem de uma hora na barca nauseante que me levara a Cairnholm semanas antes. Uma distância banal se pegássemos um barco a motor, de qualquer tamanho que fosse. Um quilômetro e meio a menos do que meus tios fora de forma percorriam em corridas beneficentes e apenas alguns a mais do que minha mãe se gabava de remar nos aparelhos da academia chique que frequentava. No entanto, a barca que ligava a ilha ao continente só passaria a existir trinta anos depois, e aparelhos de simulação de remo não levavam passageiros nem exigiam correções constantes de curso só para permanecerem na direção certa. Pior ainda: o canal que estávamos atravessando era traiçoeiro, um famoso destruidor de navios. Eram oito quilômetros e meio de mar imprevisível e instável, com o fundo coberto por destroços de naufrágios e ossos esverdeados de marinheiros mortos — e, à espreita, em algum lugar na escuridão de várias braças de profundidade, nossos inimigos.
Aqueles do grupo que se preocupavam com essas coisas achavam que os acólitos estavam por perto, em algum lugar abaixo de nós, esperando naquele submarino alemão. Se já não soubessem que tínhamos fugido da ilha, logo descobririam. Eles não tinham se dado a todo aquele trabalho para raptar a srta. Peregrine só para desistir depois de falharem uma vez. Por conta dos navios de guerra que se moviam ao longe como centopeias e dos aviões britânicos que faziam a patrulha nos céus, era muito perigoso para o submarino ir à tona em plena luz do dia, mas quando caísse a noite seríamos presa fácil. Eles iriam atrás de nós, levariam a srta. Peregrine e afundariam os barcos. Portanto, continuávamos remando: nossa única esperança era chegar ao continente antes que anoitecesse.
***
Remamos até os braços doerem e os ombros travarem. Remamos até acabar a brisa da manhã, o sol parecer brilhar através de uma lente de aumento e o suor se acumular no pescoço. Só então percebi que ninguém tinha se lembrado de trazer água e que o filtro solar dos anos 1940 era a sombra. Remamos até esfolar a palma das mãos, até termos certeza de que não conseguiríamos dar mais uma remada sequer, mas mesmo assim dávamos mais uma, depois outra e mais outra.
— Você está suando em bicas — comentou Emma. — Me deixe remar um pouco, antes que você derreta.
A voz dela me despertou de um transe. Aceitei a oferta, aliviado. Deixei que Emma ocupasse o assento do remo, mas vinte minutos depois pedi para voltar à tarefa. Não gostei dos pensamentos que tomaram minha mente enquanto meu corpo descansava. Fiquei imaginando meu pai acordando e descobrindo que eu sumira dos quartos em Cairnholm, a carta incompreensível de Emma em meu lugar, o pânico que tomaria conta dele depois. Flashes de lembranças traziam de volta coisas terríveis que eu testemunhara nos últimos tempos: um monstro me puxando para suas mandíbulas; meu ex-psiquiatra em uma queda fatal; um homem enterrado em um caixão de gelo, arrancado do outro mundo por um momento para falar ao meu ouvido com a voz rouca produzida pela meia garganta que lhe restava. Então remei, apesar da exaustão, apesar da impressão de que minha coluna nunca mais voltaria a ficar ereta, apesar das mãos em carne viva devido ao atrito, e tentei não pensar em nada. Aqueles remos eram ao mesmo tempo uma sentença de morte e um bote salva-vidas.
Bronwyn, aparentemente incansável, remava sozinha em um dos barcos. Olive, à frente dela, não ajudava, pois não conseguiria puxar os remos sem se empurrar para cima, e um vento mais forte a faria sair voando como uma pipa. Então Olive gritava palavras de estímulo enquanto Bronwyn fazia o trabalho de duas, três ou mesmo quatro pessoas, considerando que todas as malas e caixas aumentavam o peso do barco, cheio de roupas, comida, mapas, livros e um monte de objetos menos úteis — como vários jarros de corações de répteis em conserva, sacudindo na bolsa de lona de Enoch, ou a maçaneta arrancada da casa da srta. Peregrine, que Hugh encontrou na grama quando estávamos a caminho dos barcos e resolveu que não podia viver sem; o travesseiro enorme que Horace resgatara da casa em chamas (seu travesseiro da sorte, explicou ele, além de ser a única coisa que mantinha sob controle os pesadelos paralisantes).
Outros objetos eram tão preciosos que as crianças se agarravam a eles mesmo enquanto remavam. Fiona levava entre os joelhos um vaso de terra com minhocas do jardim; Millard riscara o rosto com pó de tijolos pulverizados pelas bombas, uma esquisitice que lembrava um ritual de luto. Apesar de parecerem estranhos os itens que guardavam e a que se agarravam, em parte eu simpatizava com aquilo: era tudo o que lhes restava da casa onde viveram. Só porque sabiam que estava perdida, não significava que soubessem como se desapegar dela.
Depois de três horas remando como escravos nas galés, a distância reduzira a ilha ao tamanho de uma mão aberta. Em nada lembrava a fortaleza agourenta cercada de penhascos em que eu pusera os olhos pela primeira vez algumas semanas antes. Dali, parecia frágil, um pedaço de rocha prestes a ser levado pelas ondas.
— Vejam! — gritou Enoch, ficando de pé no barco ao lado do nosso. — Está sumindo!
Um nevoeiro espectral encobria a ilha. Paramos de remar para vê-la desaparecer.
— Digam adeus à nossa ilha — falou Emma, levantando-se e tirando o chapelão. — Talvez a gente nunca mais volte a vê-la.
— Adeus, ilha — disse Hugh. — Você foi muito boa para nós.
Horace largou o remo e acenou.
— Adeus, casa. Vou sentir falta de todos os seus quartos e jardins, principalmente da minha cama.
— Adeus, fenda temporal. — Olive fungou. — Obrigada por ter nos protegido todos esses anos.
— Bons anos — completou Bronwyn. — Os melhores que eu vivi.
Também me despedi, em silêncio, de um lugar que me transformara para sempre, de um lugar que, mais que qualquer cemitério, guardaria para sempre a memória e o mistério de meu avô. Meu avô e aquela ilha estavam completamente interligados, e me perguntei, agora que os dois não existiam mais, se um dia eu entenderia o que tinha acontecido comigo: o que eu havia me tornado; o que estava me tornando. Eu tinha ido à ilha para solucionar o mistério que era meu avô e acabara solucionando meu próprio mistério. Ver Cairnholm desaparecer era como ver a última chave que restava para o mistério afundar sob as ondas escuras.
Então a ilha simplesmente sumiu, engolida por uma montanha de neblina.
Como se nunca tivesse existido.
***
Não demorou para a névoa nos alcançar. Aos poucos, nosso campo de visão foi diminuindo, o continente ao longe sumiu e o sol se reduziu a um pálido botão branco. Seguimos em círculos, movidos pela corrente, até perdermos todo o senso de direção. Por fim, paramos, guardamos os remos e esperamos na calmaria lúgubre, torcendo para que a névoa se dispersasse. Até que isso acontecesse, não adiantava avançar.
— Não estou gostando disso — comentou Bronwyn. — Se esperarmos demais, vai anoitecer, e aí vamos ter que nos preocupar com coisas piores do que o mau tempo.
Como se tivesse ouvido Bronwyn e resolvido nos colocar em nosso devido lugar, o clima ficou ruim de verdade. Um vento forte começou a soprar e em questão de segundos nosso mundo se transformou. Ao nosso redor, o mar começou a se crispar em ondas encapeladas de branco, que batiam contra os cascos e invadiam os barcos, molhando nossos pés com água gelada. Em seguida, começou a chover forte, as gotas perfurando nossa pele como balas de revólver. Começamos a ser atirados de um lado para o outro, como brinquedos de borracha numa banheira.
— Fiquem de frente para as ondas! — gritou Bronwyn, cortando a água com os remos. — Se elas pegarem o barco de lado, vamos virar!
Estávamos quase todos sem condições de remar em águas calmas, quanto mais em um mar revolto, e o restante tinha medo até de pegar nos remos. Por isso, em vez de remar, nos agarramos às bordas dos barcos como se nossa vida dependesse daquilo.
Uma parede de água veio direto na nossa direção. Os barcos subiram a onda gigantesca, ficando quase na vertical. Emma se agarrou a mim, enquanto eu agarrava a forqueta do remo. Atrás de nós, Hugh abraçou o assento. Descemos pelo outro lado da onda como em uma montanha-russa, o que fez meu estômago ir parar nos pés. Enquanto descíamos a toda, tudo que não estava preso ao barco — o mapa de Emma, a bolsa de Hugh, a mala vermelha de rodinhas que eu trouxera da Flórida — passou voando sobre nossas cabeças e caiu na água.
Não havia tempo para nos preocuparmos com o que havia sido perdido, já que nem dava para enxergar os outros barcos. Quando conseguimos nos reequilibrar, de joelhos, tentamos nos localizar em meio à confusão e gritamos por nossos amigos. Houve um terrível momento de silêncio, até que ouvimos vozes respondendo ao nosso chamado. O barco de Enoch surgiu da neblina, todos os quatro passageiros acenando para nós.
— Vocês estão bem? — gritei.
— Ali! — responderam os quatro. — Ali!
Só então me dei conta de que o aceno não era um cumprimento. Eles estavam tentando chamar nossa atenção para algo na água, a uns trinta metros de distância: o casco de um barco virado.
— É o barco de Bronwyn e Olive! — exclamou Emma.
Estava emborcado, com o fundo enferrujado para cima. Não havia sinal algum das meninas.
— Temos que chegar mais perto! — gritou Hugh.
Esquecendo a exaustão, pegamos novamente os remos e seguimos até lá, gritando os nomes delas ao vento.
Remamos contra uma corrente de roupas caídas das malas abertas, cada vestido ondulante por que passávamos parecendo uma menina afogada. Meu coração martelava no peito, e, apesar de eu estar tremendo e encharcado, mal sentia o frio. Alcançamos o casco virado ao mesmo tempo que o barco de Enoch. Olhamos em volta, à procura.
— Onde elas estão? — gemeu Horace. — Ah, se tivermos perdido as duas...
— Ali embaixo! — exclamou Emma, apontando. — Talvez estejam presas embaixo do barco!
Tirei um dos remos da forqueta e o bati no casco virado.
— Se estiverem aí, saiam! — gritei. — Vamos resgatar vocês.
Por um momento terrível, não tivemos resposta, e senti que se esvaía minha esperança de conseguirmos resgatá-las. Até que veio uma batida em resposta, seguida por um soco que arrebentou o fundo do casco, lançando lascas de madeira pelos ares. Todos pulamos de susto.
— É a Bronwyn! — gritou Emma. — Elas estão vivas.
Com mais alguns golpes, Bronwyn abriu um buraco da largura de uma pessoa. Estendi o remo; ela o pegou, e, com a ajuda de Hugh e Emma, conseguimos puxá-la da água agitada para o nosso barco, enquanto o dela afundava e era tragado pelas ondas. Bronwyn estava em pânico, histérica, gritando com o pouco fôlego que lhe restava. Gritava por Olive, que continuava desaparecida.
— Olive... Temos que achar Olive — balbuciou Bronwyn assim que entrou no barco. Ela tremia e cuspia água do mar. Então ficou de pé no barco, que balançava, e apontou para a tempestade. — Lá! — gritou. — Estão vendo?
Cobri os olhos para evitar a chuva forte e me virei na direção em que ela apontava, mas só vi nuvens e ondas.
— Não estou vendo nada!
— Ela está lá! — insistiu Bronwyn. — A corda!
Então eu vi: o que ela indicava na água não era uma menina se agitando, mas uma grossa corda de cânhamo trançado se erguendo do mar, quase invisível naquele caos; uma linha marrom que se estendia para o alto até desaparecer na bruma. Olive devia estar amarrada na outra ponta, por isso não a víamos.
Remamos até lá, e Bronwyn puxou a corda. Um instante depois, Olive apareceu lá no alto, no nevoeiro, amarrada à corda pela cintura. Os sapatos de chumbo tinham caído de seus pés, mas Bronwyn já a amarrara à corda da âncora, que repousava no fundo do mar. Se não fosse por isso, Olive sem dúvida estaria perdida nas nuvens.
Olive apertou Bronwyn em um abraço e gritou de alegria:
— Você me salvou! Você me salvou!
Ao ver as duas se abraçando, senti um nó na garganta.
— Ainda não estamos fora de perigo — disse Bronwyn. — Temos que chegar a terra firme antes do anoitecer, ou vai ser ainda pior.
***
A tempestade diminuiu um pouco e a força do mar abrandou, mas era inimaginável remar por muito mais tempo, mesmo em um mar completamente calmo. Não tínhamos percorrido nem metade do caminho até o continente e eu já estava desesperado de exaustão. Minhas mãos latejavam. Meus braços pesavam como troncos de árvore. Para completar, o balanço incessante e inclinado do barco começava a causar um incômodo inegável em meu estômago, e, a julgar pela cor esverdeada dos rostos à minha volta, eu não era o único.
— Vamos descansar um pouco — sugeriu Emma, tentando nos encorajar. — Vamos descansar e tirar a água dos barcos e esperar a neblina passar...
— Neblinas como essa têm vontade própria — retrucou Enoch. — Pode durar dias. Daqui a algumas horas já vai ser noite, aí vamos ter que torcer para sobreviver, para que os acólitos não encontrem a gente. Vamos ficar indefesos até amanhecer.
— E sem água — acrescentou Hugh.
— Nem comida — completou Millard.
Olive ergueu as mãos e declarou:
— Eu sei para que lado fica!
— Para que lado fica o quê? — indagou Emma.
— A terra firme. Vi quando estava lá no alto, na ponta daquela corda.
Olive explicou que havia ultrapassado a neblina e avistado a costa.
— Grande coisa — resmungou Enoch. — Ficamos um tempão remando em círculos enquanto você estava lá em cima.
— Então me deixem subir de novo.
— Tem certeza? — perguntou Emma. — É perigoso. E se um vento pegar você ou a corda arrebentar?
Olive assumiu uma expressão determinada.
— Me deixem subir.
— Quando ela cisma assim, não tem como discutir — comentou Emma. — Pegue a corda, Bronwyn.
— Você é a garotinha mais corajosa que já conheci — disse Bronwyn, e se pôs em ação.
Ela puxou a âncora para o interior do barco, e, com a extensão extra de corda que ganhamos com isso, amarramos os dois barcos um ao outro para que não se separassem mais, depois soltamos Olive, que foi flutuando neblina acima.
Enoch rompeu o silêncio:
— E aí? — perguntou o menino, impaciente.
— Estou vendo! — veio a resposta, um guincho em meio ao barulho de fundo das ondas. — Bem em frente!
— Pra mim já está ótimo! — exclamou Bronwyn.
Enquanto ainda apertávamos a barriga, sentados, sem condições de fazer nada, ela passou para o barco da frente e começou a remar, guiada apenas pela minúscula voz de Olive, um anjo invisível no céu.
— Esquerda... Mais para a esquerda... Não tanto!
Assim, seguimos lentamente rumo ao continente, a neblina sempre em nosso encalço; compridos ramos cinzentos que mais pareciam dedos fantasmagóricos de uma assombração, tentando nos puxar de volta.
Como se a própria ilha não estivesse muito disposta a nos deixar partir.
CAPÍTULO DOIS
Os cascos unidos dos barcos foram raspando nos baixios de pedra até parar. Nos reunimos na beira da água bem no momento em que o sol começava a descer atrás de quilômetros de nuvens cinza, talvez uma hora antes de anoitecer. Estávamos em uma península pedregosa cheia de dejetos deixados pela maré baixa, mas para mim era linda, mais bonita do que qualquer praia turística do meu país, com suas areias claras como champanhe. Se estávamos ali, queria dizer que tínhamos conseguido. Era difícil imaginar o que isso significava para os outros, já que a maioria passara toda a vida sem sair de Cairnholm. Naquele momento, eles olhavam pasmos ao redor, maravilhados por ainda estarem vivos, perguntando-se o que fazer dali em diante.
Descemos trôpegos dos barcos, as pernas como que de borracha. Fiona, com as mãos em concha, pegou um punhado de seixos cobertos de musgo, os enfiou na boca e os rolou pela língua, como se precisasse dos cinco sentidos para se convencer de que não estava sonhando — exatamente como eu me senti na primeira vez que entrei na fenda temporal da srta. Peregrine. Em toda a minha vida, eu nunca desconfiara tanto dos meus próprios olhos. Bronwyn gemeu e se deixou desabar no chão, indescritivelmente exausta. Estava cercada, sendo paparicada e coberta de agradecimentos por tudo o que havia feito, mas era uma sensação esquisita; nossa dívida com ela era grande demais, e a palavra obrigado, pequena demais. Bronwyn tentava dispensar os agradecimentos com gestos, mas o esgotamento mal lhe permitia erguer as mãos. Enquanto isso, Emma e os garotos puxavam Olive das nuvens.
— Você está mesmo azul! — exclamou Emma ao vê-la surgir através da névoa, e pulou para abraçá-la.
Olive estava encharcada e congelada, batendo os dentes. Sem cobertores ou qualquer roupa seca para cobri-la, Emma afagou o corpo de Olive com sua mão quente até sentir que os tremores tinham diminuído, depois mandou Fiona e Horace arranjar lenha para acendermos uma fogueira. Enquanto aguardávamos o retorno dos dois, nos reunimos ao redor dos barcos para avaliar o que havíamos perdido no mar. Foi um inventário triste. Quase tudo o que tínhamos levado conosco era, agora, lixo no fundo do oceano.
Sobravam apenas as roupas do corpo, uma pequena quantidade de comida em latas enferrujadas e o gigantesco baú de viagem de Bronwyn, indestrutível e aparentemente inafundável, além de tão absurdamente pesado que ninguém que não a própria Bronwyn sonharia carregá-lo. Arrebentamos os trincos de metal, ansiosos por encontrar algo útil ou, ainda melhor, comestível, mas continha apenas uma coleção de três volumes de histórias chamada Contos peculiares, as páginas inchadas pela água do mar, além de um estranho tapete de banheiro bordado com as letras ALP: as iniciais da srta. Peregrine.
— Ah, graças a Deus alguém lembrou de trazer o tapete de banheiro — comentou Enoch, sem emoção na voz. — Estamos salvos.
Tínhamos perdido todo o resto, incluindo os dois mapas: o pequeno, que Emma usara para nos conduzir pelo canal, e o enorme atlas das fendas encadernado em couro, o bem mais valioso de Millard, o Mapa dos dias. Quando percebeu isso, ele começou a passar mal de nervosismo.
— Aquele era um dos cinco exemplares que existem no mundo! — gemeu ele. — De valor inestimável! Sem falar dos anos de anotações pessoais!
— Pelo menos ainda temos os Contos peculiares — retrucou Claire, espremendo os cachos louros para tirar o excesso de água do mar. — Não consigo dormir sem ouvir um deles.
— De que adiantam contos de fadas se não conseguirmos encontrar o caminho? — perguntou Millard.
Caminho para onde?, eu me perguntei. Percebi que, na pressa para fugir da ilha, eu só tinha ouvido as crianças discutirem sobre como chegar ao continente, mas nunca tinham conversado sobre o que faríamos quando chegássemos. Era como se a ideia de sobreviver à jornada naqueles barquinhos fosse tão absurda, tão cômica e otimista que fazer planos para depois seria perda de tempo. Me voltei para Emma em busca de conforto, como sempre fazia. Ela contemplava a praia com um olhar sombrio. A faixa de areia pedregosa descia em dunas baixas, onde o capim ondulava. Mais ao longe havia uma floresta: uma barreira verde de aparência impenetrável que avançava para os dois lados até onde a vista alcançava. Emma, baseando-se no mapa agora perdido, vinha nos direcionando para certa cidadezinha portuária, mas, depois da tempestade, só queríamos chegar a terra firme, qualquer que fosse. Não dava para saber quanto havíamos nos afastado de nosso curso. Eu não via estradas, placas de sinalização nem mesmo pegadas. Só a floresta.
Mas é claro que, na verdade, não precisávamos de mapa, placas nem nada. Precisávamos da srta. Peregrine — inteira e curada. Ela saberia exatamente para onde ir e como chegar a salvo. Empoleirada em um afloramento rochoso à nossa frente, agitando as penas para secá-las, a srta. Peregrine estava tão inválida quanto a asa machucada, que pendia em um assustador formato em V. Era nítido que as crianças sofriam por vê-la daquele jeito. A srta. Peregrine era a mãe, a protetora delas; tinha sido a rainha do pequeno mundo que habitavam naquela ilhota, mas agora não podia falar, não podia parar o tempo, não podia sequer voar. Quando a viram, as crianças pareceram se encolher de dor ligeiramente e então desviaram o olhar.
A srta. Peregrine mantinha o olhar fixo no mar cinza como ardósia. Um olhar duro e negro, que continha um pesar indizível.
Parecia dizer: Eu falhei com vocês.
***
Horace e Fiona deram a volta pela praia rochosa até nós, o vento levantando o cabelo desgrenhado de Fiona como uma nuvem de tempestade, Horace dando pulinhos, as mãos agarradas às abas laterais da cartola para mantê-la na cabeça. Não sei como ele conseguira não perdê-la durante aquele quase desastre no mar, mas agora estava vergada para o lado, como um cano de escapamento. Mesmo assim, ele se recusava a tirá-la. Dizia que era a única coisa que combinava com seu elegante terno encharcado e enlameado.
Eles vinham de mãos vazias.
— Não tem madeira por aqui! — exclamou Horace quando os dois nos alcançaram.
— Vocês procuraram na floresta? — indagou Emma, apontando para a linha escura de árvores atrás das dunas.
— É muito assustador — respondeu Horace. — Ouvimos uma coruja piando.
— Desde quando você tem medo de aves?
Horace deu de ombros e baixou o olhar. Mas Fiona o cutucou com o cotovelo, e ele pareceu se lembrar de algo.
— Mas encontramos outra coisa.
— Abrigo? — perguntou Emma.
— Uma estrada? — perguntou Millard.
— Um ganso para o jantar? — perguntou Claire.
— Não — respondeu Horace. — Balões.
Houve um breve silêncio de curiosidade.
— Como assim balões? — indagou Emma.
— Grandes, no céu, com homens dentro.
Emma fechou a cara.
— Mostre para a gente.
Seguimos os dois por onde tinham chegado, fazendo uma curva na praia e subindo uma encosta baixa. Eu me perguntava como era possível que tivéssemos deixado de notar algo tão óbvio como balões de ar quente, até que chegamos ao topo de um morro e os vi. Não eram aquelas coisas grandes e coloridas em forma de gota que vemos em calendários de parede e em cartazes motivacionais (O céu é o limite!), mas um par de zepelins em miniatura: bolsas ovaladas de tecido negro cheias de gás. Levavam gaiolas esqueléticas presas abaixo, cada uma acomodando um único piloto. Os dirigíveis eram pequenos e voavam baixo, inclinando-se para a frente e para trás em zigue-zagues preguiçosos, e o ruído das ondas abafara o leve zumbido das hélices. Emma nos conduziu até o aglomerado de capim alto, e nos abaixamos para não sermos vistos.
— São caçadores de submarinos — explicou Enoch, respondendo à pergunta antes mesmo de qualquer um fazê-la em voz alta.
Millard podia ser a autoridade quando se tratava de mapas e livros, mas Enoch era o especialista em qualquer assunto militar. Ele concluiu:
— A melhor maneira de reconhecer submarinos inimigos é do alto.
— Então por que estão voando tão perto do chão? — perguntei. — E por que não estão longe, em mar aberto?
— Isso eu não sei.
— Você acha que eles podem estar procurando por... nós? — arriscou Horace.
— Quer saber se os pilotos são acólitos? Claro que não. Os acólitos estão do lado dos alemães. Estão naquele submarino alemão.
— Os acólitos se aliam a qualquer um que sirva a seus propósitos — retrucou Millard. — Não temos como saber se eles não se infiltraram em organizações dos dois lados da guerra.
Eu não conseguia tirar os olhos daquelas engenhocas esquisitas. Não pareciam naturais; eram como insetos mecânicos inchados, com um tumor em forma de ovo nas costas.
— Não gosto do jeito como eles estão voando — comentou Enoch, os olhos aguçados indicando que o cérebro estava a mil. — Estão fazendo uma busca na costa, não no mar.
— Uma busca? Estão procurando o quê? — perguntou Bronwyn, mas a resposta era óbvia e assustadora, e ninguém queria dizê-la.
Estavam procurando por nós.
O grupo se apertou mais no capinzal, e senti o corpo de Emma tenso junto ao meu.
— Corram quando eu disser para correr — sussurrou ela. — Vamos esconder os barcos e depois procuramos esconderijo para nós mesmos.
Ficamos esperando os dirigíveis mudarem de direção e só então saímos do capinzal, torcendo para que estivéssemos longe demais para sermos localizados. Enquanto corríamos, me peguei desejando a neblina que tanto nos atormentara em alto-mar, para nos esconder. Muito provavelmente, ela já nos tinha salvado uma vez: sem a névoa, aqueles balões teriam nos avistado horas antes, quando ainda estávamos nos barcos e não tínhamos para onde fugir. Pensando dessa forma, tinha sido o último gesto da ilha na tentativa de salvar suas crianças peculiares.
***
Arrastamos os barcos pela praia em direção a uma caverna marinha. A entrada era uma fenda escura em meio a um aglomerado de rochas. Bronwyn esgotara suas forças remando e mal conseguia arrastar a si mesma adiante, muito menos os barcos, então tivemos que dar um jeito, gemendo e empurrando os cascos, que insistiam em enterrar as pontas na areia molhada. A meio caminho da praia, a srta. Peregrine soltou um pio de aviso, e os dois zepelins surgiram em nosso campo de visão, acima das dunas. Corremos em disparada, movidos pela adrenalina, empurrando os barcos para a gruta como se estivessem sobre trilhos, enquanto a srta. Peregrine pulava de modo desajeitado ao nosso lado, arrastando pela areia a asa quebrada.
Quando finalmente estávamos fora de vista, soltamos os barcos e caímos sobre os cascos virados, nossa respiração sôfrega ecoando na escuridão úmida e gotejante.
— Por favor, por favor, que eles não tenham nos visto — pediu Emma.
— Ah, pelas aves! Nossos rastros! — gritou Millard.
Ele tirou o sobretudo e saiu correndo da caverna para cobrir as marcas deixadas pelos barcos ao serem arrastados. Do céu, pareceriam setas apontando para nosso esconderijo. Só conseguimos ficar olhando enquanto os passos dele se afastavam. Se qualquer outra pessoa que não Millard tivesse saído, com certeza seria vista.
Ele voltou logo, trêmulo e coberto de areia, uma mancha vermelha delineando o peito.
— Eles estão chegando perto — anunciou, ofegante. — Fiz o melhor que pude.
— Você está sangrando de novo! — exclamou Bronwyn, preocupada. Millard tinha levado um tiro de raspão durante a luta no farol, na noite anterior, e, apesar de estar se recuperando com uma rapidez impressionante, ainda faltava muito para a ferida cicatrizar. — O que você fez com as ataduras?
— Joguei fora. Estavam presas de um jeito tão complicado que não consegui tirá-las depressa. Um invisível precisa estar sempre pronto para se despir em um segundo, senão nosso poder é inútil!
— É ainda mais inútil com você morto, sua mula teimosa — retrucou Emma. — Agora fique quieto e não reclame. Isso vai doer.
Ela apertou dois dedos na palma da outra mão e se concentrou. Quando os afastou, brilhavam em um vermelho intenso como brasas.
Millard se encolheu.
— Ah, Emma, eu preferiria que você não...
Ela apertou os dois dedos sobre o ferimento. Millard conteve um grito de dor. Ouvimos um som de carne queimando e vimos uma espiral de fumaça se erguer de sua pele invisível. Em um instante o sangramento parou.
— Vou ficar com uma cicatriz! — queixou-se Millard.
— É? E quem vai ver?
Ele não respondeu, emburrado.
O ruído dos motores dos zepelins ficou mais alto, depois mais ainda, amplificado pelas paredes de pedra da caverna. Eu os imaginava planando acima de nosso esconderijo, analisando nossas pegadas, preparando o ataque. Emma apoiou o ombro no meu. Os mais novos correram para Bronwyn e afundaram o rosto no colo dela, ganhando um abraço. Apesar dos poderes peculiares, estávamos nos sentindo completamente impotentes. Só nos restava ficarmos sentados, encolhidos, olhando uns para os outros à pálida meia-luz, o nariz escorrendo por causa do frio, e torcer para que nossos inimigos fossem embora.
Finalmente, o barulho do giro dos motores começou a diminuir, e, quando conseguimos voltar a ouvir nossas vozes outra vez, Claire balbuciou no colo de Bronwyn:
— Conte uma história para a gente, Wyn. Estou com medo e não gosto nem um pouco daqui e acho que quero ouvir uma história.
— É! Conta uma — implorou Olive. — Uma das histórias dos Contos, por favor. São minhas preferidas!
A mais maternal das peculiares, Bronwyn era vista pelos mais novos como uma mãe, mais até do que a srta. Peregrine. Era Bronwyn quem os cobria antes de dormir, quem lia histórias para eles e lhes dava beijo na testa. Seus braços fortes pareciam feitos para abraços quentes; seus ombros largos, perfeitos para carregá-los no colo. No entanto, aquela não era hora para histórias, e foi exatamente isso que Bronwyn disse.
— É claro que é hora! — retrucou Enoch, com sarcasmo. — Mas vamos pular os Contos. Conte a história de como os protegidos da srta. Peregrine se salvaram sem mapa nem comida e não foram comidos por etéreos até chegarem a um lugar seguro! Estou morrendo de curiosidade para saber como essa história termina.
— Se a srta. Peregrine pudesse contar... — choramingou Claire, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se desvencilhou de Bronwyn e foi até a ave, que nos observava, empoleirada na quilha de um dos barcos virados. — O que fazer, diretora? Por favor, volte a ser humana. Por favor, acorde!
A srta. Peregrine piou e acariciou o cabelo de Claire com a asa. Depois, Olive se aproximou delas, o rosto coberto de lágrimas.
— Srta. Peregrine, precisamos de você! Estamos perdidos, em perigo e cada vez mais famintos. Não temos mais casa nem amigos além de uns aos outros. Precisamos de você!
Os olhos negros da srta. Peregrine brilharam. Ela virou a cabeça, inacessível.
Bronwyn se ajoelhou ao lado das meninas.
— Ela não pode se transformar agora, queridas. Mas vamos curá-la, eu juro.
— Como? — inquiriu Olive.
A pergunta reverberou pelas paredes da caverna e o eco a repetiu várias vezes.
Emma se levantou.
— Vou dizer como. — Todos se voltaram para ela. — Vamos andar. — Emma disse isso com tamanha convicção que senti um calafrio. — Vamos andar e andar até chegarmos a alguma cidade.
— E se não tiver nenhuma cidade em cinquenta quilômetros? — questionou Enoch.
— Então vamos andar cinquenta e um quilômetros. Mas sei que não saímos tanto assim do curso.
— E se os acólitos nos virem lá do céu? — perguntou Hugh.
— Eles não vão nos ver. Vamos tomar cuidado.
— E se estiverem esperando por nós na cidade? — indagou Horace.
— Vamos fingir ser normais. Conseguimos nos disfarçar.
— Eu nunca fui muito bom nisso — retrucou Millard, rindo.
— Você nem vai ser visto, Mill. Vai ser nosso batedor e vai procurar coisas que possam ser necessárias.
— Até que eu sou um ladrão bem talentoso mesmo — comentou ele, com um toque de orgulho. — Um verdadeiro mestre das artes dos cinco dedos.
— E depois? — murmurou Enoch, amargurado. — Talvez a gente consiga encher a barriga e arranjar um lugar para dormir, mas ainda vamos estar em campo aberto, expostos, vulneráveis, fora de uma fenda temporal... e a srta. Peregrine está... ainda está...
— Vamos dar um jeito de encontrar uma fenda — respondeu Emma. — Existem marcos e placas indicativas para quem sabe o que procurar. Se não encontrarmos nenhum, vamos achar alguém como nós, um peculiar que possa nos mostrar onde fica a fenda mais próxima. E lá vai ter uma ymbryne, e ela vai poder ajudar a srta. Peregrine.
Eu nunca tinha conhecido alguém com tanta confiança quanto Emma. Tudo nela exalava isso: a postura, com os ombros jogados para trás; os dentes cerrados quando ela tomava alguma decisão; o modo como terminava cada frase com um ponto final, nunca com um ponto de interrogação. Era contagiante, e eu adorava. Tive que conter uma vontade súbita de beijá-la, bem ali, na frente de todo mundo.
Hugh pigarreou. Abelhas saíram de sua boca, formando um ponto de interrogação que vibrava no ar.
— Como é que você pode ter tanta certeza? — perguntou.
— Tendo. Simples assim. — Ela esfregou as mãos como se o assunto estivesse encerrado.
— Você fez um belo discurso motivacional, e eu odeio ter que estragá-lo — comentou Millard —, mas, pelo que sabemos, a srta. Peregrine é a única ymbryne que não foi capturada. Lembre-se do que a srta. Avocet nos contou: fazia semanas que os acólitos estavam atacando as fendas e raptando as ymbrynes. Ou seja, mesmo que a gente consiga encontrar uma fenda, não dá para saber se a ymbryne ainda estará lá ou se o lugar foi ocupado pelos nossos inimigos. Não podemos simplesmente sair batendo na porta das fendas e torcer para que não estejam cheias de acólitos.
— Ou cercadas de etéreos famintos — completou Enoch.
— Não precisamos torcer — retrucou Emma, e sorriu para mim. — Jacob vai nos dizer.
Meu corpo inteiro gelou.
— Eu?
— Você consegue sentir a presença de etéreos de longe, não consegue? — perguntou Emma. — Além de vê-los.
— Quando estão perto, sinto como se eu fosse vomitar — admiti.
— A que distância? — perguntou Millard. — Se forem só alguns metros, ainda poderemos ser devorados. Precisamos que você sinta a presença deles a uma distância bem maior.
— Bem, eu nunca testei isso — respondi. — É tudo muito novo para mim.
Eu só tinha sido exposto ao etéreo do dr. Golan, Malthus, a criatura que matara meu avô e depois quase me afogara no pântano de Cairnholm. A que distância ele estava quando eu o sentira pela primeira vez atrás de mim, à espreita do lado de fora da minha casa, em Englewood? Era impossível saber.
— Isso não importa, seu talento pode ser desenvolvido — explicou Millard. — Peculiaridades são um pouco como músculos: quanto mais você as exercita, maiores ficam.
— Isso é loucura! — exclamou Enoch. — Vocês estão tão desesperados que apostariam tudo nele? Ele é só um menino, um garoto normal e fraco que não sabe quase nada do nosso mundo!
— Jacob não é normal — retrucou Emma, fazendo cara feia, como se aquele fosse o pior dos insultos. — É um de nós!
— Que baboseira! — berrou Enoch. — Ter um traço de sangue peculiar nas veias não faz dele meu irmão. E com certeza não faz dele meu protetor! Não sabemos do que ele é capaz... Se ele sentisse alguma coisa, provavelmente não saberia se são gases ou se é a presença de um etéreo a cinquenta metros!
— Ele matou um deles, não matou? — interveio Bronwyn. — Apunhalou o maldito nos olhos! Quando foi a última vez que você ouviu falar de um peculiar tão novo fazendo algo do tipo?
— Desde Abe — respondeu Hugh, e, à menção do nome dele, um silêncio reverente baixou sobre nós.
— Eu soube que uma vez ele matou um só com as mãos — comentou Bronwyn.
— Eu ouvi dizer que ele matou um com uma agulha de tricô e um pedaço de corda — completou Horace. — Quer dizer, eu sonhei isso, então tenho certeza de que aconteceu.
— Metade dessas histórias é exagero, e elas ficam cada vez mais exageradas a cada ano que passa — retrucou Enoch. — O Abraham Portman que eu conheci nunca moveu um dedo para nos ajudar.
— Ele era um grande peculiar! — exclamou Bronwyn. — Lutou bravamente e matou muitos etéreos pela nossa causa!
— Depois fugiu e nos deixou escondidos naquela casa como refugiados enquanto saía pela América em busca de prazeres, bancando o herói.
— Você não sabe do que está falando — interveio Emma, vermelha de raiva. — A história vai muito além disso.
Enoch deu de ombros.
— Enfim. Essa não é a questão — continuou. — Não importa a opinião de vocês sobre Abe, esse garoto não é ele.
Naquele momento, odiei Enoch, mas não podia culpá-lo por suas dúvidas em relação a mim. Como os outros, tão seguros e experientes em suas habilidades, poderiam depositar tanta fé na minha habilidade, em algo que eu só estava começando a compreender e que descobrira ser capaz de fazer havia apenas alguns dias? Parecia irrelevante quem era meu avô. Eu não sabia mesmo o que estava fazendo.
— Você tem razão, eu não sou meu avô. Sou só um garoto da Flórida. Devo ter matado aquele etéreo por pura sorte.
— Bobagem — retrucou Emma. — Um dia você vai ser tão bom em matar etéreos quanto Abe.
— Espero que esse dia chegue logo — comentou Hugh.
— É seu destino — concordou Horace. O modo como disse isso me fez achar que ele sabia de alguma coisa.
— E mesmo que não seja — completou Hugh, dando um tapinha nas minhas costas —, você é nossa única opção, parceiro.
— Se isso é verdade, que a ave ajude a todos nós — comentou Enoch.
Minha cabeça estava girando. O peso das expectativas deles ameaçava me esmagar. Fiquei de pé, zonzo, e fui até a saída da gruta.
— Preciso de ar — falei, afastando Enoch do meu caminho.
— Jacob! Espere! — chamou Emma. — Os balões!
Mas eles já tinham ido embora havia muito tempo.
— Deixa ele — resmungou Enoch. — De repente a gente dá sorte e ele volta nadando para os Estados Unidos.
***
Enquanto eu caminhava até a beira da água, tentei me ver pelos olhos de meus novos amigos — ou pelo menos da forma como eles queriam me enxergar: não como Jacob, o garoto que uma vez quebrou o tornozelo correndo atrás de um carrinho de sorvete ou que, a contragosto, por insistência do pai, tentou entrar para a equipe de atletismo da escola (e fracassou três vezes), e sim como o Jacob inspetor de sombras, intérprete milagroso de sensações ruins no estômago, vidente e matador de monstros reais e verdadeiros, além de tudo o mais que pudesse ameaçar a vida de nosso alegre bando de peculiares.
Como eu poderia ficar à altura do legado de meu avô?
Subi em uma pilha de rochas na beira da água e fiquei ali de pé, torcendo para que a brisa incessante secasse minhas roupas. À luz fraca do entardecer, observei o mar, uma tela de tons de cinza em movimento, misturando-se e escurecendo. Volta e meia, uma luz cintilava ao longe. Era o farol de Cairnholm, brilhando um olá e um último adeus.
Deixei a mente vagar. Comecei a sonhar acordado.
Vejo um homem. De meia-idade, coberto por uma lama de excrementos, rastejando lentamente pela borda de um precipício, o cabelo ralo todo despenteado e molhado caindo no rosto. O vento açoita seu paletó, fino como uma vela de navio. Ele para e se apoia nos cotovelos. Então os encaixa em buracos que fez semanas atrás, quando estava explorando aqueles abrigos em busca de andorinhas-do-mar em processo de acasalamento ou de ninhos de petréis. O homem leva um par de binóculos aos olhos, mas os aponta para abaixo dos ninhos, para uma pequena praia estreita em forma de meia-lua onde a maré cheia começa a depositar entulhos: pedaços de madeira e algas, restos de barcos destroçados — e às vezes, segundo os moradores locais, cadáveres.
O homem é meu pai. Ele está procurando algo que deseja desesperadamente não encontrar.
Está procurando o corpo do filho.
Senti alguém encostar no meu sapato e abri os olhos, assustado, saindo do devaneio. Já estava quase escuro, e percebi que tinha me sentado nas pedras, os joelhos junto ao peito. De repente, Emma apareceu, de pé ao meu lado, a brisa soprando seu cabelo.
— Como você está? — perguntou ela.
Era uma pergunta que exigiria matemática de nível universitário e cerca de uma hora de discussão para responder. Eu sentia cem emoções conflitantes, e a maior parte perdia para o frio e o cansaço e a falta de vontade de conversar. Por isso, respondi apenas:
— Estou bem, só tentando me secar. — E sacudi a frente do suéter ensopado, para ilustrar.
— Posso ajudar você com isso. — Emma subiu as pedras e se sentou ao meu lado. — Me dê o seu braço.
Obedeci. Emma pousou meu braço sobre os joelhos dela, levou à boca as mãos em concha e aproximou a cabeça do meu pulso. Depois, respirando fundo, expirou o ar lentamente através das mãos. Um calor incrível e agradável subiu pelo meu braço; uma sensação que estava no limite da dor.
— Foi forte demais? — perguntou ela.
Eu me retesei, sentindo um tremor percorrer meu corpo, mas balancei a cabeça em negativa.
— Que bom. — Ela se aproximou da parte superior do meu braço para expirar outra vez. Mais uma pulsação de calor agradável. Entre respirações, ela continuou: — Espero que não esteja incomodado pelo que Enoch anda dizendo. Todos os outros acreditam em você, Jacob. Enoch às vezes age como um velho implicante e insensível, ainda mais quando está com ciúmes.
— Acho que ele tem razão — retruquei.
— Você não pode estar falando sério.
Tudo saiu de uma vez só:
— Não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Como qualquer um de vocês pode depender de mim? Se eu sou mesmo peculiar, devo ser só um pouquinho. Mais ou menos um quarto peculiar, enquanto vocês são de sangue puro.
— Não é assim que funciona — respondeu Emma, rindo.
— Mas meu avô era mais peculiar que eu. Só pode. Ele era tão forte...
— Não, Jacob — retrucou ela, semicerrando os olhos. — É impressionante. Você é igual a ele de muitas maneiras. E também é diferente, claro: mais gentil, mais doce... Mas tudo o que você está dizendo... Você parece o Abe logo que chegou para ficar com a gente.
— Pareço?
— Sim. Ele também ficava confuso. Nunca tinha conhecido outro peculiar. Não entendia o poder que tinha, nem como funcionava ou o que era capaz de fazer. Nem nós, para falar a verdade. O que você pode fazer é muito raro. Muito raro. Mas seu avô aprendeu a usar o poder.
— Como? — perguntei. — Onde?
— Na guerra. Ele fazia parte de uma célula secreta do Exército britânico, só de peculiares. Combatiam alemães e etéreos ao mesmo tempo. Ninguém distribui medalhas pelo tipo de coisas que eles faziam, mas todos eram heróis para nós, principalmente o seu avô. O sacrifício deles retardou em décadas o avanço dos corrompidos e salvou a vida de inúmeros peculiares.
E mesmo assim, pensei, ele não conseguiu salvar os próprios pais. Que coisa estranhamente trágica.
— E posso garantir uma coisa: você é tão peculiar quanto ele... e também tão corajoso quanto.
— Rá. Você só está tentando fazer com que eu me sinta melhor.
— Não — respondeu ela, me encarando. — Não estou. Você vai ver, Jacob. Um dia, vai ser um matador de etéreos ainda melhor do que ele.
— É. É o que todo mundo anda dizendo. Como você pode ter tanta certeza?
— É uma coisa que eu sinto lá no fundo — explicou Emma. — Acho que é o que você deve ser. Da mesma forma que ir a Cairnholm era o que devia fazer.
— Não acredito nessas coisas. Sina. As estrelas. Destino.
— Eu não falei em destino.
— É o mesmo que esse “deve ser” — expliquei. — Destino é para personagens de livros sobre espadas mágicas. Uma grande bobagem. Estou aqui porque meu avô murmurou alguma coisa sobre a ilha nos dez segundos que esteve comigo antes de morrer, só por isso. Foi por acaso. Fico feliz que ele tenha feito isso, mas meu avô estava delirando. Podia muito bem ter me passado uma lista de compras.
— Mas não foi o que ele fez.
Suspirei, exasperado.
— E se sairmos à procura de fendas temporais achando que eu posso salvá-los de monstros, mas, em vez disso, eu acabar levando todos à morte? Isso também seria destino?
Ela franziu o cenho e pôs meu braço de volta em meu colo.
— Eu não falei em destino. Em minha visão, quando se trata das coisas realmente importantes da vida não existem acidentes. Tudo acontece por uma razão. Você está aqui por um motivo, e não é para cair e morrer.
Eu não tinha disposição para continuar discutindo.
— Está bem — respondi. — Não acho que você esteja certa, mas espero que esteja.
Eu já estava me sentindo mal por responder com grosseria antes, mas estava com frio, com medo e na defensiva. Eu tinha bons e maus momentos, pensamentos aterrorizados e confiantes. Naquela hora, no entanto, a proporção terror/confiança estava muito ruim, em mais ou menos três para um — e, nos momentos de terror, parecia que eu estava sendo forçado a assumir um papel que nunca quis: me apresentar voluntariamente na linha de frente de uma guerra cuja dimensão total nenhum de nós conhecia. “Destino” soava como uma obrigação, e, se eu ia ser lançado em uma batalha contra uma legião de criaturas saídas diretamente de um pesadelo, isso tinha que partir de uma decisão minha.
Se bem que, em certo sentido, a decisão foi tomada quando concordei em embarcar rumo ao desconhecido com aquelas crianças peculiares. E não era verdade — se eu fosse procurar nos recônditos empoeirados da mente — que eu nunca quisera aquilo. Eu sonhava com aquele tipo de aventura desde pequeno. Na época, eu acreditava em destino, acreditava plenamente, com cada fibra de meu pequenino coração infantil. Sentia algo parecido com uma coceira no peito quando ouvia as histórias extraordinárias de meu avô. Um dia vai ser a minha vez. O que naquele momento parecia uma obrigação tinha sido, durante a minha infância, uma promessa: um dia eu escaparia da cidadezinha onde nascera para viver uma vida extraordinária, como meu avô. E um dia, também como meu avô, eu faria algo importante. Ele dizia: “Você vai ser grande, Yakob. Grande mesmo.” E eu perguntava: “Como você?” Ao que ele respondia: “Melhor que eu.”
Eu acreditava nele na época, e ainda queria acreditar. No entanto, quanto mais eu descobria a respeito de meu avô, maior ele se tornava aos meus olhos, e parecia cada vez mais impossível que eu conseguisse fazer algo tão importante quanto as coisas que ele fizera. Talvez só tentar já fosse suicídio. Quando eu me imaginava tentando, era invadido por pensamentos sobre meu pai, meu pobre pai, prestes a ficar arrasado. E, antes que eu conseguisse afastar da mente esses pensamentos, me perguntei como um grande homem podia fazer algo tão horrível com alguém que o amava.
Comecei a tremer.
— Você está gelado — disse Emma. — Vou terminar o que comecei.
Ela pegou meu outro braço e o beijou inteiro com seu hálito quente. Era quase mais do que eu podia suportar. Quando chegou ao meu ombro, em vez de pôr o braço em meu colo, Emma o passou em torno do pescoço. Ergui o outro braço para juntar os dois, e ela também me abraçou. Nossas testas se tocaram.
Falando muito baixo, Emma disse:
— Espero que não se arrependa da sua escolha. Fico muito feliz por você estar aqui com a gente. Não sei o que faria se você fosse embora. Acho que eu não ia ficar nada bem.
Pensei em voltar. Por um instante, tentei me visualizar fazendo isso: como seria se eu pudesse pegar um dos barcos, ir remando até a ilha e, de lá, voltar para casa.
Mas eu não poderia. Não conseguia sequer imaginar.
Sussurrei:
— Como eu poderia fazer isso?
— Quando a srta. Peregrine virar humana outra vez, ela vai poder mandar você de volta. Se você quiser.
Minha pergunta não tinha sido sobre logística. Eu simplesmente quis dizer: Como eu poderia deixar você? Mas essas palavras eram impronunciáveis, não conseguiam sair da minha garganta. Por isso eu as segurei dentro de mim e, em vez de dizê-las, beijei Emma.
Dessa vez, ela é que foi tomada de surpresa. Suas mãos se ergueram para tocar meu rosto, mas ela se deteve pouco antes de fazer contato. As palmas irradiavam ondas de calor.
— Me toque — pedi.
— Não quero queimar você — respondeu Emma, mas uma chuva de centelhas repentina dentro de meu peito anunciava: Eu não me importo.
Peguei seus dedos e os passei pelo rosto, e nós dois levamos um susto. Estava quente, mas não os afastei. Não ousei, com medo de que ela parasse de me tocar. Então nossos lábios se encontraram outra vez e nos beijamos de novo, e fui tomado por seu calor extraordinário.
Meus olhos se fecharam. O mundo desapareceu.
Mal dava para sentir se meu corpo estava frio por causa da névoa noturna. Mal dava para ouvir se o mar rugia à minha volta. Mal dava para perceber se a rocha em que eu estava sentado era afiada e irregular. Tudo além de nós dois era uma distração.
Então, de repente, um estrondo ecoou no ar, mas não dei importância — eu não conseguia me desconectar de Emma — até que o som se repetiu, mais alto, com um horrível rangido de metal se juntando a ele, e uma luz cegante passou sobre nós. Finalmente, não consegui mais me desligar do mundo.
O farol, pensei. O farol está caindo no mar. Mas o farol era um pontinho ao longe, não uma luz brilhante como o sol. E sua luz só incidia em uma direção, não ia de um lado para o outro, procurando.
Não era o farol. Era um holofote de busca — e vinha da água, bem perto da orla.
Era o holofote de busca de um submarino.
***
Houve um breve segundo de terror, em que meu cérebro e minhas pernas pareceram desconectados. Meus olhos registraram o submarino não muito longe da orla: um monstro de metal erguendo-se do mar, água escorrendo pelas laterais, homens saindo para o convés por escotilhas abertas, gritando e apontando canhões de luz na nossa direção. Então o estímulo alcançou minhas pernas e nós dois pulamos, caímos, saímos das rochas e corremos como loucos.
O holofote projetou nossas sombras que disparavam na praia, alongadas, com quase três metros. Balas pontilhavam a areia e zuniam pelo ar.
Uma voz ecoou de um alto-falante:
— PAREM! NÃO CORRAM!
Entramos correndo na caverna. Eles estão chegando, estão aqui, levantem-se, levantem-se! Mas as crianças já tinham ouvido a barulheira e estavam de pé, menos Bronwyn, que, de tão cansada por conta da aventura no mar, caíra no sono apoiada na parede da caverna, e ninguém conseguia despertá-la. Sacudimos sua cabeça e gritamos em seu ouvido, mas ela só gemeu e nos afastou com o braço. Por fim, tivemos que levantá-la pela cintura, o que era como levantar uma torre de tijolos. Assim que os pés de Bronwyn tocaram o chão, suas pálpebras avermelhadas se abriram e ela sustentou o próprio peso.
Reunimos nossas coisas, aliviados por serem tão pequenas e tão poucas. Emma pegou a srta. Peregrine nos braços e saímos depressa dali. Enquanto corríamos para as dunas, vi atrás de nós silhuetas de homens avançando os últimos metros de água até a areia. Levavam armas nas mãos, estendidas acima da cabeça para mantê-las secas.
Corremos por uma fileira de árvores que balançavam ao vento e entramos na floresta sem trilhas. A escuridão nos envolveu. As árvores bloqueavam o pouco de luar que ainda não estava oculto pelas nuvens, os galhos reduzindo a luz pálida a nada. Não houve tempo para que nossos olhos se adaptassem, para examinarmos o caminho que percorríamos ou para fazer nada além de correr em bando aos tropeções, arfando e com os braços estendidos à frente do corpo para evitar troncos que pareciam surgir do nada a poucos centímetros de nós.
Paramos depois de alguns minutos, sem fôlego, para avaliar nossa situação. Ainda ouvíamos as vozes atrás de nós, só que outro som surgira: o latido de cães.
Voltamos a correr.
CAPÍTULO TRÊS
Corremos aos tropeços pela floresta escura durante o que pareceram horas, sem lua nem movimento de estrelas para nos ajudar a calcular a passagem do tempo. Ouvíamos os gritos de homens e o latido de cães à nossa volta enquanto corríamos, ameaças vindas de toda parte e de lugar nenhum. Para despistar os cães, entramos em um riacho gélido e seguimos por ali até nossos pés ficarem dormentes; quando saímos da água, a sensação era de que caminhávamos sobre tocos de madeira com espinhos.
Depois de um tempo, começamos a fraquejar. Alguém gemeu no escuro. Olive e Claire foram ficando para trás, então Bronwyn as pegou no colo, mas só conseguiu carregá-las por certa distância. Finalmente, quando Horace tropeçou em uma raiz, caiu e ficou no chão, implorando para descansar, todos paramos.
— Levanta, seu preguiçoso desgraçado! — rosnou Enoch, que também mal conseguia respirar, mas em seguida se apoiou em uma árvore para recuperar o fôlego. A energia para brigar pareceu se esvair dele.
Estávamos chegando ao limite da resistência. Tínhamos que parar.
— Não adianta correr em círculos no escuro — disse Emma. — Podemos muito bem acabar no lugar onde começamos.
— À luz do dia vamos ter uma ideia melhor dessa floresta — disse Millard, concordando.
— Se sobrevivermos até lá — retrucou Enoch.
Uma garoa começou a cair, produzindo um ruído suave. Para criar um abrigo, Fiona persuadiu um círculo de árvores a se curvar e juntar os galhos mais baixos até se unirem, formando um teto de folhas à prova-d’água. A altura era suficiente apenas para nos sentarmos embaixo. Entramos engatinhando e ficamos ali escutando a chuva e o latido distante dos cães. Em algum lugar na floresta, homens armados continuavam à nossa caça. Sozinhos com nossos pensamentos, tenho certeza de que cada um de nós estava se fazendo a mesma pergunta: o que aconteceria se nos pegassem.
Claire começou a chorar, a princípio baixinho, mas depois cada vez mais alto, até que suas duas bocas estavam berrando e ela mal conseguia respirar entre um soluço e outro.
— Contenha-se! — ralhou Enoch. — Vão ouvir você... e aí todos nós teremos motivo para chorar!
— Eles vão nos dar de comida para os cachorros! — retrucou ela. — Vão fazer buracos de bala no nosso corpo e levar a srta. Peregrine!
Bronwyn se aproximou de Claire e envolveu a menina em um abraço caloroso.
— Por favor, Claire! Você precisa pensar em outra coisa!
— E-eu estou t-tentando! — choramingou ela.
— Tente com mais afinco.
Claire apertou bem os olhos, inspirou fundo e prendeu a respiração até parecer um balão prestes a explodir — então irrompeu em um ataque de tosses e soluços ainda mais altos.
Enoch tapou as duas bocas dela com as mãos.
— Shhhhhhh!
— D-d-desculpa — balbuciou a menina. — T-t-talvez se eu ouvisse uma história... um daqueles Contos...
— Ah, de novo não — reclamou Millard. — Estou começando a achar que seria melhor ter perdido esses malditos livros no mar com as outras coisas!
A srta. Peregrine interveio como podia: pulando em cima do baú e batendo na tampa com o bico. Lá dentro, junto com nossa mísera carga, estavam os Contos.
— Concordo com a srta. Peregrine — comentou Enoch. — Vamos tentar. Qualquer coisa para que ela pare com esse berreiro!
— Está bem então, pequenina — disse Bronwyn. — Mas só uma história, e você precisa prometer que vai parar de chorar.
— Eu p-prometo — disse Claire, fungando.
Bronwyn abriu o baú e pegou um volume encharcado dos Contos peculiares. Emma se aproximou e acendeu uma chama minúscula na ponta do dedo para que fosse possível ler. Então a srta. Peregrine, que parecia impaciente para acalmar Claire, pegou uma ponta do livro com o bico e o abriu em um capítulo aparentemente aleatório. Bronwyn começou a ler baixinho:
— “Era uma vez, em tempos peculiares, uma floresta densa e muito antiga onde viviam muitos animais. Havia coelhos, cervos e raposas, como em todas as florestas, mas havia também animais menos comuns, como urxinins pernaltas, linces de duas cabeças e jumirafas falantes. Esses animais peculiares eram o alvo favorito de caçadores, que adoravam atirar neles para empalhá-los, pendurá-los nas paredes e exibi-los para os amigos caçadores, mas sua predileção era por vendê-los para os donos de zoológicos, que os trancavam em jaulas e cobravam ingresso das pessoas que quisessem vê-los. Ora, você deve estar pensando que seria muito melhor viver trancado em uma jaula do que levar um tiro e ser pendurado em uma parede, mas acontece que as criaturas peculiares precisam de liberdade para serem felizes. Depois de um tempo, os espíritos dos animais peculiares enjaulados murchavam, e eles começavam a invejar os amigos nas paredes.”
— Que história triste — queixou-se Claire. — Conta outra.
— Eu gostei — interveio Enoch. — Fale mais sobre os tiros e o empalhamento.
Bronwyn ignorou os dois e prosseguiu:
— “Nessa época, os gigantes ainda andavam pela terra como nos remotos tempos Aldinn, mas eram pouco numerosos e cada vez mais raros. Por acaso, um desses gigantes vivia perto da floresta. Ele era muito simpático, falava com muita delicadeza e só comia plantas. Seu nome era Cuthbert. Um dia, Cuthbert foi à floresta colher frutas silvestres e, quando estava por lá, viu um caçador tentando capturar uma jumirafa. Como era um gigante bom, Cuthbert pegou a pequena jumirafa pelo pescoço comprido e, esticando-se todo na ponta dos pés (coisa que raramente fazia, pois a posição sempre estalava todos os seus ossos velhos), conseguiu alcançar muito alto e deixar a jumirafa no topo de uma montanha, bem longe de perigo. Aí, só para garantir, pisou no caçador, esmagando-o até o homem virar uma geleia que escorreu entre os dedos dos pés do gigante.
“Os relatos da bondade de Cuthbert se espalharam pela floresta, e logo os animais peculiares começaram a procurá-los todos os dias, pedindo para serem erguidos até o alto da montanha, onde ficariam longe de perigo. E Cuthbert sempre dizia: ‘Vou proteger vocês, irmãozinhos. Tudo o que peço em troca é que conversem comigo e me façam companhia. Não sobraram muitos gigantes no mundo, e de vez em quando eu me sinto solitário.’
“‘Mas é claro que vamos lhe fazer companhia, Cuthbert’, respondiam os animais.
“Todos os dias, Cuthbert salvava mais animais peculiares da mira dos caçadores, erguendo-os pelo pescoço até o alto da montanha, e isso continuou até haver um monte de animais peculiares morando lá em cima. Os animais estavam felizes porque finalmente podiam viver em paz, e Cuthbert também estava feliz, porque, se ficasse na ponta dos pés e apoiasse o queixo no topo da montanha, podia conversar com seus novos amigos pelo tempo que quisesse. Até que, certa manhã, uma bruxa foi visitá-lo. Ele estava tomando banho em um laguinho à sombra da montanha quando ela apareceu e anunciou: ‘Sinto muitíssimo, mas preciso transformar você em pedra.’
“‘Por que você faria uma coisa dessas?’, perguntou o gigante. ‘Eu sou muito bondoso. Sou um gigante que gosta muito de ajudar.’
“‘Fui contratada pela família do caçador que você esmagou’, respondeu a bruxa.
“‘Ah’, disse o gigante. ‘Eu já tinha me esquecido dele.’
“‘Sinto muitíssimo’, repetiu a bruxa, e em seguida agitou um galho de bétula na direção de Cuthbert, transformando em pedra o pobre coitado.
“De repente, Cuthbert se sentiu pesado, tão pesado que começou a afundar no lago. Ele afundou, afundou e não parou de afundar, ficou com água até o pescoço. Seus amigos animais viram o que estava acontecendo e, apesar de ficarem muito tristes, chegaram à conclusão de que nada podiam fazer para ajudá-lo.
“‘Sei que vocês não podem me salvar’, gritou Cuthbert para seus amigos, ‘mas pelo menos venham aqui conversar comigo! Estou preso aqui embaixo e me sinto tão solitário!’
“‘Mas se descermos até aí, os caçadores vão atirar em nós!’, responderam os animais.
“Cuthbert sabia que eles tinham razão, mas mesmo assim implorou, gritando: ‘Conversem comigo! Por favor, venham conversar comigo.’
“Os animais tentaram cantar e gritar para o pobre Cuthbert do topo da montanha, mas estavam longe demais, e suas vozes eram baixas até mesmo para Cuthbert, com suas orelhas de gigante; soavam mais baixas que o farfalhar de folhas ao vento.
“‘Conversem comigo!’, implorava ele. ‘Venham aqui conversar comigo!’
“Mas os animais não foram. E o gigante ainda estava gritando quando sua garganta virou pedra, igual ao restante do corpo. Fim.”
Bronwyn fechou o livro.
Claire parecia horrorizada.
— É isso?
Enoch começou a rir.
— É isso — respondeu Bronwyn.
— Essa história é horrível — reclamou Claire. — Conta outra!
— Uma história é uma história — retrucou Emma. — E agora é hora de dormir.
Claire fez biquinho, mas tinha parado de chorar, então a história cumprira seu objetivo.
— Amanhã não deve ser nem um pouco mais fácil do que foi hoje — comentou Millard. — Vamos precisar descansar o máximo que conseguirmos.
Juntamos pedaços macios de musgo para usar como travesseiro. Emma secava a água da chuva que eles tinham absorvido antes de os pegarmos. Como não tínhamos cobertores, nos deitamos bem próximo uns dos outros: Bronwyn abraçou todos os pequenos; Fiona se enroscou com Hugh, cujas abelhas saíam de sua boca aberta quando ele roncava e depois voltavam, vigiando o mestre adormecido; Horace e Enoch tremiam de frio, de costas um para o outro, orgulhosos demais para se aconchegarem. Eu estava com Emma, deitado de costas. Ela se aninhou entre meu braço e meu tronco, a cabeça em meu peito e o rosto tão convidativamente perto do meu que eu poderia beijar sua testa a qualquer momento — e não teria parado, mas estava tão cansado quanto um homem morto, e ela era tão quente quanto um cobertor de lã, então em pouco tempo eu estava dormindo e sonhando coisas agradáveis e bobagens fáceis de esquecer.
Nunca me lembro de sonhos bons, só os ruins ficam na memória.
Foi um milagre eu ter conseguido pegar no sono, dadas as circunstâncias. Mesmo numa situação daquelas — depois de tanto correr e agora dormindo ao relento, correndo risco de vida —, estar nos braços de Emma sempre me permitia encontrar um pouco de paz.
A srta. Peregrine vigiava todos nós, seus olhos negros reluzindo no escuro. Apesar de machucada e enfraquecida, ainda era nossa protetora.
A noite esfriou, e Claire começou a tremer e tossir. Bronwyn cutucou Emma para acordá-la, dizendo:
— Srta. Bloom, a menorzinha precisa de você. Acho que está ficando doente.
Murmurando um pedido de desculpas, Emma saiu de meus braços e foi cuidar de Claire. Senti uma pontada de ciúme, mas depois veio a culpa por sentir ciúme de uma amiga doente. Fiquei deitado sozinho, com uma sensação irracional de abandono, encarando a escuridão, mais exausto do que jamais me sentira e, no entanto, incapaz de dormir, ouvindo os outros se remexerem e gemerem entre as garras de pesadelos que nem se aproximavam daquele para o qual provavelmente despertaríamos. Aos poucos a escuridão foi se desfazendo, camada por camada, e, com gradações imperceptíveis, o céu foi clareando para um delicado azul-claro.
***
Ao amanhecer, saímos rastejando do abrigo improvisado. Tirei o musgo que grudara em meu cabelo e tentei limpar a lama da calça, mas só consegui espalhá-la mais, o que me deixou parecendo uma criatura do pântano vomitada pela terra. Estava com uma fome que nunca tinha sentido, meu estômago se corroendo por dentro, e meu corpo doía em praticamente todas as partes em que é possível sentir dor, por ter remado, corrido e dormido no chão. Apesar de tudo isso, porém, tínhamos recebido algumas bênçãos: a chuva parou de cair durante a noite, o dia estava esquentando bastante e parecia que tínhamos despistado os acólitos e seus cães, pelo menos por enquanto. Ou eles tinham parado de latir, ou estavam longe demais.
Mas, ao despistá-los, tínhamos nos perdido completamente. Era difícil se orientar na floresta, tanto de dia quanto à noite. Abetos verdejantes se espalhavam em fileiras intermináveis e desordenadas, todas idênticas umas às outras. O chão ali era um carpete de folhas caídas que ocultavam quaisquer rastros que pudéssemos ter deixado à noite. Tínhamos acordado no centro de um labirinto verde sem mapa nem bússola, e a asa quebrada da srta. Peregrine não a deixaria voar acima da copa das árvores para nos guiar. Enoch sugeriu que erguêssemos Olive, como tínhamos feito na neblina, mas, sem corda, não conseguiríamos puxá-la de volta se ela saísse voando.
Claire estava passando mal e parecia cada vez pior, toda encolhida no colo de Bronwyn, a testa coberta de suor apesar do frio. Estava tão magra que dava para contar as costelas sob o tecido do vestido.
— Ela vai ficar bem? — perguntei.
— Está com febre — respondeu Bronwyn, sentindo o rosto da menina. — Precisa de remédios.
— Primeiro temos que encontrar a saída dessa maldita floresta — disse Millard.
— Primeiro devíamos comer — interveio Enoch. — Vamos comer e discutir nossas opções.
— Que opções? — indagou Emma. — É só escolher uma direção e seguir. Pode ser qualquer uma, tanto faz.
Então nos sentamos e comemos em um silêncio triste e mal-humorado. Nunca provei comida de cachorro, mas tenho certeza de que nossa comida era pior: quadrados marrons de gordura de carne congelada tirados de latas enferrujadas. E, como não tínhamos talheres, comemos com as mãos.
— Botei cinco frangos salgados e três latas de foie gras com cornichons na mala e é isso que sobrevive ao naufrágio — comentou Horace, amargamente. — Ele tampou o nariz e jogou um naco gelatinoso garganta abaixo, sem mastigar. — Deve ser castigo.
— Pelo quê? — retrucou Emma. — Temos sido perfeitos, uns anjinhos. Quer dizer, quase todos nós.
— Talvez por pecados de vidas passadas. Não sei.
— Peculiares não têm vidas passadas — respondeu Millard. — Vivemos todas de uma vez só.
Terminamos de comer depressa, enterramos as latas vazias e nos preparamos para partir. Foi quando Hugh saiu de uma moita no meio do acampamento improvisado, uma nuvem agitada de abelhas voando ao redor de sua cabeça. Ele estava sem fôlego de tão empolgado.
— Onde você se enfiou? — perguntou Enoch.
— Precisava de privacidade para resolver umas questões matinais que não são da sua conta — retrucou Hugh. — E nisso eu descobri...
— Quem lhe deu permissão para sumir de vista? — interrompeu Enoch. — Quase fomos embora sem você!
— Quem disse que preciso de permissão? Mas então: eu vi...
— Você não pode simplesmente sair andando por aí! E se tivesse se perdido? — insistiu ele.
— Nós já estamos perdidos.
— Seu idiota! E se não conseguisse encontrar o caminho de volta?
— Deixei uma trilha de abelhas, como sempre...
— Você pode, por favor, deixar Hugh terminar de falar? — gritou Emma.
— Obrigado. — Hugh se virou e apontou para o lugar de onde viera. — Eu vi água. Muita água. Por entre aquelas árvores.
Emma fechou a cara e respondeu:
— Estamos tentando nos afastar do mar, não voltar para ele. Devemos ter andado em círculos durante a noite.
Seguimos Hugh pelo caminho que ele indicava. Bronwyn levava a srta. Peregrine no ombro e a pobre Claire, doente, nos braços. Depois de cem metros de caminhada, surgiu um brilho de ondulações cinza depois das árvores: um enorme volume de água.
— Ah, isso é terrível — reclamou Horace. — Os acólitos nos seguiram até voltarmos para os braços deles!
— Não estou ouvindo nenhum soldado — comentou Emma. — Na verdade, não estou ouvindo nada. Nem o mar.
Enoch se pronunciou:
— É porque isso não é do oceano, sua burra.
Ele se levantou e correu na direção da água. Fomos encontrá-lo com os pés enfiados na areia molhada, olhando para nós com um sorriso satisfeito de “Não falei?”. Enoch tinha razão: aquilo não era o mar. Era um amplo lago cinzento, enevoado e cercado de abetos, a superfície lisa como ardósia. No entanto, a característica mais marcante era algo que não percebi de imediato, só notei quando Claire apontou para uma grande formação rochosa que se projetava dos baixios próximos. Meus olhos não repararam nela da primeira vez, mas depois voltaram e prestaram mais atenção. Havia algo assustador (e bastante familiar) naquele lugar.
— Ei, é o gigante da história! — exclamou Claire, ainda nos braços de Bronwyn, apontando naquela direção. — É o Cuthbert.
Bronwyn acariciou o cabelo da menina.
— Shhh. Você está com febre, querida.
— Não seja ridícula — disse Enoch. — É só uma pedra.
Não era. Apesar de o vento e a chuva terem desgastado os traços, parecia idêntica a um gigante que afundara no lago até o pescoço. Dava para ver uma cabeça, um pescoço e um nariz, e havia até um pomo de adão, além de alguns arbustos crescendo no topo, como uma coroa de cabelo desgrenhado. Mas o mais estranho era a posição da cabeça: jogada para trás, com a boca aberta, como se ele tivesse se transformado em pedra enquanto chamava pelos amigos no alto da montanha, igual ao gigante da história que Bronwyn havia contado à noite.
— E olhe ali! — exclamou Olive, apontando para uma elevação rochosa que se erguia ao longe. — Aquela deve ser a montanha de Cuthbert!
— Gigantes existiram mesmo — murmurou Claire, com a voz fraca, mas maravilhada. — E os Contos são reais!
— Não vamos nos precipitar — interveio Enoch. — O que é mais provável? Que o autor da história de ontem tenha se inspirado em uma rocha que por acaso tem a forma parecida com uma cabeça de gigante ou que essa pedra com formato de cabeça tenha sido um gigante?
— Você tira a graça de tudo — reclamou Olive. — Eu acredito em gigantes, mesmo que você não acredite!
— Os Contos são só histórias — resmungou Enoch.
— Que engraçado — comentei —, era exatamente o que eu pensava de vocês antes de conhecê-los.
Olive riu.
— Jacob, seu bobo. Você achava mesmo que a gente fosse de mentira?
— É claro. Mesmo depois de conhecer vocês, passei um tempo achando que fossem. Era como se eu estivesse enlouquecendo.
— Reais ou não, é uma coincidência incrível, não acham? — interveio Millard. — Ter lido essa história ontem à noite e, na manhã seguinte, vir parar exatamente no ponto geográfico que a inspirou? Qual a probabilidade?
— Não acho que seja uma mera coincidência — comentou Emma. — Foi a srta. Peregrine quem abriu o livro, lembram? Ela deve ter escolhido a história de propósito.
Bronwyn se virou para encarar a ave, empoleirada em seu ombro, e perguntou:
— É isso mesmo, srta. Peregrine? Por quê?
— Porque significa alguma coisa — respondeu Emma.
— Sem dúvida — disse Enoch. — Significa que devemos subir aquele morro. De lá, talvez a gente veja um caminho para sair dessa floresta!
— Eu quis dizer que o conto significa alguma coisa — retrucou Emma. — Na história, o que o gigante queria? O que ele não parava de pedir?
— Alguém para conversar! — exclamou Olive, como se fosse uma aluna modelo numa escola.
— Exatamente — disse Emma. — Então, se ele quer conversar, vamos ouvir o que tem a dizer. — E, dizendo isso, ela entrou na água.
Ficamos vendo-a se afastar, perplexos.
— Aonde ela está indo? — perguntou Millard.
Ele parecia estar falando comigo. Apenas balancei a cabeça em negativa.
— Tem acólitos nos perseguindo! — gritou Enoch para Emma. — Estamos completamente perdidos! Pelo mundo verde dos pássaros, onde você está com a cabeça?
— Estou pensando de modo peculiar! — gritou Emma.
Ela foi chapinhando pela parte rasa até a base da rocha, depois subiu até a mandíbula e olhou para o interior da boca aberta.
— E aí? — gritei. — O que você está vendo?
— Não sei! — respondeu ela. — Parece muito fundo. É melhor eu olhar mais de perto!
Emma se enfiou na boca de pedra do gigante.
— É melhor descer daí, antes que se machuque! — gritou Horace. — Você está deixando todo mundo nervoso!
— Tudo deixa você nervoso! — retrucou Hugh.
Emma jogou uma pedra pela garganta do gigante e ficou esperando ouvir o som de quando batesse no fundo.
— Acho que pode ser um... — começou ela, mas escorregou em um cascalho solto, e a última palavra da frase se perdeu enquanto ela agitava os braços para se equilibrar.
— Cuidado! — gritei, com o coração acelerado. — Espere, estou indo!
Fui chapinhando até Emma.
— Pode ser o quê? — perguntou Enoch.
— Só tem um jeito de descobrir! — respondeu Emma, empolgada, e entrou ainda mais na boca do gigante.
— Ai, meu Deus — resmungou Horace. — Lá vai ela...
— Espere! — gritei de novo, mas Emma já tinha desaparecido garganta abaixo.
***
De perto, o gigante parecia ainda maior do que da margem, e, olhando para o interior da garganta escura, a sensação era de que quase dava para ouvir a respiração do velho Cuthbert. Pus as mãos em concha na boca e chamei por Emma. Minha voz ecoou de volta. Os outros também estavam avançando pelo lago, mas eu não podia esperar. E se Emma estivesse em apuros lá embaixo? Cerrei os dentes, enfiei as pernas na escuridão e pulei.
A queda demorou. Um segundo inteiro. Depois... splash! — mergulhei numa água tão gelada que fiquei sem fôlego e todos os meus músculos se contraíram na mesma hora. Precisei lembrar a mim mesmo que, se não nadasse de volta à superfície, afundaria. Estava em uma câmara escura e estreita, cheia de água e sem um meio de subir de volta pela garganta comprida e lisa: nada de corda, escada ou apoios. Gritei, chamando Emma, mas ela não estava por perto.
Meu Deus, pensei. Ela se afogou!
Então alguma coisa fez cócegas em meus braços e bolhas surgiram na água em volta. No instante seguinte, Emma surgiu na superfície, quase sem ar.
Ela parecia bem sob a luz pálida.
— O que está esperando? — perguntou, batendo na água com força, como se quisesse que eu mergulhasse atrás dela. — Vamos!
— Você ficou maluca? Estamos presos!
— Claro que não! — retrucou ela.
A voz de Bronwyn chamou do alto:
— Alôôôô-oooou, estou ouvindo vocês aí embaixo! O que encontraram?
— Acho que é a entrada de uma fenda! — gritou Emma. — Diga a todo mundo que podem mergulhar sem medo. Jacob e eu estaremos esperando vocês do outro lado!
Então ela pegou minha mão e, apesar de eu continuar sem entender muito bem o que estava acontecendo, enchi os pulmões e deixei que Emma me puxasse para baixo. Batemos os braços e as pernas, nos impulsionando na direção de um buraco na rocha do tamanho de uma pessoa, através do qual passava um facho de luz do sol. Ela me empurrou, me fazendo entrar ali, e entrou depois de mim. Seguimos nadando por um canal de uns três metros, até emergir no lago. Dava para ver a superfície ondulada lá em cima e, mais além, o céu azul refratado. Conforme subíamos, a água ficava bem mais quente. Quando viemos à tona e conseguimos respirar, senti imediatamente que o clima mudara: estava quente e úmido e a luz era como a de uma tarde dourada. A profundidade do lago também estava diferente: a água batia no queixo do gigante.
— Viu? — disse Emma, com um sorriso. — Estamos em outra época!
E, de repente, entramos em uma fenda temporal: trocamos uma manhã fria de 1940 por uma tarde quente de algum ano anterior, embora fosse difícil saber qual era aquela época estando no meio da floresta, longe de indícios datáveis de civilização.
Um a um, os outros emergiram ao nosso redor. Ao perceberem as diferenças, logo concluíram o que tinha acontecido.
— Vocês têm noção do que isso significa? — indagou Millard, girando, batendo na água e perdendo o fôlego de tanto entusiasmo. — Significa que há informações secretas nos Contos!
— Eles não parecem tão inúteis agora, hein? — retrucou Olive.
— Ah, mal posso esperar para analisar e fazer anotações sobre eles — respondeu Millard, esfregando as mãos.
— Não ouse escrever no meu livro, Millard Nullings! — exclamou Bronwyn.
— Mas o que é esta fenda? — perguntou Hugh. — Quem vocês acham que mora aqui?
— Os animais amigos de Cuthbert, é claro! — respondeu Olive.
Enoch revirou os olhos, mas se conteve e não falou o que devia estar pensando: “É só uma história!” Talvez porque também estivesse começando a mudar de ideia.
— Toda fenda tem uma ymbryne — comentou Emma. — Mesmo as fendas misteriosas dos livros de histórias. Vamos atrás dela.
— Está bem — concordou Millard. — Onde procuramos?
— O único lugar que a história mencionava além do lago era aquela montanha — respondeu Emma, indicando uma elevação depois das árvores. — Quem quer escalar?
Estávamos todos cansados e famintos, mas encontrar a fenda renovou nossas energias. Deixamos para trás o gigante de pedra e seguimos pela floresta em direção ao sopé da montanha, as roupas ensopadas secando depressa no calor. O solo se elevava à medida que nos aproximávamos da encosta. Encontramos então uma trilha muito usada. Seguimos por ali, em meio a abetos frondosos e sinuosas passagens rochosas, até que o caminho ficou tão íngreme que às vezes tínhamos que subir de quatro, agarrando-nos às reentrâncias do chão para conseguir avançar.
— É melhor que tenha alguma coisa maravilhosa no fim desta trilha — comentou Horace, esfregando o suor da testa. — Cavalheiros não transpiram!
Em certo ponto, a trilha virava uma faixa estreita, o solo se erguendo íngreme à direita e despencando à esquerda; abaixo, estendia-se um tapete verde de copas de árvores.
— Segurem-se na pedra! — alertou Emma. — É uma queda enorme até o chão.
Fiquei tonto só de olhar para baixo. De repente, pareceu que eu desenvolvera um medo de altura de embrulhar o estômago, e precisei de toda concentração só para pôr um pé na frente do outro.
Emma tocou meu braço.
— Você está bem? — sussurrou ela. — Parece pálido.
Menti, dizendo que estava bem, o que consegui fingir por exatamente mais três curvas. A essa altura, meu coração estava acelerado e minhas pernas tremiam tanto que precisei me sentar bem no meio da trilha estreita, bloqueando a passagem de todos.
— Ah, não! — resmungou Hugh. — Jacob está entrando em colapso.
— Não sei o que tem de errado comigo — murmurei.
Eu nunca tinha sentido medo de altura, mas não conseguia nem olhar pela beira do penhasco sem sentir o estômago se revirar.
Então pensei em algo terrível: e se o que eu estava sentindo não fosse medo de altura, mas de etéreos?
Não podia ser. Estávamos no interior de uma fenda, onde os etéreos não conseguem entrar, mas quanto mais eu analisava a sensação que agitava minhas entranhas, mais convencido ficava de que não era o precipício o que estava me perturbando; era outra coisa.
Eu precisava conferir.
Todos tagarelavam, ansiosos, perguntando qual era o problema, querendo saber se eu estava bem. Isolei as vozes, me inclinei para a frente e engatinhei até a borda do penhasco. Quanto mais eu avançava, pior era a sensação no estômago, como se garras o estivessem rasgando por dentro. A centímetros da beira, deitei de barriga no chão e me estiquei para segurar a borda com os dedos, então me puxei para poder espiar.
Levou alguns instantes para que meus olhos reconhecessem o etéreo. A princípio era apenas um brilho contra a encosta rochosa e irregular da montanha, um ponto trêmulo no ar, como ondas de calor subindo de um carro quente. Um detalhe quase imperceptível.
Era assim que eles pareciam para gente normal e outros peculiares — para qualquer um que não conseguia fazer o que eu fazia.
Foi então que senti nitidamente a ativação de minha habilidade peculiar. Foi bem depressa: o embrulho no meu estômago se reduziu a um único ponto de dor e então, não sei bem explicar como, se tornou direcional, um ponto esticando-se em uma linha, uma dimensão tornando-se duas. A linha, como a agulha de uma bússola, se inclinou e apontou para aquele brilho indefinido lá embaixo na encosta, cem metros à esquerda, e as ondas e os brilhos começaram a se juntar e a se materializar em uma massa negra e sólida, uma criatura humanoide feita de tentáculos e de sombra, agarrada às rochas.
Então o etéreo me viu e todo o corpo horrível da criatura se retesou. Ele se encolheu contra a pedra, abriu a boca cheia de dentes afiados e soltou um grito agudo de perfurar os tímpanos.
Meus amigos não precisaram que eu descrevesse o que estava vendo. O som foi suficiente.
— Etéreo! — gritou um.
— Corram! — gritou outro, expressando o óbvio.
Eu me afastei depressa da beirada e senti que me erguiam do chão. Logo estávamos correndo em bando — não montanha abaixo, mas acima, cada vez mais longe, em direção ao desconhecido, em vez de retornarmos para o solo plano e a saída da fenda, que ficava atrás de nós. Era tarde demais para voltarmos: dava para sentir o etéreo saltando de uma saliência de rocha para outra, subindo pela parede do penhasco. Mas estava se afastando, descendo a trilha, para nos interceptar caso tentássemos passar por ele na descida da montanha. Estava nos cercando.
Isso era novidade. Eu nunca tinha localizado um etéreo com nenhum outro sentido que não a visão, mas aquela pequena agulha de bússola dentro de mim estava apontando para trás. Quase podia visualizar a criatura correndo para a superfície plana abaixo da montanha. Era como se, depois de ver o etéreo, meus olhos tivessem implantado nele um sinal localizador.
Fizemos uma curva correndo — meu medo passageiro de altura parecia ter desaparecido — e nos deparamos com um muro de pedra liso de pelo menos quinze metros de altura. A trilha terminava ali. O solo ao redor estava revirado em ângulos estranhos. O muro não tinha escadas nem apoio para as mãos. Procuramos, desesperados, algum outro caminho, uma passagem secreta na rocha, uma porta, um túnel, mas não vimos coisa alguma nem qualquer maneira de seguir adiante. Só havia como ir para cima. E, aparentemente, não tínhamos como subir sem um balão de ar quente ou a ajuda da mão amiga de um gigante provavelmente mítico.
O pânico tomou conta de nós. A srta. Peregrine começou a piar, enquanto Claire chorava e Horace se lamentava:
— É o fim, vamos todos morrer!
Os outros procuravam alguma saída. Fiona passava a mão pelo muro em busca de rachaduras que pudessem conter terra, onde ela poderia fazer crescer uma trepadeira ou algo parecido para escalarmos. Hugh correu até a beira da trilha e olhou para o precipício.
— Se tivéssemos um paraquedas, poderíamos pular!
— Eu posso servir de paraquedas! — exclamou Olive. — Segurem nas minhas pernas!
Mas era uma longa distância até o chão, e lá embaixo havia uma floresta escura e ameaçadora. Era melhor, concluiu Bronwyn, mandar Olive até o alto do muro do que montanha abaixo. E, com Claire fraca e febril em um dos braços, ela conduziu Olive até a parede.
— Me dê seus sapatos! — disse Bronwyn a Olive. — Pegue Claire e a srta. P. e vá lá para cima o mais depressa que der!
Olive parecia horrorizada.
— Não sei se tenho forças! — exclamou.
— Você precisa tentar, minha codorninha! É a única que pode protegê-las!
Bronwyn se ajoelhou e pôs Claire de pé. A menina foi cambaleando até os braços de Olive, que a abraçou apertado e tirou os sapatos de chumbo. Assim que as duas começaram a subir, Bronwyn transferiu a srta. Peregrine do ombro para o topo da cabeça de Olive. Com mais peso, ela subia bem devagar. Foi só quando a srta. Peregrine começou a bater a asa boa e a puxar a menina pelo cabelo, com Olive dando gritinhos e agitando os pés, que as três decolaram de vez.
O etéreo chegara quase ao nível do chão. Eu sabia disso com tanta certeza quanto se o estivesse vendo. Enquanto isso, procuramos pelo chão ao redor do muro em busca de qualquer coisa que pudesse ser usada como arma, mas só encontramos pedrinhas.
— Eu posso ser uma arma — declarou Emma.
Ela bateu palmas uma vez e afastou as mãos, revelando uma bola de fogo impressionante que crepitava à medida que ganhava vida.
— E não esqueçam as minhas abelhas! — exclamou Hugh, abrindo a boca para deixá-las sair. — Elas podem ser bem ferozes quando provocadas!
Enoch, que sempre encontrava um jeito de rir nos momentos mais inadequados, soltou uma gargalhada.
— O que você vai fazer? Matar o etéreo com pólen?
Hugh o ignorou. Em vez disso, virou-se para mim.
— Você será nossos olhos, Jacob. Basta dizer onde está o monstro e vamos acabar com ele na base das ferroadas!
A agulha da minha bússola de dor revelou que o etéreo estava na trilha, e o modo como seu veneno se expandia, tomando meu corpo, indicava que ele se aproximava depressa.
— Ele vai aparecer a qualquer minuto — falei, apontando para a curva na trilha por onde tínhamos vindo. — Fiquem a postos.
Não fosse a adrenalina que inundava meu organismo, a dor seria incapacitante.
Assumimos nossas posições de luta ou de fuga, alguns agachados com os punhos erguidos, como boxeadores, outros em posição de um corredor antes do tiro de largada, apesar de ninguém saber para que lado correr.
— Que fim deprimente e lamentável para nossas aventuras — comentou Horace. — Devorados por um etéreo numa floresta do interior do País de Gales.
— Eu achava que eles não pudessem entrar nas fendas — disse Enoch. — Como foi que esse entrou aqui?
— Parece que eles evoluíram — respondeu Millard.
— Quem se importa em saber como aconteceu?! — rebateu Emma. — Ele está aqui e está com fome!
Do alto, uma vozinha gritou:
— Cuidado aí embaixo!
Estiquei o pescoço e vi Olive afastando o rosto, desaparecendo no topo do muro de pedra. No momento seguinte, algo parecido com uma corda desceu flutuando pela borda. A coisa se desenrolou e ficou bem esticada, então uma rede se abriu na extremidade e bateu no chão.
— Rápido! — veio a voz de Olive outra vez. — Tem uma alavanca aqui. Todo mundo precisa se agarrar à rede que eu vou puxar!
Corremos até a rede, mas era pequena demais, mal cabiam duas pessoas. Presa à corda, no nível dos olhos, havia a foto de um homem dentro da rede — dentro daquela mesma rede —, com as pernas dobradas à frente do corpo, pendurado pouco acima do chão diante de um muro liso de rocha — aquele mesmo muro. No verso da foto, lia-se a mensagem:
ACESSO RESTRITO À FAUNA
LIMITE DE PESO: UM PASSAGEIRO
Aquela engenhoca era uma espécie de elevador primitivo feito para apenas um passageiro por vez, não oito. Mas não havia tempo para usá-lo da forma correta, por isso todos nos amontoamos em cima dele, enfiando braços e pernas pelos buracos e nos agarrando à corda, nos segurando do jeito que dava.
— Puxe! — gritei.
O etéreo estava muito perto. A dor era sobrenatural.
Por alguns segundos intermináveis, nada aconteceu. O etéreo fez a curva usando as línguas musculosas como pernas, os membros humanos atrofiados pendendo inúteis ao lado do corpo. Em seguida, um guincho metálico soou, a corda se retesou e fomos puxados com força para cima.
O etéreo percorrera quase toda a distância que nos separava. Ele galopava com as mandíbulas bem abertas, como se quisesse nos prender entre os dentes do mesmo jeito que uma baleia faz com plânctons. Não estávamos nem na metade do muro quando ele chegou ao chão logo abaixo de nós, olhou para o alto e se agachou, como uma mola prestes a se soltar.
— Ele vai pular! — gritei. — Puxem as pernas para dentro da rede!
O etéreo enfiou as línguas no chão e saltou. Estávamos subindo depressa, e parecia que ele não ia nos alcançar, mas, quando chegou ao ápice do pulo, ele projetou uma das línguas e agarrou o tornozelo de Emma.
Ela gritou e chutou a língua com o outro pé. A rede parou de repente, pois a roldana era fraca demais para erguer todos nós e mais o etéreo.
— Me solte! — gritou Emma. — Me solte, me solte, me largue!
Também tentei chutar, mas a língua do etéreo era forte como um cabo de aço e a ponta estava coberta por centenas de ventosas, de modo que quem tentasse arrancá-la acabava preso. Além disso, o etéreo estava encolhendo a língua e se alçando para cima. Suas mandíbulas chegavam cada vez mais perto, até que começamos a sentir o fedor de túmulo de seu hálito.
Emma gritou para que alguém a segurasse. Agarrei as costas de seu vestido com uma das mãos e Bronwyn soltou a rede, ficando presa apenas pelas pernas, o que lhe permitiu abraçar Emma pela cintura. Então ela também se soltou. Bronwyn e eu éramos tudo o que evitava sua queda. Com as mãos livres, Emma se abaixou e enlaçou a língua.
O etéreo guinchou. As ventosas que se prendiam à perna de Emma começaram a enrugar e a emanar uma fumaça preta, até que se soltaram da carne da língua, chiando. Emma apertou ainda mais, fechou os olhos e deu um grito — percebi que não era de dor, e sim uma espécie de grito de guerra. Ela ficou assim até o etéreo ser obrigado a soltá-la, o tentáculo ferido se desenrolando do tornozelo de Emma. Houve um momento surreal, em que não era mais o etéreo quem segurava Emma, e sim ela que o segurava. A criatura se contorcia e guinchava abaixo de nós. A fumaça acre que saía da carne queimada preenchia nosso nariz, até que finalmente tivemos que gritar para que ela o soltasse. Então Emma abriu os olhos, pareceu lembrar-se de onde estava e afastou as mãos.
O etéreo despencou, tentando se segurar no ar durante a queda. A rede subiu como foguete quando a tensão que nos segurava foi liberada de repente, e, ao passarmos pela beira do muro, caímos em um monte lá em cima. Olive, Claire e a srta. Peregrine ficaram esperando enquanto nos soltávamos da rede e cambaleávamos para longe da borda do penhasco. Olive vibrava, a srta. Peregrine piava e batia a asa boa, e Claire, deitada no chão, ergueu a cabeça e abriu um sorriso fraco.
Estávamos tontos de felicidade e, pela segunda vez em muitos dias, surpresos por estarmos vivos.
— É a segunda vez que você salva nossa vida, codorninha — disse Bronwyn a Olive. — E, srta. Bloom, eu já sabia que você era corajosa, mas dessa vez se superou!
Emma deu de ombros.
— Era ele ou eu — respondeu.
— Eu não acredito que você encostou nele — comentou Horace.
Emma esfregou as mãos no vestido, levou-as ao nariz e fez uma careta.
— Só espero que esse cheiro saia logo — retrucou. — Aquele monstro fedia como um lixão.
— Como está seu tornozelo? — perguntei. — Dói?
Emma se ajoelhou e baixou a meia, revelando um círculo inchado e vermelho na pele.
— Não está tão ruim — respondeu, tocando de leve.
Mas, quando ela se levantou e apoiou o peso do corpo na perna ferida, notei que fez uma careta de dor.
— Você ajudou muito — resmungou Enoch para mim. — “Corram!”, instruiu o neto do matador de etéreos.
— Se meu avô tivesse corrido do etéreo que o matou, talvez ainda estivesse vivo — retruquei. — É um bom conselho.
Ouvi um baque surdo do outro lado do muro que tínhamos acabado de escalar, e aquela sensação começou a se agitar outra vez dentro de mim. Fui até a borda e olhei para baixo. O etéreo estava vivo e muito bem lá na base do penhasco, muito entretido em abrir buracos na rocha com as línguas.
— Má notícia — comentei. — Ele não morreu na queda.
Emma chegou ao meu lado em um segundo.
— O que ele está fazendo?
Eu o vi girar uma das línguas para dentro de um furo que fizera na pedra, para então se içar e começar a fazer o segundo. Estava criando pontos de apoio para subir.
— Está tentando escalar — expliquei. — Meu Deus, parece o Exterminador do Futuro.
— Parece o quê? — indagou Emma.
Quase comecei a explicar, mas desisti. De qualquer jeito, era uma comparação ruim: etéreos eram mais assustadores, e provavelmente mais mortais, do que qualquer monstro do cinema.
— Precisamos impedi-lo! — exclamou Olive.
— Ou melhor: precisamos fugir! — exclamou Horace.
— Chega de fugir! — retrucou Enoch. — Por favor, vamos simplesmente matar essa coisa maldita.
— Claro — disse Emma. — Mas como?
— Alguém trouxe um caldeirão cheio de óleo fervente? — sugeriu Enoch.
— Será que isso serve? — ouvi Bronwyn dizer, e me virei para vê-la erguer uma rocha enorme acima da cabeça.
— Pode servir — respondi. — Você tem boa pontaria? Consegue jogar essa pedra onde eu indicar?
— Posso tentar — retrucou Bronwyn, andando com dificuldade até a beira do penhasco, a rocha equilibrada precariamente nas mãos.
Ficamos olhando lá para baixo.
— Mais um pouco para cá — direcionei, fazendo com que Bronwyn desse alguns passos para a esquerda.
Mas, quando estava prestes a dar o sinal para que ela largasse a rocha, o etéreo pulou de um apoio para outro, e de repente Bronwyn estava no lugar errado.
Ele estava criando os pontos de apoio cada vez mais rápido, tinha virado um alvo móvel. Para piorar as coisas, a pedra que Bronwyn segurava era a única à vista. Se ela errasse, não teríamos uma segunda chance.
Eu me obriguei a encarar o etéreo, apesar da vontade quase insuportável de desviar o olhar. Por alguns estranhos segundos de confusão mental, as vozes de meus amigos desapareceram; ouvi o sangue pulsando em meus ouvidos e o coração batendo no peito. Meus pensamentos se voltaram para a criatura que matara meu avô, que ficara parada junto ao corpo moribundo dele antes de, covardemente, fugir pela floresta.
Minha visão ficou embaçada e minhas mãos começaram a tremer. Tentei me manter firme.
Você nasceu para isso, pensei. Foi feito para matar monstros como esse. Eu repetia isso baixinho, como um mantra.
— Depressa, Jacob, por favor — pediu Bronwyn.
A criatura fingiu que ia para a esquerda, mas pulou para a direita. Eu não queria tentar adivinhar e acabar desperdiçando nossa melhor chance de matá-la. Eu queria ter certeza. De algum modo, por alguma razão, senti que podia.
Então me ajoelhei tão perto da borda que Emma enganchou dois dedos na parte de trás do meu cinto, para evitar que eu caísse. Concentrado no etéreo, repeti o mantra baixinho — fui feito para matar você, fui feito para matar — e, apesar de naquele instante o etéreo estar parado, abrindo outro buraco no muro, senti a agulha da bússola em minhas entranhas se mover bem de leve para a direita.
Foi como uma premonição.
Bronwyn estava começando a tremer sob o peso da rocha.
— Não vou aguentar muito mais! — avisou ela.
Resolvi confiar em meu instinto. Apesar de o ponto para onde a bússola apontava estar vazio, gritei para Bronwyn jogar a rocha ali. Ela se inclinou na direção ordenada e, com um gemido de alívio, soltou a rocha.
No instante seguinte, o etéreo saltou para a direita, o lugar exato para o qual a bússola apontara. Ele olhou para cima, viu a rocha indo em sua direção e se preparou para saltar outra vez, mas não teve tempo. A pedra o acertou bem na cabeça, afastando seu corpo do muro. Com um estrondo trovejante, o etéreo e a pedra acertaram o solo. Línguas de tentáculos saíram de debaixo do pedregulho, estremeceram e ficaram imóveis. Em seguida, um sangue negro escorreu e cercou a rocha, formando uma grande poça viscosa.
— Em cheio! — berrei.
As crianças começaram a pular e a comemorar.
— Ele morreu, ele morreu! — gritava Olive. — O etéreo horroroso morreu!
Bronwyn me abraçou. Emma beijou o topo da minha cabeça, Horace apertou minha mão, e Hugh me deu um tapinha nas costas. Até Enoch me parabenizou.
— Bom trabalho — disse ele, com certa relutância. — Mas não vá ficar convencido por isso.
Eu deveria estar pulando de felicidade, mas mal sentia qualquer coisa além de uma dormência que se espalhava conforme a dor e os tremores da Sensação diminuíam. Emma percebeu que eu estava simplesmente esgotado. Com enorme gentileza, mas de um jeito que mais ninguém notaria, ela tomou meu braço e me ajudou a ficar de pé enquanto caminhávamos para longe do penhasco.
— Isso não foi sorte — sussurrou ela no meu ouvido. — Eu estava certa sobre você, Jacob Portman.
***
A trilha que terminara na base do muro de pedra recomeçava ali no alto, seguindo a crista de um espinhaço que subia e descia uma colina.
— A placa na corda dizia Acesso restrito à fauna — comentou Horace. — O que vocês acham que vamos encontrar lá na frente?
— É você quem sonha com o futuro — retrucou Enoch. — Por que não diz o que acha?
— O que é “fauna”? — perguntou Olive.
— É quando tem muitos animais num lugar — explicou Emma.
Olive deu um gritinho e bateu palmas.
— São os amigos de Cuthbert! Da história! Ah, mal posso esperar para encontrá-los! Vocês acham que a ymbryne também mora lá?
— Bem, na atual conjuntura — começou Millard —, é melhor não fazer suposições.
Começamos a andar. Eu ainda estava um pouco atordoado pelo encontro com o etéreo. Minha habilidade parecia estar se desenvolvendo, como Millard previra, crescendo como um músculo conforme eu a exercitava. Depois de ver um etéreo, eu conseguia rastreá-lo e, se me concentrasse o suficiente, antecipar seus movimentos de um jeito meio instintivo, mais do que consciente. Senti certa satisfação por ter aprendido algo sobre minha peculiaridade, ainda mais por ter sido guiado unicamente pela experiência. Mas eu não estava aprendendo em um ambiente seguro e controlado. Não havia rede de proteção. Qualquer erro que eu cometesse teria consequências imediatas e fatais, tanto para mim quanto para as pessoas à minha volta. Receei que os outros começassem a confiar demais na minha capacidade — ou, pior ainda, que eu começasse a confiar demais. E eu sabia que, no instante em que ficasse convencido, no instante em que deixasse de ficar apavorado de medo dos etéreos, algo terrível aconteceria.
Então talvez fosse bom que minha relação terror/confiança estivesse no ponto mais baixo, praticamente na proporção dez para um. Enfiei as mãos nos bolsos enquanto caminhávamos, com medo de que os outros me vissem tremendo.
— Vejam! — gritou Bronwyn, parando no meio da trilha. — Uma casa nas nuvens!
Estávamos na metade da subida da montanha. Adiante, bem no alto, uma casa quase parecia se equilibrar nas nuvens. Conforme avançamos, as nuvens foram se abrindo, nos permitindo uma boa visão da casa. Era muito pequena e havia sido construída não sobre uma nuvem, mas sobre uma torre muito alta, toda feita de dormentes de trilhos ferroviários, erguida no centro de um planalto gramado. Era uma das construções mais estranhas que eu já vira. Ao redor, no platô, havia algumas cabanas espalhadas, além de um pequeno bosque na extremidade mais distante. Mas não demos atenção aos arredores: nossos olhos estavam fixos na torre.
— O que é isso? — murmurei.
— Uma torre de observação? — sugeriu Emma.
— Um lugar de onde aviões decolam? — chutou Hugh.
Mas não havia aviões por ali, nem quaisquer indícios de uma pista de pouso.
— Talvez seja uma plataforma de lançamento de zepelins — disse Millard.
Eu me lembrei de vídeos antigos do Hindemburg, um dirigível desafortunado, atracando no alto do que parecia uma torre de rádio, que era uma estrutura não muito diferente daquela. Senti uma onda de medo gélida atravessar meu corpo. E se os balões que nos caçaram na praia estivessem estabelecidos ali e nós, sem querer, tivéssemos caído em um ninho de acólitos?
— Talvez seja a casa da ymbryne — sugeriu Olive. — Por que todo mundo sempre pensa no pior?
— Olive só pode estar certa — disse Hugh. — Não tem nada a temer aqui.
A resposta veio na mesma hora: um urro inumano que parecia vir das sombras sob a torre.
— O que foi isso? — indagou Emma. — Outro etéreo?
— Acho que não — respondi, notando que a Sensação continuava desvanecendo.
— Não sei e não quero saber — retrucou Horace, recuando.
Mas não tínhamos escolha: a coisa queria nos encontrar. Ouvimos outra vez aquele urro de arrepiar os pelos dos braços, e no instante seguinte um rosto peludo surgiu entre dois dos dormentes mais baixos. A criatura rosnou para nós como um cão raivoso, fios de saliva escorrendo da boca cheia de presas.
— Em nome dos Anciões, o que é isso? — murmurou Emma.
— Mas que bela ideia, entrar nessa fenda — resmungou Enoch. — Está sendo ótimo.
O que quer que fosse a coisa, ela rastejou de trás dos dormentes e saiu ao sol, onde se agachou e nos olhou de soslaio, dando um sorriso estranho, como se imaginasse que gosto teria nosso cérebro. Não dava para dizer se era humano ou animal: estava vestido em trapos e tinha corpo de homem, mas se movia como um macaco. Sua forma encurvada lembrava um ancestral há muito perdido cuja evolução fora interrompida milhões de anos antes. Os olhos e dentes eram de um amarelado fosco, a pele era pálida e sarapintada de manchas escuras e o cabelo comprido emaranhado parecia um ninho.
— Alguém precisa fazer essa coisa morrer! — exclamou Horace. — Ou pelo menos parar de olhar para mim!
Bronwyn pôs Claire no chão e assumiu uma postura de luta, enquanto Emma estendia as mãos para produzir uma chama — mas, aparentemente, estava surpresa demais para evocar mais que uma baforada de fumaça. A fera humana se retesou, rosnou e saiu correndo como um velocista olímpico. Mas não corria na nossa direção, e sim ao redor do nosso grupo. Então mergulhou atrás de uma pilha de rochas e reapareceu com um sorriso arreganhando os dentes. Estava brincando com a gente, como um gato brinca com a presa pouco antes de matá-la.
A criatura parecia prestes a sair correndo novamente — dessa vez, sim, na nossa direção —, quando uma voz vinda de trás ordenou que se sentasse.
— Sente-se e comporte-se!
E a criatura obedeceu, relaxando sobre as patas traseiras, a língua pendendo da boca em um sorriso abobalhado.
Quando nos viramos, vimos apenas um cachorro trotando com muita calma em nossa direção. Procurei ver atrás dele, mas não havia ninguém. Então o cachorro abriu a boca e disse:
— Não se incomodem com o Grunt, ele não tem modos mesmo! É só o jeito dele de agradecer. Aquele etéreo era um estorvo terrível.
O cão parecia estar falando comigo, mas eu não consegui responder, de tão surpreso. Ele não só falava em uma voz quase humana (e com sotaque britânico refinado), como carregava um cachimbo na mandíbula saliente e usava um par de óculos de lentes verdes redondas.
— Minha nossa, espero que vocês não estejam muito ofendidos — continuou o cão, interpretando errado meu silêncio. — Grunt tem boas intenções, vocês terão que perdoá-lo. Ele foi criado em um celeiro. Eu, por outro lado, fui educado em uma grande propriedade, sou o sétimo filhote de um sétimo filhote de uma linhagem ilustre de cães de caça. — Ele fez a melhor reverência que um cachorro poderia fazer, tocando o focinho no chão. — Addison MacHenry, a seu dispor.
— É um nome pomposo para um cachorro — comentou Enoch, aparentemente sem se impressionar com um animal falante.
Addison espiou Enoch por cima dos óculos e respondeu:
— Permita-me perguntar: qual é a sua graça?
— Enoch O’Connor — respondeu o menino, orgulhoso, estufando um pouco o peito.
— É um nome pomposo para um menino sujo e de rosto gorducho — comentou Addison, e se levantou nas patas traseiras, chegando quase à altura de Enoch. — É, sou mesmo um cachorro, mas um cachorro peculiar. Então por que eu deveria ficar restrito a um nome de cachorro comum? Meu antigo dono me chamava de Bob e eu detestava. Era uma afronta a minha dignidade! Então o mordi no rosto e tomei seu nome. Addison. Acredito que seja muito mais apropriado para um animal de meu nível intelectual. Isso foi pouco antes de a srta. Wren* me descobrir e me trazer para cá.
O rosto de meus amigos se iluminou à menção do nome de uma ymbryne. Uma pulsação de esperança se acendeu em todos nós.
— A srta. Wren trouxe você para cá? — perguntou Olive. — Mas e Cuthbert, o gigante?
— Quem? — indagou Addison, mas depois balançou a cabeça. — Ah, sim, a história. Temo que seja apenas isso, uma história, muito antiga, inspirada naquela rocha curiosa lá embaixo e na fauna peculiar da srta. Wren.
— Eu disse — murmurou Enoch.
— E onde está a srta. Wren? — perguntou Emma. — Precisamos falar com ela!
Addison olhou para a casa no alto da torre e respondeu:
— Aquela é a residência dela, mas a srta. Wren não está no momento. Saiu voando há alguns dias para ajudar suas irmãs ymbrynes em Londres. Está havendo uma guerra... Mas imagino que vocês tenham ouvido falar e saibam tudo a respeito. Isso explicaria por que estão viajando com roupas degradantes de refugiados.
— Nossa fenda foi atacada — explicou Emma. — Depois perdemos nossos pertences no mar.
— E quase nos afogamos — acrescentou Millard.
Ao ouvir a voz de Millard, o cão levou um susto.
— Um invisível! Que rara surpresa. E também um americano — comentou ele, me cumprimentando com um aceno de cabeça. — Que grupo peculiar, mesmo em se tratando de peculiares. — Ele voltou a se apoiar nas quatro patas e se virou na direção da torre. — Venham, vou apresentá-los aos outros. Eles ficarão fascinados em conhecê-los. Depois dessa jornada, vocês devem estar famintos, pobrezinhos. Providenciaremos forragem nutriente mais do que depressa!
— Também precisamos de remédios — disse Bronwyn, ajoelhando-se para pegar Claire. — Essa pequenina está muito doente!
— Faremos todo o possível por ela — respondeu o cão. — Devemos isso e muito mais a vocês, por resolverem nosso problema com o etéreo. Um estorvo terrível, como já expliquei.
— Ele falou forragem? — perguntou Olive.
— Mantimentos, rações! — respondeu o cão. — Por aqui vocês comerão como a realeza.
— Mas eu não gosto de comida de cachorro — retrucou Olive.
Addison riu, com um timbre surpreendentemente humano.
— Nem eu, senhorita.
* Em português, “cambaxirra”. (N. da E.)
CAPÍTULO QUATRO
Addison caminhava sobre as quatro patas e com o focinho empinado, enquanto a fera humana chamada Grunt corria à nossa volta como um filhote doido. De trás de moitas e de cabanas aqui e acolá, víamos rostos de todos os tamanhos e formatos nos espiando — a maioria peluda. Quando chegamos ao meio do platô, o cão se ergueu sobre as patas traseiras e anunciou bem alto:
— Não tenham medo, camaradas! Venham conhecer as crianças que eliminaram nosso visitante indesejado!
Um a um, os animais bizarros se aventuraram em um desfile em campo aberto. Addison os apresentou conforme se aproximavam. A primeira criatura parecia a metade superior de uma minigirafa costurada à metade inferior de um jumento. Andava de um jeito esquisito, apoiada nas duas patas traseiras, que na verdade eram seus únicos membros.
— Esta é Deirdre — declarou Addison. — Ela é uma jumirafa, mistura de jumento com girafa, só que com menos patas e bastante rabugenta. Não sabe perder em jogos de cartas — acrescentou, em um sussurro. — Nunca jogue cartas com uma jumirafa. Diga olá, Deirdre!
— Adeus! — disse Deirdre, com os grandes lábios de cavalo repuxados em um sorriso dentuço. — Que dia horrível! É um desprazer enorme conhecer vocês! — Ela então riu, em um misto de zurro e relincho agudo, e completou: — Brincadeira!
— Deirdre se acha muito engraçada — explicou Addison.
— Se você tem a parte de cima de girafa e a de baixo de jumento, por que não se chama de “giramento”? — perguntou Olive.
Deirdre franziu o cenho e respondeu:
— Mas que nome horrível! “Jumirafa” desliza pela língua, não acha?
Ela pôs para fora uma língua gorda e rosada com quase um metro de comprimento e, com a pontinha, empurrou a tiara de Olive. A menina deu um gritinho e correu para se esconder atrás de Bronwyn, dando uma risadinha.
— Todos os animais daqui falam? — perguntei.
— Só eu e a Deirdre — respondeu Addison. — O que é ótimo. As galinhas não conseguem ficar quietas um minuto, mesmo sem conseguir pronunciar uma única palavra! — Justo nesse momento, galinhas cacarejantes saíram de um galinheiro queimado e abandonado e foram correndo até nós, um bando muito atrapalhado. — Ah! Lá vêm elas.
— O que aconteceu com o galinheiro? — perguntou Emma.
— Sempre que tentamos consertá-los, elas queimam tudo de novo — respondeu o cão. — É um aborrecimento. — Addison virou o rosto e apontou com a cabeça na direção oposta. — Talvez seja melhor vocês irem um pouco para trás. Quando elas ficam agitadas...
BANG! Um barulho parecido com o da explosão de dinamite fez todos nós pularmos de susto, e as últimas tábuas que restavam do galinheiro se despedaçaram e voaram pelos ares.
— ... os ovos explodem — concluiu o cão.
A fumaça baixou, mas vimos que as galinhas ainda iam na nossa direção, ilesas e aparentemente indiferentes à explosão. Uma pequena nuvem de penas flutuava ao redor delas como flocos de neve gordos.
Enoch ficou de queixo caído.
— Quer dizer que essas galinhas botam ovos explosivos?! — indagou.
— Só quando estão agitadas — explicou Addison. — A maioria dos ovos não oferece perigo algum. E são deliciosos! Mas foram os explosivos o que rendeu a elas um nome um tanto indelicado: galinhas do Armagedom.
— Fiquem longe! — gritou Emma para as galinhas que se aproximavam. — Vocês vão explodir a gente!
Addison riu.
— Elas são meigas e inofensivas, eu garanto, e só botam ovos se estiverem dentro do galinheiro. — As galinhas cacarejavam, felizes, ao redor dos nossos pés. — Viram? — completou o cão. — Elas gostaram de vocês!
— Isso aqui parece um hospício! — exclamou Horace.
Deirdre riu.
— Calma, meu pombinho. A fauna é sempre assim.
Em seguida, Addison nos apresentou a alguns animais cujas peculiaridades eram mais sutis, entre eles uma coruja silenciosa mas muito atenta, que nos observava de um galho, e um grupo de camundongos que desapareciam e reapareceriam sem que percebêssemos, como se passassem metade do tempo em uma realidade paralela. Havia também um bode com chifres compridos e olhos negros e profundos, órfão de um rebanho de uma espécie de bodes peculiares que antigamente habitavam a floresta próxima.
Quando todos os animais estavam reunidos, Addison gritou:
— Três vivas para os matadores de etéreos!
Deirdre zurrou, o bode bateu com as patas no chão, a coruja piou, as galinhas cacarejaram e Grunt grunhiu de satisfação. Enquanto tudo isso se passava, Bronwyn e Emma não paravam de trocar olhares. A mais forte olhou para baixo, para seu casaco, onde a srta. Peregrine estava escondida, e depois ergueu as sobrancelhas para Emma, como se perguntando: Agora? Emma balançou a cabeça em resposta: Não, ainda não.
Bronwyn deixou Claire deitada em uma faixa de grama à sombra de uma árvore. A menina suava, tremia e já perdera a consciência várias vezes.
— Já vi a srta. Wren preparar um elixir especial para tratar de febre — sugeriu Addison. — O gosto é horrível, mas funciona.
— Minha mãe sempre fazia canja de galinha quando eu estava doente — comentei.
As galinhas cacarejaram, assustadas, e Addison lançou um olhar zangado para mim.
— Ele falou de brincadeira! — exclamou. — Foi só brincadeira. Que piada absurda, há há há! É invenção, isso de canja de galinha!
Com a ajuda de Grunt, que tinha polegares opositores, Addison e a jumirafa foram preparar o elixir. Voltaram em pouco tempo com uma tigela cheia de um líquido que parecia água suja. Depois que Claire bebeu tudo e voltou a dormir, os animais nos ofereceram um pequeno banquete: cestas de pão fresco e maçãs e ovos cozidos — os não explosivos! —, tudo servido direto em nossas mãos, pois não tinham pratos nem talheres. Eu não havia me dado conta de como estava com fome até devorar três ovos e um pão inteiro em menos de cinco minutos.
Quando terminei, arrotei, limpei a boca e ergui os olhos, notando que todos os animais nos observavam com muito interesse, o rosto tão vivo e inteligente que fiquei um pouco tonto e tive que lutar contra uma sensação avassaladora de que estava sonhando.
Eu me virei para Millard, que comia ao meu lado, e perguntei:
— Você já tinha ouvido falar em animais peculiares?
— Só em histórias infantis — respondeu ele, com a boca cheia de pão. — É muito estranho ter sido justamente uma dessas histórias que nos trouxe até eles.
Apenas Olive não parecia perturbada com aquilo tudo, talvez porque ainda fosse muito nova (de certa forma, pelo menos). Assim, a distância entre as histórias e a realidade provavelmente não parecia tão grande.
— Onde estão os outros bichos? — perguntou Olive a Addison. — Na história de Cuthbert, tinha urxinins pernaltas e linces de duas cabeças.
O humor exultante dos animais perdeu o vigor na mesma hora. Grunt escondeu o rosto nas mãos grandes, e Deirdre soltou um gemido relinchado.
— Não perguntem, não perguntem — disse ela, baixando a cabeça.
Mas era tarde demais.
— Essas crianças nos ajudaram — interveio Addison. — Elas merecem ouvir nossa história triste, se quiserem.
— Se vocês não se incomodarem de nos contar... — disse Emma.
— Adoro histórias tristes — declarou Enoch. — Principalmente aquelas em que a princesa é devorada pelo dragão e todo mundo morre no final.
Addison pigarreou.
— Nosso caso está mais para o dragão ter sido devorado pela princesa — explicou. — Os últimos anos têm sido difíceis para criaturas como nós, e antes disso já tínhamos passado por alguns séculos difíceis. — O cachorro começou a andar de um lado para o outro e sua voz assumiu o tom solene de um pregador religioso. — Muito tempo atrás, este mundo era cheio de animais peculiares. Na era Aldinn, havia na Terra mais animais peculiares do que pessoas peculiares. E de todas as formas e tamanhos que se pode imaginar: baleias que voavam como pássaros, minhocas grandes como casas e até cães duas vezes mais inteligentes que eu, se é que dá para acreditar nisso. Alguns tinham reinos inteiros governados por líderes animais. — Uma centelha brilhou no fundo dos olhos do cão, quase imperceptível, como se ele tivesse idade suficiente para se lembrar do mundo que descrevia. Então ele deu um suspiro profundo, a fagulha se apagando, e prosseguiu: — Hoje, nossos números não são nem uma fração do que eram. Estamos praticamente extintos. Algum de vocês sabe o que aconteceu com os animais peculiares que já andaram pela Terra?
Mastigamos em silêncio, envergonhados por não saber.
— Muito bem — continuou ele. — Venham comigo e vou lhes mostrar.
O cão saiu trotando sob o sol. Instantes depois, olhou para trás, esperando que o seguíssemos.
— Por favor, Addie — interveio a jumirafa. — Agora não. Nossos convidados estão comendo!
— Eles pediram, então eu vou contar — retrucou Addison. — O pão vai estar no mesmo lugar daqui a alguns minutos!
Relutantes, abandonamos a comida e o seguimos. Fiona ficou para trás, cuidando de Claire, que ainda dormia, mas Grunt e a jumirafa foram trotando atrás de nós. Atravessamos o platô até o pequeno bosque que crescia na outra extremidade. Seguimos, com passos ruidosos, por uma trilha sinuosa de cascalho que avançava por entre as árvores, rumo a uma clareira. Pouco antes de chegarmos lá, Addison disse:
— Permitam-me apresentá-los aos mais distintos animais peculiares que já existiram!
As árvores davam espaço a um pequeno cemitério cheio de fileiras organizadas de lápides brancas.
— Ah, não! — ouvi Bronwyn dizer.
— Aqui deve haver mais animais peculiares enterrados do que os que hoje habitam toda a Europa — comentou Addison, passando entre os túmulos até chegar a uma determinada lápide, na qual se apoiou com as patas dianteiras. — O nome desta era Pompey. Uma bela cadela capaz de curar feridas com algumas lambidas. Uma maravilha de se ver! Apesar disso, foi assim que a trataram. — Addison estalou a língua e Grunt correu até ele carregando um livrinho nas mãos, que o cão me entregou. Era um álbum aberto na foto de um cão preso a uma pequena carroça como se fosse uma mula ou um cavalo. — Ela foi escravizada por gente do circo — explicou Addison. — Obrigada a puxar crianças gordas e mimadas como uma besta de carga comum, e até era açoitada com chicotes de montaria! — Os olhos dele brilhavam de raiva. — Quando a srta. Wren a resgatou, Pompey parecia prestes a morrer de depressão. Depois que chegou, resistiu por apenas algumas semanas. Foi enterrada aqui.
Passei o livro para os outros. Todos que viram a foto suspiraram e balançaram a cabeça em desalento ou murmuraram palavras amargas para si mesmos.
Addison foi até outro túmulo.
— Ca’ab Magda foi ainda mais espetacular — comentou. — Uma gnu com dezoito chifres que percorria as fendas temporais da Mongólia Exterior. Era assustadora! O chão trovejava sob seus cascos quando ela corria! Dizem que marchou com Aníbal quando ele cruzou os Alpes, em 218 a.C. Alguns anos atrás, um caçador a acertou.
Grunt nos mostrou a foto de uma mulher mais velha que parecia ter acabado de sair de um safári na África. Estava sentada em uma cadeira bizarra enfeitada com chifres.
— Não entendi — disse Emma, examinando a foto. — Onde está Ca’ab Magda?
— Essa senhora está sentada em cima dela — explicou Addison. — O caçador transformou os chifres de Magda em uma cadeira.
Emma quase deixou o álbum cair.
— Que coisa horrível!
— Se essa cadeira é ela — começou Enoch, dando um tapinha na foto —, o que está enterrado aqui?
— A cadeira — respondeu Addison. — Um desperdício lamentável de uma vida peculiar.
— Este cemitério está cheio de histórias como a de Magda — prosseguiu o cão. — A srta. Wren queria que o lugar onde vivemos fosse uma arca, um refúgio, mas aos poucos se transformou em um túmulo.
— Como todas as outras fendas temporais — retrucou Enoch. — Como a própria peculiaridade. Um experimento fracassado.
— “Este lugar está morrendo”, dizia a srta. Wren. — Addison afinou a voz, imitando-a: — “E eu não passo de uma supervisora desse extenso funeral!” — Os olhos de Addison brilharam ao se lembrar da ymbryne, mas logo o brilho se foi. — Ela era muito teatral.
— Por favor, não se refira a nossa ymbryne no passado — pediu Deirdre.
— É — respondeu ele. — Desculpe. Ela é muito teatral.
— Eles caçaram vocês — comentou Emma, a voz vacilante devido à emoção. — Empalharam seus corpos e os colocaram em zoológicos.
— Igualzinho ao que os caçadores fizeram na história de Cuthbert — completou Olive.
— É — respondeu Addison. — Algumas verdades soam melhor em forma de mito.
— Mas não existiu nenhum Cuthbert — continuou Olive, começando a entender. — Nenhum gigante. Só uma ave.
— Uma ave muito especial — completou Deirdre.
— E vocês estão preocupados com ela — falei.
— É claro que estamos — retrucou Addison. — Pelo que sei, a srta. Wren é a única ymbryne que ainda não foi capturada. Quando ela soube que as irmãs sequestradas tinham sido levadas para Londres em segredo, saiu voando para ajudá-las, sem nem pensar na própria segurança.
— Nem na nossa — murmurou Deirdre.
— Londres? — indagou Emma. — Tem certeza de que foi para lá que levaram as ymbrynes sequestradas?
— Absoluta — respondeu o cão. — A srta. Wren tem espiões na cidade, um bando de pombas peculiares que observam tudo e contam para ela. Recentemente, várias vieram até aqui em estado de extrema aflição. Tinham informações seguras de que as ymbrynes estavam, como ainda estão, presas em fendas de punição.
Várias crianças se assustaram, mas eu não fazia ideia do que era aquilo.
— O que é uma fenda de punição? — perguntei.
— São fendas temporais criadas para prender acólitos capturados, criminosos irrecuperáveis e loucos perigosos — explicou Millard. — Não têm nada a ver com as fendas que conhecemos. São lugares horríveis, horríveis.
— E elas agora estão sob o controle dos acólitos e, sem dúvida, de seus etéreos — completou Addison.
— Meu Deus! — exclamou Horace. — Então é pior do que imaginávamos!
— Isso é piada, não é? — perguntou Enoch. — É exatamente o tipo de coisa que eu temia.
— Seja qual for o objetivo nefasto dos acólitos — interveio Addison —, está claro que eles precisam de todas as ymbrynes para realizá-lo. Agora só resta a srta. Wren... a corajosa e imprudente srta. Wren... sabe-se lá até quando!
Então ele soltou um ganido, como fazem alguns cães durante tempestades com trovões, jogando as orelhas para trás e abaixando a cabeça.
***
Voltamos para a sombra da árvore e terminamos de comer. Quando estávamos cheios e não aguentávamos dar mais nem uma mordida, Bronwyn se virou para Addison:
— Sabe, sr. Cão, nem tudo é tão desesperador quanto você diz.
A menina olhou para Emma e ergueu as sobrancelhas. Dessa vez, Emma assentiu.
— É mesmo? — retrucou Addison.
— É. Na verdade, tenho algo aqui que talvez possa animá-los.
— Duvido muito disso — murmurou o cão, mas mesmo assim levantou a cabeça para ver o que era.
Bronwyn abriu o casaco.
— Gostaria de apresentar a penúltima ymbryne não capturada, a srta. Alma Peregrine.
A ave pôs a cabeça para fora, banhando-a de sol, e piscou.
Foi a vez de os animais ficarem pasmos. Deirdre levou um susto, Grunt guinchou e bateu palmas, e as galinhas bateram as asas inúteis.
— Mas soubemos que a fenda de vocês tinha sido atacada! — exclamou Addison. — Que a ymbryne foi raptada!
— E foi — respondeu Emma, orgulhosa. — Mas nós a recuperamos!
— Nesse caso — disse Addison, fazendo uma reverência para a srta. Peregrine —, é um prazer extraordinário, madame. Estou a seu dispor. Se precisar de um lugar onde se transformar, terei o maior prazer em conduzi-la aos aposentos particulares da srta. Wren.
— Ela não pode se transformar — explicou Bronwyn.
— Como assim? — indagou Addison. — Ela é tímida?
— Não — respondeu Bronwyn. — Está presa.
O cachimbo caiu da boca de Addison.
— Ah, não — murmurou ele. — Vocês têm certeza?
— Está assim há dois dias — respondeu Emma. — Acho que já teria se transformado, se pudesse.
Addison sacudiu a cabeça para tirar os óculos do rosto e examinou a ave com olhos arregalados de preocupação.
— Posso examiná-la? — perguntou.
— Ele é um dr. Dolittle bem razoável — explicou a jumirafa. — Addie cuida de todos nós quando estamos doentes.
Bronwyn tirou a srta. Peregrine do casaco e a pôs no chão.
— Só tome cuidado com a asa machucada — disse ela.
— É claro — respondeu Addison, e começou a andar em círculos ao redor da ave, devagar, observando-a de todos os ângulos. Depois, cheirou a cabeça e as asas da srta. Peregrine com o focinho grande e molhado. — Me contem o que aconteceu com ela — pediu, por fim. — Quero saber quando e como. Contem tudo.
Emma contou toda a história: como a srta. Peregrine fora sequestrada por Golan, como quase se afogara na gaiola, no mar, e como a havíamos resgatado de um submarino pilotado por acólitos. Os animais escutaram tudo fascinados. No fim, o cão parou para organizar os pensamentos e deu seu diagnóstico:
— Ela foi envenenada. Tenho certeza. Está afetada por alguma coisa que a mantém artificialmente na forma de ave.
— Sério? — indagou Emma. — Como é que você sabe?
— Raptar e transportar ymbrynes é um negócio perigoso quando elas estão na forma humana e podem fazer seus truques de parar o tempo. Entretanto, seus poderes são muito limitados na forma de ave. Assim, a tutora fica compacta, mais fácil de esconder... uma ameaça muito menor. — Ele olhou para a srta. Peregrine. — O acólito que a pegou borrifou algo na senhora? — perguntou. — Algum líquido ou gás?
Como resposta, a srta. Peregrine mexeu a cabeça de uma forma que parecia uma confirmação.
Bronwyn levou um susto.
— Ah, senhora, eu sinto tanto! Não fazíamos a menor ideia.
Senti uma pontada de culpa. Eu levara os acólitos até a ilha. Era por minha causa que aquilo tinha acontecido com a srta. Peregrine. Eu fizera com que as crianças peculiares perdessem seu lar; pelo menos em parte. A vergonha se alojou na minha garganta como uma pedra.
— Mas ela vai melhorar, não vai? — perguntei. — Ela vai voltar ao normal?
— A asa vai ficar boa — respondeu Addison —, mas, sem ajuda, não vai voltar à forma humana.
— De que tipo de ajuda ela precisa? — perguntou Emma. — Você pode ajudá-la?
— Apenas outra ymbryne pode ajudá-la. E o tempo está acabando.
Fiquei tenso. Isso era novidade.
— Como assim? — indagou Emma.
— Detesto dar más notícias — começou Addison —, mas dois dias é um período muito longo para uma ymbryne ficar presa desse jeito. Quanto mais tempo ela passar como ave, mais sua parte humana vai se perder: a memória, a fala, tudo o que a fazia ser quem era. Até que, por fim, ela não será mais uma ymbryne. Será apenas uma ave, para todo o sempre.
Imaginei a srta. Peregrine deitada em uma maca em um pronto-socorro, cercada por médicos, em parada respiratória. Cada segundo que passava provocava mais um dano irreversível em seu cérebro.
— Quanto tempo? — perguntou Millard. — Quanto tempo ela tem?
Addison semicerrou os olhos e balançou a cabeça.
— Dois dias, se ela for forte.
Sussurros e exclamações de espanto percorreram o grupo. Todos nós empalidecemos.
— Tem certeza? — indagou Emma. — Certeza total e absoluta?
— Já vi isso acontecer. — Addison foi até a corujinha empoleirada em um galho próximo. — Olivia era uma ymbryne jovem que sofreu um acidente gravíssimo durante o treinamento. Eles a trouxeram para cá cinco dias depois. A srta. Wren e eu fizemos todo o possível para transformá-la de volta, mas já não havia mais jeito. Isso foi há dez anos. Ela está assim desde então.
A coruja nos observava em silêncio. Não havia mais vida nela além da de um animal. Era possível ver isso na passividade de seus olhos.
Emma se levantou. Parecia prestes a dizer algo. Torci para que fosse um comentário animador, um discurso inspirador para nos pôr em movimento, mas ela parecia não conseguir colocar as palavras para fora. Contendo um soluço, saiu andando e se afastou de nós.
Eu a chamei, mas Emma não parou. Os outros apenas a observaram se afastar, atordoados pela terrível notícia. Também estavam atônitos por notar um sinal de fraqueza ou indecisão em Emma, por menor que fosse. Ela mantivera a força diante de tudo aquilo por tanto tempo que passamos a achar normal, mas não era à prova de balas. Podia ser peculiar, mas também era humana.
— É melhor ir atrás dela, sr. Jacob — disse Bronwyn. — Não podemos ficar aqui por muito tempo.
***
Quando alcancei Emma, ela estava parada à beira do planalto, olhando para a paisagem silvestre abaixo, para as suaves colinas verdes que desciam até uma planície distante. Ela me ouviu chegar, mas não se virou.
Eu me aproximei e tentei pensar em algo reconfortante para dizer.
— Sei que você está com medo e... e três dias não parecem muito tempo, mas...
— Dois dias — corrigiu ela. — Dois dias, talvez. — O lábio de Emma tremeu. — E isso nem é o pior.
Não entendi.
— Como as coisas poderiam estar piores?
Ela estava travando uma batalha contra as lágrimas, mas naquele instante, depois de um golpe repentino, fora derrotada. Emma se jogou no chão e chorou, arrasada por um turbilhão. Eu me ajoelhei, a abracei e fiquei ali com ela.
— Me desculpe — pediu Emma, e repetiu isso mais três vezes, com a voz fraca, apenas um fiapo do que era. — Você não deveria ter ficado. Eu não deveria ter deixado. Mas fui egoísta... tão egoísta!
— Não diga isso. Eu estou aqui. Estou aqui e não vou a lugar nenhum.
Isso só a fez chorar ainda mais. Aproximei os lábios de sua testa e a beijei até que a tempestade que se abatia sobre ela começou a passar, e seu choro foi se reduzindo a lamúrias.
— Por favor, fale comigo — pedi. — Me diga qual é o problema.
Um minuto depois, Emma se sentou, esfregou os olhos e tentou se recompor.
— Eu esperava nunca ter que lhe dizer isso — explicou. — Que não importaria. Lembra quando eu lhe disse, na noite em que você decidiu vir com a gente, que talvez você nunca mais conseguisse voltar para casa?
— Claro que lembro.
— Eu não sabia até agora como isso era verdade. Acho que condenei você, Jacob, meu doce amigo, a uma vida curta, aprisionado em um mundo que está morrendo. — Trêmula, ela tomou fôlego e prosseguiu: — Você chegou até nós pela fenda da srta. Peregrine, e isso significa que só ela ou a fenda dela pode mandá-lo de volta. Mas aquela fenda não existe mais, ou pelo menos vai deixar de existir em breve. Agora, a própria srta. Peregrine seria seu único meio de voltar para casa. Só que, se ela nunca mais voltar à forma humana...
Engoli em seco, sentindo um nó na garganta.
— Então vou ficar preso no passado.
— Isso. E a única forma de voltar para a época que você conhecia como sua é esperar, dia após dia, ano após ano.
Setenta anos. Meus pais e todo mundo que eu conhecia e de quem gostava estariam mortos, e, para todos eles, eu já estaria morto há muito tempo. É claro que, desde que eu sobrevivesse a quaisquer tribulações que estivéssemos prestes a encarar, poderia ir encontrar meus pais dali a algumas décadas, assim que eles nascessem... mas para quê? Eles seriam crianças, seriam estranhos para mim.
Eu me perguntei quando os pais que eu conheci desistiriam de me encontrar com vida. Que história contariam a si mesmos para explicar meu desaparecimento? Diriam que fugi? Que enlouqueci? Que me joguei de um penhasco?
Será que fariam um funeral para mim? Comprariam um caixão? Escreveriam meu nome em uma lápide?
Eu me tornaria um mistério que eles jamais resolveriam. Uma ferida nunca cicatrizada.
— Me desculpe — repetiu Emma. — Se eu soubesse que a situação da srta. Peregrine era tão séria, juro que nunca teria pedido para você ficar. O presente não significa nada para nós. Acabaríamos mortos se ficássemos lá tempo demais! Mas você... você ainda tem família, uma vida...
— Não! — gritei, dando um tapa no chão para espantar a sensação de autocomiseração que começara a turvar minha mente. — Não vamos discutir isso. Eu escolhi ficar.
Emma pôs a mão na minha e disse, com brandura:
— Se o que os animais disseram é verdade e todas as ymbrynes foram sequestradas, em breve não teremos mais onde ficar. — Ela pegou um pouco de terra na mão e espalhou ao vento. — Sem ymbrynes para mantê-las, as fendas temporais vão se desmantelar. Os acólitos vão usar as ymbrynes para recriar aquela maldita experiência, e 1908 vai se repetir mais uma vez. Ou eles fracassam e transformam toda a criação em uma cratera fumegante, ou são bem-sucedidos e se tornam imortais, e aí seremos governados por aqueles monstros. De qualquer forma, em pouco tempo estaremos mais extintos que os animais peculiares! E fui eu que arrastei você para essa confusão sem saída... e para quê?
— Tudo acontece por uma razão — respondi.
Eu não conseguia acreditar que essas palavras tinham saído da minha boca, mas, assim que as pronunciei, senti a verdade delas ressoar em meu corpo como um sino.
Eu estava ali por um motivo. Havia algo que eu precisava fazer, não apenas ser; e não era fugir ou me esconder, muito menos desistir no instante em que as coisas começassem a parecer aterrorizantes e impossíveis.
— Achei que você não acreditasse em destino — comentou Emma, cética, testando minha vontade.
Eu não acreditava, não exatamente, mas não sabia explicar no que eu acreditava. Eu me lembrei das histórias que meu avô contava. Eram cheias de maravilhas e aventuras, mas havia também algo mais profundo, um sentimento perene de gratidão. Quando criança, eu me concentrava nas descrições que vovô fazia de uma ilha que parecia mágica e de crianças peculiares com poderes fantásticos, mas, no fundo, suas histórias eram sobre a srta. Peregrine e sobre como, em uma época de grande necessidade, ela o ajudara. Quando chegou ao País de Gales, meu avô era um garoto assustado que não falava a língua local, um garoto assombrado por dois tipos de monstro: o que acabaria matando a maior parte de sua família, e outro, grotesco como um monstro de desenho animado e invisível para todos exceto para ele, que devia parecer saído diretamente de seus pesadelos. Diante de tudo isso, a srta. Peregrine o escondera, oferecendo-lhe um lar e ajudando-o a descobrir quem ele realmente era — aquela ymbryne salvara sua vida, possibilitando, assim, a vida de meu pai e, por extensão, a minha. Meus pais me tiveram, me criaram e me amaram, e por isso eu tinha uma dívida para com eles. Só que eu sequer teria nascido não fosse a bondade altruísta que a srta. Peregrine demonstrara para com meu avô. Eu estava começando a acreditar que fora enviado até ali para pagar aquela dívida: a minha, a de meu pai e a de meu avô.
Fiz o possível para explicar:
— Não tem a ver com destino. Acho que existe um equilíbrio no mundo, e às vezes forças que não compreendemos intervêm, botando mais peso no lado certo da balança. A srta. Peregrine salvou meu avô, e eu estou aqui para ajudar a salvá-la.
Emma assentiu lentamente. Eu não sabia se ela concordava comigo ou se estava pensando em uma forma educada de dizer que eu estava louco.
Então ela me abraçou.
Eu não precisava explicar mais nada. Emma entendia.
Também devia a vida à srta. Peregrine.
— Temos três dias — falei. — Vamos para Londres. Lá, a gente liberta uma das ymbrynes e cura a srta. Peregrine. Não é um caso perdido. Vamos salvá-la, Emma, ou vamos morrer tentando. — As palavras soaram tão corajosas e decididas que por um instante eu duvidei que tivessem saído da minha boca.
Emma me surpreendeu com uma risada, como se aquilo tivesse soado engraçado, depois desviou o olhar por um instante. Quando voltou a me encarar, seu rosto estava firme e seus olhos brilhavam. Sua confiança estava voltando.
— Às vezes não sei se você é completamente louco ou uma espécie de milagre — declarou ela. — Estou começando a acreditar na segunda opção.
Emma me abraçou novamente, e ficamos unidos assim por um bom tempo. Com a cabeça dela apoiada em meu ombro, eu sentia seu hálito quente no meu pescoço, e de repente não queria mais nada além de eliminar a distância entre nossos corpos e nos unir em apenas um ser. Mas ela se afastou, beijou minha testa e foi andando de volta em direção aos outros. Eu estava atônito demais para segui-la naquele momento, porque algo novo estava acontecendo. Uma espécie de roda dentro de meu coração, algo que eu nunca percebera que existia, estava girando tão depressa que me deixava tonto. Quanto mais Emma se afastava, mais depressa a roda girava, como se houvesse um cordão invisível se desenrolando, esticando-se entre nós dois; e como se, caso Emma avançasse rápido demais, esse cordão fosse se arrebentar — o que me mataria.
Fiquei me perguntando se aquela dor estranha e doce era amor.
***
Os outros estavam amontoados à sombra da árvore, crianças e animais juntos. Emma e eu fomos na direção deles. Tive o impulso de segurar a mão dela e quase o fiz, mas me ocorreu algo que me fez mudar de ideia. De repente, percebi — quando Enoch se virou para nos encarar com aquela desconfiança que sempre reservava para mim, mas que estava cada vez mais voltada para nós dois — que Emma e eu estávamos nos tornando uma unidade separada dos outros, uma aliança particular, com nossos próprios segredos e promessas.
Bronwyn se levantou quando nos aproximamos.
— Você está bem, srta. Bloom?
— Estou, estou — respondeu ela, mais do que depressa. — Só entrou um cisco no meu olho. Bem, todo mundo precisa pegar suas coisas. Temos que ir para Londres agora mesmo para resolver como fazer a srta. Peregrine voltar ao normal!
— Estamos muito empolgados por vocês concordarem com isso — comentou Enoch, revirando os olhos. — Chegamos à mesma conclusão há vários minutos, enquanto os dois estavam lá cochichando no canto.
Emma corou, mas se recusou a cair na provocação. Nossas preocupações eram mais graves do que aqueles pequenos conflitos. Por exemplo, os muitos perigos exóticos da jornada que estávamos prestes a iniciar.
— Tenho certeza de que todos têm consciência de como este plano é ruim, em quase todos os aspectos, e com poucas chances de sucesso — declarou Emma.
Ela expôs alguns dos motivos. Em primeiro lugar, Londres ficava longe; talvez não pelos padrões atuais, quando podemos usar um GPS para encontrar a estação de trem mais próxima e pegar um expresso que nos deixaria no centro da cidade em poucas horas, mas em 1940, em uma Grã-Bretanha conturbada pela guerra, Londres ficava a um mundo de distância. As estradas e trens podiam estar lotados de refugiados, arruinados por bombas ou monopolizados por comboios militares, e qualquer uma dessas perturbações poderia nos custar um tempo precioso para a srta. Peregrine. Pior: seríamos caçados ainda mais ferrenhamente do que antes, agora que quase todas as outras ymbrynes haviam sido capturadas.
— Esqueçam a viagem! — retrucou Addison. — Essa é a menor das suas preocupações! Talvez eu não tenha sido dissuasivo o suficiente quando discutimos o assunto hoje mais cedo. Talvez vocês não tenham entendido bem as circunstâncias do encarceramento das ymbrynes. — Ele pronunciava cada sílaba como se tivéssemos problemas auditivos. — Nenhum de vocês leu sobre as fendas de punição nos livros de história dos peculiares?
— Claro que já — respondeu Emma.
— Então sabem que tentar invadi-las é suicídio. São armadilhas mortais, todas elas, que contêm os episódios mais sangrentos da história de Londres: o Grande Incêndio de 1666; o letal cerco viking de 842; o auge pestilento da Grande Peste! Não se publicam mapas temporais desses lugares por motivos óbvios. Portanto, a menos que um de vocês tenha conhecimento prático das partes mais secretas do mundo peculiar...
— Sou um estudioso das fendas obscuras e desagradáveis — interveio Millard. — É um hobby que tenho há anos e que muito estimo.
— Que ótimo para você — retrucou Addison. — Então imagino que tenham um meio de passar pela horda de etéreos guardando as entradas das fendas!
De repente, parecia que os olhos de todos estavam sobre mim. Engoli em seco e, de cabeça erguida, respondi:
— É, na verdade, temos.
— É melhor mesmo — resmungou Enoch.
Então Bronwyn declarou:
— Eu acredito em você, Jacob. Não o conheço há muito tempo, mas sinto que conheço seu coração, e ele é forte e verdadeiro: um coração peculiar. Eu confio em você. — Ela se encostou em mim e passou o braço por cima do meu ombro. Senti a garganta apertar.
— Obrigado — respondi, me sentindo pequeno e incapaz diante da grande emoção de Bronwyn.
O cão estalou a língua.
— Isso é loucura. Vocês, crianças, não têm o menor instinto de autopreservação. É um milagre que ainda estejam respirando.
Emma entrou na frente de Addison e tentou fazê-lo se calar.
— É, um milagre — retrucou. — Obrigada por nos iluminar com sua opinião. Agora, deixando de lado as previsões catastróficas, preciso perguntar ao restante do grupo: alguma objeção ao que estamos sugerindo? Não quero que ninguém vá só por se sentir pressionado.
Devagar e timidamente, Horace levantou a mão.
— Se Londres é onde estão todos os acólitos, ir para lá não é o mesmo que caminhar direto para as mãos deles? Isso é mesmo uma boa ideia?
— É uma ideia genial — respondeu Enoch, irritado. — Os acólitos estão convencidos de que nós, crianças peculiares, somos dóceis e fracas. Irmos atrás deles deve ser a última coisa que estão esperando.
— E se nosso plano der errado? — indagou Horace. — Teremos entregado a srta. Peregrine nas mãos deles!
— Nós não sabemos disso — disse Hugh. — Não temos certeza se Londres está nas mãos deles.
Enoch escarneceu:
— Não tente melhorar as coisas. Se eles conseguiram abrir as fendas de prisão e as estão usando para encarcerar as ymbrynes, pode apostar que já tomaram o restante da cidade. O lugar vai estar repleto deles, escutem o que eu digo. Se não fosse assim, os acólitos nunca teriam se dado ao trabalho de vir atrás de nós na pequena e velha Cairnholm. É estratégia militar básica. Na batalha, não se ataca primeiro o dedo mindinho do inimigo, é preciso apunhalar direto no coração!
— Por favor — gemeu Horace —, chega dessa conversa de destruir fendas e apunhalar corações. Você vai assustar os mais novos!
— Eu não estou com medo — interveio Olive.
Horace se encolheu. Alguém murmurou a palavra covarde.
— Nada disso! — disse Emma. — Não há nada errado em ter medo. Significa que a pessoa está levando tudo isso muito a sério. Porque, sim, vai ser perigoso. Sim, as chances de sucesso são mínimas. E apenas chegar a Londres não é garantia de que conseguiremos sequer encontrar as ymbrynes, muito menos resgatar alguma delas. É totalmente provável que a gente acabe apodrecendo em uma cela dos acólitos ou se dissolvendo no estômago de um etéreo. Todo mundo entendeu isso?
Todos assentiram gravemente.
— Estou sendo bem realista, certo, Enoch?
O menino assentiu.
— Se tentarmos — prosseguiu Emma —, podemos até perder a srta. Peregrine, isso é incontestável, mas se não tentarmos, se não formos até lá, com certeza vamos perdê-la, e os acólitos muito provavelmente vão nos pegar de qualquer jeito! Dito isso, se algum de vocês achar que não tem coragem nem força para nos acompanhar nessa empreitada, pode ficar para trás. — Ela estava se referindo a Horace, todos sabíamos disso. O menino olhava fixamente para um ponto no chão. — Pode ficar num lugar seguro e viremos buscá-lo depois, quando não tiver mais problemas. Não há vergonha alguma nisso.
— Meu ventrículo esquerdo! — exclamou Horace. — Eu nunca poderia ficar de fora dessa!
Até Claire se recusou a ser deixada para trás.
— Acabei de viver oitenta anos de dias agradavelmente entediantes — declarou, apoiando-se em um cotovelo, na área sombreada onde dormia. — Ficar aqui enquanto vocês saem em uma aventura? Sem chance!
Mas, ao tentar se levantar, viu que não conseguia e se deitou de novo, tossindo e se sentindo zonza. Apesar de o líquido de aspecto sujo que bebera ter baixado um pouco a febre, Claire não tinha condições de fazer a viagem para Londres; nem naquele dia ou no seguinte, certamente não a tempo de ajudar a srta. Peregrine. Alguém teria que ficar com ela enquanto se recuperava.
Emma pediu um voluntário para essa tarefa. Olive levantou a mão, mas Bronwyn a dispensou: era nova demais. Bronwyn ia se oferecer, mas mudou de ideia. Estava dividida, explicou, entre a vontade de proteger Claire e seu senso de dever para com a srta. Peregrine.
Enoch cutucou Horace com o cotovelo.
— Qual é o seu problema? — provocou. — Essa é sua grande chance de ficar para trás!
— Eu quero ir nessa aventura, quero mesmo. Mas também gostaria de chegar a meu centésimo quinto aniversário, se fosse possível. Vocês prometem que não vamos tentar salvar a droga do mundo inteiro?
— Só queremos salvar a srta. Peregrine — respondeu Emma. — Mas não posso garantir o aniversário de ninguém.
Aparentemente se dando por satisfeito, Horace manteve as mãos junto às laterais do corpo.
— Mais alguém? — indagou Emma, olhando ao redor.
— Não tem problema, eu posso ficar sozinha — disse Claire.
— Isso está fora de questão — retrucou Emma. — Os peculiares ajudam uns aos outros.
Fiona ergueu o braço. Estava tão quieta que eu quase havia esquecido sua presença ali conosco.
— Fi, você não pode! — disse Hugh.
Ele parecia magoado, como se, ao se oferecer para ficar, ela o estivesse rejeitando. Fiona o encarou com grandes olhos tristes, mas sua mão permaneceu erguida.
— Obrigada, Fiona — disse Emma. — Se tivermos sorte, veremos as duas de novo daqui a alguns dias.
— Se as aves quiserem — disse Bronwyn.
— Se as aves quiserem — repetiram os outros.
***
A tarde dava lugar à noite. Em uma hora estaria escuro na fenda temporal dos animais e seria muito mais perigoso descer a montanha. Enquanto nos preparávamos para partir, os bichos fizeram a gentileza de nos fornecer alimentos frescos e suéteres tecidos com a lã de carneiros peculiares. Deirdre jurou que os suéteres tinham alguma propriedade peculiar, embora não lembrasse exatamente qual.
— Acho que são resistentes ao fogo... ou à água. Isso: nunca afundam na água, são como coletes salva-vidas fofos. Ou talvez... Ah, não sei, mas são quentinhos!
Agradecemos e os guardamos no baú de Bronwyn. Depois, Grunt foi até a frente trotando, segurando um pacote embrulhado em papel e barbante.
— Um presente das galinhas — explicou Deirdre, dando uma piscadela quando Grunt entregou o pacote em minhas mãos. — Não deixe cair.
Uma pessoa mais esperta teria pensado duas vezes antes de levar explosivos na viagem, mas estávamos nos sentindo vulneráveis, e tanto o cão quanto a jumirafa juraram que os ovos não explodiriam se carregados com cuidado. Então os acomodamos entre os suéteres, no baú de Bronwyn. Pelo menos não estaríamos desarmados ao enfrentar homens com armas.
Estávamos quase prontos, exceto por um problema: quando saíssemos da fenda temporal dos animais, voltaríamos a ficar tão perdidos quanto estávamos ao entrar. Precisávamos de orientação.
— Posso mostrar o caminho para sair da floresta — disse Addison. — Me encontrem no alto da torre da srta. Wren.
O espaço lá em cima era tão pequeno que só cabiam dois de cada vez, por isso fui com Emma, subindo pelos dormentes ferroviários como se fossem os degraus de uma escada gigante. Subindo como um macaco, Grunt levou metade do tempo que nós, mesmo carregando Addison embaixo do braço.
A vista lá do alto era maravilhosa. Na direção leste, colinas cobertas de bosques se estendiam até uma extensa planície aberta. Para o oeste, era possível ver até o oceano, onde um barco de aparência antiquada, equipado com intrincadas velas gigantes, deslizava ao longo da costa. Não cheguei a perguntar que ano era ali (1492? 1750?), mas acho que isso pouco importava para os animais. Aquele era um lugar seguro, afastado do mundo das pessoas, e só no mundo dos humanos é que os anos faziam alguma diferença.
— Vocês vão seguir para o norte — explicou Addison, apontando o cachimbo na direção de uma estrada praticamente invisível que seguia entre as árvores abaixo, como uma linha tênue traçada a lápis. — Ao fim daquela estrada vocês vão encontrar uma cidade, e nessa cidade, pelo menos na época de vocês, há uma estação de trem. Seu ponto médio de viagem entre fendas é que época? 1940?
— Isso mesmo — confirmou Emma.
Apesar de eu entender apenas vagamente o que eles estavam falando, nunca tive medo de fazer perguntas estúpidas.
— Por que não podemos simplesmente sair neste mundo? — perguntei. — Viajar para Londres no ano em que estamos aqui?
— O único jeito é a cavalo e carruagem — explicou Addison —, o que leva vários dias e causa muito aborrecimento, e digo isso por experiência própria. Infelizmente, vocês não têm tanto tempo a perder. — Ele se virou e, com o focinho, abriu a porta da pequena cabana da torre. — Por aqui. Tem mais uma coisa que eu gostaria de lhes mostrar.
Ele entrou, e nós o seguimos. A cabana era bem pequena e modesta, muito diferente da residência palaciana da srta. Peregrine. A mobília se resumia a uma cama pequena, um guarda-roupa e uma escrivaninha de tampo retrátil. Havia um telescópio apontado para fora da janela, montado em um tripé: o ponto de observação da srta. Wren, de onde ela vigiava os problemas e as idas e vindas de suas pombas espiãs.
Addison foi até a escrivaninha.
— Se tiverem alguma dificuldade em encontrar a estrada, aqui tem um mapa da floresta — disse.
Emma abriu a escrivaninha e encontrou o mapa, um rolo de papel velho e amarelado. Embaixo havia uma foto toda amarrotada, que mostrava uma mulher com um xale negro de cetim e cabelo com mechas grisalhas preso em um penteado estiloso no alto da cabeça. Ela estava parada ao lado de uma galinha. Se olhássemos depressa, pensaríamos que a foto tinha sido descartada, tirada em um momento errado em que a mulher estava de rosto virado e olhos fechados, mas havia também algo de certo na imagem: o modo como o cabelo e as roupas dela combinavam com as manchas pretas e brancas das penas da galinha, como se a mulher e a ave estivessem olhando em direções opostas, indicando alguma estranha conexão entre as duas, como se estivessem conversando sem palavras, sonhando uma para a outra.
Aquela, sem dúvida, era a srta. Wren.
Addison pareceu atordoado ao ver a foto. Dava para ver que ele estava preocupado com sua ymbryne muito mais do que queria admitir.
— Por favor, não tomem isto como uma aprovação de seus planos suicidas — declarou ele —, mas, caso obtenham sucesso nessa busca insana... e caso encontrem a srta. Wren pelo caminho... considerem... quer dizer, peço que considerem...
— Vamos mandá-la de volta para casa — completou Emma, e acariciou a cabeça do cão.
Era algo perfeitamente normal de se fazer com animais de estimação, mas parecia estranho de se fazer com um cachorro falante.
— Que os cães a abençoem — disse Addison.
Tentei fazer um afago também, mas ele se ergueu nas patas traseiras e disse:
— Por favor, senhor, mantenha suas mãos longe!
— Desculpe — murmurei, e, no momento desconfortável que se seguiu, ficou óbvio que era hora de partir.
Descemos a torre, nos juntamos a nossos amigos e nos despedimos, chorosos, de Claire e Fiona, que estavam sob a sombra da grande árvore. Àquela altura, haviam trazido uma almofada e um cobertor para Claire se deitar em cima, e ela nos recebeu um a um. Parecia uma princesa em uma cama improvisada no chão, arrancando promessas enquanto nos ajoelhávamos a seu lado.
— Prometa que vai voltar — pediu ela quando foi minha vez. — E que vai salvar a srta. Peregrine.
— Vou fazer o possível — respondi.
— Não é o bastante! — retrucou a menina, muito séria.
— Eu vou voltar — falei. — Prometo.
— E vai salvar a srta. Peregrine!
— E vou salvar a srta. Peregrine — repeti, apesar de as palavras soarem vazias. Quanto mais confiança eu tentava aparentar, menos a sentia.
— Agora sim — respondeu ela, assentindo em aprovação. — Foi ótimo conhecer você, Jacob, e fico feliz em saber que veio para ficar.
— Eu também.
Então me levantei depressa, porque aquele rosto alegre e emoldurado de cabelo louro parecia tão determinado e franco que doía só de olhar. Claire acreditava, sem a menor sombra de dúvida, em tudo o que lhe dizíamos: que ela e Fiona ficariam bem ali, em meio àqueles animais estranhos, em uma fenda temporal abandonada pela ymbryne que a criara; que voltaríamos para buscá-las. Eu torcia, de todo o coração, para que fosse mais que fingimento, mais que uma mera peça de teatro montada para dar a impressão de que aquela nossa tarefa era possível.
Hugh e Fiona ficaram afastados em um canto, de mãos dadas, as testas se tocando, despedindo-se à maneira calada dos dois. Por fim, o restante do grupo terminou de dizer adeus a Claire e estava pronto para partir, mas ninguém queria incomodar o casal, por isso ficamos parados vendo Fiona se afastar de Hugh, sacudir algumas sementes do emaranhado de cabelo e fazer crescer uma roseira carregada de flores vermelhas bem ali onde eles estavam. As abelhas de Hugh se apressaram em polinizá-la, e, enquanto elas estavam ocupadas — como se Fiona tivesse feito aquilo só para que os dois pudessem ter um momento a sós —, a jovem o abraçou e sussurrou algo em seu ouvido. Hugh assentiu e sussurrou algo de volta. Quando eles enfim se viraram e viram que estávamos olhando, Fiona enrubesceu. Então Hugh foi até nós com as mãos nos bolsos, seguido por suas abelhas, e resmungou:
— Vamos. O show acabou.
Iniciamos a caminhada montanha abaixo no instante em que começava a anoitecer. Os animais nos acompanharam até o muro íngreme de pedra.
Olive se virou para eles e perguntou:
— Vocês não vêm com a gente?
A jumirafa bufou.
— Não duraríamos nem cinco minutos lá fora! Vocês, pelo menos, têm uma chance de se passarem por pessoas normais, mas olhem só para mim... — Ela sacudiu o corpo sem braços. — Eu seria morta, empalhada e pendurada em alguma parede.
O cachorro se aproximou de Emma e perguntou:
— Será que posso pedir uma última coisa a vocês?
— Você foi tão bom para nós... — respondeu ela. — Peça o que quiser.
— Se importa de acender meu cachimbo? Não temos fósforos por aqui, e eu não fumo de verdade há anos.
Emma fez o que ele pediu, tocando o fornilho do cachimbo com o dedo em brasa. Após uma baforada longa e satisfeita, o cachorro disse:
— Desejo toda a sorte a vocês, crianças peculiares.
CAPÍTULO CINCO
Nós nos agarramos à rede balançante como uma tribo de macacos, batendo desajeitadamente na parede de rocha enquanto a roldana guinchava e a corda rangia. Chegamos ao chão em uma pilha embolada, para então nos soltarmos uns dos outros no que poderia ser uma cena saída de Os Três Patetas. Várias vezes cheguei a pensar que estava livre, mas, quando tentava ficar de pé, caía de cara no chão de novo, em um baque que soava como um bonc! de desenho animado. O etéreo morto estava a alguns metros de distância, os tentáculos estendidos como braços de estrelas-do-mar sob o enorme pedregulho que o esmagara. Eu quase sentia vergonha por ele: uma criatura tão feroz que tinha se deixado capturar por gente como nós. Não teríamos tanta sorte da vez seguinte — se é que haveria uma outra vez.
Na ponta dos pés, demos a volta na carcaça fedorenta do etéreo e descemos a montanha o mais depressa que conseguimos, considerando os limites da trilha traiçoeira e a carga explosiva de Bronwyn. Após alcançar o terreno plano, seguimos o rastro que havíamos deixado pelo musgo molhado e macio do solo da floresta. Quando retornamos ao lago, o sol estava se pondo, e morcegos emitiam silvos agudos ao sair das tocas ocultas. Pareciam trazer algum aviso do mundo noturno, gritando e voando em círculos acima de nós enquanto chapinhávamos pela água rasa em direção ao gigante de pedra. Subimos até a boca, mergulhamos na garganta e nadamos para fora, para as águas instantaneamente mais frias e a luz mais clara do meio-dia, para setembro de 1940.
Os outros emergiram ao meu redor, gemendo e com as mãos nos ouvidos. Todos sentiam o incômodo da pressão que acompanhava as mudanças temporais rápidas.
— É como a decolagem de um avião — comentei, movendo a mandíbula para liberar o ar.
— Nunca voei de avião — disse Horace, tirando água da aba do chapéu.
— Ou quando a gente está na via expressa e alguém abre a janela do carro — completei.
— O que é uma via expressa? — perguntou Olive.
— Deixa pra lá.
Emma nos fez ficar quietos:
— Escutem!
Ao longe, ouvimos o latido de cães. Pareciam vir de um ponto muito distante, mas, considerando que o som viaja de um jeito estranho pelas florestas mais densas, podíamos estar enganados.
— Vamos ter que correr — disse Emma. — Ninguém faz barulho até eu mandar, e isso inclui você, diretora!
— Vou jogar um ovo explosivo no primeiro cachorro que se aproximar — disse Hugh. — Assim eles vão aprender a não perseguir peculiares.
— Não ouse — retrucou Bronwyn. — Se você manusear um ovo do jeito errado, corre o risco de explodir todos eles!
Saímos do lago chapinhando e voltamos pela floresta, Millard nos orientando com base no mapa da srta. Wren. Depois de meia hora, chegamos à estrada de terra que Addison nos mostrara do alto da torre. Paramos nas marcas das rodas de uma velha carroça enquanto Millard estudava o mapa, virando-o de lado, examinando atentamente as marcações microscópicas. Enfiei a mão no bolso da calça e peguei o celular para acessar meu próprio mapa — um velho hábito —, então me vi segurando um retângulo de vidro preto que se recusava a acender. Não funcionava, é claro. Estava molhado, sem bateria e a cinquenta anos da torre de sinal mais próxima. Meu celular era minha única posse que sobrevivera ao desastre no mar, mas era inútil naquele lugar, um objeto estranho. Eu o joguei no mato. Trinta segundos depois, senti uma pontada de arrependimento e corri para recuperá-lo. Por motivos que eu não compreendia inteiramente, não estava pronto para me livrar dele.
Millard dobrou o mapa e anunciou que a cidadezinha ficava à esquerda, a uma caminhada de pelo menos cinco ou seis horas.
— Se quisermos chegar antes de escurecer, é melhor irmos logo.
Não estávamos andando havia muito quando Bronwyn percebeu uma nuvem de poeira se erguendo muito atrás de nós na estrada.
— Tem alguém vindo — comentou ela. — O que vamos fazer?
Millard tirou o sobretudo e o jogou no mato ao lado da via, ficando invisível.
— Eu recomendo que vocês deem um jeito de desaparecer — respondeu. — Da forma limitada que conseguirem.
Saímos da estrada e nos agachamos atrás de alguns arbustos. A nuvem de poeira foi aumentando, e com ela veio um chacoalhar de rodas de madeira e o barulho de cascos de cavalos. Era uma caravana de carroças. Quando elas surgiram, sacudindo e fazendo barulho em meio à poeira, e começaram a passar por nós, vi que Horace ficou boquiaberto e Olive abriu um sorriso. Aquelas não eram as carroças cinza utilitárias que eu me acostumara a ver em Cairnholm; pareciam coisa de circo: pintadas de todas as cores do arco-íris, o teto e as portas com entalhes ornamentais, puxadas por cavalos de crina longa e conduzidas por homens e mulheres cheios de colares de contas e cachecóis extravagantes. Lembrei-me das histórias de Emma sobre as apresentações em pequenos espetáculos ambulantes com a srta. Peregrine e os outros, então me virei para ela e perguntei:
— Eles são peculiares?
— São ciganos — foi a resposta dela.
— Isso é bom ou ruim?
Ela estreitou os olhos.
— Ainda não sei.
Dava para ver que ela estava tentando decidir o que fazer, e eu tinha quase certeza de que entendia seu dilema. A cidade aonde estávamos indo era longe, e aquelas carroças iam muito mais depressa do que conseguiríamos avançar a pé. Com acólitos e cães em nosso encalço, um pouco mais de velocidade podia significar a diferença entre sermos apanhados ou escaparmos. No entanto, não conhecíamos aqueles ciganos, tampouco sabíamos se eram confiáveis.
— O que você acha? Devemos pedir carona? — perguntou Emma, olhando para mim.
Observei as carroças. Depois, olhei de volta para Emma. Pensei em como meus pés estariam doendo depois de seis horas caminhando com sapatos ainda molhados.
— Com certeza — respondi.
Emma sinalizou para os outros, apontou para a última carroça e gesticulou como se corresse atrás dela. O veículo tinha a forma de uma casa em miniatura, com uma janelinha de cada lado e uma plataforma que se projetava da parte traseira como uma varanda, provavelmente com largura e profundidade suficientes para cabermos se nos apertássemos. Avançava depressa, mas não tão depressa quanto avançaríamos se saíssemos correndo atrás dela. Quando ela passou e saímos do campo de visão do último cocheiro, deixamos as moitas e corremos. Emma subiu primeiro, depois esticou a mão para o próximo. Um a um, nos içamos para a varandinha e nos apertamos na traseira da carroça, tomando o cuidado de não fazer barulho para não sermos ouvidos pelo cocheiro.
Seguimos assim por um bom tempo, até os ouvidos começarem a zumbir com o chacoalhar das rodas e as roupas ficarem cobertas de poeira, até o sol do meio-dia cruzar o céu e cair por trás das árvores que se erguiam dos dois lados como paredes de um enorme desfiladeiro verde. Eu passava o tempo todo atento à floresta, com medo de que a qualquer momento os acólitos e seus cães aparecessem para nos atacar. Mas não vimos ninguém por horas — nem acólitos, nem outros viajantes. Era como se tivéssemos chegado a um país abandonado.
De vez em quando a caravana parava. Nesses momentos, prendíamos a respiração, prontos para correr ou lutar, certos de que estavam prestes a nos descobrir. Mandávamos Millard investigar, e ele descia da carroça e descobria que os ciganos estavam apenas esticando as pernas ou trocando a ferradura de um cavalo, e então seguíamos caminho. Às vezes eu deixava de me preocupar com o que aconteceria caso fôssemos descobertos. Os ciganos pareciam cansados da estrada e inofensivos. Passaríamos por pessoas normais e imploraríamos por piedade. Somos apenas órfãos sem lar, diríamos. Por favor, podem nos dar um pedaço de pão? Com alguma sorte, eles nos convidariam para jantar e nos levariam até a estação de trem.
Não demorou para minha teoria ser testada. As carroças saíram da estrada de repente e pararam em uma pequena clareira. A poeira mal assentara quando um homem enorme fez a volta na carroça em que estávamos. Ele usava uma boina, tinha um bigodão que parecia uma lagarta e uma expressão enfezada que encurvava os cantos da boca para baixo.
Bronwyn escondeu a srta. Peregrine no casaco enquanto Emma saltava da carroça e fazia sua melhor imitação de órfã patética.
— Senhor, imploramos por misericórdia! Veja bem, nossa casa foi atingida por uma bomba, nossos pais morreram, estamos completamente perdidos...
— Feche a matraca! — interrompeu o homem, com grosseria. — Desçam daí, todos vocês. — Era uma ordem, não um pedido, enfatizada pela faca decorativa mas de aspecto ameaçador que ele equilibrava na mão.
Olhamos uns para os outros, sem saber ao certo o que fazer. Seria melhor lutar e fugir — o que provavelmente revelaria nossos segredos — ou fingir que éramos normais por mais um tempo e esperar para ver o que ele faria? Então surgiram mais dezenas de homens, saindo das carroças e parando em círculo ao nosso redor, vários empunhando facas. Estávamos cercados. Nossas opções tinham se reduzido drasticamente.
Os homens eram grisalhos e de olhos aguçados, com roupas escuras e de tecido grosso, feitas para esconder as camadas de poeira de estrada. As mulheres usavam vestidos floridos coloridos e mantinham o cabelo comprido preso por um lenço. As crianças se reuniam atrás do grupo ou entre as mulheres. Tentei relacionar o pouco que sabia sobre ciganos aos rostos à minha frente. Eles estavam prestes a nos massacrar ou apenas eram mal-humorados?
Olhei para Emma em busca de uma dica. Ela permanecia parada, as mãos unidas sobre o peito em vez de estendidas, que era como produzia chamas. Se Emma não ia lutar, decidi que eu também não lutaria.
Desci da carroça, como o homem mandara, com as mãos na cabeça. Horace e Hugh fizeram o mesmo, e depois os outros os seguiram — todos menos Millard, que escapara sem ser visto e devia estar ali por perto, à espreita.
O homem de boina, que eu identificara como o líder do grupo, começou a nos encher de perguntas:
— Quem são vocês? De onde vieram? Onde estão seus pais?
— Viemos do oeste — respondeu Emma, muito calma. — De uma ilha perto da costa. Somos órfãos, como já expliquei. Nossas casas foram destruídas por bombas em um ataque aéreo e fomos obrigados a fugir. Remamos até chegar a terra firme e quase nos afogamos. — Ela tentou forçar algumas lágrimas. — Não temos nada — choramingou. — Estamos perdidos há dias na floresta, sem nada para comer, só com a roupa do corpo. Vimos as carroças passarem, mas ficamos com muito medo de que nos vissem. Só queríamos uma carona até a cidade...
O homem a examinou, franzindo ainda mais o cenho.
— Por que foram obrigados a fugir da ilha depois que a casa de vocês foi bombardeada? E por que fugiram para dentro da floresta, em vez de seguir pela costa?
Enoch interveio:
— Não tivemos escolha. Estávamos sendo perseguidos.
Emma lançou um olhar irritado para ele, como quem dizia: Deixe que eu cuido disso.
— Perseguidos por quem? — perguntou o líder.
— Homens maus — respondeu Emma.
— Homens armados — acrescentou Horace. — Vestidos como soldados, apesar de não serem.
Uma mulher com lenço amarelo no cabelo deu um passo à frente.
— Se os soldados estão atrás deles, essas crianças são problema, e não precisamos disso. Mande-os embora, Bekhir.
— Melhor amarrar todos eles às árvores e deixá-los aí! — interveio um homem magro de pernas compridas.
— Não! — exclamou Olive. — Precisamos chegar a Londres antes que seja tarde demais!
O líder ergueu uma sobrancelha.
— Tarde demais para quê? — Ele não estava com pena, havíamos apenas despertado sua curiosidade. — Não vamos fazer nada até descobrirmos quem são vocês — explicou ele — e quanto valem.
***
Os homens que portavam facas compridas nos conduziram até uma carroça cuja parte superior era uma jaula. Mesmo de longe dava para ver que era feita para animais: três metros por seis e com barras de ferro sólidas.
— Vocês não vão nos trancar aí, vão? — indagou Olive.
— Só até decidirmos o que fazer com vocês — explicou o líder.
— Não, vocês não podem fazer isso! — gritou a menina. — Precisamos chegar a Londres, e depressa!
— E por quê?
— Tem um doente no grupo — explicou Emma, lançando um olhar sério para Hugh. — Precisamos levá-lo a um médico!
— Vocês não precisam ir até Londres para encontrar médico nenhum — retrucou um dos ciganos. — Jebbiah é médico. Não é, Jebbiah?
Um homem com o rosto cheio de cicatrizes se aproximou dos peculiares.
— Qual de vocês está doente?
— Hugh precisa de um especialista — explicou Emma. — Ele tem uma doença rara. Tosse ferroante.
Hugh levou a mão à garganta, como se estivesse sentindo dor, e tossiu, expelindo uma abelha pela boca. Alguns ciganos levaram um susto, e uma garotinha escondeu o rosto na saia da mãe.
— É um truque! — disse o suposto médico.
— Já chega! — exclamou o líder. — Entrem todos na jaula.
Eles nos empurraram para uma rampa que conduzia até o interior da jaula. Nos amontoamos na parte mais baixa da tábua, pois ninguém queria ser o primeiro a entrar.
— Não podemos deixar que eles façam isso — murmurou Hugh.
— O que está esperando? — sussurrou Enoch para Emma. — Queime todos!
Emma fez que não com a cabeça e murmurou:
— São muitos.
Ela foi a primeira a subir pela rampa e entrar na jaula. O teto de barras de ferro era baixo e o chão estava coberto por uma grossa e fedida camada de feno. Depois que todos entramos, o líder bateu a porta e a trancou, guardando a chave no bolso.
— Ninguém chega perto deles! — gritou, para que todos ouvissem. — Podem ser bruxos ou coisa pior.
— É, é isso o que somos! — gritou Enoch, atrás das barras. — Agora nos deixem ir, ou vamos transformar seus filhos em javalis!
O líder desceu a rampa rindo. Enquanto isso, os outros ciganos recuaram para uma distância segura e começaram a montar acampamento, armando tendas e acendendo uma fogueira para cozinhar. Afundamos na palha, nos sentindo deprimidos e derrotados.
— Cuidado — avisou Horace. — Tem cocô de bicho em tudo quanto é parte.
— Ah, qual é o problema, Horace? — indagou Emma. — Ninguém se importa se as suas roupas estão sujas!
— Eu me importo — retrucou Horace.
Emma cobriu o rosto com as mãos. Fui me sentar ao lado dela, tentando pensar em algo animador para dizer, mas não consegui.
Bronwyn abriu o casaco, permitindo que a srta. Peregrine respirasse um pouco de ar fresco. Enoch se ajoelhou ao lado dela e levou a mão em concha ao ouvido, como se tentasse escutar alguma coisa.
— Ouviram isso? — indagou.
— O quê? — retrucou Bronwyn.
— O som da vida da srta. Peregrine se esvaindo! Emma, você devia ter queimado a cara desses ciganos enquanto teve chance!
— Mas estávamos cercados! — retrucou ela. — Alguns teriam sido feridos em uma luta grande. Talvez mortos. Eu não podia arriscar.
— Então, em vez disso, pôs em risco a srta. Peregrine! — insistiu Enoch.
— Enoch, deixe a Emma em paz — interveio Bronwyn. — Não é fácil decidir por todos. Não dá para votar sempre que precisamos fazer uma escolha.
— Então talvez seja melhor vocês deixarem que eu decida por todos — retrucou o menino.
Hugh debochou:
— Teríamos sido mortos há séculos se você estivesse no comando.
— Olhem, isso não importa agora — falei. — Precisamos sair desta jaula e chegar à cidade. Estamos muito mais perto do que se não tivéssemos pegado essa carona, então não vamos chorar pelo leite que ainda nem foi derramado. Só precisamos descobrir um jeito de fugir.
Pensamos a respeito e tivemos várias ideias, mas nenhuma parecia executável.
— Talvez Emma possa queimar um buraco no chão — sugeriu Bronwyn. — É de madeira.
Emma abriu espaço na palha e bateu no piso.
— Grosso demais — respondeu, arrasada.
— Wyn, você não consegue dobrar duas dessas barras? — perguntei.
— Talvez, mas não com esses ciganos tão perto. Eles vão ver e vir correndo com as facas.
— Precisamos fugir, não lutar até escapar — explicou Emma.
Ouvimos um sussurro do lado de fora.
— Vocês se esqueceram de mim?
— Millard! — exclamou Olive, quase flutuando para fora dos sapatos, de tanta felicidade. — Onde você estava?
— Fazendo um reconhecimento do terreno, digamos. E esperando as coisas se acalmarem.
— Acha que consegue roubar a chave? — perguntou Emma, sacudindo a porta trancada da jaula. — Vi que o líder colocou no bolso.
— Espreita e furto são minha especialidade — garantiu Millard, e se afastou.
***
Os minutos se arrastavam. Meia hora se passou. Depois uma hora inteira. Hugh andava de um lado para o outro dentro da jaula, uma abelha agitada voando ao redor de sua cabeça.
— Por que Millard está demorando tanto? — resmungou.
— Se ele não voltar logo, vou começar a jogar ovos — comentou Enoch.
— Se fizer isso, vão nos matar — disse Emma. — Aqui dentro somos alvos fáceis. Quando a fumaça baixar, os ciganos vão nos esfolar vivos.
Então continuamos sentados e esperamos um pouco mais, observando os ciganos e sendo observados. Cada minuto que passava era mais um prego a selar o caixão da srta. Peregrine. Eu me peguei olhando fixamente para ela, como se pudesse detectar as mudanças que a acometiam se a examinasse com atenção — como se fosse conseguir ver a centelha humana em seu interior se extinguindo aos poucos. Mas a srta. Peregrine parecia a mesma de sempre, só que mais calma, dormindo ao lado de Bronwyn no piso forrado com palha, o peito pequeno coberto de penas subindo e descendo suavemente. Parecia não ter consciência do problema em que estávamos metidos nem da contagem regressiva que pairava sobre sua cabeça. Talvez o fato de conseguir dormir em um momento como aquele fosse prova suficiente de que ela estava sofrendo transformações. A velha srta. Peregrine certamente estaria à beira de um ataque de nervos.
Meus pensamentos se desviaram para meus pais, como sempre acontecia quando eu não mantinha controle sobre minha mente. Tentei visualizar o rosto dos dois na última vez que os vira. Detalhes se aglutinavam: a barba falhada que meu pai deixara crescer em alguns dias na ilha; minha mãe mexendo distraidamente na aliança quando meu pai falava demais sobre algo que não interessava a ela; os olhos atentos de meu pai sempre se voltando para o horizonte, em sua interminável busca por pássaros.
Eles deviam estar procurando por mim.
Quando anoiteceu, o acampamento ganhou vida à nossa volta. Os ciganos conversavam e riam, e, quando um bando de crianças com cornetas e rabecas velhas começou a tocar, eles dançaram. Entre uma música e outra, um dos meninos veio por trás da jaula com um vidro nas mãos.
— É para o que está doente — explicou, olhando para trás, nervoso.
— Quem? — perguntei.
Apontando com a cabeça, ele indicou Hugh, que, justamente nessa hora, caiu no chão com espasmos de tosse.
O menino passou o vidro pela grade. Desenrosquei a tampa e cheirei. Quase desmaiei. Fedia a terebintina com fertilizante.
— Caramba, o que é isso? — perguntei.
— Funciona. É só isso que eu sei. — O menino olhou para trás outra vez. — Bem, eu fiz isso por vocês. Agora estão em dívida comigo. Então me contem... que crime vocês cometeram? Vocês são ladrões, não são? — Ele baixou a voz para acrescentar: — Ou será que mataram alguém?
— Do que ele está falando? — indagou Bronwyn.
Não matamos ninguém, quase respondi, mas então passou pela minha mente uma imagem do corpo de Golan despencando na direção de um aglomerado de pedras, e fiquei quieto.
Emma respondeu por mim:
— Não matamos ninguém!
— Ah, mas alguma coisa vocês devem ter feito — retrucou o garoto. — Senão, por que eles ofereceriam uma recompensa por vocês?
— Recompensa? — perguntou Enoch.
— E que recompensa! Estão oferecendo um dinheirão.
— Quem está oferecendo uma recompensa?
O menino deu de ombros.
— Vocês vão nos entregar? — perguntou Olive.
Ele apertou os lábios.
— Não sei se vamos entregar vocês ou não. Os grandões estão discutindo isso, mas eu diria que eles não confiam muito no tipo de gente que está oferecendo a recompensa. Se bem que dinheiro é dinheiro, e eles não gostaram muito de vocês não terem respondido às perguntas que fizeram.
— No lugar de onde viemos, ninguém fica enchendo de perguntas quem chega pedindo ajuda — retrucou Emma, com arrogância.
— E também não os prendemos em jaulas! — acrescentou Olive.
Naquele momento, ouvimos um estrondo terrível no meio do acampamento. O menino cigano perdeu o equilíbrio e caiu da rampa no meio da grama, enquanto nós nos agachamos quando panelas que estavam numa fogueira voaram pelos ares. A cigana que cuidava da comida saiu correndo e gritando, desesperada, o vestido em chamas. A mulher teria corrido até o mar se alguém não tivesse pegado o balde de água que um cavalo bebia e jogado nela.
No instante seguinte, ouvimos os passos de um garoto invisível subindo pela rampa da jaula.
— É isso o que acontece quando alguém tenta fazer uma omelete com um ovo de galinha peculiar! — comentou Millard, sem fôlego de tanto rir.
— Foi você que fez isso? — indagou Horace.
— Estava tudo muito organizado e tranquilo... clima ruim para bater carteiras. Aí fui lá e coloquei um dos ovos no meio dos outros, et voilà! — Millard fez uma chave surgir no ar. — As pessoas tendem a não sentir minha mão no bolso delas quando o jantar acabou de explodir na cara.
— Você demorou muito — reclamou Enoch. — Agora tire a gente daqui!
Antes que Millard pudesse enfiar a chave na porta, o menino cigano se levantou e deu um berro:
— Ajudem! Eles estão tentando fugir!
O menino tinha escutado tudo, mas, na confusão que se seguiu à explosão, quase ninguém ouviu quando ele gritou.
Millard girou a chave na fechadura. A porta não abriu.
— Ah, droga — resmungou. — Será que eu roubei a chave errada?
— Ahhhh! — gritou o menino, apontando para o local de onde saía a voz de Millard. — Um fantasma!
— Alguém por favor faça esse garoto calar a boca! — pediu Enoch.
Bronwyn esticou o braço para fora da jaula, agarrou o menino pelos braços e o ergueu, puxando-o para a grade.
— Socoooorro! — gritou o menino. — Eles pegaram mmmfff...
Bronwyn tapou a boca do garoto, mas só conseguiu silenciá-lo quando já era tarde demais.
— Galbi! — gritou uma mulher. — Soltem ele, seus selvagens!
De repente, mesmo sem a menor intenção, tínhamos feito um refém. Alguns ciganos correram na nossa direção, a luz fraca refletindo nas facas.
— O que você está fazendo? — gritou Millard. — Solte esse menino antes que eles matem a gente!
— Não, não faça isso! — interveio Emma, e gritou: — Soltem a gente, ou o menino morre!
Os ciganos nos cercaram, gritando ameaças.
— Se machucarem Galbi, um pouquinho que seja — berrou o líder —, vou matar vocês com minhas próprias mãos!
— Fiquem longe! — retrucou Emma. — É só deixar a gente ir que não vamos machucar ninguém.
Quando um dos homens fez menção de correr até a jaula, Emma instintivamente estendeu as mãos e criou uma bola de fogo crepitante. As pessoas levaram um susto, e o homem parou.
— Ah, agora você faz isso — sibilou Enoch. — Eles vão enforcar a gente por sermos bruxos!
— Vou queimar o primeiro que tentar! — gritou Emma, abrindo um pouco mais as mãos para a bola de fogo crescer. — Venham, vamos mostrar com quem eles se meteram!
Era hora do show. Bronwyn foi a primeira: com uma das mãos, ergueu ainda mais o menino, que sacudia os pés; com a outra, agarrou uma das barras do teto e começou a entortá-la. Hugh enfiou o rosto entre as barras e soltou uma fileira de abelhas pela boca. Millard, que saíra correndo para longe da jaula no momento em que o menino cigano percebera sua presença, gritou de algum ponto atrás do aglomerado de gente:
— E se pensam que podem enfrentá-los, é porque ainda não me conheceram!
Millard jogou um ovo para cima. O ovo desenhou um arco no ar, passando sobre as cabeças dos ciganos, e foi cair com estrondo em um espaço aberto. A terra que subiu com a explosão chegou até o topo das árvores.
Quando a poeira baixou, houve um momento em que ninguém conseguia se mexer nem falar nada, todos atônitos. Primeiro pensei que a demonstração deixara os ciganos paralisados de medo, mas então, quando o zunido em meus ouvidos desapareceu, percebi que eles estavam ouvindo outra coisa. Então comecei a ouvir também.
Da estrada escura vinha o som de um motor. Um par de faróis brilhou em nosso campo de visão, por entre as árvores. Todos ali, ciganos e peculiares, observaram as luzes passarem pela entrada da clareira, reduzirem e voltarem. Então um veículo militar com cobertura de lona foi roncando na nossa direção. De dentro do carro ouvimos vozes iradas e cães com a garganta rouca de tanto latir, mas incapazes de parar agora que haviam reencontrado o rastro do nosso cheiro.
Eram os acólitos à nossa caça, e ali estávamos, enjaulados, incapazes até de correr.
Emma bateu palmas para apagar a chama. Bronwyn largou o menino, que saiu correndo. Uns ciganos voltaram às pressas para as carroças, outros para a floresta. Em questão de segundos nos vimos sozinhos, aparentemente esquecidos.
O líder dos ciganos se aproximou de nós.
— Abra a jaula! — implorou Emma.
Mas ela foi ignorada.
— Vocês se escondam debaixo da palha e não façam barulho! — ordenou o homem. — E sem truque de mágica, a não ser que queiram ir com eles.
Não havia tempo para perguntas. A última coisa que vimos antes de tudo escurecer foram dois ciganos correndo até nós com uma grande lona nas mãos, com a qual cobriram a jaula.
A noite nos envolveu.
***
Ouvimos barulho de botas fora da jaula, avançando a passos pesados e abafados, como se os acólitos quisessem punir o próprio solo em que pisavam. Fizemos como nos mandaram: nos enfiamos sob a camada de palha fedorenta.
Ali perto, ouvi um acólito conversando com o líder cigano:
— Um grupo de crianças foi visto nessa estrada hoje de manhã. — O acólito falava com a voz entrecortada e um sotaque obscuro; não exatamente inglês, tampouco alemão. — Há uma recompensa pela captura delas.
— Não vimos ninguém o dia inteiro, senhor — respondeu o líder.
— Não se deixem enganar pelo rosto inocente dessas crianças — prosseguiu o acólito. — São todas traidoras nessa guerra. Espiões da Alemanha. A punição para quem acobertá-los...
— Não estamos escondendo nada — interrompeu o líder rispidamente. — Veja com seus próprios olhos.
— Vou fazer isso. E, se os encontrarmos aqui, vou cortar sua língua e dar para o meu cachorro comer.
Tendo dito isso, o acólito saiu andando a passos largos.
— Não. Respirem — sussurrou o líder para nós, e então ouvimos também seus passos se afastando.
Fiquei me perguntando por que o sujeito tinha mentido por nós, considerando o mal que os acólitos podiam causar ao povo dele. Talvez por orgulho, ou por algum arraigado desprezo pela autoridade; ou talvez os ciganos só quisessem a satisfação de eles próprios nos matarem, pensei, apreensivo.
Ouvíamos os acólitos transitando por todo o acampamento, chutando e derrubando coisas, abrindo as carroças, empurrando pessoas. Uma criança gritou, ao que um homem reagiu com raiva, mas foi interrompido pelo som de pauladas infligidas na carne. Era insuportável ficar ali deitado ouvindo as pessoas sofrerem, ainda que poucos minutos antes tivessem se mostrado prontas para arrancar nossos braços e pernas.
Pelo canto do olho, vi Hugh se levantar e rastejar até o baú de Bronwyn. Ele levou a mão ao trinco e começou a abrir a tampa, mas Bronwyn o deteve.
— O que está fazendo? — indagou ela, apenas movendo os lábios.
— Temos que acertá-los antes que eles nos peguem!
Emma se ergueu do meio da palha, apoiou-se nos cotovelos e rolou para perto de Hugh e Bronwyn. Eu também me aproximei para escutar.
— Ficou doido? — interveio Emma. — Se jogarmos os ovos, eles vão atirar e nos fazer em pedacinhos.
— Então o que vamos fazer? — indagou Hugh. — Vamos ficar aqui deitados até eles nos encontrarem?
Aglomerados ao redor do baú, discutíamos aos sussurros.
— Vamos esperar. Quando eles abrirem a jaula, eu jogo um ovo pela grade atrás da gente — sugeriu Enoch. — Assim a gente distrai os acólitos por tempo suficiente para a Bronwyn arrebentar o crânio do primeiro que entrar na jaula, e aí a gente aproveita para escapar, se espalha e joga os ovos na direção da fogueira ali no meio. Todo mundo em um raio de trinta metros vai virar poeira.
— Minha nossa! — exclamou Hugh. — Não é que isso pode mesmo funcionar?
— Mas tem crianças no acampamento! — retrucou Bronwyn.
Enoch revirou os olhos.
— Ou então a gente pode se preocupar com os danos colaterais, correr para a floresta e deixar que os acólitos cacem a gente um a um. Mas eu não recomendaria isso se a intenção for chegar a Londres ou sobreviver a esta noite.
Hugh deu um tapinha na mão de Bronwyn que cobria o fecho do baú.
— Abra. Passa os ovos pra cá.
Bronwyn hesitou.
— Não posso. Não posso matar crianças que não fizeram nada contra nós.
— Mas não temos escolha — murmurou Hugh.
— Sempre há uma escolha — retrucou Bronwyn.
Foi quando ouvimos um cão rosnar muito perto da jaula. Ficamos quietos. No instante seguinte, a luz de uma lanterna brilhou do outro lado da lona.
— Arranquem essa coberta! — ordenou alguém. Parecia a mesma voz do homem que conduzia o cão.
O cachorro latiu, farejando, tentando entrar por baixo da lona e passar pelas barras da jaula.
— Aqui! — gritou o homem. — Encontramos alguma coisa!
Olhamos para Bronwyn.
— Por favor — pediu Hugh. — Pelo menos deixe a gente se defender.
— É o único jeito — completou Enoch.
Bronwyn deu um suspiro e tirou a mão do fecho. Então Hugh balançou a cabeça em agradecimento e abriu o trinco do baú. Cada um de nós pegou um ovo do meio dos suéteres empilhados, menos Bronwyn. Em seguida, nos levantamos e ficamos de frente para a porta da jaula, os ovos na mão, preparados para o inevitável.
Mais botas marcharam na nossa direção. Tentei me preparar para o que estava por vir. Corra, disse a mim mesmo. Corra sem olhar para trás e então arremesse.
Mas será que eu conseguiria mesmo fazer aquilo, sabendo que pessoas inocentes morreriam? Mesmo que fosse para salvar minha vida? E se eu simplesmente jogasse o ovo em algum gramado e corresse para a floresta?
Alguém pegou a ponta da lona e a puxou. A cobertura começou a deslizar.
No entanto, a lona parou de ser erguida pouco antes de nos revelar.
— O que você acha que está fazendo? — perguntou o homem com o cachorro.
— Eu ficaria longe dessa jaula se fosse você — avisou outra voz. A voz de um cigano.
Dava para ver metade do céu, as estrelas cintilando por entre os galhos das árvores.
— É? E por quê? — indagou o homem com o cão.
— O velho Cruento não come há dias — explicou o cigano. — Ele não gosta muito de carne humana, mas não é muito exigente quando está faminto!
Então ouvi um som que me fez perder o fôlego: o rugido de um urso gigante. Era impossível, mas ele parecia estar saindo do meio do nosso grupo, de dentro da jaula. Ouvi o homem com o cão dar um grito de surpresa e depois descer a rampa depressa, puxando o cão a ganir.
Eu não conseguia imaginar como um urso entrara na jaula, só sabia que precisava me afastar dele, por isso colei o corpo na grade. Ao meu lado, vi Olive enfiar a mãozinha na boca para não gritar.
Lá fora, outros soldados riam do homem com o cão.
— Idiota! — resmungou o sujeito, envergonhado. — Só ciganos mesmo para ter um animal desse no meio do acampamento!
Finalmente reuni coragem, me virei e olhei para trás. Não havia urso nenhum na jaula. O que tinha sido aquele rugido terrível?
Os soldados continuaram a revistar o acampamento, mas agora deixavam a jaula de lado. Depois de alguns minutos, ouvimos se amontoarem novamente no veículo, ligarem o motor e irem embora.
A lona foi retirada de cima da jaula. Os ciganos estavam reunidos ao nosso redor. Eu segurava o ovo com a mão trêmula, sem saber se precisaria usá-lo.
O líder estava diante de nós.
— Vocês estão bem? — perguntou. — Desculpe se isso os assustou.
— Estamos vivos — respondeu Emma, olhando ao redor, desconfiada. — Mas cadê o urso?
— Vocês não são os únicos com talentos incomuns — explicou um rapaz mais afastado, e então, em uma rápida sucessão, rosnou como um urso e miou como um gato, projetando a voz de um lugar para outro com leves movimentos de cabeça, de modo que parecia que estávamos cercados por animais. Quando a perplexidade inicial passou, nós aplaudimos.
— Você não disse que eles não eram peculiares? — murmurei para Emma.
— Qualquer um pode fazer truques como esse.
— Peço desculpas por não ter me apresentado — disse o líder dos ciganos. — Meu nome é Bekhir Bekhmanatov. E vocês são nossos convidados de honra. — Ele fez uma grande reverência. — Por que não disseram que eram syndrigasti?
Olhamos surpresos para o homem. Ele tinha acabado de usar o termo antigo para peculiares, que aprendemos com a srta. Peregrine.
— Nos conhecemos de algum lugar? — perguntou Bronwyn.
— Onde você ouviu essa palavra? — indagou Emma.
Bekhir sorriu.
— Se aceitarem nossa hospitalidade, prometo explicar tudo.
Após mais uma mesura, ele se aproximou para abrir a jaula.
***
Sentamos com os ciganos em tapetes finos tecidos à mão e ficamos conversando e comendo ensopado à luz tremeluzente de duas fogueiras. Deixei de lado a colher que recebi e comi direto da tigela de madeira. Meus modos à mesa viraram uma lembrança distante enquanto o delicioso caldo gorduroso escorria pelo meu queixo. Bekhir caminhava entre nós, conferindo se estávamos confortáveis, perguntando se queríamos comer ou beber mais, sem parar de pedir desculpas pelo estado de nossas roupas — agora cheias de palha imunda. Desde que testemunhara nossa demonstração peculiar, ele mudara completamente de atitude: em poucos minutos, passamos de prisioneiros a convidados de honra.
— Eu realmente sinto muito pelo modo como vocês foram tratados — disse ele, sentando-se em uma almofada entre as fogueiras. — Quando se trata da segurança do meu povo, tenho que tomar todas as precauções possíveis. Hoje em dia tem muitos estranhos rondando por essas estradas... gente que não é o que parece. Se vocês tivessem dito que eram syndrigasti...
— Fomos ensinados a nunca contar a ninguém — explicou Emma.
— Nunca — acrescentou Olive.
— Quem ensinou isso a vocês é uma pessoa muito sábia — respondeu Bekhir.
— Como sabem sobre nós? — perguntou Emma. — Você fala a língua antiga.
— Só algumas palavras — respondeu Bekhir. Ele olhou para as chamas, onde estavam assando carne num espeto. — Seu povo e o meu têm um velho acordo. Não somos tão diferentes: ambos excluídos e andarilhos... almas que se agarram às margens do mundo. — Bekhir arrancou um pedaço de carne do espeto e o mastigou, pensativo. — Somos aliados, digamos assim. Ao longo dos anos, chegamos a receber e criar algumas crianças como vocês.
— Somos gratos por isso — disse Emma. — E pela hospitalidade, também. Mas, sem querer ser grosseira, não temos como ficar mais tempo aqui. É muito importante chegarmos a Londres o mais rápido possível. Precisamos pegar um trem.
— Por causa do seu amigo doente? — perguntou Bekhir, erguendo a sobrancelha para Hugh, que já tinha parado de fingir havia muito e agora devorava o ensopado sem preocupação, as abelhas zumbindo felizes ao redor da cabeça.
— Mais ou menos — respondeu Emma.
Bekhir sabia que estávamos escondendo alguma coisa, mas fez a gentileza de nos deixar com nossos segredos.
— Não sai mais nenhum trem hoje — explicou. — Mas vamos levantar assim que amanhecer e levaremos vocês até a estação para o primeiro trem de amanhã. Está bem assim?
— Se não tem outro jeito... — disse Emma, o cenho franzido em sinal de preocupação.
Apesar de termos ganhado tempo pegando carona, a srta. Peregrine já perdera um dia inteiro. Agora só lhe restavam dois, no máximo. Mas isso era um problema para o futuro. Naquele instante, estávamos aquecidos, bem-alimentados e fora de perigo. Foi difícil não se divertir, mesmo sabendo que duraria pouco.
Fizemos amizade depressa com os ciganos. Todos queriam esquecer o que acontecera mais cedo. Bronwyn tentava se desculpar com o menino que tomara como refém, mas ele nem deu importância, como se não tivesse sido nada de mais. Os ciganos não paravam de nos oferecer comida, toda hora enchendo minha tigela, que chegava a transbordar, mesmo que eu tentasse recusar. Quando a srta. Peregrine pulou do casaco de Bronwyn e anunciou, com um pio, que estava com fome, os ciganos a alimentaram também, jogando pedaços de carne crua para o alto e vibrando quando ela os pegava no ar.
— Ela está com fome! — comentou Olive, rindo e batendo palmas enquanto a ave rasgava um joelho de porco com as garras.
— E então, não está satisfeito por não termos explodido eles? — sussurrou Bronwyn para Enoch.
— É, acho que sim.
A banda cigana tocou outra música. Comemos e dançamos. Convenci Emma a dar uma volta na fogueira comigo, e, apesar de eu normalmente ser tímido para dançar em público, me soltei. Nossos pés flutuavam e batíamos palmas no ritmo da música. Por alguns belos minutos, nos deixamos levar pelo momento. Consegui esquecer a gravidade do perigo que corríamos e o fato de que naquele mesmo dia quase havíamos sido capturados por acólitos e devorados por um etéreo, que cuspiria nossos ossos encosta abaixo depois de arrancar toda a nossa carne. Naquele momento, fiquei profundamente grato aos ciganos e à simplicidade da parte animal de meu cérebro, que achava uma refeição quente, uma canção e o sorriso de uma pessoa amada suficientes para me distrair de toda a escuridão, mesmo que por pouco tempo. Então a música terminou, e voltamos a nos sentar. Na calma que se seguiu, senti o ânimo de todos mudar. Emma disse a Bekhir:
— Posso fazer uma pergunta?
— É claro — respondeu ele.
— Por que vocês arriscaram a vida por nós?
Ele fez um gesto de desdém.
— Vocês teriam feito o mesmo.
— Não tenho tanta certeza disso — retrucou Emma. — Eu só queria entender. Foi porque somos peculiares?
— Foi — respondeu ele, simplesmente. Um momento se passou. Ele virou o rosto e olhou para as árvores que cercavam a clareira, para os troncos iluminados pelo fogo e para a escuridão além. — Quer conhecer meu filho?
— É claro — respondeu Emma.
Ela se levantou. Eu fiz o mesmo, assim como vários outros.
Bekhir ergueu a mão.
— Infelizmente, ele é tímido. Só você — disse, apontando para Emma. — E você. — Apontou para mim. — E o que pode ser ouvido, mas não visto.
— Uau — comentou Millard. — E eu estava me esforçando à beça para ser discreto!
Enoch sentou-se outra vez, reclamando:
— Por que eu sempre fico de fora? Será que eu cheiro mal?
Uma cigana com um robe esvoaçante penetrou no círculo de luz das fogueiras.
— Enquanto eles estiverem fora, vou ler a mão de vocês — anunciou ela, e se virou para Horace. — Talvez você um dia escale o Kilimanjaro! — Depois, para Bronwyn: — Ou se case com um homem rico e bonito!
Bronwyn bufou.
— Puxa, meu maior sonho.
— O futuro é minha área, senhora — retrucou Horace. — Vou mostrar como se faz!
Emma, Millard e eu os deixamos ali e fomos com Bekhir até uma carroça de aspecto simples. O homem subiu a escada baixa e bateu à porta.
— Radi? — chamou, baixinho. — Venha cá, por favor. Tem algumas pessoas que querem conhecer você.
Uma fresta da porta se abriu e uma mulher espiou para fora.
— Ele está com medo. Não quer sair da cadeira.
Ela nos observou atentamente, depois abriu a porta e fez sinal para que entrássemos. Subimos os degraus e nos agachamos em um espaço apertado mas aconchegante que parecia ser sala, quarto e cozinha ao mesmo tempo. Havia uma cama sob uma janela estreita, uma mesa e uma cadeira, além de um pequeno fogão que lançava fumaça por uma chaminé no teto: o necessário para ser autossuficiente na estrada por várias semanas ou meses.
Um menino estava sentado na única cadeira do aposento. Ele segurava um trompete. Percebi que o vira tocando mais cedo, na banda de crianças ciganas. Era filho de Bekhir, e supus que a mulher fosse a esposa.
— Tire os sapatos, Radi — ordenou a mulher.
O garoto manteve os olhos fixos no chão.
— Preciso mesmo? — perguntou.
— Precisa — respondeu Bekhir.
O menino puxou uma das botas, depois a outra. Por um segundo eu não tive certeza do que via: não havia nada nos sapatos. Ele parecia não ter pés. Mas mesmo assim teve trabalho para tirar as botas, então deviam estar presas a alguma coisa. Bekhir pediu a ele que ficasse de pé. Com relutância, o menino deslizou para a frente na cadeira e se levantou. Parecia estar levitando. A bainha da calça pairava, vazia, a alguns centímetros do chão.
— Ele começou a desaparecer há alguns meses — explicou a mulher. — Primeiro foram só os dedos, depois os calcanhares, depois o restante dos pés. Nada do que dei a ele teve efeito, nenhuma tintura ou tônico.
Então, afinal de contas, ele tinha pés; só eram invisíveis.
— Não sabemos o que fazer — disse Bekhir. — Achei que talvez houvesse um curandeiro entre vocês...
— Não há cura para o que ele tem — interveio Millard. Ao ouvir a voz saindo do nada, o menino esticou o pescoço de repente. — Eu e ele somos iguais. Aconteceu o mesmo comigo quando eu era mais novo. Não nasci invisível. Foi aos poucos.
— Quem está falando? — perguntou o menino.
Millard pegou um lenço que estava jogado em um canto da cama e o enrolou no rosto, revelando o formato do nariz, da testa e da boca.
— Aqui estou eu — disse, se aproximando do menino. — Não tenha medo.
Enquanto observávamos, o menino ergueu a mão e tocou o rosto de Millard, depois a testa e o cabelo, cuja cor e penteado eu nunca sequer havia imaginado, e até puxou uma pequena mecha, com delicadeza, como se testasse se era real.
— Você está mesmo aí — disse o menino, com os olhos brilhando, maravilhado. — Você está mesmo aí!
— E você também vai estar, mesmo depois que desaparecer por completo — respondeu Millard. — Você vai ver. Não dói.
O menino sorriu. Quando ele fez isso, os joelhos da mulher vacilaram, e ela teve que se apoiar em Bekhir.
— Deus o abençoe — disse ela a Millard, quase chorando. — Deus o abençoe.
O menino invisível se sentou diante dos pés invisíveis de Radi.
— Não precisa ter medo. Na verdade, depois que se adaptar, vai descobrir que a invisibilidade tem muitas vantagens...
Ele começou a listá-las. Bekhir foi até a porta e sinalizou com a cabeça para mim e para Emma:
— Vamos deixá-los. Tenho certeza de que eles têm muito que conversar.
Deixamos Millard sozinho com o garoto e a mãe. Ao voltar para junto da fogueira, encontramos todo mundo, tanto peculiares quanto ciganos, reunidos ao redor de Horace. Ele estava em pé em cima de um toco de árvore, diante da vidente atônita, com os olhos fechados e a mão no topo da cabeça da mulher. Parecia estar narrando um sonho enquanto ele acontecia em sua mente.
— ... e o neto do seu neto vai pilotar um navio gigante que viaja entre a Terra e a Lua como um ônibus, e ele vai ter uma casa muito pequena na Lua, vai atrasar o pagamento da hipoteca e precisará alugar quartos. Um dos inquilinos será uma mulher bonita por quem ele vai se apaixonar perdidamente em amor lunar, que não é exatamente igual ao amor terrestre, por causa da diferença de gravidade...
Ficamos observando de um ponto à margem do círculo.
— Ele está falando sério? — perguntei a Emma.
— Pode ser — respondeu ela. — Mas pode estar só se divertindo um pouco com a mulher.
— Por que ele não pode descobrir o nosso futuro assim?
Emma deu de ombros.
— A habilidade de Horace pode ser enlouquecedoramente inútil. Ele desanda a falar previsões da vida inteira de estranhos, mas com a gente seu poder é quase inteiramente bloqueado. Acho que quanto mais ele gosta da pessoa, menos consegue ver. A emoção turva a visão.
— Não é assim com todo mundo? — indagou uma voz às nossas costas. Quando nos viramos, demos com Enoch ali parado. — Por falar nisso, espero que você não esteja distraindo demais o americano, querida Emma. É muito difícil ficar atento aos etéreos com a língua de uma moça na orelha.
— Não fale essas coisas nojentas! — ralhou Emma.
— Eu não conseguiria ignorar a Sensação nem se quisesse — retruquei.
Ainda assim, desejava poder ignorar a desagradável percepção de que Enoch estava com ciúme de mim.
— Então me contem sobre a reunião secreta — sugeriu o menino. — Os ciganos nos protegeram por causa de uma aliança antiga e mofada da qual nenhum de nós ouviu falar?
— O líder e sua esposa têm um filho peculiar — respondeu Emma. — Eles tinham esperanças de que pudéssemos ajudá-lo.
— Isso é loucura — retrucou Enoch. — Eles quase deixaram que os soldados fizessem picadinho de todos por causa de um único menino? Isso é que é a emoção turvando a visão! Achei que quisessem nos escravizar por causa das habilidades que temos, ou pelo menos nos vender em um leilão... Eu sempre superestimo as pessoas.
— Ah, vá procurar um animal morto para atazanar — reclamou Emma.
— Nunca vou entender noventa e nove por cento da humanidade — comentou Enoch, e saiu balançando a cabeça.
— Às vezes penso que esse garoto é meio máquina — comentou Emma. — Carne por fora, metal por dentro.
Eu ri, mas me perguntei se Enoch não teria razão. Talvez fosse loucura Bekhir arriscar tanto pelo filho. Porque, se o homem estivesse louco, eu com certeza também estava. De quanta coisa tinha aberto mão só por uma garota? Apesar da curiosidade, apesar de meu avô, apesar da dívida que tínhamos para com a srta. Peregrine, a verdade é que eu estava ali por um único motivo: desde o dia em que conheci Emma, soube que queria fazer parte de qualquer mundo ao qual ela pertencesse. Será que eu era louco? Ou será que meu coração fora conquistado fácil demais?
Talvez ter um pouquinho de metal por dentro não seja tão ruim, pensei. Se eu tivesse mantido o coração mais protegido, onde estaria naquele momento?
Fácil: em casa, tomando remédios até o completo torpor. Afogando as mágoas no videogame. Trabalhando meio expediente na rede de farmácias da minha família. Morrendo por dentro, dia após dia, de arrependimento.
Mas não. Ao ir atrás de Emma, eu tinha arriscado tudo — e estava arriscando de novo, todos os dias. Ao fazer isso, eu optara por mergulhar em um mundo que jamais imaginara, onde vivia entre as pessoas mais vivas que eu já tinha conhecido, onde fazia coisas que nunca tinha imaginado ser capaz de fazer e sobrevivia a coisas às quais nunca tinha sonhado sobreviver. Tudo porque me permitira sentir algo por uma garota peculiar.
Apesar de todo o problema e o perigo em que estávamos metidos, e apesar do fato de aquele mundo novo e estranho ter começado a desmoronar no instante em que eu o descobrira, me sentia imensamente feliz por estar ali. Apesar de tudo, aquela vida peculiar era tudo o que eu sempre quis. Estranho como dá para viver nossos maiores sonhos e pesadelos ao mesmo tempo, pensei.
— O que foi? — indagou Emma. — Você está me encarando.
— Eu só queria dizer obrigado.
Ela franziu o nariz e estreitou os olhos, como se eu tivesse dito algo engraçado.
— Obrigado por quê?
— Você me dá forças que eu não sabia que tinha — respondi. — Você me torna uma pessoa melhor.
Ela ficou vermelha.
— Não sei o que dizer.
Emma, uma alma iluminada. Preciso da chama que arde em seu interior.
— Não precisa dizer nada — respondi.
Então fui tomado por uma necessidade súbita de beijá-la. E foi o que fiz.
***
Apesar de estarmos mortos de cansaço, os ciganos pareciam muito animados e determinados a continuar a festança. Depois de algumas xícaras de uma bebida quente, doce e cheia de cafeína, além de mais algumas canções, eles nos conquistaram. Eram contadores de histórias natos e cantores excelentes, pessoas naturalmente interessantes que nos tratavam como primos havia muito perdidos. Ficamos acordados até de madrugada, trocando histórias. O garoto que projetara a voz como um urso fez um número de ventriloquismo tão bom que quase acreditei que os bonecos tinham ganhado vida. Ele parecia ter uma quedinha por Emma, pois fez toda a apresentação olhando para ela, com um sorriso enorme no rosto, mas Emma fingiu não perceber e fez questão de segurar minha mão.
Mais tarde, os ciganos contaram que, durante a Primeira Guerra Mundial, o exército britânico tomou todos os cavalos deles, deixando-os sem nenhum animal para puxar as carroças. Eles foram abandonados na floresta — naquela mesma floresta —, até que um dia um rebanho de bodes com chifres compridos surgiu no acampamento. Pareciam selvagens, mas eram tão mansos que chegavam a comer das mãos dos ciganos. Alguém teve a ideia de prender um deles a uma carroça, e os bodes se revelaram tão fortes quanto os cavalos roubados. Os ciganos passaram a se deslocar dessa forma, e até o fim da guerra as carroças foram puxadas por aqueles bodes peculiarmente fortes — e por isso eles passaram a ser conhecidos como o Povo dos Bodes em todo o País de Gales. Como prova, nos mostraram uma foto do tio de Bekhir em uma carroça puxada por bodes. Sem que ninguém precisasse revelar, sabíamos que aquele era o último rebanho de bodes peculiares do qual Addison nos falara. Depois da guerra, o exército devolveu os cavalos dos ciganos, e os bodes, que não eram mais necessários, desapareceram floresta adentro.
Finalmente, as fogueiras foram se apagando. Os ciganos estenderam mantas de dormir para nos deitarmos e cantaram uma canção de ninar em uma língua estrangeira que não conhecíamos. Tive a agradável sensação de voltar a ser criança. O ventríloquo foi dar boa-noite a Emma, mas ela o dispensou, não sem que antes ele deixasse um cartão de visita. No verso, havia um endereço em Cardiff, onde o sujeito recolhia correspondência algumas vezes por ano, sempre que os ciganos passavam; na frente, uma foto dele com bonecos e um pequeno bilhete para Emma. Ela o mostrou para mim e riu, mas me senti mal pelo rapaz. Seu crime era apenas gostar dela — o mesmo que o meu.
***
Eu me deitei abraçado a Emma em uma manta. Quando estávamos quase pegando no sono, ouvi passos na grama ali perto. Abri os olhos, mas não vi ninguém. Era Millard, de volta depois de passar a noite conversando com o menino cigano.
— Ele quer ir com a gente — comentou Millard.
— Quem? — balbuciou Emma, sonolenta. — Ir para onde?
— O menino. Quer ir com a gente.
— E o que você disse?
— Disse que não era uma boa ideia. Mas não falei que não. Não exatamente.
— Você sabe que não podemos levar mais ninguém — retrucou Emma. — Ele vai atrasar a gente.
— Eu sei, eu sei. Mas ele está desaparecendo muito rápido, e fica assustado com isso. Daqui a pouco vai estar completamente invisível. Ele tem medo de um dia ficar para trás e os ciganos não perceberem e ele se perder para sempre na floresta, entre lobos e aranhas.
Emma resmungou e se virou para encarar Millard. Ele não ia nos deixar dormir até que aquilo fosse decidido.
— Sei que ele vai ficar decepcionado em ouvir isso, mas é mesmo impossível — disse ela. — Sinto muito, Mill.
— É justo. Vou dar a notícia a ele — respondeu Millard, chateado. Então se levantou e foi embora.
Emma suspirou e passou um bom tempo irrequieta, sem parar de se mexer.
— Você fez a coisa certa — sussurrei. — Não é fácil ser o exemplo para todos os outros.
Ela não respondeu, mas se aconchegou em meu peito. Aos poucos, fomos caindo no sono, com os murmúrios dos galhos soprados pela brisa e a respiração dos cavalos nos embalando gentilmente.
***
Foi uma noite de sono leve e pesadelos, muito parecida com a realidade do dia anterior: perseguido por matilhas de cães assustadores. Acordei exausto. Eu sentia meus braços e pernas pesados como madeira, minha cabeça, feita de algodão. No fim das contas, talvez estivesse me sentindo melhor se não tivesse dormido.
Bekhir nos despertou ao amanhecer.
— É hora de acordar, syndrigasti! — gritou, distribuindo pedaços de pão duros como tijolos. — Deixem para dormir quando estiverem mortos!
Enoch bateu o pão em uma pedra, e o barulho fez a comida parecer feita de madeira.
— Vamos morrer de uma vez com um café da manhã desse!
Bekhir bagunçou o cabelo de Enoch, rindo.
— Ah, que isso. Cadê seu espírito peculiar?
— Botei para lavar — resmungou Enoch, cobrindo a cabeça com a manta.
Bekhir nos deu dez minutos para nos aprontarmos para a viagem até a cidade. Ele estava cumprindo a promessa e nos levaria até lá antes do primeiro trem da manhã. Eu me levantei, fui cambaleando até um balde, joguei um pouco de água no rosto e escovei os dentes com o dedo. Ah, como eu sentia falta de minha escova de dentes... Como eu sentia falta do fio dental sabor menta e do desodorante com aroma de brisa do mar. O que eu não daria naquele momento para encontrar uma farmácia!
Meu reino por cuecas limpas!
Enquanto eu catava fios de palha do cabelo e tentava comer o pão intragável, os ciganos nos observavam com tristeza. Era como se, de alguma forma, soubessem que a diversão da noite anterior fora uma última comemoração e que agora estávamos sendo conduzidos para a forca. Tentei animar um deles.
— Está tudo bem — falei para um menininho de cabelo louro bem claro que parecia à beira das lágrimas. — Vamos ficar bem.
Ele me encarou com os olhos arregalados e desconfiados, como se eu estivesse falando com um fantasma.
Oito cavalos foram reunidos, assim como oito cavaleiros ciganos, um para cada um de nós. Chegaríamos à cidade muito mais depressa do que de carroça. Mas a ideia me deixava apavorado.
Eu nunca tinha montado a cavalo. Devia ser o único garoto razoavelmente rico dos Estados Unidos que nunca o fizera. Não porque não achasse os cavalos criaturas belas e majestosas, o ápice da criação animal etc. etc. É que não acredito que animal algum tenha o menor interesse em ser montado por um ser humano. Além disso, sempre achei cavalos muito grandes, com músculos muito bem definidos e dentes grandes e numerosos. Além disso, eles sempre olharam para mim como se soubessem que eu tinha medo, como se estivessem só esperando para arrancar minha cabeça com um coice. Isso sem falar que cavalos não têm cinto de segurança — nem air bag ou coisa do tipo —, mas podem ir quase tão rápido quanto os carros, só que sacodem muito mais. Por isso, a empreitada me pareceu desaconselhável.
Não expressei minhas preocupações, é claro. Fiquei quieto, cerrei os dentes e torci para viver pelo menos o suficiente para morrer de forma mais interessante do que caindo de um cavalo.
Desde o primeiro êia!, galopamos a toda velocidade. Deixei a dignidade de lado na mesma hora e me agarrei ao cigano à minha frente, que segurava as rédeas — e o fiz tão depressa que nem tive a chance de acenar e me despedir do grupo de pessoas que se reunira para nos ver partir. O que não foi tão ruim: despedidas nunca foram meu forte, e minha vida andava parecendo uma série ininterrupta de adeus. Adeus, adeus, adeus.
Saímos cavalgando. Minhas coxas ficaram dormentes de tanto apertar o cavalo. Bekhir liderava o grupo, com o filho peculiar montado com ele na sela. O menino mantinha as costas eretas e os braços ao longo do corpo, confiante e sem medo, um grande contraste em relação à noite anterior. Ali, ele estava em seu ambiente: em meio aos ciganos. Não precisava de nós. Aquele era seu povo.
Algum tempo depois, desaceleramos até atingir um ritmo de trote, e reuni coragem para afastar o rosto do casaco do cavaleiro e apreciar as mudanças na paisagem em volta. A floresta se aplainara, tornando-se campo. Estávamos descendo um vale, no meio do qual havia uma cidade cercada de verde por todos os lados e que, de onde estávamos, não parecia maior do que um selo. Vinda do norte, uma elipse longa de pontos brancos se estendia na direção da floresta: as nuvens de fumaça de um trem.
Bekhir parou os cavalos pouco antes dos portões da cidade.
— Só podemos vir até aqui — explicou. — Não somos muito bem-vindos em cidades pequenas. Vocês não querem o tipo de atenção que recebemos.
Era difícil imaginar alguém se opondo à presença daquelas pessoas tão amáveis. Mas, enfim, preconceitos parecidos estavam entre os motivos pelos quais os peculiares haviam abandonado a sociedade. Era como esse mundo triste funcionava.
Eu e as crianças desmontamos dos cavalos. Fiquei atrás dos outros, na esperança de que ninguém percebesse o tremor em minhas pernas. Quando estávamos prestes a partir, o filho de Bekhir saltou do cavalo do pai e gritou:
— Esperem! Me levem com vocês!
— Achei que você fosse conversar com ele — disse Emma a Millard.
— Eu conversei — respondeu o rapaz.
O menino puxou uma bolsa do alforje da sela e a jogou sobre o ombro. Ele estava de malas feitas, pronto para partir.
— Eu sei cozinhar — disse. — E cortar lenha, montar a cavalo e fazer todos os tipos de nó!
— Alguém dê uma medalha de honra a esse rapaz — zombou Enoch.
— Infelizmente, é impossível — disse Emma, com delicadeza.
— Mas eu sou como vocês, e estou ficando cada vez mais assim! — O menino começou a abrir a calça. — Vejam o que está acontecendo comigo!
Antes que alguém pudesse detê-lo, ele baixou a calça até os tornozelos. As garotas levaram um susto e viraram o rosto. Hugh gritou:
— Não tire a calça, seu doido pervertido!
Mas não havia o que ver. Ele estava invisível da metade do corpo para baixo. Uma curiosidade mórbida me levou a espiar a parte de baixo da metade visível, e tive uma visão cristalina do funcionamento de suas entranhas.
— Vejam como eu desapareci desde ontem — insistiu Radi, com pânico na voz. — Daqui a pouco vou desaparecer de vez!
Os ciganos o encaravam, murmurando. Até os cavalos pareciam perturbados, evitando o que parecia ser uma criança sem corpo.
— Não acredito! — exclamou Enoch. — Só tem metade dele aqui com a gente.
— Ah, coitadinho — disse Bronwyn. — Não podemos ficar com ele?
— Não somos um circo itinerante, ao qual você pode se juntar quando sentir vontade — retrucou Enoch. — Estamos em uma missão perigosa para salvar nossa ymbryne, não temos como bancar a babá para um peculiar novo que não sabe de nada!
Os olhos do menino se arregalaram e começaram a lacrimejar, e ele deixou que a bolsa escorregasse do ombro para o chão.
Emma puxou Enoch para um canto.
— Isso foi muito rude — ralhou. — Peça desculpas agora.
— Não. Isso é ridículo, um desperdício de tempo precioso, que fica cada vez mais curto.
— Essas pessoas salvaram nossa vida!
— Nossa vida não precisaria ter sido salva se eles não nos tivessem enfiado naquela bendita jaula!
Emma desistiu de Enoch e se virou para o menino.
— Se as circunstâncias fossem diferentes, nós o receberíamos de braços abertos. Do jeito que as coisas estão, toda a nossa civilização e o nosso modo de vida correm risco de serem destruídos. Por isso, não é o momento apropriado. Entende?
— Não é justo — lamentou o menino. — Por que eu não comecei a desaparecer muito tempo atrás? Por que isso tinha que acontecer justo agora?
— As habilidades de cada peculiar se manifestam em seu próprio tempo — explicou Millard. — Algumas na infância, outras só quando estão bem velhos. Eu soube de um homem que só descobriu que podia fazer objetos levitarem com a mente aos noventa e dois anos.
— Eu já era mais leve que o ar no instante em que nasci — comentou Olive, com orgulho. — Saí da barriga da minha mãe e fui flutuando para o teto do hospital! A única coisa que me impediu de sair pela janela e subir até as nuvens foi o cordão umbilical. Dizem que o médico desmaiou de choque!
— Você ainda é muito chocante, querida — interveio Bronwyn, com um tapinha tranquilizador nas costas da menina.
Millard, visível graças ao casaco e às botas, foi até o menino cigano.
— O que o seu pai acha dessa sua ideia?
— É claro que não queremos que ele vá — respondeu Bekhir —, mas como podemos cuidar direito dele se nem ao menos conseguimos vê-lo? Ele quer ir, e talvez meu filho fique melhor com seus pares.
— Você o ama? — perguntou Millard, de repente. — Ele ama você?
Bekhir franziu o cenho. Sendo um homem de sensibilidade tradicional, a pergunta o deixou desconfortável. Depois de pensar um pouco, ele resmungou:
— É claro. Ele é meu filho.
— Então você é um desses pares — disse Millard. — O lugar do menino é com vocês, não conosco.
Bekhir relutava em demonstrar emoção na frente dos outros homens, mas, depois disso, vi seus olhos brilharem. Ele cerrou o queixo, balançou a cabeça, baixou os olhos para o filho e disse:
— Então venha. Pegue suas coisas e vamos. Sua mãe deve ter feito chá.
— Está bem, pai — respondeu o menino, parecendo ao mesmo tempo decepcionado e aliviado.
— Você vai ficar bem — garantiu Millard. — Mais do que bem. E, quando tudo isso acabar, eu vou atrás de você. Há outros como nós por aí, e um dia vamos juntos encontrá-los.
— Promete? — perguntou o menino, os olhos cheios de esperança.
— Prometo.
E, com isso, o menino montou de novo na garupa do cavalo do pai. Fizemos a volta, passamos pelos portões e entramos na cidade.
CAPÍTULO SEIS
O lugar se chamava Carvoeira. Tinha esse nome porque antigamente havia algumas cidades bem pequenas apenas para atender as pessoas que trabalhavam nas minas de carvão. Em Carvoeira havia carvão por toda parte: em pedaços, empilhados junto à lateral das casas; a fumaça oleosa subindo pelas chaminés; manchas negras nos macacões dos homens que iam para o trabalho. Passamos por eles correndo, nos dirigindo à estação.
— Depressa — mandou Emma. — Nada de conversa. E fiquem de cabeça baixa.
Era uma regra bem conhecida: evitar contato visual com os normais, porque olhares podiam levar a conversas, que podiam levar a perguntas, e as crianças peculiares consideravam as perguntas dos adultos normais muito difíceis de responder de um jeito que não gerasse ainda mais perguntas. Claro, nada melhor para gerar perguntas do que um grupo de crianças sujas e esfarrapadas viajando sozinhas em tempos de guerra — ainda por cima, com uma grande ave de rapina com garras afiadas pousada no ombro de uma das meninas —, mas os moradores da cidade mal pareceram nos notar. Eles assombravam as filas das lavanderias e as entradas dos bares das ruas sinuosas de Carvoeira, encurvados como flores murchas. Seus olhos passavam por nós e logo se desviavam. Aquelas pessoas tinham outras preocupações.
A estação de trem era tão pequena que fiquei imaginando se os trens se davam mesmo ao trabalho de parar ali. A única parte coberta era a bilheteria, uma casinha no meio de uma plataforma ao ar livre. Um homem dormia sentado ali dentro, os óculos bifocais grossos como fundos de garrafa pendurados na ponta do nariz.
Emma bateu com força no vidro do guichê, despertando o funcionário com um susto.
— Oito passagens para Londres! — disse. — Precisamos chegar lá hoje à tarde.
O bilheteiro nos observou através do vidro. Ele tirou os óculos bifocais, limpou-os e os recolocou, só para se certificar de que estava vendo direito. Tenho certeza de que causávamos um choque: roupas manchadas de lama, cabelo oleoso e despenteado. Devíamos estar fedendo também.
— Sinto muito — disse o bilheteiro. — O trem está lotado.
Olhei ao redor. Além de algumas pessoas dormindo nos bancos, a estação estava vazia.
— Isso é um absurdo! — reclamou Emma. — Venda esses bilhetes de uma vez, ou vou denunciá-lo às autoridades da ferrovia por discriminação contra crianças!
Eu teria lidado com o bilheteiro com mais delicadeza, mas Emma não tinha paciência com os pequenos burocratas que davam importância demais à própria autoridade.
— Se tal estatuto existisse — retrucou o funcionário, erguendo o nariz em desprezo —, não se aplicaria a vocês. Estamos em guerra, sabe, e existem coisas mais importantes do que crianças e animais para transportar pelos campos de Sua Majestade! — Ele lançou um olhar severo para a srta. Peregrine. — Aliás, animais não são permitidos!
Um trem entrou na estação assobiando e parou com um ruído estridente. O condutor pôs a cabeça para fora de uma janela e gritou:
— Oito e meia para Londres! Todos a bordo!
As pessoas que dormiam nos bancos se levantaram e começaram a seguir para o trem arrastando os pés.
Um homem de terno cinza passou por nós, foi até o guichê e entregou dinheiro para o bilheteiro. Em troca, recebeu uma passagem. Ele correu na direção do trem.
— Você disse que estava lotado! — reclamou Emma, batendo com força no vidro. — Você não pode fazer isso!
— O cavalheiro comprou um bilhete de primeira classe — explicou o bilheteiro. — Agora vão embora, seus mendigos fedorentos! Vão procurar bolsos para roubar em outro lugar!
Horace foi até o guichê e disse:
— Mendigos, por definição, não andam com grandes somas de dinheiro. — Ele enfiou a mão no bolso do casaco e jogou um gordo maço de notas sobre o balcão. — Se há bilhetes de primeira classe disponíveis, são esses mesmo que queremos!
O bilheteiro se endireitou na cadeira, boquiaberto diante do bolo de dinheiro. Também ficamos boquiabertos, sem saber onde Horace conseguira aquilo. Contando as notas, o bilheteiro comentou:
— Nossa, isso é suficiente para comprar passagens de um vagão inteiro de primeira classe!
— Então queremos um vagão inteiro! — retrucou Horace. — Assim você pode ter certeza de que não vamos roubar ninguém.
O funcionário enrubesceu e começou a gaguejar.
— S-sim, senhor... desculpe, senhor... e espero que não considere meus comentários anteriores, era apenas brincadeira...
— Me dê logo a porcaria das passagens para que possamos embarcar!
— É pra já, senhor!
O bilheteiro empurrou uma pilha de bilhetes em nossa direção.
— Boa viagem! E, por favor, não contem a ninguém que eu sugeri isto, senhoras e senhores, mas, se eu fosse vocês, esconderia essa ave. Os condutores não vão gostar, com ou sem passagens de primeira classe.
Enquanto nos afastávamos da bilheteria com as passagens na mão, Horace estufou o peito como um pavão.
— Onde foi que você arrumou esse dinheiro todo? — perguntou Emma.
— Resgatei da cômoda da srta. Peregrine antes do incêndio. Fiz um bolso especial no casaco, por garantia.
— Horace, você é um gênio! — exclamou Bronwyn.
— Será que um gênio de verdade teria dado de bandeja cada centavo que tínhamos? — inquiriu Enoch. — Nós realmente precisávamos de um vagão de primeira classe inteiro?
— Não, mas deixar aquele homem com cara de idiota foi bom, não foi? — respondeu Horace.
— Acho que foi — concordou Enoch.
— Isso porque o verdadeiro propósito do dinheiro é manipular os outros e fazê-los se sentir inferiores.
— Não tenho tanta certeza quanto a isso — interveio Emma.
— Brincadeira! — exclamou Horace. — Dinheiro serve para comprar roupas, é claro.
Estávamos prestes a embarcar quando o condutor nos parou.
— Apresentem suas passagens! — O homem já ia pegando a pilha de bilhetes das mãos de Horace quando reparou que Bronwyn estava enfiando alguma coisa no casaco. — O que você tem aí? — inquiriu o homem, andando ao redor dela, desconfiado.
— O que eu tenho onde? — perguntou Bronwyn, tentando parecer despreocupada enquanto segurava o casaco fechado sobre um grande calombo que não parava de se remexer.
— Aí no casaco! — respondeu o condutor. — Não brinque comigo, mocinha.
— É, hã... — Bronwyn tentou pensar numa resposta, mas não conseguiu. — ... um pássaro?
Emma baixou a cabeça. Enoch cobriu os olhos com a mão e soltou um gemido.
— Não permitimos animais no trem! — repreendeu o condutor.
— Mas o senhor não compreende — retrucou Bronwyn. — Eu a tenho desde pequena... e nós precisamos embarcar nesse trem... pagamos tanto pelas passagens!
— Regras são regras! — respondeu o condutor, com a paciência se esgotando. — Não pense que esse trem é um brinquedo, para ser tão desrespeitosa!
Emma ergueu a cabeça de repente, com uma expressão satisfeita.
— Um brinquedo! — exclamou.
— Como? — indagou o condutor.
— Não é um pássaro de verdade, senhor condutor. Nunca sonharíamos em desrespeitar as regras desse jeito. É o brinquedo favorito da minha irmã, e ela acha que o senhor quer roubá-lo. — Emma uniu as mãos em um gesto de súplica, implorando. — O senhor não tiraria o brinquedo preferido de uma criança, tiraria?
O condutor observou Bronwyn, desconfiado.
— Ela parece já ter passado da idade para brinquedos, não acha?
Emma se inclinou para perto dele e murmurou:
— Ela é um pouco atrasada, sabe...
Bronwyn fez cara feia para o comentário, mas não tinha escolha: precisava entrar no papel. O condutor foi até ela.
— Então me deixe ver esse brinquedo.
Era o momento da verdade. Prendemos a respiração. Bronwyn abriu o casaco, enfiou a mão e retirou a srta. Peregrine bem lentamente. Quando vi a ave, pensei, por um momento terrível, que ela tivesse morrido. A srta. Peregrine estava rígida, deitada de olhos fechados nas mãos de Bronwyn, as pernas duras e esticadas. Então percebi que ela também estava interpretando.
— Viu? — disse Bronwyn. — Não é de verdade. É empalhada.
— Eu a vi se mexendo! — retrucou o condutor.
— Ela é... é... um brinquedo de corda — respondeu Bronwyn. — Veja só.
A menina se ajoelhou, pôs a srta. Peregrine no chão, enfiou a mão debaixo de uma das asas e fingiu girar alguma coisa. No instante seguinte, a srta. Peregrine abriu os olhos e começou a andar, balançando a cabeça e movendo as pernas de um jeito duro, como se fossem acionadas por molas. Finalmente, a ave parou de repente e tombou para o lado, rígida como uma pedra. Uma interpretação digna de Oscar.
O condutor pareceu quase convencido; mas não totalmente.
— Bem... — Ele pigarreou. — Já que é um brinquedo, vocês não vão se importar de guardá-lo no baú de brinquedos. — Ele apontou com a cabeça para o baú, que Bronwyn deixara na plataforma.
A menina hesitou.
— Não é um...
— Sim, está bem, isso não é problema — interrompeu Emma, abrindo o trinco do baú. — Guarde o brinquedo, irmã!
— Mas e se não tiver ar aí dentro? — sussurrou Bronwyn para Emma.
— Então faremos alguns furos nas laterais, ora! — sussurrou Emma em resposta.
Bronwyn pegou a srta. Peregrine e a colocou com cuidado dentro do baú.
— Sinto muito, senhora — murmurou, baixando e fechando a tampa.
O condutor finalmente pegou nossas passagens.
— Primeira classe! — comentou, surpreso. — O vagão de vocês é lá na frente. — Ele apontou para o final da plataforma. — É melhor correrem!
— E só agora ele diz isso!? — resmungou Emma, e então saímos correndo pela plataforma.
Com uma baforada de fumaça e um gemido metálico, o trem começou a se mover ao nosso lado. De início, apenas nos acompanhava na corrida, mas a cada giro das rodas a velocidade aumentava um pouco.
Emparelhamos com o vagão da primeira classe. Bronwyn foi a primeira a pular para a porta aberta. Ela pousou o baú no chão do corredor e estendeu a mão para ajudar Olive.
Então, atrás de nós, alguém gritou:
— Parem! Afastem-se daí!
Não era o condutor. Era uma voz mais grossa, mais autoritária.
— Ah, eu juro que se mais uma pessoa tentar impedir que a gente embarque nesse trem... — começou Enoch.
Ouvimos um tiro, e o choque que isso provocou fez meus pés vacilarem. Tropecei ao tentar pular no vagão e caí de volta na plataforma.
— Eu mandei parar! — berrou a voz outra vez.
Quando olhei para trás por cima do ombro, vi um soldado uniformizado com os joelhos dobrados em posição de tiro, o fuzil apontado para nós. Com um par de explosões altas, ele disparou duas outras balas acima de nossas cabeças, só para mostrar que estava falando sério.
— Desçam do trem e se ajoelhem! — mandou, indo depressa na nossa direção.
Pensei em sair correndo, mas captei um vislumbre dos olhos do soldado, e os globos protuberantes e completamente brancos me convenceram a não fazê-lo. Era um acólito, e eu sabia que ele não pensaria duas vezes antes de atirar em qualquer de nós. Era melhor não dar pretextos.
Bronwyn e Olive deviam estar pensando mais ou menos a mesma coisa, porque desceram do trem e se ajoelharam junto com o restante do grupo.
Tão perto, pensei. Chegamos tão perto.
O trem deixou a estação sem nós. Lá se ia nossa chance de salvar a srta. Peregrine, soltando baforadas de fumaça.
E levando a srta. Peregrine, lembrei, com um nó de preocupação no estômago. Bronwyn deixara o baú a bordo! Por instinto, dei um pulo e saí correndo atrás do trem — mas aí o cano do fuzil surgiu a centímetros do meu rosto e senti toda a força se esvair de meus músculos em um instante.
— Nem mais um passo — ordenou o soldado.
Caí de volta no chão.
***
Estávamos ajoelhados, com as mãos para o alto e o coração batendo forte. O soldado andou em círculo ao redor de nosso grupo, tenso, o fuzil apontado e o dedo no gatilho. Era o mais próximo que eu chegara de um acólito e o maior tempo na presença de um deles desde o dr. Golan. Ele usava um uniforme padrão do Exército britânico — camisa cáqui para dentro da calça de lã, botas pretas e capacete —, mas estava vestido de um jeito estranho, com a calça torta e o capacete muito para trás, como se fosse uma fantasia que ainda não tivesse se acostumado a usar. Parecia nervoso, virando o rosto de um lado para o outro enquanto nos examinava. O soldado estava em inferioridade numérica e sabia que, apesar de sermos apenas um bando de crianças desarmadas, tínhamos matado um acólito e dois etéreos nos últimos três dias. Aquele sujeito estava com medo da gente, e isso, mais que qualquer outra coisa, me deixava com medo dele. O medo o tornava imprevisível.
Ele tirou um rádio do cinto e falou alguma coisa. Ouvimos um ruído alto de estática, e, no instante seguinte, uma resposta. Toda em código. Eu não consegui entender nem uma palavra.
Ele mandou que ficássemos de pé. Obedecemos.
— Aonde vamos? — perguntou Olive, timidamente.
— Dar uma volta — respondeu o acólito. — Em fila.
Ele tinha um jeito de falar entrecortado e com vogais sem expressão, indicando que era de outro lugar e que estava fingindo sotaque britânico, apesar de não ser muito bom nisso. Supostamente, os acólitos eram mestres do disfarce, mas aquele com certeza não era um dos melhores da turma.
— Vocês não vão sair da fila — continuou o sujeito, encarando todos um a um. — Não vão fugir. Tenho quinze balas no pente, o suficiente para fazer dois furos em cada um. E não vá pensando que não estou vendo seu paletó, garoto invisível. Se me obrigar a sair atrás de você, corto seus polegares invisíveis para guardar de lembrança.
— Sim, senhor — respondeu Millard.
— E não quero ouvir nem um pio! — gritou o soldado. — Agora marchem!
Passamos pela bilheteria. O funcionário não estava mais lá. Então descemos pela plataforma, saímos da estação e seguimos pelas ruas. Apesar de os habitantes de Carvoeira não terem nos dado a menor atenção quando chegamos à cidade mais cedo, agora viravam a cabeça como corujas para nos examinar enquanto passávamos em fila indiana sob a mira do fuzil. O soldado nos mantinha em uma fileira organizada, gritando quando qualquer um se afastava um pouco. Eu era o último da fila. O acólito estava atrás de mim, e dava para ouvir o tilintar do cinturão de munição enquanto caminhávamos. Estávamos voltando pelo caminho por onde tínhamos vindo, saindo da cidade.
Imaginei uma dúzia de planos de fuga. Podíamos nos espalhar — não, ele conseguiria acertar pelo menos alguns. Talvez alguém pudesse fingir um desmaio na estrada, aí a pessoa de trás tropeçaria, dando início a uma confusão — não, ele não cairia nessa. Um de nós precisaria chegar perto e lhe tomar a arma.
Eu. Eu estava mais perto. Talvez, se reduzisse um pouco o passo, deixasse que ele se aproximasse e então o atacasse... Mas quem eu estava querendo enganar? Eu não era um herói de cinema. Estava com tanto medo que mal conseguia respirar. Além do mais, o acólito estava a dez metros de mim, com a arma apontada bem para as minhas costas. Ele atiraria no instante em que eu me virasse, e eu ia me esvair em sangue ali no meio da estrada. Tentar aquilo seria burrice, não heroísmo.
Um jipe veio depressa de trás e encostou ao lado, reduzindo a velocidade para acompanhar nosso ritmo. Havia mais dois soldados no veículo, e, apesar de ambos usarem óculos escuros, eu sabia o que havia por trás das lentes. O acólito no banco do carona olhou para o que nos capturara e fez um breve elogio: Muito bom! Então se virou para nós e ficou nos encarando. Daquele momento em diante, não tirou os olhos de nós ou as mãos do fuzil que carregava.
Então tínhamos uma escolta, e um acólito com um fuzil se transformara em três. Qualquer esperança que eu tivesse de fugir fora eliminada.
Andamos muito. Nossos sapatos faziam ruído na estrada de cascalho e o motor do jipe roncava ao lado como um cortador de grama barato. A cidadezinha foi ficando para trás e vimos fazendas se estendendo dos dois lados da estrada margeada por árvores. Os soldados não trocaram sequer uma palavra. Havia algo de robótico neles, como se seu cérebro tivesse sido retirado e substituído por fios. Em tese, os acólitos eram brilhantes, mas aqueles caras pareciam robôs. Então ouvi um zumbido como o de uma máquina em meu ouvido. Ergui os olhos e reparei em uma abelha, que deu a volta na minha cabeça e foi embora.
Hugh, pensei. O que ele está planejando? Olhei em volta, temendo que ele estivesse pensando em fazer algo que acabasse com todos nós baleados... mas não o vi.
Fiz uma contagem rápida. Um-dois-três-quatro-cinco-seis. Na minha frente estava Emma, depois Enoch, Horace, Olive, Millard e Bronwyn.
Onde estava Hugh?
Quase dei um salto. Hugh não estava ali! O que significava que não fora capturado como os outros. Hugh ainda estava livre! Talvez, no caos da estação, ele tivesse conseguido descer para o vão entre o trem e a plataforma ou tivesse embarcado sem que o soldado percebesse. Fiquei me perguntando se ele estava nos seguindo... Eu queria olhar para trás, mas sem entregá-lo.
Torci para que ele não estivesse ali, que estivesse com a srta. Peregrine. Do contrário, como a encontraríamos novamente? E se ela ficasse sem ar, trancada naquele baú? E o que as pessoas faziam com bagagem suspeita abandonada no ano de 1940?
Meu rosto corou e ficou quente, e senti um nó na garganta. Havia muitas coisas das quais sentir medo, centenas de situações de horror, todas rivalizando por atenção em minha mente.
— De volta para a fila! — gritou o soldado atrás de mim; estava falando comigo.
Eu estava tão transtornado que tinha desviado demais do centro da estrada. Mais do que depressa, voltei para meu lugar atrás de Emma, que me encarou suplicante por cima do ombro, como que implorando: Não o deixe com raiva! Prometi a mim mesmo que ia me controlar.
Caminhamos em um silêncio cortante, a tensão zumbindo através de nós como uma corrente elétrica. Dava para notá-la no movimento de apertar e relaxar de punhos de Emma; no balançar de cabeça de Enoch, que murmurava consigo mesmo; nos passos hesitantes de Olive. Parecia apenas questão de tempo até que um de nós cometesse algum ato desesperado, e as balas fossem disparadas.
Então ouvi Bronwyn levar um susto e me virei para ela. Um cenário de horror que eu ainda não imaginara tomava forma diante de meus olhos. Havia três formas enormes à nossa frente, uma na estrada e duas nos campos laterais, logo ao lado de uma vala rasa. A princípio julguei que fossem montes de terra, recusando-me a enxergar.
Quando nos aproximamos, não consegui mais me enganar: eram três cavalos mortos na estrada.
Olive gritou. Bronwyn foi confortá-la instintivamente.
— Não olhe, codorninha!
O soldado no banco do carona atirou para cima. Todos nos jogamos no chão e cobrimos a cabeça.
— Façam isso de novo e vão acabar na vala junto com eles! — gritou o soldado.
Quando nos levantamos outra vez, Emma se inclinou na minha direção e sussurrou a palavra ciganos, então indicou o cavalo mais próximo com a cabeça. Entendi o que ela estava querendo dizer: eram os cavalos deles. Cheguei a reconhecer as marcas de um dos animais, as manchas brancas nas patas traseiras, e percebi que era exatamente o mesmo ao qual eu estava agarrado uma hora antes.
Achei que fosse vomitar.
Tudo se encaixou, passando como um filme na minha cabeça. Aquilo era obra dos acólitos — os mesmos que haviam atacado o acampamento. Haviam encontrado os ciganos na estrada, depois que eles nos deixaram perto da cidade. Houve luta, seguida de perseguição. Os acólitos atiraram nos cavalos com os ciganos ainda montados.
Eu sabia que os acólitos já tinham matado pessoas — crianças peculiares, pelo que a srta. Avocet nos contara —, mas a brutalidade de atirar naqueles animais parecia ultrapassar até a maldade de que os julgávamos capazes. Uma hora antes, aqueles corpos eram algumas das criaturas mais cheias de vida que eu já vira: os olhos brilhando de inteligência, os músculos torneados, o corpo irradiando calor — mas, graças à intervenção de alguns pedaços de metal, não passavam de montes de carne fria. Animais fortes e orgulhosos tinham sido mortos e largados na estrada como lixo.
Tremi de medo e fervi de raiva. Também fiquei triste por ter deixado de apreciar os cavalos como mereciam. Como eu era idiota, mimado e ingrato.
Segura a onda, disse a mim mesmo. Segura a onda.
Onde estariam Bekhir e seus homens? Onde estaria o filho dele? Tudo o que eu sabia era que os acólitos iam atirar em nós. Eu tinha certeza disso. Aqueles impostores em trajes de soldado eram animais, ainda mais monstruosos do que os etéreos que controlavam. Os acólitos ao menos tinham mentes capazes de raciocinar, mas usavam essa faculdade criativa para destruir o mundo. Para transformar coisas vivas em coisas mortas. E por quê? Para que eles vivessem um pouco mais. Para terem um pouco mais de poder sobre o mundo à sua volta e sobre as criaturas que nele viviam, com as quais se importavam tão pouco.
Desperdício. Um desperdício estúpido.
E iam acabar com a gente. Iam nos levar para algum campo de morte, onde seríamos interrogados e desovados. E se Hugh tivesse feito a burrice de nos seguir — se a abelha que voava de uma ponta a outra da fila significasse que ele estava por perto —, iriam matá-lo também.
Precisávamos de sorte.
***
Os cavalos caídos já estavam bem para trás quando os soldados nos mandaram sair da estrada principal para pegar um caminho estreito que atravessava as fazendas. Mal passava de uma trilha, com pouco mais de um metro de largura, por isso os soldados que estavam no carro que nos acompanhava tiveram que estacionar e ir andando, um à frente de nós e dois atrás. Em ambos os lados, os campos cresciam sem cuidado, cheios de mato florido e repleto dos zumbidos de insetos do fim do verão.
Um belo lugar para morrer.
Depois de um tempo, vimos uma cabana com telhado de sapê no campo. É lá que vão fazer o serviço, pensei. É lá que vão nos matar.
Quando estávamos nos aproximando, a porta se abriu e um soldado saiu da cabana. Ele estava vestido diferente dos outros à nossa volta: em vez de capacete como os outros, usava um quepe negro de oficial; e, em vez de fuzil, levava um revólver no coldre.
Era ele quem estava no comando.
O sujeito ficou parado na trilha enquanto nos aproximávamos, balançando-se nos calcanhares e exibindo um sorriso brilhante como pérola.
— Finalmente nos encontramos! — exclamou. — Vocês nos deram um trabalho e tanto, mas eu sabia que no fim das contas íamos pegá-los. Era só questão de tempo!
Ele tinha feições infantis e gorduchas, cabelo ralo e quase branco de tão louro. Demonstrava uma energia esquisita, como um líder de escoteiros que tomou cafeína demais. Quando olhei para ele, só conseguia defini-lo como: Animal. Monstro. Assassino.
— Entrem, entrem — disse o oficial, abrindo a porta da cabana com um empurrão. — Seus amigos estão esperando aí dentro.
Enquanto passávamos por ele, empurrados pelos soldados, notei o nome bordado em sua camisa: W. ALVO.
Sr. Alvo. Será que era uma piada? Nada nele parecia autêntico. Aquilo muito menos.
Fomos empurrados para dentro da cabana e gritaram para que fôssemos para um canto. Era um único aposento, quase sem móveis, mas cheio de gente. Vimos Bekhir e seus homens sentados no chão, de costas para a parede. Eles haviam sido maltratados; estavam machucados, sangrando e encolhidos em posição de derrota. Faltavam alguns, entre eles o filho de Bekhir. Dois soldados montavam guarda. Isso dava um total de seis, incluindo o sr. Alvo e nossa escolta.
Bekhir captou meu olhar e assentiu, com um ar grave. Seu rosto estava roxo, cheio de hematomas. Sinto muito, disse, sem emitir qualquer som.
O sr. Alvo percebeu a troca de olhares e foi até Bekhir.
— Arrá! Você reconhece essas crianças?
— Não — respondeu Bekhir, olhando para o chão.
— Não? — O sr. Alvo fingiu surpresa. — Mas pediu desculpas àquele garoto ali. Deve conhecê-lo, ou será que tem o hábito de se desculpar com estranhos?
— Não são eles que vocês estão procurando — insistiu Bekhir.
— Acho que são, sim — retrucou o sr. Alvo. — Acho que essas são exatamente as crianças que estávamos procurando. Além disso, acho que passaram a noite no seu acampamento.
— Eu já disse: nunca vi essas crianças.
O sr. Alvo estalou a língua como uma professora dando uma bronca:
— Cigano, está lembrado do que eu prometi que faria se descobrisse que você estava mentindo? — Ele desembainhou uma faca do cinto e a encostou no rosto de Bekhir. — Isso mesmo. Prometi cortar sua língua mentirosa e dá-la de comer aos meus cães. E eu sempre cumpro minhas promessas.
Os olhos de Bekhir se fixaram no olhar vazio do sr. Alvo, encarando-o de volta. Os segundos se estendiam em um silêncio insuportável. Meus olhos estavam fixos na faca. Por fim, o sr. Alvo deu um sorriso e se levantou depressa, quebrando o encanto.
— Mas vamos por partes! — exclamou, animado, e se virou para os soldados que tinham nos escoltado até ali. — Qual de vocês está com a ave?
Os soldados se entreolharam. Um deles balançou a cabeça em negativa, depois outro.
— Não a vimos! — respondeu o que nos tomara como prisioneiros na estação.
O sorriso do sr. Alvo desapareceu.
— Você falou que eles estavam com a ave — disse, ajoelhando-se ao lado de Bekhir.
Bekhir deu de ombros.
— Aves têm asas. Vão embora quando querem.
O sr. Alvo o apunhalou na coxa. Foi um movimento rápido e sem a menor emoção: a lâmina entrou e saiu depressa. Bekhir deu um grito de surpresa e de dor e rolou para o lado, agarrando a perna enquanto o sangue começava a escorrer.
Horace desmaiou e caiu no chão. Olive levou um susto e cobriu os olhos.
— É a segunda vez que você mente para mim — ralhou o sr. Alvo, limpando a lâmina em um lenço.
O restante de nós cerrou os dentes e ficou quieto, mas percebi que Emma já estava planejando vingança, juntando as mãos às costas, deixando-as bem quentinhas.
O sr. Alvo jogou o lenço branco no chão, embainhou a faca e se levantou para nos encarar. Ele parecia sorrir, mas não era exatamente um sorriso: os olhos bem arregalados e a monocelha erguida, formando um M maiúsculo.
— Cadê sua ave? — perguntou, com a voz calma.
— Saiu voando — retrucou Emma, amargurada. — Exatamente como aquele homem disse.
Desejei que ela não tivesse respondido. Naquele momento, tive medo de que o sujeito tivesse escolhido Emma para atormentar.
O sr. Alvo foi na direção dela e disse:
— Ela estava com a asa machucada. Vocês foram vistos com a ave ontem mesmo. Ela não deve estar longe. — O sujeito pigarreou. — Vou perguntar de novo.
— Ela morreu — declarei. — Nós a jogamos em um rio.
Talvez, se eu o perturbasse mais que Emma, o sujeito esquecesse até que ela tinha falado.
O sr. Alvo deu um suspiro. Sua mão direita passou lentamente pela pistola no coldre, parou acima do cabo da faca e descansou sobre a fivela de metal do cinto. Ele baixou a voz, como se o que estivesse prestes a dizer fosse dirigido apenas a mim.
— Entendi o problema. Você acha que não há nada a ganhar sendo sincero comigo. Que vamos matar vocês não importa o que digam. Preciso que saiba que não é verdade. Entretanto, no espírito de total honestidade, vou dizer uma coisa: vocês não deviam nos ter obrigado a persegui-los. Isso foi um erro. Tudo podia ter sido muito mais fácil, mas agora está todo mundo com raiva, sabe, porque vocês nos fizeram perder muito tempo.
Ele apontou para os soldados.
— Esses homens? Eles adorariam machucar vocês. Eu, por outro lado, consigo ver as coisas do ponto de vista de vocês. Nós realmente parecemos assustadores, eu entendo. Nosso primeiro encontro, a bordo do meu submarino, foi lamentavelmente pouco civilizado. Além disso, há gerações as ymbrynes envenenam vocês com informações falsas a nosso respeito. Então, é natural que estejam sempre fugindo. Diante disso tudo, estou disposto a fazer o que creio que seja uma oferta razoável. Levem-nos à ave, e, em vez de machucá-los, nós os mandaremos para um belo lugar, onde serão muito bem cuidados. Serão alimentados todos os dias e cada um terá a própria cama... Um lugar com tanta liberdade quanto aquela fenda temporal ridícula onde passaram todos esses anos escondidos.
O sr. Alvo olhou para seus homens e deu risada.
— Dá para acreditar que eles passaram os últimos... o quê?... setenta anos?... em uma ilhota, vivendo sempre o mesmo dia? Isso é pior do que qualquer prisão que eu possa imaginar. Cooperar teria sido tão mais fácil! — Ele deu de ombros e voltou a olhar para nós. — Mas o orgulho, esse sentimento tão venenoso, subiu à cabeça de vocês. E pensar que, durante todo esse tempo, podíamos estar aliados por um bem comum!
— Aliados? — indagou Emma. — Vocês nos caçaram! Mandaram monstros para nos matar!
Droga, pensei. Fique quieta.
O sr. Alvo fez cara de cachorrinho triste.
— Monstros? — repetiu. — Isso dói. É de mim que você está falando, sabia? De mim e dos homens aqui, antes de evoluirmos. Mas vou tentar não levar para o lado pessoal. É raro a fase adolescente ser atraente, não importa a espécie. — Ele bateu palmas de repente, o que me deu um susto. — Agora, vamos ao que interessa!
Ele lançou um demorado olhar gelado para nós, como se nos examinasse em busca de alguma fraqueza. Qual seria o primeiro a ceder? Qual diria a verdade sobre o paradeiro da srta. Peregrine?
O sr. Alvo fixou os olhos em Horace, que já se recuperara do desmaio, mas ainda estava no chão, encolhido e tremendo. Ele deu um passo decidido na direção do menino, que se encolheu ao ouvir o estalido das botas do oficial.
— Levante-se, garoto.
Horace não se mexeu.
— Alguém o ponha de pé.
Um soldado o puxou com força pelo braço. Horace se encolheu diante do sr. Alvo, mantendo o olhar fixos no chão.
— Qual é o seu nome, garoto?
— Ho-Ho-Horace...
— Bem, Ho-Horace, você parece uma pessoa com extremo bom senso. Por isso, vou deixar você decidir.
O menino ergueu um pouco a cabeça.
— Decidir...?
O sr. Alvo desembainhou a faca e a apontou para os ciganos.
— Qual desses homens matar primeiro. A menos, é claro, que queira me dizer onde está a ymbryne. Aí ninguém precisa morrer.
Horace fechou bem os olhos, como se pudesse simplesmente desaparecer se desejasse com ardor.
— Ou — continuou o sr. Alvo —, se preferir não escolher um deles, posso muito bem escolher um de vocês. Prefere assim?
— Não!
— Então fale! — berrou o sr. Alvo, revelando os dentes reluzentes.
— Não diga nada a eles, syndrigasti! — gritou Bekhir.
Um dos soldados o chutou na barriga. O cigano gemeu e ficou quieto.
O sr. Alvo estendeu o braço e segurou Horace pelo queixo, tentando forçá-lo a encarar seus horríveis olhos vazios.
— Você vai me contar, não vai? É só me contar, que eu não vou precisar machucar você.
— Sim — respondeu Horace, ainda de olhos bem fechados, ainda desejando desaparecer, mas ainda ali.
— Sim o quê?
Horace suspirou, trêmulo.
— Sim, vou contar.
— Não! — gritou Emma.
Meu Deus, pensei. Ele vai entregá-la. É fraco demais. Devíamos tê-lo deixado lá com os bichos...
— Shh — sibilou o sr. Alvo no ouvido de Horace. — Não dê ouvidos a eles. Vá em frente, filho. Diga onde está aquela ave.
— Está na gaveta — respondeu Horace.
A monocelha do sr. Alvo se franziu em um emaranhado.
— Gaveta. Que gaveta?
— A mesma em que sempre fica — explicou Horace.
Ele sacudiu o menino pelo queixo e gritou:
— Que gaveta?!
Horace ia dizer alguma coisa, mas fechou a boca. Engoliu em seco. Endireitou as costas. Então abriu os olhos e encarou o sr. Alvo.
— Na gaveta de calcinhas da sua mãe — completou, e cuspiu na cara do acólito.
O sr. Alvo acertou a lateral do rosto de Horace com o cabo da faca. Olive gritou, e vários de nós nos retraímos quando o garoto caiu no chão como um saco de batatas, e moedas e passagens de trem caíram de seus bolsos.
— O que é isso? — indagou o sr. Alvo, agachando-se para investigar.
— Eu os encontrei quando estavam prestes a embarcar em um trem — explicou o soldado que nos capturara.
— E por que só está me contando isso agora?
O soldado hesitou.
— Eu pensei que...
— Não importa — interrompeu o sr. Alvo. — Interceptem o trem. Agora.
— Senhor?
O sr. Alvo olhou para a passagem, depois para o relógio.
— O trem das oito e meia faz uma longa parada em Porthmadog. Se vocês forem rápidos, o encontrarão lá. Façam uma busca de ponta a ponta, começando pela primeira classe.
O soldado bateu continência e saiu correndo.
O sr. Alvo se virou para os demais soldados.
— Revistem os outros — mandou. — Vejam se estão carregando mais alguma coisa interessante. Se eles resistirem, atirem.
Enquanto dois soldados com fuzis nos vigiavam, um terceiro revistava os bolsos de cada um de nós. Quase todos levávamos apenas migalhas e fiapos, mas o soldado achou um pente de marfim com Bronwyn.
— Por favor, isso pertencia à minha mãe! — implorou a menina, mas o homem riu e disse:
— Então ela devia ter lhe ensinado a usá-lo, sua machuda.
Enoch estava carregando um saquinho com terra de túmulo cheia de minhocas. O soldado o abriu, cheirou e jogou o conteúdo fora, enojado. Em meu bolso, ele encontrou o celular desligado. Emma viu o aparelho ser jogado no chão e olhou estranho para mim, intrigada por eu ainda guardá-lo. Horace permanecia imóvel no chão. Parecia apagado, ou apenas fingindo estar desmaiado. Então chegou a vez de Emma, mas ela não ia cooperar. Quando o soldado se aproximou, ela anunciou, irritada:
— Se encostar em mim, queimo sua mão até fazê-la cair!
— Por favor, não brinque com fogo! — disse o homem, e desandou a rir. — Desculpe, não resisti.
— Não estou brincando — retrucou Emma, tirando a mão das costas.
Estavam brilhando, vermelhas, e mesmo a um metro de distância dava para sentir o calor que emanavam.
O soldado se afastou de um pulo.
— Mãos tão quentes quanto o temperamento! — comentou. — Gosto disso em uma mulher. Mas se você me queimar, Clark vai espalhar pedacinhos do seu cérebro pela parede.
O soldado para quem ele apontou apertou o cano do fuzil contra a cabeça de Emma, que fechou bem os olhos, o peito subindo e descendo depressa, depois baixou as mãos e as cruzou às costas. Estava vibrando de raiva.
Eu também.
— Cuidado — alertou-a o soldado. — Nada de movimentos bruscos.
Cerrei os punhos enquanto o observava passar as mãos de cima a baixo nas pernas dela e, em seguida, enfiar os dedos pela gola do vestido, tudo com lentidão desnecessária e um sorriso malicioso. Eu nunca me sentira tão impotente em toda a vida, nem mesmo quando estávamos aprisionados naquela jaula.
— Ela não está carregando nada! — gritei. — Deixe-a em paz!
Fui ignorado.
— Gosto dessa aqui — anunciou o soldado, dirigindo-se ao sr. Alvo. — Acho que devíamos ficar com ela por um tempo. Por motivos... puramente científicos.
O sr. Alvo fez uma expressão de nojo.
— Você é um espécime repugnante, cabo. Mas concordo... ela é fascinante. Já tinha ouvido falar de você, sabia? — disse ele a Emma. — Daria qualquer coisa para fazer o que você faz. Se pudéssemos engarrafar essas suas mãos... — O sr. Alvo deu um sorriso estranho antes de se voltar para o soldado. — Acabe logo com isso — disse, em um tom ríspido. — Não temos o dia inteiro.
— Com prazer — respondeu o soldado e então se levantou, arrastando as mãos pelo tronco de Emma.
O que aconteceu em seguida pareceu se desenrolar em câmera lenta. Eu percebi que aquele tarado nojento estava prestes a se debruçar sobre Emma e beijá-la. Também sabia que as mãos dela, ainda para trás do corpo, estavam cobertas de chamas. Sabia no que aquilo ia dar: no instante em que os lábios do sujeito se aproximassem dela, Emma derreteria o rosto do soldado, mesmo que isso significasse levar um tiro. Ela chegara ao limite.
E eu também.
Eu me retesei, pronto para lutar. Aqueles, eu me convenci, eram nossos últimos momentos. Mas iríamos vivê-los em nossos próprios termos. Se fôssemos morrer, jurei por Deus, levaríamos alguns acólitos conosco.
O soldado a enlaçou pela cintura. O cano de outro fuzil encostou na testa dela. Emma parecia estar empurrando-o de volta, desafiando-o a atirar. Em suas costas, vi as mãos começarem a se abrir, chamas se formando em cada um dos dedos.
Lá vamos nós...
De repente... POW! Ouvimos um disparo, surpreendente e alto.
Eu travei, fiquei sem visão por um segundo.
Quando voltei a enxergar, Emma ainda estava de pé, intacta. O fuzil que estivera encostado em sua cabeça apontava para o chão, e o soldado recuara e se virara para olhar pela janela.
O tiro tinha vindo de fora.
Todos os nervos do meu corpo estavam entorpecidos, vibrando pelo efeito da adrenalina.
— O que foi isso? — indagou o sr. Alvo, correndo até a janela.
Dava para ver através do vidro acima do ombro dele. O soldado que tinha sido mandado para interceptar o trem estava parado lá fora, coberto até a cintura de flores silvestres. Estava de costas para nós, o fuzil apontado para o campo.
O sr. Alvo enfiou a mão entre as barras que cobriam a janela, para alcançar o fecho, e a abriu.
— Em que diabos você está atirando? — gritou ele. — Por que ainda está aqui?
O soldado não se moveu nem falou nada. O campo estava vibrando com o zumbido de insetos, e, por um breve intervalo, foi tudo o que ouvimos.
— Cabo Brown! — gritou o sr. Alvo.
O homem se virou devagar, sem equilíbrio. O fuzil escorregou de suas mãos e caiu na grama alta. Ele deu alguns passos cambaleantes para a frente.
O sr. Alvo sacou o revólver do coldre e o apontou para Brown.
— Diga alguma coisa, droga!
Brown abriu a boca e tentou falar, mas, em vez de sua voz, saiu um estranho ruído contínuo, ecoando do interior de suas entranhas, imitando o som que estava por toda parte nos campos ao redor.
Era o som de abelhas. Centenas, milhares delas. Depois vieram as abelhas em si. No início eram só algumas, saindo de seus lábios entreabertos. Depois, uma força do além pareceu tomar conta dele: os ombros caíram, o peito se estufou e as mandíbulas se abriram de vez. De sua boca escancarada começou a jorrar um fluxo denso de abelhas que pareciam um único objeto sólido: um tubo longo e largo feito de insetos saía infinitamente de dentro de sua garganta.
O sr. Alvo cambaleou para trás, intrigado e horrorizado.
Lá fora, no campo, o cabo Brown desmoronou em uma nuvem de insetos com ferrões. Quando seu corpo caiu, outro se revelou por trás dele.
Era um garoto.
Hugh.
Parado em uma pose desafiadora, ele encarava os homens através da janela. Os insetos voavam ao seu redor em uma grande esfera em movimento. Os campos estavam cheios deles: abelhas, vespões, vespas e outros insetos que picam que eu nunca tinha visto e dos quais nem sabia o nome — e todos pareciam estar sob o comando de Hugh.
O sr. Alvo ergueu a pistola e disparou. Esvaziou o pente.
Hugh se abaixou, desaparecendo na grama. Eu não sabia se ele tinha caído ou se jogado. Então três outros soldados correram até a janela e, enquanto Bronwyn gritava “Por favor, não o matem!”, varreram o campo a bala, enchendo nossos ouvidos com os tiros.
Então abelhas entraram na cabana. Umas dez, furiosas, atacando implacavelmente os soldados.
— Fechem a janela! — gritou o sr. Alvo, golpeando o ar em volta.
Um dos soldados fechou a janela com um baque. Todos começaram a ajudar, matando as abelhas que haviam entrado. Enquanto estavam ocupados com isso, mais e mais se reuniram do lado de fora, formando um cobertor gigante e tranquilizador que pulsava contra o outro lado do vidro. Eram tantas que, quando o sr. Alvo e seus homens haviam terminado de matar as abelhas dentro da cabana, as de fora tinham praticamente bloqueado o sol.
Os soldados se amontoaram no chão, no meio da cabana, as costas umas contra as outras, os fuzis apontados como espinhos de um ouriço. Estava escuro e quente, e o zumbido estranho de um milhão de abelhas alucinadas reverberava por todo o cômodo como algo saído de um pesadelo.
— Façam elas irem embora! — gritou o sr. Alvo, com a voz alterada, desesperado.
Como se alguém além de Hugh pudesse fazer isso... Quer dizer, se ele ainda estivesse vivo.
— Farei outra oferta — retrucou Bekhir, levantando-se com a ajuda das barras da janela, o contorno de sua silhueta encurvada pela dor esboçado no vidro escuro. — Baixem as armas ou eu abro essa janela.
O sr. Alvo se virou para encarar o homem.
— Nem um cigano seria tão burro.
— Você nos superestima — retrucou Bekhir, passando os dedos pelo trinco.
Os soldados apontaram os fuzis.
— Vão em frente — disse Bekhir. — Atirem.
— Não, vocês vão quebrar os vidros! — gritou o sr. Alvo. — Agarrem-no!
Dois dos soldados largaram os fuzis e pularam em cima de Bekhir, mas não antes que ele quebrasse o vidro com um soco.
A janela se espatifou. Abelhas entraram na cabana e o caos se instalou: gritos, tiros, empurrões... e olha que eu mal conseguia ouvir qualquer coisa que não o zumbido dos insetos, que não parecia encher apenas meus ouvidos, mas cada poro de meu corpo.
Todos lá dentro começaram a se amontoar uns sobre os outros para sair. À minha direita, vi Bronwyn empurrar Olive para o chão e cobri-la com o próprio corpo.
— Abaixem-se! — gritou Emma.
Nós nos abaixamos para nos proteger enquanto as abelhas batiam contra nossa pele, nosso cabelo... Achei que fosse morrer, que cada centímetro de meu corpo seria coberto por picadas, que acabariam provocando um curto em meu sistema nervoso.
Alguém abriu a porta com um chute. A luz entrou, forte. Uma dúzia de botas saiu pisando forte nas tábuas do assoalho.
Fiquei quieto. Aos poucos, descobri a cabeça.
As abelhas tinham ido embora. Os soldados, também.
Do lado de fora veio um coro de gritos de pânico. Levantei-me de um pulo e corri até a janela estilhaçada, onde um grupo de ciganos e de peculiares já estava amontoado, vendo o que acontecia.
A princípio não consegui ver os soldados, apenas uma massa gigante de insetos em movimento na trilha, tão densa que parecia opaca, a cerca de quinze metros à frente.
Os gritos vinham de dentro da massa de insetos.
Então, um a um, os gritos cessaram. Quando tudo estava acabado, nuvens de abelhas começaram a se afastar e a se espalhar, revelando os corpos do sr. Alvo e de seus homens. Eles jaziam na grama baixa, mortos ou quase isso.
Vinte segundos depois, os assassinos haviam desaparecido e o zumbido monstruoso se esvaía conforme os insetos voltavam para os campos. Em seu rastro, deixavam uma calma estranha e bucólica, como se fosse apenas mais um dia de verão e nada fora do comum tivesse acontecido.
Emma contou os corpos dos soldados.
— Seis. São todos eles — anunciou. — Acabou.
Eu a abracei, trêmulo de gratidão e descrença.
— Alguém está machucado? — indagou Bronwyn, olhando ao redor, preocupada.
Aqueles últimos momentos haviam sido uma loucura: incontáveis abelhas, tiros no escuro. Examinamos nosso corpo em busca de ferimentos. Horace estava tonto, mas consciente, com um filete de sangue escorrendo da têmpora. A facada em Bekhir era profunda, mas ia cicatrizar. O restante estava abalado, mas ileso; por um milagre, nem um de nós tinha sido picado.
— Quando você quebrou a janela, como sabia que as abelhas não iriam nos atacar? — perguntei a Bekhir.
— Eu não sabia — respondeu o homem. — Por sorte, o poder do seu amigo é forte.
Nosso amigo...
Emma se afastou de mim de repente.
— Ah, meu Deus! Hugh!
No meio de todo aquele caos, havíamos nos esquecido dele, que devia estar esvaindo em sangue em algum lugar da grama alta. No entanto, justo quando estávamos prestes a sair correndo para procurá-lo, Hugh apareceu na soleira da porta todo desarrumado, sujo e coberto de grama, mas sorridente.
— Hugh! — exclamou Olive, correndo na direção dele. — Você está vivo!
— Estou! — respondeu ele, satisfeito. — Vocês também estão?
— Sim, graças a você! — exclamou Bronwyn. — Três vivas para Hugh!
— Você é nosso salvador nas adversidades, Hugh! — exclamou Horace.
— Não há lugar onde eu consiga ser mais letal do que em um campo de flores silvestres — comentou Hugh, apreciando a atenção.
— Me desculpe por todas as vezes que zombei da sua peculiaridade — disse Enoch. — Acho que não é tão inútil assim.
— Além disso, gostaria de cumprimentar Hugh por ter chegado no momento mais adequado possível. Sério, se você tivesse aparecido apenas alguns segundos depois... — disse Millard.
Hugh explicou como evitara ser capturado na estação pulando no vão entre o trem e a plataforma, exatamente como eu imaginara. Ele tinha mandado uma de suas abelhas nos seguir, o que lhe permitiu nos acompanhar a uma distância segura.
— Aí foi só uma questão de descobrir a hora certa de atacar — explicou, com orgulho, como se a vitória estivesse garantida desde o momento em que decidira nos salvar.
— E se você não tivesse esbarrado em um campo cheio de abelhas? — indagou Enoch.
Hugh tirou algo do bolso e ergueu a mão para nos mostrar o que era: um ovo de galinha peculiar.
— Plano B.
Bekhir foi mancando até Hugh e apertou sua mão.
— Rapaz, nós lhe devemos nossas vidas.
— E o seu menino peculiar? — perguntou Millard a Bekhir.
— Ele conseguiu escapar com dois de meus homens, graças a Deus. Perdemos três belos animais, mas nenhuma pessoa. — Bekhir fez uma reverência para Hugh, e por um momento achei que ele pegaria a mão do menino para beijá-la. — Vocês precisam permitir que façamos algo para recompensá-los!
Hugh enrubesceu.
— Não precisa, eu garanto...
— Também não há tempo — interveio Emma, afastando Hugh da porta. — Precisamos pegar o trem!
Os peculiares que ainda não tinham percebido que a srta. Peregrine sumira empalideceram.
— Vamos pegar o jipe deles — sugeriu Millard. — Com sorte, se o acólito estivesse certo, conseguiremos pegar o trem na parada em Porthmadog.
— Eu conheço um atalho — anunciou Bekhir, e desenhou na terra, com o sapato, um mapa simples.
Agradecemos aos ciganos. Eu disse a Bekhir que sentíamos muito por todo o problema que havíamos causado, ao que ele soltou uma gargalhada estrondosa e, da trilha, acenou em despedida.
— Vamos nos encontrar outra vez, syndrigasti. Tenho certeza.
***
Todos nos amontoamos no jipe dos acólitos, oito crianças e adolescentes apertados como sardinhas em lata em um veículo para apenas três pessoas. Como eu era o único que já dirigira, assumi o volante. Demorei muito para aprender a ligar a maldita coisa, até descobrir que não era com chave, e sim apertando um botão no chão — sem contar o problema da troca de marchas. Eu tinha dirigido carros com câmbio manual poucas vezes, e sempre com meu pai me ajudando, no banco do carona. No entanto, apesar de tudo, depois de um ou dois minutos estávamos, aos solavancos e em um ritmo meio hesitante, seguindo o caminho.
Pisei fundo e dirigi o mais depressa que o jipe sobrecarregado permitia, enquanto Millard gritava instruções e todo mundo se segurava para não cair e se manter vivo. Chegamos à cidade de Porthmadog vinte minutos depois, com o apito do trem soando enquanto descíamos correndo pela rua principal em direção à estação. Paramos com uma freada brusca em frente a área de embarque e saímos aos tropeções. Nem me dei ao trabalho de desligar o motor. Correndo pela estação como guepardos atrás de uma gazela, subimos a bordo do último vagão justamente quando ele estava saindo.
Paramos no corredor, arfando e sem conseguir ficar em pé direito, enquanto passageiros surpresos fingiam não prestar atenção. Suados, sujos e descabelados, devíamos ser uma imagem e tanto.
— Conseguimos. — Emma arfava. — Não acredito que conseguimos.
— Não acredito que dirigi um carro com câmbio manual — comentei.
O condutor apareceu.
— Vocês voltaram — disse, com um suspiro aborrecido. — Espero que estejam com as passagens.
Horace sacou o maço de bilhetes do bolso.
— A cabine de vocês é por aqui — anunciou o condutor.
— Nosso baú! — exclamou Bronwyn, segurando o cotovelo do condutor. — Ainda está lá?
O condutor se soltou.
— Tentei levá-lo para os achados e perdidos. Não consegui mover aquela coisa nem um centímetro.
Corremos de vagão em vagão até chegar à cabine da primeira classe, onde encontramos o baú de Bronwyn exatamente onde ela o deixara. Bronwyn correu e abriu os trincos, depois a tampa.
A srta. Peregrine não estava lá dentro.
Tive um pequeno ataque cardíaco.
— Minha ave! — exclamou Bronwyn. — Onde está minha ave?!
— Acalme-se, está bem aqui — respondeu o condutor, e apontou para cima de nossas cabeças. A srta. Peregrine estava empoleirada em um bagageiro, dormindo pesadamente.
Bronwyn foi até a parede, andando de costas. Estava tão aliviada que quase desmaiou.
— Como ela chegou lá em cima? — perguntou-se ela.
O condutor ergueu a sobrancelha.
— É um brinquedo muito realista. — Ele se virou, foi até a porta, parou e disse: — Por falar nisso, onde consigo um desses? Minha filha ia adorar.
— Infelizmente, é uma peça única — respondeu Bronwyn, então pegou a srta. Peregrine e a abraçou junto ao peito.
***
Depois de tudo pelo que havíamos passado nos últimos dias — sem falar nas últimas horas —, o luxo de uma cabine de primeira classe foi um choque para nós. Nosso vagão tinha sofás estofados em couro, uma mesa de jantar e janelas panorâmicas. Parecia a sala de estar de um homem muito rico, e era toda nossa.
Nós nos revezamos para nos lavar no banheiro de painéis de madeira, depois analisamos o cardápio do jantar.
— Peçam o que quiserem — disse Enoch, pegando um telefone preso ao braço de uma poltrona reclinável. — Alô, têm patê de fígado de ganso? Eu gostaria de tudo. Sim, tudo o que tiverem. E torradas cortadas em triângulo.
Ninguém falou sobre o que acontecera. Tinha sido demais, horrível demais, e por enquanto só queríamos nos recuperar e esquecer aquilo tudo. Havia muito a ser feito, muitos perigos a serem enfrentados.
Todos nos acomodamos para a viagem. Lá fora, as casinhas de Porthmadog iam diminuindo, e a montanha da srta. Wren surgiu ao longe, erguendo-se cinzenta acima das colinas. Enquanto os outros se distraíam com conversas, meu nariz permaneceu colado à janela e ao mundo de 1940 que se desenrolava lá fora — até pouco antes, aquela época era apenas algo pequeno em minha experiência, do tamanho de uma ilhota, um lugar que eu podia deixar a qualquer momento, bastaria passar pelas entranhas escuras do túmulo pré-histórico de Cairnholm. Porém, desde que tinha deixado a ilha, ele se transformara em um mundo, um mundo inteiro de florestas pantanosas, cidadezinhas coroadas de fumaça, vales cruzados por rios cintilantes e pessoas e coisas que pareciam velhas mas ainda não eram — como objetos cenográficos e figurantes em algum filme de época bem-produzido, mas sem roteiro, tudo passando sem parar pela janela, como um sonho sem fim.
Eu adormecia e despertava, adormecia e despertava, hipnotizado pelo ritmo do trem, em um estado semiconsciente em que era fácil esquecer que eu não me resumia a um espectador passivo, que minha janela era mais que apenas uma tela de cinema, que lá fora era exatamente tão real quanto ali dentro. Então, lentamente, eu me lembrei de como me tornara parte daquilo: meu avô, a ilha, as crianças. A garota bonita de olhos cinzentos ao meu lado, com a mão sobre a minha.
— Estou mesmo aqui? — perguntei.
— Volte a dormir — disse ela.
— Você acha que vai dar tudo certo?
Ela me deu um beijo na ponta do nariz.
— Volte a dormir.
CAPÍTULO SETE
Mais pesadelos terríveis, todos misturados, um se mesclando ao outro. Fragmentos dos horrores dos últimos dias: o olho de aço de um cano de fuzil me olhando bem de perto; uma estrada cheia de cavalos mortos; as línguas de um etéreo tentando me pegar através do abismo; aquele acólito horrível sorrindo, olhos vazios.
Depois, isto: sonho que estou de volta em casa, mas sou um fantasma. Avanço meio que deslizando pela rua onde morava, passo pela porta, entro em casa. Vejo meu pai dormindo na mesa da cozinha com um telefone sem fio agarrado ao peito.
Não estou morto, digo, mas as palavras não saem.
Encontro minha mãe sentada na beira da cama, ainda de pijama, encarando a tarde pálida pela janela. Está magra e esgotada de tanto chorar. Estendo a mão para tocar seu ombro, mas ela atravessa meu braço.
Então estou em meu próprio funeral, olhando de dentro do túmulo para um retângulo de céu cinzento.
Meus três tios olham para baixo, o pescoço gordo querendo sair do colarinho branco engomado.
Tio Les: Que pena. Não é?
Tio Jack: Sinto muita pena de Frank e Maryann.
Tio Les: É. O que as pessoas vão pensar?
Tio Bobby: Vão achar que o garoto pirou. E pirou mesmo.
Tio Jack: Mas eu sabia. Sabia que um dia ele ia fazer uma coisa dessas. Ele tinha aquele jeito, sabe? Só um pouco...
Tio Bobby: Pirado.
Tio Les: Isso vem do lado da família do pai, não do nosso.
Tio Jack: Mesmo assim. É terrível.
Tio Bobby: É.
Tio Jack: ...
Tio Les: ...
Tio Bobby: Vamos comer?
Meus tios se afastam. Ricky se aproxima, o cabelo verde ainda mais espetado para a ocasião.
Ei, cara, agora que você morreu, posso ficar com a sua bicicleta?
Tento gritar: Eu não estou morto!
Só estou longe
Sinto muito
Mas as palavras ecoam de volta para mim, presas em minha cabeça.
O pastor olha para baixo. É Golan, com uma Bíblia na mão, de batina. Ele sorri.
Estamos à sua espera, Jacob.
Uma pá de terra é jogada sobre mim.
Estamos à sua espera.
***
Eu me sentei de uma vez, repentinamente desperto, a boca seca como papel. Emma estava ao meu lado, com as mãos em meus ombros.
— Jacob! Graças a Deus... você nos deu um susto!
— Dei?
— Você estava tendo um pesadelo — explicou Millard, sentado à nossa frente, parecendo um terno vazio engomado, naquela posição. — E também estava falando dormindo.
— Estava?
Emma limpou o suor da minha testa com um dos guardanapos da primeira classe. (Tecido de verdade!)
— Sim — respondeu. — Mas pareciam palavras sem sentido. Eu não entendi nada.
Olhei ao redor, envergonhado, porém ninguém mais parecia ter notado. Os outros estavam espalhados pelo vagão, cochilando, sonhando acordados enquanto olhavam pela janela ou jogando cartas.
Eu esperava, sinceramente, que não estivesse começando a surtar.
— Você costuma ter pesadelos? — perguntou Millard. — Devia descrevê-los para Horace. Ele é bom em extrair significados ocultos de sonhos.
Emma acariciou meu braço.
— Tem certeza de que está bem?
— Tenho — respondi, e, como não gosto de ser o centro das atenções, mudei de assunto. Ao ver que Millard estava com o livro Contos peculiares aberto no colo, perguntei: — Lendo um pouco?
— Estudando — respondeu ele. — E pensar que antes eu desprezava esses contos, por serem apenas histórias para crianças. Na verdade, são extraordinariamente complexos, chegam a ser cheios de artimanhas, pois escondem informações secretas sobre o mundo peculiar. Eu precisaria de anos para decifrar tudo.
— Mas em que isso pode nos ajudar? — indagou Emma. — De que adiantam as fendas temporais se elas podem ser invadidas por etéreos? Até as secretas descritas nesse livro acabarão sendo encontradas.
— Talvez aquela tenha sido a única fenda invadida — sugeri, esperançoso. — Talvez o etéreo na fenda da srta. Wren fosse uma espécie de exceção.
— Um etéreo peculiar! — exclamou Millard. — Isso não é nada engraçado. Ele não era um acidente. Tenho certeza de que aqueles etéreos melhorados foram parte importante do ataque às fendas.
— Mas como? — indagou Emma. — O que mudou nos etéreos para agora conseguirem entrar nas fendas?
— Tenho pensado muito nisso — disse Millard. — Não sabemos muito sobre etéreos, nunca tivemos chance de examinar um deles em um ambiente controlado. No entanto, considera-se que, como os normais, eles não possuem algo que você, eu e todo mundo neste vagão de trem possui: alguma peculiaridade essencial, que é o que permite nossa interação com as fendas temporais, nossa conexão com elas, que sejamos absorvidos.
— Como uma chave — comentei.
— Algo do tipo — concordou Millard. — Alguns acreditam que, tal como o sangue ou o líquido cerebrospinal, nossa peculiaridade tem substância física. Outros acham que está dentro de nós, mas é intangível. Uma segunda alma.
— Hmm — foi minha resposta.
Eu gostava dessa ideia: de que a peculiaridade não era uma deficiência, mas algo a mais. A explicação não era que não tivéssemos algo que os normais tinham, eles é que não possuíam peculiaridade. Nós éramos mais, e não menos.
— Odeio essa conversa maluca — comentou Emma. — Essa ideia de poder capturar a segunda alma em um vidro? Isso me dá arrepios.
— Mesmo assim, ao longo dos anos foram feitas muitas tentativas de conseguir exatamente isso — retrucou Millard. — O que aquele soldado acólito disse a você, Emma? “Se eu pudesse engarrafar suas mãos” ou algo parecido, não foi?
Emma deu de ombros.
— Nem me lembre disso.
— De acordo com a teoria, se sua essência peculiar pudesse ser destilada e capturada em uma garrafa, como ele disse, ou, mais provavelmente, em uma placa de Petri, talvez essa essência pudesse ser transferida de um ser para outro. Se isso fosse possível, imagine como seria o mercado negro de almas peculiares entre os ricos e inescrupulosos. Peculiaridades como as suas chamas ou a força de Bronwyn seriam vendidas para quem pagasse mais!
— Isso é horrível — comentei.
— A maioria dos peculiares concorda com você — disse Millard. — É por isso que esse tipo de pesquisa foi proibida, muitos anos atrás.
— Como se os acólitos ligassem para nossas leis — retrucou Emma.
— Mas toda a ideia parece maluca — comentei. — Não funcionaria de verdade, não é?
— Eu achava que não — respondeu Millard. — Pelo menos até ontem. Agora, não tenho tanta certeza.
— Por causa do etéreo na fenda temporal dos bichos?
— É. Antes disso, eu não sabia nem se acreditava em uma “segunda alma”. Na minha cabeça, havia apenas um forte argumento a favor da existência disso: quando um etéreo consome o suficiente de nós, ele se transforma em uma criatura completamente diferente, de um tipo que consegue viajar pelas fendas temporais.
— Ele se torna um acólito — falei.
— Sim. Mas só se consumir peculiares. Ele pode devorar quantos normais quiser que nunca vai se transformar em acólito. Por isso, devemos ter alguma coisa que os normais não têm.
— Mas aquele etéreo lá na fenda dos bichos não tinha virado acólito — interveio Emma. — Ele se transformou em um etéreo capaz de entrar em fendas.
— O que me faz pensar se os acólitos não andaram alterando a natureza — explicou Millard. — Em relação à transferência de almas peculiares.
— Não quero nem pensar nisso — disse Emma. — Podemos, por favor, por favor, falar sobre outra coisa?
— Mas onde eles conseguiriam as almas? — perguntei. — E como?
— Chega, vou sentar em outro lugar! — exclamou Emma, levantando-se para procurar outro assento.
Millard e eu ficamos em silêncio por um tempo. Eu não conseguia parar de imaginar como seria ficar preso a uma mesa enquanto uma junta de médicos do mal removia minha alma. Como fariam isso? Com uma agulha? Uma faca?
Para sair daqueles trilhos de pensamento mórbido, tentei mudar de assunto outra vez:
— Millard, para começo de conversa, como é que nós viramos peculiares? — perguntei.
— Ninguém sabe ao certo — respondeu ele. — Mas há lendas.
— Como o quê?
— Algumas pessoas acreditam que somos descendentes de um pequeno grupo de peculiares que viveu há muito, muito tempo — explicou. — Eles eram muito poderosos e enormes, como o gigante de pedra que encontramos.
— Então por que somos tão pequenos se antes éramos gigantes? — perguntei.
— Segundo a história, com o passar dos anos, à medida que nos multiplicamos, nosso poder se diluiu. Conforme ficamos menos poderosos, também ficamos menores.
— Essa é difícil de engolir — comentei. — Eu me sinto tão poderoso quanto uma formiga.
— Na verdade, as formigas são muito poderosas, considerando o tamanho que têm.
— Você entendeu — retruquei. — Mas o que eu não consigo compreender é: por que eu? Eu nunca pedi para ser assim. Quem decidiu isso?
Era uma pergunta retórica. Na verdade, eu não esperava resposta, mas Millard respondeu mesmo assim:
— Para citar um peculiar famoso: “Um novo mistério reside na essência do mistério da natureza.”
— Quem disse isso?
— Nós o conhecemos como Perplexus Anomalous. Um nome provavelmente inventado para um grande pensador e filósofo. Perplexus também era cartógrafo. Ele desenhou a primeira edição do Mapa dos dias, mais de mil anos atrás.
Dei risada.
— Você às vezes fala como um professor. Alguém já lhe disse isso?
— Sempre dizem — respondeu Millard. — Eu adoraria tentar seguir carreira. Se não tivesse nascido assim.
— Você seria um excelente professor.
— Obrigado — respondeu ele.
Então ficamos em silêncio. E, no silêncio, senti que ele sonhava com aquilo. Com cenas de uma vida que poderia ter sido. Depois de algum tempo, Millard falou:
— Não quero que pense que não gosto de ser invisível. Eu gosto. Adoro ser peculiar, Jacob, é a essência do que sou. Mas tem dias em que eu gostaria de poder desligar essa habilidade.
— Entendo — respondi.
Mas é claro que não entendia. Minha peculiaridade tinha seus desafios, só que eu ao menos podia fazer parte da sociedade.
A porta da cabine se abriu. Millard ergueu o capuz do casaco depressa, ocultando o rosto — ou melhor, a aparente falta de rosto.
Uma jovem estava parada à porta. Ela vestia uniforme e tinha uma caixa com produtos à venda.
— Cigarros? — perguntou ela. — Chocolate?
— Não, obrigado — respondi.
Ela olhou para mim.
— Você é americano.
— Sou, sim.
Ela sorriu com pena.
— Espero que esteja fazendo boa viagem. Você escolheu um período estranho para visitar a Grã-Bretanha.
Eu ri.
— É, já me disseram isso.
Ela foi embora. Millard girou o corpo para vê-la partir.
— Bonita — comentou, com a voz distante.
Só então me ocorreu que fazia muito tempo que Millard não via nenhuma garota além daquelas poucas que moravam em Cairnholm. Mas, afinal, que chance alguém como ele teria com uma garota normal?
— Não olhe desse jeito para mim — reclamou ele.
Não tinha reparado que estava olhando para ele de um modo diferente.
— De que jeito?
— Como se estivesse com pena.
— Não estou com pena — respondi.
Mas estava.
Então Millard se levantou e tirou o casaco, desaparecendo. Fiquei um bom tempo sem vê-lo.
***
As horas se passaram e as crianças se ocuparam com histórias. Histórias sobre peculiares famosos e sobre a srta. Peregrine, nos dias estranhos e iniciais da fenda temporal. Por fim, acabaram contando as próprias histórias. Algumas eu já tinha ouvido — como Enoch levantara os mortos na casa funerária do pai e como Bronwyn, na tenra idade dos dez anos, sem querer quebrara o pescoço do padrasto que a maltratava —, mas outras eram novidade para mim. Por mais velhas que fossem, não era comum elas caírem em ondas de nostalgia.
Os sonhos de Horace haviam começado quando ele tinha apenas seis anos, mas o menino só se deu conta de que antevia acontecimentos reais dois anos depois, quando sonhou com o naufrágio do Lusitania e, no dia seguinte, soube do ocorrido ao ouvir no rádio. Desde pequeno, Hugh amava mel mais do que qualquer outro alimento, e aos cinco anos começou a comer os favos junto, tão depressa que, na primeira vez que engoliu uma abelha, não percebeu até senti-la zumbindo no estômago.
— A abelha não parecia se importar nem um pouco — comentou. — Então não liguei e voltei a comer. Logo tinha uma colmeia inteira lá dentro.
Quando as abelhas precisavam polinizar, ele saía em busca de um campo florido. Foi em um deles que conheceu Fiona, dormindo entre as flores.
Hugh também contou a história dela. Fiona era uma refugiada da Irlanda, onde fez crescer alimentos para o povo de seu vilarejo durante a fome dos anos 1840, até ser acusada de bruxaria e expulsa. Hugh só descobriu isso depois de anos de comunicação sutil e não verbal. Mas não era que Fiona não pudesse falar, explicou Hugh:
— Era porque o que ela testemunhou durante a fome foi tão horrível que lhe roubou a voz.
Então foi a vez de Emma, mas ela não tinha a menor vontade de contar sua história.
— Por que não? — choramingou Olive. — Ah, vai, conta de quando você descobriu que era peculiar.
— Foi há muito tempo — murmurou ela. — Não tem importância. E não é melhor pensarmos no futuro, em vez de nos ocuparmos com o passado?
— Lá vai a estraga-prazeres — reclamou Olive.
Emma se levantou e se afastou, seguindo para o fundo do vagão, onde ninguém a aborreceria. Deixei que um ou dois minutos se passassem, para que ela não se sentisse sufocada, e fui me sentar ao seu lado. Emma me viu chegar e se escondeu atrás de um jornal, fingindo ler.
— Porque eu não quero discutir esse assunto — resmungou, por trás do jornal. — É isso!
— Eu não disse nada.
— É, mas ia perguntar, então poupei seu trabalho.
— Só para ser justo, vou contar algo sobre mim primeiro — falei.
Emma espiou por cima do jornal, um pouco intrigada.
— Mas eu já não sei tudo sobre você?
— Ah, não mesmo — respondi.
— Está bem, então me conte três coisas sobre você que eu não saiba. Só valem segredos sombrios, hein. Rápido!
Vasculhei o cérebro em busca de fatos interessantes sobre mim, mas só encontrei situações embaraçosas.
— Está bem, aqui vai um: quando eu era pequeno, era muito sensível às cenas de violência na TV. Não entendia que aquilo não era real. Mesmo se fosse só um rato de desenho animado dando um soco em um gato, eu começava a chorar.
Emma baixou um pouco o jornal.
— Abençoada seja sua alma ingênua! — exclamou. — E veja como está agora... empalando criaturas bem entre os olhos ocos do monstro.
— Segunda — continuei. — Eu nasci na noite de Halloween, e, até completar oito anos, meus pais me convenceram de que os doces que as pessoas distribuíam quando eu ia à casa delas eram presentes de aniversário.
— Hmm — murmurou Emma, baixando um pouco mais o jornal. — Isso não foi lá muito sombrio. Mas pode continuar.
— Terceira. Quando nos conhecemos, eu estava convencido de que você ia cortar o meu pescoço. Mas, por mais medo que eu tivesse, uma voz na minha cabeça dizia: Se esse é o último rosto que você vai ver, pelo menos vai ser um rosto bonito.
O jornal caiu no colo dela.
— Jacob, isso é... — Ela olhou para o chão, depois pela janela, depois para mim outra vez. — Que coisa mais fofa de se dizer.
— E é verdade — retruquei, e estendi a mão para alcançar a mão de Emma na outra poltrona. — Pronto, agora é sua vez.
— Não estou tentando esconder nada, você sabe. É que essas histórias antigas me fazem sentir como se eu tivesse dez anos outra vez, além de rejeitada. Isso não passa nunca, não importa quantos dias mágicos de verão eu tenha vivido desde então.
Emma ainda carregava aquela dor forte, mesmo tantos anos depois.
— Quero conhecer você — falei. — Quem é você, de onde é... Só isso.
Ela pareceu desconfortável.
— Nunca contei a você sobre meus pais?
— Tudo o que sei, quem me contou foi Golan, naquela noite no frigorífico. Ele disse que deram você para um circo.
— Não foi bem assim. — Emma afundou no assento, a voz se reduzindo a um murmúrio: — Acho que é melhor você saber a verdade do que ouvir esses rumores e especulações. Então lá vai: comecei a manifestar meu poder com apenas dez anos. Primeiro eu só botava fogo na cama enquanto dormia, até que meus pais tiraram todos os lençóis e me puseram para dormir em uma cama de armar de metal, em um quarto vazio e sem nada inflamável por perto. Eles achavam que eu era piromaníaca e mentirosa e que o fato de eu nunca me queimar era prova disso. Mas eu não me queimava, algo que nem eu sabia. Eu tinha dez anos, não sabia nada! É muito assustador, se manifestar sem saber o que está acontecendo, apesar de ser um medo que quase todas as crianças peculiares experimentam, já que pouquíssimas são filhas de pais peculiares.
— Imagino — comentei.
— De acordo com todo mundo, um dia eu era totalmente comum e no seguinte comecei a sentir uma coceira na palma das mãos. Elas ficaram vermelhas, inchadas e quentes, tão quentes que eu corri até a mercearia e as enfiei em uma caixa de bacalhau congelado! Quando os peixes começaram a derreter e a feder, o dono da mercearia me perseguiu até em casa e exigiu que minha mãe pagasse por tudo o que eu havia estragado. A essa altura, minhas mãos estavam queimando. O gelo só tinha piorado a situação! Finalmente, elas pegaram fogo, e eu tinha certeza de que estava completamente louca.
— E o que os seus pais acharam? — perguntei.
— Minha mãe, que era muito supersticiosa, fugiu de casa e nunca mais voltou. Ela achava que eu era um demônio vindo do inferno pelo seu útero. Meu pai teve uma reação diferente: me bateu e me trancou no quarto. Quando tentei sair queimando um buraco na porta, ele me amarrou com folhas de amianto. Ele me manteve assim por dias, me dando comida na boca de vez em quando, já que não confiava em mim o suficiente para me desamarrar. O que foi bom para ele, porque, no momento em que me soltasse, eu o queimaria até virar carvão.
— E era o que você devia ter feito — comentei.
— Que bom que você pensa assim. Mas não teria adiantado muito. Meus pais eram pessoas horríveis, mas, se não tivessem sido, se eu tivesse ficado muito mais tempo com eles, não tenho dúvida de que os etéreos teriam me encontrado. Devo minha vida a duas pessoas: minha irmã mais nova, Julia, que uma noite me libertou, para que finalmente eu pudesse fugir; e à srta. Peregrine, que me descobriu um mês depois, em um circo itinerante, onde eu fazia números de engolir fogo. — Emma deu um sorriso nostálgico. — Considero o dia em que a conheci como o meu aniversário. O dia em que conheci minha verdadeira mãe.
Senti um calor no coração.
— Obrigado por me contar — falei.
Ouvir a história de Emma me deixou mais próximo dela e menos sozinho em minha própria confusão. Todo peculiar passara por um período de sofrimento e incerteza. Todo peculiar fora testado. A grande diferença entre nós era que meus pais ainda me amavam e, apesar dos nossos problemas, eu também os amava, do meu jeito. A ideia de que eu os estava magoando era um sofrimento constante.
O que eu devia a eles? Como isso podia ser comparado à dívida que eu tinha com a srta. Peregrine, à obrigação com meu avô ou ao sentimento terno e forte que eu tinha por Emma — algo que parecia ficar mais forte a cada vez que eu olhava para ela?
A balança sempre pendia para o último. No futuro, porém, se eu sobrevivesse àquilo tudo, gostaria de encarar a decisão que tomara e a dor que causara.
Se.
O se sempre levava meus pensamentos de volta ao presente, porque ele dependia muito de manter as faculdades mentais em ordem. Eu não podia sentir as coisas se estivesse distraído. O se exigia toda a minha presença e participação naquele momento.
O se, por mais que me assustasse, também mantinha minha sanidade.
Londres se aproximava. Vilarejos davam lugar a cidadezinhas, que davam lugar a trechos intermináveis de subúrbios. Eu imaginava o que estaria à nossa espera, que novos horrores encontraríamos adiante.
Olhei para a manchete do jornal ainda aberto no colo de Emma: ATAQUES AÉREOS ATINGEM A CAPITAL, FAZENDO CENTENAS DE MORTOS.
Fechei os olhos e tentei não pensar.
PARTE
DOIS
Se alguém estivesse olhando para o trem das oito e meia que entrou fumegando na estação e parou exalando vapor, não teria percebido nada fora do comum: nada de estranho nos condutores e carregadores que destravavam os trincos e abriam as portas com dificuldade; nada de diferente na massa de homens e mulheres, alguns em uniformes militares, que saíam em uma torrente e desapareciam na multidão agitada — nem nada extraordinário nas oito crianças exaustas que desembarcaram de um dos vagões da primeira classe e ficaram paradas, piscando sob a luz atordoante da plataforma, de costas umas para as outras em um círculo defensivo, atônitas ante a catedral de ruídos e fumaça na qual se encontravam.
Em um dia comum, qualquer grupo de crianças de aparência tão perdida e desamparada quanto aquele seria abordado por um adulto bondoso querendo saber se estavam com algum problema, se precisavam de ajuda ou onde estavam seus pais. No entanto, naquele dia havia centenas de crianças na plataforma, todas com aparência perdida e desamparada. Por isso, ninguém deu muita atenção à menininha de cabelo castanho comprido e sapatos de botão — nem ao fato de que os sapatos não tocavam o chão. Ninguém reparou no garoto de rosto redondo e boina, muito menos na abelha que saiu de sua boca, sentiu o ar cheio de fuligem e fez o caminho de volta.
Nenhum olhar se demorou sobre o garoto com olheiras profundas ou notou o homem de barro que espiava do bolso de sua camisa apenas para ser empurrado de volta para dentro pelo dedo do garoto. E também passou despercebido o menino elegante em um terno enlameado mas muito bem-cortado e uma cartola amassada, com o rosto abatido e cansado pela falta de sono, pois não se permitia dormir havia alguns dias de tanto medo que sentia de seus sonhos.
Ninguém olhou com atenção para a garota enorme de casaco e vestido simples que tinha a constituição de uma pilha de tijolos e trazia, preso às costas, um baú de viagem quase tão grande quanto ela própria. Nenhuma pessoa que a viu poderia imaginar como aquele baú estava absurdamente pesado, muito menos o que ele continha ou por que havia pequenos furos em uma das laterais. Ao lado dela, completamente despercebido, seguia um rapaz tão enrolado em cachecóis e em um casaco com capuz que não dava para ver sequer um centímetro de sua pele, apesar de ser início de setembro e o clima ainda estar quente.
E havia também o garoto americano, de aparência tão comum que mal chamava atenção: parecia tão normal que os olhos da multidão passavam direto por ele, mesmo enquanto ele as analisava, na ponta dos pés, girando a cabeça, o olhar varrendo a plataforma como uma sentinela. A garota a seu lado estava com as mãos unidas, escondendo um fiapo de chama que espiralava teimosamente ao redor da unha do mindinho, o que às vezes acontecia quando ela estava preocupada. Ela tentou sacudir o dedo, como se faz para apagar um fósforo, depois o soprou. Como não funcionou, ela o enfiou na boca e soltou uma espiral de fumaça pelo nariz. Ninguém viu.
Na verdade, ninguém olhou direito para as crianças do vagão da primeira classe do trem das oito e meia, não o suficiente para perceber qualquer coisa peculiar nelas, e isso era ótimo.
CAPÍTULO OITO
Emma me cutucou.
— E aí?
— Só mais um minuto — respondi.
Eu estava de pé em cima do baú, com a cabeça acima da multidão, observando a superfície do mar revolto de rostos. A extensa plataforma estava cheia de crianças, que se remexiam como amebas em um microscópio, fileira atrás de fileira desaparecendo em uma nuvem de fumaça. Trens negros sibilantes se assomavam dos dois lados, ansiosos para engoli-las.
Eu sentia os olhares de meus amigos fixos em minhas costas, me observando enquanto eu examinava a multidão. Eu deveria descobrir se em algum lugar daquela massa enorme e turbulenta havia monstros querendo nos matar. Eu deveria saber só de olhar, interpretando alguma sensação indefinida no estômago. Em geral, era doloroso e óbvio quando havia um etéreo por perto, mas, em um espaço gigante como aquele, em meio a centenas de pessoas, o alerta poderia ser apenas um sussurro, uma leve pontada, que poderia passar despercebida facilmente.
— Os acólitos sabem que estamos vindo? — perguntou Bronwyn, falando baixo por medo de ser ouvida por um normal, ou pior: por um acólito. Eles tinham ouvidos em todos os lugares na cidade, ou pelo menos era o que tínhamos sido levados a acreditar.
— Matamos todos os que podiam saber para onde estávamos indo — disse Hugh, com orgulho. — Ou melhor, eu matei.
— O que significa que vão procurar ainda mais por nós — retrucou Millard. — E agora vão querer mais ainda que a ave... Vão querer vingança.
— É por isso que não podemos ficar mais tempo aqui — interveio Emma, e me deu um tapinha na perna. — Você está acabando?
Perdi a concentração. Me distraí na multidão. Comecei de novo.
— Só mais um minuto — respondi.
Pessoalmente, não eram os acólitos o que mais me preocupava, mas os etéreos. Àquela altura, eu matara dois deles, e cada encontro quase fora meu fim. Minha sorte, se é que era isso que me mantivera vivo até então, devia estar acabando. Por isso, eu estava determinado a nunca mais ser surpreendido por um deles. Faria tudo o que estivesse ao meu alcance para senti-los à distância e evitar contato. Havia menos glória em fugir de uma briga, claro, mas eu não me importava com isso. Só queria sobreviver.
Sendo assim, o verdadeiro perigo não eram as pessoas na plataforma, mas as sombras entre elas e atrás delas, a escuridão à margem. Era nessas partes que eu concentrava a atenção. Projetar meu sentido sobre uma multidão dessa forma me dava uma sensação extracorpórea. Eu estava procurando vestígios de perigo em cantos distantes, algo que não poderia ter feito alguns dias antes. Essa habilidade para direcionar a Sensação como um facho de luz era novidade para mim.
O que mais falta descobrir sobre mim mesmo?, eu me perguntei.
— Está tudo bem — anunciei, descendo do baú. — Nada de etéreos.
— Até eu podia ter dito isso — resmungou Enoch. — Se tivesse algum, já teria nos devorado!
Emma me puxou para o lado.
— Se queremos uma chance de vitória, você precisa ser mais rápido.
Aquilo era como chamar alguém que acabara de aprender a nadar para competir nas Olimpíadas.
— Estou fazendo o melhor que posso — respondi.
Emma assentiu.
— Eu sei. — Ela se virou para os outros e estalou os dedos, pedindo atenção. — Vamos na direção daquela cabine telefônica — disse, apontando para uma cabine alta e vermelha do outro lado da plataforma, não muito visível por causa da multidão em movimento.
— Para quem vamos ligar? — perguntou Hugh.
— O cão peculiar disse que todas as fendas de Londres foram atacadas e que as ymbrynes foram sequestradas — explicou Emma. — Mas não podemos achar que tudo o que ele disse é verdade, não é mesmo?
— Dá para ligar para uma fenda temporal? — perguntei, completamente atônito. — Pelo telefone?
Millard explicou que o Conselho de Ymbrynes mantinha um serviço telefônico, embora só pudesse ser usado nos limites da cidade.
— É muito engenhoso o modo como funciona, considerando as diferenças de tempo — disse ele. — Só porque vivemos em fendas temporais não significa que estamos condenados à Idade da Pedra!
Emma me deu a mão e pediu que os outros fizessem o mesmo.
— Ficarmos juntos é fundamental — explicou. — Londres é imensa, e aqui não há achados e perdidos de crianças peculiares.
Abrimos caminho de mãos dadas pela multidão. Nossa fila ia formando uma parábola sobre a qual Olive flutuava, como uma astronauta caminhando na Lua.
— Você está emagrecendo? — perguntou Bronwyn a ela. — Precisa de sapatos mais pesados, codorninha.
— Fico muito leve quando não como direito — explicou Olive.
— Comer direito? Acabamos de comer como reis!
— Eu não — retrucou Olive. — Não tinha bolo de carne.
— Você é muito exigente para uma refugiada — reclamou Enoch. — Enfim: como Horace desperdiçou todo o nosso dinheiro, o único jeito de conseguirmos mais comida é se roubarmos ou encontrarmos uma ymbryne que não tenha sido raptada, para ela cozinhar.
— Ainda temos dinheiro — respondeu Horace, na defensiva, fazendo as moedas em seu bolso tilintarem. — Talvez não o suficiente para bolo de carne. Quem sabe dê para comprar uma batata assada.
— Se eu comer mais uma batata assada, vou virar uma batata — reclamou Olive.
— Isso é impossível, querida — disse Bronwyn.
— Por quê? A srta. Peregrine se transforma em ave!
Um garoto pelo qual passamos se virou para nos encarar. Bronwyn, irritada, fez um barulho para que Olive se calasse. Contar nossos segredos na frente de normais era terminantemente proibido, mesmo que soassem tão fantásticos que ninguém acreditasse.
Forçamos caminho pela última aglomeração de crianças e chegamos à cabine telefônica. Só cabiam três pessoas, então Emma, Millard e Horace se apertaram lá dentro, enquanto nos aglomerávamos perto da porta. Emma pegou o telefone, Horace pescou as últimas moedas do bolso, e Millard folheou uma lista telefônica grossa, presa em uma corrente.
— Vocês estão de brincadeira... — comentei, me recostando na cabine. — As ymbrynes estão no catálogo telefônico?
— Os endereços são falsos — respondeu Millard. — E as ligações só são completadas se você assoviar o código certo. — Ele arrancou uma folha e entregou-a para Emma. — Tente esta: Millicent Thrush.*
Horace enfiou uma moeda no telefone e Emma discou o número. Millard pegou o telefone, assoviou um canto de pássaro e o devolveu a Emma, que escutou por um instante e franziu o cenho.
— Só chama — disse ela. — Ninguém atende.
— Não importa! — exclamou Millard. — Era um de muitos. Vou encontrar outro...
Fora da cabine, a multidão que circulava ao nosso redor começou a diminuir a velocidade até parar, presa em um gargalo em algum lugar fora de nosso campo de visão. A plataforma estava chegando ao limite de capacidade. Havia crianças normais por todos os lados, conversando umas com as outras, gritando, empurrando. Uma delas, que estava ao lado de Olive, chorava amargamente. Ela estava de maria-chiquinha, com os olhos vermelhos e inchados, e levava um cobertor em uma das mãos e uma mala de papelão surrada na outra. Em sua blusa havia uma etiqueta presa com um alfinete com palavras e números impressos em estêncil, em letras bem grandes:
115-201
Londres Sheffield
Olive ficou vendo a menina chorar até os próprios olhos começarem a se encher de lágrimas. Por fim, não aguentou e perguntou a ela qual era o problema. A menina afastou o olhar, fingindo não ter escutado.
Olive insistiu:
— O que houve? Está chorando porque foi vendida? — Ela apontou para a etiqueta na blusa da menina. — Esse foi o preço?
A menina tentou se afastar, mas foi bloqueada por uma barreira de pessoas.
— Eu compraria você e depois libertaria — continuou Olive. — Mas, infelizmente, gastamos todo o nosso dinheiro em passagens de trem e não temos o suficiente nem para um bolo de carne, muito menos uma escrava. Sinto muito mesmo.
A menina se virou para Olive.
— Eu não estou à venda! — exclamou, batendo o pé.
— Tem certeza?
— Tenho! — gritou a menina, e, em frustração, arrancou a etiqueta e a jogou fora. — Eu só não quero ir morar na droga do campo, só isso.
— Eu também não queria ir embora de casa, mas fomos obrigados — respondeu Olive. — Nossa casa foi destruída por uma bomba.
A menina relaxou.
— A minha também. — Ela pôs a mala no chão e estendeu a mão. — Me desculpe por ter sido rude. Meu nome é Jessica.
— Olive.
As duas apertaram as mãos como cavalheiros.
— Gostei da sua blusa — comentou Olive.
— Obrigada — respondeu Jessica. — E eu gostei do seu... do... dessa coisa na sua cabeça.
— Minha tiara! — Olive levantou a mão para tocá-la. — Mas não é de prata de verdade.
— Não importa. É bonita.
Olive abriu o maior sorriso que eu já vira, e, em seguida, um apito alto soou e uma voz grave ecoou por um alto-falante.
— Todas as crianças nos trens! — anunciou a voz. — Com calma e em ordem, agora!
A multidão se pôs em movimento de novo. Em alguns pontos, adultos organizavam o movimento das crianças. Ouvi um deles dizer:
— Não se preocupem, logo vocês verão seus pais!
Só então entendi por que havia tantas crianças ali. Elas estavam sendo evacuadas. De todas as muitas centenas de crianças na estação naquela manhã, meus amigos e eu éramos as únicas chegando. As outras estavam partindo, sendo despachadas para fora da cidade para sua própria segurança. E, pelos casacos de inverno e as malas abarrotadas, provavelmente ficariam fora por um bom tempo.
— Preciso ir — disse Jessica, e Olive mal começara a dizer adeus quando sua nova amiga foi arrastada pela multidão em direção ao trem que estava à sua espera. Rápido assim, Olive fez e perdeu a única amiga normal que teve na vida.
Jessica olhou para trás enquanto embarcava. Sua expressão grave parecia perguntar: O que vai ser de mim?
Ficamos olhando enquanto ela partia e nos perguntamos a mesma coisa.
* Em português, “melro”. (N. do T.)
***
Dentro da cabine telefônica, Emma fazia cara feia para o aparelho.
— Ninguém atende — reclamou. — Todos os números só chamam sem parar.
— Este é o último — anunciou Millard, entregando mais uma página arrancada para Emma. — Cruzem os dedos.
Eu me concentrei em Emma, que discava, mas de repente um alvoroço começou atrás de mim. Quando me virei, vi um homem de rosto vermelho gesticulando com um guarda-chuva em nossa direção.
— Por que estão demorando tanto? — perguntou. — Liberem a cabine e embarquem agora mesmo!
— Mas acabamos de chegar — explicou Hugh. — Não vamos embarcar de novo!
— E o que fizeram com as etiquetas numeradas? — gritou o homem, perdigotos voando de seus lábios. — Mostrem-nas agora mesmo ou, juro por Deus, vou mandá-los para lugares muito menos agradáveis que o País de Gales!
— Vá embora — retrucou Enoch. — Ou vamos embarcar você direto para o inferno!
O rosto do homem ficou tão roxo que achei que uma veia em seu pescoço fosse explodir. Ele certamente não estava acostumado a ter crianças lhe tratando daquela forma.
— Eu mandei sair dessa cabine telefônica! — rosnou o homem, e, erguendo o guarda-chuva como o machado de um carrasco, golpeou o fio que ia do topo da cabine até a parede, partindo-o em dois com um estalido.
O telefone ficou mudo. Emma ergueu os olhos do aparelho, fervendo de raiva.
— Se ele quer tanto usar o telefone — disse ela —, vamos deixar.
Enquanto ela, Millard e Horace se espremiam para sair da cabine, Bronwyn agarrou as mãos do sujeito e as prendeu às costas dele.
— Pare! — gritou o homem. — Me solte!
— Ah, eu vou soltar você — respondeu Bronwyn.
Então o levantou, enfiou-o de cabeça na cabine e usou o guarda-chuva para trancar a porta por fora. O homem gritava e batia no vidro, pulando como uma mosca gorda presa em uma garrafa. Teria sido divertido ficar lá para rir dele, mas o homem chamara muita atenção, e adultos começaram a se aproximar, vindos de todos os lados da estação. Era hora de irmos.
Nos demos as mãos e saímos correndo em direção às catracas, deixando um rastro de normais caídos ou tentando se equilibrar. Um trem apitou, e o barulho ecoou dentro do baú de Bronwyn, onde a srta. Peregrine estava sendo jogada de um lado para o outro como roupa na máquina de lavar. Leve demais para correr com os próprios pés, Olive se agarrava ao pescoço de Bronwyn e era arrastada como um balão meio inflado preso por um barbante.
Havia alguns adultos mais perto da saída do que nós. Em vez de fazermos a volta, tentamos forçar a passagem.
Não funcionou.
A primeira a nos interceptar foi uma mulher grandalhona que acertou Enoch na cabeça com a bolsa e o agarrou. Quando Emma tentou soltá-lo, dois homens a seguraram pelos braços e a imobilizaram no chão. Eu estava prestes a avançar para ajudá-la quando um terceiro agarrou os meus braços.
— Alguém faça alguma coisa! — gritou Bronwyn.
Todos sabíamos o que ela queria dizer, mas não estava claro qual de nós tinha liberdade para agir. Então uma abelha zuniu diante do nariz de Enoch e enterrou o ferrão no traseiro da mulher sentada em cima dele. Ela deu um grito e se levantou de um pulo.
— Isso! — gritou Enoch. — Mais abelhas!
— Elas estão cansadas! — gritou Hugh em resposta. — Precisam dormir depois de terem salvado vocês!
Mas ele sabia que não havia outra saída: os braços de Emma estavam presos, Bronwyn parecia ocupada protegendo o baú e Olive de um trio de condutores irritados, e havia muitos outros adultos a caminho, então Hugh começou a bater no peito, como se quisesse soltar um pedaço de comida entalado. No momento seguinte, soltou um arroto muito alto, e umas dez abelhas saíram de sua boca. Voaram em círculos acima da cabeça dele algumas vezes, depois foram fazer o que deveriam e começaram a picar todos os adultos à vista.
Os homens que seguravam Emma a largaram e saíram correndo. O que estava me segurando foi ferroado bem na ponta do nariz e começou a gritar e a agitar os braços como se estivesse possuído por demônios. Logo todos os adultos estavam fugindo, dançando em movimentos espasmódicos para tentar se defender dos minúsculos agressores com ferrões, para a diversão de todas as crianças que ainda estavam na plataforma — elas riam, gritavam, aplaudiam e jogavam os braços para o ar, imitando os adultos ridículos.
Enquanto todos estavam distraídos, nos levantamos, disparamos para as catracas e saímos correndo para a agitada tarde londrina.
***
Nos perdemos no caos das ruas. Parecia que tínhamos mergulhado em uma jarra de líquido agitado com um turbilhão de partículas: cavalheiros, senhoras, trabalhadores, soldados, meninos de rua e mendigos — todos correndo em todas as direções, desviando de carros pequenos que aceleravam pelas ruas; vendedores anunciando mercadorias em carrocinhas; músicos de rua tocando corneta e ônibus buzinando e parando nos pontos para despejar mais gente nas calçadas já cheias. Aquilo tudo era contido por um desfiladeiro de prédios com fachadas de colunas, estendendo-se até desaparecer em uma rua meio sombreada, com o sol da tarde baixo e amortecido, reduzido a um brilho sombrio pelas fumaças de Londres, uma lanterna piscando através da neblina.
Tonto com tudo aquilo, semicerrei os olhos e deixei que Emma me conduzisse enquanto, com a mão livre, eu mexia no bolso para sentir o vidro frio do celular. Aquilo teve um efeito estranhamente calmante. Meu telefone era uma relíquia inútil do futuro, mas mesmo assim continha algum poder — o de um filamento longo e fino que conectava aquele mundo confuso ao mundo são e familiar ao qual eu já pertencera; algo que me dizia, enquanto eu o tocava: Você está aqui e isto é real, você não está sonhando, você ainda é você. E, de algum modo, isso fazia tudo ao meu redor vibrar em uma velocidade um pouco menor.
Enoch passara seus anos de formação em Londres e dizia ainda conhecer as ruas, por isso ia na frente. Seguíamos por becos e ruas secundárias, o que fazia com que, à primeira vista, a cidade parecesse um labirinto de paredes cinzentas e calhas, sua grandeza revelada apenas em vislumbres quando passávamos correndo por amplos bulevares antes de voltar para a segurança das sombras. Fazíamos disso um jogo, rindo, apostando corrida uns com os outros entre os becos. Horace fingiu tropeçar em um canteiro, mas logo se levantou com agilidade e fez uma mesura como um dançarino para a plateia, erguendo a cartola. Rimos feito loucos. Estávamos estranhamente risonhos, quase sem acreditar que tínhamos chegado tão longe — atravessáramos água, floresta, etéreos raivosos e esquadrões de acólitos até chegar a Londres.
Já tínhamos nos distanciado bastante da estação, então paramos em um beco para recuperar o fôlego, perto de algumas latas de lixo. Bronwyn depositou o baú no chão e pegou a srta. Peregrine, que andou meio cambaleante pela rua pavimentada de pedras. Horace e Millard caíram na risada.
— Qual é a graça? — perguntou Bronwyn. — Não é culpa da srta. P. Ela está tonta.
Horace abriu os braços o máximo que pôde.
— Bem-vindos à bela Londres! — exclamou. — É muito mais maravilhosa do que você falou, Enoch. E, ah, como você falou dela! Durante setenta e cinco anos: Londres, Londres, Londres! A maior cidade do mundo!
Millard pegou a tampa de uma lata de lixo.
— Londres! Onde o lixo mais elegante do mundo pode ser encontrado em qualquer canto!
Horace tirou o chapéu.
— Londres! Onde até os ratos usam cartola!
— Ah, eu não falei tanto assim — resmungou Enoch.
— Falou, sim! — retrucou Olive. — Você vivia dizendo: “Não é bem assim que fazem as coisas em Londres.” Ou: “Em Londres, a comida é muito mais requintada!”
— Não estamos fazendo um passeio turístico pela cidade! — exclamou Enoch, na defensiva. — Vocês preferem andar pelos becos ou serem vistos pelos acólitos?
Horace o ignorou:
— Londres: onde todo dia é feriado... para o lixeiro!
Ele caiu na gargalhada, o que foi contagiante. Em pouco tempo, quase todos estávamos rindo, até Enoch.
— Acho que fiz tudo parecer um pouquinho melhor — admitiu.
— Não vejo nada divertido em Londres — comentou Olive, franzindo o cenho. — É suja, fedorenta e cheia de gente má e cruel que faz crianças chorarem, e eu odeio isso! — Ela fechou a cara e acrescentou: — E estou ficando com fome!
Isso nos fez rir ainda mais.
— Aquelas pessoas na estação eram mesmo más — concordou Millard. — Mas tiveram o que mereceram! Nunca vou me esquecer da cara daquele homem quando Bronwyn o enfiou na cabine telefônica.
— Nem daquela mulher horrível quando foi picada por uma abelha no traseiro! — completou Enoch. — Eu pagaria para rever aquela cena.
Olhei para Hugh, esperando que ele entrasse na conversa, mas ele estava de costas para nós, com os ombros tremendo.
— Hugh? — chamei. — Você está bem?
— Ninguém dá a mínima — disse ele, se afastando. — Ninguém quer saber como está o velho Hugh, ele só está aí para salvar todos sem ouvir sequer uma palavra de agradecimento!
Envergonhados, oferecemos nossos agradecimentos e pedimos desculpas.
— Desculpe, Hugh.
— Obrigado de novo, Hugh.
— Você é nosso salvador nas adversidades, Hugh.
Ele se virou para nos encarar.
— Eles eram meus amigos, sabiam?
— Mas nós ainda somos! — respondeu Olive.
— Não vocês... minhas abelhas! Elas só podem picar uma vez, depois acabou, vão para a grande colmeia no céu. Agora só me resta Henry, que não sabe voar porque não tem uma asa. — Hugh estendeu a mão e abriu os dedos devagar. Lá estava Henry, agitando a única asa para nós.
— Vamos lá, camarada — sussurrou Hugh. — Hora de ir para casa. — Ele pôs a língua para fora, colocou a abelha sobre ela e fechou a boca.
Enoch deu um tapinha no ombro do menino.
— Eu as traria de volta à vida, mas não sei bem se funcionaria em criaturas tão pequenas.
— Obrigado mesmo assim — respondeu Hugh, então pigarreou e esfregou o rosto com força, como se estivesse incomodado com as lágrimas que o tinham exposto.
— Vamos encontrar mais abelhas para você assim que dermos um jeito na srta. P. — disse Bronwyn.
— Por falar nela, você conseguiu entrar em contato com alguma ymbryne pelo telefone? — perguntou Enoch para Emma.
— Nenhuma — respondeu ela, depois se sentou sobre uma lata de lixo virada, com os ombros curvados. — Eu tinha esperanças de que teríamos um pouco de sorte pelo menos uma vez. Mas não.
— Então parece que o cachorro estava certo — comentou Horace. — As grandes fendas temporais de Londres caíram nas mãos dos inimigos. — Ele inclinou a cabeça solenemente. — Aconteceu o pior. Todas as ymbrynes foram raptadas.
Baixamos a cabeça. A animação acabara.
— Nesse caso, Millard — interveio Enoch —, é melhor você nos contar tudo o que sabe sobre as fendas de punição. Se as ymbrynes estão lá, então temos que planejar um resgate.
— Não — respondeu Millard. — Não, não, não.
— Como assim não? — inquiriu Emma.
Millard fez um ruído entrecortado e começou a respirar de um jeito meio esquisito.
— Quer dizer... não podemos...
Ele parecia não conseguir dizer as palavras.
— Qual é o problema dele? — perguntou Bronwyn. — Mill, tem alguma coisa errada?
— É melhor explicar esse “não” agora mesmo — insistiu Emma, em um tom de voz ameaçador.
— Porque vamos morrer, é por isso! — respondeu Millard, com a voz entrecortada.
— Mas você deu a impressão de que era fácil, quando estávamos lá com os bichos! — intervim. — Como se pudéssemos entrar em uma fenda de punição com as mãos nas costas...
Millard estava histérico... e isso me assustou. Bronwyn encontrou um saco de papel amassado e o mandou usá-lo para ajudar a respirar. Quando ele se recuperou um pouco, respondeu:
— Entrar é fácil — explicou, falando devagar, esforçando-se para controlar a respiração. — Sair é que é complicado. Sair vivo, eu diria. Fendas de punição são tudo o que aquele cão disse e ainda piores. Rios de fogo... vikings sedentos por sangue... um ar pestilento tão denso que é impossível respirar... e, como se não bastasse tudo isso, como em uma sopa infernal, sabem lá as aves quantos acólitos e etéreos!
— Puxa, que maravilha! — exclamou Horace, jogando as mãos para o alto. — Você podia ter nos contado isso antes, sabe, quando estávamos com os bichos planejando isso tudo!
— Teria feito alguma diferença, Horace? — Ele respirou mais algumas vezes no saco. — Se eu fizesse com que parecesse mais assustador, você teria escolhido deixar a humanidade da srta. Peregrine exalar o último suspiro?
— É claro que não — retrucou Horace. — Mas você devia ter contado a verdade.
Millard largou o saco. Estava recuperando as forças e a convicção.
— Admito que minimizei os perigos das fendas de punição, mas nunca achei que fôssemos precisar entrar nelas! Apesar de todas as coisas sinistras que o cão disse sobre a situação de Londres, eu tinha certeza de que encontraríamos pelo menos uma fenda que ainda não tivesse sido atacada, com a ymbryne ainda presente e operante. E, pelo que sabemos, ainda pode haver uma! Como podemos ter certeza de que todas foram sequestradas? Vimos todas as fendas atacadas com nossos próprios olhos? E se os telefones das ymbrynes foram simplesmente... desligados?
— Todos eles? — escarneceu Enoch.
Até Olive, eternamente otimista, tinha uma expressão de derrota.
— Então o que você sugere, Millard? — indagou Emma. — Que façamos um tour pelas fendas de Londres, torcendo para encontrar alguém em casa? E quais você diria que são as probabilidades de as criaturas corruptas que estão à nossa procura terem deixado as fendas sem vigilância?
— Acho que temos mais chances de sobreviver se passarmos a noite jogando roleta-russa — comentou Enoch.
— O que quero dizer — explicou Millard — é que não temos provas...
— De que outras provas você precisa? — inquiriu Emma. — Poças de sangue? Uma pilha de penas de ymbrynes? A srta. Avocet nos disse que o ataque das criaturas começou há semanas. A srta. Wren não tinha dúvida de que todas as ymbrynes de Londres tinham sido capturadas. Você acha que sabe mais que a srta. Wren, que é uma ymbryne? Agora estamos aqui, e ninguém em nenhuma das fendas está atendendo ao telefone. Então, por favor, me diga por que ir de fenda em fenda seria mais do que uma perda de tempo perigosamente suicida.
— Esperem um pouco... é isso! — exclamou Millard. — E a srta. Wren?
— O que tem ela? — indagou Emma.
— Não se lembra do que o cachorro nos contou? A srta. Wren veio para Londres há alguns dias, quando soube que suas irmãs haviam sido raptadas.
— E daí?
— E se ela ainda estiver aqui?
— A essa altura, ela provavelmente já foi capturada! — retrucou Enoch.
— E se não tiver sido? — A voz de Millard estava animada, esperançosa. — Ela pode ajudar a srta. Peregrine, e então não teríamos de passar nem perto das fendas de punição!
— E como sugere que a encontremos? — inquiriu Enoch, com a voz estridente. — Gritando o nome dela do alto dos telhados? Isso aqui não é Cairnholm. É uma cidade com milhões de pessoas!
— As pombas — respondeu Millard.
— Como assim?
— Foram as pombas peculiares da srta. Wren que contaram a ela para onde as ymbrynes tinham sido levadas. Se elas sabiam para onde todas as outras ymbrynes foram, então também devem saber onde está a srta. Wren. Afinal, pertencem a ela.
— Há! — exclamou Enoch. — A única coisa que mais se encontra em Londres do que senhoras de meia-idade insossas são bandos de pombas. E você quer procurar um bando em especial por Londres inteira?
— Parece uma ideia meio doida — comentou Emma. — Desculpe, Mill. Eu não vejo como isso pode funcionar.
— Então vocês têm sorte por eu ter passado a viagem de trem estudando, em vez de ficar de papo furado. Alguém me passe os Contos!
Bronwyn pescou o livro de dentro do baú e o entregou a ele. Millard começou a folhear as páginas.
— Muitas respostas podem ser encontradas aqui — explicou. — Basta saber o que procurar. — Ele parou em determinada página e indicou o topo com o dedo. — Arrá! — exclamou, virando o livro para nos mostrar o que descobrira.
O título da história era: “As pombas de St. Paul”.
— Minha nossa! — exclamou Bronwyn. — Será que essas são as mesmas pombas das quais estamos falando?
— Se escreveram sobre elas nos Contos, são quase com certeza pombas peculiares — respondeu Millard. — E quantos bandos de pombas peculiares devem existir?
Olive bateu palmas.
— Millard, você é brilhante! — exclamou ela.
— Obrigado, eu sei.
— Esperem aí, não estou entendendo — interrompi, confuso. — O que é St. Paul?
— Até eu sei isso — respondeu Olive. — A catedral!
Ela foi até o fim do beco e apontou para uma cúpula gigantesca que se erguia ao longe.
— É a maior e mais magnífica catedral de Londres — explicou Millard. — Se minha intuição estiver correta, também é o local onde vivem as pombas da srta. Wren.
— Vamos torcer para que elas estejam em casa — comentou Emma. — E que tenham boas notícias. Andam em falta.
***
Enquanto navegávamos pelo labirinto de ruas estreitas na direção da catedral, um silêncio pensativo se abateu sobre o grupo. Por longos períodos de tempo, ninguém se pronunciou, restando apenas o som de nossos sapatos no calçamento e os ruídos da cidade: aviões, o barulho constante e onipresente do trânsito, sirenes gorjeantes cujo tom se elevava e diminuía ao nosso redor.
Quanto mais nos afastávamos da estação, mais provas encontrávamos das bombas que choviam sobre Londres. Fachadas de prédios sarapintadas de estilhaços. Janelas quebradas. Ruas cintilando com geadas de vidro em pó. O céu pontilhado por balões inflados prateados, presos ao solo por longas teias de cabos.
— Balões de barragem — explicou Emma quando me viu esticar o pescoço para olhar um deles. — Os bombardeiros alemães ficam presos nos cabos, à noite, e caem.
Então chegamos a uma cena de destruição tão bizarra que tive que parar e olhar, boquiaberto. Não por um instinto voyeurístico mórbido, e sim porque meu cérebro achava impossível processar o que via. Uma cratera feita por uma bomba se estendia por toda a rua como uma boca monstruosa, o asfalto quebrado como dentes. Em um dos lados, a explosão arrancara a parede dianteira de um prédio, mas deixara praticamente intacto o que estava dentro. Parecia uma casa de boneca, com todos os aposentos expostos para a rua: a sala de jantar com a mesa ainda posta; fotos de família penduradas no corredor (tortas, mas ainda na parede); um rolo de papel higiênico desenrolado balançando ao sabor da brisa, tremulando como uma bandeira branca e extensa.
— Será que eles esqueceram de terminar de construir? — perguntou Olive.
— Não, sua boba — retrucou Enoch. — O prédio foi atingido por uma bomba.
Por um instante, Olive pareceu prestes a chorar, mas seu semblante endureceu e ela sacudiu o punho para os céus e berrou:
— Hitler, seu malvado! Pare com essa guerra horrível agora mesmo, de uma vez por todas!
Bronwyn deu um tapinha em seu braço.
— Shhh. Ele não pode ouvir você, meu bem.
— Isso não é justo! — exclamou Olive. — Estou cansada de aviões, de bombas e de guerra!
— Todos estamos — retrucou Enoch. — Até eu.
Então ouvi Horace gritar; quando me virei, o vi apontando para alguma coisa na rua. Corri para ver o que era e então parei, congelado. Meu cérebro gritava Corra!, mas minhas pernas se recusavam a ouvir.
Era uma pirâmide de cabeças. Estavam afundadas e enegrecidas, com as bocas escancaradas e os olhos queimados, derretidos e reunidos em uma poça na sarjeta, como uma hidra horrenda. Emma se aproximou para ver, levou um susto e virou o rosto; Bronwyn chegou perto e começou a gemer; Hugh gaguejou e cobriu os olhos com as mãos. Por fim, Enoch, que não parecia nem um pouco perturbado, cutucou uma das cabeças com o sapato e notou que eram apenas manequins de cera que tinham caído da vitrine de uma loja de perucas bombardeada. Todos nos sentimos um pouco ridículos, porque, apesar de as cabeças serem falsas, representavam algo real, que estava escondido sob os destroços à nossa volta.
— Vamos embora — disse Emma. — Esse lugar não passa de um cemitério.
Continuamos a andar. Tentei manter o olhar fixo no chão, mas não havia como me proteger de todas as coisas assustadoras pelas quais passávamos. Uma ruína chamuscada expelia fumaça, com o único bombeiro enviado para apagar o incêndio parecendo derrotado, abatido, cheio de bolhas e exausto, a mangueira seca. Mesmo assim, ele continuava lá, olhando a casa como se, tendo acabado a água, seu trabalho fosse apenas testemunhar a destruição.
Um bebê chorava em um carrinho de brinquedo abandonado na rua.
Bronwyn reduziu o passo, arrasada.
— Será que não podemos ajudá-los?
— Não faria diferença — respondeu Millard. — Essas pessoas pertencem ao passado, e o passado não pode ser mudado.
Bronwyn assentiu, com um ar de tristeza. Ela sabia que era verdade, mas precisava ouvir alguém dizer isso. Era como se mal estivéssemos ali, insignificantes como fantasmas.
Uma nuvem de cinzas se ergueu, encobrindo o bombeiro e a criança. Continuamos andando, sufocando em um turbilhão de poeira de desabamentos e concreto em pó, que deixou nossas roupas e rostos brancos como ossos.
***
Passamos pelos quarteirões em ruínas o mais rápido possível, depois nos maravilhamos quando as ruas voltaram a fervilhar à nossa volta. A uma curta caminhada do inferno, as pessoas cuidavam de suas vidas, andavam pelas calçadas, moravam em prédios que ainda tinham eletricidade, janelas e paredes. Então viramos uma esquina e vimos a cúpula da catedral, imponente apesar de faixas de pedra enegrecidas pelo fogo e de alguns arcos desmoronados. Assim como o espírito da cidade, seria preciso mais do que algumas bombas para derrubar a Catedral de St. Paul.
Nossa busca começou em uma praça ali perto, onde velhos alimentavam pássaros, sentados nos bancos. No início, foi uma confusão: tentamos agarrar as pombas, que saíram voando. Os velhos resmungaram, e nós nos retiramos para aguardar a volta das aves. Quando elas voltaram, nos revezamos para circular despreocupadamente em meio ao bando e tentar pegá-las de surpresa, nos abaixando para agarrá-las. Pensei que Olive, pequena e rápida, ou Hugh, com sua conexão peculiar com outro tipo de criatura alada, pudessem ter alguma sorte, mas os dois foram humilhados. Millard não se saiu melhor, e elas sequer podiam vê-lo. Quando chegou minha vez, as pombas deviam estar cansadas de serem perturbadas, porque levantaram voo, todas juntas, no instante em que comecei a andar pela praça, lançando simultaneamente uma grande bomba de caca, que me fez correr até uma fonte para lavar a cabeça.
No fim, quem pegou uma foi Horace. Ele se sentou ao lado dos velhos e ficou jogando sementes até ser cercado pelas aves. Então, se inclinou para a frente, esticou o braço e, com toda a calma do mundo, segurou uma pelos pés.
— Peguei você! — exclamou.
A ave bateu asas e tentou fugir, mas Horace a segurou firme.
Ele a levou até nós.
— Como saberemos se é peculiar? — indagou, virando a ave de cabeça para baixo para examinar a parte inferior, como se esperasse encontrar uma etiqueta.
— Mostre-a à srta. Peregrine — respondeu Emma. — Ela vai saber.
Então abrimos o baú de Bronwyn, jogamos a pomba lá dentro com a srta. Peregrine e fechamos a tampa. A pomba piava como se estivesse sendo rasgada ao meio.
Fiz uma careta e gritei:
— Devagar, srta. P.!
Quando Bronwyn abriu o baú outra vez, uma nuvem de penas de pomba se elevou, mas não víamos a pomba em lugar algum.
— Ah, não... ela a comeu! — exclamou Bronwyn.
— Não comeu, não — respondeu Emma. — Olhe embaixo dela!
A srta. Peregrine se ergueu e se afastou para o lado, então vimos a pomba embaixo dela — viva mas em estado de choque.
— E então? — indagou Enoch. — É ou não é uma das pombas da srta. Wren?
A srta. Peregrine cutucou a ave com o bico, e ela saiu voando. Depois, saiu do baú, claudicou um pouco até a praça e, com um pio alto, espantou o restante do bando. A mensagem era clara: além de a pomba de Horace não ser peculiar, nenhuma das outras era. Tínhamos que continuar a busca.
A srta. Peregrine foi na direção da catedral andando com dificuldade e agitando a asa com impaciência. Nós a alcançamos nas escadarias. A construção se assomava sobre nós, as enormes torres de sino emoldurando a cúpula gigante. Um exército de anjos sujos de fuligem nos olhava lá de cima, dos relevos de mármore.
— Como conseguiremos procurar nesse lugar? — pensei alto.
— Um cômodo por vez — respondeu Emma.
Um barulho estranho nos deteve quando chegamos à porta. Parecia um alarme de carro ao longe, um tom que variava em arcos longos e lentos. Mas não havia alarmes de carro em 1940, é claro. Era uma sirene que anunciava um ataque aéreo.
Horace se encolheu de medo.
— Os alemães estão chegando! — gritou. — Morte nos céus!
— Nós não sabemos o que isso significa — disse Emma. — Pode ser um alarme falso ou um teste.
Mas as ruas e a praça estavam esvaziando depressa, e os velhos começaram a dobrar seus jornais e deixar os bancos.
— Eles não parecem achar que é um teste — retrucou Horace.
— Desde quando temos medo de algumas bombas? — indagou Enoch. — Pare de falar como um normalzinho!
— Preciso lembrá-lo de que essas bombas não são do tipo ao qual estamos acostumados? — perguntou Millard. — São diferentes daquelas que jogam em Cairnholm; não sabemos onde essas vão cair!
— Mais um motivo para encontrarmos logo o que viemos buscar — disse Emma, e nos conduziu para dentro.
***
O interior da catedral era imenso — embora seja impossível, parecia maior do que vista de fora —, e, apesar de danificada, alguns fiéis estavam ajoelhados ali, rezando em silêncio. Uma pilha de destroços soterrava o altar. No local onde uma bomba perfurara o telhado, a luz do sol penetrava em faixas largas. Sentado sobre uma coluna caída, um único soldado olhava para o céu através do telhado destruído.
Andamos com os pescoços espichados, esmigalhando pedaços de concreto e lajotas quebradas sob os pés.
— Não estou vendo nada — reclamou Horace. — Há espaço suficiente para esconder dez mil pombas aqui!
— Não olhe — disse Hugh. — Escute.
Paramos, tentando ouvir o arrulhar característico de pombas, mas havia apenas o som incessante das sirenes que avisavam dos ataques aéreos e, por baixo daquele som estridente, uma série de explosões abafadas, como trovões. Disse a mim mesmo para ficar calmo, mas meu coração batia como um bumbo.
Bombas estavam caindo.
— Precisamos ir — falei, sufocado pelo pânico. — Deve haver algum abrigo aqui por perto. Algum lugar seguro onde possamos nos esconder.
— Mas estamos tão perto! — exclamou Bronwyn. — Não podemos desistir agora!
Houve outro estrondo, dessa vez mais perto, e os outros também começaram a ficar nervosos.
— Talvez Jacob tenha razão — disse Horace. — Vamos achar um lugar seguro para nos esconder até terminar o bombardeio. Podemos voltar a procurar depois que acabar.
— Não existe um lugar totalmente seguro — retrucou Enoch. — Essas bombas podem atingir até os abrigos mais profundos.
— Elas não podem penetrar em uma fenda temporal — disse Emma. — Se existe um conto sobre esta catedral, deve haver uma entrada de fenda por aqui.
— Pode ser — concordou Millard. — Pode ser, pode ser. Me passe o livro que vou investigar.
Bronwyn abriu o baú e entregou o livro a Millard.
— Deixe-me ver... — disse ele, virando as páginas até encontrar “As pombas de St. Paul”.
Bombas caindo, e a gente aqui lendo histórias, pensei. Entrei nos domínios da loucura.
— Escutem! — exclamou Millard, chamando a atenção de todos. — Se há uma entrada de fenda aqui por perto, esta história pode nos dizer como encontrá-la. Por sorte, é das curtas.
Uma bomba caiu lá fora. O chão tremeu, fazendo chover gesso do teto. Cerrei os dentes e tentei me concentrar na respiração.
Sem se abalar, Millard pigarreou.
— “As pombas de St. Paul”! — começou, lendo em voz alta e grave.
— Já sabemos o título! — reclamou Enoch.
— Leia mais rápido, por favor! — apressou Bronwyn.
— Se não pararem de me interromper, vamos ficar aqui a noite inteira — retrucou Millard, e então prosseguiu: — “Certa vez, em uma época peculiar, muito antes que houvesse torres, campanários ou qualquer edifício alto na cidade de Londres, um bando de pombas decidiu que queria um lugar bom e alto para descansar, acima do movimento e do burburinho da sociedade humana. Elas também sabiam exatamente como fazê-lo, porque pombas são construtoras por natureza, além de muito mais inteligentes do que pensamos. Mas as pessoas da antiga Londres não estavam interessadas em construções altas, então, certa noite, as pombas entraram no quarto do humano mais empreendedor que conseguiram encontrar e sussurraram em seu ouvido os planos para uma torre magnífica.
“De manhã, o homem despertou bastante empolgado. Sonhara — pelo menos foi o que pensou — com uma igreja magnífica, com uma torre enorme que se ergueria sobre o morro mais alto da cidade. Alguns anos mais tarde, com um grande custo para os humanos, ela foi construída. Era uma igreja com uma torre muito especial, com todo tipo de esconderijo em seu interior, onde as pombas podiam se acomodar. E elas ficaram muito satisfeitas consigo mesmas.
“Então, um dia, os vikings saquearam a cidade e incendiaram a torre, de forma que as pombas tiveram que procurar outro arquiteto, sussurrar em seu ouvido e esperar pacientemente que construíssem uma nova torre. E ela foi construída: era grandiosa e muito alta. Mas também pegou fogo.
“As coisas continuaram assim por séculos: as torres pegando fogo e as pombas sussurrando, para as gerações de arquitetos que recebiam inspiração noturna, planos de torres ainda mais altas e grandiosas. Apesar de esses arquitetos nunca se darem conta da dívida que tinham para com as aves, ainda as tratavam com carinho e permitiam que circulassem por onde bem entendessem, nas naves e nos campanários, como as mascotes e guardiãs que elas realmente eram.’”
— Isso não está ajudando — disse Enoch. — Chegue logo à parte da entrada da fenda!
— Eu vou chegar lá quando essa parte chegar! — retrucou Millard. — “Com o tempo, depois de tantas torres de igreja serem erguidas e queimadas, os planos das pombas ficaram tão ambiciosos que demorou muito para encontrarem um humano inteligente o suficiente para levá-los a cabo. Quando finalmente conseguiram, o homem resistiu, acreditando que a colina estava amaldiçoada, já que todas as igrejas ali erguidas haviam pegado fogo. Apesar de tentar tirar a ideia da cabeça, as pombas voltavam toda noite para sussurrar o plano em seu ouvido, mas mesmo assim o homem não começava a obra. Então elas o procuraram durante o dia, coisa que nunca tinham feito antes, e lhe disseram, em sua língua estranha e risonha, que ele era o único homem capaz de construir a torre e que ele tinha a obrigação de fazê-lo. Mas o homem se recusou e as expulsou de sua casa, gritando: ‘Xô, vão embora daqui, criaturas imundas!’
“As pombas, insultadas e vingativas, perseguiram o homem até quase deixá-lo louco. Seguiam-no aonde quer que ele fosse, bicavam suas roupas, puxavam seu cabelo, estragavam sua comida com as penas traseiras, batiam em sua janela à noite para não deixá-lo dormir... Até que, um dia, ele caiu de joelhos e gritou: ‘Ah, pombas! Eu vou construir o que vocês quiserem, mas vocês vão ter que cuidar do lugar e protegê-lo do fogo!’
“As pombas ficaram intrigadas com aquilo. Conversaram entre si e chegaram à conclusão de que poderiam ter sido guardiãs melhores das torres do passado, se não tivessem gostado tanto de construí-las. Então juraram fazer todo o possível para proteger a construção futura. Dessa forma, o homem construiu uma enorme catedral com duas torres e uma cúpula. Era muito grande, e tanto o homem quanto as pombas ficaram tão satisfeitos com o que tinham criado que se tornaram grandes amigos. O homem nunca foi a lugar algum sem uma pomba por perto para aconselhá-lo. Mesmo depois que morreu, em idade feliz e avançada, as aves ainda iam visitá-lo de vez em quando, embaixo da terra. E até hoje é possível ver a catedral que eles construíram, no morro mais alto de Londres, sob o cuidado de seu bando de pombas.’”
Millard fechou o livro.
— Fim.
Emma fez um ruído exasperado.
— Certo, mas elas ficam vigiando de onde?
— Isso não podia ter ajudado menos, na atual situação... — comentou Enoch. — Nem se fosse uma história sobre cães e gatos na Lua.
— Eu não consigo interpretar nada dessa história — disse Bronwyn. — Alguém consegue?
Eu quase conseguia... Sentia que havia alguma coisa significativa no trecho que dizia “embaixo da terra”, mas tudo o que conseguia pensar era: As pombas estão no inferno?
Então caiu outra bomba, sacudindo o prédio todo, e lá do alto veio um bater de asas repentino. Olhamos para cima e vimos três pombas assustadas saírem voando de algum lugar escondido entre as vigas. A srta. Peregrine piou, agitada, como se dissesse: São elas! Então Bronwyn a pegou e saímos correndo atrás das aves. Elas voaram por toda a nave, viraram bruscamente e entraram por uma porta.
Chegamos à soleira alguns segundos depois. Para meu alívio, não levava para fora, onde não teríamos chance de pegá-las, e sim para uma escadaria que descia em caracol.
— Arrá! — exclamou Enoch, batendo as mãos gorduchas. — Elas estão perdidas! Ficaram presas no porão!
Descemos as escadas correndo. Por fim, chegamos a um salão grande e mal iluminado, com chão de pedra. Era frio, úmido e quase completamente escuro, pois a eletricidade fora cortada. Então Emma acendeu uma chama e iluminou ao redor, até que a natureza do local ficou clara. Abaixo de nossos pés, estendendo-se de parede a parede, havia placas de mármore com letras gravadas. A que estava embaixo de mim dizia:
BISPO ELDRIDGE THORNBRUSH † 1721
— Isso aqui não é um porão — comentou Emma. — É uma cripta.
Um leve calafrio percorreu meu corpo. Me aproximei da luz e do calor da chama de Emma.
— Quer dizer que tem gente enterrada aqui? — indagou Olive, a voz vacilando.
— E daí? — retrucou Enoch. — Vamos pegar essas malditas pombas antes que uma delas nos enterre aqui.
Emma girou, iluminando as paredes.
— Elas devem estar aqui em algum lugar. Não tem outra saída além daquelas escadas.
Então ouvimos mais sons de asas. Fiquei tenso. Emma fez a chama ficar mais brilhante e a apontou na direção do som. A luz tremeluzente caiu sobre uma tumba lisa que se erguia cerca de um metro do chão. Entre a tumba e a parede havia um vão dentro do qual não podíamos ver: um esconderijo perfeito para uma ave.
Emma levou um dedo aos lábios e gesticulou para que a seguíssemos. Atravessamos a cripta em silêncio. Perto do túmulo, nos espalhamos, cercando os três lados expostos.
Prontos?, perguntou Emma, sem emitir som.
Os outros assentiram. Fiz sinal de positivo. Emma avançou na ponta dos pés para espiar por trás do túmulo, então fez cara de decepção.
— Nada! — reclamou, chutando o chão de frustração.
— Eu não entendo! — disse Enoch. — Elas estavam bem aqui!
Nós nos aproximamos para examinar. Então Millard disse:
— Emma, ilumine esse túmulo, por favor!
Ela o fez, e Millard leu a inscrição em voz alta:
AQUI JAZ SIR CHRISTOPHER WREN
CONSTRUTOR DESTA CATEDRAL
— Wren! — exclamou Emma. — Que coincidência estranha!
— Duvido muito que seja coincidência — retrucou Millard. — Ele deve ser parente da srta. Wren. Talvez seja pai dela!
— Isso tudo é muito interessante, mas como nos ajuda a encontrá-la ou a encontrar as pombas? — questionou Enoch.
— É o que estou tentando descobrir — murmurou Millard, então andou um pouco de um lado para outro e recitou uma frase do conto: “As aves ainda iam visitá-lo de vez em quando, embaixo da terra.”
Então pensei ter ouvido um arrulho de pombo.
— Shh! — fiz, para que todos prestassem atenção.
O som se repetiu alguns segundos depois, no canto de trás da tumba. Dei a volta e me ajoelhei, então percebi um pequeno buraco no chão, na base do túmulo. Tinha o tamanho certinho para uma ave entrar.
— Aqui!
— Ora, ora, quem diria! — disse Emma, levando a chama para perto do buraco. — Talvez isso seja o “embaixo da terra”.
— Mas o buraco é muito pequeno — comentou Olive. — Como vamos tirar as aves daí?
— Podemos esperar que elas saiam — sugeriu Horace, mas então uma bomba caiu tão perto que meus olhos se turvaram e meus dentes bateram.
— Não precisamos fazer isso! — exclamou Millard. — Bronwyn, por favor, abra a tumba de Sir Wren.
— Não! — exclamou Olive. — Não quero ver ossos apodrecidos!
— Não se preocupe, meu bem — respondeu Bronwyn. — Millard sabe o que está fazendo.
Ela apoiou as mãos na beira da tampa da tumba e começou a empurrar. A pedra deslizou, abrindo-se com um ronco lento e arrastado.
O cheiro que saiu contrariou o que eu esperava: não era de morte, e sim de mofo e terra velha. Nos aglomeramos para olhar lá dentro.
— E mais essa, agora — comentou Emma.
CAPÍTULO NOVE
Onde deveria estar um caixão, havia uma escada que descia em meio à escuridão. Espiamos o interior do túmulo.
— Não vou descer aí de jeito nenhum! — declarou Horace.
Então, um trio de bombas abalou o prédio, provocando uma chuva de lascas de concreto sobre nossas cabeças, e de repente Horace começou a me empurrar para abrir passagem e chegar logo à escada.
— Com licença, saia do caminho, os mais bem-vestidos primeiro!
Emma o segurou pela manga do paletó.
— Eu tenho a luz, então eu vou primeiro. Depois Jacob, caso haja... coisas lá embaixo.
Dei um sorriso amarelo, sentindo os joelhos meio moles com a ideia.
— Coisas além de ratos, cólera e qualquer tipo de bicho doido morando em uma cripta? — indagou Enoch.
— Não importa o que tenha lá embaixo — disse Millard, aborrecido. — Vamos ter que enfrentar, e ponto final.
— Está bem — respondeu Enoch. — Mas é melhor que a srta. Wren esteja lá embaixo também, porque mordidas de rato não curam depressa.
— Muito menos de etéreos — completou Emma, pisando no primeiro degrau da escada.
— Cuidado — falei. — Estou bem atrás, aqui em cima.
Ela me saudou com a mão em chamas.
— Vamos mergulhar outra vez no desconhecido — comentou, e começou a descer.
Então veio a minha vez.
— Sabe quando está tendo um bombardeio e você vai em uma tumba aberta, aí percebe que seria melhor não ter nem se levantado da cama? — perguntei.
Enoch chutou meu sapato.
— Pare de enrolar.
Agarrei a beira da tumba e apoiei o pé na escada. Pensei brevemente em todas as coisas agradáveis e entediantes que poderia estar fazendo com meu verão, caso minha vida tivesse tomado um rumo diferente. Acampamento de tênis. Aulas de navegação em barco a vela. Arrumar prateleiras. Então, movido por um esforço hercúleo de força de vontade, comecei a descer.
A escada levava a um túnel, que acabava em uma parede de um lado e, do outro, desaparecia na escuridão. O ar era frio, carregado com um odor estranho como o de roupas apodrecendo em um porão inundado. Um líquido de origem misteriosa gotejava e escorria pelas ásperas paredes de pedra.
Enquanto Emma e eu aguardávamos que todos descessem, aos poucos fui tomado pelo frio. Os outros também sentiram. Quando Bronwyn chegou lá embaixo, abriu o baú e distribuiu os suéteres de lã de carneiros peculiares que ganhamos na montanha dos bichos. Vesti um. Caía tão bem quanto um saco, as mangas ultrapassando os dedos e a barra indo até os joelhos, mas pelo menos era quente.
Agora que o baú estava vazio, Bronwyn o deixou para trás. A srta. Peregrine viajava no casaco da menina, onde praticamente fizera um ninho. Millard insistiu em levar os Contos nos braços, mesmo sendo pesados e volumosos, porque podia precisar procurar alguma informação a qualquer momento. Acho que os Contos haviam se transformado em seu amuleto da sorte, um livro de feitiços que só ele sabia ler.
Éramos um grupo estranho.
Fui na frente, devagar, tentando detectar a presença de etéreos no escuro. Dessa vez, senti um tipo diferente de pontada no estômago. Era muito suave, como se um etéreo tivesse passado por ali e ido embora e eu estivesse sentindo seu resíduo. Não comentei isso com o grupo. Não havia motivo para deixar todos alarmados.
Caminhamos. O som de nossos passos sobre os tijolos molhados ecoava de um lado para o outro do túnel. Não havia como fugir do que quer que estivesse esperando por nós.
De vez em quando, de algum lugar à frente, ouvíamos um bater de asas ou um arrulhar de pomba, então apertávamos um pouco o passo. Tive a incômoda sensação de que estávamos nos encaminhando para uma surpresa desagradável. Havia placas de pedra cravadas nas paredes como as que tínhamos visto na cripta, porém mais velhas, com o texto quase todo gasto. Em seguida, passamos por um caixão sem túmulo deixado no chão, depois por uma pilha deles, apoiada contra uma parede, como caixas velhas de mudança.
— Que lugar é este? — murmurou Hugh.
— O cemitério às vezes fica superlotado — explicou Enoch. — Quando precisam de mais espaço para novos clientes, desenterram os mais antigos e os enfiam aqui.
— Que entrada de fenda horrível — comentei. — Imagine só andar por aqui toda vez que precisar entrar ou sair!
— Não é tão diferente do nosso túnel na ilha — retrucou Millard. — Entradas de fendas desagradáveis têm lá sua utilidade... como os normais tendem a evitá-las, ficam só para nós.
Tão racional. Tão sábio. E eu só conseguia pensar: Tem gente morta por todo lado, os cadáveres estão podres, são só ossos e... Ah, meu Deus...
— Ops — murmurou Emma, e parou de repente, me fazendo correr em sua direção. Todos os outros se agruparam atrás de mim.
Ela chegou a chama para um lado, revelando uma porta curva na parede. Estava entreaberta, mas, pela fresta, só se via escuridão.
Ficamos ouvindo. Por um bom tempo não houve qualquer som além de nossa respiração e de um gotejar distante. Depois, ouvimos um ruído, mas não do tipo que esperávamos — não era um bater de asas ou o arranhar de patas de aves; era algo humano.
Alguém chorando bem baixinho.
— Olá? — chamou Emma. — Quem está aí?
— Por favor, não me machuque — respondeu a voz, ecoando.
Ou seriam duas vozes?
Emma aumentou a intensidade da chama. Bronwyn se adiantou e empurrou a porta com o pé. A porta se abriu, expondo uma pequena câmara cheia de ossos. Fêmures, maxilares, crânios... fósseis desmembrados de muitas centenas de pessoas, empilhados sem qualquer ordem aparente.
Cambaleei para trás, tonto de surpresa.
— Olá? — chamou Emma. — Quem disse isso? Apareça!
A princípio, não dava para ver nada lá dentro além de ossos, mas então ouvi uma fungada. Segui o som até o topo da pilha, onde dois pares de olhos piscaram para nós, das sombras dos fundos da câmara.
— Não tem ninguém aqui — anunciou uma vozinha.
— Vão embora — disse outra. — Estamos mortos.
— Não estão, não — retrucou Enoch. — Eu saberia!
— Venham aqui fora — pediu Emma, com delicadeza. — Não vamos machucar vocês.
As duas vozes perguntaram ao mesmo tempo:
— Prometem?
— Prometemos — respondeu Emma.
Os ossos começaram a se mexer. Um crânio se deslocou da pilha e caiu com um barulho seco e alto, depois rolou até parar aos meus pés, olhando para mim.
Olá, futuro, pensei.
Dois menininhos desceram engatinhando da pilha de ossos até a luz. A pele deles era de uma palidez mortal, e os dois nos espiavam com olhos que viravam de um lado a outro nas órbitas circuladas por olheiras profundas.
— Eu sou Emma, esse é Jacob, e esses são nossos amigos — apresentou Emma. — Somos peculiares, não vamos machucar vocês.
Os meninos se encolheram como animais assustados, sem dizer uma só palavra, os olhos dando voltas como se olhasse para todos os lugares e lugar nenhum.
— Qual é o problema deles? — sussurrou Olive.
Bronwyn fez com que ela se calasse:
— Não seja mal-educada.
— Como vocês se chamam? — indagou Emma, com voz doce e persuasiva.
— Eu sou Joel e Peter — respondeu o menino maior.
— Quem é você? — perguntou Emma. — Joel ou Peter?
— Eu sou Peter e Joel — respondeu o menor.
— Não temos tempo para brincadeiras — reclamou Enoch. — Tem alguma ave aqui com vocês? Viram alguma passar voando por aqui?
— As pombas gostam de se esconder — respondeu o maior.
— No sótão — explicou o menor.
— Que sótão? — indagou Emma. — Onde?
— Na nossa casa — responderam os dois, em uníssono, e, levantando os braços, apontaram para uma passagem escura.
Eles pareciam precisar da ajuda um do outro para falar. Se uma frase tivesse mais que algumas palavras, um começava e o outro terminava, sem qualquer pausa detectável. Também percebi que, sempre que um estava falando e o outro não, o que estava em silêncio imitava os movimentos das palavras com a boca em perfeita sincronia, como se os dois dividissem a mesma mente.
— Vocês podem, por favor, nos mostrar o caminho até a casa de vocês? — perguntou Emma. — Podem nos levar até o sótão?
Joel-e-Peter fizeram que não com a cabeça e se encolheram, voltando para a escuridão.
— Qual é o problema? — indagou Bronwyn. — Por que vocês não querem ir?
— Morte e sangue! — exclamou um menino.
— Sangue e gritos! — completou o outro.
— Gritos, sangue e sombras que mordem! — exclamaram os dois.
— Ah, que beleza! — exclamou Horace, dando a volta. — Olha, eu vejo vocês lá na cripta. Espero não ser esmagado por uma bomba!
Emma segurou Horace pela manga.
— Ah, não, não vai, não! Você é o único que conseguiu pegar pelo menos uma dessas malditas pombas.
— Mas você não ouviu esses dois? Essa fenda está cheia de sombras que mordem! O que só pode significar uma coisa: etéreos!
— Estava cheia deles — respondi. — Isso pode ter sido há dias.
— Quando foi a última vez que vocês entraram em casa? — perguntou Emma.
Daquele jeito estranho e entrecortado, os dois explicaram que a fenda em que viviam tinha sido atacada, mas que eles conseguiram fugir para as catacumbas e se esconder entre os ossos. Não sabiam quanto tempo fazia. Dois dias? Três? Tinham perdido a noção do tempo, ali no escuro.
— Ah, pobrezinhos — comentou Bronwyn. — Por que horrores os dois não devem ter passado!
— Vocês não podem ficar aqui para sempre — disse Emma. — Vão envelhecer depressa se não encontrarem outra fenda. Podemos ajudar os dois, mas primeiro precisamos de uma pomba.
Os meninos se entreolharam com aqueles olhos que não paravam de girar e pareceram conversar entre si sem pronunciar uma só palavra. Então disseram, em uníssono:
— Sigam a gente.
Eles desceram pela pilha de ossos e entraram na passagem.
Nós os seguimos. Eu não conseguia tirar meus olhos dos dois. Os meninos eram fascinantemente esquisitos. Ficavam o tempo todo de braços dados e estalavam a língua a cada poucos passos.
— O que eles estão fazendo? — murmurei.
— Acho que eles veem assim — respondeu Millard. — É igual a como os morcegos enxergam no escuro. Os sons que fazem rebatem nas coisas e voltam para eles, o que forma uma imagem mental.
— Somos ecolocalizadores — explicaram Joel-e-Peter.
E, pelo visto, também tinham uma audição excelente.
O túnel se dividia, depois se dividia outra vez. Em determinado ponto, senti uma pressão repentina nos ouvidos e precisei sacudir a cabeça para liberá-la. Foi quando soube que havíamos deixado 1940 e entrado em uma fenda temporal. Finalmente, chegamos a uma parede com degraus verticais recortados. Joel-e-Peter ficaram na base e apontaram para um pontinho de luz acima.
— Nossa casa... — disse o mais velho.
— ... fica lá em cima — completou o mais novo.
E, com isso, eles voltaram para as sombras.
***
Os degraus estavam cobertos de musgo, o que os deixava escorregadios e difíceis de subir, então eu precisava ir devagar para não cair. Eles iam parede acima até uma porta circular no teto do tamanho de uma pessoa, através da qual brilhava um único raio de luz. Enfiei os dedos na fresta e dei um empurrão para o lado. As portas se abriram deslizando, como o obturador de uma câmera, revelando um tubo feito de tijolos que se erguia por cerca de dez metros até um círculo de céu. Eu estava no fundo falso de um poço falso.
Me alcei para dentro do poço e comecei a escalar. Na metade do caminho, precisei parar para descansar, apoiando as costas no lado oposto do tubo. Quando a dor nos bíceps diminuiu, subi o restante do caminho, me icei pela borda do poço e caí em um gramado.
Estava no quintal de uma casa de aspecto malcuidado. O céu era de um tom doentio de amarelo, mas não havia fumaça nem som de motores. Estávamos em uma época mais antiga, anterior à guerra e até mesmo aos carros. O ar estava um pouco frio e alguns flocos de neve caíam, derretendo ao tocar o solo.
Emma foi a próxima a sair do poço, seguida de Horace. Ela decidira que apenas três de nós explorariam a casa. Não sabíamos o que encontraríamos lá em cima, e, se precisássemos fugir depressa, era melhor estarmos em um grupo pequeno, que pudesse correr bem rápido. Ninguém que ficou lá embaixo reclamou, pois o alerta de Joel-e-Peter, que haviam falado sobre sangue e sombras, os assustara. Só Horace ficou chateado. Ele resmungava baixinho, declarando que queria não ter pegado aquela pomba na praça.
Bronwyn acenou para nós lá de baixo e fechou a porta circular. A parte de cima estava pintada para parecer uma superfície de água — uma água escura e suja na qual ninguém iria querer jogar um balde e pegar um pouco para beber. Bem inteligente.
Nós três nos agachamos juntos e olhamos ao redor. O quintal e a casa pareciam bastante abandonados. O mato ao redor crescia em moitas tão grandes que em alguns pontos eram mais altas que as janelas do primeiro andar. Uma casinha de cachorro apodrecida parecia estar desmoronando em um canto, e, perto dela, um varal parecia estar sendo engolido por arbustos pouco a pouco.
Ficamos de pé e esperamos, de ouvidos atentos à procura de pombas. De trás das paredes da casa, dava para ouvir as batidas de cascos de cavalos no calçamento. Não, com certeza aquela não era Londres de 1940.
Então, em uma das janelas do andar de cima, vi uma cortina se abrir.
— Lá em cima! — sussurrei, apontando.
Não sabia se o movimento fora feito por uma ave ou uma pessoa, mas valia a pena conferir. Fui até a porta da casa, chamando os outros para que me seguissem, então tropecei em algo. Era um corpo jogado no chão, coberto por uma lona preta dos pés à cabeça. Um par de sapatos gastos se projetava de uma das extremidades, apontando para o céu. Um cartão branco fora enfiado em um furo de uma das solas. Nele, dava para ler, em uma caligrafia elegante:
Sr. A. F. Carcoma
Recém-chegado das províncias
Preferiu o envelhecimento acelerado a ser levado com vida
Solicita, encarecidamente, que seus restos mortais
sejam depositados no Tâmisa
— Que sujeito azarado — murmurou Horace. — Veio do interior, provavelmente depois que a própria fenda temporal foi atacada, e o local onde se refugiou também foi invadido.
— Mas por que deixariam o pobre sr. Carcoma aqui fora desse jeito? — murmurou Emma.
— Porque precisaram ir embora correndo — respondi.
Emma se abaixou e pegou a ponta da lona que cobria o sr. Carcoma. Eu não queria ver, mas não pude evitar. Virei um pouco para o lado, mas não resisti e espiei através de dedos entreabertos. Esperava encontrar um cadáver ressequido, mas o sr. Carcoma parecia perfeitamente intacto e surpreendentemente jovem, talvez com quarenta ou cinquenta anos, o cabelo negro grisalho apenas nas têmporas. Os olhos estavam fechados e tranquilos, como se só estivesse dormindo. Será que ele realmente passara pelo envelhecimento acelerado, como a maçã ressequida que peguei na fenda temporal da srta. Peregrine?
— Oi, o senhor está morto ou dormindo? — indagou Emma.
Ela cutucou a orelha do homem com a bota. A lateral da cabeça afundou e se desfez em pó.
Emma levou um susto e soltou a lona. O sr. Carcoma se tornara um molde oco e seco de si mesmo, tão frágil que até um vento um pouco mais forte poderia destruí-lo.
Deixamos para trás o pobre sr. Carcoma se despedaçando e seguimos para a porta. Girei a maçaneta. A porta se abriu e entramos em uma lavanderia. O varal parecia cheio de roupas limpas, e uma tábua de lavar estava pendurada com muito cuidado acima do tanque. Aquele lugar não fora abandonado havia muito.
A Sensação era mais forte ali, mas ainda apenas residual. Abrimos outra porta e entramos em uma sala de estar. Senti um aperto no coração. Havia indícios claros de luta: móveis derrubados e espalhados, retratos caídos da lareira, trechos do papel de parede rasgados em tiras.
— Ah, não — murmurou Horace.
Segui seu olhar para o teto, até uma mancha escura que cobria uma área circular. Algo terrível acontecera lá em cima.
Emma apertou bem os olhos.
— Apenas escutem — disse. — Tentem ouvir as aves e não pensem mais nada.
Fechamos os olhos e escutamos. Um minuto se passou. Então, finalmente, ouvimos o arrulhar e o agitar de asas de um pombo. Abri os olhos para ver de onde tinha vindo.
Da escada.
Subimos com cautela, tentando evitar que os degraus rangessem. Dava para sentir as batidas do meu coração na garganta e nas têmporas. Eu conseguia lidar com cadáveres antigos e quebradiços, mas não sabia se suportaria ver uma cena de assassinato.
O corredor do segundo andar estava cheio de entulho. Uma porta arrancada das dobradiças jazia no chão, despedaçada. Pelo vão, dava para ver uma torre de baús e cômodas caídos: um bloqueio fracassado.
No cômodo seguinte, o carpete branco estava ensopado de sangue — a mancha que víramos no teto vazara do chão até lá embaixo. Mas quem quer que tivesse perdido aquilo tudo já não estava ali havia muito.
A última porta do corredor não mostrava sinais de arrombamento. Eu abri com cautela. Observei o local: havia um guarda-roupa, uma cômoda com bibelôs arrumados com esmero e cortinas de renda esvoaçando na janela. O carpete parecia limpo. Tudo estava intacto.
Meus olhos se dirigiram para a cama, para o que havia ali, e recuei aos tropeções até o batente da porta. Aninhados sob cobertas brancas e limpas, dois homens pareciam dormir — e, entre eles, dois esqueletos.
— Envelhecimento acelerado — comentou Horace, com as mãos trêmulas no pescoço. — Dois deles eram consideravelmente mais velhos.
Os homens que pareciam adormecidos estavam tão mortos quanto o sr. Carcoma lá embaixo, explicou Horace, e, se os tocássemos, se desintegrariam da mesma maneira.
— Eles desistiram — murmurou Emma. — Ficaram cansados de fugir e desistiram. — Ela os encarava com um misto de raiva e pena.
Emma achava que haviam sido fracos e covardes, que tinham escolhido a saída mais fácil. Eu não podia evitar me perguntar se não era o caso de aqueles peculiares simplesmente saberem mais do que nós sobre o que os acólitos faziam com os prisioneiros. Talvez, se tivéssemos mais informações, nós também preferíssemos a morte.
Voltamos para o corredor. Eu me sentia tonto e enjoado. Queria sair daquela casa, mas ainda não podíamos fazer isso. Havia uma última escada a subir.
No alto, encontramos um cenário danificado pela fumaça. Imaginei que os peculiares que haviam resistido ao ataque inicial tinham se reunido ali para uma última resistência. Talvez tivessem tentado enfrentar os corrompidos com fogo, ou talvez os corrompidos tivessem tentado expulsá-los dali com a fumaça. Fosse o que fosse, parecia que tinham quase incendiado a casa.
Nós nos abaixamos para passar por uma portinha e entramos em um sótão de paredes inclinadas. Tudo ali estava negro e queimado. As chamas haviam aberto buracos no telhado.
Emma cutucou Horace.
— Está em algum lugar por aqui — murmurou. — Faça sua mágica, apanhador de passarinhos.
Horace foi até o meio do sótão na ponta dos pés e chamou, em uma voz ritmada:
— Aquiiiiiiii, pomba, pomba, pomba...
Então ouvimos, de trás de nós, um bater de asas e um pio estranho. Nós nos viramos, mas não vimos uma pomba, e sim uma garota de vestido preto, parcialmente oculta nas sombras.
— Vocês estão atrás disso? — indagou a menina, erguendo um dos braços para um raio de luz.
A pomba se remexeu em sua mão, tentando se libertar.
— É! — respondeu Emma. — Graças a Deus você a pegou!
Ela foi na direção da menina com as mãos estendidas para a pomba, mas a garota deu um grito.
— Pare aí mesmo!
Ela estalou os dedos. Um tapetinho chamuscado saiu voando de sob os pés de Emma, derrubando-a no chão.
Corri até ela.
— Você está bem?
— Ajoelhem! — gritou a garota. — Ponham as mãos na cabeça!
— Estou bem — respondeu Emma. — Faça o que ela diz. Ela é telecinética, e dá para ver que está instável.
Eu me ajoelhei ao lado dela e entrelacei os dedos atrás da cabeça. Emma fez o mesmo. Horace, trêmulo, ainda em silêncio, jogou-se no chão, sentado, exausto, e apoiou as mãos nas tábuas chamuscadas.
— Não queremos fazer mal a você — disse Emma. — Só estamos atrás da pomba.
— Ah, eu sei muito bem do que vocês estão atrás — retrucou a menina, com escárnio. — Sua espécie nunca desiste, não é?
— Nossa espécie? — indaguei.
— Larguem as armas e joguem para cá! — ordenou a menina.
— Não temos nenhuma arma — respondeu Emma, muito calma, fazendo o possível para não deixar a menina ainda mais nervosa.
— Isso vai ser mais fácil se vocês não acharem que sou burra! — gritou a garota. — Vocês são fracos e não têm poderes próprios, por isso usam revólveres e coisas do tipo. Agora joguem tudo no chão!
Emma virou a cabeça para nós.
— Ela acha que somos acólitos — murmurou ela.
Quase soltei uma gargalhada.
— Não somos acólitos. Somos peculiares!
— Vocês não são as primeiras criaturas de olhos brancos que vêm aqui atrás de pombos — retrucou ela. — Nem as primeiras que tentam se passar por crianças peculiares. E não seriam as primeiras que eu mataria! Agora ponham as armas no chão antes que eu quebre o pescoço dessa pomba... e depois o de vocês!
— Não somos acólitos! — insisti. — Venha olhar nossas pupilas, se não acredita!
— Seus olhos não significam nada! — retrucou a menina. — Lentes falsas são o truque mais velho que existe... E, podem acreditar, eu conheço todos eles.
A garota deu um passo em nossa direção e foi iluminada pela luz. Seus olhos eram puro ódio. Fora o vestido, ela parecia meio masculina, com cabelo curto e queixo quadrado. Tinha o olhar vidrado de alguém que não dormia havia dias, que naquele momento estava à base de instinto e adrenalina. Uma pessoa naquela situação não seria boa ou paciente conosco.
— Nós somos peculiares, eu juro! — exclamou Emma. — Veja... vou mostrar!
Ela tirou uma das mãos da cabeça e estava prestes a acender uma chama quando tive uma intuição repentina e segurei seu pulso.
— Se tiver algum etéreo por perto, eles vão sentir — disse. — Acho que eles podem nos sentir do mesmo modo que eu posso senti-los, mas é muito mais fácil para eles quando usamos nossos poderes. É como disparar um alarme.
— Mas você está usando o seu poder — disse ela, irritada. — E ela está usando o dela!
— O meu é passivo — retruquei. — Não posso desligá-lo, por isso ele não deixa um rastro muito marcante. Quanto a ela... talvez já saibam que ela está aqui. Talvez não seja ela que eles queiram.
— Que conveniente! — exclamou a menina. — E esse supostamente é o seu poder? Sentir a presença das criaturas de sombras?
— Ele também consegue vê-las — respondeu Emma. — E matá-las.
— Você precisa inventar mentiras melhores — disse a garota. — Ninguém com meio cérebro acreditaria nisso.
Enquanto estávamos conversando, a Sensação brotou dolorosamente dentro de mim. Não era mais o resíduo deixado por um etéreo, e sim a presença ativa de um.
— Tem um por aqui — falei para Emma. — Precisamos sair.
— Não sem a ave — murmurou ela.
A menina foi correndo em nossa direção.
— É hora de resolver isso de uma vez — disse. — Já dei chances mais que suficientes de vocês provarem quem são. Além do mais, estou começando a gostar de matar criaturas como vocês. Depois do que fizeram com meus amigos, parece que nunca é o suficiente!
Ela parou a pouco mais de um metro de nós e ergueu a mão livre — estava prestes a derrubar o que restava do telhado na nossa cabeça. Se fôssemos fazer alguma coisa, a hora era aquela.
Pulei, joguei os braços para a frente e colidi com a menina, derrubando-a no chão. Ela gritou de surpresa e raiva. Prendi a palma de sua mão livre com o punho, para que ela não pudesse estalar os dedos de novo. A menina soltou a ave, e Emma a agarrou.
Em seguida, Emma e eu nos levantamos e saímos correndo para a porta aberta. Horace ainda estava no chão, zonzo.
— Levante-se e corra! — gritou Emma para ele.
Eu estava puxando Horace pelos braços quando a porta bateu na minha cara e uma cômoda queimada se ergueu do canto e voou pelo sótão. A quina do móvel acertou minha cabeça. Saí rolando, levando Emma comigo para o chão.
A menina estava furiosa, aos berros. Eu estava certo de que tínhamos apenas alguns segundos de vida. Então Horace se levantou e gritou, com toda a força:
— Melina Manon!
A garota congelou.
— O que você disse?
— Seu nome é Melina Manon — respondeu. — Nasceu em Luxemburgo, em 1899. Veio morar com a srta. Thrush quando tinha dezesseis anos e está aqui desde então.
Horace a pegara desprevenida. A garota franziu o cenho, depois fez um movimento em arco com a mão, e a cômoda que quase me deixara inconsciente flutuou pelo ar e parou, pairando bem acima de Horace. Se ela a deixasse cair, ia esmagá-lo.
— Você fez o dever de casa — retrucou. — Mas qualquer acólito poderia saber meu nome e onde nasci. Infelizmente para você, não consigo mais achar suas mentiras interessantes.
No entanto, ela não parecia prestes a matá-lo.
— Seu pai era bancário — continuou Horace, falando bem depressa. — Sua mãe era muito bonita, mas tinha um cheiro muito forte de cebola, um problema que a acompanhou a vida inteira. Nada do que ela tentava curava isso.
A cômoda se balançou acima de Horace. A menina o encarou, franzindo o cenho, a mão ainda no ar.
— Quando você tinha sete anos, queria muito um cavalo árabe — prosseguiu Horace. — Seus pais não tinham dinheiro para um animal tão extravagante, então compraram um burrico. Você o chamou de Habib, que significa amado. E o amava de verdade.
A garota ficou boquiaberta.
Horace continuou:
— Você tinha treze anos quando percebeu que podia manipular objetos usando apenas o poder da mente. Começou com objetos pequenos, como moedas e clipes de papel, mas foi passando para coisas cada vez maiores. Só não conseguia mover Habib com a mente, já que sua habilidade não atinge criaturas vivas. Quando sua família se mudou, você achou que a habilidade tivesse desaparecido, porque não conseguia mover mais nada. Mas foi só porque ainda não conhecia a casa nova. Quando se familiarizou com o lugar, mapeou-o na mente e voltou a mover os objetos entre as paredes.
— Como você sabe isso tudo? — indagou Melina, olhando para ele de queixo caído.
— Porque sonhei com você — respondeu Horace. — Esse é o meu poder.
— Meu Deus! — exclamou a menina. — Vocês são mesmo peculiares.
A cômoda desceu suavemente até o chão.
***
Eu me levantei, meio tonto, a cabeça latejando onde a cômoda me acertara.
— Você está sangrando! — apontou Emma, apressando-se para examinar o corte.
— Estou bem, estou bem — respondi, evitando-a.
A Sensação estava mudando, e ser tocado enquanto isso acontecia a tornava mais difícil de interpretar — de algum modo, interrompia seu desenvolvimento.
— Desculpe pelo machucado na cabeça — disse Melina Manon. — Achei que eu fosse a única peculiar que restava!
— Tem um grupo lá no fundo do poço, no túnel da catacumba — comentou Emma.
— É mesmo? — A expressão de Melina se iluminou. — Então ainda há esperança!
— Havia, na verdade — respondeu Horace. — Mas ela saiu voando pelo buraco no teto.
— O quê? Está falando da Winnifred?
Melina pôs dois dedos na boca e assoviou. No instante seguinte, a pomba reapareceu. Veio voando pelo buraco no teto e pousou no ombro dela.
— Fantástico! — exclamou Horace, batendo palmas. — Como você fez isso?
— Winnie é minha amiga — explicou Melina. — É mansa como um gato.
Limpei um pouco do sangue da testa com as costas da mão e decidi ignorar a dor. Não havia tempo para tratar ferimentos. Eu me virei para a garota.
— Você falou que os acólitos estiveram aqui, caçando pombas.
Melina confirmou.
— Eles e os monstros de sombra vieram há três noites. Cercaram o lugar, levaram a srta. Thrush e metade dos internos, depois incendiaram a casa. Eu me escondi no telhado. Desde então, os acólitos voltam todos os dias. Vêm em pequenos grupos, caçando Winnifred e suas amigas.
— E você os matou? — perguntou Emma.
Melina olhou para baixo.
— Foi o que eu disse, não foi?
Ela era orgulhosa demais para admitir que mentira. Não importava.
— Então nós não somos os únicos à procura da srta. Wren — comentou Emma.
— Isso significa que ela ainda está livre — retruquei.
— Talvez — concordou Emma. — Talvez.
— A gente acha que a pomba pode nos ajudar — expliquei. — Precisamos encontrar a srta. Wren, e temos a impressão de que as aves sabem como.
— Nunca ouvi falar em uma srta. Wren — respondeu Melina. — Eu só alimento a Winnie, quando ela aparece no quintal. Nós duas somos amigas. Não somos, Winnie?
A ave arrulhou alto em seu ombro.
Emma se aproximou de Melina e se dirigiu à pomba.
— Você conhece a srta. Wren? — indagou, falando alto. — Pode nos ajudar a encontrá-la? Srta. Wren?
A pomba levantou voo do ombro de Melina e atravessou o sótão até a porta. Ela arrulhava e agitava as asas, depois voava de volta.
Por aqui, parecia dizer.
Para mim, era prova suficiente.
— Precisamos levar a ave com a gente — declarei.
— Não sem mim — retrucou Melina. — Se Winnie sabe como achar essa ymbryne, então eu também vou.
— Não é uma boa ideia — disse Horace. — Estamos em uma missão perigosa, sabe...
Emma o interrompeu:
— Nos dê a ave. Voltaremos para buscar você. Eu prometo.
Uma pontada repentina de dor me fez gemer e me dobrar ao meio.
Emma correu para o meu lado.
— Jacob! Você está bem?
Eu não conseguia falar. Cambaleei até a janela, me obriguei a ficar de pé e projetei a Sensação na direção da cúpula da catedral, visível acima dos telhados, a apenas algumas quadras de distância. Depois a voltei para a rua, onde carroças puxadas a cavalo passavam chacoalhando.
Sim. Ali. Eu podia senti-los se aproximando por uma rua secundária não muito distante.
Senti-los. Não era só um etéreo, eram dois.
— Precisamos ir — declarei. — Agora.
— Por favor — implorou Horace à garota. — Nós precisamos dessa pomba!
Melina estalou os dedos e a cômoda que quase me matara se ergueu do chão outra vez.
— Não posso permitir isso — respondeu, indicando a cômoda com o olhar, só para ter certeza de que estávamos entendendo. — Se me levarem com vocês, Winnie vai junto. Se não...
A cômoda fez uma pirueta sobre uma perna de madeira, depois tombou para um lado e se espatifou.
— Está bem — concordou Emma, falando entre dentes. — Mas se você nos atrasar, vamos ficar com a ave e deixar você para trás.
Melina sorriu, e, com um gesto de sua mão, a porta se abriu.
— Como quiser.
***
Descemos as escadas correndo, tão rápido que nossos pés mal pareciam tocar o chão. Em vinte segundos, estávamos outra vez no quintal, saltando o cadáver do sr. Carcoma e mergulhando no poço seco. Desci primeiro e chutei a porta espelhada no fundo, em vez de perder tempo deslizando-a para o lado. Arranquei-a das dobradiças e ela de se desfez em pedaços.
— Cuidado aí embaixo! — avisei, então escorreguei nos degraus de pedra molhados. Caí, completamente desequilibrado, tropeçando no escuro.
Um par de braços fortes me segurou. Era Bronwyn, que pôs meus pés no chão. Eu agradeci, sentindo o coração acelerado.
— O que aconteceu lá em cima? — perguntou ela. — Vocês pegaram a pomba?
— Pegamos — respondi, enquanto Emma e Horace chegavam ao fundo. Nossos amigos vibraram.
— Esta é Melina — apresentei, apontando para a menina, e esse foi todo o tempo que tivemos para apresentações.
Ela ainda estava no alto da escada, mexendo com alguma coisa.
— Vamos logo! — gritei. — O que você está fazendo?
— Ganhando tempo! — gritou ela em resposta, então puxou, fechou e trancou uma tampa de madeira, que cobriu o poço, obscurecendo os últimos raios de luz.
Enquanto ela descia a escada na escuridão, expliquei sobre os etéreos que estavam atrás da gente. Em meu estado de pânico, a mensagem saiu como: “VAMOS AGORA! CORRAM! ETÉREOS! AGORA!” O que foi eficiente, apesar de não muito bem-articulado, e deixou todo mundo histérico.
— Como vamos correr sem enxergar?! — gritou Enoch. — Acenda uma chama, Emma.
Ela estava evitando fazer isso por causa do alerta que eu dera lá no sótão. Aquele momento parecia uma boa hora para reforçar o que eu tinha descoberto, então segurei o braço dela.
— Não! Eles vão conseguir nos localizar com muito mais facilidade!
Nossa melhor chance, pensei, era despistá-los naquele labirinto de túneis cheios de desvios e bifurcações.
— Mas não podemos correr às cegas! — retrucou Emma.
— É claro... — começou o ecolocalizador mais novo.
— ... que podemos — completou o mais velho.
Melina cambaleou na direção das vozes.
— Meninos! Vocês estão vivos! Sou eu... Melina!
Joel-e-Peter responderam:
— Achamos que vocês tivessem...
— ... morrido.
— Todo mundo dê as mãos! — mandou Melina. — Deixem que os garotos mostrem o caminho!
Então segurei a mão de Melina no escuro e Emma segurou a minha, depois procurou a de Bronwyn e por aí foi, até formarmos uma corrente humana com os irmãos cegos à frente. Em seguida, Emma deu a ordem, e os meninos partiram em uma corrida leve, mergulhando-nos na escuridão.
Viramos para a esquerda. Chapinhamos em poças de água parada. Então, do túnel às nossas costas, ouvimos o eco de um estrondo que só poderia significar uma coisa: os etéreos tinham arrebentado a tampa do poço.
— Eles entraram! — gritei.
Eu quase podia senti-los estreitando os corpos, descendo pelo poço em movimentos sinuosos. Quando chegassem ao nível do solo e pudessem correr, nos alcançariam muito depressa. Só tínhamos passado por uma bifurcação dos túneis, não era o bastante para despistá-los. Nem de longe.
Foi por isso que o que Millard disse em seguida me chocou: parecia loucura.
— Parem! Parem!
Os meninos cegos deram ouvidos. Nós nos amontoamos atrás deles, tropeçando e escorregando até pararmos.
— Qual é o seu problema?! — gritei. — Corra!
— Sinto muito — disse Millard. — É que acabei de me lembrar de uma coisa. Um de nós precisa passar pela saída da fenda antes dos ecolocalizadores ou da garota, senão eles vão parar no presente, enquanto nós acabaremos em 1940, e aí vamos nos separar. Para que eles consigam viajar para 1940 conosco, um de nós precisa ir primeiro para abrir caminho.
— Vocês não vieram do presente? — indagou Melina, confusa.
— De 1940, como ele disse — respondeu Emma. — Lá está chovendo bombas. Talvez vocês queiram ficar por aqui.
— Boa tentativa — retrucou Melina. — Mas vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil. Deve ser pior no presente, com acólitos por toda parte! É por isso que eu nunca saí da fenda temporal da srta. Thrush.
Emma deu um passo à frente e me puxou.
— Está bem, nós vamos primeiro!
Estendi o braço livre, tateando cegamente a escuridão.
— Não consigo ver nada!
O ecolocalizador mais velho disse:
— São apenas vinte passos adiante, vocês...
— ... não têm como errar — completou o mais novo.
Caminhamos lentamente, agitando as mãos à nossa frente. Chutei algo e tropecei. Meu ombro esquerdo raspou na parede.
— Ande reto! — ralhou Emma, me puxando para a direita.
Meu estômago se revirou. Eu senti: os etéreos tinham descido o poço. Naquele momento, mesmo que não conseguissem nos sentir, havia cinquenta por cento de chance de escolherem o túnel certo e nos encontrarem mesmo assim.
A hora de se esconder havia passado. Precisávamos correr.
— Que se dane — falei. — Emma, acenda uma luz!
— Com prazer! — Ela soltou minha mão e produziu uma chama tão grande que senti uma mecha de cabelo do lado direito da minha cabeça chamuscar.
Vi o ponto de transição na mesma hora. Estava bem à frente, marcado por uma linha vertical pintada na parede do túnel. Saímos juntos, correndo em sua direção.
No momento em que passamos por ele, senti uma pressão nos ouvidos. Estávamos de volta a 1940.
Saímos correndo pelas catacumbas. O fogo de Emma projetava sombras alucinadas nas paredes. Os meninos cegos estalavam as línguas bem alto e gritavam “esquerda” ou “direita” quando chegávamos a uma bifurcação.
Passamos pela pilha de caixões e pelo amontoado de ossos. Finalmente, chegamos ao beco sem saída onde ficava a escada que levava à cripta. Empurrei Horace para cima, à minha frente, depois Enoch, então Olive tirou os sapatos e subiu flutuando.
— Estamos demorando demais! — gritei.
Eu podia senti-los se aproximando pelo fim da passagem. Podia sentir suas línguas pisando o chão de pedra, impulsionando-os para a frente. Podia visualizar as mandíbulas começando a gotejar baba negra, ansiosos por uma matança.
Então os vi. Um borrão de movimento escuro ao longe.
— Vão! — gritei.
Então pulei na escada, o último a subir. Quando estava quase chegando ao topo, Bronwyn estendeu o braço e me puxou pelos últimos degraus, então cheguei à cripta junto com os outros.
Com um grunhido alto, Bronwyn pegou a tampa de pedra que tampava o túmulo de Christopher Wren e a colocou de volta no lugar. Menos de dois segundos depois, algo bateu violentamente contra o lado de baixo, fazendo a pedra pesada dar um salto. A tampa não seguraria os etéreos por muito tempo — não dois deles.
Eles estavam muito perto. Alarmes soavam dentro de mim e meu estômago doía como se eu tivesse tomado ácido. Subimos correndo a escada em caracol e chegamos à nave. A catedral estava às escuras. A única iluminação era um brilho laranja estranho que entrava pelas janelas sujas. Por um momento pensei que fossem os últimos raios de sol, mas então, conforme corríamos na direção da saída mais próxima, tive um vislumbre do céu pelo telhado destruído.
Anoitecera. As bombas ainda caíam, produzindo estrondos abafados como batidas irregulares de um coração.
Corremos para a rua.
CAPÍTULO DEZ
De onde estávamos, parados estupefatos nos degraus da catedral, a cidade inteira parecia mergulhada em chamas. O céu era um panorama de chamas laranja, com luz o suficiente para ler. A praça onde tínhamos perseguido as pombas se transformara em um buraco fumegante entre as pedras arredondadas do calçamento. As sirenes continuavam a soar, um contraponto em soprano ao baixo incessante das bombas, com um tom tão assustadoramente humano que parecia que todas as almas em Londres tinham subido nos telhados para gritar o desespero coletivo. Depois, a surpresa foi substituída pelo medo e pela urgência de autopreservação, então descemos os degraus cheios de destroços até a rua, passamos pela praça arruinada e demos a volta em um ônibus de dois andares que parecia ter sido esmagado por um gigante enraivecido. Eu não sabia para onde corríamos, mas nem me importava, desde que fosse para longe da Sensação, que ficava cada vez mais forte e enjoativa dentro de mim.
Olhei para trás, para a menina telecinética que puxava os irmãos cegos enquanto eles estalavam a língua. Pensei em dizer a ela para soltar a pomba, de forma que pudéssemos segui-la, mas de que adiantaria encontrar a srta. Wren naquele momento, com os etéreos em nossa cola? Seríamos mortos ao chegar e poríamos em risco a vida dele. Não. Primeiro, precisávamos despistar os etéreos. Ou, melhor ainda, matá-los.
Um homem com capacete de metal espichou a cabeça para fora de uma porta e gritou:
— É melhor vocês procurarem abrigo! — Depois se recolheu.
Claro, pensei. Mas onde? Talvez pudéssemos nos esconder nos destroços e no caos à nossa volta, e, com tanto barulho e distração, os etéreos passariam sem nos ver. Mas ainda estávamos perto demais, nosso rastro era muito recente. Alertei meus amigos para não usarem as habilidades, não importasse o motivo, e Emma e eu os conduzimos pelas ruas em zigue-zague, torcendo para que isso dificultasse a perseguição.
Mesmo assim, eu ainda os sentia se aproximando. Eles estavam em campo aberto, fora da catedral, correndo atrás de nós — invisíveis para todos, menos para mim. Fiquei me perguntando se até mesmo eu teria dificuldade de vê-los ali no escuro: criaturas de sombra em uma cidade de sombras.
Corremos até meu pulmão começar a arder. Até Olive não aguentar mais e Bronwyn ter que carregá-la no colo. Passamos por grandes quarteirões com janelas cobertas que nos encaravam como olhos sem pálpebras; depois, por uma biblioteca bombardeada que fazia nevar cinzas e papel queimado; por um cemitério bombardeado, com londrinos havia muito esquecidos desenterrados e arremessados em árvores, as caveiras sorridentes em trajes formais apodrecidos; por um playground com uma cratera, onde havia um balanço todo torto. Os horrores se acumulavam, incompreensíveis. Os bombardeiros de vez em quando lançavam sinalizadores, iluminando tudo com o branco puro e brilhante de mil flashes. Como se quisessem dizer: Vejam. Vejam o que fizemos.
Pesadelos que haviam ganhado vida. Como os etéreos.
Não olhe, não olhe, não olhe...
Invejei os irmãos cegos, que navegavam por uma topografia piedosamente carente de detalhes, tendo apenas a noção da estrutura geral do mundo. Perguntei-me brevemente como seriam seus sonhos... ou se sequer sonhavam.
Emma corria ao meu lado, o cabelo ondulado coberto de poeira e balançando às costas.
— Todo mundo está exausto — falou. — Não podemos continuar assim!
Ela tinha razão. Àquela altura, até os mais em forma estavam cansados. Os etéreos logo nos alcançariam, então teríamos que enfrentá-los no meio da rua — o que seria um banho de sangue. Precisávamos encontrar abrigo.
Conduzi os outros na direção de uma série de casas. Como os pilotos de bombardeiro eram mais propensos a tentar acertar uma casa bem-iluminada do que uma mancha na escuridão, todas estavam às escuras, com as luzes das portas apagadas e as janelas cobertas. Uma casa vazia seria o mais seguro, mas, apagadas como estavam, não havia como saber quais estavam ocupadas e quais não. Teríamos que escolher aleatoriamente.
Fiz todos pararem no meio da rua.
— O que você está fazendo? — indagou Emma, tentando recuperar o fôlego. — Ficou maluco?
— Talvez — respondi, então agarrei Horace, estendi a mão na direção das casas e disse: — Escolha.
— Como assim? — perguntou. — Por que eu?
— Porque confio mais nos seus palpites aleatórios do que nos meus.
— Mas eu nunca sonhei com isso! — protestou o garoto.
— Talvez tenha sonhado, mas não lembra — respondi. — Escolha.
Ao perceber que não havia saída, Horace engoliu em seco e fechou os olhos por um segundo, então se virou e apontou para uma casa atrás de nós.
— Aquela.
— Por que aquela? — perguntei.
— Porque você me obrigou a escolher! — retrucou Horace, irritado.
Ia ter que servir.
***
A porta da frente estava trancada. Sem problema: Bronwyn arrancou a maçaneta e a jogou na rua. A porta se entreabriu sozinha, e entramos, em fila, em um corredor escuro e cheio de fotos de família, os rostos impossíveis de identificar. Bronwyn fechou a porta e a bloqueou com uma mesa que encontrou no corredor.
— Quem está aí? — veio uma voz do interior da casa.
Droga. Não estávamos sozinhos.
— Você devia ter escolhido uma casa vazia — reclamei com Horace.
— Eu vou dar um socão na sua cara — murmurou Horace.
Não havia tempo para trocarmos de casa. Teríamos que nos apresentar a quem quer que estivesse ali e torcer para que fosse amistoso.
— Quem está aí? — perguntou a voz.
— Não somos ladrões, alemães nem nada parecido! — gritou Emma. — Só entramos aqui atrás de abrigo!
Nenhuma resposta.
— Fiquem aqui — disse Emma aos outros, e me puxou pelo corredor. — Estamos indo dizer olá! — anunciou, em tom amistoso. — Não atire em nós, por favor!
Caminhamos até o fim do corredor e viramos uma curva. Ali, parada na soleira de uma porta, havia uma menina. Ela segurava uma lanterna pesada em uma das mãos e um abridor de cartas na outra. Seus olhos negros e duros se moviam, aflitos, de Emma para mim.
— Não há nada de valor aqui! — declarou ela. — Esta casa já foi roubada.
— Eu já falei que não somos ladrões! — retrucou Emma, ofendida.
— E eu disse a vocês para ir embora. Se não forem, vou gritar, e... e meu pai vai vir correndo com... com revólveres e outras coisas!
A menina parecia ao mesmo tempo infantil e prematuramente adulta. Tinha o cabelo na altura da orelha e usava um vestido infantil com grandes botões brancos que iam de cima a baixo, mas algo em seu rosto inexpressivo a fazia parecer mais velha, já conhecedora do mundo, mesmo tendo apenas doze ou treze anos.
— Por favor, não grite — pedi, mas não pensando no pai provavelmente fictício, e sim em outras coisas que poderiam vir correndo.
Então ouvimos uma vozinha atrás da menina, através da porta que ela obviamente estava bloqueando.
— Quem está aí, Sam?
O rosto da menina empalideceu de frustração.
— Só umas crianças — foi a resposta. — Eu pedi para você ficar quieta, Esme.
— São simpáticas? Quero ver!
— Elas já estão de saída.
— Nós somos muitos, vocês são só duas — argumentou Emma, de modo muito realista. — Vamos ficar por um tempo e ponto final. Você não vai gritar e nós não vamos roubar nada.
Os olhos da menina brilharam de raiva, mas depois se acalmaram. Ela sabia que perdera a disputa.
— Está bem — concordou. — Mas se tentarem alguma coisa eu grito e enfio isso na sua barriga. — Ela brandiu o abridor de cartas, sem forças, depois o baixou até a altura da cintura.
— É justo — respondi.
— Sam — chamou a vozinha. — O que está acontecendo?
A garota, Sam, se afastou com relutância, revelando um banheiro que dançava à luz tremeluzente de velas. Havia uma pia, um vaso sanitário e uma banheira, e, na banheira, uma menininha de uns cinco anos. Ela nos espiava por cima da borda, com curiosidade.
— Essa é a minha irmã, Esme — explicou Sam.
— Olá! — cumprimentou Esme, agitando um patinho de borracha para nós. — As bombas não acertam quem fica dentro de uma banheira, sabiam?
— Não, não sabia — respondeu Emma.
— É onde ela se sente segura — sussurrou Sam. — Passamos todo ataque aéreo aqui.
— Vocês não estariam mais seguras em um abrigo? — indaguei.
— São lugares horríveis — respondeu Sam.
Os outros tinham se cansado de esperar e começaram a avançar pelo corredor. Bronwyn enfiou a cabeça pela porta e disse olá.
— Entrem! — disse Esme, muito contente.
— Você confia fácil demais nas pessoas — repreendeu-a Sam. — Um dia, vai conhecer alguém mau e vai se arrepender.
— Eles não são maus — retrucou Esme.
— Não dá para saber só de olhar.
Então Hugh e Horace enfiaram a cabeça pela porta, curiosos para ver quem tínhamos encontrado, e Olive se enfiou entre as pernas deles e se sentou no chão. Logo estávamos todos apertados no banheiro, até Melina e os irmãos cegos — que ficaram de pé de frente para a parede, de um jeito muito esquisito. Ao ver tanta gente, as pernas de Sam tremeram e ela se sentou pesadamente no vaso, sem saber o que fazer. Mas sua irmã estava empolgada, perguntando o nome de todos que entravam.
— Onde estão os pais de vocês? — perguntou Bronwyn.
— Meu pai está atirando em gente má na guerra — respondeu Esme, orgulhosa. Ela imitou o gesto de segurar um fuzil e gritou: — Bang!
Emma olhou para Sam.
— Você disse que seu pai estava lá em cima — disse Emma, sem rodeios.
— Vocês invadiram nossa casa — retrucou Sam.
— É verdade.
— E a sua mãe? — indagou Bronwyn. — Onde ela está?
— Já morreu faz tempo — explicou Sam, sem demonstrar tristeza. — Então, quando papai foi para a guerra, tentaram deixar a gente com alguns parentes em algum lugar. E, como a irmã do papai que mora em Devon é muito má e só aceitaria ficar com uma de nós, tentaram mandar Esme e eu para lugares diferentes. Mas saltamos do trem e voltamos.
— Não seremos separadas — declarou Esme. — Somos irmãs.
— E vocês têm medo de ir para um abrigo e serem encontradas? — indagou Emma. — E mandadas para longe?
Sam assentiu.
— Não vou deixar isso acontecer.
— É seguro aqui na banheira — comentou Esme. — Talvez seja melhor vocês também entrarem. Aí fica todo mundo seguro.
Bronwyn levou a mão ao coração.
— Obrigada, querida, mas não caberia todos nós!
Enquanto os outros conversavam, voltei a me concentrar em meu interior, tentando sentir os etéreos. Eles não estavam mais correndo. A Sensação se estabilizara, o que significava que não estavam nem chegando mais perto, nem se afastando, e sim provavelmente farejando os arredores. Considerei isso um bom sinal. Se soubessem onde estávamos, teriam ido direto até nós. Nosso rastro esfriara. Só precisávamos ficar escondidos por um tempo, depois poderíamos seguir a pomba até a srta. Wren.
Ficamos aglomerados no chão do banheiro, ouvindo bombas caírem em outras partes da cidade. Emma encontrou um pouco de álcool no armário de remédios e insistiu em limpar e fazer um curativo no corte em minha cabeça. Depois, Sam começou a cantarolar uma canção que eu conhecia, mas não conseguia lembrar o nome, enquanto Esme brincava com seu patinho na banheira. Bem lentamente, a Sensação começou a diminuir. Por pouquíssimos instantes, aquele banheiro cintilante se transformou em um mundo à parte: um casulo distante dos problemas e da guerra.
Mas a guerra lá fora se recusava a ser ignorada por muito tempo. Armas de ataque antiaéreo foram disparadas. Estilhaços caíram no telhado como garras. As bombas se aproximaram cada vez mais, até que as detonações passaram a ser seguidas por sons mais baixos e mais sinistros: o barulho de paredes desabando. Olive abraçou a si mesma. Horace enfiou o dedo nos ouvidos. Os meninos cegos gemiam e se balançavam, ainda de pé. A srta. Peregrine se agitava nas profundezas das dobras do casaco de Bronwyn e a pomba tremia no colo de Melina.
— Olha a loucura em que vocês nos enfiaram! — comentou Melina.
— Eu avisei — retrucou Emma.
A água na banheira ondulava a cada explosão. A garotinha agarrou o pato de borracha com força e começou a chorar. Seus soluços encheram o pequeno cômodo. Sam cantarolou mais alto, fazendo pausas para sussurrar “Você está segura, Esme, está segura aqui” entre as linhas melódicas, mas a menininha só chorava mais. Horace tirou os dedos dos ouvidos e tentou distraí-la fazendo bichos de sombras na parede — um crocodilo abrindo e fechando a boca, um pássaro voando —, mas Esme mal deu atenção. Então, a última pessoa que eu poderia imaginar que fosse se dar ao trabalho de tentar fazer uma garotinha se sentir melhor se aproximou da banheira.
— Olhe aqui — disse Enoch. — Eu tenho um homenzinho que gostaria de montar no seu pato para dar uma volta. E ele cabe direitinho.
Ele tirou do bolso um homúnculo de argila de cerca de dez centímetros, o último dos que fizera em Cairnholm. Os soluços de Esme foram diminuindo enquanto ela o observava dobrar as pernas do homem de barro e colocá-lo sentado na beira da banheira. Depois, apertando o polegar no peito do pequenino homem de argila, Enoch lhe deu vida. O rosto de Esme brilhou de felicidade quando o homenzinho se levantou e caminhou pela borda da banheira.
— Vamos lá — incentivou Enoch. — Mostre a ela o que sabe fazer.
O homenzinho de barro pulou e bateu os calcanhares, depois fez uma reverência exagerada. Esme riu e bateu palmas. Logo depois, quando uma bomba caiu ali perto, fazendo o homenzinho perder o equilíbrio e cair na banheira, ela riu ainda mais.
Um calafrio repentino subiu pela minha nuca e fez meu couro cabeludo se eriçar, então a Sensação me tomou de forma tão repentina e acentuada que gemi e me curvei. Os outros me viram e entenderam o significado na mesma hora.
Eles estavam a caminho. E bem depressa.
É claro que estavam: Enoch usara seu poder, e eu nem tinha me lembrado de impedi-lo. Foi quase como se tivéssemos acendido um sinalizador.
Eu me levantei, equilibrando-me com dificuldade, pois a dor vinha em ondas debilitantes. Tentei gritar: Corram! Fujam pelos fundos!, mas não tinha forças para falar. Emma pôs as mãos em meus ombros.
— Se acalme, meu bem, e melhore logo, pois precisamos de você!
De repente, alguma coisa bateu na porta da frente. Cada impacto ecoou pela casa.
— Eles estão aqui! — consegui dizer finalmente, mas o som da porta se sacudindo nas dobradiças já declarara o óbvio.
Todo mundo se levantou de um pulo e se apertou para sair para o corredor, em uma confusão apavorada. Apenas Sam e Esme ficaram no lugar, encolhidas, sem entender. Emma e eu tivemos que puxar Bronwyn para longe da banheira.
— Não podemos simplesmente abandoná-las! — gritou a menina, enquanto a arrastávamos na direção da porta.
— Podemos, sim! — retrucou Emma. — Elas vão ficar bem... Os etéreos não estão atrás delas!
Eu sabia que isso era verdade, mas também sabia que os etéreos eliminariam qualquer coisa que encontrassem pelo caminho, incluindo duas meninas normais.
Bronwyn socou a parede com raiva, abrindo um buraco na forma de seu punho.
— Desculpe — disse às meninas.
Emma a empurrou para o corredor. Fui atrás delas cambaleando, sentindo o estômago se revirar.
— Tranquem essa porta e não abram para ninguém! — gritei, depois me virei para trás e dei uma última olhada no rosto de Sam, enquadrado pela porta se fechando, os olhos arregalados e assustados.
Ouvi uma janela se quebrar na frente da casa. Uma espécie de curiosidade suicida me fez espiar além do corredor. Uma massa de tentáculos se retorcia para passar pelas cortinas de blecaute.
Emma agarrou meu braço e me puxou, levando-me por outro corredor até a cozinha, de onde saímos pela porta dos fundos para um jardim coberto de cinzas. Em seguida, corremos para um beco, por onde os outros já saíam em disparada, espalhados. De repente, alguém gritou:
— Olhem ali! Olhem ali!
Ainda correndo, eu me virei e vi uma grande ave branca planando bem alto. Enoch gritou:
— Uma mina! É uma mina!
O que pareciam asas delicadas giraram de repente e se abriram em um paraquedas, e o objeto gordo e prateado pendurado nela estava carregado de explosivos: um anjo da morte flutuando serenamente em direção à terra.
Os etéreos saíram da casa. Eu conseguia vê-los ao longe, pulando pelo jardim com as línguas balançando no ar.
A mina caiu perto da casa com um tilintar suave.
— Abaixem-se! — gritei.
Não tivemos a menor chance de correr em busca de abrigo. Mal cheguei ao chão e houve um clarão cegante, seguido de um barulho que parecia a terra se abrindo e uma onda forte de vento quente e cauterizante que arrancou o ar de meus pulmões. Então, uma chuva negra de detritos caiu em minhas costas. Agarrei os joelhos contra o peito para me tornar o mais compacto possível.
Depois disso, restaram apenas o vento, as sirenes e um zumbido em meus ouvidos. Tentei respirar, mas me engasguei com o turbilhão de poeira. Ergui a gola do suéter por cima do nariz e da boca para filtrar o ar e, aos poucos, recuperei o fôlego.
Contei meus membros: dois braços e duas pernas.
Bom.
Sentei-me devagar e olhei ao redor. Não conseguia ver muita coisa através da poeira, mas ouvi meus amigos chamando uns aos outros. Escutei a voz de Horace, de Bronwyn. De Hugh. De Millard.
Onde estava Emma?
Gritei o nome dela. Tentei me levantar, mas caí no chão. Minhas pernas estavam intactas, mas tremiam. Não conseguiam sustentar meu peso.
Chamei de novo:
— Emma!
— Estou aqui!
Virei a cabeça de repente na direção da voz dela, que se materializou entre a fumaça.
— Jacob! Ah, minha nossa! Graças a Deus!
Nós dois estávamos tremendo. Eu a abracei e passei as mãos por seu corpo, para ter certeza de que estava tudo ali.
— Você está bem? — perguntei.
— Estou. E você?
Meus ouvidos doíam, meus pulmões latejavam e eu sentia uma pontada nas costas, onde tinha sido atingido pela chuva de detritos, mas a dor no estômago passara. No momento da explosão, foi como se alguém tivesse desligado um botão dentro de mim: a Sensação desapareceu na mesma hora.
Os etéreos tinham sido desintegrados.
— Estou bem — respondi. — Estou bem.
Tirando alguns cortes e arranhões, os outros também estavam. Nós nos reagrupamos, ainda cambaleantes, e analisamos nossas feridas. Todas eram pequenas.
— É um milagre — comentou Emma, sem conseguir acreditar.
Isso parecia ainda mais verdadeiro quando víamos que por toda a volta havia pregos, pedaços de concreto e lascas de madeira afiadas como facas — e a explosão enterrara a maioria alguns centímetros no chão.
Enoch foi mancando até um carro com as janelas quebradas estacionado ali perto, cuja carroceria estava tão cravejada de estilhaços de bomba que parecia ter sido alvo de uma metralhadora.
— Era para estarmos mortos — comentou, maravilhado, enfiando os dedos em um dos buracos. — Por que não estamos todos furados?
— Sua roupa, meu caro — explicou Hugh, então foi até Enoch e tirou um prego amassado das costas de seu suéter incrustado de pedrinhas.
— E a sua — respondeu Enoch, tirando uma ponta afiada de metal do suéter de Hugh.
Então todos analisamos nossas roupas. Em todos nós havia pedaços grandes de vidro e de metal encravados, coisas que deveriam ter atravessado nossos corpos, mas não o fizeram. Os suéteres peculiares que davam coceira e caíam mal não eram resistentes ao fogo nem à água, como sugerira a jumirafa. Eram à prova de balas. E tinham salvado nossa vida.
— Eu nunca iria imaginar que deveria minha vida a uma peça de roupa tão horrenda — comentou Horace, examinando a lã do suéter entre os dedos. — Será que dá para fazer um paletó com esse tecido?
Então Melina surgiu carregando a pomba no ombro e trazendo os irmãos cegos. Os irmãos tinham usado seus sentidos peculiares e descoberto uma parede baixa de concreto reforçado — ela soara bem resistente — e puxaram Melina junto com eles bem no instante em que a bomba explodiu. Com isso, só não sabíamos o que havia acontecido com as duas meninas normais. Mas, quando a poeira baixou e pudemos ver a casa — ou o que restava dela —, qualquer esperança de encontrá-las com vida desapareceu. O andar superior desabara, achatando o inferior como uma panqueca. O que restou foi uma ruína esquelética de vigas expostas e entulho fumegante.
Bronwyn foi correndo até lá mesmo assim, gritando o nome das irmãs. Entorpecido, fiquei só olhando.
— Podíamos ter ajudado as duas, mas não ajudamos — comentou Emma, arrasada. — Nós as deixamos para morrer.
— Não teria feito a menor diferença — respondeu Millard. — A morte delas estava escrita na história. Mesmo que tivéssemos salvado suas vidas, outra coisa as teria matado. Outra bomba. Um acidente de ônibus. Elas eram do passado, e o passado sempre se conserta, por mais que a gente tente interferir.
— É por isso que você não tem como voltar no tempo e matar o bebê Hitler para evitar que a guerra aconteça — completou Enoch. — A história se cura. Isso não é interessante?
— Não — retrucou Emma, com raiva. — E você é um canalha sem coração por falar em matar bebês em um momento desses. Ou em qualquer momento.
— O bebê Hitler — reforçou Enoch. — E falar sobre a teoria das fendas temporais é melhor do que ficar histérico sem motivo. — Ele olhava para Bronwyn, que estava escalando a pilha de escombros, cavando nos destroços, jogando entulho para todos os lados.
Ela se virou e acenou para nós.
— Aqui! — gritou.
Enoch balançou a cabeça.
— Alguém vá buscá-la, por favor. Precisamos encontrar a ymbryne.
— Aqui! — gritou Bronwyn, dessa vez mais alto. — Estou ouvindo uma delas!
Emma olhou para mim.
— Espere. O que foi que ela disse?
E todos corremos para nos juntar a Bronwyn.
***
Encontramos a garotinha embaixo de um pedaço da laje do teto que caíra em cima da banheira, agora quebrada, mas não estraçalhada. Esme estava encolhida lá dentro. Molhada, imunda e traumatizada, mas viva. A banheira a protegera, exatamente como a irmã prometera.
Bronwyn levantou o pedaço de teto o suficiente para Emma enfiar as mãos na banheira e tirar Esme. A menininha se agarrou a ela prontamente, tremendo e chorando.
— Cadê minha irmã? — perguntou. — Cadê Sam?
— Calma, querida, calma — respondeu Emma, balançando-a para cima e para baixo. — Vamos levar você para um hospital. Sam vai depois.
Era mentira, é claro, e notei que Emma estava arrasada por ter que dizer aquilo. Nós e a garotinha termos sobrevivido contabilizava dois milagres em uma só noite. Esperar um terceiro parecia ganância.
Mas, então, um terceiro milagre aconteceu — ou algo parecido.
— Estou aqui, Esme! — veio uma voz de cima.
— Sam! — gritou a menininha, e todos olhamos para o alto.
Sam estava pendurada em uma viga de madeira do telhado. A viga estava quebrada e pendia a um ângulo de quarenta e cinco graus. Sam estava perto da ponta de baixo, mas ainda inalcançável.
— Pode soltar! — gritou Emma. — Vamos pegar você!
— Não posso!
Então olhei mais atentamente e entendi por que ela não podia se soltar. Quase desmaiei.
Os braços e as pernas de Sam pendiam, frouxos. Ela não estava pendurada na viga, mas por causa da viga. A peça de madeira estava atravessada bem no centro de seu corpo. Apesar disso, os olhos da menina ainda estavam abertos e ela piscava, alerta, nos fitando.
— Parece que estou presa — disse, muito calma.
Eu tinha certeza de que Sam ia morrer a qualquer momento. Ela estava em choque, por isso não sentia dor, mas a adrenalina em seu organismo logo iria se dissipar. Quando isso acontecesse, Sam ia desmaiar e morrer.
— Alguém precisa tirar minha irmã de lá! — gritou Esme.
Bronwyn foi atrás da menina. Ela subiu por uma escada caindo aos pedaços, que levava ao teto, então se esticou para se agarrar na viga. Bronwyn puxou e puxou e, com sua força enorme, conseguiu diminuir o ângulo entre a viga e o chão até que a ponta quebrada quase tocasse os destroços abaixo. Isso permitiu que Enoch e Hugh alcançassem as pernas de Sam e, com muita delicadeza, fizessem-na deslizar para a frente, até que ela se soltou, com um plop suave, e parou de pé.
Sam olhou para o buraco em seu peito sem muito interesse. Tinha uns quinze centímetros de diâmetro e era perfeitamente redondo, como a viga com que ela fora empalada. Mesmo assim, não parecia incomodá-la muito.
Esme se soltou de Emma e correu até a irmã.
— Sam! — exclamou a menininha, abraçando pela cintura a irmã ferida. — Graças a Deus você está bem!
— Acho que ela não está bem! — comentou Olive. — Acho que ela não está nada bem!
Mas Sam só estava preocupada com Esme, não consigo mesma. Depois de abraçá-la bem apertado, a menina se ajoelhou e segurou a irmãzinha com os braços esticados, examinando-a em busca de cortes e machucados.
— Me diga onde dói — mandou.
— Meus ouvidos estão zumbindo. Ralei os joelhos e entrou um pouco de terra nos meus olhos...
Então Esme começou a tremer e a chorar, tomada outra vez pelo choque do que acontecera. Sam a abraçou bem forte, dizendo:
— Está tudo bem, está tudo bem...
Não fazia sentido que o corpo de Sam ainda estivesse funcionando. E o mais estranho era que o ferimento não estava sequer sangrando — não havia sangue coagulado nem pedaços de entranhas saindo por ele, como eu esperava, por causa dos filmes de terror a que assisti. Em vez disso, Sam parecia uma boneca de papel que fora atacada por um furador gigante.
Apesar de todos estarem doidos para encontrar uma explicação, tínhamos decidido dar às meninas um momento a sós. Ficamos olhando, pasmos, de uma distância respeitável.
Enoch, entretanto, não teve a mesma cortesia.
— Com licença — disse, invadindo o espaço pessoal das irmãs. — Você pode explicar como é que ainda está viva?
— Não é nada sério — respondeu Sam. — Mas acho que meu vestido não vai ter salvação.
— Nada sério?! — indagou Enoch. — Dá para ver através de você!
— Dói um pouco — admitiu ela. — Mas vai encher em um ou dois dias. Isso sempre acontece.
Enoch riu loucamente.
— Sempre acontece?
— Em nome de tudo que é peculiar! — murmurou Millard. — Vocês sabem o que isso significa, não sabem?
— Ela é uma de nós — respondi.
***
Tínhamos perguntas. Muitas perguntas. Enquanto as lágrimas de Esme diminuíam, tomamos coragem para fazê-las.
Sam sabia que era peculiar?
Ela sabia que era diferente, foi a resposta, mas nunca tinha ouvido o termo peculiar.
Ela já tinha vivido em alguma fenda temporal?
Não (“Fenda o quê?”), o que significava que Sam tinha exatamente a idade que aparentava: doze anos, pelo que disse.
Nenhuma ymbryne tinha ido atrás dela?
— Uma pessoa veio aqui, uma vez — respondeu Sam. — Disse que havia outros como eu, mas que, para me juntar a eles, eu teria que abandonar Esme.
— Esme não consegue... fazer nada? — perguntei.
— Eu sei contar até cem de trás para a frente com voz de pato — gabou-se Esme, entre uma fungada e outra, e logo começou a demonstração, grasnando: — Cem, noventa e nove, noventa e oito...
Antes que pudesse se estender, Esme foi interrompida por uma sirene muito aguda e que vinha direto em nossa direção. Uma ambulância fez a curva, entrou correndo no beco e veio depressa até nós. Estava com os faróis cobertos, de modo que víamos apenas pontinhos de luz. O carro freou e parou ali perto, a sirene foi desligada e um motorista desceu.
— Alguém se machucou? — perguntou o homem, correndo até nós.
Ele vestia um uniforme cinza amarrotado e usava um capacete de metal amassado. Apesar de cheio de energia, parecia exausto, como se não dormisse fazia dias.
O homem viu o buraco no peito de Sam e parou onde estava.
— Minha nossa!
Sam se levantou.
— Não é nada de mais! — exclamou a menina. — Estou bem!
E, para demonstrar como estava bem, ela enfiou a mão no buraco, depois tirou e fez um polichinelo.
O paramédico desmaiou.
— Hum... — murmurou Hugh, cutucando o homem caído com o pé. — Eu imaginava que esses sujeitos fossem mais resistentes.
— Como ele está obviamente incapacitado, sugiro que a gente pegue a ambulância emprestada — declarou Enoch. — Não tem como saber até que parte da cidade a pomba vai nos guiar. Se for longe, podemos levar a noite inteira para chegar a pé até a srta. Wren.
Horace, que estava sentado em um pedaço de parede, se levantou.
— Uma ideia excelente! — exclamou.
— É uma ideia péssima! — retrucou Bronwyn. — Não podemos roubar uma ambulância... os feridos precisam dela!
— Nós fomos feridos — gemeu Horace. — E precisamos dela!
— Não é a mesma coisa!
— Santa Bronwyn! — interveio Enoch, sarcástico. — Está tão preocupada com o bem-estar dos normais que vai arriscar a vida da srta. Peregrine para proteger alguns deles? Mil deles não valem nem uma dela! Nem nenhum de nós, para ser sincero!
Bronwyn ficou pasma.
— Que coisa horrível de se dizer na frente de...
Sam foi até Enoch, exibindo uma careta de desgosto.
— Olha aqui, garoto. Se você sugerir mais uma vez que a vida da minha irmã não vale nada, vou bater em você.
— Calma, eu não estava falando da sua irmã. Só quis dizer que...
— Eu sei muito bem o que você quis dizer. E vou bater em você se disser outra vez.
— Desculpe se ofendi sua delicada sensibilidade — retrucou Enoch, erguendo a voz em desespero —, mas você nunca teve uma ymbryne e nunca viveu em uma fenda temporal, então não consegue entender que este momento aqui não é real, estritamente falando. Estamos no passado. A vida de todos os normais desta cidade já foi vivida. Os destinos estão determinados, não importa quantas ambulâncias a gente roube! Por isso, não tem nenhuma importância, entendeu?
Com a expressão um pouco intrigada, Sam não respondeu, mas continuou a olhar feio para Enoch.
Bronwyn se pronunciou:
— Mesmo assim, não é certo fazer as pessoas sofrerem sem necessidade. Não podemos levar a ambulância.
— Esse discurso é muito bonito, mas pense na srta. Peregrine! — interveio Millard. — Ela não deve ter mais que um dia.
Nosso grupo parecia igualmente dividido entre roubar a ambulância ou ir a pé, por isso resolvemos votar. Eu era contra, sobretudo porque as ruas estavam tão esburacadas por causa das bombas que eu não sabia como conseguiríamos dirigir aquela coisa.
Emma organizou a votação.
— Quem é a favor de levar a ambulância? — indagou.
Algumas mãos se ergueram.
— E contra?
De repente, ouvimos um estouro vindo da direção da ambulância e nos viramos. A srta. Peregrine estava parada ao lado do veículo enquanto um dos pneus traseiros esvaziava. A srta. Peregrine votara com o bico, enfiando-o no pneu. Ninguém mais poderia usá-la, nem nós, nem as pessoas feridas — e não fazia sentido discutirmos ou nos demorarmos mais.
— Bem, isso simplifica as coisas — comentou Millard. — Vamos a pé.
— Diretora! — exclamou Bronwyn. — Como pôde?
Ignorando a indignação de Bronwyn, a srta. Peregrine foi saltitando até Melina, olhou para a pomba em seu ombro e soltou um pio alto. A mensagem era clara: Vamos logo!
Não tínhamos escolha. O tempo estava se esgotando.
— Venha com a gente — disse Emma para Sam. — Se há alguma justiça neste mundo, estaremos em um lugar seguro antes do fim da noite.
— Eu disse a vocês, não vou abandonar minha irmã — respondeu a menina. — Vocês vão para um desses lugares onde ela não consegue entrar, não é?
— Eu... eu não sei — gaguejou Emma. — É possível...
— Não me importa onde seja — disse Sam, com frieza. — Depois do que acabei de ver, não tenho vontade nem de atravessar a rua com vocês.
Emma recuou e ficou um pouco pálida.
— Por quê? — perguntou ela, em voz baixa.
— Se nem pessoas excluídas e oprimidas como vocês conseguem ter um pouco de compaixão pelos outros — explicou a menina —, não há mais esperança para este mundo.
Sam então se virou e carregou Esme na direção da ambulância.
Emma reagiu como se tivesse levado um tapa. Seu rosto ficou vermelho. Ela correu atrás de Sam.
— Nem todos nós pensamos como Enoch! E, quanto a nossa ymbryne, tenho certeza de que não foi de propósito!
Sam se virou para encará-la.
— Aquilo não foi acidente! Ainda bem que minha irmã não é igual a vocês. Juro por Deus que eu queria não ser.
Ela se virou de novo, e dessa vez Emma não a seguiu. Com mágoa nos olhos, observou Sam se afastar, depois foi até os outros, abatida. De algum modo, o ramo de oliveira que ela estendera em um gesto de promessa de salvação se transformara em cobra e a mordera.
Bronwyn tirou o suéter e o colocou no chão.
— Da próxima vez que as bombas caírem, vista isso em sua irmã — gritou para Sam. — Vai protegê-la mais do que qualquer banheira.
Sam não disse nada, nem sequer olhou. Estava agachada ao lado do motorista da ambulância, que tinha se sentado, balbuciando:
— Eu tive um sonho muito estranho...
— Isso foi bem idiota de se fazer — comentou Enoch para Bronwyn. — Agora você não tem suéter.
— Cale essa sua boca grande — respondeu Bronwyn. — Se você já tivesse feito alguma coisa boa por alguém, talvez entendesse.
— Eu já fiz uma coisa boa por outra pessoa — retrucou Enoch. — E isso quase nos fez ser devorados por etéreos!
Murmuramos adeus, o que ficou sem resposta, e corremos para as sombras. Melina pegou a pomba e a jogou para o alto. A ave voou uma pequena distância antes que um fio amarrado em sua perna se esticasse e ela ficasse parada no céu, presa no ar, como um cachorro puxando a coleira.
— A srta. Wren está para lá — anunciou Melina, indicando a direção em que a ave puxava, então seguimos a garota e sua pomba amiga pelo beco.
Eu estava prestes a assumir a posição de vigia contra etéreos, que agora era meu lugar costumeiro à frente do grupo, quando alguma coisa me fez olhar para trás. Eu me virei a tempo de ver Sam erguer Esme, colocá-la na ambulância e se inclinar para a frente para dar um beijo em cada um de seus joelhos ralados. O que será que aconteceria com elas? Mais tarde, Millard me diria que o fato de nenhum deles ter ouvido falar de Sam — e alguém com uma peculiaridade tão única seria bem conhecida — significava que ela provavelmente não tinha sobrevivido à guerra.
Emma ficou muito afetada com tudo aquilo. Não sei por que era tão importante para ela provar a uma estranha que tínhamos bom coração, já que sabíamos que isso era verdade. Mas a sugestão de que éramos algo menos que anjos andando sobre a terra, de que nossas naturezas tinham matizes mais complexos, parecia incomodá-la.
Emma repetia sem parar:
— Elas não entendem.
Bem, pensei, talvez entendam.
CAPÍTULO ONZE
A situação chegara ao ponto em que tudo dependia de uma pomba. Se terminaríamos a noite na segurança uterina dos cuidados de uma ymbryne ou parcialmente mastigados nas entranhas negras de um etéreo; se a srta. Peregrine seria salva ou se ficaríamos perdidos naquela paisagem infernal até que o tempo dela acabasse; se eu voltaria ou não a ver meus pais e minha casa... Tudo dependia de uma pomba magricela peculiar.
Fui até a frente do grupo, tentando sentir a presença de etéreos, mas era a pomba que nos conduzia, puxando a guia como um cão de caça seguindo um rastro. Obedientes como cordeirinhos, virávamos à esquerda e à direita quando ela tomava cada uma dessas direções, mesmo que isso significasse avançar aos tropeços por ruas cheias de crateras capazes de quebrar um tornozelo ou repletas dos esqueletos de prédios desmembrados — as barras de ferro irregulares à espreita, apontadas para nosso pescoço no escuro iluminado pelo brilho tremeluzente de incêndios.
Depois dos acontecimentos aterrorizantes daquela noite, eu chegara a um nível ainda maior de exaustão. Sentia pontadas estranhas na cabeça. Meus pés se arrastavam. O estrondo das bombas silenciara e as sirenes finalmente haviam sido desligadas. Será que todo aquele barulho apocalíptico era o que me mantinha acordado? O ar enfumaçado continuava agitado, mas com sons mais sutis: água vazando de tubulações rompidas, ganidos de um cachorro preso, vozes roucas gemendo pedidos de socorro. Às vezes, outros pedestres se materializavam do escuro, figuras fantasmagóricas fugidas de algum mundo inferior, os olhos reluzentes de medo e desconfiança, carregando nos braços objetos aleatórios: rádios, prata saqueada, uma caixa folheada a ouro, uma urna funerária. Mortos carregando mortos.
Chegamos a uma rua perpendicular, e a pomba parou, sem saber se ia para a esquerda ou para a direita. A menina murmurava palavras de estímulo:
— Vamos lá, Winnie. Você é uma boa pomba. Mostre o caminho.
Enoch se inclinou para perto da ave e murmurou:
— Se você não encontrar a srta. Wren, vai acabar assada em um espeto.
A ave levantou voo, puxando para a esquerda.
Melina olhou feio para Enoch.
— Você é um idiota.
— Eu obtenho resultados — retrucou ele.
Por fim, chegamos a uma estação de metrô. A ave nos conduziu pela entrada em arco até um saguão onde havia uma bilheteria, e eu estava prestes a comentar: “Ora, vamos de metrô, que ave esperta!” Então percebi que o local estava deserto, e a bilheteria, fechada. Seguimos em frente, apesar de parecer que não passaria qualquer trem naquela estação por um bom tempo. Passamos por um portão destrancado e seguimos por um corredor coberto de cartazes e lajotas lascadas, até uma escadaria em caracol. Ela descia e descia até as entranhas da cidade, movimentadas e iluminadas a eletricidade.
A cada patamar da escada, tínhamos que desviar de pessoas dormindo enroladas em cobertores: primeiro estavam sozinhas, depois encontramos grupos deitados como palitos de fósforo espalhados, e, em seguida, quando chegamos ao fundo, um mar de gente cobria toda a plataforma do metrô. Havia centenas de pessoas apertadas entre a parede e os trilhos, encolhidas no chão, jogadas nos bancos, afundadas em cadeiras dobráveis. Aqueles que não estavam dormindo ninavam bebês, liam, jogavam cartas, rezavam. Não estavam esperando um trem. Não havia trens vindo. Eram refugiados das bombas, e aquele lugar era seu abrigo.
Tentei sentir a presença de etéreos, mas havia rostos demais, sombras demais. A sorte, se ainda nos tivesse sobrado alguma, teria que nos proteger por um tempo.
Para que lado vamos agora?
Precisávamos de instruções da pomba, mas ela pareceu um pouco confusa — assim como eu, devia estar surpresa com a multidão —, então paramos e esperamos, ouvindo a respiração, os roncos e os resmungos das pessoas que murmuravam misteriosamente ao nosso redor.
Um instante depois, a pomba se aprumou e voou na direção dos trilhos, então chegou ao fim da coleira e voltou direto para as mãos de Melina, como um ioiô.
Fizemos a volta para passar pelas pessoas, andando na ponta dos pés até a beira da plataforma, depois pulamos no fosso onde ficavam os trilhos. Eles desapareciam no interior de um túnel que se abria nos dois lados da estação. Fiquei muito apreensivo ao sentir que nosso futuro estava em algum lugar no interior de uma daquelas duas grandes bocas e escancaradas.
— Ah, espero que a gente não tenha que ir andando por ali — resmungou Olive.
— É claro que temos — retrucou Enoch. — Não podemos realmente chamar de férias enquanto não examinarmos todo o esgoto da cidade.
A pomba deu uma guinada para a direita. Seguimos pelos trilhos.
Saltei uma poça de óleo, e uma legião de ratos saiu correndo para longe de meus pés, o que fez Olive pular nos braços de Bronwyn com um gritinho. O túnel se abria à frente, escuro e ameaçador. Ocorreu-me que aquele seria um lugar muito ruim para encontrar um etéreo. Não havia paredes para escalar, casas onde se esconder ou tampas de tumba para fechar na cara deles. Era comprido e sem curvas, iluminado apenas por algumas lâmpadas vermelhas e fracas, dispostas em grandes intervalos.
Apertei o passo.
A escuridão se fechou à nossa volta.
***
Quando eu era pequeno, brincava muito de esconde-esconde com meu pai. Era sempre eu quem me escondia, e ele procurava. Eu era muito bom nisso — basicamente porque, ao contrário da maioria das crianças de quatro ou cinco anos, tinha a habilidade peculiar de ficar extremamente quieto por longos períodos de tempo, além de também não sofrer de qualquer traço de qualquer coisa remotamente parecida com claustrofobia: conseguia me enfiar no menor espaço atrás de algum móvel e ficar lá por vinte ou trinta minutos sem fazer barulho, me divertindo horrores.
Por isso, era de se esperar que eu não tivesse problema com toda aquela escuridão e o espaço fechado. Ou, pelo menos, dava para supor que um túnel onde havia apenas trens e trilhos — e mais nada — seria mais fácil de lidar do que um que parecia uma cova, com todo tipo de monstruosidade surgindo ao longo do caminho. Mesmo assim, quanto mais avançávamos pelo túnel, mais eu era tomado por um medo desagradável e cada vez maior, uma sensação completamente diferente da provocada pelos etéreos. Era simplesmente um pressentimento ruim. Por isso, apressei a todos, indo o mais rápido que o mais lento de nós conseguia, pressionando Melina até ela gritar para que eu me afastasse. O fluxo permanente de adrenalina era o que mantinha minha profunda exaustão em suspenso.
Depois de uma longa caminhada e várias bifurcações, a pomba nos levou a uma seção de trilhos não utilizada, onde os dormentes estavam podres e deformados e o chão parecia coberto de poças de água parada. Os trens que passavam por túneis distantes geravam correntes de ar, como a respiração na garganta de uma criatura enorme.
Então, bem à nossa frente, surgiu um pontinho de luz. Era pequeno, mas crescia depressa.
— Trem! — gritou Emma.
Nós nos espalhamos, nos encostando nas paredes. Cobri os ouvidos, me preparando para o barulho ensurdecedor de uma locomotiva passando bem perto, mas não ouvi coisa alguma, só um ganido baixo e agudo, que eu tinha quase certeza de que vinha da minha cabeça. Quando a luz encheu o túnel e o brilho branco nos cercou, senti uma pressão repentina nos ouvidos, e a luz sumiu.
Nós nos afastamos da parede, tontos. Os trilhos e os dormentes pareciam novos, como se tivessem acabado de ser instalados. O túnel cheirava um pouco menos a urina. As luzes ao longo das paredes estavam mais claras, mas, em vez de fornecerem uma iluminação firme, tremeluziam — não eram lâmpadas elétricas, e sim lampiões a gás.
— O que aconteceu? — indaguei.
— Entramos em uma fenda temporal — explicou Emma. — Mas o que era aquela luz? Nunca vi nada igual.
— Toda entrada de fenda tem características únicas — interveio Millard.
— Alguém sabe onde estamos? — perguntei.
— Acho que na segunda metade do século XIX — respondeu Millard. — Antes de 1863 não havia metrô em Londres.
Atrás de nós surgiu outra luz, dessa vez acompanhada por uma lufada de vento e um ronco trovejante.
— Trem! — gritou Emma mais uma vez, e era mesmo.
Nós nos jogamos contra as paredes quando ele passou, soltando fumaça em um turbilhão de barulho e luz. Parecia mais uma miniatura de locomotiva do que o metrô moderno. Tinha até um vagão para os funcionários — de onde um homem de barba negra e comprida, segurando um lampião, olhou para nós, surpreso, enquanto o trem desaparecia ao virar a curva seguinte.
O chapéu de Hugh fora arrancado da cabeça e esmagado. Ele foi apanhá-lo, mas viu que estava todo rasgado e o jogou no chão, irritado.
— Não gostei desta fenda — resmungou. — Estamos aqui há menos de dez segundos e ela já está tentando nos matar. Vamos fazer o que viemos fazer e ir embora.
— Eu não poderia estar mais de acordo — respondeu Enoch.
A pomba continuou a nos guiar pelos trilhos. Depois de mais ou menos dez minutos, ela parou, inclinando o corpo na direção do que parecia uma parede nua. Não conseguíamos entender por quê, até que olhei para cima e percebi uma porta parcialmente camuflada bem no local onde a parede tocava o teto, a quase dez metros de altura. Como não parecia haver outro meio de chegar lá, Olive tirou os sapatos e subiu flutuando até a porta para examiná-la de perto.
— Tem um cadeado — disse. — Um cadeado com senha.
Também havia um buraco enferrujado do tamanho de um pombo, no canto inferior da porta, mas aquilo não iria nos ajudar. Precisávamos saber a combinação.
— Alguém tem ideia de qual pode ser? — perguntou Emma.
Em resposta, apenas indiferença e olhares vazios.
— Nenhuma — disse Millard.
— Vamos ter que adivinhar — concluiu ela.
— Talvez seja o dia do meu aniversário — sugeriu Enoch. — Tente três-doze-noventa e dois.
— Por que alguém saberia o dia do seu aniversário? — indagou Hugh.
Enoch franziu o cenho.
— Apenas tente, por favor.
Olive girou os numerais do cadeado e tentou abri-lo.
— Sinto muito, Enoch.
— E o dia da fenda? — sugeriu Horace. — Nove-três-quarenta.
Essa também não funcionou.
— Não vai ser algo tão fácil de adivinhar, como uma data — comentou Millard. — Isso seria contrário ao objetivo de botar um cadeado.
Olive começou a tentar combinações aleatórias. Ficamos ali observando, mais ansiosos a cada tentativa frustrada. Enquanto isso, a srta. Peregrine saiu discretamente do casaco de Bronwyn e foi pulando até a pomba, que andava em círculos no limite da coleira, ciscando o chão. Quando a ave notou a srta. Peregrine, tentou fugir, mas a diretora a seguiu, emitindo um ruído baixo e vagamente ameaçador com a garganta.
A pomba bateu asas e voou até o ombro de Melina, fora do alcance da srta. Peregrine. A diretora ficou parada aos pés da menina, piando. Isso pareceu deixar a pomba extremamente nervosa.
— Srta. P., o que está aprontando? — indagou Emma.
— Acho que ela quer algo com a sua ave — falei para Melina.
— Se a pomba sabe o caminho, talvez saiba também a combinação — sugeriu Millard.
A srta. Peregrine se virou para ele e piou alto, depois olhou de volta para a pomba e piou ainda mais alto. A ave tentou se esconder atrás do pescoço de Melina.
— Talvez a pomba saiba a combinação, mas não como nos dizer — sugeriu Bronwyn. — Mas pode contar à srta. Peregrine, porque as duas falam a língua das aves, e aí a srta. Peregrine pode nos passar os números.
— Faça sua ave falar com a nossa — mandou Enoch.
— Sua ave é duas vezes o tamanho da Winnie, tem garras e um bico afiado — retrucou Melina, recuando. — Ela está com medo, e não é à toa.
— Não há motivo para ter medo — disse Emma. — A srta. P. nunca faria mal a outra ave. É contra o código das ymbrynes.
Os olhos de Melina se arregalaram, depois se estreitaram.
— Essa ave é uma ymbryne?
— Ela é nossa diretora! — exclamou Bronwyn. — Alma LeFay Peregrine.
— Vocês são cheios de surpresas, hein? — comentou Melina, então deu uma risada não muito amigável. — Se vocês têm uma ymbryne, por que precisam encontrar outra?
— É uma longa história — respondeu Millard. — Basta dizer que a nossa ymbryne precisa da ajuda que só outra ymbryne pode dar.
— Ponha logo a maldita pomba no chão, para que a srta. P. possa falar com ela! — mandou Enoch.
Finalmente, embora ainda relutante, Melina concordou.
— Vamos lá, Winnie, você é uma boa menina.
Ela tirou a pomba do ombro e a pousou delicadamente à sua frente, depois prendeu a corda com o pé, para que a ave não saísse voando.
Fizemos um círculo ao redor das aves para observar enquanto a srta. Peregrine ia na direção da pomba. A pobrezinha tentou correr, mas foi impedida pela coleira. A srta. Peregrine ficou cara a cara com a pomba, piando e chilreando. Foi como assistir a um interrogatório. A interrogada enfiou a cabeça embaixo da asa e começou a tremer.
Então a srta. Peregrine a bicou na cabeça.
— Ei! — ralhou Melina. — Pare com isso!
A pomba manteve a cabeça escondida e não reagiu, por isso a srta. Peregrine a bicou de novo, dessa vez com mais força.
— Já chega! — exclamou Melina.
Ela tirou o pé de cima da guia e se abaixou para pegar a pomba. No entanto, a srta. Peregrine cortou a corda que servia de coleira com um golpe rápido das garras, prendeu um dos pés da pomba com o bico e saiu andando, enquanto a pomba piava alto e se debatia.
Melina surtou.
— Volte aqui! — gritou, furiosa, prestes a correr atrás das aves, quando Bronwyn a segurou pelos braços.
— Espere! Tenho certeza de que a srta. P. sabe o que está fazendo...
A srta. Peregrine parou um pouco mais à frente, bem longe do alcance de qualquer um. A pomba se debatia, tentando escapar, e Melina se debatia para fugir de Bronwyn, as duas se esforçando em vão. A srta. Peregrine parecia esperar que a pomba se cansasse e desistisse, mas então ficou impaciente e começou a balançá-la no ar pela perna.
— Por favor, srta. P.! — gritou Olive. — A senhora vai matá-la!
Até eu estava quase correndo para acabar com aquilo, mas as aves eram um borrão de garras e bicos e ninguém conseguia chegar perto o bastante para separá-las. Gritamos e imploramos para que a srta. Peregrine parasse.
Finalmente, ela parou. A pomba escapou de seu bico e se levantou, cambaleante, tonta demais para voar. A srta. Peregrine piou com ela da mesma forma que fizera antes, e dessa vez a pomba arrulhou em resposta. Então a srta. Peregrine bateu com o bico no chão três vezes, depois dez, depois cinco.
Três-dez-cinco. Olive tentou a combinação. O cadeado se destrancou, a porta se abriu para dentro e uma escada de corda se desenrolou até o chão.
O interrogatório da srta. Peregrine funcionara. Ela fizera o necessário para ajudar a todos. Considerando isso, poderíamos perdoar seu comportamento — não fosse pelo que aconteceu em seguida. Ela pegou a pomba tonta pela perna outra vez e, aparentemente apenas por raiva, golpeou-a com força contra a parede.
Reagimos com uma expressão coletiva de horror. Fiquei tão chocado que perdi a fala.
Melina conseguiu escapar de Bronwyn e correu para pegar sua ave. A pomba estava imóvel, com o pescoço quebrado.
— Aves do céu, ela matou a pomba! — exclamou Bronwyn.
— Depois de tudo pelo que passamos para pegar essa coisa... — reclamou Hugh. — Vejam só.
— Vou pisar na cabeça da sua ymbryne! — gritou Melina, louca de raiva.
Bronwyn a segurou pelos braços outra vez.
— Não, não vai, não! Pare com isso!
— Sua ymbryne é uma selvagem! Se é assim que ela age, estamos em melhor situação com os acólitos!
— Retire o que disse! — gritou Hugh.
— Não! — retrucou Melina.
Os dois trocaram mais palavras duras. Quase caíram no tapa. Bronwyn segurava Melina, enquanto Emma e eu segurávamos Hugh, até que eles perderam as forças — mas não a raiva.
Ninguém conseguia acreditar no que a srta. Peregrine tinha feito.
— Qual é o problema? — indagou Enoch. — Era só uma pomba idiota.
— Não, não era — respondeu Emma, repreendendo a srta. Peregrine. — Aquela ave era uma amiga da srta. Wren. Tinha séculos de idade. Escreveram sobre ela nos Contos. Agora, está morta.
— Foi assassinada! — completou Melina, e cuspiu no chão. — É essa a palavra que usamos quando alguém mata alguma criatura sem motivo.
A srta. Peregrine bicava um parasita sob a asa, indiferente, como se não tivesse ouvido.
— Ela parece afetada por algo ruim — comentou Olive. — A nossa srta. Peregrine não é assim.
— Ela está mudando — explicou Hugh. — Está se tornando mais animal.
— Espero que ainda haja algo humano nela que possa ser resgatado — comentou Millard, sombriamente.
Todos pensamos o mesmo.
Deixamos o túnel pela escada, cada um perdido nos próprios pensamentos ansiosos.
***
Depois da porta havia uma passagem que levava a um lance de escadas, que, por sua vez, levava a outra passagem e a outra porta, que se abria para uma sala cheia de luz do dia e atulhada de roupas: araras, cabideiros e guarda-roupas cheios. Também havia dois biombos de madeira, atrás dos quais era possível se trocar, além de alguns espelhos de chão e uma bancada de trabalho sobre a qual estavam dispostas várias máquinas de costura e pedaços de tecido. Era meio butique, meio oficina. Um paraíso para Horace, que circulava pelo lugar exclamando:
— É o paraíso!
Melina observava ao fundo, emburrada, sem falar com ninguém.
— Que lugar é este? — perguntei.
— Uma sala de disfarces — respondeu Millard. — São lugares feitos para ajudar peculiares de visita a se misturarem com os normais desta fenda. — Ele apontou para uma ilustração emoldurada que mostrava como se usavam as roupas da época.
— Quando em Roma... — comentou Horace, avançando para uma arara de roupas.
Emma pediu a todos que se trocassem. Além de nos fazer passar por crianças comuns, roupas novas poderiam ajudar a despistar algum acólito que estivesse nos seguindo.
— Mas continuem usando os suéteres por baixo, para o caso de surgir mais algum problema.
Bronwyn e Olive experimentaram vestidos simples atrás do biombo. Troquei meu casaco coberto de cinzas, a calça manchada de suor e a jaqueta por um terno que, embora não combinasse com nada, pelo menos estava relativamente limpo. Na mesma hora me senti desconfortável, me perguntando como as pessoas passavam o tempo todo com roupas tão rígidas e formais e por tantos séculos.
Millard escolheu um conjunto elegante e se sentou em frente a um espelho.
— Como estou? — perguntou.
— Parece um garoto invisível de roupas — respondeu Horace.
Millard suspirou e ficou um pouco mais em frente ao espelho, para depois tirar a roupa e voltar a desaparecer.
A empolgação inicial de Horace já se esvaíra.
— A seleção é lamentável — reclamou. — As roupas que não estão carcomidas por traças foram remendadas com tecidos que não combinam! Já estou cansado de andar como um mendigo.
— Mendigos não chamam atenção — retrucou Emma, detrás do biombo. — Jovens cavalheiros de cartola, sim. — Ela surgiu com sapatos vermelhos sem salto e um vestido de mangas curtas que ia até pouco abaixo do joelho. — O que acham? — perguntou, girando para fazer o vestido rodar.
Parecia a Dorothy de O Mágico de Oz, só que mais bonita. Sem saber como dizer isso na frente de todo mundo, dei um sorriso constrangido e fiz sinal de positivo.
Emma riu.
— Gostou? Que pena — comentou, com um sorriso tímido. — Eu chamaria atenção demais com essa roupa.
Uma expressão de dor cruzou seu rosto, como se ela se sentisse culpada pela risada, por ter tido um momento de alegria considerando tudo o que acontecera conosco e tudo o que ainda precisava ser resolvido. Então, voltou para trás do biombo.
Eu também sentia: o medo, o peso dos horrores que tínhamos visto se repetindo infinitamente como em uma desagradável fenda temporal toda em minha mente. Mas não dá para se sentir mal o tempo todo, quis dizer. Rir não piora as coisas, assim como chorar não as melhora. Não significa que você não se importe ou que tenha esquecido. Só quer dizer que você é humana — mas eu também não sabia como dizer isso.
Quando reapareceu, ela estava com uma blusa que parecia um saco, com mangas rasgadas e uma saia reta e comprida que chegava aos pés. (Muito mais parecida com uma mendiga.) Mas não havia tirado os sapatos vermelhos. Emma nunca resistia a um toque de brilho, por menor que fosse.
— E isso? — indagou Horace, agitando uma peruca laranja e volumosa que encontrara. — Como isso vai ajudar alguém a “passar por normal”?
— Porque parece que o lugar para onde vamos é um circo — explicou Hugh, olhando para um cartaz na parede.
— Esperem um pouco! — exclamou Horace, juntando-se a Hugh abaixo do cartaz. — Eu já ouvi falar desse lugar! É uma antiga fenda turística.
— O que é uma fenda turística? — perguntei.
— Antigamente havia muitas delas, em todo o mundo peculiar — explicou Millard. — Tinham localizações estratégicas, em lugares e épocas de importância histórica. Havia uma espécie de excursão que era considerada parte essencial da criação de todo peculiar bem-educado. Isso foi há muitos anos, é claro, quando ainda era relativamente seguro viajar para o exterior. Eu não sabia que tinha sobrado alguma.
Então ele ficou quieto, perdido em lembranças de tempos melhores.
Quando terminamos de nos trocar, deixamos as roupas do século XX em uma pilha, seguimos Emma através de outra porta e saímos em um beco com pilhas de lixo e caixotes vazios. Reconheci os sons de um circo ao longe: o silvo arrítmico de um órgão de tubos, os gritos abafados de uma multidão. Mesmo com o nervosismo e a exaustão, senti uma pontada de entusiasmo. Aquele já tinha sido um local que recebia peculiares de todos os lugares. Meus pais nunca sequer tinham me levado à Disney.
Emma deu as instruções habituais:
— Fiquem juntos. Prestem atenção em mim e em Jacob, para ver se damos algum sinal. Não falem com ninguém e não olhem ninguém nos olhos.
— Como vamos saber para onde ir? — perguntou Olive.
— Teremos que pensar como ymbrynes — respondeu Emma. — Se você fosse a srta. Wren, onde se esconderia?
— Em qualquer lugar menos Londres? — sugeriu Enoch.
— Se alguém não tivesse simplesmente assassinado a pomba... — comentou Bronwyn, olhando irritada para a srta. Peregrine.
A diretora estava parada sobre as pedras arredondadas do calçamento, olhando para nós, mas ninguém queria tocá-la. Entretanto, precisávamos mantê-la fora de vista, por isso Horace voltou à sala de disfarces e pegou uma bolsa de brim. A srta. Peregrine não ficou muito animada com a ideia, mas, quando ficou claro que ninguém ia carregá-la — principalmente Bronwyn, que parecia revoltada com a diretora —, ela entrou sozinha e deixou que Horace fechasse a bolsa com uma tira de couro.
***
Seguimos o som inebriante do circo por um emaranhado de ruas lotadas, onde vendedores com carrocinhas de madeira anunciavam verduras, sacas de grãos empoeiradas e coelhos recém-abatidos; onde crianças e gatos magros ficavam à espreita, com olhos cheios de fome; e onde mulheres com rostos sujos e orgulhosos descascavam batatas agachadas na sarjeta, formando montinhos com as cascas. Apesar de nos esforçarmos muito para passarmos despercebidos, todos pareciam se virar para nos encarar: vendedores, crianças, mulheres, gatos e até mesmo os coelhos mortos de olhos leitosos que ficavam pendurados pelas pernas.
Mesmo usando as roupas novas e adequadas para a época, eu me sentia deslocado. Percebi que se misturar dependia tanto da performance quanto da roupa, e eu e meus amigos não andávamos com os ombros curvados nem mantínhamos o olhar baixo e furtivo como aquelas pessoas. Se eu quisesse me disfarçar com a mesma eficiência que os acólitos, teria que aperfeiçoar meus talentos de ator.
O barulho do circo foi ficando mais alto, e os cheiros, mais acentuados: carne bem-passada, castanhas torradas, fezes de cavalo, fezes humanas e fumaça de carvão, tudo misturado de forma tão nauseabunda e doce que até o ar parecia denso. Por fim, chegamos à grande praça onde o circo estava instalado — cheio de animação e movimento, repleto de pessoas e de tendas multicoloridas, com mais atividade do que meus olhos conseguiam captar de uma só vez. A cena inteira era um ataque a meus sentidos. Havia acrobatas, equilibristas, atiradores de facas, engolidores de fogo e artistas de rua de todo tipo. Um médico fajuto anunciava remédios patenteados, na traseira de uma carroça:
— Um tônico raro para fortificar as entranhas contra parasitas infecciosos, umidades insalubres e eflúvios malignos!
Em um palco adjacente, um apresentador vestido de casaca competia por atenção aos gritos, exibindo uma criatura de aspecto pré-histórico cuja pele cinza e toda enrugada pendia dos ossos. Precisei dos cerca de dez segundos que levamos para abrir caminho pela multidão diante do palco para reconhecer que era um urso. Seus pelos tinham sido raspados e ele fora amarrado a uma cadeira e vestido com roupas de mulher. Os olhos do animal estavam saltados. O apresentador sorria e fingia servir chá para ele, gritando:
— Senhoras e senhores! Apresento a moça mais bonita de todo o País de Gales!
Isso lhe valeu uma grande gargalhada da multidão. Eu meio que torcia para que o urso rompesse as correntes e o devorasse bem ali, na frente de todo mundo.
Para combater o efeito estonteante de toda aquela maluquice que parecia saída de um sonho, enfiei a mão no bolso e toquei o vidro liso de meu celular, fechando os olhos por um instante e murmurando para mim mesmo:
— Eu viajei no tempo. Isso é real. Eu, Jacob Portman, estou viajando no tempo.
Só isso já era bem surpreendente, mas talvez o mais surpreendente fosse o fato de que viajar no tempo não tinha destruído meu cérebro — que, por algum milagre, eu ainda não tinha ficado completamente louco e começado a discursar pelas esquinas. A psique humana era muito mais flexível do que eu imaginava, capaz de se expandir para conter todos os tipos de contradições e aparentes impossibilidades. Sorte minha.
— Olive! — gritou Bronwyn. — Saia já daí! — Virei-me e vi que ela puxava Olive para longe de um palhaço que se abaixara para conversar com a menina. — Já cansei de falar: nunca converse com normais!
Nosso grupo era bem grande, então mantê-lo unido podia ser um desafio, ainda mais em um lugar como aquele, cheio de distrações criadas justamente para fascinar crianças. Bronwyn agia como supervisora, voltando a juntar o grupo sempre que um de nós se desviava para examinar melhor uma barraquinha com cata-ventos ou balas fumegantes. Olive era a que se distraía com mais facilidade, quase sempre esquecendo que estávamos em perigo. Só era possível manter tantas crianças na linha porque, na verdade, elas não eram crianças — havia uma natureza mais velha em seu interior, combatendo e equilibrando os impulsos infantis. Com crianças de verdade, tenho certeza de que seria impossível.
Andamos sem rumo por um tempo, procurando qualquer um que se parecesse com a srta. Wren ou qualquer lugar onde parecesse possível haver peculiares escondidos. No entanto, tudo ali parecia peculiar — tudo naquela fenda temporal, com sua estranheza caótica, era a camuflagem perfeita para peculiares. Mesmo assim, porém, chamávamos a atenção das pessoas, que viravam a cabeça sutilmente quando passávamos. Comecei a ficar paranoico. Quantos ali à nossa volta eram espiões dos acólitos, ou mesmo acólitos? Eu estava ainda mais desconfiado do palhaço do qual Bronwyn afastara Olive. Ele não parava de surgir em meu campo de visão. Devíamos ter passado por ele cinco vezes em cinco minutos — o vimos parado na entrada de um beco, nos observando do alto de uma janela, vigiando nosso grupo de uma cabine fotográfica e até diante de uma pintura de uma paisagem rural bucólica, um contraste bizarro com seu cabelo bagunçado e a maquiagem malfeita. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
— Não é bom ficar em campo aberto desse jeito — falei para Emma. — Não podemos ficar andando em círculos. As pessoas estão começando a notar nossa presença. Palhaços.
— Palhaços? — indagou ela. — Bom, concordo com você, mas é difícil saber por onde começar, no meio de toda essa loucura.
— Deveríamos começar pelo que é sempre a parte mais peculiar de qualquer circo — sugeriu Enoch, enfiando-se entre nós. — Os shows paralelos. — Ele apontou para uma fachada alta e estreita na extremidade da praça. — Peculiares combinam muito bem com esses shows menores. É como leite e biscoitos. Ou etéreos e acólitos.
— Em geral, isso é verdade — respondeu Emma —, mas os acólitos também sabem disso. Tenho certeza de que não é se escondendo em lugares tão óbvios que a srta. Wren continua livre há tanto tempo.
— Você tem alguma ideia melhor? — indagou Enoch.
Não tínhamos, então mudamos de direção e rumamos para o espetáculo paralelo. Olhei para trás em busca do palhaço inconveniente, mas ele desaparecera na multidão.
No show secundário, um apresentador de circo mal-ajambrado gritava em um megafone, prometendo vislumbres dos “erros da natureza mais chocantes que a lei permitia exibir” por um preço módico. Era chamado de Congresso de Bizarrices Humanas.
— Parece alguns jantares aos quais fui convidado — comentou Horace.
— Algumas dessas “bizarrices” podem ser peculiares — sugeriu Millard. — Nesse caso, podem saber alguma coisa sobre a srta. Wren. Acho que vale o preço do ingresso.
— Mas não temos dinheiro — disse Horace, puxando do bolso uma moeda meio gasta.
— Desde quando pagamos para entrar nesse tipo de show? — indagou Enoch.
Seguimos Enoch até os fundos da atração paralela, onde a fachada que imitava uma parede dava lugar a uma tenda grande e surrada. Estávamos procurando aberturas para entrar quando uma ponta se abriu e um homem e uma mulher bem-vestidos saíram, o homem segurando a dama, que se abanava.
— Afastem-se! — gritou ele. — Essa mulher precisa de ar!
Um letreiro acima da abertura dizia: ENTRADA EXCLUSIVA PARA ARTISTAS.
Entramos por ali e fomos parados na mesma hora. Um garoto de aparência comum estava sentado em um banco estofado perto da entrada, aparentemente com alguma função oficial.
— Vocês são artistas? — indagou. — Não podem entrar se não forem.
Fazendo-se de ofendida, Emma respondeu:
— É claro que somos artistas.
Para provar, ela produziu uma pequena chama na ponta do dedo e a apagou no olho.
O menino deu de ombros, sem se impressionar.
— Então entrem.
Passamos por ele, piscando enquanto nossos olhos se ajustavam ao ambiente escuro. O show paralelo era um labirinto de lona de teto baixo — um único corredor, com iluminação dramática provida por tochas, que ia fazendo curvas bruscas a cada dez metros, de modo que a cada curva éramos confrontados com uma nova “abominação da natureza”. Um grupo de espectadores — alguns rindo, outros lívidos e trêmulos — passou por nós e seguiu na direção oposta.
As primeiras aberrações eram atrações padrão desses espetáculos paralelos, mas não exatamente peculiares: um homem “ilustrado”, coberto de tatuagens; uma mulher barbada que ria enquanto acariciava os longos fios que nasciam em seu queixo; um homem que furava o rosto com agulhas e enfiava pregos nas narinas com um martelo. Embora eu achasse isso bem impressionante, meus amigos — alguns dos quais já tinham viajado pela Europa em um espetáculo circense com a srta. Peregrine — mal continham os bocejos.
Sob uma faixa em que se lia O INCRÍVEL HOMEM FÓSFORO, um cavalheiro com centenas de lixas de caixas de fósforo coladas à roupa se batia contra um homem com a roupa coberta de palitos de fósforo, e chamas irrompiam sobre o peito do segundo homem, que balançava os braços fingindo pavor.
— Amadores — murmurou Emma, enquanto nos puxava para a atração seguinte.
As aberrações iam ficando progressivamente mais estranhas. Havia uma garota com um vestido longo e cheio de franjas que levava uma cobra gigante enrolada no corpo. O animal se mexia e dançava ao seu comando. Emma concordou que aquilo era ao menos ligeiramente peculiar, já que a habilidade de encantar serpentes era exclusiva dos syndrigasti. Contudo, quando ela mencionou a srta. Wren, a garota nos encarou indiferente, e a cobra sibilou e mostrou as presas, então seguimos em frente.
— Isso é perda de tempo — reclamou Enoch. — O tempo da srta. Peregrine está se esgotando e estamos aqui passeando pelo circo! Por que não comprar uns doces, para completar o dia?
Só havia mais uma aberração a ser vista, então seguimos em frente. O último palco estava quase vazio: tinha apenas um fundo liso, flores sobre uma mesinha e um letreiro montado sobre um cavalete que dizia: O MUNDIALMENTE FAMOSO HOMEM DOBRÁVEL.
Um assistente de palco surgiu, arrastando uma mala. Ele a deixou no chão e saiu do palco.
Uma multidão se reuniu. A mala permanecia ali, no meio do palco. As pessoas começaram a gritar: “Já está na hora!” e “Cadê a aberração?”.
A mala estremeceu, depois começou a se sacudir, balançando-se de um lado para o outro até cair de lado. O público se apertou perto do palco, atento.
Os trincos se abriram, e, muito lentamente, a mala começou a se abrir. Dois olhos brancos espiaram a plateia lá de dentro. Então a mala se abriu um pouco mais e revelou um rosto: o rosto de um homem com bigode bem-aparado e pequenos óculos redondos, um homem que de algum modo se dobrara dentro de uma mala mais ou menos do tamanho do meu tronco.
O público irrompeu em aplausos, que aumentaram quando a aberração começou a se desdobrar, membro por membro, e saiu da mala impossivelmente pequena. Ele era alto e magro como um poste — tão assustadoramente magro que seus ossos pareciam prestes a romper a pele. Era um ponto de exclamação humano, mas se portava com tamanha dignidade que eu não conseguia rir dele. O homem examinou a plateia barulhenta com gravidade, antes de fazer uma reverência profunda.
Ele então levou um minuto para demonstrar como seus membros podiam se dobrar de várias maneiras exóticas. O joelho se dobrava até a ponta do pé tocar a pelve, a bacia se dobrava de modo que o joelho tocasse o peito. Depois de mais aplausos e reverências, o show terminou.
Ficamos por ali enquanto o público ia embora. O homem dobrável estava deixando o palco quando Emma se virou para ele e perguntou:
— O senhor é peculiar, não é?
O homem parou e se virou lentamente para encará-la, com ar de aborrecimento altivo.
— Perdão? — indagou, com forte sotaque russo.
— Desculpe por ser tão direta, mas precisamos encontrar a srta. Wren — explicou Emma. — Sabemos que ela está aqui em algum lugar.
— Rá! — exclamou o homem, dispensando-a com algo que soava a meio caminho de um riso e um escarro.
— É uma emergência! — suplicou Bronwyn.
O homem dobrável cruzou os braços em um X ossudo e declarou:
— Não saber do que estão falando.
Então deixou o palco.
— E agora? — perguntou Bronwyn.
— Vamos continuar procurando — respondeu Emma.
— E se não encontrarmos a srta. Wren? — indagou Enoch.
— Vamos continuar procurando — respondeu Emma, entre dentes. — Todo mundo entendeu?
Todo mundo tinha entendido muito bem. Estávamos sem opções. Se aquilo não funcionasse, se a srta. Wren não estivesse ali ou se não conseguíssemos encontrá-la logo, todo o nosso esforço teria sido em vão. A srta. Peregrine estaria tão perdida quanto se nunca tivéssemos sequer chegado a Londres.
Saímos do local dos shows por onde havíamos entrado, passando desanimados e cabisbaixos pelos palcos vazios e pelo menino de aparência comum, e mergulhamos na luz do dia. Estávamos parados em frente à saída, sem saber ao certo o que fazer, quando o garoto de aparência ordinária surgiu de trás de uma lona.
— Qual é o problema? — perguntou. — Não gostaram do show?
— Foi... bom — respondi, dispensando-o.
— Não foi peculiar o bastante para vocês? — perguntou o menino.
Isso chamou nossa atenção.
— O que você disse? — perguntou Emma.
— Wakeling com Rookery — disse o garoto, apontando para o outro lado da praça atrás de nós. — É lá que fica o verdadeiro espetáculo.
Então deu uma piscadela e voltou para dentro da tenda.
— Isso foi misterioso — comentou Hugh.
— Ele disse peculiar? — perguntou Bronwyn.
— O que é Wakeling e Rookery? — indaguei.
— Um lugar — respondeu Horace. — Deve ser um lugar nesta fenda.
— Pode ser o cruzamento de duas ruas — sugeriu Emma, e puxou a ponta da lona para confirmar com o menino, mas ele sumira.
Saímos pela multidão na direção da extremidade da praça para onde ele apontara, nosso último fio de esperança preso a duas ruas de nome estranho que sequer tínhamos certeza de que existiam.
***
Em determinado local, algumas quadras depois da praça, o barulho da multidão diminuía e o cheiro forte de carne assando e fezes de animais tinha sido substituído por um fedor muito pior e inominável. Depois de cruzar um rio de lama escura com as margens muradas, entramos em um bairro de fábricas e oficinas, onde chaminés expeliam fumaça negra no céu. Foi lá que encontramos a rua Wakeling. Escolhemos uma direção e a seguimos, procurando a rua Rookery, até que o caminho terminou em um grande esgoto a céu aberto, que Enoch disse ser o rio Fleet. Então fizemos a volta e caminhamos no sentido oposto. Depois de passarmos o ponto onde havíamos começado, a rua ficou sinuosa e cheia de curvas, com fábricas e oficinas encolhidas, transformadas em escritórios baixos e prédios discretos, de fachadas simples e sem letreiros, como uma área que tivesse sido criada deliberadamente para o anonimato.
A sensação ruim que eu acalentava piorou. E se tivessem armado uma emboscada, enviando-nos para aquela parte deserta da cidade para sermos pegos fora de vista?
A rua fez uma curva e virou reta outra vez. Ao dobrá-la, eu me choquei contra Emma, que ia caminhando na minha frente mas parara de repente.
— Qual é o problema? — indaguei.
Em vez de responder, ela só apontou. Havia uma multidão mais adiante, em um entroncamento com uma rua perpendicular. Apesar de estar extremamente quente lá atrás, no circo, muitas pessoas usavam casacos e cachecóis, reunidas ao redor de um prédio, olhando para cima pasmas e maravilhadas — exatamente como estávamos. O prédio em si não tinha nada de diferente: quatro andares, os três mais altos apenas fileiras de pequenas janelas arredondadas, como um velho prédio comercial. Na verdade, era quase idêntico a todos os outros prédios à volta, mas com uma exceção: estava totalmente coberto de gelo, que revestia as janelas e portas. Pingentes de gelo pendiam como presas de todos os batentes de janela ou saliências na parede. Jorrava neve das portas, amontoando-se em pilhas gigantescas na calçada. Parecia que o local fora atingido por uma nevasca — uma nevasca que viera de dentro.
Examinei uma placa de rua parcialmente coberta pela neve: ...UA R...KERY.
— Eu conheço esse lugar — declarou Melina. — É o arquivo de peculiares, onde ficam nossos registros oficiais.
— Como você sabe disso? — indagou Emma.
— A srta. Thrush estava me preparando para ser a segunda assistente da ouvidoria daqui. Mas as provas são muito difíceis. Estou estudando há vinte e um anos.
— Mas o prédio é assim mesmo, coberto de gelo? — perguntou Bronwyn.
— Não que eu saiba — respondeu Melina.
— Também é onde o Conselho de Ymbrynes se reúne para a tarefa anual de esmiuçar os regulamentos — acrescentou Millard.
— O Conselho de Ymbrynes se reúne aqui? — inquiriu Horace. — É um lugar bem simplório. Eu esperava um castelo ou algo do tipo.
— A ideia é não chamar atenção — explicou Melina. — Ninguém deveria nem reparar no prédio.
— Então estão se saindo muito mal nisso — declarou Enoch.
— Como eu disse, o lugar em geral não fica coberto de gelo.
— O que acha que aconteceu aqui? — perguntei.
— Nada de bom — respondeu Millard. — Nada de bom, mesmo.
Não havia dúvidas de que tínhamos que nos aproximar e explorar, mas isso não significava que precisávamos ir correndo. Esperamos, observando à distância. As pessoas passavam de um lado para o outro. Alguém tentou abrir a porta, mas estava fechada e congelada. A multidão foi diminuindo.
— Tique-taque, tique-taque, tique-taque — murmurou Enoch. — Estamos perdendo tempo.
Abrimos caminho pelo que restava da multidão e subimos na calçada congelada. O prédio emanava frio. Tremendo, enfiamos as mãos nos bolsos para nos proteger da temperatura baixa. Bronwyn usou sua força para abrir a porta, que se soltou do portal, as dobradiças voando para longe. Entretanto, o saguão para o qual ela abria estava completamente obstruído pelo gelo, que o cobria de parede a parede, do chão ao teto, penetrando no prédio em um borrão azul indistinto. O mesmo ocorria com as janelas: limpei o gelo de um dos painéis de vidro, depois de outro, e reparei que só dava para ver gelo através de ambos. Era como se uma geleira estivesse nascendo em algum ponto no centro daquele prédio e suas línguas congeladas estivessem se espremendo e se projetando para onde quer que houvesse uma abertura.
Tentamos tudo o que conseguimos pensar em fazer para entrar. Demos a volta no prédio em busca de uma porta ou janela que não estivesse bloqueada, mas todas as entradas em potencial estavam cheias de gelo. Pegamos pedras e tijolos soltos e tentamos quebrar a parede de água congelada, mas era de uma dureza quase sobrenatural. Nem mesmo Bronwyn conseguiu escavar mais do que alguns centímetros. Millard consultou os Contos em busca de alguma menção ao prédio, mas não havia; não havia segredo para ser desvendado.
Por fim, resolvemos assumir um risco calculado. Formamos um semicírculo ao redor de Emma, para que ninguém a visse, então ela aqueceu as mãos e as apoiou na parede de gelo que enchia o saguão. Um instante depois, as mãos de Emma começaram a afundar no gelo e a água derretida começou a escorrer e formar uma poça ao redor de nossos pés. No entanto, o progresso era terrivelmente lento: depois de cinco minutos, o buraco tinha apenas a profundidade de seus cotovelos.
— Nesse ritmo, levaremos o restante da semana só para entrar no prédio — comentou ela, baixando as mãos.
— Você realmente acha que a srta. Wren está aí dentro? — indagou Bronwyn.
— Ela tem que estar — respondeu Emma, com firmeza.
— Acho esse otimismo contagiante simplesmente surpreendente — reclamou Enoch. — Se a srta. Wren estiver aí dentro, está congelada e sólida como uma pedra de gelo.
Emma explodiu com ele.
— O profeta da desgraça! O que traz ruína e destruição! Acho que você ficaria feliz se o mundo acabasse amanhã, só para poder dizer “Eu avisei”!
Enoch olhou para ela, surpreso, então respondeu, com toda a calma:
— Você pode viver em um mundo de fantasia se quiser, minha querida. Eu sou realista.
— Se pelo menos uma vez o que saísse da sua boca não fossem críticas — retrucou Emma —, se pelo menos uma vez você nos desse uma sugestão útil durante uma crise, em vez de dar de ombros diante da perspectiva de fracasso e morte, talvez eu fosse capaz de tolerar seu mau humor permanente! Mas do jeito que as coisas estão...
— Já tentamos de tudo! — exclamou Enoch. — O que eu poderia sugerir?
— Tem uma coisa que ainda não tentamos — interveio Olive, falando baixinho atrás de todos nós.
— E o que é? — inquiriu Emma.
Olive resolveu mostrar, em vez de dizer. Ela saiu da calçada, juntou-se à multidão e se virou para encarar o prédio. Então chamou, gritando com toda a força:
— Srta. Wren, se estiver aí, por favor, saia! Precisamos de...
Antes que ela conseguisse terminar, Bronwyn a agarrou. O restante da frase foi dito para a axila da garota mais velha.
— Ficou maluca? — indagou Bronwyn, trazendo Olive de volta até nós embaixo do braço. — Desse jeito você vai expor todos nós!
Ela deixou Olive na calçada e estava prestes a repreendê-la ainda mais quando as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da garotinha.
— E daí se formos descobertos? — indagou Olive. — Se não conseguirmos achar a srta. Wren e não pudermos salvar a srta. Peregrine, que diferença faz se todo o exército dos acólitos vier atrás da gente?
Uma senhora se afastou da multidão e se aproximou de nosso grupo. Era bem velha, com as costas curvadas pela idade e o rosto parcialmente encoberto pelo capuz de uma capa.
— Ela está bem? — perguntou a senhora.
— Está sim, obrigada — respondeu Emma, dispensando a mulher.
— Não estou, não! — exclamou Olive. — Nada está bem! Só queríamos viver em paz na nossa ilha, mas as coisas ruins vieram e machucaram nossa diretora. Agora só queremos ajudá-la, mas não conseguimos fazer nem isso!
Olive baixou a cabeça e começou a chorar de um jeito que dava pena.
— Bem, então é muito bom que vocês tenham vindo me ver — respondeu a mulher.
Olive ergueu os olhos, fungou e disse:
— Por quê?
A velha desapareceu.
Assim, de repente.
Ela desapareceu, deixando as roupas. A capa, de repente vazia, caiu na calçada com um ruído surdo. Estávamos surpresos demais para falar — até que um passarinho saiu pulando de sob as dobras da capa.
Congelei, sem saber se deveria tentar pegá-lo.
— Alguém sabe que tipo de passarinho é esse? — perguntou Horace.
— Eu acho que é uma cambaxirra — respondeu Millard.
O passarinho bateu asas, saiu voando, fez a volta no prédio e desapareceu.
— Não a percam de vista! — gritou Emma.
Todos nós saímos correndo atrás do pássaro, deslizando e escorregando pelo gelo, virando a esquina e entrando no beco cheio de neve que havia entre o prédio congelado e o outro ao lado.
A ave desaparecera.
— Droga! — exclamou Emma. — Aonde ela pode ter ido?
Ouvimos uma série de sons estranhos vindos do chão sob nós: um clangor metálico, vozes e um ruído que lembrava a descarga de um vaso sanitário. Afastamos a neve com os pés e encontramos duas portas de madeira entre os tijolos. Parecia a entrada de um depósito de carvão.
As portas não estavam trancadas, e nós as abrimos. Lá dentro, encontramos uma escadaria que mergulhava na escuridão. Os degraus estavam cobertos de um gelo que derretia depressa, e a água escoava ruidosamente por um ralo invisível.
Emma se agachou e gritou para a escuridão:
— Oi? Tem alguém aí?
— Se vocês forem vir — respondeu uma voz ao longe —, é melhor virem depressa!
Emma se levantou, surpresa, e gritou:
— Quem é você?
Esperamos uma resposta. Nada.
— O que estamos esperando? — indagou Olive. — É a srta. Wren!
— Não temos certeza disso — retrucou Millard. — Não sabemos o que aconteceu aqui.
— Bem, eu vou descobrir — declarou Olive, e, antes que alguém pudesse detê-la, foi até as portas, pulou lá para dentro e flutuou suavemente até o fundo. — Ainda estou viva! — provocou, a voz vindo da escuridão.
Envergonhados, fomos forçados a segui-la. Descemos os degraus até encontrar uma passagem em túnel através do gelo. Pingos de água congelante caíam do teto e escorriam pelas paredes. Não era completamente escuro, afinal: uma luz diáfana brilhava do outro lado de uma curva, na passagem à frente.
Ouvimos passos se aproximando. Uma sombra se elevou na parede à nossa frente. Em seguida, uma figura encapuzada surgiu na curva da passagem, formando uma silhueta contra a luz.
— Olá, crianças — disse a figura encapuzada. — Eu sou Balenciaga Wren. Estou muito contente que estejam aqui.
CAPÍTULO DOZE
Eu sou Balenciaga Wren.
Ouvir essas palavras foi como tirar a rolha de uma garrafa de champanhe. Primeiro veio o alívio — expressões de surpresa e risos. Depois, explodimos de alegria. Emma e eu pulamos e nos abraçamos; Horace caiu de joelhos e jogou os braços para o alto, murmurando “aleluia!”. Olive estava tão animada que flutuou mesmo com os sapatos pesados, gaguejando:
— N-n-nós... achamos que nunca... nunca mais veríamos uma ymbryne!
Era a srta. Wren... finalmente! Alguns dias antes, ela não passava de uma ymbryne desconhecida de uma fenda temporal obscura, mas desde então adquirira um status mítico: pelo que sabíamos, ela era a última ymbryne livre e inteira, um símbolo vivo de esperança, e esperança era algo de que precisávamos desesperadamente. Agora, lá estava a srta. Wren, bem à nossa frente, tão humana e frágil. Eu a reconheci pela foto de Addison, só que não havia qualquer resquício de cor em seu cabelo prateado. Profundas rugas de preocupação marcavam sua testa e pareciam deixar a boca entre parênteses, e os ombros estavam curvados, como se ela não fosse apenas velha, mas também estivesse carregando um fardo monumental. Aquela ymbryne levava nos ombros o peso de todas as nossas esperanças desesperadas.
A srta. Wren baixou o capuz e disse:
— É um grande prazer conhecê-los, queridos, mas vocês precisam entrar agora mesmo. Não é seguro aqui fora.
Ela se virou e foi mancando pela passagem. Formamos uma fila e a seguimos a passos curtos pelo túnel de gelo, como uma fileira de patinhos atrás da mãe, nossos pés se arrastando, os braços estendidos em poses estranhas para mantermos o equilíbrio. Esse era o poder de uma ymbryne sobre crianças peculiares: a simples presença de uma, mesmo que houvéssemos acabado de conhecê-la, teve um efeito pacificador imediato sobre nós.
O chão ia se inclinando em aclive. Passamos por fornalhas silenciosas cobertas de gelo e entramos em um salão todo congelado, do chão ao teto e de parede a parede, com exceção do túnel em que estávamos, que fora escavado bem no centro. O gelo era grosso, mas transparente, e em alguns pontos dava para ver uns dez metros dentro da parede de água congelada, com apenas uma leve ondulação de distorção no cenário. O salão parecia uma área de recepção, com fileiras de cadeiras de espaldar reto diante de uma mesa enorme e alguns arquivos, todos aprisionados por toneladas de gelo. A luz do dia chegava até ali meio azul, vinda de janelas inalcançáveis do outro lado das grossas paredes de gelo. Depois delas havia a rua, uma mancha cinza indistinta.
Cem etéreos poderiam passar uma semana tentando destruir aquele gelo sem nos alcançar. Não fosse pela entrada do túnel, aquele lugar seria uma fortaleza perfeita. Ou uma prisão perfeita.
Vimos dúzias de relógios pendurados nas paredes, os ponteiros imóveis apontando para todos os lados. (Talvez para saber a hora em outras fendas?) Acima deles, placas de sinalização apontavam o caminho de determinados escritórios:
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS TEMPORAIS
CONSERVAÇÃO DE REGISTROS GRÁFICOS
QUESTÕES URGENTES NÃO ESPECÍFICAS
DEP. DE OFUSCAÇÃO E ADIAMENTO
Através da porta para a sala de Assuntos Temporais, vi um homem preso no gelo. Ele congelara meio inclinado para a frente, como se estivesse tentando soltar os pés enquanto o gelo cobria o restante do corpo. Estava ali havia muito tempo. Estremeci e olhei para o outro lado.
O túnel terminava em uma escada elegante com balaustrada, toda livre de gelo, mas coberta de papéis espalhados. Uma garota estava de pé em um dos primeiros degraus. Ela nos observava sem entusiasmo enquanto nos aproximávamos, deslizando hesitantes. Tinha cabelo comprido até a cintura, repartido exatamente no meio. Usava óculos redondos e pequenos que não parava de ajeitar e tinha lábios finos que pareciam nunca ter se curvado em um sorriso.
— Althea! — ralhou a srta. Wren. — Você não pode andar por aí enquanto a passagem está aberta. Qualquer coisa pode entrar!
— Está bem, senhora — respondeu a menina, e então ergueu um pouco a cabeça. — Quem são eles, senhora?
— São os protegidos da srta. Peregrine. Já lhe contei sobre eles.
— Eles trouxeram comida? Ou remédios? Ou qualquer coisa que possa ser útil? — A garota falava com uma lentidão torturante, e a voz era tão insípida quanto sua expressão.
— Nada de perguntas até terminar de fechar — ordenou a srta. Wren. — Depressa!
— Sim, senhora — respondeu a garota, e, sem a menor pressa, avançou pelo túnel arrastando as mãos pelas paredes.
— Me desculpem por isso — disse a srta. Wren. — Althea não tem a intenção de soar tão casmurra, é o jeito dela. Mas graças a ela evitamos o pior, portanto nos é muito necessária. Vamos esperá-la aqui.
A srta. Wren se sentou no primeiro degrau. Enquanto ela se abaixava, quase deu para ouvir seus ossos velhos estalarem. Não entendi o que ela quis dizer com evitamos o pior, mas havia muitas outras perguntas a fazer, então essa teria que esperar.
— Srta. Wren, como sabia quem éramos? — indagou Emma. — Nós não chegamos a nos apresentar.
— Saber disso é a função de uma ymbryne. Coloquei observadores nas árvores daqui até o Mar da Irlanda. Além disso, vocês são famosos! Só os tutelados de uma ymbryne conseguiram escapar das garras dos corrompidos, e são os da srta. Peregrine. Mas não tenho ideia de como vocês chegaram até aqui sem serem capturados ou de como me encontraram no mundo peculiar!
— Um menino no circo nos indicou este lugar — comentou Enoch. Ele ergueu a mão na altura do queixo. — Mais ou menos desse tamanho. Com um chapéu engraçado.
— Um dos nossos vigias — explicou a srta. Wren, assentindo. — Mas como vocês chegaram até ele?
— Capturamos uma de suas pombas — respondeu Emma, orgulhosa. — Ela nos conduziu até esta fenda.
Emma omitiu o fato de que a srta. Peregrine a matara.
— Minhas pombas! — exclamou a srta. Wren. — Mas como vocês as descobriram? E mais: como conseguiram pegar uma?
Millard se adiantou. Para não congelar, ele pegara emprestado o casaco de Horace, da sala de disfarces, e, apesar de a srta. Wren não parecer surpresa em ver um casaco flutuando, ficou atônita quando o garoto invisível disse:
— Deduzi a localização das aves a partir dos Contos peculiares, mas ouvimos falar nelas pela primeira vez na fenda dos bichos, no alto da montanha. Quem nos contou foi um cachorro meio pretensioso.
— Mas ninguém sabe o local da minha montanha para bichos!
A srta. Wren estava tão pasma que mal conseguia falar. Como cada resposta que dávamos a ela levava a novas perguntas, contamos toda a nossa história o mais depressa possível, começando pela fuga da ilha, naqueles barquinhos.
— Quase afundamos! — comentou Olive.
— E quase fomos baleados, bombardeados e devorados por etéreos — acrescentou Bronwyn.
— E atropelados por um trem — completou Enoch.
— E esmagados por uma cômoda — interveio Horace, fazendo cara feia para a menina telecinética.
— Fizemos uma longa viagem por uma região muito perigosa — disse Emma. — Tudo para encontrar alguém que pudesse ajudar a srta. Peregrine. Tínhamos muita esperança de que essa pessoa fosse a senhora, srta. Wren.
— Na verdade, estamos contando com isso — corrigiu Millard.
A srta. Wren precisou de alguns instantes para recuperar a fala. Quando conseguiu, as palavras saíram carregadas de emoção.
— Que crianças corajosas e maravilhosas. Vocês são milagres, cada um de vocês, e qualquer ymbryne se orgulharia de poder chamá-los de pupilos. — Ela enxugou uma lágrima com a manga da capa. — Fiquei muito triste ao saber o que aconteceu com a srta. Peregrine. Eu não a conhecia bem, pois sou muito reclusa, mas prometo uma coisa a vocês: vamos resgatá-la. Ela e todas as nossas irmãs!
Resgatá-la?
Foi então que me dei conta de que a srta. Peregrine ainda estava escondida na bolsa de lona que Horace carregava. A srta. Wren ainda não a vira!
— Ora, ela está bem aqui! — respondeu Horace, colocando a bolsa no chão e a desamarrando.
No instante seguinte, a srta. Peregrine saiu saltando da bolsa, meio zonza depois de ter passado tanto tempo no escuro.
— Pelos Anciões! — exclamou a srta. Wren. — Mas... eu tive notícias de que ela tinha sido levada pelos acólitos!
— Ela foi levada — respondeu Emma. — Mas nós a recuperamos!
A srta. Wren estava tão empolgada que se levantou sem a bengala, e tive que segurá-la pelo cotovelo para evitar que caísse.
— Alma, é você mesmo? — murmurou a srta. Wren, e, depois de recuperar o equilíbrio, correu para pegar a srta. Peregrine. — Olá, Alma. É você aí dentro?
— É ela! — respondeu Emma. — Esta é a srta. Peregrine!
A srta. Wren estendeu o braço que segurava a ave e a virou de um lado para o outro enquanto a srta. Peregrine se remexia.
— Hum, hum, hum... — murmurou a srta. Wren, estreitando os olhos e apertando bem os lábios. — Tem alguma coisa errada com a sua tutora.
— Ela se machucou — disse Olive. — Se machucou por dentro.
— Ela não consegue mais voltar à forma humana — explicou Emma.
A srta. Wren balançou a cabeça com uma expressão preocupada, como se já tivesse percebido isso.
— E isso faz quanto tempo?
— Três dias — respondeu Emma. — Desde que a resgatamos dos acólitos.
— Seu cão falou que se a srta. Peregrine não se transformasse de volta logo, nunca mais poderia fazer isso — falei.
— É. Addison estava totalmente certo.
— Ele também disse que o tipo de ajuda de que ela precisava era algo que apenas outra ymbryne poderia dar — acrescentou Emma.
— Isso também é verdade.
— Ela está mudada — comentou Bronwyn. — Não é mais a mesma. Precisamos da velha srta. P. de volta!
— Não podemos deixar que isso aconteça com ela! — exclamou Horace.
— E então? — indagou Olive. — A senhora pode fazê-la voltar a ser humana logo, por favor?
Tínhamos cercado a srta. Wren e a estávamos pressionando. Nosso desespero era evidente.
A srta. Wren ergueu as mãos para pedir silêncio.
— Quem dera fosse assim tão simples — disse ela. — Ou tão imediato. Quando uma ymbryne permanece na forma de ave por tempo demais, torna-se rígida, como um músculo frio. Se tentarmos forçá-la de volta muito rápido, ela pode quebrar. A ymbryne precisa ser massageada delicadamente até voltar à forma verdadeira. Tem que ser trabalhada com calma, como barro. Se eu passar a noite inteira com ela, talvez consiga terminar pela manhã.
— Se ela tiver todo esse tempo — comentou Emma.
— Reze para que ela tenha — respondeu a srta. Wren.
A garota de cabelo comprido voltou e foi lentamente em nossa direção, arrastando as mãos pelas paredes do túnel. Sob seu toque surgiam mais camadas de gelo novo. O túnel atrás dela já havia se estreitado para menos de um metro de largura. Logo estaria completamente fechado, nos prendendo lá dentro.
A srta. Wren acenou para que a garota se aproximasse.
— Althea! Corra lá na frente e peça à enfermeira que prepare uma sala de exames. Vou precisar de todos os meus preparos medicinais!
— Quando a senhora fala em preparo, quer dizer soluções, infusões ou suspensões?
— Tudo! — gritou a srta. Wren. — E depressa... É uma emergência!
Vi que a garota notou a presença da srta. Peregrine, pois seus olhos se arregalaram um pouquinho — a maior reação que eu observei nela até então. Althea começou a subir as escadas.
Dessa vez, estava correndo.
***
Segurei o braço da srta. Wren, ajudando-a a se equilibrar enquanto subíamos as escadas. O prédio tinha quatro andares. Estávamos indo para o último, que, fora as escadas, era a única parte ainda acessível. Os outros andares estavam totalmente congelados, as paredes de gelo ocupando os corredores e aposentos. Subíamos pelo centro oco de um gigantesco cubo de gelo.
Olhei para o interior de alguns cômodos enquanto passávamos correndo. Línguas de gelo protuberantes haviam arrancado as portas das dobradiças. Através dos batentes lascados, dava para ver indícios de um ataque: móveis derrubados, gavetas abertas e caídas, montes de papel no chão. Uma metralhadora estava apoiada em uma escrivaninha, o dono, congelado enquanto fugia. Havia um peculiar jogado em um canto, sob uma linha de buracos de bala. Pareciam as vítimas de Pompeia — só que presas no gelo, e não nas cinzas.
Era difícil acreditar que uma única menina podia ser responsável por aquilo tudo. Tirando as ymbrynes, Althea devia ser uma das peculiares mais poderosas que já conheci. Olhei para cima bem a tempo de vê-la desaparecer no andar superior, as madeixas infinitas seguindo-a como um rastro borrado.
Arranquei um pingente de gelo da parede.
— Ela fez isso tudo? — indaguei, girando o pingente na mão.
— Sim — respondeu a srta. Wren, arfando ao meu lado. — Ela é, ou era, aprendiz do ministro de Ofuscação e Adiamento. Estava aqui desempenhando suas funções no dia em que os corrompidos atacaram o prédio. Na época, Althea não conhecia bem o próprio poder. Só tinha noção de que suas mãos irradiavam um frio que não era natural. Pelo que a ouvi dizer, sua habilidade era útil nos dias quentes de verão, mas ela nunca pensara que podia ser usada como arma de defesa, até que dois etéreos começaram a devorar o ministro diante de seus olhos. Apavorada, ela conjurou uma fonte de poder que até então desconhecia e congelou o aposento com os etéreos dentro. Depois fez o mesmo com o prédio inteiro, tudo em apenas alguns minutos.
— Minutos! — exclamou Emma. — Não acredito.
— Como eu queria estar aqui para ter visto... — comentou a srta. Wren. — Mas provavelmente eu teria sido raptada junto com as outras ymbrynes que estavam presentes: a srta. Nightjar, a srta. Finch e a srta. Crow.
— O gelo dela não deteve os acólitos? — perguntei.
— Deteve muitos deles — respondeu a srta. Wren. — Imagino que vários ainda estejam aqui, congelados nos nichos do prédio. Apesar das perdas, os acólitos conseguiram o que vieram buscar. Antes que o prédio inteiro congelasse, levaram as ymbrynes pelo telhado. — A srta. Wren balançou a cabeça com amargura. — Juro pela minha vida que um dia vou escoltar pessoalmente até o inferno todos aqueles que machucaram as minhas irmãs.
— Então todo esse poder dela não adiantou nada — comentou Enoch.
— Althea não conseguiu salvar as ymbrynes, mas criou este lugar, o que já é uma bênção. Do contrário, não teríamos refúgio nenhum. Tenho usado o local como nossa base de operações, trazendo sobreviventes de fendas invadidas quando os encontro. Esta é a nossa fortaleza, o único lugar seguro para peculiares em toda a Londres.
— E quanto às suas tentativas, senhora? — inquiriu Millard. — O cão disse que a senhora veio a Londres para ajudar suas irmãs. Teve alguma sorte?
— Não — respondeu a ymbryne, em voz baixa. — Meus esforços não foram bem-sucedidos.
— Talvez Jacob possa ajudá-la, srta. Wren — disse Olive. — Ele é muito especial.
A srta. Wren me olhou de soslaio.
— É mesmo? E qual é o seu talento, meu jovem?
— Eu consigo ver os etéreos — respondi, um pouco envergonhado. — E sentir a presença deles.
— E, às vezes, matá-los — acrescentou Bronwyn. — Se não tivéssemos encontrado a senhora, srta. Wren, Jacob ia nos ajudar a passar pelos etéreos que guardam as fendas de punição, para que pudéssemos resgatar uma das ymbrynes presas lá. Na verdade, talvez ele possa ajudá-la...
— É muita bondade sua — respondeu a srta. Wren —, mas minhas irmãs não estão sendo mantidas nessas fendas, nem em qualquer lugar perto de Londres. Tenho certeza disso.
— Não? — indaguei.
— Não, e nunca estiveram. Essa história das fendas de punição foi um plano criado para atrair as ymbrynes que os corrompidos não tinham conseguido capturar. Ou seja, eu. E quase funcionou. Fui tão burra, voei direto para a armadilha: as fendas de punição, afinal de contas, são prisões! Tenho sorte de ter escapado com apenas alguns arranhões.
— Então para onde foram levadas as ymbrynes raptadas? — perguntou Emma.
— Eu não contaria nem se soubesse, porque isso não é da conta de vocês — respondeu a srta. Wren. — Não é dever de crianças peculiares se preocupar com o bem-estar das ymbrynes; é nosso dever nos preocupar com o de vocês.
— Mas, srta. Wren, isso não é justo — começou Millard, mas foi interrompido na mesma hora.
— Não quero mais ouvir falar nisso!
O assunto estava encerrado.
Fiquei chocado com a interrupção, ainda mais porque, se não tivéssemos nos preocupado com o bem-estar da Sra. Peregrine e arriscado nossa vida para chegar até ali, ela estaria condenada a passar o resto de seus dias aprisionada no corpo de uma ave. Então parecia que nossa obrigação era nos preocupar, já que as ymbrynes claramente não haviam conseguido evitar que as fendas temporais fossem invadidas. Eu não gostava de ser menosprezado daquele jeito, e, a julgar pelo cenho franzido de Emma, ela sentia o mesmo. Mas dizer isso seria extremamente grosseiro, então terminamos de subir em um silêncio desconfortável.
Chegamos ao topo da escada. Apenas algumas portas daquele andar estavam cobertas de gelo. A srta. Wren pegou a srta. Peregrine das mãos de Horace e disse:
— Venha, Alma, vamos ver o que podemos fazer por você.
Althea apareceu em uma porta aberta, arfante e com o rosto corado.
— A sala está pronta, srta. Wren. Com tudo o que a senhora pediu.
— Ótimo, ótimo — respondeu a ymbryne.
— Se houver algo que possamos fazer para ajudá-la... — disse Bronwyn. — Qualquer coisa que seja...
— Só preciso de tempo e sossego — respondeu a srta. Wren. — Vou salvar sua ymbryne, meus jovens. Juro pela minha vida.
Ela se virou e levou a srta. Peregrine para o quarto com Althea.
Sem saber o que fazer, nós a seguimos e nos reunimos ao redor da porta, que fora deixada entreaberta. Então nos revezávamos para espiar lá dentro. Era um ambiente aconchegante, com iluminação fraca provida por lampiões a óleo, e a srta. Wren estava sentada em uma cadeira de balanço, com a srta. Peregrine no colo. Althea estava de pé, misturando líquidos sobre uma bancada de laboratório. De vez em quando a menina erguia um frasco e o agitava, depois ia até a srta. Peregrine e o passava sob seu bico, igualzinho à forma como passam sais embaixo do nariz de uma pessoa desmaiada. A srta. Wren não parava de se balançar na cadeira e de acariciar as penas da srta. Peregrine, cantando uma doce e carinhosa canção de ninar.
— Eft kaa vangan soorken, eft ka vangan soorken, malaaya...
— É a língua dos antigos peculiares — sussurrou Millard. — “Volte para casa, volte para casa... lembre-se de quem você é”... algo assim.
— A srta. Wren o ouviu, olhou para nós e gesticulou para que nos afastássemos. Althea fechou a porta.
— Bem... — começou Enoch. — Vejo que não nos querem aqui.
Depois de três dias em que a diretora dependera de nós para tudo, de repente tínhamos nos tornado desnecessários. Apesar de estarmos gratos à srta. Wren, ela nos fez sentir um pouco como crianças obrigadas a ir dormir.
— A srta. Wren saber o que faz — disse uma voz com forte sotaque russo às nossas costas. — É melhor deixar resolver problema.
Nós nos viramos e vimos o homem magro e dobrável como vara que tínhamos encontrado no circo. Estava parado, os braços ossudos cruzados.
— Você! — exclamou Emma.
— Nos encontramos de novo — disse o homem dobrável, a voz grave como uma fossa oceânica. — Sou Sergei Andropov, capitão do exército de resistência peculiar. Venham, eu mostrar vocês o local.
***
— Eu sabia que ele era peculiar — disse Olive.
— Não sabia, não — retrucou Enoch. — Você só achava.
— Eu soube que vocês ser peculiares no instante que os vi — comentou o homem dobrável. — Como não ser capturados?
— Porque temos cérebro — respondeu Hugh.
— Ele quer dizer que temos sorte — intervim.
— Mas o que temos mesmo é fome — intrometeu-se Enoch. — Tem comida por aqui? Eu comeria uma jumirafa inteira.
À mera menção de comida, meu estômago rugiu como um animal selvagem. Nenhum de nós comera nada desde a viagem de trem para Londres, o que parecia ter sido séculos antes.
— É claro — respondeu o homem dobrável. — Por aqui.
Nós o seguimos pelo corredor.
— Então, conte sobre esse seu exército peculiar — pediu Emma.
— Vamos acabar com os acólitos e recuperar o que é nosso. Vamos punir todos por raptar nossas ymbrynes.
Ele abriu uma porta no corredor e nos conduziu por um escritório destroçado, onde pessoas dormiam no chão e embaixo de mesas. Enquanto desviávamos de todos, reconheci alguns rostos do circo: o menino de aparência normal e a menina de cabelo crespo que encantava cobras.
— Eles são peculiares? — perguntei.
O homem dobrável assentiu.
— Resgatados de outras fendas — explicou, segurando a porta aberta para nós.
— E você? — indagou Millard. — De onde veio?
O homem dobrável nos conduziu a um vestíbulo onde poderíamos conversar sem perturbar os que estavam dormindo. A entrada era uma enorme porta dupla em arco, enfeitada com dúzias de brasões de aves.
— Eu ser da terra do deserto gelado, além das geleiras inóspitas — respondeu ele, com sotaque bem forte. — Séculos atrás, quando primeiros etéreos nascer, atacar minha casa. Destruíram tudo. Toda a aldeia morta. Idosos. Bebês. Todos. — Ele fingiu cortar o ar com a mão. — Eu me esconder na batedeira de manteiga, respirando por canudos, e meu irmão estar morto na mesma casa. Depois, vir para Londres escapar dos etéreos. Mas eles vir também.
— Que horror! — exclamou Bronwyn. — Sinto muito.
— Um dia nos vingaremos — retrucou o homem, com uma expressão sombria no rosto.
— Por falar nisso, quantos tem no seu exército? — indagou Enoch.
— Agora, no momento, seis — respondeu o sujeito, apontando para o aposento pelo qual acabáramos de passar.
— Seis pessoas?! — inquiriu Emma. — Você quer dizer... eles?
Eu não sabia se ria ou se chorava.
— Com vocês, dezessete. Crescer rápido.
— Ei, ei, ei — protestei. — Não viemos aqui para nos juntar ao exército.
Ele me lançou um olhar capaz de congelar o inferno, depois se virou e abriu as portas duplas.
Nós o seguimos e entramos em um salão ocupado por uma mesa maciça, com a madeira tão lustrada que brilhava como um espelho.
— Aqui onde se reunir o Conselho de Ymbrynes — apresentou o homem dobrável.
Por toda a volta havia retratos de antigos peculiares famosos. Não estavam em molduras, tinham sido pintados nas paredes, a óleo, carvão e pastel. O mais próximo de mim era um rosto com os olhos arregalados e a boca aberta. Onde deveria estar o desenho da boca, havia uma fonte de água em pleno funcionamento. Em volta da boca havia uma frase em holandês, que Millard, ao meu lado, traduziu:
— “Das bocas de nossos anciões vem uma fonte de sabedoria.”
Perto de nós havia outra, em latim.
— Ardet nec consomitur — disse Melina. — “Queimado, mas não destruído.”
— Bem apropriado — comentou Enoch.
— Não consigo acreditar que estou mesmo aqui — comentou Melina. — Estudei este lugar, sonhei com ele por muitos anos.
— É só um salão — retrucou Enoch.
— Talvez seja, para você. Para mim, é o coração de todo o mundo peculiar.
— Um coração arrancado — comentou uma voz nova, e me virei. Um palhaço ia em nossa direção. O mesmo palhaço que nos seguira lá no circo. — A srta. Jackdaw* estava parada bem onde vocês estão quando foi levada. Encontramos uma pilha enorme de penas no chão. — O sotaque dele era americano. O homem parou a cerca de um metro de nós, mastigando, com a mão na estrutura. — São eles? — perguntou ao homem dobrável, apontando para nós com uma coxa de peru. — Precisamos de soldados, não de criancinhas.
* Em português, “gralha”. (N. do T.)
— Eu tenho cento e doze anos! — retrucou Melina.
— É, é, já ouvi isso antes — disse o palhaço. — Por falar nisso, notei que vocês eram peculiares do outro lado do circo. São o grupo de peculiares mais obviamente peculiar que já vi.
— Eu disse a mesma coisa — comentou o homem dobrável.
— Não sei como conseguiram chegar do País de Gales até aqui sem serem capturados — acrescentou o palhaço. — Na verdade, chega a ser suspeito. Têm certeza de que nenhum de vocês é acólito?
— Que absurdo! — exclamou Emma.
— Nós fomos capturados, mas os acólitos que nos pegaram não viveram para contar a história — retrucou Hugh, orgulhoso.
— Aham, e eu sou o rei da Bolívia — respondeu o palhaço.
— É verdade! — vociferou Hugh, ficando vermelho.
O palhaço ergueu os braços.
— Está bem, está bem, calma, garoto! Tenho certeza de que Wren não teria deixado vocês entrarem se não fossem legítimos. Venham, vamos ser amigos, comam uma coxa de peru.
Ele não precisou oferecer duas vezes. Estávamos famintos demais para ficarmos ofendidos por muito tempo.
O palhaço nos mostrou uma mesa cheia de comida — as mesmas castanhas torradas e carnes assadas que tinham chamado nossa atenção no circo. Nos amontoamos à mesa e começamos a nos empanturrar sem cerimônia. O homem dobrável comeu cinco cerejas e um pedacinho de pão, em seguida declarou que nunca estivera tão cheio na vida. Bronwyn andava de um lado para o outro junto à parede, roendo as unhas, preocupada demais para conseguir comer.
Quando terminamos, a mesa era um campo de batalha de ossos descarnados e manchas de gordura. O palhaço se recostou na cadeira e perguntou:
— Então, crianças peculiares, qual é a história de vocês? Por que vieram do País de Gales até aqui?
Emma limpou a boca.
— Para ajudar nossa ymbryne. — respondeu ela.
— E depois que ela receber ajuda? — indagou o palhaço. — O que vão fazer?
Eu estava ocupado raspando o resto do molho do peru com o que sobrara de pão, mas olhei para meus amigos. Ele falou de um jeito tão direto, tão simples, tão óbvio, que eu não podia acreditar que não tivéssemos nos perguntado isso antes.
— Não fale assim — disse Horace. — Vai nos dar azar.
— Wren é capaz de fazer milagres — respondeu o palhaço. — Não há nada com que se preocupar.
— Espero que tenha razão — comentou Emma.
— É claro que tenho. Então, qual é o plano? Vão ficar e nos ajudar a lutar, obviamente, mas onde vão dormir? Não comigo. Meu quarto é só para uma pessoa. Com raras exceções. — Ele olhou para Emma e ergueu a sobrancelha. — Raras, repito.
De repente, todos desviaram o olhar para as pinturas nas paredes ou começaram a ajeitar a gola das roupas. Todos menos Emma, cujo rosto adquiriu um tom meio verde. Talvez fôssemos naturalmente pessimistas e nossas chances de sucesso parecessem tão pequenas que nem havíamos nos dado ao trabalho de pensar no que faríamos caso conseguíssemos curar a srta. Peregrine. Ou talvez as crises dos últimos dias tivessem sido tão frequentes e urgentes que não houvera oportunidade de pensar nisso. De qualquer modo, a pergunta do palhaço nos pegara de surpresa.
E se toda a empreitada realmente desse certo? O que faríamos se a srta. Peregrine entrasse no salão naquele exato momento, em sua antiga forma?
Foi Millard quem finalmente respondeu:
— Acho que vamos voltar para nossa terra. A srta. Peregrine poderia fazer outra fenda para nós. Onde nunca seríamos encontrados.
— É isso? — indagou o palhaço. — Vocês vão se esconder? E as outras ymbrynes, as que não tiveram a mesma sorte? E a minha?
— Não é nossa obrigação salvar o mundo inteiro — retrucou Horace.
— Não estamos tentando salvar o mundo inteiro. Só o mundo peculiar.
— Bem, isso também não é nossa obrigação. — A voz de Horace soou fraca e na defensiva. Ele parecia envergonhado por ser levado a dizer uma coisa daquelas.
O palhaço se inclinou para a frente e nos encarou.
— Então de quem é a obrigação?
— Deve haver outras pessoas — respondeu Enoch. — Gente mais bem equipada, treinada para esse tipo de coisa...
— A primeira coisa que os corrompidos fizeram, três semanas atrás, foi atacar a Guarda Nacional Peculiar. Em menos de um dia a Guarda foi espalhada pelos quatro ventos. Com o fim desse grupo e, agora, de nossas ymbrynes, sobre quem recai a defesa do mundo peculiar, hein? Sobre pessoas como eu e vocês. — O palhaço jogou fora a coxa de peru. — Vocês, covardes, me enojam. Acabei de perder o apetite.
— Eles estar cansados, fizeram longa viagem — interveio o homem dobrável. — Dê um tempo a eles.
O palhaço agitou o indicador no ar como uma professora dando bronca.
— Nada disso. Não damos almoço de graça. Não importa se vão ficar uma hora ou um mês. Enquanto estiverem aqui, têm que estar dispostos a lutar. Vocês todos são esqueléticos, mas são peculiares, então sabemos que têm talentos ocultos. Mostrem o que podem fazer!
Ele se levantou e avançou até Enoch estendendo o braço, como se fosse revistar os bolsos dele em busca de sua habilidade peculiar.
— Você aí, faça o que sabe fazer! — ordenou.
— Vou precisar de uma pessoa morta para demonstrar — retrucou Enoch. — Pode ser você, se ousar encostar um dedo em mim.
O palhaço mudou de direção e foi até Emma.
— E você, querida — disse ele. Emma ergueu um dedo muito bem escolhido e fez uma chama dançar na ponta, como se fosse uma vela de aniversário. O palhaço deu risada e exclamou: — Senso de humor! Gosto disso!
Então seguiu para os irmãos cegos.
— Eles têm as mentes conectadas — explicou Melina, colocando-se entre o palhaço e os dois meninos. — Podem ver com os ouvidos e sempre sabem o que o outro está pensando.
O palhaço bateu palmas.
— Finalmente uma coisa útil! Vão ser nossos vigias. Vamos deixar um no circo e o outro aqui. Se algo der errado por lá, saberemos imediatamente!
Ele afastou Melina do caminho, e os irmãos recuaram.
— Você não pode separá-los! — exclamou Melina. — Joel-e-Peter não gostam de ficar separados.
— E eu não gosto de ser caçado por cadáveres ferozes e invisíveis — retrucou o palhaço, e começou a separar o irmão mais velho do mais novo.
Os meninos deram os braços e gemeram alto, estalando a língua e girando os olhos. Eu estava prestes a intervir quando os irmãos se separaram e soltaram um grito uníssono, tão alto e penetrante que achei que minha cabeça fosse rachar. Os pratos em cima da mesa se espatifaram, todo mundo se abaixou e pôs as mãos nos ouvidos e pensei ter ouvido o ruído de rachaduras se formando no gelo dos andares de baixo.
Quando o eco terminou, Joel-e-Peter se agarraram um ao outro no chão, tremendo.
— Viu só o que você fez? — gritou Melina para o palhaço.
— Meu Deus, isso é impressionante! — comentou o palhaço.
Bronwyn o agarrou pelo pescoço e o levantou com uma das mãos.
— Se continuar a nos perturbar — anunciou, muito calma —, vou enfiar sua cabeça na parede.
— Me... desculpem... — disse o palhaço, com dificuldade. — Pode... me... botar... no chão?
— Pode colocar, Wyn — disse Olive. — Ele pediu desculpas.
Relutante, Bronwyn o pôs no chão. O palhaço tossiu e ajeitou a fantasia.
— Parece que julguei vocês mal — comentou. — Serão belos acréscimos ao nosso exército.
— Eu falei que não vamos nos juntar ao seu exército idiota — retruquei.
— E por que lutar, afinal? — perguntou Emma. — Vocês nem sabem onde as ymbrynes estão.
O homem dobrável se desdobrou da cadeira e se levantou.
— Lutamos porque, se os corrompidos pegarem o restante das ymbrynes, vai ser impossível detê-los — explicou.
— Parece que já é impossível detê-los — respondi.
— Se você acha que é impossível detê-los agora, é porque ainda não viu nada — retrucou o palhaço. — Se acha que com sua ymbryne livre eles vão parar de persegui-los, então é mais burro do que parece.
Horace se levantou e pigarreou.
— Você acabou de nos dizer o que pode acontecer na pior das hipóteses — disse ele. — Ultimamente, eu só ouço me dizerem o que pode acontecer na pior das hipóteses. Não ouvi ninguém dizer o que pode acontecer na melhor.
— Ah, essa vai ser boa — comentou o palhaço. — Vá em frente, garoto elegante. Estamos ouvindo.
Horace respirou fundo, tomando coragem.
— Os acólitos queriam as ymbrynes e agora estão com elas. Ou, pelo menos, com a maioria. Vamos supor que, na prática, os acólitos não precisem de mais nada e agora podem prosseguir com seus planos malignos. E prosseguem: viram superacólitos, semideuses, ou seja lá o que estão querendo virar. Daí não vão precisar mais das ymbrynes e nem das crianças peculiares ou das fendas temporais. E vão embora viver como semideuses em algum lugar e nos deixam em paz. As coisas não só voltam ao normal, elas ficam melhores do que antes, porque não terá mais ninguém tentando nos devorar ou raptar nossas ymbrynes. Aí, talvez pela primeira vez em muito tempo, poderemos tirar umas férias no exterior como costumávamos fazer, poderemos ver um pouco do mundo e enfiar os pés na areia em algum lugar que não seja frio e cinza durante trezentos dias do ano. Nesse caso, qual é o sentido de ficar e lutar? Só iríamos nos atirar sobre as espadas deles, quando na verdade tudo poderia acabar bem sem a nossa intervenção.
Por um momento, ninguém disse nada. Então o palhaço começou a rir. Ele riu, riu muito. Sua gargalhada ecoava e era ampliada pelas paredes. Até que ele acabou caindo da cadeira.
Enoch se pronunciou:
— Eu simplesmente não sei o que dizer. Espere... Sei, sim! Horace, esse é o desejo mais covarde e mais surpreendentemente ingênuo que eu já ouvi.
— Mas é uma possibilidade — insistiu Horace.
— É. Também é possível que a Lua seja feita de queijo. Só não é muito provável.
— Posso acabar com essa discussão agora mesmo — anunciou o homem dobrável. — Querem saber o que os acólitos vão fazer com nós quando tiverem a liberdade de fazer o que eles quer? Venham... eu mostrar.
— É só para quem tem estômago forte — disse o palhaço, olhando para Olive.
— Se eles aguentam, eu também aguento — retrucou a menina.
— Eu avisei. — O palhaço deu de ombros. — Venham.
— Eu não seguiria esse cara nem para sair de um barco afundando — resmungou Melina, que estava ajudando os irmãos cegos, ainda trêmulos, a se levantar.
— Então fique aí — retrucou o palhaço. — Quem preferir não afundar com o navio pode vir com a gente.
***
Os feridos estavam em diversas camas desparelhadas em uma enfermaria improvisada, sendo cuidados por uma enfermeira com um olho de vidro saltado. Havia três pacientes, se é que era possível chamá-los assim: um homem e duas mulheres. O homem estava deitado de lado, meio catatônico, sussurrando e babando. Uma das mulheres encarava o teto com o olhar vazio, enquanto a outra se contorcia sob os lençóis, gemendo baixinho, sofrendo com algum pesadelo. Algumas crianças observavam do lado de fora, mantendo distância caso o que aquelas pessoas tivessem fosse contagioso.
— Como eles estão? — perguntou o homem dobrável à enfermeira.
— Piorando — respondeu a mulher, indo de cama em cama. — Agora eu os mantenho sedados o tempo todo. Senão eles não param de gritar.
Eles não tinham ferimentos aparentes. Não havia ataduras ensanguentadas, nenhum braço engessado, nenhuma bacia cheia até a borda de um líquido avermelhado. O quarto parecia mais a enfermaria improvisada de uma ala psiquiátrica do que um hospital.
— O que aconteceu com eles? — perguntei. — Foram feridos no ataque?
— Não. Foram trazidos para cá pela srta. Wren — respondeu a enfermeira. — Ela os encontrou abandonados em um hospital que os acólitos converteram em uma espécie de laboratório. Essas pobres criaturas foram usadas como cobaias em experiências indizíveis. O que vocês estão vendo aqui é o resultado.
— Encontramos os prontuários antigos — explicou o palhaço. — Eles foram raptados há anos. Foram considerados mortos há muito tempo.
A enfermeira pegou uma prancheta na parede junto à cama do homem que murmurava.
— Esse sujeito, Benteret, supostamente era fluente em cem línguas, mas agora só diz uma palavra, que repete o tempo todo.
Eu me aproximei, observando os lábios dele. Chamar, chamar, chamar, articulava o homem. Chamar, chamar, chamar.
Não fazia sentido. Ele não tinha mais mente.
— Sobre aquela ali — continuou a enfermeira, apontando a prancheta para a garota que gemia —, o prontuário diz que ela pode voar, mas nunca a vi levantar daquela cama um centímetro que fosse. Quanto à outra, parece que ela era invisível. Mas dá para vê-la tão bem quanto qualquer outra coisa.
— Eles foram torturados? — perguntou Emma.
— É óbvio... foram torturados até ficarem loucos! — respondeu o palhaço. — Torturados até esquecerem que eram peculiares!
— Mesmo que eu fosse torturado o dia inteiro — interveio Millard —, nunca esqueceria como ficar invisível.
— Mostre as cicatrizes — pediu o palhaço à enfermeira.
A enfermeira foi até a mulher imóvel e puxou as cobertas. Finas cicatrizes vermelhas marcavam a barriga, a lateral do pescoço e sob o queixo, cada uma mais ou menos do tamanho de um cigarro.
— Eu não chamaria isso de prova de tortura — comentou Millard.
— Então do que você chamaria? — perguntou a enfermeira, irritada.
Millard ignorou a pergunta.
— Há mais cicatrizes, ou só essas?
— Claro que tem outras — retrucou a enfermeira, e puxou mais as cobertas para expor as pernas da mulher, e apontou para cicatrizes atrás dos joelhos, na parte interna da coxa e na planta do pé.
Millard se abaixou para examinar o pé.
— É um lugar estranho, não acham?
— Aonde você quer chegar, Mill? — indagou Emma.
— Shhh — fez Enoch. — Deixa ele brincar de Sherlock. Até que eu estou gostando.
— Por que não fazemos cortes no corpo dele? — sugeriu o palhaço. — Aí vamos ver se não acha que é tortura!
Millard atravessou o quarto até a cama do homem que murmurava.
— Posso examiná-lo?
— Tenho certeza de que ele não vai se opor — disse a enfermeira.
Millard ergueu as cobertas que cobriam as pernas do homem. Na planta do pé dele via-se uma cicatriz idêntica à da mulher imóvel.
A enfermeira fez um gesto na direção da mulher que se retorcia.
— Ela também tem uma, se é isso o que você quer saber.
— Chega — disse o homem dobrável. — Se isso não ser tortura, ser o quê?
— Exploração — explicou Millard. — Essas incisões são precisas e cirúrgicas. Não foram feitas para infligir dor, provavelmente foram feitas até sob anestesia. Os acólitos estavam procurando alguma coisa.
— Procurando o quê? — perguntou Emma, apesar de parecer temer a resposta.
— Tem um velho ditado sobre o pé de um peculiar — disse Millard. — Ninguém lembra?
Horace respondeu:
— A sola do pé é a porta da alma de um peculiar. Mas isso é só uma coisa que dizemos às crianças para que não vão brincar descalças fora de casa.
— Talvez sim, talvez não — retrucou Millard.
— Não seja ridículo! Você acha que estavam procurando...
— As almas deles. E encontraram.
O palhaço riu alto.
— Que bobagem. Só porque eles perderam as habilidades você acha que suas segundas almas foram removidas?
— Em parte. Sabemos que os acólitos estão interessados na segunda alma há anos.
Então me lembrei da conversa que tivera com Millard no trem.
— Mas você me falou que a alma peculiar é o que nos permite entrar nas fendas temporais. Se essas pessoas não têm essa alma, como estão aqui?
— Bem, elas não estão aqui realmente, não é mesmo? — disse Millard. — Quer dizer, a mente delas com certeza está em outro lugar.
— Agora você está apelando — comentou Emma. — Acho que foi longe demais, Millard.
— Vamos continuar nessa linha de pensamento só mais um pouco — pediu o menino. Ele andava de um lado para o outro, empolgado. — Acho que vocês já ouviram falar da vez em que um normal entrou em uma fenda, não ouviram?
— Não. Todo mundo sabe que isso é impossível — retrucou Enoch.
— Praticamente impossível — corrigiu Millard. — Não é fácil e nem bonito, mas já aconteceu uma vez. Uma experiência ilegal realizada pelo irmão da srta. Peregrine, acho, anos antes de ele enlouquecer e formar o grupo de dissidentes que viriam a se tornar os acólitos.
— E por que eu nunca ouvi falar nisso? — indagou Enoch.
— Porque foi extremamente polêmico, e os resultados foram encobertos para que ninguém tentasse repeti-los. Enfim: na verdade, é possível levar um normal para o interior de uma fenda temporal, mas eles têm que ser forçados a entrar. E só alguém com o poder de uma ymbryne consegue fazer isso. No entanto, como os normais não têm uma segunda alma, não conseguem lidar com os paradoxos inerentes a uma fenda, e seus cérebros viram papa. Eles viram vegetais catatônicos e babões no momento em que entram. Como essas pobres pessoas que estamos vendo.
Houve um momento de silêncio enquanto as palavras de Millard eram registradas. Então Emma levou as mãos à boca e murmurou:
— Ah, droga. Ele tem razão.
— Bem — interveio o palhaço —, nesse caso, as coisas estão ainda piores do que pensávamos.
Tive a sensação de que o cômodo inteiro se esvaziou.
— Não sei se entendi — disse Horace.
— Ele disse que os monstros roubaram as almas deles! — gritou Olive, que saiu correndo na direção de Bronwyn e enterrou o rosto no casaco da mais velha.
— Esses peculiares não perderam suas habilidades — explicou Millard. — Elas foram roubadas... extraídas junto com suas almas, que foram usadas para alimentar etéreos. Isso permitiu que os etéreos evoluíssem o suficiente para entrar nas fendas, um desenvolvimento que permitiu o ataque recente ao mundo peculiar e rendeu a eles novos peculiares dos quais extrair almas para evoluir mais etéreos e assim por diante, em um círculo vicioso.
— Então eles não querem só as ymbrynes — concluiu Emma. — Eles também querem a gente... as nossas almas.
Hugh ficou parado ao pé da cama do homem que murmurava, sua última abelha zumbindo irritada ao redor dele.
— Todas as crianças peculiares que eles raptaram ao longo dos anos... era isso que estavam fazendo com elas? Eu achava que só viravam comida para etéreo. Mas isso... isso é muito mais maligno.
— Quem disse que eles não pretendem extrair as almas das ymbrynes também? — indagou Enoch.
Isso fez com que todos fôssemos tomados por um calafrio ainda maior. O palhaço se virou para Horace e perguntou:
— Como fica sua melhor das hipóteses agora, camarada?
— Não me provoque — respondeu Horace. — Eu mordo.
— Todo mundo para fora! — ordenou a enfermeira. — Com alma ou sem alma, essas pessoas estão doentes. Aqui não é lugar para discussões.
Saímos para o corredor, taciturnos.
— Tudo bem, vocês nos mostraram o show de horrores — disse Emma para o palhaço e para o homem dobrável. — Ficamos devidamente horrorizados. Agora digam o que querem.
— Simples — respondeu o homem dobrável. — Queremos que vocês ficar e lutar ao nosso lado.
— Só achamos que tínhamos a obrigação de mostrar que é do interesse de vocês fazer isso — explicou o palhaço, dando tapinhas nas costas de Millard. — Mas seu amigo aqui se mostrou melhor do que esperávamos.
— Ficar aqui e lutar pelo quê? — indagou Enoch. — As ymbrynes não estão nem em Londres... A srta. Wren já nos disse isso.
— Esqueçam Londres! Londres está acabada! — retrucou o palhaço. — A batalha aqui terminou. Nós perdemos. Assim que Wren salvar o último peculiar que conseguir encontrar nessas fendas em ruínas, vamos nos reunir e viajar... para outras terras, outras fendas. Deve haver mais sobreviventes por aí, peculiares como nós, com o desejo de lutar ainda aceso dentro de si.
— Vamos montar um exército — explicou o homem dobrável. — Um exército de verdade.
— E quanto a descobrir o paradeiro das ymbrynes, não tem problema — completou o palhaço. — Vamos capturar um acólito e torturá-lo até ele nos dizer. Vamos obrigá-lo a nos mostrar no Mapa dos dias.
— Vocês têm um exemplar do Mapa dos dias? — indagou Millard.
— Temos dois. Os arquivos peculiares ficam lá embaixo, sabe.
— Isso é mesmo uma boa notícia — comentou Millard, a voz carregada de empolgação.
— É mais fácil falar do que fazer, quando o assunto é pegar um acólito — disse Emma. — E eles mentem, é claro. Mentir é o que fazem melhor.
— Então pegamos dois e comparamos as mentiras — retrucou o palhaço. — Eles vêm farejar por aqui com muita frequência. Da próxima vez que virmos um... bam! Vamos pegá-lo.
— Não precisamos esperar — respondeu Enoch. — A srta. Wren não disse que tem acólitos dentro deste prédio?
— Claro — respondeu o palhaço. — Mas estão congelados. Mortinhos da silva.
— O que não significa que não possam ser interrogados — retrucou Enoch, com um sorriso.
O palhaço se virou para o homem dobrável.
— Estou começando a gostar desses malucos.
— Então vocês estar do nosso lado? — perguntou o homem dobrável. — Vão lutar com a gente?
— Eu não disse isso — retrucou Emma. — Precisamos de um minuto para discutir.
— Mas o que há para discutir? — indagou o palhaço.
— Claro, claro, vocês levar o tempo que quer — interveio o homem dobrável, puxando o palhaço para o corredor. — Venha, eu fazer um café.
— Está bem — concordou o palhaço, relutante.
Nós nos agrupamos, como tínhamos feito tantas vezes desde que nossos problemas haviam começado, só que dessa vez, em vez de competirmos para ver quem gritava mais alto, todos esperaram sua vez de falar. A seriedade da situação nos deixara solenes.
— Acho que devemos lutar — declarou Hugh. — Agora que descobrimos o que os acólitos estão fazendo, eu não conseguiria ficar em paz sabendo que simplesmente voltamos a viver como antes, fingindo que nada disso está acontecendo. Lutar é a única coisa honrosa a fazer.
— Também há honra na sobrevivência — retrucou Millard. — Nossa espécie sobreviveu ao século XX se escondendo, e não lutando, então talvez a gente só precise de um jeito melhor de se esconder.
Bronwyn se virou para Emma e disse:
— Quero saber o que você acha.
— É, quero saber o que Emma acha — concordou Olive.
— Eu também — disse Enoch, o que me pegou de surpresa.
Emma inspirou fundo e se pronunciou:
— Eu me sinto muito mal pelas outras ymbrynes. É um crime o que aconteceu com elas, e o futuro de nossa espécie pode depender de seu resgate. Mas, no fundo, minha fidelidade não é para com essas outras ymbrynes nem para com as outras crianças peculiares. É para com a mulher a quem devo minha vida: a srta. Peregrine, e apenas ela. — Emma fez uma pausa e balançou a cabeça, como se estivesse testando a sensatez de suas palavras, antes de prosseguir: — Queira a ave que ela se transforme outra vez, e, quando isso acontecer, vou fazer o que ela precisar que eu faça. Se ela quiser que eu lute, vou lutar. Se quiser nos esconder em uma fenda em algum lugar, vou concordar com isso também. Seja como for, continuo acreditando no de sempre: a srta. Peregrine sabe o que é o melhor.
Os outros refletiram sobre isso. Por fim, Millard disse:
— Uma colocação muito sábia, srta. Bloom.
— A srta. Peregrine sabe o que é o melhor! — concordou Olive, vibrando.
— A srta. Peregrine sabe o que é o certo! — repetiu Hugh.
— Não me importa a opinião da srta. Peregrine — retrucou Horace. — Eu vou lutar.
Enoch segurou o riso.
— Você?
— Todo mundo acha que sou um covarde. Esta é minha chance de provar que estão todos errados.
— Não jogue sua vida fora por causa de umas piadas — disse Hugh. — Quem liga para o que os outros pensam?
— Não é só isso — disse Horace. — Vocês se lembram da visão que tive lá em Cairnholm? Foi um vislumbre de onde estão as ymbrynes. Eu não poderia mostrar em um mapa, mas tenho certeza de uma coisa: vou saber quando vir. — Ele tocou a testa com o indicador. — O que tenho aqui dentro pode poupar muito trabalho a esses sujeitos. E salvar as outras ymbrynes também.
— Se alguns lutarem e outros ficarem para trás — disse Bronwyn —, vou proteger quem ficar. Proteger sempre foi minha vocação.
Hugh se virou para mim.
— E você, Jacob?
Fiquei com a boca seca.
— É — concordou Enoch. — E você?
— Bem... Eu...
— Vamos dar uma volta — disse Emma, pegando meu braço. — Você e eu temos que conversar.
***
Descemos a escada bem devagar, sem trocar uma palavra até chegarmos ao primeiro andar, diante da parede de gelo curva com que Althea lacrara o túnel de saída. Sentamos juntos e ficamos assim por um bom tempo, olhando para o interior do gelo, para as formas capturadas ali, borradas e distorcidas na luz cada vez mais fraca, suspensas como ovos em âmbar azul. Ficamos sentados, e o silêncio que se acumulava entre nós era prova de que aquela seria uma conversa difícil, uma conversa que nenhum de nós dois desejava iniciar.
Por fim, Emma se pronunciou:
— E então?
— Eu concordo com os outros: quero saber o que você acha — respondi.
Ela deu aquela risada de quando a pessoa não acha a coisa engraçada, e sim estranha.
— Não tenho tanta certeza disso — respondeu Emma.
E ela tinha razão, mas insisti para ouvir mesmo assim.
— Diga.
Emma pôs a mão no meu joelho, mas logo depois a retirou. Estava inquieta. Senti um aperto no peito.
— Acho que está na hora de você voltar para casa — disse ela, por fim.
Levei um momento para me convencer de que Emma tinha mesmo dito aquilo.
— Não estou entendendo — balbuciei.
— Você falou que tinha sido mandado aqui por uma razão — explicou ela, falando depressa, olhando para as próprias pernas. — E era para ajudar a srta. Peregrine. Agora parece que ela pode ser salva. Se você tinha alguma dívida com ela, está paga. Você nos ajudou mais do que poder imaginar. Agora é hora de voltar para o seu mundo. — As palavras de Emma saíram em uma torrente. Parecia um pensamento doloroso que ela vinha carregando havia muito tempo, como se fosse um alívio finalmente se livrar daquilo.
— Este é o meu mundo — respondi.
— Não, não é — insistiu Emma, dessa vez olhando para mim. — O mundo peculiar está morrendo, Jacob. É um sonho perdido. Mesmo que a gente decida se armar contra os corrompidos e de algum modo, por algum milagre, consiga vencê-los, vamos nos tornar uma sombra do que fomos: teremos um mundo em ruínas. Você tem uma casa, que não está em ruínas. Você tem pais que estão vivos, que amam você, à sua própria maneira.
— Eu já falei. Não quero essas coisas. Eu escolhi isto aqui.
— Você fez uma promessa e a cumpriu. Agora acabou. É hora de ir para casa.
— Pare de dizer isso! — gritei. — Por que está me mandando embora?
— Porque você tem uma casa e uma família de verdade. Se acha que algum de nós teria escolhido este mundo em vez dessas outras coisas, que qualquer um que está aqui não teria desistido das fendas temporais, da longevidade e dos poderes peculiares há muito tempo só por um gostinho do que você tem, então está vivendo em um mundo de fantasia. Fico muito mal pensando que você pode estar jogando isso tudo fora... e por quê?
— Por você, sua idiota! Eu amo você!
Eu não conseguia acreditar que tinha dito aquilo. Nem Emma. Ela ficou boquiaberta.
— Não — respondeu, balançando a cabeça como se pudesse apagar minhas palavras. — Não, isso não vai ajudar em nada.
— Mas é verdade! — insisti. — Por que acha que fiquei, em vez de ir para casa? Não foi por causa do meu avô ou de algum sentimento idiota de dever... não mesmo. Nem porque eu odiasse meus pais, ou porque não gostasse da minha casa ou de todas as coisas legais que eu tinha. Eu fiquei por você!
Emma ficou calada por um tempo, só balançou a cabeça, virou o rosto e passou a mão no cabelo, revelando uma mecha branca de poeira de concreto que eu não percebera antes, o que a fez parecer repentinamente mais velha.
— É culpa minha — disse, por fim. — Eu nunca devia ter beijado você. Talvez eu o tenha feito acreditar em algo que não era verdade.
Aquilo doeu. Recuei instintivamente, como que para me proteger.
— Não diga isso se não for verdade — pedi. — Posso não ter muita experiência com garotas, mas não me trate como um idiota que fica sem ação diante de uma menina bonita. Você não me fez ficar. Eu fiquei porque quis, porque o que sinto por você é mais real do que qualquer coisa que já senti. — Deixei a frase no ar por um instante, sentindo a verdade daquilo tudo. — E você sente o mesmo. Eu sei.
— Me desculpe — disse ela. — Me desculpe. Foi crueldade, eu não devia ter dito isso. — Ela secou os olhos úmidos. Emma tentara parecer feita de pedra, mas a fachada estava desmoronando. — Você tem razão. Eu gosto muito de você. É por isso que não consigo ver você desperdiçando sua vida.
— Eu não estou desperdiçando minha vida!
— Droga, Jacob, está sim! — Ela estava com tanta raiva que sem querer acendeu uma chama na mão, que por sorte afastara de meu joelho. Apagou a chama batendo a mão na palma da outra e se levantou. Então apontou para o gelo e perguntou: — Está vendo aquela planta no vaso, sobre a mesa?
Eu assenti.
— Ela está verde, preservada pelo gelo, mas por dentro está morta. No instante em que o gelo derreter, vai ficar marrom, murchar e virar uma papa. — Emma me encarou. — Eu sou como essa planta.
— Não é, não — respondi. — Você é... perfeita.
Seu rosto se retesou em uma expressão de paciência forçada, como se estivesse explicando algo para uma criança burra. Ela se sentou de novo, pegou minha mão e a levou até seu rosto macio.
— Isso aqui é uma mentira — disse ela. — Não sou eu de verdade. Se você pudesse ver como realmente sou, não iria me querer mais.
— Eu não ligo para essas coisas...
— Eu sou uma velha! — exclamou ela. — Você acha que somos iguais, mas não somos. Essa pessoa que você diz amar é na verdade uma velha, uma velha encarquilhada dentro de um corpo de menina. Você é um garoto, um menino, um bebê, se comparado comigo. Você nunca poderia entender como é estar tão perto da morte o tempo todo. E nem devia. Eu não quero isso para você. Você tem a vida toda pela frente, Jacob. Eu já vivi a minha. Um dia, talvez em breve, vou morrer e voltar ao pó.
Emma disse isso com uma determinação fria, e soube que ela acreditava mesmo naquilo. Ela sofria ao dizer essas coisas, como eu sofria ao ouvi-las, mas eu entendia. A seu modo, Emma estava tentando me salvar.
Mas doía mesmo assim, em parte porque eu sabia que ela estava certa. Se a srta. Peregrine se recuperasse, eu teria feito o que decidira fazer: resolver o mistério do meu avô; pagar a dívida da minha família com a srta. Peregrine; e viver a vida extraordinária com a qual eu sempre sonhara; ao menos em parte. Nesse ponto, a única obrigação que me restava era com meus pais. Quanto a Emma... eu não me importava que ela fosse mais velha ou muito diferente de mim, mas ela decidira que eu deveria me importar, e parecia que não havia como convencê-la do contrário.
— Talvez, quando tudo isso terminar — disse ela —, eu escreva uma carta para você, e você me escreva de volta. E talvez um dia você venha me ver outra vez.
Uma carta. Pensei na caixa empoeirada e cheia de correspondências que eu encontrara no quarto dela, lembranças do meu avô. Será que aquilo era tudo o que eu me tornaria para ela? Um velho do outro lado do oceano? Uma lembrança? Então percebi que estava prestes a seguir os passos de meu avô, e de um modo que nunca imaginara ser possível. Em vários aspectos, eu estava vivendo a vida dele. E provavelmente um dia eu baixaria a guarda, envelheceria, ficaria lento e distraído e morreria como ele. E Emma seguiria em frente sem mim, sem nenhum de nós. E um dia talvez alguém encontrasse as minhas cartas no armário dela, em uma caixa ao lado das de meu avô, e se perguntaria quem tínhamos sido para ela.
— E se vocês precisarem de mim? — perguntei. — E se os etéreos voltarem?
Lágrimas brilharam nos olhos de Emma.
— Daremos um jeito — respondeu ela. — Olha, não posso mais falar sobre isso. Sinceramente, acho que meu coração não aguenta. Vamos subir e comunicar sua decisão aos outros?
Cerrei os dentes, de repente irritado por ela estar me forçando daquela maneira.
— Ainda não decidi nada — respondi. — Você é que decidiu.
— Jacob, eu acabei de dizer...
— Certo, você disse. Mas eu ainda não tomei minha decisão.
Emma cruzou os braços.
— Então eu posso esperar.
— Não — retruquei, me levantando. — Preciso ficar sozinho por um tempo.
Subi as escadas sem ela.
CAPÍTULO TREZE
Caminhei pelos corredores sem fazer barulho. Fiquei um tempo parado do lado de fora da sala de reuniões das ymbrynes, ouvindo as vozes abafadas através da porta, mas não entrei. Espiei o quarto da enfermeira e a vi cochilando em um banco entre os peculiares de uma alma só. Entreabri a porta do quarto da srta. Wren e a vi balançando a srta. Peregrine no colo, acariciando as penas. Não disse nada a ninguém.
Vaguei por corredores vazios e escritórios invadidos e revistados tentando imaginar como me sentiria em casa, se decidisse voltar depois de viver tudo aquilo. Pensei no que diria a meus pais. Muito provavelmente, não diria coisa alguma. Eles nunca acreditariam mesmo. Eu diria que enlouqueci, que escrevi uma carta cheia de histórias malucas, que peguei um barco e fugi. Eles chamariam de reação ao estresse. Descobririam alguma disfunção inventada e ajustariam meus remédios. Culpariam o dr. Golan, por sugerir que eu fosse para o País de Gales. O dr. Golan, de quem, é claro, nunca mais ouviriam falar. O homem deixou a cidade, diriam, porque era uma farsa, um charlatão em quem nunca deveríamos ter confiado. Eu voltaria a ser um pobre menino rico, traumatizado e mentalmente perturbado.
Parecia que estavam me condenando à prisão. No entanto, se meu maior motivo para ficar no mundo peculiar não me queria mais, eu não me rebaixaria continuando apegado a ela. Eu tinha meu orgulho.
Por quanto tempo suportaria a Flórida, depois de provar aquela vida peculiar? Eu não era nem de perto tão comum quanto costumava ser — ou pelo menos descobrira que na verdade nunca tinha sido. Eu estava mudado. Isso pelo menos me dava alguma esperança: mesmo sob circunstâncias comuns, eu ainda conseguiria encontrar um modo de viver uma vida extraordinária.
Sim, era melhor ir embora. Era melhor. Se aquele mundo estava morrendo e não havia o que fazer por ele, o que restava para mim? Fugir e me esconder até que não houvesse um lugar seguro para ir, uma fenda temporal para sustentar a juventude artificial de meus amigos. Vê-los morrer. Segurar Emma enquanto ela se despedaçava e se desfazia em meus braços.
Isso acabaria comigo mais depressa do que qualquer etéreo seria capaz.
Então estava decidido: eu iria partir. Resgatar o que sobrara de minha antiga vida. Adeus, peculiares. Adeus, mundo peculiar.
Era o melhor a fazer.
Continuei vagando até chegar a um lugar onde os aposentos estavam apenas parcialmente congelados. O gelo chegara a meio caminho do teto, como água em um navio afundando, e parara por ali, deixando o tampo das mesas e o alto das luminárias para fora, como nadadores perdendo as forças. Por trás das janelas congeladas, o sol estava se pondo. Sombras se projetavam nas paredes e multiplicavam as escadarias. A luz ia ficando mais azul à medida que diminuía, mergulhando tudo ao meu redor em um mar de cobalto.
Ocorreu-me que aquela provavelmente era minha última noite no mundo peculiar. Minha última noite com os melhores amigos que já tivera. Minha última noite com Emma.
Por que eu estava passando por aquele momento sozinho? Porque estava triste, e Emma ferira meu orgulho. Eu precisava ficar sozinho.
Já era o bastante.
No entanto, quando me virei para deixar a sala, senti aquela velha pontada familiar no estômago.
Um etéreo.
Parei, esperando outra pontada. Precisava de mais informações. A intensidade da dor correspondia à proximidade do etéreo, e a frequência, à força. Quando dois etéreos fortes estavam atrás de nós, a Sensação tinha sido de um espasmo longo e ininterrupto, mas dessa vez demorou muito antes de se repetir, quase um minuto. E, quando me atingiu, foi tão suave que nem tive certeza de que a sentia.
Saí da sala devagar e peguei o corredor. Quando passei pela porta seguinte, senti uma terceira pontada, dessa vez um pouco mais forte, mas ainda apenas um murmúrio.
Tentei abrir a porta com cuidado e sem fazer barulho, mas estava bloqueada pelo gelo. Tive que puxar com força várias vezes e depois chutá-la, até que ela finalmente se abriu, revelando uma sala cheia de gelo que chegava à altura do peito. Eu me aproximei com cautela e examinei o gelo. Mesmo sob a luz fraca, não demorei a ver o etéreo. Ele estava agachado no chão, preso no gelo até a altura dos globos oculares negros. A metade superior da cabeça estava exposta acima do gelo; o restante, as partes perigosas, as mandíbulas abertas e todos os seus dentes e línguas, estava preso abaixo da superfície.
Mal parecia vivo. O coração estava quase parando, batendo praticamente uma vez por minuto apenas. A cada pulsação frágil eu sentia uma pontada de dor.
Parei na entrada da sala e fiquei olhando para a criatura, fascinado e enojado. O etéreo estava inconsciente, imobilizado, completamente vulnerável. Seria fácil subir no gelo e enfiar a ponta de um pingente em seu crânio — e, se qualquer outra pessoa soubesse que ele estava ali, tenho certeza de que teria feito exatamente isso. Mas algo me impediu. Aquela criatura não era mais uma ameaça. Todo etéreo com o qual eu entrara em contato me deixara uma marca. Eu via em sonhos suas caras putrefatas. E em breve eu iria para casa, onde não seria mais Jacob, o matador de etéreos. Não queria levar mais esse comigo. Isso não era mais da minha conta.
Saí da sala e fechei a porta.
***
Quando voltei para o salão de reuniões, estava quase escuro lá fora, e o aposento, negro como a noite. Como a srta. Wren não permitia que acendessem lampiões a gás, por medo de que fossem vistos da rua, todos estavam reunidos ao redor de algumas velas dispostas na grande mesa, alguns em cadeiras, outros sentados de pernas cruzadas sobre o tampo de madeira, conversando em voz baixa e com os olhos fixos em alguma coisa.
Quando as portas pesadas rangeram, todos se viraram para mim.
— Srta. Wren? — indagou Bronwyn, esperançosa, ajeitando a cadeira e apertando os olhos.
— É só o Jacob — disse outra forma sombria.
Depois de um coral de suspiros de decepção, Bronwyn falou:
— Ah, oi, Jacob.
E voltou a olhar para a mesa.
Enquanto eu ia até eles, meus olhos se cruzaram com os de Emma. Sustentei seu olhar e notei algo sensível e desprotegido. Imaginei que fosse o medo de que eu tivesse realmente decidido fazer o que ela insistira que eu fizesse. Então seus olhos se tornaram inexpressivos, e ela baixou a cabeça outra vez.
Eu tinha um pouco de esperança de que Emma tivesse se apiedado de mim e contado aos outros que eu estava de partida, mas é claro que ela não o fizera. Eu não contara nem a ela. No entanto, Emma parecia saber só de olhar para o meu rosto enquanto eu atravessava a sala.
Estava claro que os outros não faziam ideia. Estavam tão acostumados à minha presença que até haviam esquecido que isso era uma opção minha. Eu me aprumei e pedi a atenção de todos.
— Espere um pouco — pediu uma voz com sotaque pronunciado. À luz de velas, vi que a garota da cobra e sua serpente olhavam para mim. — Este garoto aqui acabou de dizer um monte de bobagens sobre o lugar de onde venho. — Ela se virou para a única cadeira vazia. — Meu povo chama o lugar de Simhaladvipa, o refúgio dos leões.
Millard respondeu, da cadeira:
— Sinto muito, mas a caligrafia é bem clara: Terra de Serendípia. Os cartógrafos peculiares que fizeram esse mapa não eram de inventar coisas!
Então me aproximei um pouco e vi sobre o que eles estavam discutindo. Era um Mapa dos dias, só que uma edição muito maior do que a que tínhamos perdido no mar. Ocupava praticamente toda a mesa e era grossa como um tijolo.
— Eu conheço minha terra, e ela se chama Simhaladvipa! — insistiu a menina.
A cobra saltou de seu pescoço, deu um pulo, atravessando quase a mesa toda, e caiu de cabeça no mapa, bem em cima de uma ilha em forma de gota perto da costa da Índia. Nesse mapa, porém, a Índia se chamava Malabar, e em cima da ilha, que eu sabia se chamar Sri Lanka, estava escrito à mão, em uma letra apertada: Terra de Serendípia.
— É inútil discutir — retrucou Millard. — Alguns lugares têm tantos nomes quanto ocupantes para lhes dar nomes. Agora, por favor, peça para sua cobra sair daí antes que ela amasse as páginas.
A garota da serpente resmungou e murmurou alguma coisa. A cobra se encolheu e se enroscou de volta ao redor de seu pescoço. Durante todo esse tempo, não consegui parar de olhar para o livro. O volume que tínhamos perdido no mar já era bem impressionante, apesar de eu tê-lo visto aberto apenas uma vez, à noite, à luz laranja e trêmula do incêndio que destruíra o lar das crianças peculiares. Aquele tinha uma escala completamente diferente. Além de ser de várias ordens de grandeza maior, era tão ornamentado que fazia o outro parecer papel higiênico encadernado em couro. Mapas coloridos jorravam das páginas, feitos de algo mais resistente que papel, talvez pele de bezerro, todos com bordas em ouro. Ilustrações suntuosas, legendas e blocos de textos explicativos enchiam as margens.
Millard percebeu que eu estava admirando o mapa.
— Não é maravilhoso? — comentou ele. — Com exceção, talvez, do Codex Peculiaris, esta edição do mapa é o livro mais lindo de todo o mundo peculiar. Uma equipe de cartógrafos, ilustradores e encadernadores levou a vida inteira para criá-lo, e dizem que o próprio Perplexus Anomalous desenhou alguns dos mapas. Desde pequeno, sempre quis vê-lo. Ah, estou tão feliz!
— É mesmo impressionante — concordei. E de fato era.
— Millard só estava nos mostrando algumas de suas partes favoritas — explicou Olive. — Eu gosto mais das figuras!
— Para distraí-los das outras coisas e tornar a espera mais fácil — explicou Millard. — Aqui, Jacob, venha me ajudar a virar as páginas.
Em vez de arruinar o momento de Millard com meu anúncio triste, decidi que poderia esperar um pouco mais. Eu não ia a lugar algum até de manhã, pelo menos, e queria aproveitar mais alguns minutos com meus amigos sem o fardo de certas questões. Sentei-me ao lado de Millard e enfiei os dedos sob a página; era tão grande que precisei das duas mãos para virá-la.
Ficamos olhando o mapa. Fui absorvido por ele, em especial pelas partes mais distantes e menos conhecidas. Naturalmente, a Europa e suas muitas fendas do tempo estavam bem definidas, mas locais mais ermos eram menos detalhados. Vastas áreas da África estavam em branco. Terra Incógnita. O mesmo acontecia com a Sibéria, apesar de o Mapa dos dias ter outro nome para o extremo leste da Rússia: A Vastidão Solitária.
— Existem fendas do tempo nesses lugares? — indagou Olive, apontando para um vazio que se estendia pela maior parte da China. — Existem peculiares lá, assim como nós?
— Sem dúvida — respondeu Millard. — A peculiaridade é determinada por genes, não pela geografia. Mas grandes porções do mundo peculiar simplesmente não foram exploradas.
— Por que não?
— Acho que estávamos ocupados demais sobrevivendo.
Ocorreu-me que a tarefa de sobreviver impedia muitas coisas, entre elas explorar e se apaixonar.
Viramos mais páginas em busca de pontos vazios. Havia muitos, todos com nomes pomposos. O Pesaroso Reino de Areia. A Terra Criada por Raiva. Lugar Alto e Cheio de Estrelas. Eu pronunciava as palavras em silêncio para mim mesmo, apreciando sua fluidez.
Nas margens espreitavam lugares temerários que o mapa chamava de Terras Ermas. O extremo norte da Escandinávia eram Terras Ermas Geladas. O centro de Bornéu era chamado de Terras Ermas Sufocantes. Grande parte da Península Arábica: Terras Ermas Impiedosas. A extremidade sul da Patagônia: Terras Ermas Melancólicas. Certos lugares não eram sequer representados. Nova Zelândia. Havaí. A Flórida era apenas uma protuberância sem forma no pé dos Estados Unidos, praticamente inexistente.
Ao observar o Mapa dos dias, até os lugares que pareciam mais proibitivos evocavam uma estranha saudade, me lembrando tardes há muito passadas com meu avô estudando mapas históricos na National Geographic — mapas desenhados muito antes dos dias de satélites e aviões, quando câmeras de alta resolução não conseguiam ver todos os cantos e dobras do mundo. Quando a forma das linhas costeiras, agora familiar, era trabalho de adivinhação. Quando as profundezas e dimensões de mares gelados e selvas proibitivas eram montadas com base em rumores, lendas e nas histórias exageradas de aventureiros que haviam perdido metade de seus grupos em uma exploração.
Enquanto Millard continuava a falar sobre a história do mapa, passei o dedo por um deserto vasto e sem marcas na Ásia. Onde a Criatura Alada Não Termina o Voo. Havia um mundo inteiro para ser descoberto, e eu tinha apenas arranhado a superfície. Pensar isso me encheu de arrependimento, mas também de uma espécie de alívio envergonhado. Eu voltaria a ver minha casa, afinal de contas, e meus pais. Talvez fosse criancice aquela velha vontade de explorar só por explorar. Havia certo romantismo no desconhecido, mas, depois que um local era descoberto, catalogado e mapeado, era diminuído, virava apenas mais um fato empoeirado em um livro, tinha seu mistério diluído. Então talvez fosse melhor deixar alguns pontos vazios no mapa. Deixar que o mundo preservasse um pouco de sua magia, em vez de obrigá-lo a revelar até seu último segredo.
Talvez fosse melhor se surpreender de vez em quando.
Então contei a eles. Não fazia sentido esperar mais. Fui direto ao ponto:
— Eu vou embora. Quando tudo isso acabar, vou voltar para casa.
Houve um momento de silêncio em sinal de surpresa. O olhar de Emma encontrou o meu finalmente, e vi que seus olhos estavam cheios de lágrimas.
Bronwyn se levantou e me abraçou.
— Irmão — disse —, vamos sentir saudades.
— Eu também vou sentir saudades — respondi. — Mais do que consigo expressar.
— Mas por quê? — indagou Olive, flutuando até ficar na altura de meus olhos. — Eu fui irritante demais?
Pus a mão na cabeça dela e a empurrei de volta para o chão.
— Não, não, não tem nada a ver com você — respondi. — Você foi ótima, Olive.
Emma deu um passo à frente.
— Jacob veio aqui para nos ajudar — explicou. — Mas ele precisa voltar para sua antiga vida enquanto ela ainda está lá, esperando por ele.
Todos pareceram entender. Não havia raiva. Eles pareciam genuinamente felizes por mim.
A srta. Wren enfiou a cabeça pela porta do salão e nos deu uma rápida atualização: tudo estava correndo maravilhosamente bem. A srta. Peregrine estava a caminho da recuperação. Estaria bem pela manhã. Então a srta. Wren desapareceu outra vez.
— Graças aos deuses — comentou Horace.
— Graças às aves — corrigiu Hugh.
— Graças aos deuses e às aves — interveio Bronwyn. — Todas as aves de todas as árvores de todas as florestas.
— Graças a Jacob também — acrescentou Millard. — Nunca teríamos chegado aqui sem ele.
— Nem teríamos conseguido sair da ilha — concordou Bronwyn. — Você fez muito por nós, Jacob.
Todos me abraçaram, cada um deles, um de cada vez. Depois se afastaram e só restou Emma. Ela me abraçou por último — um abraço demorado e meio triste, que pareceu muito uma despedida.
— Pedir que você partisse foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer — falou. — Ainda bem que você entendeu. Acho que eu não teria forças para pedir de novo.
— Odeio isso — respondi. — Queria que existisse um mundo no qual pudéssemos ficar juntos e em paz.
— Eu sei. Eu sei, eu sei.
— Eu queria... — comecei.
— Pare — pediu Emma.
Mas continuei assim mesmo:
— Eu queria que você pudesse ir comigo.
Ela virou o rosto.
— Você sabe o que aconteceria comigo se eu fosse.
— Sei.
Emma não gostava de despedidas longas. Senti seu corpo se enrijecer, tentando conter a dor.
— Então — prosseguiu, tentando ser prática. — Quanto à logística. Quando a srta. Peregrine virar humana, vai conduzi-lo de volta até o metrô. Quando você passar pelo portal, estará de volta ao presente. Acha que consegue se virar depois disso?
— Acho que sim — respondi. — Vou ligar para os meus pais. Ou ir a uma delegacia, algo do tipo. Tenho certeza de que deve ter um cartaz com a minha foto em todos as delegacias do país, se bem conheço meu pai. — Dei uma risadinha, porque, se não tivesse feito isso, teria começado a chorar.
— Tudo bem, então — concluiu Emma.
— Tudo bem.
Olhamos um para o outro, não totalmente prontos para acabar com aquilo, sem saber ao certo o que fazer. Meu instinto era beijá-la, mas não o fiz. Não era mais permitido.
— Vá — disse ela. — E se nunca mais ouvir falar de nós... bem, um dia você vai poder contar a nossa história. Vai poder contar sobre nós para os seus filhos. Ou seus netos. E não seremos totalmente esquecidos.
Ali eu soube que, a partir daquele instante, qualquer palavra que trocássemos machucaria, por estar envolta e marcada pela dor do momento. Soube que eu precisava me afastar imediatamente, ou aquilo nunca teria fim. Então assenti com tristeza, abracei-a outra vez e me afastei para um canto. Queria dormir, pois estava muito, muito cansado.
Depois de algum tempo, os outros arrastaram colchões e cobertores para dentro do salão e fizeram um ninho ao meu redor. Ficamos deitados bem juntinhos, para nos aquecermos em meio àquele frio invasivo. Contudo, quando os outros começavam a deitar, vi que não conseguiria dormir, apesar do cansaço, e me levantei para andar um pouco pelo salão, observando-os de longe.
Eu sentira tantas coisas desde o começo de nossa jornada: alegria, medo, esperança, pavor... mas, até aquele momento, não me sentira sozinho nem uma única vez. Bronwyn me chamara de irmão, mas isso não fazia mais sentido. Eu era no máximo um primo de segundo grau. Emma tinha razão: eu nunca entenderia. Eles eram muito velhos, tinham visto muitas coisas. E eu era de outro mundo. Era hora de voltar.
***
Acabei pegando no sono ao som do gelo rangendo e estalando nos andares abaixo de nós e no sótão acima. O prédio estava vivo.
Naquela noite, tive sonhos estranhos e urgentes.
Estou em casa outra vez, fazendo tudo o que eu costumava fazer. Devorando um hambúrguer grande, marrom e gorduroso de uma lanchonete; no banco do passageiro do carro de Ricky, o rádio ruim no volume máximo; no mercado com meus pais, andando por corredores compridos e iluminados demais — e Emma está lá, esfriando as mãos no gelo da seção de peixes, a água derretida escorrendo por toda parte. Ela não me reconhece.
Em seguida, estou no fliperama onde fiz minha festa de aniversário de doze anos, atirando com um revólver de plástico. Corpos explodindo, balões cheios de sangue.
Jacob, onde está você
Depois, a escola. A professora está escrevendo no quadro, mas as letras não fazem sentido. Em seguida, todo mundo se levanta e sai correndo. Tem alguma coisa errada. Um barulho alto, que aumenta e diminui. Todos ficam imóveis, a cabeça erguida.
Ataque aéreo.
Jacob, Jacob, onde está você
Sinto a mão de alguém em meu ombro. É de um velho. Um velho sem olhos. Veio roubar os meus. Não é um homem. É outro ser — um monstro.
Estou correndo. Perseguindo minha velha cadela. Ela fugiu há anos, saiu correndo ainda com a coleira e a prendeu em um galho enquanto perseguia um esquilo que subiu em uma árvore. Estrangulou-se. Passamos duas semanas andando pelo bairro chamando seu nome. Nós a encontramos na terceira semana. A velha Focinha.
A sirene é ensurdecedora. Corro, até que um veículo para ao meu lado e eu entro. São meus pais, com roupas formais. Eles não olham para mim. As portas se trancam. O carro avança e está muito quente lá fora, mas o aquecimento está ligado, as janelas, fechadas, e o rádio está alto, mas sintonizado no chiado entre estações.
Mãe, aonde estamos indo
Ela não responde.
Pai, por que estamos parando aqui
Então estamos do lado de fora, andando, e consigo respirar de novo. Um lugar verde, bonito. Cheiro de grama recém-cortada. Vejo pessoas de preto reunidas ao redor de um buraco no chão.
Um caixão aberto sobre um estrado. Olho lá para dentro. Está vazio, vejo apenas uma mancha de óleo crescendo lentamente no fundo, enegrecendo o cetim branco. Rápido, fechem a tampa! De rachaduras e fendas sai um alcatrão negro e borbulhante que goteja na grama e penetra na terra.
Jacob, onde está você diga alguma coisa
Na lápide está escrito: ABRAHAM EZRA PORTMAN. Caio na cova aberta, e a escuridão gira para me engolir. Não paro de cair, não tem fundo, e então estou em algum lugar embaixo da terra, sozinho, andando por mil túneis interconectados. Estou sem rumo e está frio, tão frio que tenho medo de que minha pele congele e meus ossos se quebrem. E há olhos amarelos por toda parte, me olhando da escuridão.
Sigo a voz dele. Yakob, venha cá. Não tenha medo.
Os túneis se inclinam em direção à superfície, e há luz no final. Vejo um rapaz parado na saída, lendo um livro com toda a calma. Ele é igualzinho a mim, ou quase igual. E talvez seja eu. Até que ele fala, e é a voz de meu avô. Eu tenho uma coisa para lhe mostrar.
Acordei de repente, por apenas um instante, no escuro. Sabia que estava sonhando, mas não sabia onde estava — só tinha a consciência de que não estava mais na cama, nem na sala de reuniões com os outros. Tinha ido para outro lugar, um aposento totalmente escuro, com gelo embaixo de mim e meu estômago se contorcendo...
Jacob venha cá onde está você
Uma voz que vinha de fora, do corredor; uma voz de verdade, não de um sonho.
Então estou no sonho outra vez, fora de um ringue de boxe, junto às cordas. No centro, no halo das luzes, meu avô enfrenta um etéreo.
Eles andam em círculos, sem se aproximar. Meu avô é jovem, tem pés ágeis, está sem camisa e com uma faca na mão. O etéreo está curvado e retorcido, as línguas se agitando no ar, um líquido negro gotejando da boca aberta e caindo na lona. Ele lança uma língua na direção de meu avô, que se esquiva.
Não resista à dor, essa é a chave, diz meu avô. A dor está lhe dizendo alguma coisa. Receba-a de braços abertos, deixe que ela fale com você. A dor diz: Olá, eu não sou outra pessoa; eu sou do etéreo, mas também sou sua.
O etéreo tenta acertá-lo outra vez. Meu avô antecipa o ataque e desvia. O etéreo ataca pela terceira vez, e meu avô o golpeia com a faca. A ponta da língua negra cai na lona, amputada, sofrendo espasmos.
São criaturas burras. Altamente sugestionáveis. Fale com eles, Yakob. E meu avô começa a falar, mas não em inglês ou em polonês, nem em qualquer língua que eu já tenha ouvido fora dos sonhos. É um sibilar gutural, como sons que não são feitos por uma garganta e uma boca.
E a criatura agora só fica se balançando no mesmo lugar, parecendo hipnotizada. Ainda falando aquelas palavras assustadoras e sem sentido, meu avô baixa a faca e caminha lentamente na direção do etéreo. Quanto mais ele se aproxima, mais dócil fica a criatura, que finalmente cai de joelhos. Acho que o etéreo está prestes a fechar os olhos e dormir quando escapa de repente de seja lá qual for o feitiço que meu avô lançou sobre ele, ataca com todas as línguas e o empala. Enquanto meu avô cai, salto as cordas e corro na direção dele. O etéreo vai embora. Vejo seu corpo de costas na lona, me ajoelho a seu lado e acaricio seu rosto. Ele murmura alguma coisa, o sangue borbulhando de seus lábios, então me debruço para ouvi-lo. Você é mais que eu, Yakob, diz. Você é mais do que eu já fui.
Sinto seu coração bater devagar. Consigo ouvir as batidas, de algum modo, até que segundos inteiros se passam entre uma e outra. Depois, dezenas de segundos, e então...
Jacob onde está você
Acordei de novo de repente. Havia luz no cômodo. Era de manhã, bem cedinho. Eu estava ajoelhado no gelo na sala meio cheia, e minha mão não estava no rosto de meu avô, mas pousada no crânio do etéreo preso, com o cérebro reptiliano e lento. Os olhos da criatura me encaravam, abertos, e eu o encarava de volta. Eu vejo você.
— Jacob! O que está fazendo? Procurei você por toda parte!
Era Emma, nervosa, no corredor.
— O que está fazendo? — repetiu ela.
Ela não via o etéreo. Não sabia que ele estava ali.
Tirei a mão da cabeça da criatura e deslizei para longe dela.
— Não sei — respondi. — Acho que tive uma crise de sonambulismo.
— Não importa — disse ela. — Venha logo... A srta. Peregrine está prestes a se transformar!
***
As crianças e as aberrações do circo abarrotavam o quartinho, todos pálidos e nervosos, encostados na parede e agachados no chão, formando uma espécie de cerca ao redor das duas ymbrynes, como apostadores em uma rinha de galos clandestina. Emma e eu nos enfiamos entre eles e nos encolhemos em um canto, mantendo os olhos colados no espetáculo que se desenrolava. O quarto estava uma bagunça: a cadeira de balanço em que a srta. Wren passara a noite sentada com a srta. Peregrine estava caída de lado, a bancada com frascos e provetas fora empurrada de qualquer jeito contra a parede. Althea estava de pé em cima dela, segurando uma rede na extremidade de um cabo, pronta para usá-la.
A srta. Wren e a srta. Peregrine estavam no chão. A srta. Wren, de joelhos, mantinha a srta. Peregrine presa contra as tábuas do assoalho, as mãos calçadas em grossas luvas de falcoaria, suando e cantando em peculiar antigo. A srta. Peregrine piava e agitava as garras. Por mais que a diretora fizesse força, a srta. Wren não a soltava.
Em algum momento da noite, a massagem suave da srta. Wren se transformara em algo parecido com uma luta misturada com exorcismo. A metade ave da srta. Peregrine dominara sua natureza de tal forma que se recusava a ser expulsa. As duas ymbrynes tinham pequenos ferimentos: penas da srta. Peregrine estavam espalhadas por toda parte, e escorria sangue de um corte no rosto da srta. Wren. Era uma imagem perturbadora, e várias crianças ficaram olhando, chocadas, boquiabertas. Mal dava para reconhecer a ave de olhos bem abertos e selvagens que a srta. Wren apertava contra o chão. Parecia incrível que a velha srta. Peregrine completamente restaurada pudesse sair daquela demonstração violenta, mas Althea não parava de sorrir para nós e balançar a cabeça nos encorajando, como se dissesse: Está quase lá, é só apertar mais um pouco!
Para uma frágil senhora de idade, a srta. Wren estava dando uma bela surra na srta. Peregrine. Então a ave atacou a srta. Wren com o bico, e as mãos da velha mulher escorregaram. Em seguida, com um forte bater de asas, a srta. Peregrine quase escapou. As crianças reagiram com gritos e exclamações de surpresa. A srta. Wren foi rápida, saltou e conseguiu segurar a srta. Peregrine pela pata traseira e derrubá-la no chão de novo, o que fez as crianças soltarem exclamações de surpresa ainda mais altas. Não estávamos acostumados a ver nossa ymbryne ser tratada daquela forma. Bronwyn até precisou impedir Hugh de intervir.
Naquele momento, as duas ymbrynes pareciam exaustas; a srta. Peregrine ainda mais. Dava para ver que ela estava sem forças. A natureza humana da diretora parecia estar vencendo a natureza de ave.
— Vamos lá, srta. Wren! — exclamou Bronwyn.
— Você vai conseguir, srta. Wren! — gritou Horace. — Traga-a de volta para nós!
— Por favor! — disse Althea. — Precisamos de silêncio absoluto.
Depois de bastante tempo, a srta. Peregrine parou de se debater e ficou deitada no chão com as asas abertas, sem fôlego, o peito emplumado arfando. A srta. Wren tirou as mãos da ave e se sentou no chão.
— Está prestes a acontecer — anunciou. — E, quando acontecer, não quero que venham correndo aqui para abraçá-la. A ymbryne de vocês muito provavelmente estará confusa, e quero que o primeiro rosto que ela veja e a primeira voz que escute sejam os meus. Vou precisar explicar o que aconteceu. — A srta. Wren uniu as mãos no peito e murmurou: — Volte para nós, Alma. Vamos, irmã. Volte para nós.
Althea desceu da bancada e pegou um lençol, que desdobrou e estendeu à frente da srta. Peregrine, para ocultá-la. Quando as ymbrynes se transformavam de aves em humanas, apareciam nuas, e aquilo daria a ela alguma privacidade.
Aguardamos em suspense, prendendo a respiração, enquanto de trás do lençol vinha uma sucessão de ruídos: ar expelido, um som parecido com alguém batendo palmas uma vez, alto, e então a srta. Wren se levantou de repente e deu um passo hesitante para trás.
Ela parecia assustada e estava boquiaberta, assim como Althea.
— Não, isso é impossível! — exclamou a srta. Wren.
Althea desmaiou e deixou cair o lençol. No chão, vimos uma forma humana, mas não de mulher.
Ele estava nu, em posição fetal, de costas para nós. Então começou a se mexer, se esticar e, finalmente, se levantar.
— Essa é a srta. Peregrine? — indagou Olive. — Ela ficou esquisita.
Era evidente que não. A pessoa ali à nossa frente não apresentava semelhança alguma com a srta. Peregrine. Era um homenzinho atarracado, com joelhos nodosos, pouco cabelo e um nariz que parecia uma borracha usada. Estava completamente nu, coberto dos pés à cabeça com um gel grudento e translúcido. Enquanto a srta. Wren o encarava boquiaberta e tateava em busca de algo em que se segurar, todos os outros, chocados e com raiva, começaram a gritar:
— Quem é você? Quem é você? O que fez com a srta. Peregrine?
Lentamente, bem lentamente, o homem levou as mãos ao rosto e esfregou os olhos. Depois, enfim, os abriu.
As órbitas eram brancas e vazias.
Ouvi alguém gritar.
Em seguida, com muita calma, o homem anunciou:
— Meu nome é Caul. E vocês são meus prisioneiros.
***
— Prisioneiros! — repetiu o homem dobrável, dando risada. — O que ele querer dizer com prisioneiros?
Emma gritou com a srta. Wren.
— Onde está a srta. Peregrine? Quem é esse homem? O que a senhora fez com a srta. Peregrine?
A srta. Wren parecia ter perdido a capacidade de falar.
À medida que nossa confusão se transformou em choque e raiva, enchemos o homenzinho de perguntas. Ele as suportou com uma expressão levemente entediada, parado no meio do quarto com as mãos cobrindo as partes íntimas.
— Se vocês me deixassem falar, eu poderia explicar tudo.
— Onde está a srta. Peregrine?! — gritou Emma outra vez, tremendo de raiva.
— Não se preocupe — respondeu Caul. — Ela está segura sob nossa custódia. Nós a raptamos há alguns dias, na ilha.
— Então a ave que resgatamos do submarino... — falei. — Aquela era...
— Era eu — completou Caul.
— Impossível! — exclamou a srta. Wren, finalmente recuperando a fala. — Acólitos não podem se transformar em aves!
— Isso é verdade, como regra geral. Mas Alma é minha irmã, sabe, e, apesar de eu não ter tido a sorte de herdar seus talentos de manipulação do tempo, compartilho sua característica mais inútil: a habilidade de me transformar em uma avezinha de rapina maligna. Fiz um belo trabalho me passando por ela, não acham? — Então ele fez uma reverência. — Agora, posso pedir calças para vestir? Estou em situação de desvantagem.
O pedido foi ignorado. Enquanto isso, eu sentia a cabeça girar. Eu me lembrava de a srta. Peregrine mencionar que tinha dois irmãos. Na verdade, tinha visto a foto deles, de quando estavam todos sob os cuidados da srta. Avocet. Voltei no tempo, para os dias que havíamos passado com a ave que acreditávamos ser a srta. Peregrine. Tudo pelo que havíamos passado, tudo o que tínhamos visto... A srta. Peregrine engaiolada que Golan jogara no oceano... aquela tinha sido a verdadeira, enquanto a que “resgatamos” era o irmão dela. Os atos cruéis que a ave cometera nos últimos dias passaram a fazer mais sentido: não tinham sido obra da srta. Peregrine. Mas eu ainda tinha um milhão de perguntas.
— Esse tempo todo — falei. — Por que você permaneceu como ave? Só para nos observar?
— Apesar de minhas observações de suas atividades infantis terem sido indubitavelmente fascinantes, eu tinha grandes esperanças de que vocês me ajudassem com um detalhe de um negócio inacabado. Fiquei impressionado quando mataram meus homens no campo. Vocês se revelaram bem fortes. Naturalmente, meus homens poderiam ter intervindo e capturado seu grupo a qualquer momento depois daquilo, mas achei melhor deixá-los soltos mais um pouco e ver se sua engenhosidade nos levaria até a única ymbryne que sempre conseguia escapar. — Com isso, ele se virou para a srta. Wren e abriu um grande sorriso. — Olá, Balenciaga. É muito bom vê-la de novo.
A srta. Wren gemeu e se abanou com a mão.
— Seus idiotas, seus cretinos, seus imbecis! — gritou o palhaço. — Vocês os trouxeram direto até nós!
— E, como um belo bônus — completou Caul —, fizemos uma visita à sua montanha dos bichos! Meus homens chegaram pouco depois que saímos. As cabeças empalhadas daquela jumirafa e do cachorro vão ficar magníficas acima da minha lareira.
— Seu monstro! — gritou a srta. Wren, cujas pernas fraquejaram, obrigando-a a se apoiar na mesa.
— Ah, pela ave! — exclamou Bronwyn, de olhos arregalados. — Fiona e Claire!
— Vocês vão vê-las em breve — disse Caul. — As duas estão em segurança.
Tudo começou a fazer um sentido terrível. Caul sabia que seria bem recebido na fenda da srta. Wren se entrasse disfarçado de srta. Peregrine. Como ela não estava em casa para ser raptada, ele nos induziu a ir atrás dela, em Londres. Tínhamos sido manipulados de muitas maneiras desde o começo, desde o momento em que decidimos deixar a ilha e eu resolvi ir junto. Até a história que ele escolheu para que Bronwyn lesse naquela primeira noite na floresta, sobre o gigante de pedra, fora manipulação. Ele queria que encontrássemos a fenda do tempo da srta. Wren e que pensássemos que nós é que tínhamos resolvido o mistério.
Aqueles que não estavam mergulhados no horror espumavam de raiva. Várias pessoas estavam gritando que Caul deveria ser morto e procuravam objetos pontiagudos que servissem para isso, enquanto os poucos com a cabeça no lugar tentavam impedi-los. Caul permaneceu calmo o tempo todo, esperando que o furor abrandasse.
— Se me permitem — começou —, eu não acharia boa ideia me assassinar. Vocês poderiam, é claro. Ninguém pode impedi-los. Mas será muito mais fácil para vocês se eu estiver ileso quando meus homens chegarem. — Ele fingiu olhar para um relógio inexistente no pulso. — Já devem estar por aqui... é, já devem estar cercando o prédio, cobrindo todas as possíveis saídas, incluindo o telhado. E posso acrescentar que são cinquenta e seis deles, sem dúvida armados até os dentes. Além dos dentes. Vocês já viram o que uma minipistola pode fazer com um corpo humano do tamanho de uma criança? — Ele olhou bem para Olive. — Pode transformá-la em comida de gato, querida.
— Você está blefando! — exclamou Enoch. — Não tem ninguém lá fora!
— Garanto que tem. Eles estão me vigiando de perto desde que deixamos aquela ilhota deprimente, e dei meu sinal no momento em que Balenciaga se revelou para nós. Isso faz mais de doze horas, tempo mais do que suficiente para reunir um grupo de combate.
— Permitam-me verificar — disse a srta. Wren.
Ela foi à sala de reuniões das ymbrynes, onde as janelas estavam obstruídas por gelo, sobretudo no exterior, e algumas tinham pequenos túneis telescópicos derretidos, com espelhos presos para permitir a visão da rua abaixo.
Enquanto esperávamos que ela voltasse, o palhaço e a menina da cobra discutiam as melhores maneiras de torturar Caul.
— Eu sugiro primeiro arrancar as unhas dos pés — disse o palhaço. — Depois, enfiar espetos quentes nos olhos.
— De onde eu venho — retrucou a menina das cobras —, o castigo para traição é ser coberto de mel, depois amarrado dentro de um barco aberto e colocado em um lago de águas paradas. Os insetos vão devorá-lo vivo.
Caul estava parado, alongando o pescoço de um lado para o outro e esticando e estalando os braços, entediado.
— Perdão — falou. — Permanecer como ave por tanto tempo costuma dar cãibra.
— Acha que estamos de brincadeira? — indagou o palhaço.
— Acho que vocês são amadores — respondeu Caul. — Se encontrassem uns brotos de bambu, eu poderia mostrar algo realmente perverso. Mas, por mais prazeroso que isso possa ser, recomendo que derretam esse gelo, o que vai nos poupar um mundo de problemas. Digo isso para o seu próprio bem, por me preocupar de verdade com o seu bem-estar.
— É, eu sei — retrucou Emma. — Onde andava essa preocupação quando você estava roubando as almas daqueles peculiares?
— Ah, sim. Nossos três pioneiros. O sacrifício deles foi necessário... Tudo em nome do progresso, meus caros. Sabe, estamos tentando aprimorar a espécie peculiar.
— Que piada — rosnou ela. — Vocês não passam de sádicos com fome de poder!
— Sei que vocês cresceram muito protegidos do mundo real e foram pouco educados — retorquiu Caul —, mas suas ymbrynes não lhes ensinaram a história de nosso povo? Nós, peculiares, éramos deuses na terra! Gigantes... reis... governantes do mundo por direito! No entanto, ao longo dos séculos e milênios, sofremos um declínio terrível. Nós nos misturamos com os normais a tal nível que a pureza de nosso sangue peculiar foi diluída a quase nada. Agora olhem só para nós, vejam como estamos degradados! Nos escondemos nesses lugares temporais remotos com medo das pessoas que devíamos estar governando, presos em um estado de infância permanente por essa confederação de fofoqueiras... essas mulheres! Vocês não veem a que elas nos reduziram? Não sentem vergonha disso? Vocês têm ideia do poder que é nosso por direito? Não sentem o sangue de gigantes em suas veias? — Ele estava perdendo a calma, seu rosto começando a ficar vermelho. — Não estamos tentando acabar com o mundo peculiar... estamos tentando salvá-lo!
— É mesmo? — indagou o palhaço, então se aproximou de Caul e cuspiu bem na cara dele. — Bem, você arranjou um jeito bem doentio de fazer isso.
Caul limpou o cuspe com as costas da mão.
— Eu sabia que seria inútil argumentar com vocês. Há cem anos as ymbrynes enchem suas cabeças de mentiras e propaganda. O melhor a fazer é tomar suas almas e começar de novo, do zero.
A srta. Wren voltou.
— Ele está falando a verdade — anunciou. — Deve ter uns cinquenta soldados lá fora. Todos armados.
— Ah, meu Deus! — lamentou Bronwyn. — O que vamos fazer?
— Desistir — respondeu Caul. — Sair sem resistir.
— Não importa quantos são — disse Althea. — Eles nunca vão conseguir atravessar meu gelo.
O gelo! Eu quase tinha esquecido. Estávamos dentro de uma fortaleza de gelo!
— É verdade! — concordou Caul, animado. — Ela tem toda razão, eles não podem entrar. Isso nos deixa com duas opções: um modo rápido e indolor de acabar com isso, no qual vocês derretem o gelo voluntariamente, e um jeito longo, teimoso e triste, que é chamado de cerco, em que meus homens montam guarda por semanas e meses enquanto ficamos aqui dentro, morrendo de fome em silêncio. Talvez vocês desistam quando ficarem famintos e desesperados o suficiente. Ou talvez comecem a canibalizar uns aos outros. De qualquer modo, se meus homens tiverem que esperar tanto quando entrarem, vão torturar até a morte todos os que restarem. Se escolherem esse caminho entediante, lento e triste, por favor, em consideração às crianças, arrumem uma calça para mim.
— Althea, arranje a droga de um par de calças para o homem! — ralhou a srta. Wren. — Mas não derreta este lugar, sob circunstância alguma.
— Sim, senhora — respondeu Althea, e saiu.
— Bem — começou a srta. Wren, virando-se para Caul —, eis o que vamos fazer: diga a seus homens para nos deixar sair livremente, ou matamos você. Se for preciso, garanto que o faremos. E depois vamos desovar seu corpo fedorento por um buraco no gelo, um pedaço de cada vez. Embora eu saiba que isso não vai deixar seus homens muito contentes, nos dará bastante tempo para pensar no que fazer em seguida.
Caul deu de ombros.
— Ah, está bem.
— Sério? — indagou a srta. Wren.
— Achei que pudesse assustar vocês — disse ele. — Mas você tem razão, prefiro não morrer. Me leve até um desses buracos no gelo que eu faço como você pediu e grito para meus homens lá embaixo.
Althea voltou com uma calça e jogou-a para Caul, que a vestiu. A srta. Wren pediu que Bronwyn, o palhaço e o homem dobrável vigiassem Caul e os armou com pingentes de gelo. Com as pontas voltadas para as costas dele, seguimos para o corredor. Mas, quando começamos a formar um pequeno engarrafamento no escritório escuro que dava para o salão de reunião das ymbrynes, tudo deu errado. Alguém tropeçou em um colchão e caiu, aí eu ouvi uma briga começar no escuro. Emma acendeu uma chama bem a tempo de ver Caul arrastando Althea pelo cabelo para longe de nós. Ela chutava e se remexia enquanto o acólito segurava um pingente de gelo afiado contra sua garganta.
— Para trás, ou enfio isso na jugular dela! — gritou.
Seguimos Caul a uma distância cautelosa. Ele arrastou Althea, que não parava de se debater e chutar, para dentro da sala de reuniões, e depois para cima da mesa, sobre a qual a segurou, sufocando-a, com o pingente de gelo a um centímetro de seu olho, e gritou:
— Estas são as minhas exigências!
Antes que ele conseguisse prosseguir, porém, Althea arrancou o pingente de gelo de sua mão com um tapa. O gelo voou e aterrissou com a ponta cravada nas páginas do Mapa dos dias. Enquanto a boca do acólito ainda formava um “O” de surpresa, Althea agarrou a parte da frente da calça dele, e o “O” se alargou em uma careta de horror.
— Agora! — gritou Emma, e então eu, ela e Bronwyn corremos para cima deles passando pelas portas de madeira.
Enquanto corríamos, a distância do salão parecia aumentar, e em segundos a luta entre Althea e Caul tomara outro rumo: Caul se livrara de Althea e caíra da mesa, estendendo os braços para pegar o pingente de gelo. Althea caíra junto com ele, mas não o largara, e estava com as mãos em torno da coxa de Caul. Uma camada de gelo se espalhava depressa pela parte inferior do corpo do acólito, paralisando-o da cintura para baixo e congelando a mão de Althea à perna dele. Caul conseguiu passar um dedo ao redor do pingente de gelo, depois a mão inteira. Gemendo pelo esforço e de dor, Caul arrancou o gelo do mapa, girou a parte superior do corpo e encostou a ponta do pingente nas costas de Althea. Ele gritou, mandando a menina largá-lo e derreter o gelo, ou enfiaria o pingente nela.
Estávamos a poucos metros deles, mas Bronwyn nos deteve.
— Pare! Pare com isso! — gritou Caul.
Seu rosto se contorcia de dor, o gelo subindo por seu peito e seu ombro. Em segundos, seus braços e mãos também ficariam cobertos.
Althea não parou.
Então Caul fez o que ameaçara: a apunhalou nas costas com o pingente de gelo. Ela se retesou, surpresa, e gemeu. A srta. Wren correu na direção dos dois, gritando o nome de Althea enquanto o gelo que se espalhara por quase todo o corpo do acólito começou a recuar bem lentamente. Quando a Sra. Wren os alcançou, Caul estava quase livre, mas, nessa hora, o gelo do prédio todo também começou a derreter — desaparecendo e minguando tão depressa quanto a vida de Althea. O gelo no sótão gotejava e chovia teto abaixo tal como o sangue de Althea corria por seu corpo. Ela estava jogada nos braços da srta. Wren, nos deixando.
Bronwyn partiu para cima da mesa, segurando Caul pelo pescoço, a arma de gelo esmagada na outra mão. Dava para ouvir os andares abaixo derretendo, e todos os resquícios de água congelada desapareceram das janelas. Corremos para olhar para fora e vimos água jorrando para a rua pelas janelas inferiores, onde soldados em uniformes cinza de camuflagem urbana se agarravam a postes de luz e hidrantes para evitar serem arrastados pela torrente gélida.
Então ouvimos os passos pesados das botas nos degraus das escadas abaixo e descendo pelo telhado. Momentos depois eles surgiram, aos gritos, armados. Alguns dos homens usavam óculos de visão noturna, e todos portavam armas: metralhadoras, pistolas com mira laser e facas. Foi preciso três deles para soltar Bronwyn de Caul, que mal conseguia respirar com a traqueia meio esmagada.
— Levem todos daqui. E não sejam delicados!
A srta. Wren gritava, implorando para que obedecêssemos:
— Façam o que estão mandando, ou eles vão machucar vocês!
Mas ela não largava Althea, então fizeram dela um exemplo: arrancaram o corpo de suas mãos e a derrubaram com um chute. Um dos soldados disparou a submetralhadora no teto, só para assustar. Quando vi que Emma estava prestes a criar uma bola de fogo com as mãos, a agarrei pelo braço e implorei para que não o fizesse.
— Não, por favor, não. Eles vão matar você!
Então a coronha de um fuzil golpeou meu peito e caí no chão, sem ar. Um dos soldados amarrou minhas mãos às costas.
Eu os ouvi contando quantos éramos. Caul listava nossos nomes, garantindo que até Millard estivesse registrado, porque, é claro, depois de passar três dias conosco, conhecia todos nós, sabia tudo a nosso respeito.
Fui puxado até ficar de pé e todos fomos empurrados para fora da sala. Emma ia ao meu lado, com sangue no cabelo. Eu sussurrei:
— Por favor, faça o que eles mandarem.
E, apesar de ela não responder, eu sabia que tinha me ouvido. A expressão em seu rosto era de raiva, medo e choque — mas acho que também de pena, por tudo o que eu havia perdido a chance de recuperar.
Do alto da escada, vimos que os andares abaixo eram uma torrente vertiginosa, um vórtice de ondas em cascata. Só havia como sair pelo alto. Fomos empurrados escada acima, passando por uma porta direto para a forte luz do dia, no telhado. Todos estavam molhados, gelados, amedrontados e em silêncio.
Todos menos Emma.
— Para onde estão nos levando? — perguntou.
Caul foi até ela na mesma hora e sorriu diante de seu rosto enquanto um soldado segurava suas mãos às costas.
— Para um lugar muito especial — respondeu ele. — Onde nem uma gotinha da sua alma peculiar vai ser desperdiçada.
Ela se retraiu, e o acólito deu risada e se afastou, se espreguiçando e bocejando. Um par estranho de protuberâncias arredondadas se projetava de suas omoplatas, os resquícios de asas abortadas: a única pista de que aquele homem perverso tinha alguma relação com uma ymbryne.
Vozes gritaram do alto de outro prédio. Mais soldados. Estavam armando uma ponte entre os telhados.
— E a garota morta? — perguntou um deles.
— Uma pena, um desperdício — respondeu Caul, estalando a língua. — Eu teria gostado de jantar a alma dela. A alma peculiar em si não tem sabor, sabiam? — comentou, dirigindo-se a nós. — A consistência é um pouco gelatinosa e pastosa, na verdade, mas, se batida com umas ervas e espalhada na carne branca, fica bem palatável.
Os acólitos soltaram uma gargalhada.
Enquanto nos levavam, um a um, pela larga ponte desmontável, senti uma pontada familiar no estômago; leve, mas cada vez mais forte; lenta, mas acelerando. O etéreo, agora descongelado, voltava à vida.
***
Dez soldados nos escoltaram para fora da fenda temporal sob a mira de armas. Passamos pelas tendas do circo e dos shows secundários e por espectadores boquiabertos. Seguimos pelo labirinto emaranhado de becos com as barraquinhas, vendedores ambulantes e garotos de rua que não tiravam os olhos de nós. Entramos na sala de disfarces, passamos pelas pilhas de roupas que tínhamos deixado para trás e descemos para o metrô. Os soldados nos empurravam para a frente, exigindo, aos gritos, que ficássemos calados (apesar de ninguém dizer nada havia um tempo), mantivéssemos a cabeça baixa e ficássemos em fila, ou levaríamos uma coronhada.
Caul não estava mais com nosso grupo. Ficara para trás com o contingente maior de soldados, para “limpar o terreno”, o que eu acho que significava fazer uma busca na fenda atrás de alguém que estivesse escondido ou tivesse fugido. Na última vez que o vimos, ele estava usando botas modernas e uma jaqueta militar e disse que estava farto da nossa cara, mas que nos veria “do outro lado”, o que quer que isso significasse.
Passamos pelo portal e avançamos outra vez no tempo, mas não para uma versão dos túneis que eu reconhecesse. Os trilhos e dormentes eram todos de metal, e as luzes eram diferentes: não vermelhas incandescentes, mas tubos fluorescentes tremeluzentes que emitiam um brilho verde doentio. Quando saímos do túnel para a plataforma, entendi o porquê: não estávamos mais no século XIX, nem mesmo no XX. A multidão de refugiados que se abrigava ali desaparecera; a estação estava quase deserta. A escadaria circular pela qual havíamos descido também sumira, substituída por uma escada rolante. Uma tela de LED acima da plataforma anunciava: “TEMPO PARA O PRÓXIMO TREM: DOIS MINUTOS”. Na parede havia o cartaz de um filme que eu vira no início do verão, pouco antes da morte de meu avô.
Tínhamos deixado 1940 para trás. Eu estava de volta ao presente.
Algumas crianças perceberam isso e demonstraram surpresa e medo, como se temessem envelhecer em questão de minutos, mas, para a maioria deles, acho que o choque da captura repentina não seria superado por uma viagem inesperada ao presente. Eles estavam com medo de terem as almas removidas, não de ficarem com cabelo branco e manchas na pele.
Os soldados nos encurralaram no meio da plataforma para esperar pelo trem. Passos pesados vieram em nossa direção. Arrisquei olhar para trás e vi um policial se aproximando. Atrás dele, saindo da escada rolante, outros três.
— Ei! — gritou Enoch. — Policial, aqui!
Um soldado socou Enoch no estômago, e ele se dobrou ao meio.
— Tudo bem aí? — indagou o policial mais próximo.
— Eles estão nos prendendo! — gritou Bronwyn. — Não são soldados de verdade, são...
Então ela também levou um soco no estômago, apesar de não parecer machucá-la. Quem a impediu de dizer mais foi o próprio policial, que tirou os óculos espelhados e revelou olhos completamente brancos. Bronwyn se encolheu.
— Vou dar um aviso — começou o policial. — Não haverá ajuda para vocês. Estamos em toda parte. Aceitem isso, e tudo será mais fácil.
Os normais começaram a encher a estação. Os soldados nos apertaram por todos os lados, mantendo as armas ocultas.
Um trem cheio de gente chegou chiando à estação. As portas elétricas se abriram, e muitos passageiros saíram. Os soldados começaram a nos empurrar na direção do vagão mais próximo, com os policiais à frente para retirar os poucos passageiros que permaneciam lá dentro.
— Vão para outro vagão! — gritavam.
Os passageiros reclamavam, mas obedeciam. No entanto, havia mais gente atrás de nós na plataforma, tentando entrar no vagão, e alguns dos soldados que estavam nos cercando tiveram que se afastar para impedi-los. Então houve uma pequena confusão. As portas tentaram se fechar, mas os policiais as mantiveram abertas até um alarme começar a tocar. Os soldados nos empurraram para a frente com mais força, e Enoch tropeçou, fazendo outras crianças caírem por cima dele em uma reação em cadeia. Foi pouco, mas o suficiente para o homem dobrável, cujos pulsos eram tão magros que ele conseguia escapar das algemas, resolver tentar fugir e sair correndo.
Ouvimos um tiro, depois outro, e o homem dobrável caiu esparramado no chão. A multidão saiu correndo, em pânico, as pessoas gritando e fugindo para todos os lados tentando escapar dos tiros, e o que era apenas uma confusão se transformou em caos.
Àquela altura, os acólitos nos empurravam e chutavam para dentro do trem. Além de mim, Emma resistia, fazendo com que o soldado que a empurrava se aproximasse. Então vi suas mãos algemadas soltarem um brilho laranja, e ela as esticou para trás e o agarrou. O soldado desabou no chão, gritando, com um buraco no formato de mão na roupa camuflada. Então o soldado que estava me empurrando ergueu a coronha da arma e estava prestes a golpear o pescoço de Emma quando, por instinto, enfiei o ombro nas costas dele.
Ele se desequilibrou.
Emma derreteu as algemas que a prendiam. Elas caíram de suas mãos, transformados em uma massa disforme de metal quente e vermelho. O soldado que havia se desequilibrado apontou a arma para mim, mas, antes que ele pudesse disparar, Emma se aproximou por trás e segurou o rosto dele na palma das mãos. Seus dedos estavam tão quentes que passaram derretendo as bochechas do sujeito, como se a carne fosse manteiga derretida. Ele largou a arma e caiu, gritando.
Tudo aconteceu muito depressa, em questão de segundos.
Dois outros soldados vieram em nossa direção. Quase todo o restante do nosso grupo estava no trem, todos menos Bronwyn e os irmãos cegos, que não tinham sido algemados e estavam apenas parados de braços dados. Ao ver que estavam prestes a atirar em nós, Bronwyn fez algo que nunca imaginei que ela fizesse sob qualquer outra circunstância: deu um tapa no rosto do irmão mais velho, então pegou o mais novo e o afastou com violência do outro.
No instante em que a conexão entre os dois foi rompida, eles soltaram um grito tão poderoso que gerou até vento. O grito saiu destroçando a estação como um furacão de pura energia, soprando eu e a Emma para trás, estilhaçando os óculos dos soldados, eclipsando a maioria das frequências que meus ouvidos podiam detectar, de forma que tudo o que eu ouvia era um piiiiiiiiiiiiii altíssimo e muito agudo.
Vi todas as janelas do trem se estilhaçarem, as telas de LED se romperem em lâminas afiadas e as lâmpadas de vidro ao longo do teto explodirem, e por um instante mergulhamos na mais completa escuridão. Então veio o brilho vermelho e histérico de luzes de emergência.
Eu tinha caído de costas, sem fôlego, os ouvidos apitando. Algo me puxava para trás pela gola, para longe do trem, e eu não conseguia me lembrar exatamente de como fazer com que meus braços e pernas funcionassem bem o suficiente para resistir. Sob o zunido em meus ouvidos, consegui identificar vozes gritando:
— Corra, corra!
Senti algo frio e molhado na nuca, e fui puxado para o interior de uma cabine telefônica. Emma também estava lá, encolhida em um canto, semiconsciente.
— Ponha as pernas para dentro — ouvi uma voz conhecida dizer, e de trás de mim veio trotando uma coisa baixa e peluda com um focinho achatado e uma boca pelancuda.
O cão. Addison.
Puxei as pernas para dentro da cabine, recuperando o raciocínio por tempo o suficiente para me mexer, mas não para falar.
A última coisa que vi sob aquela luz vermelha e piscante infernal foi a srta. Wren sendo enfiada no vagão do metrô e as portas se fechando. Todos os meus amigos estavam lá dentro com ela, encolhidos sob a mira de armas. Eu os vi através das janelas estilhaçadas do trem, cercados por homens de olhos brancos.
O trem foi embora roncando escuridão adentro, até desaparecer.
***
Acordei assustado, com uma língua lambendo meu rosto.
O cão.
A porta da cabine telefônica fora fechada, e nós três estávamos espremidos lá dentro, no chão.
— Você desmaiou — explicou o cachorro.
— Eles foram embora — falei.
— É, mas não podemos ficar aqui. Eles vão voltar, vão vir atrás de vocês. Precisamos ir.
— Acho que ainda não consigo ficar de pé.
Addison tinha um corte no focinho e perdera um bom pedaço de uma das orelhas. Fosse lá o que tivesse feito para chegar ali, também passara por maus bocados.
Senti algo tocar minha perna de leve, mas estava cansado demais para olhar o que era. Minha cabeça pesava como pedra.
— Não durma de novo — ralhou o cão, então se virou para Emma e começou a lamber o rosto dela.
Senti o toque leve novamente. Dessa vez, estiquei a mão para tatear o local.
Era meu celular. Meu telefone estava vibrando. Eu não conseguia acreditar. Peguei-o do bolso. A bateria estava quase no fim e o sinal era quase inexistente. Na tela, a mensagem: PAI (177 LIGAÇÕES PERDIDAS).
Se eu não estivesse tão atordoado, provavelmente não teria atendido. A qualquer momento, um homem armado poderia aparecer para acabar com a gente. Não era uma boa hora para conversar com meu pai. Mas eu não estava pensando direito, e, sempre que meu telefone tocava, eu tinha o impulso pavloviano de atendê-lo.
Apertei o botão ATENDER.
— Alô?
Ouvi um grito engasgado do outro lado. E então:
— Jacob? É você?
— Sou eu.
Minha voz devia estar horrível. Era apenas um ruído fraco e rouco.
— Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! — exclamou meu pai. Ele não esperava que eu atendesse, talvez já tivesse desistido e me considerasse morto, mas continuava ligando por algum reflexo instintivo de pesar que ele não conseguia desativar. — Eu não... onde você... o que aconteceu... onde você está, filho?
— Estou bem — respondi. — Estou vivo. Em Londres.
Não sei por que disse essa última parte. Acho que senti que devia alguma verdade a ele.
Então ouvi um barulho como se ele tivesse afastado a cabeça do fone para gritar para outra pessoa.
— É o Jacob! Ele está em Londres! — Então voltou a falar comigo: — Achamos que você tivesse morrido.
— Eu sei. Quer dizer, não estou surpreso. Me desculpe por ter sumido desse jeito. Espero não ter assustado vocês demais.
— Você quase nos matou de susto, Jacob. — Meu pai deu um longo suspiro, um som trêmulo de alívio, descrença e desespero. — Sua mãe e eu também estamos em Londres. Quando a polícia não conseguiu encontrá-lo na ilha... Enfim, não importa, só nos diga onde está e vamos buscá-lo!
Emma começou a se mexer. Ela abriu os olhos e se voltou para mim com uma expressão vazia de cansaço, como se estivesse em algum lugar muito profundo em seu interior, me espiando através de quilômetros de cérebro e corpo.
— Bom, muito bom — disse Addison. — Agora fique conosco. — Então começou a lamber a mão dela.
Eu falei ao telefone:
— Não posso, pai. Não posso arrastar você para isso.
— Meu Deus, eu sabia. Você está usando drogas, não está? Olha, não importa com quem você se meteu, podemos ajudar. Não precisamos colocar a polícia no meio. Só queremos você de volta.
Tudo escureceu por um segundo e, quando voltei a mim, senti uma pontada tão forte no estômago que larguei o telefone.
Addison ergueu a cabeça para mim.
— O que é?
Foi quando vi uma língua negra e comprida se comprimindo contra a parte de fora do vidro da cabine. Ela logo foi acompanhada por uma segunda, depois uma terceira.
O etéreo. O etéreo descongelado. Ele nos seguira.
Addison não podia vê-lo, mas podia perceber a expressão em meu rosto.
— É um deles, não é?
Eu respondi sem emitir som: Sim. Addison se encolheu em um canto.
— Jacob? — Era a voz baixinha de meu pai, ao telefone. — Jacob, você está aí?
As línguas começaram a cercar a cabine, nos envolvendo. Eu não sabia o que fazer, só sabia que precisava fazer alguma coisa, então mexi os pés, apoiei as mãos na parede e tentei me levantar.
Fiquei cara a cara com o etéreo. Línguas se agitavam do interior da boca aberta e afiada da criatura. Seus olhos eram negros, envoltos em líquido ainda mais negro, e encaravam os meus a centímetros de distância, através do vidro. O etéreo soltou um rosnado baixo gutural que transformou minhas entranhas em geleia, e eu meio que desejei que a fera simplesmente me matasse e acabasse logo com aquilo, para que a dor e o terror terminassem.
O cão gritou para Emma.
— Acorde! Precisamos de você, garota! Faça seu fogo!
Mas Emma não conseguia falar nem se levantar. Estávamos sozinhos na estação, exceto por duas mulheres de capa de chuva que se afastaram, apertando o nariz para evitar o fedor pútrido do etéreo.
Então a cabine — a cabine inteira, com todos nós dentro — balançou para um lado e para o outro, e ouvi quaisquer rebites que a prendessem ao chão gemerem e arrebentarem. Lentamente, o etéreo nos ergueu do chão: dez centímetros, vinte, cinquenta. Então nos arremessou para baixo, estilhaçando as janelas, fazendo chover vidro sobre nós.
Não havia mais nada entre o etéreo e eu. Nem um centímetro, nem uma lâmina de vidro. Suas línguas se agitaram no interior da cabine e se enroscaram em meu braço, minha cintura, apertando cada vez mais forte, até eu não conseguir mais respirar.
Foi então que eu soube que estava morto. Como estava morto e não havia nada que eu pudesse fazer, parei de lutar. Relaxei todos os músculos, fechei os olhos e me entreguei à dor que explodia em meu estômago como fogos de artifício.
Em seguida, aconteceu uma coisa estranha: a dor parou. A dor mudou e se tornou outra coisa. Entrei nela, que me envolveu, e, por baixo de sua superfície turbulenta, descobri algo tranquilo e suave.
Um murmúrio.
Abri os olhos outra vez. O etéreo parecia congelado, me encarando. Eu o encarei de volta, sem medo. Minha visão estava cheia de pontos pretos por falta de oxigênio, mas eu não sentia dor.
O aperto do etéreo em meu pescoço relaxou. Respirei pela primeira vez em minutos, uma inspiração calma e profunda. Então o murmúrio que eu encontrara dentro de mim viajou, subiu do estômago pela garganta, passou por meus lábios e fez um ruído que não parecia uma língua, mas cujo significado eu entendi instintivamente.
Para trás.
O etéreo recolheu as línguas. Guardou-as todas na boca e fechou as mandíbulas. Fez uma leve reverência — um gesto quase de submissão.
Depois se sentou.
Emma e Addison olharam para mim, surpresos com a calma repentina.
— O que foi isso? — indagou o cão.
— Não há nada a temer — respondi.
— Ele se foi?
— Não, mas não vai mais nos machucar.
Ele não perguntou como eu sabia disso, apenas assentiu, tranquilizado pelo meu tom de voz.
Abri a porta da cabine e ajudei Emma a se levantar.
— Você consegue andar? — perguntei. Ela passou um braço ao redor de minha cintura e apoiou o peso contra mim. Juntos, demos um passo. — Não vou deixar você para trás — declarei. — Goste disso ou não.
Ela sussurrou em meu ouvido:
— Eu amo você, Jacob.
— Eu também — murmurei de volta.
Eu me abaixei para pegar o celular.
— Pai?
— O que foi esse barulho? Com quem você está?
— Estou aqui. Estou bem.
— Não está, não. Fique aí.
— Pai, eu preciso ir. Desculpe.
— Espere, não desligue — insistiu ele. — Você está confuso, Jacob.
— Não. Eu sou como o vovô. Tenho o mesmo que o vovô tinha.
Houve uma pausa do outro lado da linha. E depois:
— Por favor, volte para casa.
Respirei fundo. Havia muito a ser dito, mas não havia tempo. Isto teria que servir:
— Espero poder ir para casa um dia. Mas antes preciso resolver umas coisas. Quero que saiba que amo você e a mamãe e que não estou fazendo isso para magoar vocês dois.
— Nós também amamos você, Jake. Se for um problema com drogas, ou o que quer que seja, não ligamos. Vamos fazer você se recuperar. Como eu disse, você está confuso.
— Não, pai. Eu sou peculiar.
Desliguei. Depois, falando uma língua que eu não sabia que conhecia, mandei o etéreo se levantar.
Obediente como uma sombra, ele se levantou.
Sobre as fotografias
Assim como no primeiro livro, O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares, todas as imagens de Cidade dos etéreos são fotografias antigas autênticas e, com a exceção de algumas que passaram por tratamento digital, não sofreram alteração. Foram coletadas com muita paciência ao longo de vários anos: descobertas em feiras de antiguidades, eventos especializados em impressos antigos e, com muito mais frequência, nos arquivos de colecionadores de fotos muito mais bem-sucedidos do que eu, pessoas generosas que compartilharam alguns de seus tesouros mais peculiares para ajudar a criar este livro.
As fotografias seguintes foram gentilmente cedidas por seus proprietários para uso no livro:
TÍTULO
DA COLEÇÃO DE
Silhueta de Jacob
Roselyn Leibowitz
Emma Bloom
Muriel Moutet
Enoch O’Connor
David Bass
Claire Densmore
David Bass
Fiona
John Van Noate
Srta. Avocet
Erin Waters
Menina embarcando em trem
John Van Noate
Bebê chorando
John Van Noate
Irmãos peculiares
John Van Noate
Sam
John Van Noate
Millard no espelho
John Van Noate
O vigia
John Van Noate
Agradecimentos
Em O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares, agradeci a meu editor, Jason Rekulak, pela paciência “aparentemente infinita”. Agora, depois de um segundo livro, que levou duas vezes mais tempo para ser escrito, infelizmente tenho que lhe agradecer pela paciência verdadeiramente lendária, ou melhor, santíssima. Uma paciência de Jó! Torço para que a espera tenha valido a pena. Serei eternamente grato pela ajuda para encontrar meu caminho.
Obrigado à equipe da Quirk Books — Brett, David, Nicole, Moneka, Katherine, Doogie, Eric, John, Mary Ellen e Blair —, por serem as pessoas mais sãs e criativas do mercado editorial. Obrigado também a todos da Random House Publisher Services e a meus editores estrangeiros, por, de algum modo, conseguirem traduzir com charme minhas palavras esquisitas e inventadas para outras línguas (e por volta e meia receberem em seu país um autor americano alto, pálido e um pouco confuso; desculpe a bagunça no quarto de hóspedes).
Agradeço a minha agente, Jodi Reamer, por ler muitas versões deste livro, sempre fazer observações que melhoram o texto e (quase) sempre usar a faixa preta primeiro dan para o bem, e não para o mal.
Um agradecimento caloroso a meus colegas colecionadores de fotos, que ajudaram demais na criação deste livro: Robert E. Jackson, Peter J. Cohen, Steve Bannos, Michael Fairley, Stacy Waldman, John Van Noate, David Bass, Yefim Tovbis e Fabien Breuvart. Eu não teria conseguido sem vocês.
Obrigado aos professores que me desafiaram e estimularam ao longo dos anos: Donald Rogan, Perry Lentz, P. F. Kluge, Jonathan Tazewell, Kim McMullen, Linda Janoff, Philip Eisner, Wendy MacLeod, Doe Meyer, Jed Dannenbaum, Nina Foch, Lewis Hyde e John Kinsella, entre muitos outros.
E obrigado, sobretudo, a Tahereh, que iluminou minha vida de muitas maneiras. Amo você, azizam.
Um bate-papo com Ransom Riggs
Ransom Riggs cresceu na Flórida e estudou no Kenyon College e na Escola de Cinema da Universidade do Sul da Califórnia. Seu primeiro romance, O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares, ficou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos do The New York Times. O escritor deu uma entrevista a Jason Rekulak, editor da Quirk Books, e falou mais sobre o segundo volume da série, Cidade dos etéreos.
Certa vez, quando explicou o processo de escrita de O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares, você disse que “primeiro vieram as fotos” e que a história foi montada para se encaixar nas imagens. No segundo livro foi diferente?
Muito diferente! Eu comecei o primeiro sem ter muita noção do que ia escrever: tinha uma pilha de fotografias estranhas e algumas ideias estranhas, mas nada concreto e definitivo. Dessa forma, as fotografias interessantes iam me guiando, gerando tramas para o enredo e servindo de inspiração para alguns dos personagens principais. Já em Cidade dos etéreos, grande parte da história já estava em andamento, e as fotos acabaram assumindo um papel mais secundário. Em vez de escrever uma cena baseada em uma imagem, eu saía à procura da fotografia perfeita para uma cena que precisava entrar no livro.
Que interessante. Teve alguma situação em que você se deparou com várias fotos “perfeitas” para uma cena, mas teve que escolher uma “mais perfeita”?
Ao escrever uma cena e procurar uma fotografia que se encaixasse nela, um dos problemas mais comuns foi que em geral não havia foto perfeita. Eu imaginava uma, mas ela não existia — e se eu realmente a quisesse eu mesmo teria que criar um cenário de filme, o que seria extraordinariamente caro! Quase sempre eu encontrava uma foto que guardava algumas semelhanças com a foto perfeita — como se fosse uma casa na mesma vizinhança, mas algumas quadras para o lado, com a garagem de outra cor e as plantas do jardim dispostas do jeito errado —, e isso era o mais próximo da perfeição que eu conseguia chegar.
Aí, com a foto quase perfeita em mente, eu voltava ao texto e reescrevia a cena até estar de acordo com a foto que eu tinha encontrado, mudando alguns detalhes para corresponder à imagem. Por sorte, a cena final em geral acabava ficando mais interessante do que a primeira ideia, e tudo isso graças ao desafio que era encontrar a imagem certa.
Apesar disso, algumas vezes encontrei várias fotos que combinavam com uma mesma cena — pelo menos antes de eu reescrevê-la para combinar com uma fotografia em particular. Um bom exemplo é a imagem que ilustra o momento em que os zepelins dos acólitos sobrevoam a praia. Fotos de zepelins e balões de ar quente eram muito comuns no começo do século XX. Escolhi a foto que está no livro porque gostei muito dela, achei que a imagem transmitia uma sensação de ameaça, mas em vez disso poderia ter usado algo assim:
Teria sido desafiador justificar os termos em francês na imagem.
Outro bom exemplo é quando Addison descreve as indignidades que os animais peculiares tiveram que aturar ao longo dos anos e mostra uma foto de um cachorro puxando um garoto em um veículo.
Infelizmente, é bem fácil encontrar fotos com animais sendo humilhados por seres humanos. Cheguei a considerar usar esta foto doida de um bebê montado em uma águia, mas desisti. Ainda assim, fico feliz por ter a oportunidade de compartilhá-la aqui, já que é um bebê montado em uma águia.
Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao escrever Cidade dos etéreos?
O enredo. O fim de O orfanato da srta. Peregrine acabou ficando em aberto, e quase qualquer coisa poderia acontecer com aquelas crianças nos barquinhos. Eles estavam viajando para um mundo de fendas temporais e infinitas possibilidades. Como escritor, fico sempre tentado a explorar cada detalhe do mundo que estou criando — o que acaba nunca sendo possível (ou aconselhável). Como eu tinha infindáveis possibilidades, a parte mais difícil era justamente separar o joio do trigo, porque eu tinha a sensação de estar encerrando tramas que poderiam ser incríveis. Mas meu tempo era limitado, assim como o número de páginas e, consequentemente, o tanto de história que eu conseguiria enfiar em um só livro. Uma pena!
Você escreveu O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares quando ainda era relativamente desconhecido. O livro foi um sucesso tremendo, vendeu dois milhões de exemplares, foi publicado em dezenas de países e ainda por cima vai virar filme. Você acha que isso teve impacto no seu processo de escrita?
Gostaria de pensar que não. Eu devo ser meu maior crítico, então o que os outros falam não me incomoda muito. Imagino que seria diferente se, por exemplo, eu tivesse que ler o livro em voz alta para um público de dois milhões de pessoas. Isso seria muito apavorante. Mas eu continuo escrevendo como sempre, sozinho e em silêncio no meu escritório, onde posso ao menos fingir que, tirando minha esposa e minha mãe, ninguém vai ler o que estou criando.
Uma das melhores coisas em Cidade dos etéreos é que podemos conhecer melhor cada peculiar. Você tem algum preferido? Tem algum personagem que seja especialmente divertido de escrever?
Acho que cada personagem reflete um aspecto da minha personalidade, só que mais exagerado. Então, o quanto eu me divirto escrevendo cada personagem depende bastante do meu estado de espírito. Enoch reflete meu lado mal-humorado e insolente. Às vezes tenho tendência a fazer pequenos discursos sobre assuntos obscuros para pessoas que podem ou não estar interessadas, e canalizo essa mania quando escrevo sobre Millard. Emma é sempre uma maravilha de escrever, porque diz exatamente o que pensa — e volta e meia de um jeito enfático demais, o que pode ser bastante catártico. Eu gostaria de ser tão nobre e leal quando Bronwyn. Então depende. E também adoro quando surgem novos personagens, como aconteceu com Addison. Gosto de ir escrevendo e ver aonde a história os leva.
Fiquei muito surpreso quando Caul apareceu, no final de Cidade dos etéreos. Essa reviravolta foi planejada, ou isso também foi uma surpresa para você?
Queria poder dizer que já sabia que isso aconteceria, mas a ideia de fazer a ave que as crianças achavam que era a srta. Peregrine ser na verdade o irmão maligno dela só apareceu lá pela metade do livro. Quando me ocorreu, bati palmas e dei uma risadinha histérica tão alta que meu gato levou um susto e saiu correndo do quarto.
Qual é a sua fotografia preferida neste livro?
É difícil escolher uma preferida, mas tenho um carinho especial pela imagem da mulher fumando um cachimbo na cadeira de chifres.
Muitas das fotos de Cidade dos etéreos revelam cenários estranhos e fantásticos: uma casa em cima de uma pilha de dormentes de trem, um homem preso em uma rede de pesca... Você não ficou tentado a descobrir a “verdadeira” história delas?
Sim, eu geralmente tento saber mais sobre elas, mas é raro descobrir alguma informação substancial. E, pensando bem, isso é ótimo: eu gosto de ter a liberdade de criar histórias para as imagens e acho que, por mais curioso que eu seja, saber as “verdadeiras” histórias delas reduziria um pouco a diversão e a fantasia.
Claramente foram usados antigos truques de edição de imagem em algumas das fotos, especialmente na da jumirafa, e na do garoto invisível. Você sabe qual foi o processo de edição utilizado?
Não tenho a menor ideia do que foi usado no menino invisível. A única coisa que consigo pensar é em algum tipo de dupla exposição na parte inferior da imagem, onde deveriam estar os pés do garoto — combinaram uma foto em que ele estava sentado na cadeira com uma foto em que ele não estava, mas só na parte de baixo. Ou talvez ele realmente não tivesse pés! É como o princípio da navalha de Occam: às vezes a explicação mais simples é a mais provável. Quanto à jumirafa, imagino que seja resultado de uma criação bizarra da taxidermia, e não de manipulação fotográfica.
E, por último, mas não menos importante: sabemos que você já está dando os retoques finais no próximo volume da série e estamos doidos para descobrir o que vai acontecer. Pode nos dar uma dica do que vem a seguir?
O livro três começa bem onde acaba Cidade dos etéreos. Jacob, Emma e Addison seguem o rastro efêmero de seus amigos raptados até as Terras do Diabo, uma das fendas mais perigosas do mundo peculiar. Nela moram os piores dos piores entre os peculiares: criminosos, exilados e viciados. É também o coração corrompido da fenda, onde fica o covil dos acólitos. Com a ajuda de um misterioso personagem e sua engenhosa máquina capaz de produzir fendas temporais, nossos heróis peculiares finalmente conseguirão enfrentar os acólitos. Se o trio falhar, não é só a vida deles que estará em jogo, mas o futuro de todos os peculiares. Em outras palavras, os fãs podem esperar muita ação, uma atmosfera tensa e muitas outras fotos peculiares.
COMO ESTE MONSTRO AQUÁTICO...
... MULHERES MISTERIOSAS DIANTE DE PORTÕES DE CEMITÉRIOS...
... CAUBÓIS E GENTE ESTRANHA DE MÁSCARA...
... E ESTE MENINO, QUE ESTAVA ESPERANDO POR VOCÊ. ESPERANDO HÁ MUITO, MUITO TEMPO.
O monstro estava parado a menos de uma língua de distância, os olhos fixos no nosso pescoço, o cérebro enrugado repleto de fantasias de assassinato. Sua fome por nós carregava o ar. Os etéreos nascem ávidos por almas de peculiares, e lá estávamos nós, parados diante dele como um bufê: Addison, que dava para devorar em uma só mordida, estava junto aos meus pés exalando firmeza, o rabo em posição de atenção, enquanto Emma estava apoiada em mim, ainda atordoada demais pelo impacto para produzir mais que uma chama de fósforo. Nós dois apoiávamos as costas na cabine telefônica. Olhando em volta do nosso círculo sinistro, a estação de metrô parecia uma boate que sofreu um atentado a bomba. Fantasmagóricas nuvens de vapor saíam apitando de canos estourados. Monitores quebrados pendiam do teto com partes quebradas. Um mar de vidro estilhaçado se estendia até os trilhos, refletindo o estroboscópio histérico das luzes de emergência vermelhas como uma gigantesca bola de espelhos. Estávamos cercados: de um lado, uma parede; do outro, vidro até as canelas. E a dois passos de uma criatura cujo único instinto natural era nos desmembrar — mas que não fez nenhum movimento para se aproximar mais. Parecia presa ao chão, balançando no lugar como um bêbado ou um sonâmbulo, a cabeça assassina meio caída, as línguas formando um ninho de cobras que eu fizera adormecer com um feitiço.
Eu. Eu tinha feito isso. Jacob Portman, um garoto insignificante de Lugar Nenhum, Flórida. Ele não ia nos matar naquele momento, aquele horror feito de uma reunião de trevas e pesadelos extraídos de crianças adormecidas, porque eu lhe pedira. Mandei, em termos bem claros, tirar a língua do meu pescoço. Para trás, ordenei. Parado, falei, em uma língua feita de sons que eu não sabia que uma boca humana era capaz de emitir, e, milagrosamente, foi o que ele fez, os olhos me desafiando enquanto o corpo obedecia. De algum modo, eu havia domado o pesadelo, lançado um feitiço sobre ele. Mas criaturas adormecidas acordam e feitiços passam, principalmente os que são lançados por acidente. Eu sentia o etéreo fervilhar por baixo de sua superfície plácida.
Addison cutucou minha canela com o focinho.
— Mais acólitos virão. Será que o monstro vai nos deixar passar?
— Fale com ele outra vez — disse Emma, com a voz debilitada e distante. — Manda ele ir se ferrar.
Procurei as palavras, mas tinham se escondido.
— Não consigo.
— Você fez isso um minuto atrás — disse Addison. — Parecia um demônio falando por você.
Um minuto antes, quando eu nem sabia que conseguia fazer aquilo, as palavras estavam bem ali na ponta da minha língua, esperando para serem pronunciadas. Agora que eu as queria de volta, era como tentar pegar um peixe com as mãos: sempre que eu tocava em uma, ela escorregava entre meus dedos.
Vá embora!, gritei.
As palavras saíram no meu idioma mesmo. O etéreo nem se mexeu. Eu me empertiguei, olhei bem dentro dos olhos negros dele e tentei outra vez.
Saia daqui! Deixe a gente em paz!
Mais uma vez, nada. O etéreo inclinou a cabeça como um cachorro curioso, mas, fora isso, era uma estátua.
— Ele foi embora? — perguntou Addison.
Os outros não podiam saber, pois só eu conseguia vê-lo.
— Continua aqui — respondi. — Não sei qual é o problema.
Eu me sentia ridículo e desolado. Será que meu dom tinha desaparecido assim tão rápido?
— Não importa — disse Emma. — De qualquer forma, não dá para argumentar com etéreos.
Ela estendeu a mão e tentou acender uma chama, mas o esforço pareceu esgotá-la. Segurei-a pela cintura com ainda mais cuidado, para que ela não caísse.
— Poupe suas forças, menina de fósforo — disse Addison. — Tenho certeza de que vamos precisar de você.
— Vou lutar com as mãos frias se for necessário — disse Emma. — Só o que importa é encontrarmos os outros antes que seja tarde demais.
Os outros. Eu ainda podia vê-los, a lembrança de sua imagem desaparecendo junto dos trilhos: as roupas elegantes de Horace todas desarrumadas; a força de Bronwyn não sendo páreo para as armas dos acólitos; Enoch atordoado com o tiro; Hugh aproveitando o caos para tirar os sapatos pesados de Olive e deixar que flutuasse para longe dali; Olive pega pelo calcanhar e puxada para baixo antes que conseguisse escapar. Todos eles chorando de terror, chutados para dentro do trem sob a mira de armas, levados embora. Levados com a ymbryne que quase nos matamos para encontrar, e agora correndo pelas entranhas de Londres rumo a um destino bem pior que a morte. É tarde demais, pensei. Já era tarde demais no momento em que os soldados de Caul atacaram o esconderijo congelado da srta. Wren. Já era tarde demais também na noite em que confundimos o irmão maligno da srta. Peregrine com nossa amada ymbryne. Mas jurei para mim mesmo que encontraríamos nossos amigos e nossa ymbryne, não importava o quanto custasse, mesmo que houvesse apenas cadáveres para recolher, mesmo que com isso estivéssemos somando nossos corpos à pilha.
Bem, então: em algum lugar no escuro em que o vermelho piscava havia uma saída para a rua. Uma porta, uma escada, uma escada rolante ao longe, junto da parede mais distante. Mas como chegar até lá?
Saia da droga do nosso caminho!, gritei novamente para o etéreo, em uma última tentativa.
Nada, é claro. O etéreo bufou como uma vaca, mas não se mexeu. As palavras tinham se esvaído.
— Plano B — falei. — Ele não me escuta, então vamos dar a volta e torcer para que não se mexa.
— Dar a volta por onde? — perguntou Emma.
Para passarmos a uma boa distância dele, teríamos que atravessar pilhas de vidro, mas os cacos retalhariam as pernas nuas de Emma e as patas de Addison. Tentei pensar em alternativas: eu podia carregar Addison no colo, mas não teria como proteger Emma. Ou eu podia encontrar um pedaço de vidro comprido como uma espada e enfiar nos olhos da criatura — um recurso que já tinha dado certo uma vez —, mas, se não conseguisse matá-la de primeira, acabaria por despertar o monstro e seríamos mortos. O único outro meio era passar pelo pequeno espaço sem vidro, entre o etéreo e a parede. Mas era estreito: trinta, no máximo quarenta centímetros de largura; muito apertado, mesmo que colássemos as costas à parede. Se fôssemos por ali, corríamos o risco de nos aproximar demais do etéreo, ou pior, encostar nele sem querer, o que poderia romper o delicado transe que o mantinha imobilizado. Porém, como não podíamos criar asas e passar por ali voando, esta última parecia ser nossa única opção.
— Você consegue andar um pouco? — perguntei a Emma. — Mesmo que mancando?
Ela firmou os joelhos e se soltou um pouco de mim, testando se conseguia.
— Dá para ir mancando.
— Então vamos fazer assim: a gente passa de fininho por ele e segue encostado na parede até se enfiar por aquele espaço ali. Não é grande, mas se tomarmos cuidado...
Addison entendeu a ideia e se encolheu, voltando para dentro da cabine telefônica.
— Você acha mesmo que devíamos nos aproximar tanto assim dele?
— Provavelmente não.
— E se ele acordar enquanto...?
— Ele não vai acordar — falei, fingindo confiança. — Só não faça nenhum movimento brusco. E, não importa o que aconteça, não toque nele.
— Você agora vai ser nossos olhos — disse Addison. — Que a Ave nos proteja.
Escolhi um caco bem comprido no chão e o enfiei no bolso. Avançamos dois passos, inseguros, e alcançamos a parede, onde colamos as costas nas lajotas frias e começamos a seguir lentamente na direção do etéreo. Os olhos dele nos acompanhavam, fixos em mim. Depois de alguns aterrorizantes passos, andando de lado, fomos engolidos por um cheiro de etéreo tão repugnante que meus olhos lacrimejaram. Addison começou a tossir. Emma cobriu o nariz com a mão.
— Só mais um pouco — falei, a calma forçada fazendo minha voz sair esganiçada.
Peguei do bolso o caco de vidro, segurando-o com a ponta para a frente, e dei mais um passo, depois mais um. Agora estávamos tão perto que, se eu esticasse o braço, podia tocar o etéreo. Ouvi o coração dele batendo dentro das costelas, a pulsação se acelerando a cada passo que avançávamos. Ele estava lutando contra mim, tentando, com cada neurônio, libertar-se do controle de minhas mãos atrapalhadas. Não se mexa, pensei. Você é meu. Eu controlo você. Não se mexa.
Encolhi o peito, me estiquei todo e encostei cada vértebra na parede, e assim fui andando como um caranguejo pelo estreito espaço que havia entre a parede e o etéreo.
Não se mexa, não se mexa.
Deslizar o pé, mover o corpo, deslizar o pé. Eu prendia a respiração enquanto a do etéreo se acelerava, úmida e arquejante, expelindo uma névoa negra e sinistra pelas narinas. O ímpeto de nos devorar devia ser excruciante, assim como meu ímpeto de correr para longe dali. Mas ignorei esse impulso; fazer isso seria agir como uma presa, não como aquele que está no domínio do outro.
Não se mexa, não se mexa.
Mais alguns passos, pouco mais de um metro, e conseguiríamos. O ombro dele estava a um fio de cabelo do meu peito.
Não...
E ele se mexeu. Em um movimento rápido, girou a cabeça e se posicionou de frente para mim.
Meu corpo ficou rígido.
— Não se mexam — falei, dessa vez em voz alta, para os outros. Addison enfiou a cara entre as patas; Emma congelou e apertou meu braço como um torno. Eu me preparei para o que estava por vir: as línguas do monstro, seus dentes, o fim.
Afaste-se, afaste-se, afaste-se.
Nada, nada, nada.
Passaram-se segundos, durante os quais, surpreendentemente, não fomos mortos. Mas, pelos movimentos do peito, a criatura tinha se transformado em pedra outra vez.
Com cuidado, milímetro a milímetro, fui deslizando pela parede. O etéreo me acompanhou com sutis movimentos de cabeça, fixo em mim como uma agulha de bússola, seu corpo em perfeita sintonia com o meu. Mas ele não nos seguiu, não abriu as mandíbulas. Se o feitiço que eu lançara tivesse sido quebrado, já estaríamos mortos àquela altura.
O etéreo apenas me observava. Aguardando instruções que eu não sabia como dar.
— Alarme falso — falei.
Emma soltou um suspiro alto de alívio.
Passamos pelo vão, nos desgrudamos da parede e saímos correndo o mais rápido que Emma conseguia se movimentar mancando. Quando tínhamos aberto alguma distância entre nós e o etéreo, olhei para trás. Ele tinha virado completamente em minha direção.
Parado, murmurei. Muito bem.
***
Passamos por uma cortina de vapor e a escada rolante surgiu à nossa frente, parada como uma escada normal, já que não tinha energia. Em volta brilhava um halo suave de luz do dia, um emissário tentador do mundo acima. O mundo dos vivos, o mundo de agora. Um mundo onde eu tinha pais. Os dois estavam ali, em Londres, respirando aquele ar. Daria para ir andando até eles.
Opa, e aí, tudo bem?
Impensável. Ainda mais impensável: menos de cinco minutos antes, eu tinha contado tudo a meu pai. Quer dizer, a versão resumida: Eu sou como vovô Portman. Sou peculiar. Eles não entenderiam, mas pelo menos agora sabiam. Minha ausência pareceria menos uma traição. Eu ainda podia ouvir a voz de meu pai implorando que eu voltasse para casa, e, enquanto seguíamos mancando na direção da luz, tive que lutar contra a vontade repentina de largar o braço de Emma e correr para lá, fugir daquela escuridão sufocante, encontrar meus pais e implorar por perdão, depois entrar na cama do hotel caro deles e dormir.
Isso era o mais impensável de tudo. Eu jamais poderia voltar: eu amava Emma e tinha dito isso a ela. Não a deixaria para trás por nada. E não porque eu fosse nobre, corajoso ou cavalheiresco. Não sou nada disso. Eu tinha medo de ser partido ao meio se a deixasse para trás.
E os outros, os outros... Nossos pobres amigos, condenados. Precisávamos ir atrás deles, mas como? Não entrava um trem na estação desde o que os levara embora, e, após a explosão e os tiros que abalaram o lugar, eu tinha certeza de que não chegariam outros. Isso nos deixava com duas opções, ambas terríveis: ir atrás deles a pé através dos túneis e torcer para não encontrar mais nenhum etéreo, ou subir pela escada rolante e encarar o que quer que estivesse a nossa espera lá em cima — muito provavelmente, um grupo de busca de acólitos —, depois nos reagruparmos e reavaliarmos nossa situação.
Eu sabia qual opção preferia. Estava farto da escuridão, e ainda mais dos etéreos.
— Vamos subir — falei, conduzindo Emma na direção da escada rolante parada. — Vamos encontrar algum lugar seguro para planejar o que fazer. Enquanto isso, você recupera as forças.
— De jeito nenhum! — disse ela. — Não podemos simplesmente abandonar os outros. Não interessa como estou.
— Não vamos abandonar ninguém. Mas precisamos ser realistas. Estamos feridos e indefesos, e os outros devem estar a quilômetros de distância, já fora do metrô e a caminho de algum outro lugar. Como vamos conseguir encontrá-los?
— Do mesmo jeito que encontrei você — respondeu Addison. — Com meu focinho. Peculiares têm um aroma bastante único, sabe, que só cães de minha estirpe conseguem farejar. Você, por acaso, é de um grupo de peculiares com odor forte. O medo só aumenta o odor, eu acho, além da falta de banho...
— Então vamos atrás deles! — disse Emma.
Ela me puxou na direção dos trilhos com uma força surpreendente. Resisti, fazendo um cabo de guerra com nossos braços entrelaçados.
— Não, não... Os trens não estão mais circulando, não tem como. E se formos por ali a pé...
— Não me importa se é perigoso. Eu não vou deixá-los para trás.
— Não é só perigoso. É inútil. Eles já não estão por aqui. Emma.
Ela soltou o braço e saiu mancando na direção dos trilhos. Tropeçou, recuperou o equilíbrio. Diga alguma coisa, sussurrei para Addison, que deu a volta para bloquear o caminho de Emma.
— Infelizmente, ele tem razão. Se formos a pé, o rastro do cheiro de nossos amigos terá se dissipado muito antes que a gente consiga encontrá-los. Mesmo as minhas capacidades têm limites.
Emma contemplou o túnel, depois olhou para mim com uma expressão atormentada. Estendi a mão.
— Por favor, vamos embora. Não significa que estamos desistindo.
— Tudo bem — disse ela, com firmeza. — Tudo bem.
Mas quando começamos a caminhar na direção da escada rolante, alguém nos chamou do escuro, junto dos trilhos.
— Aqui!
A voz era fraca, mas familiar, com sotaque russo. Era o homem dobrável. No escuro, identifiquei suas formas amassadas junto aos trilhos, com o braço levantado. Ele tinha levado um tiro durante a confusão, e imaginei que os acólitos o houvessem enfiado no trem com os outros. Mas ali estava ele, acenando para nós.
— Sergei! — exclamou Emma.
— Você o conhece? — perguntou Addison, desconfiado.
— Era um dos peculiares refugiados da srta. Wren — falei, os ouvidos atentos ao som de sirenes distantes que ecoava lá embaixo, vindo da superfície.
Estava chegando problema, talvez problema disfarçado de ajuda, e temi que nossa melhor chance de sair dali sem transtornos estivesse escapando. No entanto, não podíamos simplesmente abandoná-lo.
Addison correu na direção do homem, desviando dos recifes mais profundos de vidro. Emma me deixou segurar seu braço outra vez, e seguimos com passos arrastados. Sergei estava caído de lado, coberto de vidro e sangrando. A bala o atingira em algum ponto vital. Seus óculos de armação de metal estavam rachados, e ele tentava arrumá-los, para me ver direito.
— É um milagre, é um milagre — disse ele com dificuldade, a voz fraca como chá feito com saquinho usado. — Ouvi você falando na língua do monstro. É um milagre.
— Não é — falei, me ajoelhando ao lado dele. — Acabou. Já perdi o dom.
— Se está no seu interior, é para sempre.
Passos e vozes ecoaram pelo vão da escada rolante. Afastei cacos de vidro para poder passar a mão por baixo do homem dobrável.
— Você vem com a gente — falei.
— Me deixem — resmungou ele. — Eu já vou morrer...
Ignorando-o, passei as mãos por baixo de seu corpo e o levantei. Ele era do tamanho de uma escada, mas leve como uma pena, e o segurei nos braços como quem pega um bebê grande, as pernas magricelas pendendo por sobre meu cotovelo enquanto a cabeça pendia do meu ombro.
Duas pessoas desceram ruidosamente os últimos degraus da escada rolante e pararam, envoltas pela luz pálida do dia e olhando atentamente para a escuridão recém-encontrada. Emma apontou para o chão, e nos ajoelhamos em silêncio, na esperança de que não nos vissem, de que fossem apenas civis que tivessem chegado para pegar o metrô, mas então ouvi o chiado de um walkie-talkie, e os dois acenderam lanternas. Os dois fachos de luz refletiram no colete de segurança que ambos usavam.
Eles podiam estar ali atendendo a um chamado de emergência, ou ser acólitos disfarçados como tal. Eu não tinha certeza até que, em sincronia, eles tiraram os óculos largos.
Claro.
Nossas opções tinham acabado de se reduzir à metade. Agora havia apenas os trilhos, os túneis. Feridos como estávamos, nunca seríamos mais rápidos que eles, mas fugir ainda era possível se eles não nos vissem, e eles ainda não tinham nos visto em meio ao caos da estação em ruínas. As lanternas duelavam pelo chão. Emma e eu recuamos na direção dos trilhos. Se pudéssemos apenas entrar nos túneis sem sermos vistos... Mas o maldito do Addison não se mexia.
— Vamos — sussurrei.
— Eles são motoristas de ambulância, e este homem precisa de ajuda — disse ele, alto demais. No mesmo instante, os fachos de luz saltaram do chão em nossa direção.
— Fiquem onde estão! — gritou um dos homens, sacando uma arma, enquanto o outro pegava o walkie-talkie.
Então duas coisas inesperadas aconteceram em rápida sucessão. A primeira foi que, quando eu estava prestes a soltar o homem dobrável nos trilhos e mergulhar atrás dele com Emma, um apito trovejante soou do interior do túnel e um único farol surgiu, uma luz muito intensa. A lufada de vento abafado vinha, é claro, de um trem, que, não sei como, corria nos trilhos mesmo depois da explosão. A segunda coisa, anunciada por uma pontada dolorosa no meu estômago, foi que o etéreo saiu do transe e agora vinha em nossa direção. Um instante depois de sentir isso, eu de fato o vi, correndo através de uma nuvem de vapor, os lábios negros escancarados, as línguas se agitando no ar.
Estávamos cercados. Se corrêssemos para a escada, seríamos baleados e destroçados. Se saltássemos para os trilhos, seríamos esmagados pelo trem. E não podíamos escapar embarcando no trem porque demoraria ainda pelo menos dez segundos para que ele parasse, e doze até que as portas se abrissem, e mais dez até que se fechassem outra vez, e a essa altura teríamos morrido três vezes. Por isso, fiz o que costumo fazer quando estou sem ideias: olhei para Emma. Li, no desespero em seu rosto, que ela entendia o desespero da nossa situação, e, na rigidez de seus maxilares cerrados, que ela estava disposta a agir mesmo assim. Só lembrei quando ela começou a cambalear adiante, as palmas das mãos estendidas para a frente, que ela não conseguia ver o etéreo, e tentei avisá-la, alcançá-la, impedi-la, mas não conseguia falar nada nem segurá-la sem largar o homem dobrável, e no instante seguinte Addison estava a seu lado, latindo para o acólito enquanto Emma tentava inutilmente produzir uma chama — fagulha, fagulha e nada, como um isqueiro sem gás.
O acólito começou a rir, puxou a arma e a apontou para ela. O etéreo correu na minha direção, uivando em contraponto ao rangido dos freios do trem às minhas costas. Foi quando eu soube que o fim tinha chegado e que não havia nada que eu pudesse fazer para impedir isso. Nesse momento, algo em meu interior relaxou, e, quando isso aconteceu, a dor que eu sentia com a proximidade de um etéreo também desapareceu. A dor era como um lamento agudo, e, quando ela abrandou, descobri outro som oculto por baixo, um murmúrio nos limites da consciência.
Uma palavra.
Eu mergulhei por ela. Agarrei-a com os dois braços. Juntei energias e a gritei com toda a força de um arremessador de beisebol profissional. Ele, falei, em uma língua que não era a minha. Foi apenas uma palavra, mas continha volumes de significado, e no momento em que ela ecoou da minha garganta, o resultado foi instantâneo. O etéreo parou de correr na minha direção, parou imediatamente, chegando a derrapar no piso, depois se virou bruscamente para um lado e arremessou uma língua, que se projetou até a outra extremidade da plataforma e envolveu três vezes a perna de um acólito. Desequilibrado, ele deu um tiro que ricocheteou no teto, depois foi virado de cabeça para baixo e erguido no ar, se debatendo e gritando.
Meus amigos demoraram um pouco para perceber o que tinha acontecido. Enquanto estavam ali parados, boquiabertos, e o outro acólito gritava alguma coisa no walkie-talkie, ouvi o som das portas do trem se abrindo atrás de mim.
Era a nossa hora.
— VAMOS! — gritei.
E eles foram. Emma correu mancando, com Addison emaranhando-se entre seus pés, e eu tentando enfiar o magro e alto homem dobrável, todo escorregadio por causa do sangue, através das portas estreitas. Por fim, caímos todos juntos dentro do vagão.
Mais tiros espocaram. O acólito disparava às cegas, tentando acertar o etéreo.
As portas começaram a se fechar, mas tornaram a abrir.
Favor liberar as portas, anunciou uma simpática voz de gravação.
— Os pés dele! — disse Emma, apontando para os sapatos na extremidade das pernas compridas do homem dobrável.
Apressei-me a chutar seus pés para soltá-los, e, nos segundos intermináveis até que as portas tornassem a se fechar, o acólito pendurado deu mais tiros a esmo até que o etéreo se cansou dele e o jogou contra a parede, onde ele deslizou para o chão em uma pilha inerte.
O outro acólito saiu correndo para a saída. Ele também, tentei dizer. Mas era tarde demais. As portas estavam se fechando, e, com um arranco estranho, o trem se pôs em movimento.
Olhei ao redor, aliviado por termos encontrado um carro vazio. O que as pessoas normais iam pensar de nós?
— Você está bem? — perguntei a Emma. Ela estava sentada, respirando com dificuldade, e me observava com muita atenção.
— Graças a você — disse ela. — Você realmente fez o etéreo fazer tudo aquilo?
— Acho que sim — respondi, embora nem eu mesmo conseguisse acreditar direito.
— Isso é incrível — disse ela, baixinho. Eu não sabia se ela estava assustada ou impressionada, ou os dois.
— Devemos a vida a você — disse Addison, esfregando a cabeça carinhosamente em meu braço. — Você é um garoto muito especial.
O homem dobrável riu, e baixei os olhos para vê-lo sorrir para mim através de uma máscara de dor.
— Viu? — disse ele. — Eu disse. É um milagre. — Então sua expressão ficou séria. Ele segurou minha mão e apertou um pequeno quadrado de papel em seu interior. Uma fotografia. — Minha esposa, meu filho — disse ele. — Levados por nosso inimigo, há muito tempo. Se encontrar outros, talvez...
Quando olhei para a foto, levei um susto. Era um retrato nove por sete de uma mulher com um bebê no colo. Sergei o levava consigo havia muito tempo, sem dúvida. Apesar de as pessoas na foto estarem bem alegres, a foto em si — ou o negativo — tinha sido seriamente danificada, talvez sobrevivido por pouco ao fogo, exposta a tal calor que os rostos estavam distorcidos e fragmentados. Sergei nunca mencionara a família antes; tudo sobre o que falara desde que tínhamos nos conhecido era levantar um exército de peculiares, ir de fenda em fenda para recrutar sobreviventes fisicamente capazes dos ataques e expurgos. Ele nunca nos contou para quê queria um exército: para resgatar a família.
— Vamos encontrá-los também — falei.
Nós dois sabíamos que era bem improvável, mas era o que ele precisava ouvir.
— Obrigado — disse Sergei, e relaxou em uma poça de sangue que só crescia.
Ransom Riggs
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















