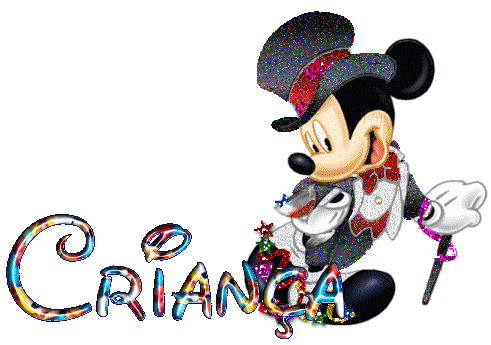Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




A Colmeia
Capítulo Primeiro
‑ Não perder a oportunidade, já estou farta de o dizer, é o mais importante.
Dona Rosa vai e vem por entre as mesas do café, tropeçando nos clientes com o seu formidável traseiro. Dona Rosa diz com frequência chiça e lixaram‑nos. Para Dona Rosa, o mundo é o seu café e tudo o mais em redor dele. Há quem diga que os olhos da Dona Rosa brilham quando chega a Primavera e quando as raparigas começam a andar de manga curta. Eu creio que tudo isto são mexericos: Dona Rosa nunca teria dado nada a entender. Nem com Primavera nem sem ela. À Dona Rosa agrada‑lhe, nem mais nem menos, arrastar as suas arrobas por entre as mesas. Quando está só, fuma bom tabaco e bebe ojén(1), bons copos de ojén, desde que se levanta até que se deita. Depois tosse e sorri. Quando está bem‑disposta, senta‑se na cozinha, num banco baixo, e lê novelas e folhetins, quanto mais sangrentos melhor: tudo alimenta. Então graceja com as pessoas e conta‑lhes o crime da calle de Bordadores ou o do expresso de Andaluzia.
‑ O pai de Navarrete, que era amigo do general Miguel Primo de Rivera, foi vê‑lo, pôs‑se de joelhos e disse‑lhe: «Meu general, por amor de Deus indulte o meu filho»; e Miguel Primo de Rivera, ainda que tivesse coração de oiro, respondeu‑lhe: «Não me é possível, amigo Navarrete; seu filho tem de expiar as suas culpas no garrote.»
*1. Aguardente preparada com anis e açúcar até à saturação (N. do T.)
«Que tipos! ‑ pensa. ‑ É preciso ter estômago!» Dona Rosa tem a cara cheia de manchas, parece que anda sempre a mudar a pele como um lagarto. Quando está pensativa, distrai‑se e puxa tiras da cara, por vezes algumas bem compridas. Depois volta à realidade e passeia para trás e para diante, sorrindo aos clientes, que no fundo odeia, mostrando os dentes enegrecidos e cheios de sujidade.
Leonardo Meléndez deve seis mil duros(1) ao Segundo Segura, o engraxador. O engraxador, que é um pobre diabo raquítico e entorpecido, esteve a juntar durante muitos anos, para depois lhe emprestar tudo. Leonardo é um oportunista que vive de expedientes e de planear negócios que nunca se concretizam. Não é que saiam mal, não; é que, simplesmente, não saem nem bem nem mal. Leonardo usa umas gravatas muito vistosas e põe fixador no cabelo, um fixador muito perfumado que cheira ao longe. Tem ares de grande senhor e também um grande aprumo, um aprumo de homem muito viajado. A mim não me parece que tenha viajado muito, mas a verdade é que os seus modos são de pessoa a quem nunca faltaram cinco duros na carteira. Trata os credores às patadas e eles sorriem‑lhe e olham‑no com apreço, pelo menos por fora. Não faltou quem pensasse já em metê‑lo em sarilhos, mas até agora ainda ninguém chegou a vias de facto. A Leonardo o que mais lhe agrada dizer são duas coisas: palavrinhas em francês, como por exemplo madame, rue e cravate, e também nós os Meléndez. Leonardo é um homem culto, um homem que indica saber muitas coisas. Joga sempre um par de partidas de damas e não bebe senão café com leite. Aos das mesas próximas que vê estarem a fumar tabaco claro, diz‑lhes muito delicadamente: «O senhor pode dar‑me uma mortalha? Queria enrolar um cigarro, mas estou sem papel.» Então o outro responde‑lhe: «Não, não tenho, mas se o senhor quiser um cigarro já feito... » Leonardo faz um gesto ambíguo e tarda uns segundos a responder: «Bem, então para variar fumemos tabaco claro. Creia que não sou grande apreciador dessas fibras.» Às vezes o do lado não lhe diz mais que isto: «Não, papel não tenho, lamento não lhe poder ser agradável», e então Leonardo fica sem fumar.
Com os cotovelos apoiados sobre o velho e encrostado mármore das mesas, os clientes vêem passar a proprietária, quase sem darem por ela, enquanto pensam, vagamente, nesse mundo que, ai!, não foi o que podia ter sido, nesse mundo onde tudo foi falhando pouco a pouco, sem que ninguém o explicasse...
*1. Moeda espanhola equivalente a 5 pesetas. (N. do T.)
...nem ao menos de um modo insignificante. Muitos mármores das mesas foram antes lápidas nas Sacramentales(1); nalguns, que ainda conservam as letras, um cego poderia ler, passando as pontas dos dedos por debaixo da mesa: Aqui jazem os restos mortais da Menina Esperanza Redondo, morta na flor da vida, ou R.I.P. o Ex.mo Sr. D. Ramiro López Puente, subsecretário do Fomento.
Os clientes dos cafés são pessoas que crêem que as coisas passam por si, e que não merece a pena dar remédio a nada. No de Dona Rosa, todos fumam e alguns meditam sobre as pobres, amáveis e íntimas coisas que lhes enchem a vida ou que lhes esvaziam a vida inteira. Há quem junte ao silêncio um gesto sonhador, de recordação imprecisa, e há também quem puxe pela memória com a cara absorta, e estampado nela o gesto da besta ruim, da amorosa, da suplicante besta cansada: a mão sustendo a fronte e o olhar cheio de amargura como um mar calmo.
Há tardes em que a conversação morre de mesa para mesa, uma conversação sobre o abastecimento, ou sobre aquela criança morta que ninguém já recorda, aquela criança morta que ‑ o senhor não se lembra? ‑ tinha o cabelo louro, era muito bonita e bastante magrita, vestia sempre um jersey creme e devia ter uns cinco anos. Nestas tardes, o coração do café lateja como o de um doente, descompassado, e o ar parece tornar‑se mais espesso, mais cinzento, ainda que de vez em quando passe, como um relâmpago, um alento morno que não se sabe donde vem, um alento cheio de esperança que abre, por uns segundos, um orifício em cada espírito.
A Jaime Arce, que apesar de tudo tem um ar importante, não fazem mais que protestar‑lhe letras. No café, parece que não, tudo se sabe. Jaime pediu crédito a um banco, concederam‑lho e ele aceitou umas letras. Depois aconteceu o que aconteceu. Meteu‑se num negócio onde o enganaram, ficou sem vintém, apresentaram‑lhe as letras e ele disse que não as podia pagar. Jaime Arce é, seguramente, um homem honrado e de pouca sorte, nisto de dinheiro. Muito trabalhador não é, isso é verdade, mas tão‑pouco teve sorte. Outros tão vadios ou ainda mais que ele, com um par de golpes afortunados, fizeram uns milhares de duros, pagaram as letras e agora andam por aí todo o dia de táxi e fumando bom tabaco. A Jaime não lhe aconteceu isto: aconteceu tudo ao contrário. Agora anda à procura de rumo, mas não o encontra. Ainda se tivesse começado a trabalhar na primeira coisa que lhe surgiu...
*1. Em Madrid, confraria que tem por fim o enterramento dos seus confrades em cemitério Próprio. (N. do T.)
...mas como não surgia nada que valesse a pena passava os dias no café, com a cabeça apoiada no encosto de pelúcia, olhando para os doirados do tecto. Às vezes cantava baixo um trecho de zarzuela, enquanto marcava o compasso com o pé. Jaime nunca pensava na sua desdita; na realidade acontecia que nunca pensava em nada. Olhava para os espelhos e dizia: «Quem terá inventado os espelhos?» Depois olhava para uma pessoa qualquer fixamente, quase com impertinência: «Aquela mulher terá filhos? Se calhar é uma velha pudibunda.» «Quantos tuberculosos estarão agora neste café?» Jaime Arce fazia um cigarro fininho, uma palhinha, e acendia‑o. «Há quem seja artista a afiar lápis, fazem‑lhe um bico que picaria mais que uma agulha e nunca mais o estragam.» Jaime muda de posição, tinha uma perna a ficar dormente. «Que misterioso que é isto! Tas, tas; tas, tas; e assim toda a vida, dia e noite, Inverno e Verão: o coração.»
A uma senhora silenciosa que costuma sentar‑se ao fundo, no caminho que conduz aos bilhares, morreu‑lhe o filho, ainda não há um mês. O jovem chamava‑se Paço e preparava‑se para entrar nos Correios. Ao princípio disseram que fora uma paralisia, mas depois viu‑se que não, tinha sido uma meningite. Durou pouco tempo, tendo ficado logo sem os sentidos. Conhecia já todas as povoações de Leão, Castela‑a‑Velha, Castela‑a‑Nova e parte de Valença: (Castellón de La Plana e, mais ou menos, metade de Alicante); foi uma grande pena ter morrido. Paço começou a andar mal desde uma molhadela que apanhou quando criança. A mãe ficou só, porque o outro filho, o mais velho, andava a correr mundo, não se sabia bem por onde. Pela tarde ia para o café da Dona Rosa, sentava‑se ao pé da escada e ali ficava durante as horas mortas, apanhando calor. Desde a morte do filho, Dona Rosa mostrava‑se muito carinhosa com ela. Há pessoas que gostam de ser atenciosas com quem está de luto. Aproveitam para dar conselhos, ou pedir que tenham resignação ou ânimo, e assim se sentem bem. Dona Rosa, para consolar a mãe de Paço, costuma dizer‑lhe que, para ter ficado tonto toda a vida, mais valeu Deus tê‑lo levado. A mãe olha‑a com um sorriso concordante e diz‑lhe que, bem vistas as coisas, tem razão.
A mãe de Paço chama‑se Isabel, Dona Isabel Montes, viúva de Sanz. É uma senhora ainda de boa aparência, que usa uma capa um pouco coçada. Tem ar de ser de boa família. No café respeitam‑lhe o silêncio e só de longe em longe alguma pessoa conhecida, geralmente uma mulher, de regresso dos lavabos, se apoia à sua mesa para lhe perguntar: «Então? Já vai estando mais conformada?»
Dona Isabel sorri e raramente responde; quando está um pouco mais animada, levanta a cabeça, olha para a amiga e diz: «Que bom aspecto que você tem, Fulaninha.» O mais frequente, sem dúvida, é que não diga nada: um gesto com a mão, ao despedir‑se, e nada mais. Dona Isabel sabe que é de outra classe, pelo menos de outra maneira de ser distinta.
Uma senorita de certa idade chama o empregado da tabacaria.
‑ Padilla!
‑ Diga, Dona Elvira!
‑ Traz‑me uma cigarrilha.
A mulher procura na sua bolsa, cheia de ternas e desonestas cartas antigas, e põe trinta e cinco cêntimos sobre a mesa.
‑ Obrigada.
‑ De nada.
Acende com o olhar perdido a cigarrilha, e deita uma grande baforada.
‑ Padilla!
‑ Diga, Dona Elvira!
‑ Entregaste‑lhe a carta?
‑ Sim, senhora.
‑ Que te disse?
‑ Nada, não estava em casa. A criada disse‑me que não me preocupasse, pois lha entregaria sem falta à hora do jantar.
Elvira cala‑se e continua a fumar. Sente‑se um pouco esquisita, sente calafrios e parece‑lhe que anda tudo à roda. Elvira leva uma vida de cão, uma vida que, bem visto, nem merecia a pena viver. Não faz nada, isso é certo, e por não fazer nada nem sequer come. Lê romances, vai ao café, fuma uma ou outra cigarrilha e fica à espera do primeiro que caia. O mal é que o que cai costuma ser de longe em longe, e quase sempre do pior e defeituoso.
A José Rodríguez de Madrid coube‑lhe um prémio no último sorteio. Os amigos dizem‑lhe:
‑ Houve sorte, hem?
José responde sempre o mesmo, parece que decorou:
- Ora! Oito miseráveis duros.
- Não, homem, não dê explicações, porque não vamos pedir‑lhe nada. José é escriturário num tribunal e consta que tem algumas economias.
Também dizem que casou com uma mulher rica, uma rapariga da Mancha, que morreu cedo deixando tudo a José, e que ele se apressou a vender as quatro vinhas e os dois olivais, porque assegurava que os ares do campo faziam mal às vias respiratórias, e que primeiro que tudo estava a sua saúde.
José, no café de Dona Rosa, pede sempre uma bebida; não é um presumido nem um pobretão desses de café com leite. A proprietária olha‑o quase com simpatia pelo gosto comum ao ojén. «O ojén é o melhor do mundo; é estomacal, diurético e reconstituinte; cria sangue e afasta o espectro da impotência.» José fala sempre com muita propriedade. Uma vez, há já um par de anos, pouco depois de terminada a Guerra Civil, teve uma altercação com o violinista. Quase todos asseguravam que a razão estava do lado do violinista, mas José chamou a proprietária e disse‑lhe: «Ou a senhora põe lá fora a pontapés este desrespeitador e desavergonhado, ou eu não volto a pisar este local.» Dona Rosa, então, pôs o violinista na rua e não voltou mais a saber‑se dele. Os clientes, que antes davam razão ao violinista, começaram a mudar de opinião e por fim já diziam que Dona Rosa tinha feito muito bem, que era necessário ter mão rija e castigar. «Com estes desplantes, quem sabe onde iríamos parar!» Os clientes, para dizer isto, adoptavam um ar sério, equânime, um pouco envergonhado. «Se não há disciplina, não há maneira de se conseguir algo de bom, que se aproveite», dizia‑se por entre as mesas.
Um homem já de certa idade conta aos gritos uma história passada, já quase há meio século, com Madame Pimentón.
‑ A grande imbecil pensava que me apanhava. Sim, sim... Era bonito! Convidei‑a a tomar uns copos e ao sair bateu com a cara na porta. Ah, ah! Sangrava como um bezerro. Dizia: «Oh, la, la; oh, la, la», e saiu cuspindo as tripas. Pobre desgraçada, andava sempre embriagada! Bem visto, até tinha graça!
Algumas caras, das mesas próximas, olham‑no quase com inveja. São as caras das pessoas que sorriem em paz, com beatitude, nesses instantes em que, quase sem darem por isso, chegam a não pensar em nada. As pessoas são embusteiras por estupidez e, por vezes, sorriem, ainda que no fundo da sua alma sintam uma repugnância imensa, uma repugnância que quase não podem conter. Por embustice pode‑se até chegar ao assassínio; certamente que já se cometeu algum crime para se ficar bem com alguém, para adular alguém.
‑ Deve tratar‑se assim todos estes maganos; nós, pessoas decentes, não podemos consentir que nos ponham os pés em cima. Bem dizia o meu pai! «Queres uvas? Então vem buscá‑las.» Ah, ah! A grande sabida não voltou a arribar por ali!
Por entre as mesas corre um gato gordo, reluzente; um gato cheio de saúde e de bem‑estar; um gato roliço e presunçoso. Mete‑se por entre os pés de uma senhora e ela sobressalta‑se:
‑ Gato do diabo! Sai daqui! : O homem da história sorri‑lhe com doçura:
‑ Mas, senhora, que mal lhe fazia o pobre gato?
Um jovem guedelhudo faz versos naquela barafunda. Está alheio, não dá conta de nada; é a única maneira de poder fazer versos bonitos. Se olhasse para os lados fugia‑lhe a inspiração. Isso da inspiração deve ser como uma borboleta cega e surda, mas muito luminosa; senão, não se explicariam muitas coisas.
O jovem poeta está a compor um enorme poema, que se chama Destino. Teve as suas dúvidas sobre se devia pôr O destino, mas por fim, e depois de consultar alguns poetas mais versados, pensou que não, que seria melhor intitulá‑lo simplesmente Destino. Era mais fácil, mais evocador, mais misterioso. Além disso, chamando‑se Destino, ficava mais sugestivo, mais... como diríamos?, mais impreciso, mais poético. Assim não se sabia se se queria aludir a «o destino», ou a «um destino», a «destino incerto», a «destino fatal» ou «destino feliz» ou «destino azul» ou «destino violado». O destino cingia‑se mais, deixava menos campo para que a imaginação divagasse à vontade, fora de todo o enredo.
O jovem poeta trabalhava já há vários meses no seu poema. Tinha trezentos e tal versos, uma maqueta cuidadosamente desenhada da futura edição e uma lista de possíveis subscritores, a quem, na altura, enviaria um boletim, para o caso de quererem inscrever‑se. Havia também escolhido o tipo de imprensa (um tipo simples, claro, clássico; um tipo para ler com sossego; queremos dizer um bodóni(1), e tinha já marcada a quantidade da tiragem. Todavia, ainda duas dúvidas atormentavam o jovem poeta: o pôr ou não pôr o Laus Deo a terminar o cólofon, e o redigir, ele próprio ou não, a nota biográfica para a badana da sobrecapa.
Dona Rosa não era, certamente, o que se pode chamar uma sensível. ‑ E o que lhe digo, já o sabe. Para vadios já me basta o meu cunhado. Boa rês! Você está ainda muito verde, percebe?, muito verde. Era o que faltava!
*1. Tipo de carácter tipográfico, desenhado pelo impressor italiano Giovanni Battista Bodom (1740‑1813).
Onde é que você viu um homem sem cultura e sem princípios andar por aí armado em valentão como um finório, como um senorito! Não devo ser eu que o veja, juro‑o! Dona Rosa suava pelo bigode e pela testa.
‑ E tu, palerma, trata de ir buscar o jornal. Aqui não há nem respeito nem decência, é o que é! Se algum dia me viro do avesso, dou‑vos água pela barba! Hão‑de ver!
Dona Rosa cravava os seus olhitos de rato em Pepe, o velho criado chegado há uns quarenta ou quarenta e cinco anos atrás, de Mondonedo. Por detrás das grossas lentes, os olhitos de Dona Rosa parecem os olhos atónitos de um pássaro dissecado.
‑ Que olhas? Que olhas? Parvo! Estás como quando chegaste! Não há Deus que lhes tire esse ar de velhaco! Anda, espevita e irá tudo bem, porque se fosses mais homem já te tinha posto com as patas na rua! Entendes‑me? Pois lixam‑se!
Dona Rosa apalpa o ventre e volta a tratá‑lo por você:
‑ Vamos, vamos... Cada qual ao seu trabalho. Já sabe, não perder nunca a oportunidade, que gaita! Nem o respeito, entende?, nem o respeito.
Dona Rosa levantou a cabeça e respirou profundamente. Os pelinhos do seu bigode estremeceram com um gesto retardador, com um gesto airoso, solene, como o dos negros cornichos de um grilo apaixonado e orgulhoso.
No ar paira como que um pesar que se vai cravando nos corações. O coração dói e pode sofrer o que se passa, hora após hora, até toda uma vida, sem que nunca ninguém saiba, apesar de toda a ciência.
Um senhor de barba branca dá bocadinhos de bolo, molhados em café com leite, a um menino amorenado que está sentado nos seus joelhos. O senhor chama‑se Trinidad Garcia Sobrino e é prestamista. O Sr. Trinidad teve uma primeira juventude turbulenta, cheia de complicações e de veleidades, mas quando o pai morreu disse para si próprio: «De agora em diante tens de ter cautela; senão, estás bem arranjado, Trinidad.» Dedicou‑se aos negócios, teve juízo e enriqueceu. O sonho de toda a sua vida era ter sido deputado; pensava que ser um dos quinhentos entre vinte e cinco milhões não era nada mau. O Sr. Trinidad andou a procurar agradar durante alguns anos a várias personagens da terceira fila do partido de Gil Robles, a ver se conseguia que o fizessem deputado; para ele o sítio era igual; não tinha nenhuma demarcação preferida. Gastou algumas massas em convites, deu dinheiro para a propaganda, ouviu bonitas palavras, mas por fim não apresentaram a sua candidatura por lado algum e nem sequer o levaram à tertúlia do chefe. O Sr. Trinidad passou momentos difíceis, de graves crises de ânimo, acabando finalmente por se tornar «lerrouxista». No partido radical parece que ia bem, mas nisto veio a guerra e com ela o fim da sua pouco brilhante e não muito prolongada carreira política. Agora o Sr. Trinidad vivia afastado da «coisa pública», como o dissera Alejandro naquele dia memorável, e conformava‑se com que o deixassem viver tranquilo, sem lhe recordarem os tempos passados, enquanto continuava a dedicar‑se ao lucrativo mister de empréstimo a juros. Pela tarde ia com o neto ao café da Dona Rosa, dava‑lhe o lanche e ficava calado, ouvindo a música ou lendo o jornal, sem se meter com ninguém.
Dona Rosa apoia‑se a uma mesa e sorri.
‑ Que me conta, Elvirita?
‑ Como a senhora vê, pouca coisa.
Elvira dá uma fumaça e meneia um pouco a cabeça. Tem as faces estragadas e as pálpebras vermelhas, como se fossem delicadas.
‑ Arranjou aquele?
‑ Qual?
‑ O de...
‑ Não, saiu mal. Andou comigo três dias e depois ofereceu‑me um frasco de fixador.
Elvira sorri. Dona Rosa semicerrou os olhos, cheia de pena.
‑ Ainda há gente sem consciência, filha!
‑ Ora! Que me importa!
Dona Rosa aproxima‑se e diz‑lhe ao ouvido:
‑ Porque não arranja as coisas com Pablo?
‑ Porque não quero. Uma pessoa também tem o seu orgulho, Dona Rosa.
‑ Lixam‑se! Todas temos as nossas coisas! Mas o que lhe digo, Elvirita, e já sabe que quero sempre o melhor para si, é que com Pablo ia bem, não tenha dúvida.
‑ Nem por isso. É um tipo muito exigente. E além disso um baboso. Acabei por me aborrecer, que quer! Até me dava repugnância.
Dona Rosa fala com voz meiga, a voz persuasiva dos conselhos: - Tem de ter mais paciência, Elvirita! Você ainda é muito criança!
- Julga isso?
Elvirita cospe para debaixo da mesa e limpa a boca com a ponta de uma luva.
Um tipógrafo enriquecido, chamado Vega, Mário de la Vega, fuma um charuto descomunal, um charuto que parece ser de anúncio. O da mesa ao lado trata de se mostrar simpático.
‑ Que rico charuto que o amigo está a fumar! Vega, sem o olhar, responde‑lhe com solenidade:
‑ Sim, não é mau, mas também me custou um duro.
O da mesa ao lado, homem raquítico e sorridente, teria gostado de dizer algo assim: «Isso, para si, que é?», mas não se atreveu; por sorte envergonhou‑se a tempo. Olhou para o tipógrafo, voltou a sorrir com humildade, e disse:
‑ Só um duro? Parece pelo menos de sete pesetas.
‑ Pois não: um duro e trinta cêntimos de gorjeta. Com este já fico satisfeito.
‑ Sem dúvida!
‑ Homem! Não creio que seja necessário ser um Romanones para fumar destes charutos.
‑ Um Romanones, não, mas veja o senhor, eu não o podia fumar, e como eu muitos dos que aqui estão.
‑ Você quer fumar um? ‑Eu...!
Vega sorriu, quase arrependendo‑se do que ia dizer.
‑ Então trabalhe como eu trabalho.
O tipógrafo soltou uma gargalhada descomunal, violenta. O homem raquítico e sorridente da mesa ao lado, deixou de sorrir. Corou, sentiu um calor a queimar‑lhe as orelhas e os olhos começaram a ficar avermelhados. Baixou o olhar para não se aperceber que todo o café o olhava; ele, pelo menos, assim o julgava.
Enquanto Pablo, um miserável que vê as coisas pelo pior, sorri contando o caso de Madame Pimentón, Elvira deixa cair a ponta da cigarrilha e pisa‑a. Elvira, de vez em quando, tem gestos de verdadeira princesa.
‑ Que mal lhe fazia a si o gatinho? Bichinho, bichinho, toma, toma...! Pablo olha para a senhora.
‑ Temos de ver como os gatos são inteligentes! Discorrem melhor que algumas pessoas. São uns animaizinhos que entendem tudo. Bichinho, bichinho, toma, toma...!
O gato afasta‑se sem voltar a cabeça e mete‑se na cozinha.
‑ Eu tenho um amigo, homem endinheirado e de grande influência, não vá pensar que é um pelintra, que tem um gato persa, o qual dá pelo nome de Sultão, e que é um prodígio.
‑ Sim?
‑ Assim o julgo! Diz‑lhe: «Vem cá, Sultão», e o gato vem movendo o seu bonito rabo, que parece um penacho. Diz‑lhe: «Vai, Sultão», e o Sultão vai como um cavalheiro muito digno. Tem um andar muito vistoso e um pêlo que parece seda. Não creio que haja muitos gatos como esse; esse, entre os gatos, é algo como o duque de Alba entre as pessoas. O meu amigo quer‑lhe como a um filho. Claro, também é verdade que é um gato que cativa.
Pablo vagueia o olhar pelo café. Há um momento em que dá com Elvira. Pestaneja e volta a cabeça.
‑ E como são afectivos, os gatos! Já reparou como são afectivos? Quando são acarinhados por uma pessoa já não se esquecem dela por toda a vida.
Pablo pigarreia um pouco e fala com voz grave, importante:
‑ Exemplo que deviam seguir muitos seres humanos!
‑ Tem razão.
Pablo respira profundamente. Está satisfeito. A verdade é que isso de «exemplo que deviam seguir», etc, tinha‑lhe saído a primor.
Pepe, o criado, regressa ao seu lugar sem dizer palavra. Ao chegar aos seus domínios, apoia uma das mãos nas costas de uma cadeira e vê‑se nos espelhos como se visse algo de muito raro. Vê‑se de frente, no que está mais próximo; de costas, no do fundo; de perfil, nos das esquinas.
‑ O que esta velha bruxa precisava era que um dia a abrissem de alto a baixo. Porca! Velha sabida!
Pepe é um homem a quem as coisas passam depressa; basta‑lhe dizer, em voz baixa, uma frase que não se atreveria a dizer em voz alta.
‑ Usureira! Mesquinha! Até comes o pão dos pobres!
Pepe gosta muito de dizer frases trabalhadas nos momentos de mau humor. Depois vai‑se distraindo pouco a pouco e acaba por esquecer tudo.
Dois miúdos de quatro ou cinco anos brincam aos comboios, aborrecidos, sem nenhum entusiasmo, por entre as mesas. Quando vão até ao fundo da sala, um faz de máquina e o outro de vagão. Quando regressam até à porta, trocam. Ninguém lhes liga importância, mas eles seguem impassíveis, enfastiados, brincando para trás e para diante com uma convicção tremenda. São dois miúdos ordenados, coerentes, dois miúdos que brincam aos comboios, ainda que se aborreçam como ostras, porque resolveram divertir‑se e, para divertir‑se, resolveram, aconteça o que acontecer, brincar toda a tarde aos comboios. Se eles não conseguirem, que culpa têm? Fazem todo o possível.
Pepe olha‑os e diz‑lhes:
‑ Vocês ainda caem...
Embora já esteja quase há meio século em Castela, Pepe fala o castelhano traduzindo directamente do galego. Os miúdos respondem‑lhe «não senhor», e continuam a brincar sem fé, sem esperança, até mesmo sem caridade, como quem cumpre um doloroso dever.
Dona Rosa mete‑se na cozinha.
‑ Gabriel, quantas onças deitaste?
‑ Duas, minha senhora.
‑ Vês? Estás a ver! Assim não há quem aguente! Não te expliquei bem claro que não deitasses mais que onça e meia? Com vocês não vale a pena falar em espanhol, porque nunca lhes apetece entendê‑lo.
Dona Rosa respira e volta à carga. Respira como uma máquina, arquejante, precipitada: todo o corpo em sobressalto e um silvo a roncar‑lhe no peito.
‑ E se a Pablo lhe parece que está muito claro, que vá com a mulher dele aonde lhes sirvam melhor! Esta é boa! Só visto! Esse desgraçado pernalta não sabe é que, graças a Deus, o que aqui sobram são os clientes. Entendes? Se não lhe agrada que se ponha a andar; ainda ganhamos. Nem que fossem reis! A mulher dele é uma víbora de quem já estou farta. Muito farta é o que eu estou de Dona Pura!
Gabriel previne‑a, como de costume.
‑ Olhe que a ouvem, minha senhora!
‑ Que oiçam, é para isso que eu falo! Eu não tenho papas na língua! Só não sei é como esse mastronço se atreveu a correr com a Elvirita, que é um anjo e que não pensava senão em agradar‑lhe, e aguenta como um cordeiro a enredadora da Dona Pura, que é uma intriguista sempre a morder pela calada! Enfim, ver para crer, como dizia a minha mãe que Deus tem.
Gabriel trata de compor as coisas.
‑ Quer que tire um pouco?
‑ Tu bem sabes o que deve fazer um homem honrado. Quando queres, sabes muito bem o que te convém!
Padilla, o empregado da tabacaria, fala com um novo cliente que lhe comprou um pacote inteiro de tabaco.
‑ E está sempre assim?
‑ Sempre, mas não é má pessoa. Tem um pouco de génio, mas não é má.
‑ Mas àquele criado chamou‑lhe parvo!
‑ Ora, isso que importa! Às vezes também nos chama maricas e vermelhos.
‑ E vocês ficam assim tão tranquilos?
‑ Sim, senhor, ficamos tranquilos. O novo cliente encolhe os ombros.
‑ Bom, bom...
O empregado vai dar outra volta pela sala. O cliente fica pensativo.
‑ Eu não sei quem será mais miserável, se essa foca suja e enlutada ou esta súcia de lorpas. Se a agarrassem um dia e lhe dessem, entre todos, uma boa sova, com certeza que entrava na ordem. Mas, quê!, não se atrevem. Por dentro estarão todo o dia a jurar‑lhe pela pele, mas por fora é o que se vê! «Parvo, sai daqui! Ladrão, desgraçado!» E eles, encantados. «Sim, senhor, ficamos tranquilos.» E é verdade! Diabo de gente, assim até dá gosto!
O cliente continua a fumar. Chama‑se Maurício Segovia e está empregado na Companhia dos Telefones. Digo isto tudo porque, se calhar, ainda volta a aparecer. Tem uns trinta e oito ou quarenta anos, cabelo ruivo e a cara cheia de sardas. Vive longe, para os lados de Atocha; veio a este bairro por casualidade; veio atrás de uma rapariga que, de repente, antes que Maurício se decidisse a dizer‑lhe algo, dobrou uma esquina e entrou na primeira porta.
Segundo, o engraxador, vai gritando:
‑ Senhor Suárez! Senhor Suárez!
O Sr. Suárez, que também não é um habitual, levanta‑se donde está e vai ao telefone. Coxeia de cima, não do pé. Veste um fato moderno de cor clara, e usa lunetas. Aparenta ter uns cinquenta anos e parece ser dentista ou cabeleireiro. Olhando bem, parece também um viajante de produtos químicos. O Sr. Suárez tem todo o ar de ser um homem muito atarefado, desses que dizem ao mesmo tempo: «Um café»; ao engraxador: «Rapaz, arranja‑me um táxi.» Estes senhores tão ocupados, quando vão ao barbeiro fazem a barba, cortam o cabelo, arranjam as unhas, engraxam os sapatos e lêem o jornal. Às vezes, quando se despedem de um amigo, advertem‑lhe: «Das tantas às tantas estarei no café; depois dou um salto ao escritório, e ao fim da tarde passarei por casa do meu cunhado; os números dos telefones vêm na lista; agora vou porque ainda tenho uma série de pequenos assuntos a resolver.» Nota‑se logo que estes homens são os triunfadores, os escolhidos, os acostumados a mandar.
Ao telefone, o Sr. Suárez fala em voz baixa, esganiçada, um tanto afectada. O casaco está‑lhe um pouco curto e as calças estão‑lhe justas, como as de um toureiro.
‑ És tu?
‑ Sim... sim... Bem, como queiras.
‑ Entendido. Bem; não te preocupes que não faltarei.
‑ Adeus, querida.
‑ Ah, ah! Lá estás tu com as tuas coisas! Adeus, amor; agora deixo‑te.
O Sr. Suárez volta à sua mesa. Vai a sorrir e leva agora a coxeadura um pouco mais trémula, a estremecer; uma coxeadura quase cachonda, uma coxeadura coqueta, estabanada. Paga o café, pede um táxi e, quando ele chega, levanta‑se e sai. Olha com a cabeça bem erguida, como um gladiador romano; conhece‑se que vai transbordante de alegria, radiante de gozo.
Há alguém que o segue com a vista até ele desaparecer tragado pela porta giratória. Sem dúvida alguma que há pessoas que chamam mais a atenção que outras. Conhecem‑se bem, como se tivessem um sinal na testa.
A proprietária dá meia volta e encaminha‑se para o balcão. A cafeteira niquelada não cessa de deitar cafés, enquanto a registadora de respeitável antiguidade soa constantemente.
Alguns criados de caras flácidas, tristonhas, amarelentas, esperam, metidos nos seus já estafados smokings, com a bandeja apoiada sobre o mármore, que o encarregado das distribuições lhes dê os pedidos e as chapas doiradas e prateadas dos mesmos.
O encarregado desliga o telefone e reparte o que lhe foi pedido.
‑ Com que então a falar outra vez ao telefone, como se não houvesse nada mais que fazer?
‑ Estava a pedir mais leite, minha senhora.
‑ Sim, mais leite! Quanto trouxeram esta manhã?
‑ O costume, minha senhora: sessenta.
‑ E não foi o suficiente?
‑ Não, parece‑me que não vai chegar.
‑ Caramba, nem que estivéssemos na Maternidade! Quanto pediste?
‑ Mais vinte.
‑ E não sobrará?
‑ Não creio.
‑ Não creio? Lixam‑nos! E se sobra, diz‑me?
‑ Não, não sobrará. Julgo eu!
‑ Sim, «julgo eu», como sempre «julgo eu», isso é muito fácil. Mas se sobra?
‑ Verá que não há‑de sobrar. Veja como está a sala.
‑ Sim, claro, como está a sala, como está a sala. Isso diz‑se muito bem. Verias onde iam todos se eu não fosse honrada e servisse bem! São umas ricas prendas!
Os criados, olhando para o chão, procuram passar despercebidos.
‑ E vocês vejam se se mexem. Há muitos cafés nessas bandejas! Será que esta gente não sabe que temos rochas, biscoitos e tortas? Não, já sei! São vocês que não dizem nada! O que queríeis é que eu me visse na miséria. Mas enganam‑se! Já sei com quem tenho de me haver! Estão lindos! Anda, vamos a mexer essas pernas e a pedir a qualquer santo que não me suba a mostarda ao nariz.
Os criados, como quem ouve chover, afastam‑se do balcão com os pedidos. Nem um só olha para Dona Rosa. Tão‑pouco pensam na Dona Rosa.
Um dos homens, com os cotovelos sobre a mesa, a testa apoiada na mão ‑ olhar triste e amargurado, e expressão preocupada e surpreendida ‑, fala com o criado. Trata de sorrir com doçura, parece um miúdo abandonado que pede água numa casa do caminho.
O criado faz gestos com a cabeça e chama o moço do café.
Luis, o moço, aproxima‑se da proprietária.
‑‑ Minha senhora, o Pepe diz que aquele senhor não quer pagar.
‑ Que se arranje como puder para lhe sacar a massa; isso é com ele; se não conseguir, diz‑lhe que paga do seu bolso e pronto.
A proprietária ajusta os óculos e observa.
‑ Qual é?
‑ Aquele dali, o que tem óculos de arame.
‑ Que tipo, sim senhor. Isto, sim, é que tem graça! Com essa cara! Ouve, e por que carga de água não quer pagar?
‑ Pois... Diz que veio sem dinheiro.
‑ Claro, só faltava este teimoso! O que sobra neste país são tratantes. O moço, sem olhar Dona Rosa nos olhos, fala num fio de voz:
‑ Diz que virá pagar quando tiver dinheiro.
As palavras, ao saírem da garganta da Dona Rosa, soam como um trovão:
‑ Isso é o que dizem todos, e depois, para um que volta há cem que nunca mais aparecem e se te vi não me lembro. Nem falar! Ingratos que pagam o bem com o mal! Diz ao Pepe que já sabe: para a rua com suavidade, e, no passeio, duas patadas bem dadas onde calhe. Lixam‑nos!
O moço já se afastava quando Dona Rosa voltou a falar‑lhe:
‑ Escuta! Diz ao Pepe que fixe a cara dele!
‑ Sim, minha senhora.
Dona Rosa ficou a ver a cena. Luis chega até Pepe e fala‑lhe ao ouvido:
‑ Isto foi tudo o que ela disse. Por mim, sabe Deus!
Pepe aproxima‑se do cliente e este levantou‑se lentamente. É um homenzinho enfezado, pálido, adoentado, com uns pobres óculos de arame. Veste uma americana coçada e calças desfiadas. Cobre‑se com um impermeável cinzento‑escuro, com o cinto cheio de gordura, e leva debaixo do braço um livro forrado com jornal.
‑ Se deseja, deixo‑lhe o livro.
‑ Não. Ande, vamos para a rua, não me aborreça.
O homem vai até à porta, seguido de Pepe. Saem os dois. Faz frio e as pessoas passam ligeiras. Os ardinas apregoam os jornais da tarde. Pela Calle de Fuencarral desce um eléctrico tristemente, tragicamente, quase lugubremente barulhento.
O homem não é um qualquer, um de tantos, não é um homem vulgar, um ser corrente e maçador; tem uma tatuagem no braço esquerdo e uma cicatriz na virilha. Estudou e traduz alguma coisa de francês. Seguiu com atenção o vaivém do movimento intelectual e literário, e alguns episódios do El Sol que poderia repetir quase de memória. Em novo teve uma noiva suíça e compôs poesias altruístas.
O engraxador fala com Leonardo. Leonardo está a dizer‑lhe:
‑ Nós os Meléndez, idoso ramo aparentado com as mais antigas famílias castelhanas, fomos outrora senhores de vidas e propriedades. Hoje, como vê, estamos quase no meio da rua!
Segundo Segura sente admiração por Leonardo. Que Leonardo lhe tenha roubado as suas economias é, pelo visto, algo que o enche de pasmo e de lealdade.
Hoje Leonardo está loquaz com ele, e ele aproveita‑se disso e anda em seu redor como um cão fraldisqueiro. Há dias, sem dúvida, em que tem pior sorte e Leonardo trata‑o às patadas. Nesses desditosos dias, o engraxador aproxima‑se muito submisso e fala‑lhe humildemente.
‑ O senhor manda!
Leonardo nem lhe responde. O engraxador não se preocupa e volta a insistir:
‑ Que dia de frio!
‑ Sim.
Então o engraxador sorri. É feliz e, por ser correspondido, teria dado outros seis mil duros.
‑ Quer que dê um pouco de brilho?
O engraxador ajoelha‑se, e Leonardo, quase sem o olhar, põe o pé, com displicência, na palmeta de ferro da caixa.
Mas hoje, não. Hoje Leonardo está contente. Certamente está a redondear o anteprojecto para a criação de uma importante Sociedade Anónima.
‑ Já lá vai o tempo, oh, mon Dieu!, em que qualquer de nós ia à Bolsa e, aí, ninguém comprava ou vendia sem ver o que nós fazíamos.
‑ Bons tempos! Hem?
Leonardo faz um gesto ambíguo com a boca, enquanto gesticula com a mão.
‑ Tem uma mortalha? ‑ diz ao da mesa do lado. ‑ Queria fumar e neste momento estou sem papel.
O engraxador cala‑se e dissimula; sabe que é esse o seu dever.
Dona Rosa aproxima‑se da mesa de Elvirita, que estivera a ver toda a cena do criado e do homem que não pagou o café.
‑ Viu isto, Elvirita?
Elvira tarda uns instantes a responder.
‑ Pobre rapaz! Se calhar não comeu em todo o dia, Dona Rosa.
‑ Também você me sai romântica? Estamos servidos! Juro‑lhe que em ternura não há quem me ganhe, mas, com estes abusos!
Elvirita não sabe o que responder. A pobre é uma sentimental que foi para a vida fácil para não morrer de fome, pelo menos, tão depressa. Nunca soube fazer nada, e além disso tão‑pouco é bonita ou de modos finos. Em sua casa, desde pequena, não viu mais que desprezo e calamidades. Elvirita era de Burgos, filha de um indivíduo perigoso, que se chamava Fidel Hernández. Fidel Hernández, que matou Eudosia, sua mulher, com uma forma de sapateiro, foi condenado à morte e garrotado por Gregorio Mayoral no ano de 1909. Ele dizia: «Se a mato com sulfato na sopa, nem Deus se dá conta.» Elvirita, quando ficou órfã, tinha onze ou doze anos e foi para Villalón viver com uma avó que era quem tratava de Santo António na paróquia. A pobre velha vivia mal e quando garrotearam o filho começou a definhar‑se e em pouco tempo morreu. As outras raparigas do povoado metiam‑se com a Elvirita e apontando‑lhe a picota diziam‑lhe: «Foi numa como esta que penduraram o teu pai, asquerosa!» Elvirita, um dia em que já não podia aguentar mais, saiu do povoado com um asturiano que tinha vindo vender amêndoas. Andou com ele dois largos anos, mas como ele lhe dava umas sovas tremendas que a desancavam, um dia, em Orense, mandou‑o à fava e meteu‑se no prostíbulo de la Pelona, na Calle do Villar, onde conheceu uma filha da Marraca, a lenhadora da pradaria de Francelos, em Ribadavia, que teve doze filhas todas rameiras. Desde então, para Elvirita, tudo foi muito fácil, digamos assim.
A pobre estava um pouco amargurada, mas não muito. Além disso, era de boas intenções e, ainda que tímida, um tanto orgulhosa.
Jaime Arce, aborrecido de estar sem fazer nada, olhando para o tecto e pensando em tolices, levanta a cabeça do espaldar e explica à senhora silenciosa do filho morto, a senhora que passava a vida debaixo da escada de caracol que dá para os bilhares:
‑ Patranhas... Má organização... E também erros, não nego. Creia que não há mais. Os bancos funcionam defeituosamente, e os notários, com as suas oficiosidades, com as suas precipitações, deitam os pés de fora antes de tempo e organizam tamanha barafunda que depois não há quem se entenda.
Jaime faz um mundano gesto de resignação.
‑ Depois vem o que vem: os protestos, os sarilhos e a monda.
Jaime Arce fala devagar, com parcimónia, até com certa solenidade. Cuida do gesto e preocupa‑se em deixar sair as palavras lentamente, como para ir vendo, medindo e pesando o efeito que fazem. A senhora do filho morto, em troca, é como uma tonta que nada diz; escuta e abre os olhos de uma maneira estranha, de uma maneira que mais parece para não dormir do que para prestar atenção.
‑ E isso é tudo, minha senhora; o resto, sabe o que lhe digo?, o resto são tretas.
Jaime Arce é um homem que fala muito bem, ainda que diga, no meio de uma frase bem construída, palavras pouco finas.
A senhora olha‑o e nada diz. Limita‑se a mover a cabeça para a frente e para trás, num gesto que não significa coisa alguma.
‑ E agora, já a senhora vê! Se a minha pobre mãe levantasse a cabeça!
A senhora, a viúva de Sanz, Dona Isabel Montes, quando Jaime disse «Sabe o que lhe digo?», começou a pensar no seu defunto, no tempo em que o conheceu, com vinte e três anos, ataviado, elegante, muito direito, com o bigode engomado. Uma nuvem de felicidade perpassou, um pouco confusamente, pela sua cabeça e Dona Isabel sorriu, de uma maneira muito discreta, durante meio segundo. Depois lembrou‑se do pobre Paquito, da cara de bobo com que ficou com a meningite, e entristeceu de repente, acentuadamente.
Jaime Arce, quando abriu os olhos que havia semicerrado para dar maior força à frase «Se a minha pobre mãe levantasse a cabeça!», olhou para Dona Isabel e disse‑lhe, obsequioso:
‑ Sente‑se mal, minha senhora? Está um pouco pálida.
‑ Não, não é nada, muito obrigado. Coisas que passam pela cabeça de uma pessoa!
Pablo, como que sem querer, olha sempre um pouco de esguelha para Elvira. Ainda que tudo tenha terminado, ele não pode esquecer o tempo que passaram juntos. Ela, bem visto, era boa, dócil, condescendente. Por fora, Pablo fingia desprezá‑la e chamava‑lhe miserável e meretriz, mas por dentro a coisa era diferente. Pablo, quando em voz baixa se punha meigo, pensava: «Não são coisas do sexo, não; são coisas do coração.» Depois esquecia‑se e tê‑la‑ia deixado morrer de fome e de lepra com toda a tranquilidade; Pablo era assim.
‑ Escuta, Luis, que se passa com esse jovem?
‑ Nada, Pablo, não lhe apetecia pagar o café que tinha bebido.
‑ Deviam ter‑mo dito, parecia bom rapaz.
‑ Não se fie; há muitos vadios, muitos, sem escrúpulos. Dona Pura, a mulher de Pablo, disse:
‑ Lá isso é verdade. Se pudéssemos distinguir! O que toda a gente devia fazer era trabalhar como Deus manda, não acha, Luis?
‑ Tem razão, minha senhora.
‑ Assim, não havia dúvidas. O que trabalha que tome o seu café e até um bolo se lhe apetecer; mas o que não trabalha... pois vejam! O que não trabalha não é digno de compaixão; os outros não vivem do ar.
Dona Pura está muito satisfeita com o seu discurso; realmente saiu‑lhe muito bem. Pablo volta outra vez a cabeça para a senhora que se assustou com o gato.
‑ Com estes tipos que não pagam o café há que andar com olho neles, com muito olho. Uma pessoa nunca sabe com quem tropeça. Esse que acabam de pôr na rua, tanto pode ser um génio, o que se chama um verdadeiro génio como Cervantes ou como Isaac Peral, como um patife disfarçado. Eu ter‑lhe‑ia pago o café. Para mim que diferença me faz um café a mais ou a menos?
‑ Claro.
Pablo sorriu como quem, de repente, acha que tem toda a razão.
‑ Mas isso não encontra a senhora entre os irracionais. Os seres irracionais são mais garbosos e não enganam nunca. Um gatito nobre como esse, eh! eh!, que tanto medo lhe meteu, é uma criatura de Deus, que o que quer é brincar, nada mais que brincar.
Pablo tem um sorriso de beatitude. Se se pudesse abrir‑lhe o peito, encontrar‑se‑ia um coração negro e peganhento como o pez.
Pepe volta a entrar passados uns momentos. A proprietária, que tem as mãos nos bolsos do avental, os ombros deitados para trás e as pernas separadas, chama‑o com uma voz seca, pouco sonora; uma voz que parece o timbre de uma campainha partida.
‑ Vem cá.
Pepe quase não se atreve a olhá‑la.
‑ Que deseja?
‑ Arreaste‑lhe?
‑ Sim, senhora.
‑ Quantas?
‑ Duas.
A proprietária fecha os olhitos por detrás das lentes, tira as mãos dos bolsos e passa‑as pela cara, donde despontam os pêlos da barba, mal tapados com pó‑de‑arroz.
‑ Onde lhas deste?
‑ Onde pude; nas pernas.
‑ Bem feito. É para aprender! Assim, para a outra vez não quererá roubar dinheiro a gente honrada!
Dona Rosa, com as suas gordas mãos apoiadas no ventre inchado como um odre de azeite, é mesmo a imagem da vingança do anafado contra o esfomeado. Patifes! Cães! Dos seus dedos gordos como morcelas reflectem‑se grandiosos, quase luxuriosos, os clarões das lâmpadas.
Pepe, com olhar humilde, afasta‑se da proprietária. No fundo, e ainda que não saiba demasiado, tem a consciência tranquila.
José Rodríguez de Madrid está a conversar com dois amigos que jogam às damas.
‑ Já podem ver, oito duros, oito miseráveis duros. E depois a gente não pára de falar.
Um dos jogadores sorri‑lhe.
‑ Menos dá uma pedra, senhor José!
‑ Psché! Pouco menos. Que é que se pode fazer com oito duros?
‑ Sim, realmente, com oito duros pouco se pode fazer; isso é verdade; mas enfim! eu digo, para casa tudo, menos um enxovalho.
‑ Sim, isso também é verdade; apesar de tudo ganhei‑os de uma maneira muito cómoda...
Ao violinista que puseram na rua por responder ao Sr. José, oito duros chegavam‑lhe para outros tantos dias. Comia pouco e mal, é certo, e não fumava senão emprestado, mas conseguia esticar os oito duros por uma semana inteira; certamente, devia haver outros que se defendiam com menos.
E Elvira chama o empregado:
‑ Padilla!
‑ Aí vou, senorita Elvira!
‑ Dá‑me duas cigarrilhas; pago‑tas amanhã.
Padilla tirou as duas cigarrilhas e colocou‑as na mesa onde estava Elvira.
‑ Sabes?, uma é para logo, para depois do jantar.
‑ Já sabe que aqui há crédito.
O empregado sorriu com um gesto de galantaria. Elvira sorriu também.
‑ Escuta, não te importas de dar um recado a Macario?
‑ Dou.
‑ Diz‑lhe se faz o favor de tocar Luisa Fernanda.
O empregado afastou‑se arrastando os pés, a caminho do estrado dos músicos. Um senhor que já estava há um bocado a olhar com insistência para Elvirita, decidiu‑se por fim a romper o gelo.
‑ Não acha que as zarzuelas são realmente bonitas?
Elvira concordou com uma careta. O senhor não desanimou; interpretou aquele trejeito como um gesto de simpatia.
‑ E muito sentimentais, não é verdade?
Elvira semicerrou os olhos. O senhor tomou novas forças.
‑ Gosta de teatro?
‑ Sim, é bom...
O senhor riu como que festejando uma ocorrência muito engraçada. Pigarreou um pouco, ofereceu lume a Elvira, e continuou:
‑ Claro, claro. E o cinema? Também lhe agrada o cinema?
‑ Às vezes...
O senhor fez um tremendo esforço, um esforço que o fez corar até às orelhas.
‑ E esses cinemas escuros, hem?, que tal? Elvira mostrou‑se digna e suspicaz.
‑ Eu quando vou ao cinema é para ver o filme. O senhor reagiu.
‑ Claro, naturalmente, eu também... Eu referia‑me aos jovens, claro, aos parzinhos, todos já fomos jovens!... Escute, minha senhora, observei que é fumadora; para mim, isto de as mulheres fumarem parece‑me bem, mesmo muito bem; que tem de mau? O melhor é que cada qual trate de si, não lhe parece? Digo isto porque, se me permite (eu agora tenho de me ir embora, estou com muita pressa, encontrar‑nos‑emos outro dia para continuarmos a conversar), se a senhora mo permite, eu teria muito gosto em... vamos, em oferecer‑lhe uma caixa de cigarrilhas.
O senhor fala precipitadamente, com sobressaltos. Elvira respondeu‑lhe com certo desprezo, com um gesto de quem tem a faca e o queijo na mão.
‑ Bem, porque não? Se tanto insiste!
O senhor chamou o empregado e comprou uma caixa, que entregou com o seu melhor sorriso a Elvira; vestiu o sobretudo, apanhou o chapéu e saiu. Mas antes, disse a Elvira:
‑ Bem, senorita, tive muito gosto. Leoncio Maestre para a servir. Como lhe disse, ver‑nos‑emos outro dia. Talvez já sejamos bons amigos.
A proprietária chama o encarregado. O encarregado chama‑se López, Consorcio López, e é natural de Termelloso, na província de Ciudad Real, uma povoação grande, bonita e muito rica. López é um homem ainda jovem, atraente, até mesmo asseado, tem as mãos grandes e a testa estreita. É um pouco mandrião e os maus humores de Dona Rosa não o incomodam. «A esta fulana ‑ costuma dizer ‑ o melhor é deixá‑la falar; ela pára por si.» Consorcio López é um filósofo prático; a verdade é que a sua filosofia dá bom resultado. Uma vez, em Termelloso, pouco antes de vir para Madrid, dez ou doze anos atrás, o irmão de uma noiva que teve e com a qual não quis casar depois de lhe ter feito dois gémeos, disse‑lhe: «Ou te casas com a Marujita ou eu corto‑tos onde quer que estejas.» Consorcio, como não queria casar‑se nem tão‑pouco ficar castrado, apanhou o comboio e veio para Madrid; a coisa deve ter caído a pouco e pouco no esquecimento porque a verdade é que não voltaram a meter‑se com ele. Consorcio levava sempre na carteira duas fotografias dos gémeos; uma, ainda de meses, nus em cima de um almofadão, e outra de quando fizeram a primeira comunhão, que lhe havia mandado a sua antiga noiva, Marujita Ranero, então já casada com Gu‑tiérrez. Dona Rosa, como dissemos, chamou o encarregado.
‑ López!
‑ Vou já, minha senhora.
‑ Como estamos de vermute?
‑ Por agora, bem.
‑ E de anis?
‑ Assim, assim. Já temos falta de alguns.
‑ Pois então que bebam de outro! Agora não estou para meter‑me em despesas, não me apetece. Nada de exigências! Escuta, compraste isso?
‑ O açúcar?
‑ Sim.
‑ Sim; trazem‑no amanhã.
‑ A catorze e cinquenta, não?
‑ Sim; queriam a quinze, mas ficámos que, por junto, baixariam dois reales(1).
‑ Bem, já sabes: para o bolso e nem Deus o repete. Entendido?
‑ Sim, minha senhora.
O jovenzinho dos versos está com o lápis entre os lábios, olhando para o tecto. É um poeta que faz versos «com ideia». Esta tarde, ideia já a tem. Faltam‑lhe só as rimas. No papel já tem apontadas algumas. Agora procura algo que rime bem com rio e que não seja tio nem tronío; albedrio, já está na calha. Estio, também.
‑ Guarda‑me um caparazão estúpido, um artifício de homem vulgar. A menina de olhos azuis... Quereria, sem dúvida, ser forte, fortíssimo. De olhos azuis e belos... Ou a obra mata o homem ou o homem mata a obra. A dos cabelos ruivos...
*1. Um real equivale a 1/4 de peseta, ou seja 25 cêntimos. [N. do T.)
Morrer! Morrer, sempre! E deixar um breve livro de poemas. Que bela, que bela está...! O jovem poeta está branco, muito branco, e tem dois rosetões nos pómulos, dois rosetões pequenos.
‑ A menina de olhos azuis... Rio, rio, rio. De olhos azuis e belos... Tronío, tio, tronío, tio. A dos cabelos ruivos... Albedrio. Recuperar depressa o seu alvedrio. A menina de olhos azuis... Estremecer de gozo o seu alvedrio. De olhos azuis e belos... Derramando de um golpe o seu alvedrio. A menina de olhos azuis... E agora já tenho, intacto, o meu alvedrio. A menina de olhos azuis... Ou voltando a cara ao manso Estio. A menina de olhos azuis... A menina de olhos... Como tem a menina os olhos...? Colhendo as messes do Estio. A menina... Tem olhos a menina...? Lara, lará, lará, lará, la, Estio... De repente, o jovenzinho nota que o café se desvanece.
‑ Beijando o universo no Estio. É bonito...
Cambaleia um pouco, como um menino agoniado, e sente um calor intenso subir até às fontes.
‑ Estou um pouco... Talvez a minha mãe... Sim; Estio. Estio... Um homem voa sobre uma mulher despida...! Que tio...! Não, tio, não... E então eu dir‑lhe‑ei: nunca!... O mundo, o mundo... Sim, bonito, muito bonito...
Numa mesa ao fundo, duas pensionistas, pintadas como bonecas, falam dos
músicos.
‑ É um verdadeiro artista; para mim é um prazer escutá‑lo. Já me dizia o meu defunto Ramón, que Deus tem: «Repara, Matilde, só na maneira que tem de levar o violino à cara.» O que é a vida: se esse rapaz tivesse padrinhos iria muito
longe.
Dona Matilde põe os olhos em alvo. É gorda, suja e pretensiosa. Cheira mal e tem uma barriga tremenda, toda cheia de água.
‑ É um verdadeiro artista, um artistão.
‑ Sim, é verdade: eu estou todo o dia a pensar nesta hora. Também creio que é um verdadeiro artista. Quando toca, como só ele sabe, a valsa de A Viúva Alegre, até me sinto outra mulher.
Dona Asunción tem um condescendente ar de ovelha.
‑ Não acha que aquela era outra música? Mais fina, mais sentimental. Dona Matilde tem um filho imitador de estrelas, que vive em Valença.
Dona Asunción tem duas filhas: uma casada com um subalterno do Ministério das Obras Públicas, chamado Miguel Contreras e que é um pouco bêbado, e outra, solteira, que saiu de casa e vive em Bilbau com um catedrático.
O prestamista limpa com um lenço a boca da criança.Tem os olhos brilhantes e simpáticos e, ainda que não esteja muito asseado, aparenta certa superioridade. A criança tomou um copo grande de café com leite e dois bolos, ficando bem aconchegada.
Trinidad Garcia Sobrino não pensa nem se move. É um homem pacífico, um homem de ordem, um homem que quer viver em paz. O seu neto parece um ciganito magro e barrigudo. Tem um gorro pontiagudo e umas polainas iguais; é uma criança que vai muito bem amparada.
‑ Aconteceu‑lhe alguma coisa? Sente‑se mal?
O jovem poeta não responde. Tem os olhos abertos e pasmados e parece ter ficado mudo. Sobre a testa cai‑lhe uma madeixa do cabelo.
‑ Está doente?
Algumas cabeças voltaram‑se. O poeta sorria com um ar estúpido, pesado.
‑ Por favor, ajude‑me a recliná‑lo. Vê‑se que adoeceu de repente.
Os pés do poeta escorregaram e o seu corpo foi parar debaixo da mesa.
‑ Ajudem‑me; eu não posso com ele.
As pessoas levantaram‑se. Dona Rosa observava do balcão.
‑ Também é vontade de alvoroçar...
O rapaz deu um golpe na testa ao rolar para debaixo da mesa.
‑ Vamos levá‑lo para os lavabos, deve ser um enjoo.
Enquanto Trinidad e três ou quatro clientes deixaram o poeta na retrete, para que se recompusesse um pouco, o neto entre teve‑se a comer as migalhas dos bolos, que tinham ficado sobre a mesa.
‑ O cheiro do desinfectante reanimá‑lo‑á; deve ser um enjoo.
O poeta, sentado na retrete e com a cabeça apoiada na parede, sorri com um ar beatífico. No fundo, e sem dar por isso, era feliz. Trinidad regressou à sua mesa.
‑ Já lhe passou?
‑ Sim, não era nada, um enjoo.
Elvira devolveu as duas cigarrilhas ao empregado.
‑ E esta é para ti.
‑ Obrigado. Teve sorte, hem?
‑ Psché! Menos dá uma pedra...
Padilla, um dia, chamou cabrito a um galanteador de Elvira e Elvira incomodou‑se. Desde então, o empregado é mais respeitoso.
Leoncio Maestre por um pouco não é morto por um eléctrico.
‑ Burro!
‑ Burro será o senhor, desgraçado! Vai a pensar em quê? Leoncio Maestre ia a pensar na Elvirita.
‑ É bonita, sim, muito bonita. Assim o creio! E parece uma rapariga fina... Não, vagabunda não é. Qualquer vê! Cada vida é um romance. Parece uma rapariga de boas famílias que se tivesse zangado em casa. Agora estará a trabalhar nalgum escritório, certamente num sindicato. Tem as feições tristes e delicadas; provavelmente o que necessita é de carinho e que a amimalhem muito, que estejam todo o dia contemplando‑a.
A Leoncio Maestre saltava‑lhe o coração debaixo da camisa.
‑ Amanhã volto. Sim, sem dúvida. Se estiver, bom sinal. E se não... Se não estiver...! Vou procurá‑la!
Leoncio Maestre levantou a gola do sobretudo para cima e deu dois saltinhos.
‑ Elvira, senorita Elvira. É um bonito nome. Creio que lhe agradou a caixa de cigarrilhas. Cada vez que fume uma lembrar‑se‑á de mim... Amanhã repetir‑lhe‑ei o nome. Leoncio, Leoncio, Leoncio. Ela, se calhar, dar‑me‑á um nome mais carinhoso, algo que venha de Leoncio. Leo. Oncio. Oncete... Vou tomar uma imperial porque me apetece.
Leoncio Maestre entrou num bar e tomou uma imperial ao balcão. Ao seu lado, sentada num banco alto, sorria‑lhe uma rapariga. Leoncio voltou‑lhe as costas. Aguentar aquele sorriso parecia‑lhe uma traição; a primeira traição que fazia à Elvirita.
‑ Não, Elvirita não. Elvira. É um nome simples, um nome muito bonito. A rapariga do tamborete falou‑lhe por cima do ombro.
‑ Dá‑me lume, seu sisudo?
Leoncio deu‑lhe lume, quase tremendo. Pagou a imperial e saiu para a rua apressadamente.
‑ Elvira... Elvira...
Dona Rosa, antes de se afastar do encarregado, pergunta‑lhe:
‑ Deste café aos músicos?
‑ Não.
‑ Pois então dá‑o já; parece que estão desmaiados. Que ricos preguiçosos! Os músicos, sobre o estrado, arrastam os últimos compassos de uma parte de
Luisa Fernanda, aquela tão bonita que começa, dizendo:
Nos azinheirais da minha Estremadura, tenho uma casita tranquila e segura.
Antes tinham tocado Momento Musical e, antes ainda, La del manojo de rosas, na parte de «madrilena bonita, flor de verbena». Dona Rosa aproximou‑se.
‑ Mandei que lhes dessem o café, Macario.
‑ Obrigado, Dona Rosa.
‑ Não tem de quê. Já sabe, o dito vale para sempre; eu não tenho mais que uma palavra.
‑ Já sei, Dona Rosa.
‑ Então pronto.
Seoane, o violinista, que tem os olhos grandes e saídos e tristes como os de um boi, olha‑a enquanto enrola um cigarro. Franze a boca, quase com desprezo, e tem o pulso trémulo.
‑ E a si, Seoane, também lho vão dar.
‑ Está bem.
‑ Ora toma, você não é nada seco! Macario intervém para deitar água na fervura.
‑ Ele anda aflito do estômago, Dona Rosa.
‑ Mas não é caso para estar tão insípido! Caramba mais à educação desta gente! Quando uma pessoa lhes chama a atenção, soltam uma patada, e quando têm de estar satisfeitos porque se lhes faz um favor, respondem «está bem», como se fossem marqueses. Só visto!
Seoane cala‑se, enquanto o seu companheiro acalma Dona Rosa. Depois pergunta ao senhor da mesa contígua:
‑ E o moço?
‑ Está a recompor‑se nos lavabos, não era nada.
Vega, o tipógrafo, estende a tabaqueira ao impostor da mesa do lado.
‑ Vá, enrole um cigarro e não diga que vai daqui. Eu já estive pior que você e sabe o que fiz?, pus‑me a trabalhar.
O do lado sorri como um aluno ante o professor: com a consciência turva, sem perceber.
‑ Já é ter mérito!
‑ Claro, homem, claro, trabalhar e não pensar em mais nada. E agora já vê, nunca me falta nem o meu charuto nem o meu copo todas as tardes.
O outro faz um gesto com a cabeça, um gesto que não significa nada.
‑ E se eu lhe disser que quero trabalhar e não tenho em quê?
‑ Ora vamos! Para trabalhar, a única coisa que faz falta é ter vontade. Você tem de facto vontade de trabalhar?
‑ Claro que tenho.
‑ Então porque não vai para a estação carregar malas?
‑ Não podia; ao fim de três dias estava rebentado... Eu sou bacharel...
‑ E isso para que lhe serve?
‑ Na verdade, para pouco.
‑ O que se passa consigo, meu amigo, é o que se passa com muitos. Estão muito bem num café, familiarizam‑se, e não tentam nada. Por fim caem um dia desmaiados, como esse menino bonito que acabaram de levar para dentro.
O bacharel devolve‑lhe a tabaqueira e não o contraria.
‑ Obrigado.
‑ Não tem de quê. Você é de facto licenciado?
‑ Sim, senhor, da alínea três.
‑ Bom, então vou dar‑lhe uma oportunidade para não acabar num asilo ou numa bicha nos quartéis. Quer trabalhar?
‑ Sim, senhor, já lho disse!
‑ Vá ver‑me amanhã. Tome um cartão. Vá de manhã, antes do meio‑dia, aí pelas onze e meia. Se quiser e souber, fica comigo como revisor; esta manhã tive que pôr o outro na rua, porque era um mandrião. Um sem escrúpulos.
Elvira olha de esguelha para Pablo. Pablo explica a um franganote que está na mesa ao lado:
‑ O bicarbonato é bom, não faz mal algum. O que acontece é que os médicos não o podem receitar, porque para tomar isto ninguém vai ao médico.
O jovem concorda, mas sem fazer muito caso, e olha para os joelhos de Elvira, que se vêem um pouco por debaixo da mesa.
Dona Pura, a mulher de Pablo, fala com uma amiga corpulenta, que limpa os dentes de oiro com um palito.
‑ Eu já estou cansada de o repetir. Enquanto houver homens e houver mulheres, haverá sempre sarilhos; o homem é fogo e a mulher estopa, e assim acontecem as coisas! Não sei onde vamos parar!
A senhora corpulenta parte distraidamente o palito entre os dedos.
‑ Sim, a mim também me parece que há pouca decência. E isso vem das piscinas; não tenha dúvidas, dantes não éramos assim... Agora apresentam‑lhe uma jovem qualquer, estende‑lhe a mão e já uma pessoa fica apreendida para todo o dia.
‑ É verdade.
‑ E os cinemas também têm muita culpa. Isso de estar toda a gente tão misturada e às escuras não pode trazer nada de bom.
‑ Isso é o que eu penso, Dona Maria. Deve haver mais moral; senão estamos perdidas.
Dona Rosa volta à mesma conversa.
‑ E além disso, se lhe dói o estômago, porque não me pede um pouco de bicarbonato? Quando é que lhe neguei um pouco de bicarbonato? Qualquer um diria que não pode falar!
Dona Rosa volta‑se e domina com a sua voz barulhenta e desagradável todas as conversas do café.
‑ López! López! Manda bicarbonato para o violinista!
O moço larga as canecas sobre uma mesa e traz um prato com um copo meio de água, uma colherzinha e o açucareiro de alpaca onde está o bicarbonato.
‑ Já acabaram com esse serviço de bandejas?
‑ Foi assim que o senhor López mo deu, minha senhora.
‑ Vá, vá; coloca isso aí e põe‑te a andar.
O moço coloca tudo sobre o piano e afasta‑se. Seoane enche a colher de pó, inclina a cabeça para trás, abre a boca e... para dentro. Mastiga‑o como se fossem nozes e depois bebe um golinho de água.
‑ Obrigado, Dona Rosa.
‑ Está a ver, homem, está a ver como custa tão pouco ser delicado? A si dói‑lhe o estômago, eu mando trazer‑lhe bicarbonato e pronto, todos amigos. Nós estamos cá para nos ajudarmos uns aos outros; acontece que se não podemos é porque não queremos. É a vida.
Os miúdos que brincavam aos comboios pararam de repente. Um senhor está a dizer‑lhes que devem ter mais educação e mais compostura, e eles, sem saberem o que fazer com as mãos, olham‑no com curiosidade. Um, o mais velho, que se chama Bernabé, está a pensar num seu vizinho, pouco mais ou menos da sua idade, que se chama Chús. O outro, o mais pequeno, que se chama Paquito, está a pensar que o senhor cheira mal da boca.
‑ Parece que cheira a borracha podre.
Ao Bernabé dá‑lhe vontade de rir pensar naquilo tão engraçado que aconteceu com o Chús e com a tia.
‑ Chús, és um porco, não mudas de calções até que não tenham porcaria; não tens vergonha?
Bernabé contém o riso; o senhor tinha ficado furioso.
‑ Não, tia, não tenho vergonha; o papá também só os deixa com porcaria. Era para morrer a rir!
Paquito esteve a matutar um bocado.
‑ Não, a este senhor não lhe cheira a boca a borracha podre. Cheira a lombarda e a chulé. Se eu fosse a este senhor punha no nariz uma vela derretida. Então falaria como a minha prima Emilita ‑ gua, gua ‑, que tem de ser operada à garganta. A mamã diz que quando a operarem à garganta ficará sem aquela cara de tonta e que já não dormirá mais com a boca aberta. Se calhar, quando for operada, morre. Então colocá‑la‑ão num caixão branco, porque ainda não tem mamas nem usa saltos.
As duas pensionistas, recostadas num sofá, olham para Dona Pura.
‑ Eu não sei como há mulheres assim; essa é tal e qual um sapo. Passa o dia a falar da vida dele a toda a gente e não se apercebe que se o marido a suporta é porque ainda lhe restam alguns duros. Esse tal Pablo é um sujeito com quem se deve ter cuidado. Quando olha para uma, parece que a despe.
‑ Pois, pois.
‑ E aquela ordinária, a Elvira, também tem os seus quês. Porque não é a mesma coisa que a sua filha, a Paquita, que apesar de tudo vive decentemente, ainda que sem ter os papéis em ordem. Esta, anda por aí a rodar como um pião e a sacar cobres a um qualquer para comer alguma coisa.
‑ Além disso, Dona Matilde, não compare esse pelado do Pablo com o noivo da minha filha, que é um catedrático de Psicologia, Lógica e Ética, enfim, é um cavalheiro.
‑ Naturalmente que não. O noivo da Paquita respeita‑a e fá‑la feliz, e ela, que tem uma boa figura e é simpática, faz‑se agradar, que para isso lá está. Mas estas prostitutas nem têm consciência nem sabem outra coisa que não seja abrir a boca para pedir algo. Haviam de ter vergonha.
Dona Rosa continua a conversar com os músicos. Gorda, o seu corpo inchado estremece de satisfação ao discursar; parece um governador civil.
‑ Você tem uma aflição? Então conte‑ma e eu, se posso, ajudo‑o. Se trabalha bem e está aí foçando como Deus manda, então eu, quando chega a altura de fechar, pago‑lhe e pronto. Sem dúvida que o melhor é levar as coisas a bem. Porque pensa que estou eu sempre às turras com o meu cunhado? Porque é um vadio que anda por aí as vinte e quatro horas do dia e ainda vem a casa para comer as miseráveis sopas. A minha irmã, que é uma tonta, ainda o aguenta, ela foi sempre assim. Ai se desse comigo! Fazia‑lhe umas festas naquela cara bonita e que fosse aquecer‑se todo o dia com os mandriões. Se o meu cunhado trabalhasse como eu trabalho, e trouxesse alguma coisa para casa, a conversa seria outra; mas ele prefere andar por aí sem tentar nada.
‑ Claro, claro.
‑ Pois é assim. O figurão é um parasita malcriado que nasceu para chulo. E não creia que só falo pelas costas, porque ainda no outro dia lhe atirei com isto às ventas.
‑ Fez a senhora muito bem.
‑ Se fiz. Por quem nos toma esse esfomeado?
‑ Esse relógio está certo, Padilla?
‑ Está sim, senorita Elvira.
‑ Dás‑me lume? Ainda é cedo. O empregado deu‑lhe lume.
‑ A senorita hoje está contente.
‑ Achas?
‑ Bem, a mim parece‑me. Acho‑a mais animada que nas outras tardes.
‑ Ora! Às vezes por más coisas põe‑se boa cara.
Elvira tem um ar débil, doentio, quase vicioso. A pobre não come o bastante para não ser nem viciosa nem virtuosa.
A do filho morto que estava a preparar‑se para os Correios diz:
‑ Bem, vou‑me embora.
Jaime Arce, reverenciosamente, levanta‑se e sorrindo diz‑lhe:
‑ A seus pés, minha senhora; até amanhã se Deus quiser. A senhora afasta uma cadeira.
‑ Passe bem, adeus.
‑ O mesmo digo eu, minha senhora.
Dona Isabel Montes, viúva de Sanz, anda como uma rainha. Com a sua capa coçada de quero‑e‑não‑posso, Dona Isabel parece uma decaída cortesã, que viveu como as cigarras e não guardou nada para a velhice. Atravessa a sala em silêncio e some‑se pela porta. As pessoas seguem‑na com um olhar onde pode haver de tudo menos indiferença; pode haver admiração, ou inveja, ou simpatia, ou desconfiança, ou carinho, vamos lá saber.
Jaime Arce já não pensa nem nos espelhos, nem nas velhas pudibundas, nem nos tuberculosos que o café albergará (uns dez por cento aproximadamente), nem nos amoladores, nem na circulação do sangue.
Ao cair da tarde, Jaime Arce é invadido por uma sonolência que o entontece.
‑ Quantos são sete vezes quatro? Vinte e oito. E seis vezes nove? Cinquenta e quatro. E nove ao quadrado? Oitenta e um. Onde nasce o Ebro? Em Reinosa, província de Santander. Bem.
Jaime Arce sorri; está satisfeito com a sua recapitulação, e enquanto desfaz umas beatas repete em voz baixa:
‑ Ataúlfo, Sigerico, Walia, Teodoredo, Turismundo... Aposto que isto não sabe esse imbecil?
Esse imbecil é o jovem poeta que sai, branco como a cal, da sua cura de repouso na retrete.
‑ Desalinhavar, em águas, o Estio...
Enlutada, ninguém sabe porquê, desde quase criança, há já muitos anos, suja e cheia de brilhantes que valem um dinheirão, Dona Rosa engorda e engorda um pouco todos os anos, quase tão depressa como amontoa o dinheiro.
A mulher é riquíssima; a casa onde está o café é sua, e nas calles de Apodaca, de Churruca, de Campoamor, e de Fuencarral, dúzias de inquilinos tremem como rapazes da escola, todos os princípios dos meses.
‑ Quando uma pessoa confia ‑ costuma dizer ‑, começam a abusar. São todos uns vadios, uns verdadeiros vadios. Se não houvesse juízes honrados, não sei o que seria de nós!
Dona Rosa tem umas ideias muito suas sobre a honradez.
‑ As contas bem dadas, filhinho, contas bem dadas, que são uma coisa muito séria.
Jamais perdoou um real a alguém e jamais permitiu que lhe pagassem a prestações.
‑ Para que servem as ordens de despejo? ‑ dizia. ‑ Para que não se cumpra a lei? O que eu digo é que se há uma lei, é para que todos a respeitem; e eu a primeira. O contrário é uma revolução.
Dona Rosa é accionista de um banco onde traz com a cabeça em água todo o Conselho, e, segundo dizem pelo bairro, guarda baús inteiros de oiro, tão bem escondidos que não se encontraram nem durante a Guerra Civil.
O engraxador acabou de limpar os sapatos ao Sr. Leonardo.
‑ Já estão.
O Leonardo olha para os sapatos e dá‑lhe um cigarro de noventa.
‑ Muito obrigado.
Leonardo não paga o serviço, nunca o faz. Deixa limpar os sapatos a troco de um gesto. O Sr. Leonardo é bastante ruim para levantar ondas de admiração entre os imbecis.
O engraxador, cada vez que dá lustro aos sapatos do Sr. Leonardo lembra‑se dos seus seis mil duros. No fundo está encantado de ter podido tirar o Sr. Leonardo de um apuro; por fora arrepende‑se um pouco, quase nada.
‑ Os senhores são senhores, é mais claro que água. Agora anda tudo um pouco revolto, mas o que é um senhor, desde o berço, logo se nota.
Se Segundo Segura, o engraxador, fosse culto, seria sem dúvida leitor de Váz‑quez Mella.
Alfonsito, o miúdo dos recados, volta da rua com o jornal.
‑ Ouve lá, meu rico, onde foste buscar o papel?
Alfonsito é um miúdo débil, de doze ou treze anos, tem cabelo ruivo e tosse constantemente. O seu pai, que era jornalista, morreu dois anos atrás no Hospital del Rey. Sua mãe, que em solteira foi uma menina cheia de melindres, esfregava uns escritórios na Gran Via e comia no Auxílio Social.
‑ Havia bicha, minha senhora.
‑ Sim, bicha; o que acontece é que agora as pessoas põem‑se a fazer bicha para saber as notícias, como se não houvesse mais nada que fazer. Anda, dá cá!
‑ Como já se tinha esgotado o Informaciones, comprei o Madrid.
‑ Tanto faz. Para o que se tira a limpo! Você entende isso de tantos Estados se tornarem livres, pelo mundo, Seoane?
‑ Ora!
‑ Não, homem, não é preciso dissimular; se não quer, não fale. Para o diabo
com tanto mistério!
Seoane sorri, com cara amarga de doente do estômago, e cala‑se. Para quê falar?
Alfonsito reparte o Madrid por algumas mesas. Pablo tira o dinheiro.
‑ Há novidades?
‑ Não sei.
Pablo estende o jornal sobre a mesa e lê os títulos. Por cima do seu ombro,
Pepe procura inteirar‑se. Elvira faz um sinal ao rapaz.
‑ Deixa‑me o da casa, quando a Dona Rosa terminar.
Dona Matilde, que fala com o empregado da tabacaria enquanto a sua amiga Dona Assunción está nos lavabos, comenta depreciativamente:
‑ Eu não sei para que querem inteirar‑se de tudo quanto se passa, se nós aqui estamos tranquilos! Não lhe parece?
‑ Isso é o que eu digo.
Dona Rosa lê as notícias da guerra.
‑ Muito atrasado me parece isto... Mas enfim, se no fim o conseguirem arranjar! Você pensa que no fim conseguirão, Macario?
O pianista põe uma cara de dúvida.
‑ Não sei, pode ser que sim. Se inventarem algo que dê bom resultado! Dona Rosa olha fixamente para o teclado do piano. Tem um ar triste e distraído e
fala como consigo mesma, como se pensasse em voz alta.
‑ O que acontece é que os Alemães, que são uns cavalheiros como Deus manda, fiaram‑se demasiado nos Italianos, que têm mais medo que as ovelhas. Nem
mais!
A voz soa triste, e os olhos por detrás das lentes parecem velados e quase sonhadores.
‑ Se eu tivesse visto Hitler, ter‑lhe‑ia dito: «Não se fie, o senhor não seja tolo,
porque esses têm um medo que nem vêem!» Dona Rosa suspirou ligeiramente.
‑ Que tonta que eu sou! Diante de Hitler, não me teria atrevido nem a levantar a voz...
À Dona Rosa preocupa‑a a sorte das tropas alemãs. Lê com toda a atenção, dia a dia, a comunicação do Quartel‑General do Fúhrer, e relaciona, por uma série de vagos pressentimentos que não se atreve a ver claros, o destino da Wehrmacht com o destino do seu próprio café.
Vega compra o jornal. O seu vizinho pergunta‑lhe:
‑ Boas notícias? Vega é um ecléctico.
‑ Depende.
O moço vai dizendo «Vou!» e arrasta os pés pelo chão do café.
‑ Diante de Hitler ficaria mais assustada que uma boneca, deve ser um homem que assusta muito; tem um olhar de tigre.
Dona Rosa volta a suspirar. O seu tremendo peito tapa‑lhe o pescoço durante uns instantes.
‑ Esse e o Papa, creio que são os dois que impressionam mais. Dona Rosa deu uma pancadinha com os dedos na tampa do piano.
‑ E além do mais, ele lá saberá o que se faz, que para isso tem os generais. Dona Rosa está um momento em silêncio e muda de voz:
‑ Bem!
Levanta a cabeça e olha para Seoane:
‑ Como vai a sua mulher com os seus achaques?
‑ Vai andando; hoje parece que está um pouco melhor.
‑ Pobre Sonsoles; e ela que é tão boa!
‑ Sim, na verdade está a passar uma temporada muito má.
‑ Chegou a dar‑lhe as gotas que o doutor Francisco lhe indicou?
‑ Sim, já as tomou. O mal é que não conserva nada dentro do corpo; vomita tudo.
‑ Mas que coisa!
Macario bate nas teclas suavemente e Seoane segura o violino.
‑ Que vão tocar?
‑ La Verbena, está bem?
‑ De acordo.
Dona Rosa sai do estrado dos músicos enquanto o pianista e o violinista, com gesto resignado de colegiais, rompem o tumulto do café com os velhos compassos, tantas vezes ‑ ah, Deus! ‑ repetidos e repetidos.
Donde vas con mantón de Manila, donde vas con vestido chiné?
Tocam sem papel. Não faz falta.
Macario, como um autómato, pensa:
«E então dir‑lhe‑ei: ‑ Olha, filha, não há nada que fazer; com um duro às tardes, outro à noite e dois cafés, tu verás. ‑ Ela, com certeza, que me responde:‑ Não sejas tonto, verás; com os teus dois duros e com alguma lição que me apareça... Matilde, bem visto, é um anjo; é como um anjo.»
Macario, por dentro sorri; por fora, quase, quase. Macario é um sentimental mal alimentado, que faz, por aqueles dias, os quarenta e três anos.
Seoane olha vagamente para os clientes do café, e não pensa em nada. Seoane é um homem que prefere não pensar; o que quer é que o dia passe a correr, o mais depressa possível.
Soam as vinte e uma horas no velho relógio de pequenos números que brilham como se fossem de oiro. O relógio é um móvel quase sumptuoso, que veio da Exposição de Paris, trazido por um marquês estouvado e sem dinheiro que andou a fazer a corte à Dona Rosa, aí por volta de 1905. O marquesinho, que se chamava Santiago e era Grande de Espanha, morreu tísico no Escorial, ainda bastante novo, tendo o relógio ficado no balcão do café, como para servir de recordação dumas horas que passaram sem trazer nem o homem para Dona Rosa nem o comer quente todos os dias, para o morto. É a vida!
No outro extremo do local, Dona Rosa ralha, com grandes espaventos, a um criado. Pelos espelhos, como à traição, os outros criados observam a cena quase despreocupados.
O café ficará vazio antes de meia hora. Igual a um homem que tivesse ficado, de repente, sem memória.
Capítulo Segundo
‑ Ande, vamos embora.
‑ Adeus, muito obrigado, o senhor é muito amável.
‑ De nada. Vá por aí. Não o queremos ver mais por aqui.
O criado tenta falar com voz séria, com voz de respeito. Tem um acentuado sotaque galego que tira a violência, a autoridade às suas palavras, um sotaque que tinge de suavidade a sua seriedade. Aos homens calmos, quando os incitam à violência, treme‑lhes o lábio superior, como se uma mosca invisível roçasse por ele.
‑ Se quer, deixo‑lhe o livro.
‑ Não, leve‑o.
Martin Marco, pálido, enfezado, com as calças desfiadas e a americana coçada, despede‑se do criado, levando a mão à aba do seu triste e ensebado chapéu cinzento.
‑ Adeus, obrigado, o senhor é muito amável.
‑ De nada, e não volte a arribar por aqui.
Martin Marco olha para o criado, e gostaria de dizer alguma coisa mais bonita.
‑ Tem em mim um amigo.
‑ Muito bem.
‑ E saberei corresponder.
Martin Marco firma os óculos de aros de arame e começa a andar. A seu lado passa uma rapariga e a cara não lhe é estranha.
‑ Adeus.
A rapariga olha‑o por um instante e segue o seu caminho. É jovem e muito bonita. Não vai bem vestida. Deve ser uma modista de chapéus ‑ as modistas de chapéus têm todas um ar quase distinto; assim como as amas são pasiegas(1), as boas cozinheiras biscainhas, as queridinhas, as que se podem vestir bem e levar a qualquer lado, são modistas de chapéus.
Martin Marco vai lentamente pelo bulevar abaixo, a caminho de Santa Bárbara.
O criado pára um instante no passeio, antes de empurrar a porta.
‑ Vai sem um real!
As pessoas passam apressadas, bem envolvidas nos seus abafos, para fugir ao frio.
Martin Marco, o homem que não pagou o café e que olha para a cidade como um miúdo doente e perseguido, enfia as mãos nos bolsos das calças.
As luzes da praça brilham com um esplendor que fere, quase ofensivo.
Roberto González levanta a cabeça do volumoso livro de contabilidade, e fala com o patrão.
‑ Far‑lhe‑ia diferença dar‑me três duros adiantados? Amanhã é o aniversário da minha mulher.
O patrão é um homem compreensivo, um homem honrado que faz as suas tramóias, como os demais, mas que não tem maus fígados.
‑ Claro, homem, a mim tanto me faz!
‑ Muito obrigado, senhor Ramón.
O padeiro tira do bolso uma grossa carteira de pele de bezerro e dá cinco duros a Roberto.
‑ Estou muito satisfeito consigo, González, os negócios da padaria marcham muito bem. Com esses dois duros a mais, você pode comprar umas guloseimas para os seus filhos.
O Sr. Ramón fica um bocado calado. Coça a cabeça e baixa a voz.
‑ Não diga nada à Paulina.
‑ Não se preocupe.
O Sr. Ramón olha para as biqueiras das botas.
‑ Não é por nada, sabe? Eu sei que o senhor é um homem discreto e que não vai dar à língua, mas às vezes, sem querer, podia escapar‑lhe alguma coisa e lá tínhamos sermão para quinze dias.
*1. Naturais de Pas, província de Santander.
Quem manda sou eu, mas o senhor já sabe o que são as mulheres...
‑ Não se preocupe, não o deixarei ficar mal. Roberto baixa a voz.
‑ Muito obrigado...
‑ De nada; o que eu quero é que o senhor trabalhe satisfeito.
A Roberto, as palavras do padeiro chegam‑lhe à alma. Se o padeiro prosseguisse com as suas frases amáveis, Roberto trabalharia de graça.
O Sr. Ramón anda pelos seus cinquenta ou cinquenta e dois anos. É um homem robusto, com um farto bigode, corado, um homem saudável por dentro e por fora, que leva uma vida honesta, levantando‑se ao raiar do dia, bebendo vinho tinto e dando beliscões nas criadas de servir. Quando chegou a Madrid, nos princípios do século, trazia as botas aos ombros para as não estragar.
A sua biografia é uma biografia de cinco linhas. Chegou à capital com oito ou dez anos, e empregou‑se numa padaria. Amealhou até aos vinte e um, altura em que foi para o serviço militar. Desde que chegou à cidade e até assentar praça não gastou nem um cêntimo. Guardou tudo. Comeu pão e bebeu água, dormiu debaixo do balcão e não conheceu nenhuma mulher. Quando foi servir o rei, deixou as suas economias na Caixa Postal e, logo que passou à disponibilidade, levantou o dinheiro e comprou uma padaria; em doze anos juntara vinte e quatro mil reales, tudo o que ganhou: pouco mais de uma peseta diária. Na tropa aprendeu a ler, a escrever e a contar, e perdeu a inocência. Abriu a casa, casou, teve doze filhos, comprou um calendário e sentou‑se a ver passar o tempo. Os antigos patriarcas deviam ser bastante parecidos com o Sr. Ramón.
O criado entra no café. Sente, de repente, um calor na cara; dá‑lhe vontade de tossir, mas baixo, como que para arrancar aquelas mucosidades que o frio da rua lhe provocou na garganta. Depois até parece que fala melhor. Ao entrar notou que lhe doíam um pouco as fontes; notou também, ou quis‑lhe parecer, que à Dona Rosa lhe tremia o bigode.
‑ Escuta, chega aqui. O criado acercou‑se.
‑ Arreaste‑lhe?
‑ Sim, minha senhora.
‑ Quantas?
‑ Duas.
‑ Onde?
‑ Onde pude, nas pernas.
‑ Bem dado! Patifes!
O criado tem um arrepio pela espinha abaixo. Se fosse um homem decidido tinha afogado a proprietária; afortunadamente não o era. A proprietária ri baixo, com risadas cruéis. Há pessoas que se divertem ao verem os outros sofrerem calamidades; para as verem mais de perto, dedicam‑se a visitar os bairros miseráveis, a oferecer coisas velhas aos moribundos, aos tísicos envolvidos em mantas ordinárias, às crianças anémicas e pançudas que têm os ossos moles, às crianças que são mães aos onze anos, e às vagabundas já quarentonas, cheias de tumores: as vagabundas parecem índios caciques com sarna. Dona Rosa nem chega a essa categoria. Dona Rosa prefere emoções ao domicílio.
Roberto sorri satisfeito; o pobre homem andava já preocupado que chegasse o aniversário da sua mulher e estivesse sem um real no bolso. Era uma fatalidade!
«Amanhã comprarei uns bombons à Filo ‑ pensa. ‑ A Filo é como uma criança, como uma criança de seis anos... Com dez pesetas comprarei umas coisitas para os pequenos e tomarei um vermute... Talvez o que agrade mais seja uma bola... Com seis pesetas já encontro uma boa bola...»
Roberto tinha pensado calmamente, antegozando. A sua cabeça estava cheia de boas intenções.
Pelo postigo da padaria entraram umas tristes, agudas e desabridas notas de uma canção flamenga. Era difícil de se perceber se era uma mulher ou uma criança que a cantava. Roberto estava nessa altura a raspar os lábios com a ponta da caneta.
No passeio da frente, um miúdo esganiçava‑se à porta de uma taberna:
Infeliz aquele que come o pão por conta alheia; nunca sabe se lho dão com amor ou outra ideia.
Da taberna atiram‑lhe umas moedas e três ou quatro azeitonas, que ele se apressa a apanhar do chão. É um miúdo moreno, débil, mas esperto como um rato. Está descalço, com o peito ao léu, e aparenta ter uns seis anos. Canta fazendo‑se acompanhar com as suas próprias palmas e movendo o rabito ao som delas.
Roberto fecha o postigo e fica de pé no meio da casa, pensando se devia ou não chamar o miúdo e dar‑lhe um real.
‑ Não...
Roberto deixa de pensar nisso e volta a estar optimista.
‑ Sim, uns bombons... A Filo é como uma criança, é como uma... Roberto, apesar de ter cinco duros no bolso, não tinha a consciência completamente tranquila.
‑ É vontade de não querer ver as coisas como deve ser, não achas, Roberto?
‑ dizia‑lhe por dentro uma voz tímida e inquieta.
Martin Marco pára, na Calle de Sagasta, em frente da montra dum estabelecimento de artigos para quarto de banho. O estabelecimento está bastante iluminado, tão iluminado como uma joalharia ou como o cabeleireiro de um grande hotel. Os lavabos parecem lavabos do outro mundo, lavabos do Paraíso, com as torneiras reluzentes, as louças polidas e com nítidos e puríssimos espelhos. Há lavabos brancos, verdes, rosa, amarelos, violeta, negros, lavabos de todas as cores. Há banheiras que brilham como pulseiras de brilhantes, bidés com um quadro de comandos como um automóvel, luxuosas retretes barrigudas e com duas tampas, cisternas baixas onde se pode colocar o cotovelo e pôr também alguns livros bem seleccionados, por exemplo: Hõlderlin, Keats, Valery, para os casos de obstipação; para o contrário, por exemplo, Rubén, Mallarmé, sobretudo Mallarmé. Mas que porcaria!
Martin Marco sorri, como que a perdoar‑se, e afasta‑se da montra.
‑ E é isto a vida. Com o que uns gastam para fazerem as suas necessidades com conforto, poderiam outros comer durante um ano. Mas é isto! As guerras deviam fazer‑se para que houvesse menos pessoas a viver à grande e para que outras comessem um pouco melhor. O mal é que qualquer pessoa sabe a razão por que nós, os intelectuais, continuamos a alimentar‑nos mal e a fazer as nossas coisas pelos cafés.
A Martin Marco preocupa‑o o problema social. Não tem ideias muito claras sobre coisa alguma, mas preocupa‑o o problema social.
‑ Isto de haver ricos e pobres ‑ diz às vezes ‑ está mal; era melhor que fôssemos todos iguais, nem muito pobres nem muito ricos, meio termo. A humanidade devia ser reformada. Devia nomear‑se uma comissão de sábios que se encarregasse de modificar a humanidade. Ao princípio ocupar‑se‑ia de pequenas coisas, por exemplo, ensinar o sistema métrico às pessoas, e então, à medida que se fossem aclimatando, começariam com coisas mais importantes, podendo até ordenar que demolissem cidades, para depois as erguerem de novo, todas iguais, com ruas bem simétricas e todas as casas com aquecimento. Seria um pouco dispendioso, mas os bancos teriam massa que chegasse para isso.
Uma rabanada de frio percorre a Calle Manuel Silvela, e Martin começa a crer que está a pensar em disparates.
‑ Os lavabos que vão para o diabo.
Ao atravessar a rua, um ciclista afasta‑o com um empurrão.
‑ Cabeça no ar, parece que está em liberdade condicional. O sangue subiu‑lhe à cabeça.
‑ Oiça, oiça!
O ciclista voltou a cabeça e disse‑lhe adeus com a mão.
Pela Calle de Goya vem um homem a ler o jornal; quando o apanhamos passa por diante de uma livraria de ocasião chamada: «Alimente o seu espírito». Uma criadita passa por ele.
‑ Adeus, senhor Paço! O homem volta a cabeça.
‑ Ah! És tu? Para onde vais?
‑ Para casa. Fui visitar a minha irmã, a casada.
‑ Muito bem.
O homem olha‑a nos olhos.
‑ Então? Já tens noivo? Uma mulher como tu não pode estar sem noivo... A rapariga ri às gargalhadas.
‑ Bem, vou andando, estou cheia de pressa.
‑ Adeus, filha, e não te percas. Olha, se encontrares o senhor Martin diz‑lhe que à meia‑noite passarei pelo bar de Narváez.
‑ Está bem.
A rapariga afasta‑se e Paço segue‑a com o olhar até a perder de vista.
‑ Anda como uma corça...
Paço, o senorito Paço, acha bonitas todas as raparigas que encontra, não sabe se é um cachondo ou um sentimental. A rapariga que o acaba de cumprimentar é realmente bonita, mas ainda que o não fosse tinha sido o mesmo; para Paço, todas são Miss Espanha.
‑ É mesmo uma corça...
O homem volta‑se e pensa vagamente na sua mãe, falecida há anos. A sua mãe
usava ao pescoço uma fita de seda preta, para lhe suster a papada. Tinha um ar muito distinto, via‑se que era de boas famílias. O avô de Paço foi general e marquês, tendo morrido em Burgos, num duelo à pistola; matou‑o um deputado progressista chamado Edmundo Páez Pacheco, maçónico e de ideias dissolventes.
À rapariguita apareciam‑lhe as suas formas, por debaixo do abafo de algodão. Os sapatos estavam já um pouco deformados. Tinha os olhos claros, verde‑acastanhados e um pouco achinesados. «Fui visitar a minha irmã casada.» «Ah, ah!... A sua irmã casada, lembras‑te, Paço?»
Edmundo Páez Pacheco morreu em Almeria no mesmo ano, com varíola.
A rapariga, enquanto falava com Paço, tinha aguentado o olhar dele. ,, Uma mulher com uma criança nos braços, envolta em trapos, pedia esmola, e uma cigana gorda vendia lotaria. Alguns pares de namorados amam‑se no meio do frio, aquecendo‑se com a mão sobre a mão.
Celestino, rodeado de cascos vazios nas traseiras da sua loja, fala sozinho. Algumas vezes, Celestino fala só. Quando era pequeno a mãe dizia‑lhe:
‑ O quê?
‑ Não é nada, estava a falar sozinho.
‑ Ai, filho, que ainda algum dia dás em maluquinho.
A mãe de Celestino não era tão senhora como a de Paço.
‑ Não os dou, parto‑os aos bocados, mas não os dou. Ou me pagam o que valem ou não os levam, comigo não brincam, não quero, a mim ninguém me rouba! Isto, isto é o ganho do comerciante! Ou se ganha ou não! É natural! Ou se é homem ou não! Que vão roubar para o raio que os parta!
Celestino ajusta a dentadura e cospe furioso para o chão.
‑ Era o que faltava!
Martin Marco continua a andar. O caso com o ciclista já está esquecido.
‑ Se isto da miséria dos intelectuais tivesse ocorrido ao Paço, era bonito! Mas não, Paço é um pastel, já nada lhe ocorre. Desde que o libertaram que anda por aí como um simplório, sem fazer nada como deve ser. Dantes, ainda compunha um verso de vez em quando, mas agora! Já estou farto de lhe dizer e não voltarei mais a fazê‑lo. Se pensa que se arranja sem fazer nada, está bem arranjado.
O homem sente um calafrio e compra vinte cêntimos de castanhas ‑ quatro castanhas ‑ à entrada do Metro, na esquina de Hermanos Álvarez Quintero, essa entrada aberta de par em par que parece ter sido feita para devorar automóveis e camiões.
Apoia‑se no parapeito para comer as castanhas, e com a luz dos candeeiros de
gás tenta ler a placa.
‑ Estes, sim, tiveram sorte. Aí estão! Com o nome numa rua central e com
uma estátua no Retiro. Martin tem às vezes acessos de falta de respeito.
‑ Que gajos! Quando se tem tanta fama, alguma coisa se deve ter feito, mas, sim, sim!, quem é o figurão que o garante?
Pela sua cabeça esvoaçam ainda uns restos de consciência.
‑ Sim; «uma etapa do teatro espanhol, um ciclo que quiseram fazer e conseguiram», «um teatro que fosse o reflexo fiel dos costumes sãos da Andaluzia»... Tudo isto parece‑me um pouco caritativo. Mas que vamos fazer! Aí estão e não há quem os tire! Nem Deus!
A Martin aborrece‑o que não exista uma classificação rigorosa de valores intelectuais, uma lista devidamente ordenada.
‑ Está tudo igual, tudo na mesma bitola. Duas castanhas estão frias e duas estão quentes.
Pablo Alonso é um jovem com certo ar desportivo, de moderno homem de negócios, e há quinze dias que tem uma namorada chamada Laurita.
Laurita é bonita. É filha de uma porteira da Calle de Lagasca. Tem dezanove anos. Dantes nunca tinha um duro para gastar e ainda menos cinquenta para comprar uma carteira. Com o seu noivo, que era carteiro, nunca ia a lado nenhum. Laurita já estava farta de apanhar frio em Rosales, estando já a ficar com as orelhas e com os dedos cheios de frieiras. A sua amiga Estrella houve um senhor que lhe ofereceu um andar, um senhor que se dedica ao negócio de
azeite. Pablo Alonso levanta a cabeça.
‑ Um manhattan.
‑ Não temos uísque escocês.
‑ Diz no balcão que é para mim.
‑ Muito bem, senhor.
Pablo volta a pegar na mão da rapariga.
‑ Como te dizia, Laurita, ele é um bom rapaz, não se pode ser melhor do que é. Acontece é que o vês pobre e infeliz, capaz de andar com uma camisa suja durante um mês e com os dedos fora dos sapatos.
‑ Pobre rapaz! E não faz nada?
‑ Nada. Tem algumas ideias a darem‑lhe volta ao miolo, mas acaba por não fazer nada. É uma pena porque ao fim e ao cabo não é nenhum parvo.
‑ E tem onde dormir?
‑ Tem. Dorme em minha casa.
‑ Em tua casa?
‑ Sim, mandei pôr uma cama no quarto da roupa, e aí fica. Pelo menos não lhe chove em cima e está quente.
A rapariga que quase conheceu a miséria olha Pablo nos olhos. No fundo está emocionada.
‑ Que bom que és, Pablo!
‑ Não sejas tonta; é um velho amigo, um amigo de antes da guerra. Está a passar um período difícil... Aliás, nunca passou nenhum que fosse bom.
‑ E é formado? Pablo ri‑se.
‑ Sim, filha, é formado. Vá, anda, falemos de outra coisa.
Laurita, para variar, volta à cantilena que começara uns quinze dias atrás.
‑ Gostas muito de mim?
‑ Muito.
‑ Mais que a ninguém?
‑ Mais que a ninguém.
‑ Gostarás sempre de mim?
‑ Sempre.
‑ Nunca me deixarás?
‑ Nunca.
‑ Ainda que ande tão suja como o teu amigo?
‑ Não digas disparates.
O criado chegou e disse sorrindo:
‑ Ainda havia um pouco de White Label. ‑Vês?
Ao miúdo que cantava flamengo uma vagabunda já embriagada deu‑lhe um encontrão. O único comentário foi um comentário puritano.
‑ Caramba, não são horas de estar bêbada! E logo, que beberá?
O miúdo não caiu ao chão; foi de nariz à parede. De longe disse três ou quatro verdades à mulher, apalpou um pouco a cara e lá foi. À porta de outra taberna voltou a cantar:
Estando um mestre alfaiate cortando umas calças, passou um jovem cigano que vendia camarões.
Oiça, senhor alfaiate, faça‑mas bem estreititas para que quando for à missa as mirem as senoritas.
O miúdo não tem cara de pessoa; a cara é de animal doméstico, de besta suja, de besta pervertida dos currais. Ainda tem muito poucos anos para que a dor tenha já dado uma navalhada de cinismo ‑ ou de resignação ‑ na sua cara; a sua cara mostra uma bela e ingénua expressão estúpida, uma expressão de quem não entende nada do que se passa. Tudo o que se passa é um milagre para o ciganito, que nasceu de um milagre, que come de um milagre, que vive de um milagre e que tem forças para cantar por puro milagre.
Depois dos dias vêm as noites, depois das noites vêm os dias. O ano tem quatro estações: Primavera, Verão, Outono, Inverno. Há verdades que se sentem dentro do corpo, como a fome ou a vontade de urinar.
As quatro castanhas acabaram‑se depressa e Martin, com o real que sobrou, foi até Goya.
‑ Nós vamos a correr por debaixo de todos os que estão sentados nas retretes. Colón: muito bem; duques, notários e algum carabineiro da Casa da Moeda. Como devem estar alheios, lendo o jornal ou olhando para as pregas da barriga! Serranos: senoritos e senoritas. As senoritas não saem de noite. Este é um bairro onde tudo vale até às dez. Agora devem estar a jantar. Velásquez: mais senoritas, até dá gosto. Este é um Metro muito fino. Vamos à Ópera? Vamos. No domingo, estiveste nas corridas de cavalos? Não. Goya: acabou‑se isto.
Martin, na gare, finge‑se coxo; fá‑lo algumas vezes.
‑ Pode ser que jante em casa da Filo (não empurre, minha senhora, porque não há pressa), e se não, paciência.
A Filo é sua irmã, a mulher de Roberto González ‑ a besta do González, como lhe chama o cunhado ‑, empregado na Câmara dos Deputados e republicano de Alcalá Zamora.
O casal González vive ao fim da calle de Ibiza, num pequeno andar dos da Ley Salmón, e não passa lá muito bem, ainda que se esforcem bastante. Ela trabalha até mais não poder, tem cinco filhos pequenos e uma criadita de dezoito anos para tomar conta deles, e ele faz todas as horas extraordinárias que pode e onde calha; esta temporada tem sorte, faz a escrita duma perfumaria, onde vai duas vezes por mês, e pagam‑lhe cinco duros pelas duas vezes, faz outra numa padaria que há na Calle de San Bernardo e onde lhe pagam trinta pesetas. Outras vezes, quando a sorte lhe volta as costas e ele não encontra nenhum gancho, Roberto regressa triste e de mau humor.
Os cunhados, por essas coisas que acontecem, nem o podem ver. Martin diz que Roberto é um porco ansioso e Roberto diz que Martin é um porco intratável e sem compostura. Vamos lá saber quem tem razão! A única coisa certa é que a pobre Filo, entre a espada e a parede, passa a vida a arranjar pretextos para acalmar os ânimos o melhor possível.
Quando o marido não está em casa, frita um ovo, ou dá um pouco de café com leite ao irmão, e quando não pode, porque Roberto faria um escândalo tremendo chamando‑lhe vadio e parasita, a Filo guarda as sobras da comida numa lata velha de bolachas e a criadita vem trazer‑lha à rua.
‑ Achas isso justo, Petrita?
‑ Não, senhor, não é.
‑ Ai filha! Se não fosses tu a adocicar‑me esta mistela! Petrita fica corada.
‑ Ande, dê‑me a lata porque faz muito frio.
‑ Faz frio para todos, desgraçada!
‑ O senhor desculpe. Martin reage de repente.
‑ Não faças caso. Sabes que já estás uma mulher? ‑ ‑Vamos, cale‑se.
‑ Ah, filha, já me calo! Sabes o que te pregava se tivesse menos consciência?
‑ Cale‑se.
‑ Um bom susto.
‑ Cale‑se.
Naquele dia calhou o marido da Filo não estar em casa e Martin comeu um ovo e bebeu uma chávena de café.
‑ Pão não tenho. Tenho até de ir comprar um pouco no mercado negro.
‑ Está bem assim, obrigado; Filo, és muito boa, uma verdadeira santa.
‑ Não sejas tonto.
O olhar de Martin nublou‑se.
‑ Sim; uma santa, mas uma santa que casou com um miserável. O teu marido é um miserável, Filo.
‑ Cala‑te, ele é muito honrado.
‑ Pois claro! Tu já lhe deste cinco bezerros.
Há uns minutos de silêncio. No outro lado da casa ouve‑se uma vozinha de criança a rezar. A Filo sorri.
‑ É o Javierín. Escuta, tens dinheiro?
‑ Não.
‑ Então leva essas duas pesetas.
‑ Não. Que é que eu faço com duas pesetas?
‑ Tens razão. Mas sabes que quem dá o que tem...
‑ Sim, bem sei.
‑ Arranjaste a roupa que te dei, Laurita?
‑ Sim, Pablo, arranjei. O casaco fica‑me muito bem, verás que gostas. Pablo Alonso sorri com um sorriso de boi benévolo, de um homem que tem
mulheres não pela sua cara mas pelo dinheiro.
‑ Não duvido... Neste tempo, Laurita, tens de te agasalhar bem; vocês, mulheres, podem andar elegantes e ao mesmo tempo agasalhadas.
‑ Claro.
‑ Parece‑me que andas muito despida. Vê lá, não vás adoecer agora!
‑ Não, Pablo, agora não. Agora tenho de ter muito cuidado para que possamos ser muito felizes...
Pablo deixa‑se amar.
‑ Quem me dera ser a rapariga mais bonita de Madrid para poder agradar‑te sempre... Tenho uns ciúmes!
A mulher das castanhas fala com uma senorita. Esta tem as faces pálidas e as pálpebras avermelhadas como se estivesse doente.
‑ Que frio que está!
‑ Está uma noite que nem os cães podem andar na rua. Qualquer dia fico‑me como um passarinho.
A outra guarda no bolso uma peseta de castanhas, o seu jantar.
‑ Até amanhã, senhora Leocádia.
‑ Adeus, senorita Elvira, boa noite.
A mulher caminha pelo passeio, em direcção à Praça de Alonso Martínez. Ao pé da janela de um café, que faz esquina com o bulevar, dois homens conversam. São dois homens novos, um de vinte e tal anos e outro de trinta e picos; o mais velho tem aspecto de jurado de um concurso literário; o mais novo tem o ar de ser escritor. Falam de uma coisa muito semelhante a isto:
‑ Na novela que apresentei sobre o tema Teresa de Cepeda abordo algumas facetas inéditas desse eterno problema que...
‑ Sim, sim. Dá‑me um pouco de água, se faz favor?
‑ Sem favor. Li‑a várias vezes e creio que posso dizer com orgulho que em toda ela não há nem uma única cacofonia.
‑ Muito interessante.
‑ Assim julgo. Ignoro a qualidade das obras apresentadas pelos meus colegas. Em todo o caso, confio no bom senso e na rectidão...
‑ Não se preocupe; fazemos tudo com a máxima seriedade.
‑ Não duvido. Ser derrotado nada importa se a obra premiada for de uma qualidade indiscutível; o que desanima é...
Elvira sorriu ao afastar‑se; o costume.
Entre os irmãos faz‑se outro silêncio.
‑ Levas camisola?
‑ Pois claro que levo.
‑ Uma camisola marcada com P. A.?
‑ Uma camisola marcada como me apetece.
‑ Desculpa.
Martin acabou de enrolar um cigarro com o tabaco de Roberto.
‑ Estás desculpada, Filo. Não me fales com tanta ternura. Não aguento.
‑ Lá estás tu.
‑ Não. O Paço passou por aqui? Ficou de me trazer um embrulho.
‑ Não, não passou. A Petrita viu‑o em Goya e ele disse‑lhe que te esperava no bar de Narváez.
‑ Que horas são?
‑ Não sei, devem ser já mais de dez.
‑ E Roberto?
‑ Ainda se demora. Hoje era dia de ir à padaria e não chegará senão depois das dez e meia.
Sobre os dois irmãos recai um silêncio cheio de suavidade. A Filo fala com voz carinhosa e olha Martin nos olhos.
‑ Lembras‑te que amanhã faço trinta e quatro anos?
‑ Sim?
‑ Não te lembravas?
‑ Não, para que te hei‑de mentir? Fizeste bem em dizer‑mo, quero dar‑te um presente.
‑ Não sejas tonto, tu não estás em condições de o fazeres.
‑ Uma coisa insignificante mas que te sirva de recordação. A mulher põe as mãos sobre os joelhos do homem.
‑ O que eu quero é que faças um verso, como o fizeste há anos. Lembras‑te?
‑ Sim...
Filo olha tristemente para a mesa.
‑ O ano passado nem tu nem o Roberto me felicitaram, ambos se esqueceram. A voz de Filo é mimosa: uma boa actriz tê‑la‑ia tornado triste.
‑ Estive a chorar toda a noite... Martin beija‑a.
‑ Não sejas tonta, parece que vais fazer catorze anos.
‑ Que velha que eu já sou, não é verdade? Repara como tenho a cara com rugas. Agora só me resta esperar que os filhos cresçam, que envelheçam e que eu morra. Como a nossa pobre mãe.
Na padaria, Roberto seca com cuidado a tinta do último lançamento que fez. Depois fecha o livro e rasga uns papéis que serviram para fazer as contas. Na rua ouve‑se o miúdo a cantar.
‑ Adeus, senhor Ramón, até ao próximo dia.
‑ Vá com Deus, González. A sua senhora que conte muitos com saúde.
‑ Obrigado, senhor Ramón, e o senhor que veja.
Pelos lados da Praça de Touros dois homens seguem apressados.
‑ Estou gelado. Faz um frio de morrer.
‑ Sim, sim.
Os irmãos estão a conversar na minúscula cozinha. Na chaminé está um fogareiro de gás com um tacho ao lume.
‑ A esta hora ninguém vem aqui.
Sobre a mesa, meia dúzia de chicharros esperam a hora de ir para a frigideira.
‑ Roberto gosta muito de chicharros fritos.
‑ Não lhe gabo o gosto.
‑ Deixa lá. Que te importa? Martin, porque não o suportas?
‑ Eu? Ele é que não me suporta, e, como eu o noto, defendo‑me. Sei perfeitamente que temos feitios diferentes.
Martin fala com um ligeiro ar retórico, parece um professor.
‑ Para ele é tudo igual e pensa que o melhor é arranjar‑se da melhor maneira. Eu não; para mim não é tudo o mesmo. Sei que existem coisas boas e coisas más, coisas que se devem fazer e coisas que se devem evitar.
‑ Vá lá, não faças discursos.
‑ Podes crer. É o que eu penso.
A luz treme um instante na lâmpada e falta. A luz tímida e azulada do gás sobressai pelos lados do tacho.
‑ Ora isto!
‑ Acontece várias vezes, agora há uma luz péssima.
‑ Agora teria de haver a luz do costume. A Companhia quer é aumentar o preço, e por isso faz assim. Quanto é que pagas de luz?
‑ Catorze ou dezasseis pesetas, depende.
‑ Depois pagarás vinte ou vinte e cinco.
‑ Que havemos de fazer!
‑ Ah!, é assim que queres que as coisas se arranjem? Está bonito!
Filo cala‑se e Martin antevê uma dessas soluções que nunca agradam. À luz incerta do gás, Martin tem um vago e impreciso ar de pessoa perspicaz.
A falta da luz apanha o Celestino na parte de trás do estabelecimento. ‑ Estou bem arranjado! Esses desalmados são capazes de me esfolar. Os desalmados são os clientes.
Celestino sai às apalpadelas e apanha uma caixa de gasosas. As garrafas fazem um barulho infernal ao chocar com as grades.
‑ Para o diabo a luz eléctrica! Da porta soa uma voz.
‑ Que aconteceu?
‑ Nada! Estou a quebrar o que é meu!
Dona Visitación pensa que uma das formas mais eficazes para alcançar uma melhoria na classe operária é as senhoras da Junta de Damas organizarem concursos de pinacle(1).
*1. Pinacle (como no original): concurso de qualidades de trabalho. (N. do T.)
«Os operários ‑ pensa ‑ também têm de comer, ainda que alguns sejam tão vermelhos que não mereçam tais desvelos.»
Dona Visitación é bondosa e não crê que os operários se devam matar à fome a pouco e pouco.
Pouco tempo depois a luz volta a incandescer primeiro o filamento, seguindo‑se um resplendor que se estende, de repente, pela cozinha. A luz é mais forte e mais branca, os copos, os pratos e outras louças que estão nas prateleiras vêem‑se melhor, como se fossem novas.
‑ Está tudo muito bonito, Filo.
‑ Limpo...
‑ É verdade.
Martin olha com curiosidade para a cozinha, como se a não conhecesse. Depois levanta‑se e vai buscar o chapéu. Na tábua de lavar, apaga a ponta do cigarro e em seguida, com muito cuidado, deita‑a para o caixote.
‑ Bem, Filo; muito obrigado, tenho de ir.
‑ Adeus, e não me agradeças; eu bem gostava de te dar mais... Esse ovo tinha‑o para mim, o médico disse‑me que comesse dois por dia.
‑ Não me digas!
‑ Deixa lá, não te preocupes. Faz‑te tanta falta como a mim.
‑ Na verdade...
‑ Que tempos, não achas, Martin?
‑ Sim, Filo, que tempos! Mas mais tarde ou mais cedo se hão‑de arranjar as coisas.
‑ Julgas isso?
‑ Não tenho dúvidas. É fatal, algo que tem tanta força como as marés. Martin vai até à porta e muda de tom.
‑ Enfim... E Petrita?
‑ Já começas?
‑ Não, era só para dizer‑lhe adeus.
‑ Deixa‑a. Está com os dois mais pequenos porque têm muito medo; não os deixa até que adormeçam.
Filo sorri e acrescenta:
‑ Eu, às vezes, também tenho medo, imagino que vou morrer de repente... Ao descer a escada, Martin cruza com o seu cunhado que sobe no elevador.
Roberto vai a ler o jornal. Ao Martin apetece‑lhe abrir uma porta e deixá‑lo entre dois pisos.
Laurita e Pablo estão sentados em frente um do outro; entre eles há uma pequena jarra com três rosas.
‑ Agrada‑te este sítio?
‑ Muito.
O criado aproxima‑se. É um criado jovem, bem vestido e com o cabelo ondulado. Laurita tenta não olhar para ele; Laurita tem uma ideia muito especial do amor e da fidelidade.
‑ Para a senorita, traga consome, linguado no forno e peito à Villeroy. Eu quero consome e robalos cozidos com azeite e vinagre.
‑ Não comes mais nada?
‑ Não, não me apetece. Pablo volta‑se para o criado.
, ‑ Para beber, meia de Sautemes e outra meia de Borgonha. , Laurita, por debaixo da mesa, acaricia um joelho de Pablo. ‑ Estás doente?
‑ Não, doente não estou; estive toda a tarde com a comida às voltas e não quero que torne a acontecer‑me.
Olharam‑se nos olhos, afastaram a pequena jarra e entrelaçaram as mãos. Ao canto, um casal olha para eles.
‑ Quem é aquela conquista de Pablo?
‑ Não sei. Parece uma criada. Como a achas?
‑ Não está mal...
‑ Então vai com ela, se te agrada. Não te deve ser difícil.
‑ Já começas?
‑ Quem começa és tu. Anda, meu caro, deixa‑me tranquila que não estou com disposição de armar barulho; esta temporada estou muito pouco folclórica,
O homem acende um cigarro.
‑ Escuta, Mari Tere, sabes o que te digo? Que assim não chegamos a lado nenhum.
‑ Estás muito esperto! Se queres, deixa‑me, não falta quem me olhe para a cara.
‑ Fala mais baixo, não há necessidade de todos ouvirem.
Elvira põe o livro na mesa‑de‑cabeceira e apaga a luz. Os Mistérios de Paris ficam às escuras ao lado de um copo com água, de umas meias usadas e de um bâton já no fim.
Antes de adormecer, Elvira medita sempre um pouco.
«Talvez a Dona Rosa tenha razão. Será melhor fazer as pazes com o velho, assim não posso continuar. É um baboso, mas... já não tenho muito por onde escolher.»
Elvira conforma‑se com pouco, mas mesmo esse pouco raramente consegue. Levou muito tempo a compreender a vida, e quando a compreendeu já tinha os olhos cheios de rugas e os dentes furados e enegrecidos. Agora conforma‑se em não ir ao hospital, e com poder continuar na sua miserável espelunca; talvez dentro de alguns anos o seu sonho seja uma cama no hospital ao lado do radiador.
O ciganito, à luz de um candeeiro, conta uma quantidade de miúdos. O dia não correu mal: conseguiu, cantando desde a uma da tarde até às onze da noite, um duro e sessenta cêntimos. Por um duro em miúdos, dão cinco pesetas e cinquenta em qualquer bar; os bares estão sempre aflitos com os trocos.
O ciganito, sempre que pode, janta numa taberna que há por detrás da Calle de Preciados, descendo pela Calçada dos Angeles; um prato de feijões, pão e uma banana custam‑lhe três pesetas e vinte cêntimos.
O ciganito senta‑se, chama o moço, dá‑lhe as três pesetas e vinte e espera que o sirvam.
Depois de comer, continua a cantar, até às duas, pela Calle de Echegaray, e procura apanhar o último eléctrico. O ciganito, creio que já o dissemos, deve ter uns seis anos de idade.
Ao fim da Calle de Narváez fica situado o bar onde quase todas as noites Paço se encontra com Martin. É um bar pequeno, que fica à direita de quem sobe, perto da garagem da Polícia Armada. O dono chama‑se Celestino Ortiz, e foi, com Cipriano Mera, comandante durante a guerra civil. É um homem alto, magro, carrancudo e com alguns sinais de bexigas; na mão direita usa um grande anel de ferro, esmaltado a cores e representando Leão Tolstoi, que mandou fazer na Calle de Colegiata; tem dentadura postiça que, quando o magoa, coloca sobre o balcão. Celestino Ortiz guarda cuidadosamente, já há muitos anos, um exemplar sujo e roto da Aurora de Nietzsche, que é o seu livro de cabeceira, o seu catecismo. Lê‑o a todo o momento e nele encontra sempre o remédio para os seus problemas de espírito.
‑ «Aurora» ‑ diz. ‑ «Meditação sobre os defeitos morais.» Que título tão bonito!
A capa tem, em oval, a fotografia do autor, o seu nome, o título, o preço ‑ quatro reales ‑ e o nome da editorial: F. Sempere & Cia., Editores, Calle de Palomar, 10, Valença; Olmo, 4 (sucursal), Madrid. A tradução é de Pedro González Blanco. No frontispício tem o ex‑líbris dos editores: o busto de uma senhora com um barrete frígio, orlado com uma coroa de louros, e por cima uma legenda que diz: «Arte e Liberdade».
Celestino sabe de cor parágrafos inteiros. Quando os guardas da garagem lá entram, Celestino esconde o livro debaixo do balcão.
‑ São homens do povo, como eu ‑ diz ‑, mas nunca se sabe. Celestino pensa que Nietzsche é realmente perigoso.
O que costuma fazer, quando os guardas lá vão, é recitar alguns parágrafos com ar divertido, sem todavia dizer donde os tirou.
‑ «A compaixão é o antídoto do suicídio, porque é um sentimento que proporciona prazer e que nos dá, em pequenas doses, o gozo da superioridade.»
Os guardas riem‑se.
‑ Ó Celestino, tu nunca foste padre?
‑ Nunca! «A felicidade ‑ continua ‑, seja como for, dá‑nos ar, luz e liberdade de movimentos.»
Os guardas riem às gargalhadas.
‑ E água corrente.
‑ E aquecimento central.
Celestino indigna‑se e diz‑lhes com desprezo:
‑ Vocês são uns pobres ignorantes!
Entre os que costumam vir, há um guarda galego com quem Celestino simpatiza. Tratam‑se sempre por senhor.
‑ E o senhor, patrão, diz sempre isso da mesma maneira?
‑ Sempre, Garcia, e nunca me engano.
‑ Isso é um mérito!
A Sr.a Leocádia, embrulhada no seu xaile, tira a mão.
‑ Tome, aí estão oito e bem grandes.
‑ Adeus.
‑ Que horas são, por favor?
‑ São onze em ponto.
Às onze vem buscá‑la o seu filho, que ficou coxo na guerra e está como apontador nas obras dos Novos Ministérios.
O filho, que é muito bom, ajuda‑a a recolher os utensílios e depois, de braço dado, lá vão dormir. Seguem por Covarrubias e voltam para Nicasio Gallego. Se fica alguma castanha, comem‑na; se não fica, entram numa leitaria qualquer e bebem um café com leite bem quente. A lata das brasas coloca‑a ela ao pé da cama, porque sempre fica algum rescaldo que dura até de manhã.
Martin Marco entra no bar na altura em que saíam os guardas. Celestino aproxima‑se.
‑ O Paço ainda não veio. Esteve cá esta tarde e disse que o esperava. Martin Marco adopta um ar de grande senhor.
‑ Muito bem.
‑ Que vai tomar?
‑ Um café.
Ortiz prepara a cafeteira, o açúcar, o copo, o prato, a colher e sai do balcão. Coloca tudo na mesa e fala. Nota‑se nos olhos, um tanto brilhantes, que faz um grande esforço.
‑ Já foi cobrar o dinheiro?
Martin olha‑o como se olhasse para um ser muito estranho.
‑ Não, ainda não cobrei nada. Já lhe disse que só cobro aos dias cinco e vinte de cada mês.
Celestino coça o pescoço.
‑ É que...
‑ Quê?
‑ Com este serviço já me deve vinte e duas pesetas.
‑ Vinte e duas pesetas? Descanse que lhas pago. Creio que nunca lhe fiquei a dever nada.
‑ Já sei.
‑ Então?
Martin enruga um pouco a testa e fala em tom grave.
‑ Parece mentira que o senhor e eu andemos sempre às voltas com o mesmo, como se não tivéssemos tantas coisas em comum.
‑ Realmente! Enfim, desculpe, eu não queria incomodá‑lo, mas sabe?, hoje vieram cobrar a contribuição.
Martin levanta a cabeça num gesto profundo de orgulho e desprezo, e crava os olhos numa borbulha que Celestino tem na barba.
Martin, por um instante, dá um tom brando à voz.
‑ Que é que o senhor tem aí?
‑ Nada, uma borbulha.
Martin volta a franzir a testa e a falar com voz grave.
‑ E o senhor quer culpar‑me de haver contribuições?
‑ Eu não quis dizer isso.
‑ Então dizia uma coisa muito parecida, caro amigo. Não falámos já o suficiente dos problemas da distribuição económica e do regime contributivo?
Celestino lembra‑se do seu mestre e cresce.
‑ Mas eu não posso pagar os impostos com sermões.
‑ E isso preocupa‑o, não é verdade, grande fariseu?
Martin olha‑o fixamente, com um sorriso misto de asco e de compaixão.
‑ E lê, o senhor, Nietzsche? Bem pouco entendeu. Você não passa de um mísero pequeno‑burguês!
‑ Marco!
Martin ruge como um leão.
‑ Sim, grite, chame os seus amigos, os guardas.
‑ Os guardas não são meus amigos!
‑ Bata‑me, se quer, não me importo! Não tenho dinheiro, compreende? Não tenho dinheiro! Não é nenhuma desonra!
Martin levanta‑se e sai para a rua com passo de triunfador. Quando chega à porta volta‑se.
‑ E não chore, honrado comerciante. Quando tiver esses quatro duros e tal, trar‑lhos‑ei para que o senhor possa pagar a contribuição e ficar tranquilo. E não tome nota desse café, guarde‑o para quem o queira, eu não o tomo!
Celestino fica perplexo, sem saber o que fazer. Pensa atirar‑lhe com um sifão à cabeça, mas lembra‑se: «Entregar‑se à violência é sinal de que se está próximo da animalidade.» Tira o seu livro debaixo do balcão e guarda‑o na gaveta. Há dias em que parece que os santos nos voltam as costas, dias em que dir‑se‑á que até Nietzsche passa para o lado contrário.
Pablo tinha pedido um táxi.
‑ Ainda é cedo para irmos para casa. Se queres, vamos a um cinema fazer horas.
‑ Como queiras, Pablo, o que interessa é podermos estar muito juntinhos. O paquete chegou. Depois da guerra quase nenhum paquete usa boné.
‑ O táxi, senhor.
‑ Obrigado. Vamos, pequena?
Pablo ajudou Laurita a vestir o casaco. No táxi, Laurita advertiu:
‑ Que ladrões! Repara quando passarmos por um candeeiro: já marca seis pesetas!
Martin, ao chegar à esquina de ODonnell encontra Paço. No momento em que ouve Olá!, ia a pensar: «Sim, sem dúvida que Byron tinha razão: se tiver um filho farei dele algo de prosaico, advogado ou pirata.» Paço põe‑lhe a mão no ombro.
‑ Estás cansado. Porque não me esperaste? Martin parece um sonâmbulo, um arrebatado.
‑ Por pouco o matava! É um animal!
‑ Quem?
‑ O do bar.
‑ O do bar? Pobre desgraçado! Que te fez ele?
‑ Lembrou‑me as massas que lhe devo. Ele sabe de sobra que quando tenho
pago!
‑ Se calhar faziam‑lhe falta!
‑ Sim, para pagar a contribuição. São todos o mesmo. Martin olhou para o chão e disse em voz baixa:
‑ Hoje fui corrido de um café.
‑ Arrearam‑te?
‑ Não, não me arrearam, mas a intenção estava bem à vista. Já estou farto,
Paço!
‑ Vamos, não te excites, não vale a pena. Aonde vais?
‑ Vou dormir.
‑ É o melhor. Encontramo‑nos amanhã?
‑ Como queiras. Deixa recado em casa da Filo. Passarei por lá.
‑ Está bem.
‑ Toma o livro que querias. Trouxeste‑me os quartos de papel?
‑ Não, não pude. Vou tentar trazer‑tos amanhã.
Elvira dá voltas na cama; sente‑se desgostosa; qualquer pessoa diria que tinha enchido o papo com um grande jantar. Lembra‑se da sua infância e da picota de Villalón; é uma recordação que por vezes a assalta. Para a esquecer, Elvira põe‑se a rezar o Credo, até que adormece; há noites em que ‑ quando a recordação é mais insistente ‑ chega a rezar cento e cinquenta ou duzentos Credos seguidos.
Martin passa as noites em casa do seu amigo Pablo Alonso, numa cama que foi colocada no quarto da roupa. Tem uma chave do andar e em troca da hospitalidade deve cumprir três cláusulas: não pedir dinheiro a ninguém, não meter ninguém no quarto e sair às nove e meia da manhã para só regressar às onze da noite. O caso de doença não estava previsto.
Saindo de casa de Alonso, Martin passava as manhãs nos Correios ou no Banco de Espanha, onde além de estar aquecido podia escrever versos nas costas dos impressos de telegramas e das folhas de depósitos.
Quando Alonso lhe dá algum casaco em bom estado, Martin Marco atreve‑se, depois do almoço, a meter o nariz no hall do Palace. Não sente grande atracção pelo luxo, isso é verdade, mas procura conhecer todos os ambientes.
«Sempre são experiências» ‑ pensa.
Leoncio Maestre sentou‑se no baú e acendeu um cigarro. Era feliz como nunca e por dentro cantava La donna é móbile, num arranjo especial. Leoncio Maestre, na sua juventude, participou nuns jogos florais que se realizaram na ilha Minorca.
A letra da canção que Leoncio cantava era, como é natural, em homenagem a Elvira. O que o preocupava era que, inevitavelmente, o primeiro verso tinha de ter a acentuação fora do seu lugar. Havia três soluções:
1.a ‑ Oh, bella Elvírita! 2.a ‑ Oh, bellá Elvírita! 3.a ‑ Oh, bellá Elviriíta!
Nenhuma era boa, lá isso é verdade, mas sem dúvida que a primeira lhe parecia a melhor; pelo menos tinha os acentos nos mesmos lugares que La donna é móbile.
Com os olhos semicerrados, ele não deixa nem um instante de pensar na Elvira. «Coitadita! Tinha vontade de fumar! Creio, Leoncio, que lhe caiu muito bem a oferta da caixa...»
Leoncio Maestre estava tão embebido naquela recordação amorosa, que não sentia o frio da folha do baú debaixo das suas nádegas.
O Sr. Suárez deixou o táxi à porta de casa. Ajeitou os óculos e entrou no elevador. O Sr. Suárez vivia com a mãe, já velha, e davam‑se tão bem que, todas as noites antes de se deitar, a senhora ia tapá‑lo e dar‑lhe a bênção.
‑ Estás bem, filhinho?
‑ Estou muito bem, querida mamã.
‑ Então até amanhã, se Deus quiser. Tapa‑te, não vás arrefecer. Dorme bem.
‑ Obrigado, mamã, igualmente; dá‑me um beijo.
‑ Toma, filho; não te esqueças de rezar.
‑ Não, mamã. Adeus.
O Sr. Suárez tem uns cinquenta anos; a mãe vinte ou vinte e dois a mais.
O Sr. Suárez chegou ao terceiro andar, letra C, tirou a chave e abriu a porta. Pensava mudar de gravata, pentear‑se bem, pôr um pouco de água‑de‑colónia, inventar uma desculpa caridosa e sair a toda a pressa outra vez de táxi.
‑ Mamã.
A voz de Suárez ao chamar a mãe, da porta, todas as vezes que entrava em casa, era uma voz que se parecia um pouco com a dos alpinistas do Tirol que costumam aparecer nos filmes.
‑ Mamã!
Do quarto, ninguém respondeu apesar de a luz estar acesa.
‑ Mamã! Mamã!
O Sr. Suárez começou a ficar nervoso.
‑ Mamã! Mamã! Ai, Santo Deus! Ai, que eu não entro! Mamã! Ajudado por uma força estranha, Suárez passou para o corredor. Essa força estranha era, provavelmente, a curiosidade.
‑ Mamã!
Já com a mão na maçaneta, o Sr. Suárez fez marcha‑atrás e saiu fugindo. Da porta voltou a repetir:
‑ Mamã! Mamã!
Depois notou que o coração palpitava muito depressa e desceu os degraus a dois e dois.
‑ Para a Carrera de San Jerónimo, em frente ao Congresso.
Maurício Segovia, farto de ver e ouvir como Dona Rosa insultava os criados, levantou‑se e saiu.
‑ Não sei quem será mais miserável, se essa foca suja e enlutada ou esta súcia de lorpas. Se um dia lhe dessem, entre todos, uma sova mestra!
Como todos os ruivos, Maurício Segovia é bondoso e não pode suportar injustiças. Se ele preconiza que o melhor que os criados podiam fazer era dar uma sova à Dona Rosa, é porque ele viu que Dona Rosa não os tratava bem; assim, pelo menos, ficariam empatados um a um e poderiam começar de novo.
‑ Tudo isto é questão de paciência: uns têm muita, ao passo que outros fervem em pouca água.
O Sr. Ibrahim de Ostolaza y Bofarull mirou‑se ao espelho, ergueu a cabeça, acariciou a barba e exclamou:
‑ Senhores académicos: não queria fazer‑vos perder mais tempo, etc, etc. (Sim, isto sai com floreados... A cabeça com um gesto arrogante... Tenho de ter cuidado com os punhos, porque às vezes saem de mais, parece que vão levantar voo.)
O Sr. Ibrahim acendeu o cachimbo e começou a andar para trás e para diante. Com uma das mãos nas costas da cadeira e com a outra erguida, segurando o cachimbo, continuou:
‑ Como admitir, como quer o senhor Clemente de Diego, que o usucapião seja o modo de adquirir direitos pelo exercício dos mesmos? Salta à vista a escassa consistência do argumento, senhores académicos. Perdoem‑me a insistência e permitam‑me que volte, mais uma vez, à minha invocação da lógica; sem ela, nada é possível no mundo das ideias. (Aqui, provavelmente, haverá murmúrios de aprovação.) Não é evidente, ilustres académicos, que para usar algo é necessário possuí‑lo? Adivinho no vosso olhar que pensais assim. (Aqui, um deles talvez diga em voz baixa: «Evidentemente, evidentemente.») Deste modo, se para usar algo é necessário possuí‑lo, poderemos, pondo a oração na voz passiva, assegurar que nada pode ser usado sem uma prévia aquisição. (Talvez me interrompam com os aplausos. Convém estar preparado.)
A voz de Ibrahim ouvia‑se solene como a de um fagote. Do outro lado do tabique, um marido que regressava do seu trabalho perguntava à mulher:
‑ A pequerrucha já fez cocó?
Ibrahim sentiu um pouco de frio e aconchegou o cachecol. No espelho destacava‑se um laço preto ‑ o que costuma usar todas as tardes com o fraque.
Mário de la Vega, o tipógrafo do charuto, tinha ido jantar com o bacharel da alínea 3.
‑ Veja, sabe o que eu digo? Que amanhã não vá ver‑me; vá já trabalhar. A mim agrada‑me fazer as coisas assim, de repente.
O outro, ao princípio, ficou um pouco perplexo. Teria gostado de dizer que talvez fosse melhor ir passados uns dias, para ter tempo de pôr em ordem algumas coisitas, mas pensou que se sujeitava a que lhe dissessem que não.
‑ Está bem, muito obrigado, procurarei fazer o melhor que souber.
‑ Só tem a ganhar com isso. Mário de la Vega sorriu.
‑ Então fica combinado. E agora, para começarmos bem, convido‑o para jantar.
A vista do doutor nublou‑se.
‑ Mas...
O tipógrafo cortou‑lhe a palavra.
‑ Vá lá, se o senhor tiver alguma coisa que fazer; eu não quero ser importuno.
‑ Não, não, o senhor não é importuno, eu não tenho nada que fazer. O bacharel armou‑se em importante e acrescentou:
‑ Esta noite não tenho nenhum compromisso, estou à sua disposição.
Já na taberna, Mário começou a tornar‑se aborrecido e pôs‑se a explicar que gostava de tratar bem os seus subordinados, que os seus subordinados se sentissem bem, que os seus subordinados prosperassem, que os seus subordinados vissem nele um pai, e que os seus subordinados viessem a gostar da imprensa.
‑ Sem uma colaboração entre o chefe e os subordinados, não é possível que o negócio prospere. Se o negócio prosperar, melhor para todos: para o patrão e para os subordinados. Espere um bocado, vou telefonar, tenho de dar um recado.
O doutor, depois desta conversa toda, compreendeu que o seu papel era o de subordinado. Mas se não tivesse compreendido, Mário, ao meio do jantar, disse‑lhe:
‑ Entrará a ganhar dezasseis pesetas; mas do contrato de trabalho, nem falar. Entendido?
‑ Sim, senhor, entendido.
O Sr. Suárez apeou‑se do táxi em frente do Congresso, e meteu‑se pela Calle do Prado, à procura do café onde o esperavam. Para que não notassem que ia demasiado ansioso, havia descido do táxi um pouco antes da porta do estabelecimento.
‑ Ai, rapaz! Estou passado. Deve ter acontecido alguma coisa horrível em minha casa, a minha mãezinha não responde.
A voz de Suárez, ao entrar no café, tornou‑se ainda mais esganiçada que de costume ‑ uma voz parecida com a das vagabundas dos bares.
‑ Deixa lá isso, não te aflijas! Deve ter adormecido.
‑ Ai! Achas?
‑ É o mais certo. As velhas adormecem depressa.
O seu amigo era um tipo simpático com ar de chulo, que usava gravata verde, calçava sapatos cor de corinto e meias às riscas. Chama‑se José Giménez Figueras e ainda que tenha um aspecto pesado, com a barba cerrada e olhar de mouro, chamam‑lhe, por alcunha, «Pepito, o Lasca». O Sr. Suárez sorriu quase ruborizado.
‑ Que elegante que estás, Pepe!
‑ Cala‑te, besta, podem ouvir‑te!
‑ Ai, besta, tu és sempre tão carinhoso!
O Sr. Suárez fez um trejeito. Depois ficou pensativo.
‑ Que terá acontecido à minha mãe?
‑ Queres calar‑te?
Giménez Figueras, aliás «o Lasca», fez uma careta a Suárez, aliás «a Fotógrafa».
‑ Escuta, chata, viemos para ser felizes ou para que me aborreças com isso da tua mãe?
‑ Ai, Pepe, não ralhes comigo, tens razão! Mas eu estou que nem posso!
Leoncio Maestre tomou duas decisões fundamentais. Primeira: é evidente que Elvira não é uma qualquer, isso vê‑se na cara. Elvira é uma rapariga fina, de boa família, que teve algum desgosto com os seus, afastou‑se deles e fez bem. Elvira saiu de sua casa, certamente porque a família estava empenhada em tornar‑lhe a vida impossível. Pobre rapariga! Enfim! Cada vida é um mistério, mas a cara é o espelho da alma.
«Quem é que pode pensar que a Elvira seja uma desavergonhada? Por amor de Deus!»
Leoncio Maestre estava um bocado incomodado consigo mesmo.
A segunda decisão de Leoncio foi a de ir, depois de jantar, até ao café de Dona Rosa, para ver se a senorita Elvira voltara para lá.
‑ Quem sabe! Estas raparigas tristes e desgraçadas, que têm desgostos em casa, são muito dedicadas aos cafés onde se toca música.
Leoncio Maestre comeu à pressa, escovou‑se, vestiu o sobretudo outra vez, pôs o chapéu e foi para o café de Dona Rosa. Bem, ele saiu com a intenção de dar uma volta pelo café de Dona Rosa.
Maurício Segovia foi jantar com o seu irmão Hermenegildo, que tinha chegado a Madrid para ver se conseguia que o fizessem secretário da CNS da sua terra.
‑ Como vai isso?
‑ Vai indo, meu rapaz... Creio que vai bem...
‑ Tens alguma novidade?
‑ Sim. Esta tarde estive com o José Maria, o que está na secretaria particular de Rosendo, e disse‑me que apoiaria a proposta com todo o interesse. Vamos lá ver o que é que eles fazem. Julgas que me nomearão?
‑ Homem, acho que sim. Porque não?
‑ Eu sei lá. Às vezes parece‑me que já está na mão, e outras vezes parece‑me que o que me vão dar é um pontapé no cu. Isto de uma pessoa estar sem saber o que vai suceder, é terrível.
‑ Não desanimes, Deus fez‑nos todos iguais. Além disso, já sabes que o que queremos às vezes custa.
‑ Sim, é o que eu penso.
Em seguida, os dois irmãos comeram em silêncio durante quase todo o tempo.
‑ Isto dos alemães vai de vento em popa.
‑ Sim, mas a mim já me cheira a esturro.
O Sr. Ibrahim de Ostolaza y Bofarull fez que não ouviu o do coco da pequerrucha do vizinho, voltou a ajeitar o cachecol, pôs de novo a mão nas costas da cadeira e continuou:
‑ Sim, senhores académicos, penso que estes argumentos não têm duas interpretações. Aplicando ao conceito jurídico em que nos ocupamos as conclusões do silogismo precedente (aplicando ao conceito jurídico em que nos ocupamos as conclusões do silogismo precedente, talvez seja demasiado extenso), podemos assegurar que, assim como para usar alguma coisa é necessário possuí‑la, para exercer um direito, seja qual for, é também necessário possuí‑lo. (Pausa.)
O vizinho do lado perguntava pela cor do coco. A mulher dizia‑lhe que era da cor normal.
‑ E um direito não pode possuir‑se, insigne comunidade, sem ter sido adquirido. Creio que as minhas palavras são tão claras como as águas cristalinas de um regato. (Vozes: sim, sim.) Logo, se para exercer um direito há que o adquirir, porque não se pode exercer uma coisa que não se tem (Claro, claro!), como se pode pensar, com rigor científico, que exista uma maneira de aquisição pelo exercício, como quer o senhor professor De Diego, ilustre por tantos conceitos, se isto seria o mesmo que afirmar que se exerce algo que ainda não foi adquirido, um direito que, todavia, ainda não se possui? (Insistentes rumores de aprovação.) O vizinho perguntava:
‑ Tiveste de lhe dar um clister?
‑ Não, já o tinha preparado, mas depois ela fez por si. Olha, tive de comprar uma lata de sardinhas; a tua mãe disse‑me que o azeite das sardinhas é melhor para estas coisas.
‑ Não te preocupes, comeremos as sardinhas ao jantar, e haja saúde. Isso do azeite são coisas da minha mãe.
Marido e mulher sorriram com ternura, abraçaram‑se e beijaram‑se. Pelo menos, ele assim imaginou. Há dias em que tudo corre bem. A prisão de ventre da pequerrucha já estava a ser uma preocupação.
O Sr. Ibrahim pensou que, ante os insistentes rumores de aprovação, devia fazer uma pequena pausa, com a cabeça baixa e olhando, como que distraidamente, para a alcatifa e para o copo com água.
‑ Não creio que seja necessário aclarar, senhores académicos, que é preciso ter presente que o uso da coisa ‑ não o uso do exercício do direito a usar a coisa, visto que ainda não existe ‑ que conduz por prescrição à sua possessão, a título de proprietário, por parte do ocupante, é uma situação de acordo, mas nunca de direito. (Muito bem.)
O Sr. Ibrahim sorriu como um triunfador e esteve uns instantes sem pensar em nada. No fundo ‑ e à superfície também ‑ o Sr. Ibrahim era um homem feliz. Não lhe faziam caso? Que importava! Para que servia a História?
Ela, ao fim e ao cabo, faz justiça a todos. E se neste mesquinho mundo não se toma em consideração o génio, para que havemos de preocupar‑nos se dentro de cem anos já não existimos?
O Sr. Ibrahim foi arrancado deste doce torpor por umas campainhadas violentas, ruidosas.
Que barbaridade, que modo de alvoroçar uma pessoa! Que educação a desta gente! Só faltava que se tivessem enganado!
A esposa do Sr. Ibrahim, que fazia meia sentada ao pé da braseira enquanto o seu marido discursava, levantou‑se e foi abrir a porta.
O Sr. Ibrahim pôs o ouvido à escuta. Quem tocou à porta foi o vizinho do quarto andar.
‑ O seu esposo está?
‑ Está sim, está a ensaiar o discurso.
‑ Pode receber‑me?
‑ Mas com certeza.
A senhora levantou a voz:
‑ Ibrahim, é o vizinho de cima. O Sr. Ibrahim respondeu:
‑ Que entre, mulher, que entre, não o deixes à porta. Leoncio Maestre estava pálido.
‑ Então, vizinho, que o traz por cá? A Leoncio tremia‑lhe a voz.
‑ Está morta!
‑ Hã!
‑ Está morta!
‑ Quem?
‑ Sim, senhor, está morta; toquei‑lhe na testa e está fria como gelo. A esposa do Sr. Ibrahim abriu muito os olhos.
‑ Mas quem?
‑ A do lado.
‑ A do lado?
‑ Sim.
‑ A Dona Margot?
‑ Sim.
O Sr. Ibrahim interveio.
‑ A mamã do maricas?
Ao mesmo tempo que Leoncio dizia que sim, a mulher repreendeu‑o:
‑ Por amor de Deus, Ibrahim, não fales dessa maneira!
‑ E está mesmo morta?
‑ Sim, senhor Ibrahim, está mesmo morta. Enforcada com uma toalha.
‑ Com uma toalha?
‑ Sim, senhor, com uma toalha turca.
‑ Que horror!
O Sr. Ibrahim começou a dar ordens, a dar voltas de um lado para o outro, e a recomendar calma.
‑ Genoveva, faz uma ligação para a Polícia.
‑ Qual é o número?
‑ Eu sei lá, vê‑o na lista! E o senhor, amigo Maestre, fique de guarda à escada. Que ninguém suba nem desça. No cabide tem uma bengala. Eu vou chamar o médico.
O Sr. Ibrahim, logo que lhe abriram a porta de casa do médico, perguntou com grande serenidade:
‑ O doutor está?
‑ Está, sim. Quer esperar só um momento?
Ele bem sabia que o médico estava em casa. Quando o viu aparecer a ver quem era, o Sr. Ibrahim, sem saber por onde começar, sorriu‑lhe.
‑ A pequerrucha? Já está boa dos intestinos?
Mário de la Vega, depois de jantar, convidou o Eloy Rubio Antofagasta, o bacharel da alínea 3, a tomar um café. Via‑se que queria abusar.
‑ Apetece‑lhe um charuto?
‑ Sim, senhor, muito obrigado.
‑ Caramba, amigo, não deixa passar nada. Eloy Rubio Antofagasta sorriu humildemente.
‑ Não, senhor. Depois acrescentou:
‑ Sabe, é por estar muito contente de ter conseguido trabalho.
‑ E de ter jantado?
‑ Sim, senhor, e também de ter jantado.
O Sr. Suárez estava a fumar um charuto que lhe havia dado Pepe, «o Lasca».
‑ Ai, que bem que me sabe! Tem o teu aroma. O Sr. Suárez olhou o seu amigo nos olhos.
‑ Vamos beber uns copos? Não tenho vontade de jantar. Quando estou contigo fico logo sem apetite.
‑ Bem, vamos.
‑ Deixas‑me convidar‑te?
«A Fotógrafa» e «o Lasca» saíram, muito agarrados um ao outro, pela Calle del Prado acima, no passeio da esquerda de quem sobe, onde há uns bilhares. Algumas pessoas voltavam‑se ao vê‑los.
‑ Entramos aqui um bocado para ver as jogadas?
‑ Não, no outro dia por pouco que não me metiam um taco pela boca.
‑ Que bestas! Há homens sem educação. Que disparate! Devias ter apanhado um susto enorme, não é verdade, Lasquinha?
Pepe, «o Lasca» ficou de mau humor.
‑ Olha lá, vai chamar Lasquinha à tua mãe.
O Sr. Suárez ficou histérico.
‑ Ai, a minha mãezinha! Ai, o que lhe teria acontecido! Ai, meu Deus!
‑ Queres calar‑te?
‑ Perdoa‑me, Pepe, não te falarei da minha mãe. Ai, a pobrezinha! Pepe, compras‑me uma flor? Quero que me compres uma camélia vermelha: indo contigo convém levar um sinal de proibido...
Pepe, «o Lasca», sorriu muito ufano, e comprou uma camélia vermelha ao Sr. Suárez.
‑ Põe‑a na lapela.
‑ Onde tu quiseres.
Depois de comprovar que a senhora estava morta e bem morta, o doutor atendeu Leoncio Maestre, que estava com um ataque de nervos, quase sem sentidos e dando pontapés para todos os lados.
‑ Ai, doutor! Veja lá se esse agora também morre.
Dona Genoveva Cuadrado de Ostolaza mostrava‑se muito inquieta.
‑ Não se preocupe, minha senhora, ele não tem nada de importante, um susto enorme e nada mais.
Leoncio, sentado numa cadeira, tinha os olhos brancos e deitava espuma pela boca. Entretanto, o Sr. Ibrahim tinha organizado a lista dos vizinhos.
‑ Calma, sobretudo uma grande calma. Que cada chefe de família registe conscienciosamente o seu domicílio. Temos de servir a causa da justiça, prestando‑lhe todo o apoio e colaboração que estiverem ao nosso alcance.
‑ Sim, senhor, muito bem dito. Nestes momentos o melhor é que um mande e os outros obedeçam.
Os vizinhos da casa do crime, que eram todos espanhóis, pronunciaram mais ou menos uma frase lapidária.
‑ Dêem a este uma chávena de chá de tília.
‑ Pois sim, senhor doutor.
Mário e o bacharel Eloy concordaram ir cedo para a cama.
‑ Bem, meu amigo, amanhã ao trabalho!
‑ Sim, senhor, verá como fica satisfeito com o meu trabalho.
‑ Assim espero. Amanhã às nove terá ocasião de começar a demonstrá‑lo. Aonde vai agora?
‑ Para casa, para onde devo de ir? Vou deitar‑me. O senhor também se deita
cedo?
‑ Sempre o fiz. Sou um homem de costumes moderados.
Eloy Rubio Antofagasta sentiu‑se hipócrita; ser hipócrita era, provavelmente, o seu estado normal.
‑ Então, se o senhor não vê inconveniente, eu acompanho‑o.
‑ Como queira, amigo Eloy, e muito obrigado. Vê‑se que você tem a certeza que ainda vai fumar mais um cigarro!
‑ Não é por isso, senhor Vega, pode crer.
‑ Não seja tonto, criatura de Deus, todos procedemos da mesma maneira.
Mário e o seu novo revisor de provas, ainda que a noite estivesse mais fria, foram andando, com a gola das gabardinas levantadas. A Mário, quando o deixavam falar do que gostava, não lhe fazia mossa nem o frio nem o calor, nem a fome.
Depois de andarem bastante, encontraram um grupo de pessoas estacionadas à entrada de uma rua, e dois guardas que não deixavam passar ninguém.
‑ Aconteceu alguma coisa? Uma mulher voltou‑se.
‑ Não sei, dizem que houve um crime, que mataram duas senhoras à punhalada.
‑ Caramba!
Um homem interveio na conversa.
‑ Não exagere, minha senhora; não foram duas senhoras, foi só uma.
‑ E parece‑lhe pouco?
‑ Não, senhora; parece‑me até de mais. Mas mais me parecia se fossem duas. Um rapaz aproximou‑se do grupo.
‑ Que é que se passa? Uma outra mulher tirou‑o de dúvidas.
‑ Parece que houve um crime, que enforcaram uma rapariga com uma toalha turca. Dizem que era uma artista.
Os irmãos Maurício e Hermenegildo decidiram ir tomar um pouco de ar.
‑ Olha, sabes o que te digo? Que hoje é uma noite formidável para nos irmos divertir por aí. Se te derem isso, já está festejado, e se não te derem, paciência. Se não saímos, passas a noite a dar voltas à cabeça. Já fizeste tudo o que podias fazer; agora só falta eles fazerem o resto.
Hermenegildo estava preocupado.
‑ Sim, acho que tens razão; assim, todo o dia a pensar no mesmo, não consigo mais que pôr‑me nervoso.
Vamos para onde quiseres, conheces Madrid melhor que eu.
‑ Que te parece se formos beber uns copos?
‑ Está bem, vamos; mas assim, só nós?
‑ Já encontraremos alguém. A estas horas não faltam raparigas. Maurício Segovia e o seu irmão Hermenegildo lá foram fazer a ronda dos bares
da Calle de Echegaray. Maurício dirigia e Hermenegildo pagava.
‑ Vamos pensar que celebramos a boa solução do meu caso; eu pago.
‑ Bem; se não te chegar para voltares para a terra, avisa‑me e eu dar‑te‑ei a mão.
Hermenegildo, numa tasca da Calle de Fernández y González, deu com o cotovelo em Maurício.
‑ Olha para esses dois, que bem que se dão. Maurício voltou a cabeça.
‑ Sim, sim. Coitada da Margarida Gautier, olha para a camélia vermelha que tem na lapela. Estou a ver, irmão, que aqui não há que ter vergonha.
Do outro extremo da sala, ouviu‑se uma voz forte:
‑...Não te excedas, «Fotógrafa», deixa um bocado para logo!
Pepe, «o Lasca», levantou‑se.
‑ Vamos lá ver se ainda vai algum para o meio da rua!
O Sr. Ibrahim dizia ao doutor juiz:
‑ Veja, senhor doutor juiz, nós nada podemos esclarecer. Cada vizinho verificou o seu domicílio e não encontrámos nada que nos chamasse a atenção.
Um vizinho, o Sr. Fernando Cazuela, procurador dos tribunais, olhou para o chão; ele sim, tinha encontrado algo. O juiz interrogou o Sr. Ibrahim.
‑ Vamos por partes. A falecida tinha família?
‑ Sim, senhor doutor juiz, tinha um filho.
‑ Onde está ele?
‑ Uf, quem sabe, senhor doutor juiz! É um tipo de maus costumes.
‑ Anda com mulheres?
‑ Não, isso não.
‑ Talvez seja jogador?
‑ Não, que eu saiba, não.
O juiz olhou para o Sr. Ibrahim.
‑ Bebedanas? ‑Não, não bebe.
O juiz sorri incomodativamente.
‑ Oiça lá, a que é que o senhor chama maus costumes? A coleccionar selos? O Sr. Ibrahim sentiu‑se picado.
‑ Não, senhor, eu chamo maus costumes a muitas coisas; por exemplo, ser maricas.
‑ Ah, pronto! O filho da defunta é maricas.
‑ Sim, sim, mais maricas que uma catedral.
‑ Bem, meus senhores, muito obrigado a todos. Podem retirar‑se para as vossas casas; se necessitar dos senhores convocá‑los‑ei.
As testemunhas, obedientemente, foram indo para as suas casas. O Sr. Fernando Cazuela, ao chegar ao seu andar, encontrou a mulher num mar de lágrimas.
‑ Ai, Fernando! Mata‑me se queres! Mas que o nosso filho não saiba de nada.
‑ Não, filha, como é que te posso matar com o juiz aqui! Anda, vai para a cama. Só faltava que o teu querido fosse o assassino da Dona Margot!
Para distrair o grupo que se avolumava na rua, e eram já várias centenas de pessoas, um ciganito de uns seis anos cantava flamengo, acompanhando‑se com as suas próprias palmas. Era um ciganito simpático, mas já muito conhecido...
Estando um mestre alfaiate
cortando umas calças, passou um jovem cigano que vendia camarões.
Quando levaram a Dona Margot para a morgue, o miúdo calou‑se respeitosamente.
Capítulo Terceiro
Pablo, depois de comer, vai até um café sossegado na Calle de San Bernardo jogar uma partida de xadrez com o Dr. Francisco Robles y López‑Patón e por volta das cinco ou cinco e meia sai e vai buscar Dona Pura para dar uma volta e para irem lanchar ao café de Dona Rosa, embora lhe pareça que o chocolate esteja sempre um pouco aguado.
Numa mesa próxima, ao lado de uma janela, quatro homens jogam ao dominó: Roque, Emilio Rodríguez Ronda, Tesifonte Ovejero e Ramón.
O Dr. Francisco Robles y López‑Patón, médico de doenças secretas, tem uma filha, a Amparo, que está casada com o Dr. Emilio Rodríguez Ronda, também médico. O Sr. Roque é o marido da Dona Visi, irmã de Dona Rosa; Roque Moisés Vásquez, na opinião da cunhada, é uma das piores pessoas do mundo. Tesifonte Ovejero y Solana, capitão‑veterinário, é um homem do povo, já um pouco abatido, e usa um anel com uma esmeralda. Por último, o Sr. Ramón que é padeiro e tem uma loja bastante importante perto dali.
Estes seis amigos de todas as tardes são pessoas tranquilas, sérias, com alguns devaneios sem importância, que se dão bem, que não discutem, e que falam de mesa para mesa às vezes sem ser sobre o jogo, ao qual nem sempre prestam grande interesse.
O Dr. Francisco acaba de perder um bispo.
‑ A coisa está a pôr‑se má!
‑ É verdade! Eu no seu caso desistia.
‑ Eu não.
O Dr. Francisco olha para o genro, que é parceiro do veterinário.
‑ Como está a menina, Emilio? A menina é a Amparo.
‑ Está bem, amanhã já se levanta.
‑ Ainda bem, já estou mais descansado. A mãe vai lá esta tarde.
‑ Óptimo! E o senhor também vai?
‑ Não sei, veremos.
A sogra do Dr. Emilio chama‑se Soledad, D. Soledad Castro de Robles. O Sr. Ramón deu saída à doble‑quina, que estava a enganá‑lo. Tesifonte dá uma piada:
‑ Afortunado ao jogo...
‑ Ao contrário, meu capitão... o senhor compreende‑me.
O Sr. Tesifonte fica casmurro enquanto os amigos riem. A verdade é que ele não é afortunado, nem com as mulheres nem com o jogo. Passa todo o dia fechado em casa e só sai para jogar a sua partidinha.
Pablo, que tem o jogo ganho, está distraído, não faz caso do xadrez.
‑ Roque, ontem a tua cunhada estava de mau humor.
‑ Está sempre, penso que já nasceu assim. A minha cunhada é uma besta! Se não fosse pelas pequenas, eu já me tinha posto a andar por uns tempos. Mas enfim! Paciência! Estas fulanas gordas costumam durar muito.
Roque pensa que merece a pena esperar, pois o Café La Delicia, entre muitas outras coisas ainda algum dia será de suas filhas. Bem visto, Roque tinha razão: sem dúvida alguma, valia a pena esperar nem que fosse cinquenta anos.
Dona Matilde e Dona Asunción encontram‑se todas as tardes para comer numa leitaria da Calle de Fuencarral, onde são amigas da proprietária, Dona Ramona Bragado, já idosa mas muito espirituosa e que foi artista no tempo do general Prim. Dona Ramona recebeu, no meio de grande escândalo, um legado de dez mil duros deixado em testamento pelo marquês de Casa Pena Zurara ‑ que foi presidente da Câmara e duas vezes subsecretário da Fazenda ‑, que fora seu amante pelo menos durante uns vinte anos. Dona Ramona pensou bem e, em vez de gastar o dinheiro todo, tomou de trespasse a leitaria, que tinha bom negócio e uma clientela bastante certa. Além disso, Dona Ramona não se perdia, dedicava‑se a tudo que aparecesse e até era capaz de conseguir pesetas debaixo da calçada; um dos seus melhores negócios era o de andar com mexericos assoprando brilhantes e bem
preparados enredos aos ouvidos das moças que queriam comprar alguma coisa e depois meter a unha a algum mandrião, desses que preferem que lhes dêem já tudo feito para não terem de se incomodar. Naquela tarde, a tertúlia da leitaria estava alegre.
‑ Dona Ramona, pode trazer uns bolinhos que eu pago.
‑ Mas, querida, saiu‑lhe alguma coisa na lotaria?
‑ Oh, Dona Ramona, há muitas espécies de lotaria! Recebi carta da Paquita, de Bilbau. Quer ver o que diz?
‑ Vamos lá saber, vamos lá saber.
‑ Leia‑a a senhora porque eu cada vez tenho menos vista. Leia aqui em baixo. Dona Ramona pôs os óculos e leu:
‑ «A esposa do meu noivo faleceu de anemias perigosas.» Caramba, Dona Asunción, assim já pode...!
‑ Continue, continue.
‑ «E o meu noivo diz que já não é necessário usar nada e que se eu ficar em estado interessante, casará.» Mas, querida, você é uma mulher de sorte!
‑ Obrigado. Sim, graças a Deus tenho tido muita sorte com esta filha.
‑ E o noivo é o catedrático?
‑ Sim, é o professor José Mana de Samas, catedrático de Psicologia, Lógica e Ética.
‑ Então os meus parabéns! Arranjou‑lhe um bom partido!
‑ Sim, não é mau.
Dona Matilde também tinha uma boa notícia para contar; não uma notícia em definitivo, como podia ser a de Paquita, mas era sem dúvida uma boa notícia. O seu menino, Florentino del Maré Nostrum, tinha assinado um contrato muito vantajoso para Barcelona, para trabalhar num salão do Paralelo, num espectáculo intitulado «Melodias da Raça» o qual, por ter um cunho patriótico, esperavam que fosse patrocinado pelas autoridades.
‑ Eu fico bastante sossegada por ele trabalhar numa grande capital; nas povoações há pouca cultura e, às vezes, a esta espécie de artistas atiram pedras. Como se não fossem iguais aos outros! Uma vez, em Jadraque, até a Guarda Civil teve de intervir; se ela não chegasse a tempo, aqueles seres desalmados e sem cultura que só gostam de dizer ordinarices às estrelas, teriam esfolado o meu pequeno. Pobrezinho, que grande susto que ele apanhou! Dona Ramona concordava.
‑ Sim, sim, numa grande capital como Barcelona está muito melhor; aprecia‑se mais a sua arte, respeitam‑no mais, enfim, tudo!
‑ Ai, sim, quando ele me diz que vai fazer uma tournée pelas povoações, até o coração se me aperta. Pobre Florentinín: sensível como é, ter de trabalhar para um público atrasado. Que horror!
‑ Tem razão, mas agora já está melhor...
‑ Sim, vamos lá ver por quanto tempo.
Laurita e Pablo costumam ir tomar café a um bar de luxo, que há por detrás da Gran Via, e no qual quem passe na rua quase não se atreve a entrar. Para chegar até às mesas ‑ não são mais de meia dúzia, todas com uma toalha e uma floreira ao centro ‑ tem de se passar pelo balcão, quase deserto, com um par de moças bebendo conhaque e quatro ou cinco rapazotes sem juízo jogando aos dados.
‑ Adeus, Pablo, já não falas a ninguém. Claro, desde que estás enamorado...
‑ Adeus, Mari Tere. E Alfonso?
‑ Em casa. Está muito regenerado esta época.
Laurita ficou de ventas; quando se sentaram nas cadeiras, não agarrou nas mãos de Pablo como de costume. Pablo, no fundo, sentiu uma certa sensação de alívio.
‑ Quem é essa rapariga?
‑ Uma amiga.
Laurita ficou triste e duvidosa.
‑ Uma amiga como eu o sou agora?
‑ Não, filha.
‑ Como disseste uma amiga!
‑ Bem, uma conhecida.
‑ Sim, uma conhecida... Escuta, Pablo.
Laurita ficou de repente com os olhos cheios de lágrimas.
‑ Que é?
‑ Estou muito desgostosa.
‑ Porquê?
‑ Por essa rapariga.
‑ Escuta, menina: está calada e não me aborreças! Laurita suspirou.
‑ Claro! E ainda por cima me ralhas.
‑ Nem por cima nem por baixo. Não dês mais importância que a necessária.
‑ Vês?
‑ Vejo o quê?
‑ Vês como estás a ralhar‑me? Pablo mudou de táctica.
‑ Não, pequerrucha, não estou a ralhar‑te; aborrecem‑me essas cenas de ciúmes, que queres que faça? Aconteceu‑me o mesmo com as outras.
‑ Igual com todas?
‑ Não, Laurita, com umas mais e com outras menos...
‑ E comigo?
‑ Contigo muito mais que com qualquer outra.
‑ Claro, não gostas de mim. Os ciúmes só se têm quando se gosta muito, muitíssimo, como eu de ti.
Pablo olhou para Laurita da maneira como se olha para um bicho raro. Laura tornou‑se carinhosa.
‑ Escuta, Pablito.
‑ Não me chames Pablito. Que é que queres?
‑ Caramba, és pior que um cardo!
‑ Está bem, mas não me repitas isso. Varia um pouco. Isso já mo disseram muitas pessoas.
Laurita sorriu.
‑ A mim não me importa nada que sejas um cardo. Gosto de ti assim, tal como és. Mas tenho uns ciúmes! Pablo, se algum dia deixares de gostar de mim, dir‑mo‑ás?
‑ Com certeza.
‑ Quem pode acreditar! Vocês são todos uns mentirosos!
Pablo Alonso, enquanto bebia o café, começou a notar que se aborrecia ao lado da Laurita. Muito bonita, muito atractiva, muito carinhosa, inclusivamente muito fiel, mas muito pouco variada.
No café de Dona Rosa, como em todos os outros, o público da hora do café não é o mesmo público da hora do lanche. Todos são clientes certos, lá isso é verdade, todos se sentam nos mesmos lugares, todos bebem dos mesmos copos, tomam o mesmo bicarbonato, pagam pesetas iguais, aturam as idênticas impertinências da proprietária, mas sem dúvida ‑ e talvez alguém saiba porquê ‑ as pessoas das três da tarde não têm nada que ver com as que chegam depois das sete e meia; é possível que a única coisa que os pudesse unir fosse a ideia, que todos guardam lá bem no fundo do coração, de serem clientes da velha guarda do café. Os outros, os de depois do almoço para os do lanche e os do lanche para os de depois do almoço, não são mais que uns intrusos que se toleram, mas em quem não se pensa. Os dos grupos, individualmente ou como organismos, são incompatíveis, e se um da hora do café lhe apetece esperar um pouco, os que vão chegando, os do lanche, vêem‑no com tão maus olhos, com tão maus olhos, como os da hora do café com os do lanche que chegaram antes de tempo. Num café bem organizado, num café que fosse algo assim como A República de Platão, deveria existir uma tolerância de um quarto de hora para os que vêm e os que vão não se encontrarem nem na porta giratória.
No café de Dona Rosa, depois do almoço, a única pessoa conhecida que há, tirando a proprietária e o pessoal, é a Elvira que na verdade quase já se pode considerar um móvel.
‑ Então, Elvirita, descansou?
‑ Sim, Dona Rosa, e a senhora?
‑ Eu, assim assim. Passei a noite a correr para a casa de banho; devo ter comido alguma coisa que não assentou bem no estômago.
‑ Não me diga! E agora já está melhor?
‑ Sim, parece‑me que sim, mas fiquei um pouco moída.
‑ Não admira, a diarreia é uma coisa que deprime.
‑ E eu que o diga! Estive a pensar que se até amanhã não estiver melhor, chamo o médico. Assim não posso trabalhar nem fazer nada, e nestas coisas, já sabe como é, se não nos defendermos...
‑ Claro.
Padilla, o empregado da tabacaria, tenta convencer um senhor de que as cigarrilhas com boquilha não são feitas de pontas.
‑ O tabaco feito de pontas nota‑se sempre; por mais que o lavem sempre fica um gosto esquisito. Além disso, o tabaco feito assim cheira a vinagre a cem léguas de distância e neste pode o senhor meter o nariz à vontade que não lhe encontra nenhum cheiro esquisito. Não lhe juro que seja tabaco de Gener, não quero enganar os clientes. E a maneira como estão feitos? Tudo à mão. Aqui não há máquina, apalpe‑os, se deseja.
Alfonsito, o miúdo dos recados, está a receber instruções de um senhor que deixou um automóvel à porta.
‑ Vamos lá ver se compreendes bem, não haja algum sarilho. Sobes ao andar, tocas à campainha e esperas.
Se quem te abrir a porta for esta senhora, fixa bem a foto, alta e com o cabelo louro, tu dizes‑lhe «Napoleão Bonaparte». Não te esqueças, e se ela te responder «Sucumbiu em Waterloo», entregas‑lhe a carta. Compreendes?
‑ Sim, senhor.
‑ Bem. Toma nota disso do Napoleão e do que tem de responder e decora pelo caminho. Ela, depois de ler a carta, marcará uma hora, às sete, às seis, ou à hora que for, tu tomas muita atenção e vens a correr dizer‑me. Percebes?
‑ Sim, senhor.
‑ Bem, então vai. Se deres conta do recado dou‑te um duro.
‑ Sim, senhor. Ah! E se quem abrir a porta não for a tal senhora?
‑ Tens razão. No caso de não ser ela que te abra a porta, dizes que te enganaste; perguntas: «Mora aqui o senhor Pérez?», e como te dirão que não, regressas e pronto. Percebeste bem?
‑ Sim, senhor.
A Consorcio López, o encarregado, quem o chamou ao telefone foi, nem mais nem menos, a Marujita Ranero, sua antiga noiva, a mamã dos gémeos.
‑ Mas que é que tu fazes em Madrid?
‑ O meu marido veio ser operado.
López estava pouco à vontade; homem de recursos, aquela chamada apanhava‑o no entanto desprevenido.
‑ E os pequenos?
‑ Estão uns homenzinhos. Este ano já vão para a escola.
‑ Como o tempo passa!
‑ Sim, sim.
Marujita tinha a voz quase trémula.
‑ Escuta.
‑ O quê?
‑ Não queres ver‑me?
‑ Mas...
‑ Claro, julgas que estou acabada.
‑ Não, mulher, não sejas tonta; é que agora...
‑ Não, agora não, esta noite quando saíres daí. O meu marido fica no sanatório e eu estou numa pensão.
‑ Em qual?
‑ Na La Colladense, Calle de la Magdalena.
As fontes de López soavam‑lhe como disparos.
‑ Escuta, e como é que entro?
‑ Pela porta, já te reservei um quarto, o número três.
‑ E como te encontro?
‑ Não sejas tonto! Eu vou ter contigo.
Quando López desligou o telefone e deu a volta para o balcão, deitou abaixo com uma cotovelada a prateleira dos licores: cointreau, calisay, benedictine, curaçao, creme de café e pippermint. Que sarilho!
Petrita, a criada de Filo, foi ao bar do Celestino Ortiz buscar um sifão porque Javierín estava com soluços. A pobre criança tem algumas vezes soluços e só passam com o sifão.
‑ Petrita, sabes que o irmão da tua senhora está a tornar‑se atrevido?
‑ Deixe‑o lá, senhor Celestino, o pobre está a passar as passas do Algarve. Ficou a dever‑lhe alguma coisa?
‑ Sim, deve‑me vinte e duas pesetas. Petrita dirigiu‑se para as traseiras da casa.
‑ Vou buscar um sifão, acenda‑me a luz.
‑ Tu sabes onde está.
‑ Não, acenda‑ma o senhor porque às vezes dá choque.
Quando Celestino Ortiz entrou para acender a luz, Petrita abordou‑o.
‑ Oiça, eu valho vinte e duas pesetas? Celestino Ortiz não entendeu a pergunta. ‑ Hã?
‑ Perguntei se eu valho vinte e duas pesetas. O sangue subiu à cabeça de Celestino Ortiz.
‑ Tu vales um império.
‑ E vinte e duas pesetas?
Celestino Ortiz inclinou‑se para a rapariga.
‑ Cobre‑se dos cafés do senhor Martin.
Pelas traseiras do bar passou como que um anjo que tivesse levantado um furacão com as asas.
‑ E porque fazes tu isto pelo senhor Martin?
‑ Porque me apetece e porque gosto muito dele; di‑lo‑ei a todos os que quiserem saber, e ao meu namorado primeiro.
Petrita, com faces avermelhadas, o peito palpitante, a voz rouca, o cabelo em desordem e os olhos cheios de brilho, tinha uma beleza estranha como a de uma leoa recém‑casada.
‑ E ele corresponde‑te?
- Não lho deixo.
Às cinco, o grupo do café da Calle de San Bernardo dissolve‑se e por volta das cinco e meia, ou até antes, já está cada um no seu buraco. Pablo e Roque, cada um em sua casa; o Dr. Francisco e o seu genro, no consultório; Tesifonte, estudando e o Sr. Ramón a ver como se levantam as portas da sua padaria, a sua mina de oiro.
No café, numa mesa um pouco desviada, ficam dois homens, fumando quase em silêncio; um chama‑se Ventura Aguado e é estudante de Notariado.
‑ Dá‑me um cigarro.
‑ Tira.
Martin Marco acende o cigarro.
‑ Chama‑se Purita e é um encanto de mulher, meiga como uma criança, delicada como uma princesa. Que vida asquerosa!
Pura Bartolomé, àquela hora, está a lanchar com um adeleiro rico, num bar de Cuchilleros. Martin lembra‑se das suas últimas palavras:
«‑ Adeus, Martin; já sabes, eu costumo estar na pensão todas as tardes, não tens mais que me chamares ao telefone. Esta tarde não; já estou comprometida com um amigo.
«‑Está bem.
«‑ Adeus, dá‑me um beijo.
«‑Mas, aqui?
«‑ Sim, tonto, as pessoas pensarão que somos marido e mulher.»
Martin Marco fuma o cigarro quase com majestade. Depois respira fundo.
‑ Enfim... Escuta, Ventura, deixa‑me dois duros, hoje ainda não comi.
‑ Mas, homem, assim não se pode viver.
‑ E eu que o diga.
‑ E não encontras nada por aí?
‑ Nada, os dois artigos de colaboração valeram duzentas pesetas com nove por cento de desconto.
‑ Estás arranjado! Bem, toma lá, enquanto eu tiver...! Agora o meu pai anda muito rigoroso. Toma cinco. Que é que vais fazer com dois?
‑ Obrigado; deixa‑me que te convide com o teu dinheiro.
Martin Marco chamou o criado.
‑ Dois cafés.
‑ Três pesetas.
‑ Pague‑se, se faz favor.
O criado meteu a mão no bolso e deu‑lhe o troco: vinte e duas pesetas. Martin Marco e Ventura Aguado são amigos já há algum tempo, bons amigos: foram companheiros de estudos, na Faculdade de Direito, antes da guerra.
‑ Vamos?
‑ Como queiras. Aqui já não fazemos nada.
‑ Bem, a verdade é que eu tão‑pouco tenho que fazer noutro lado. Tu para onde vais?
‑ Não sei, irei dar uma volta por aí para fazer horas. Martin Marco sorriu.
‑ Espera que eu tome um pouco de bicarbonato. Contra as digestões difíceis não há nada melhor que o bicarbonato.
Julían Suárez Sobrón, aliás «a Fotógrafa», de cinquenta e três anos de idade, natural de Vegadeo, província de Oviedo, e José Giménez Figueras, aliás «o Lasca», de quarenta e seis anos de idade, natural de Puerto de Santa Maria, província de Cádiz, estão de mãos dadas, nos subterrâneos da Direcção‑Geral de Segurança, esperando que os mandem para a prisão.
‑ Ai, Pepe, que bem que vinha agora um cafezinho!
‑ Sim, e um bagaço; pede‑o para ver se to dão.
Suárez está mais preocupado que Pepe, «o Lasca»; Giménez Figueras vê‑se que está habituado a estas coisas.
‑ Escuta, porque nos terão aqui?
‑ Não sei. Não terás tu abandonado alguma moça depois de lhe fazeres um filho?
‑ Ai, Pepe, que presença de espírito que tu tens!
‑ Mas, rapaz, vai tudo dar ao mesmo.
‑ Sim, lá isso é verdade. A mim o que mais me dói é não ter podido avisar a minha mamã.
‑ Já começas?
‑ Não, não.
Os dois amigos haviam sido detidos na noite anterior, num bar da Calle de Ventura de la Vega. Os polícias que os foram buscar entraram no bar, olharam um pouco em redor e zás! ei‑los direitos que nem uma bala. Que tipos! Como já devem estar acostumados!
‑ Acompanhem‑nos.
‑ Ai! Porque me detêm? Eu sou um cidadão honrado que não se mete com ninguém e tenho a documentação em ordem.
‑ Muito bem. Tudo isso explicará o senhor quando lho perguntarem. Tire essa flor.
‑ Ai! Porquê? Eu não tenho nada que os acompanhar, não estou a fazer nada de mal.
‑ Não se escandalize, por favor. Olhe para aqui.
O Sr. Suárez olhou. Do bolso do polícia apareceram reflexos prateados das algemas.
Pepe, «o Lasca», já se tinha levantado.
‑ Vamos com estes senhores, Julián, tudo se esclarecerá.
‑ Vamos, vamos, caramba, que modos!
Na Direcção de Segurança não foi necessário preencher fichas, já as tinham; bastou acrescentar uma data e três ou quatro palavras que não puderam ler.
‑ Porque nos detêm?
‑ Não sabe?
‑ Não, eu não sei nada, pensa que devo saber?
‑ Já lho dirão.
‑ Escute, não posso avisar que estou detido?
‑ Amanhã, amanhã.
‑ É que a minha mamã é muito idosa e vai ficar em sobressaltos.
‑ A sua mãe?
‑ Sim, tem setenta e seis anos.
‑ Bem, eu não posso fazer nada. Nem tão‑pouco dizer nada. Amanhã se esclarecem as coisas.
Na cela onde os encerraram ‑ uma casa enorme, quadrada, de tecto baixo, mal iluminada por uma lâmpada de quinze velas protegida por uma armação de arame ‑, ao princípio via‑se mal. Depois, passado um bocado, quando a vista se acostumou, o Sr. Suárez e Pepe, «o Lasca», foram vendo algumas caras conhecidas, maricas pobres, gatunos, cravas de ofício, gente que andava sempre a cair e que nunca levantava a cabeça. ‑ Ai, Pepe, que bem que vinha agora um cafezinho!
Ali dentro cheirava muito mal, um cheiro a ranço, penetrante, que fazia comichão no nariz.
‑ Olá, que cedo que vens hoje. Onde estiveste?
‑ No sítio do costume, a tomar café com os amigos. Dona Visi beija a calva do seu marido.
‑ Se soubesses como fico contente quando vens mais cedo!
‑ Ora, ora! Isso é da idade.
Dona Visi sorri; a pobre da Dona Visi sorri sempre.
‑ Sabes quem vem cá esta tarde?
‑ Alguém que não faz falta. Dona Visi nunca se aborrece.
‑ Não, a minha amiga Montserrat.
‑ Que rica prenda!
‑ Ela é tão boa!
‑ Não te contou mais nenhum milagre desse cura de Bilbau?
‑ Cala‑te, não sejas herege. Porque teimas em dizer essas coisas, se não as sentes?
‑ Ora.
O Sr. Roque está cada dia mais convencido de que a sua mulher é tonta.
‑ Ficas connosco?
‑ Não.
‑ Ai, filho!
A campainha da porta soa, e a amiga da Dona Visi entra na altura em que o papagaio do segundo andar dizia palavrões.
‑ Escuta, Roque, estou que nem posso. Se esse papagaio não se corrige eu denuncio‑o.
‑ Mas, filha, já pensaste na paródia que era quando tu chegasses ao comissariado para denunciar um papagaio?
A criada conduziu Dona Montserrat para a sala.
‑ Vou avisar a senhora. Sente‑se, por favor.
Dona Visi acorreu a saudar a sua amiga, e o Sr. Roque, depois de espreitar pelas cortinas, sentou‑se ao pé da braseira e pegou num baralho de cartas.
‑ Se sai a dama de paus antes de cinco, bom sinal. Se sai o ás, é demasiado; eu já não sou nenhum rapaz.
O Sr. Roque tem as suas regras particulares de cartomancia. A dama de paus saiu em terceiro lugar.
‑ Pobre Lola, o que te espera! Lamento‑te, rapariga! Enfim...
Lola é irmã de Josefa López, uma antiga criada dos senhores de Robles com
quem o Sr. Roque teve alguma coisa, e que agora, já entrada nos anos, foi substituída pela irmã mais nova. Lola está para todo o serviço em casa de Dona Matilde, a pensionista do filho imitador de estrelas.
Dona Visi e Dona Montserrat falam pelos cotovelos. Dona Visi está encantada; na última página do El Querubín Misionero, revista quinzenal, aparece o seu nome e o das suas três filhas.
‑ Vai ver com os seus próprios olhos, para não pensar que são coisas minhas. Roque! Roque!
Do outro extremo da casa, o Sr. Roque responde:
‑ Que é que tu queres?
‑ Dá à rapariga a folha onde vem isso dos chineses. ‑Hã?
Dona Visi comenta para a sua amiga;
‑ Ai, Santo Deus! Estes homens nunca ouvem nada. Levanta a voz e volta a dirigir‑se ao marido.
‑ Que dês à rapariga...! Compreendes?
‑ Sim.
‑ Então dá à rapariga a folha onde vem isso dos chineses!
‑ Que folha?
‑ A dos chineses, homem, a dos chinesinhos das missões.
‑ Não percebo. Que é isso de chineses? Dona Visi sorri para a Dona Montserrat.
‑ É um bom marido, mas nunca presta atenção a nada. Eu vou buscar a folha, não demoro nem meio minuto. Desculpe‑me por um momento.
Dona Visi, ao chegar à casa onde o Sr. Roque fazia as paciências, disse‑lhe:
‑ Não me ouviste?
O Sr. Roque não levantou a vista do baralho.
‑ Não deves estar boa, se pensas que me ia levantar por causa disso dos chineses!
Dona Visi revolveu o cesto da costura, encontrou o número de El Querubín Misionero que procurava, e resmungando em voz baixa voltou para a fria sala de visitas, onde quase não se podia estar.
O cesto da costura, depois de Dona Visi ter lá mexido, ficou aberto, e entre as linhas e a caixa dos botões ‑ uma caixa de pastilhas para a tosse, do tempo da polca ‑ aparecia timidamente outra das revistas de Dona Visi.
O Sr. Roque deitou‑se por cima da cadeira e apanhou‑a.
‑ Lá está este.
Este era o cura bilbaíno dos milagres. O Sr. Roque pôs‑se a ler a revista:
«Rosário Quesada (Jaén), por curar uma irmã sua de uma colite aguda, 5 pesetas.»
«Ramón Hermida (Lugo), por vários favores obtidos na sua actividade comercial, 10 pesetas.»
«Maria Luisa del Valle (Madrid), pelo desaparecimento de um inchaço que tinha numa vista, sem necessidade de ir ao oculista, 5 pesetas.»
«Guadalupe Gutiérrez (Ciudad Real), pela cura de uma criança de dezanove meses duma ferida produzida ao cair de uma varanda, 25 pesetas.»
«Marina López Ortega (Madrid), por amansar um animal doméstico, 5 pesetas.»
«Uma viúva grande devota (Bilbau), por ter encontrado um documento de grande valor que tinha sido perdido por um empregado da casa, 25 pesetas.» O Sr. Roque fica preocupado.
‑ Não venham cá com coisas; isto não é a sério.
Dona Visi sente‑se na obrigação de se desculpar perante a amiga.
‑ A senhora não sente frio? Há dias em que esta casa está gelada.
‑ Não, por amor de Deus, Visitación; aqui está‑se muito bem. Têm uma casa com muito confort, como dizem os ingleses.
‑ Obrigada, Montserrat. É muito amável.
Dona Visi sorriu e começou a procurar o seu nome na lista. Dona Montserrat, alta, parecida com um homem, ossuda, desgraciosa, com bigode, pouco desembaraçada a falar e míope, calou‑se.
Efectivamente, como Dona Visi garantia, na última página do El Querubín Misionero aparecia o seu nome e o das suas três filhas:
«Dona Visitación Leclerc de Moisés, por baptizar dois chinesinhos com os nomes de Ignácio e Francisco Javier, 10 pesetas. A senorita Julita Moisés Leclerc, por baptizar um chinesinho com o nome de Ventura, 5 pesetas. A senorita Visitación Moisés Leclerc, por baptizar um chinesinho com o nome de Manuel, 5 pesetas. A senorita Esperanza Moisés Leclerc, por baptizar um chinesinho com o nome de Agustín, 5 pesetas.»
‑ Então que lhe parece?
Dona Montserrat concorda, obsequiosa.
‑ Tudo isto me parece muito bem. Temos que trabalhar muito.
Assusta só pensar nos milhares de infiéis que ainda há para converter. Os países dos infiéis devem ser autênticos formigueiros.
‑ Também o creio! Que bonito que são os chinesinhos pequenos! Se não nos privássemos de alguma coisa, os pobrezinhos iam direito ao Limbo. Apesar dos nossos pobres esforços, o Limbo deve estar cheio de chineses, não lhe parece?
‑ Sim, sim.
‑ Dá pena só em pensar. É uma maldição a que pesa sobre os chineses! Todos a andar por ali sem saberem o que fazer...
‑ É espantoso!
‑ E os pequeninos, mulher, os que não sabem andar, que têm de estar sempre parados?
‑ É verdade.
‑ Muitas graças temos de dar a Deus por termos nascido espanholas. Se tivéssemos nascido na China, talvez até os nossos filhos fossem para o Limbo sem remissão. Ter filhos para isso! Com o que uma pessoa sofre para os ter!
Dona Visi suspira com ternura.
‑ Pobres filhas, que longe estão do perigo que correram! Ainda bem que nasceram em Espanha, mas veja se nascessem na China! Podia suceder‑lhes o mesmo, não é verdade?
Os vizinhos da falecida Dona Margot estão reunidos em casa do Sr. Ibrahim. Só faltavam Leoncio Maestre, que está preso por ordem do juiz; o vizinho do rés‑do‑chão, D. António Jareno, empregado na Wagons‑Lits, que está de viagem; o do 2.o B, Ignacio Galdácano, que está doido, e o filho da falecida, Julián Suárez, que ninguém sabe onde possa estar. No 1.o A existe uma sociedade artística onde não vive ninguém. Dos restantes não falta nem um; estão todos muito impressionados com o sucedido e concordaram com o proposto pelo Sr. Ibrahim, para terem a oportunidade de trocarem impressões.
Em casa do Sr. Ibrahim, que não era grande, quase não cabiam os convocados, tendo a maior parte ficado de pé, apoiados aos móveis e encostados às paredes.
‑ Senhores ‑ começou o Sr. Ibrahim ‑, tomei a liberdade de lhes pedir que se reunissem aqui, porque neste edifício aconteceu algo que sai dos limites normais.
‑ Graças a Deus ‑ interrompeu Dona Teresa Corrales, a inquilina do 4.o B.
‑ Que a Ele sejam dadas ‑ acrescentou solenemente o Sr. Ibrahim.
‑ Ámen ‑ disseram alguns em voz baixa.
‑ Quando esta noite ‑ prosseguiu o Sr. Ibrahim de Ostolaza ‑ o nosso vizinho Leoncio Maestre, cuja inocência todos desejamos que brilhe, o mais brevemente possível, como a luz do sol...
‑ Não devemos dificultar a acção da justiça! ‑ declarou António Pérez Palenzuela, um senhor que estava empregado nos Sindicatos e que morava no 1.o C. ‑ Devemos evitar dar uma opinião antes de tempo! Tenho o dever de evitar toda a possível coacção ao poder judicial!
‑ Cale‑se, homem ‑ disse‑lhe Camilo Pérez, calista, vizinho do 1.o D. ‑ Deixe o senhor Ibrahim continuar.
‑ Está bem, senhor Ibrahim, faça favor de continuar, eu não desejo interromper a reunião, só quero respeito para as dignas autoridades judiciais e consideração para o seu trabalho em prol de uma ordem...
‑ Psiu...! Psiu...! Deixe continuar! António Pérez Palenzuela calou‑se.
‑ Como dizia, quando esta noite Leoncio Maestre me comunicou a má nova do acidente acontecido a Dona Margot Sobrón de Suárez, que descanse em paz, não tive tempo de solicitar ao nosso bom e particular amigo doutor Manuel Jorquera, aqui presente, que desse um exacto e preciso diagnóstico do estado da nossa vizinha. O doutor Jorquera, com uma presteza que diz muito e bem alto do seu brio profissional, pôs‑se à minha disposição e juntos entrámos no domicílio da vítima.
O Sr. Ibrahim refinou a sua atitude de orador.
‑ Tomo a liberdade de solicitar dos senhores um voto de agradecimento para o ilustre doutor Jorquera, pois ele e o também ilustre doutor Rafael Masasana, cuja modéstia, neste momento, o faz semiesconder‑se atrás do cortinado, nos honram com a sua vizinhança.
‑ Muito bem ‑ disseram ao mesmo tempo Exuperio Estremera, o sacerdote do 4.o C, e Lorenzo Sogueiro, o proprietário do bar El Fonsagradino.
Os olhares de aplauso dos circunstantes iam de um médico a outro; aquilo assemelhava‑se muito a uma corrida de touros, quando o matador que se sai bem dá a volta à arena levando consigo o companheiro que teve menos sorte e não foi tão feliz.
‑ Pois bem, meus senhores ‑ exclamou o Sr. Ibrahim ‑, quando pude ver que os auxílios da ciência eram ineficazes ante o monstruoso crime perpetrado, só tive duas preocupações, que, como crente, a Deus confiei: que nenhum de nós (e rogo ao meu caro amigo senhor Pérez Palenzuela que não veja nas minhas palavras a mais ligeira sombra de tentativa de coacção sobre alguém), que nenhum de nós, dizia, se visse envolvido neste feio e desonroso caso, e que à Dona Margot não lhe faltassem as honras fúnebres que todos, quando chegasse o momento, desejaríamos para nós próprios, para os nossos parentes e para os nossos amigos. Fidel Utrera, o praticante do rés‑do‑chão A, que possuía muita vida, por um pouco dizia «Bravo!»; já o tinha na ponta da língua, mas por sorte conseguiu fazer marcha‑atrás.
‑ Portanto proponho, amáveis vizinhos, que com a vossa presença honreis a minha humilde casa...
Dona Juana Entrena, viúva de Sisemón, a inquilina do 1.o B, olhou para o Sr. Ibrahim. Que maneira de se expressar! Que beleza! Que precisão! Parecia um livro aberto! Dona Juana, ao dar com o olhar do Sr. Ostolaza, virou o dela para Francisco López, o proprietário do cabeleireiro de senhoras Cristi and Quico, instalado no rés‑do‑chão C, e que tantas vezes foi seu confidente e a consolou. Os dois olhares, ao cruzarem‑se, tiveram um breve diálogo.
‑ Eh? Que tal?
‑ Sublime, minha senhora!
O Sr. Ibrahim continuava impassível.
‑...Que nos encarreguemos, individualmente, de encomendar as nossas orações a Dona Margot, e colectivamente de custear o funeral.
‑ Estou de acordo ‑ disse o Sr. José Lecinema, o proprietário do 2.o D.
‑ Completamente de acordo ‑ corroborou o Sr. José Mana Olvera, capitão da Intendência que vivia no 1.o A.
‑ Todos os presentes pensam o mesmo?
Arturo Ricote, empregado no Banco Hispano‑Americano e vizinho do 4.o D, afirmou:
‑ Sim, senhor.
‑ Sim, sim ‑ concordou Júlio Maluenda, o marinheiro reformado do 2.o C, que tinha uma casa que parecia um ferro‑velho, cheia de mapas e de maquetas de barcos.
‑ Sem dúvida alguma que o senhor Ostolaza tem razão; devemos custear o funeral da nossa vizinha ‑ alvitrou Carlos Luque, comerciante, inquilino do 1.o D.
‑ Por mim... o que quiserem, tudo me parece bem.
Pedro Pablo Tauste, o dono da oficina de reparações de calçado La Clínica del Chapín, não queria remar contra a maré.
‑ É uma ideia oportuna e plausível ‑ admitiu Fernando Cazuela, o procurador dos tribunais, que na noite do crime, quando todos os vizinhos procuravam o criminoso por ordem do Sr. Ibrahim, se encontrou com o amigo da sua mulher que estava escondido no cesto da roupa suja.
‑ O mesmo digo eu ‑ terminou Luis Noalejo, representante em Madrid das Fiações Viúva e Filhos de Casimiro Pons, e que vive no 1.o C.
‑ Muito obrigado, meus senhores. Vejo que estamos todos de acordo; todos falámos e expressámos o nosso coincidente ponto de vista. Recolho a vossa amável adesão e ponho‑a nas mãos do presbítero padre Exuperio Estremera, nosso vizinho, para que organize todos os actos de acordo com os seus sólidos conhecimentos de canonista.
O padre Exuperio fez um gesto admirável.
‑ Aceito o vosso encargo.
A coisa tinha chegado ao fim e a reunião começou a dissolver‑se pouco a pouco. Alguns vizinhos tinham que fazer; outros pensavam que quem tinha que fazer era, provavelmente, o Sr. Ibrahim, e outros porque estavam cansados de estar uma hora de pé. Gumersindo López, empregado na Campsa e vizinho do rés‑do‑chão C, o único assistente que não falara, ia pensando à medida que descia as escadas:
‑ E para isto pedi eu licença no escritório!
Dona Matilde, de regresso da leitaria de Dona Ramona, fala com a criada.
‑ Amanhã, Lola, para o meio‑dia traga‑me fígado. O senhor Tesifonte diz que é muito saudável.
O Sr. Tesifonte é o oráculo de Dona Matilde. E é também o seu hóspede.
‑ Um fígado que seja tenro para o poder fazer com os rins, com um pouco de vinho e cebolinha picada.
Lola diz a tudo que sim; depois, no mercado, compra o primeiro que encontra e do que lhe apetece.
Seoane sai de sua casa. Todas as tardes, às seis e meia, começa a tocar violino no café de Dona Rosa. A sua mulher fica na cozinha a coser meias e camisolas. O casal vive numa cave na Calle de Ruiz, húmida e pouco saudável, e pela qual pagam quinze duros; pelo menos está a um passo do café e Seoane não tem de gastar nada em eléctricos.
‑ Adeus, Sonsoles, até logo.
A mulher nem levanta a vista da costura.
‑ Adeus, Alfonso, dá‑me um beijo.
Sonsoles sofre da vista, tem as pálpebras avermelhadas; parece que está sempre a chorar. Para a pobre, Madrid não lhe deu resultado. Quando casou era formosa, gorda, até dava gosto vê‑la, mas agora, e apesar de ainda não ser velha, estava muito acabada. Saíram‑lhe mal os cálculos, pensou que em Madrid levava uma vida regalada, casou com um madrileno e só agora, que as coisas já não têm remédio, percebeu que se enganara. Na sua terra, em Navarredondilla, província de Ávila, era uma senorita e comia até se fartar; em Madrid era uma desditosa e muitos dias ia para a cama sem jantar.
Macario e a noiva, muito agarradinhos pela mão, estão sentados num banco na pocilga da Sr.a Fructuosa, tia de Matildita e porteira na Calle de Fernando VI.
‑ Até sempre...
Matildita e Macario falam em surdina.
‑ Adeus, meu passarinho; vou trabalhar.
‑ Adeus, meu amor, até amanhã. Estarei todo o tempo a pensar em ti. Macario aperta demoradamente a mão da sua noiva e levanta‑se; sente um tremor correr‑lhe na espinha.
‑ Adeus, Senhora Fructuosa, muito obrigado.
‑ Adeus, filho, de nada.
Macario é um rapaz muito fino que todos os dias agradece à Sr.a Fructuosa. Matildita tem o cabelo como uma maçaroca e é um pouco curta de vista. Pequenina, graciosa, ainda que feiazita, quando pode dá lições de piano. Ensina de memória tangos às meninas, porque dá muito resultado.
Em casa ajuda a mãe e a sua irmã Juaníta, que bordam para fora.
Matildita tem trinta e nove anos.
As filhas da Dona Visi e do Sr. Roque, como os leitores já sabem de El Querubín Misionero, são três: três jovens, bem parecidas, um pouco levantadas.
A mais velha chama‑se Julita, tem vinte e dois anos e usa o cabelo louro pintado. Com a madeixa ondulada, parece Jean Harlow.
A do meio chama‑se Visitación, como a mãe, tem vinte anos, e é morena, de olhos profundos e sonhadores.
A mais nova chama‑se Esperanza. Tem noivo, que entra em casa e que fala de política com o pai. Esperanza está já a preparar o seu enxoval e acabou de fazer dezanove anos.
Julita, a mais velha, anda muito enamorada de um estudante de notário que a traz bem agarrada.
O namorado chama‑se Ventura Aguado Sans, e já há sete anos que se prepara para o notariado sem nenhum êxito.
‑ Mas, homem, apresenta‑te nos Registos ‑ costuma dizer‑lhe o pai, lavrador de Riudecols em Tarragona.
‑ Não, papá, não há possibilidades.
‑ Mas no notariado já viste que não consegues nada, nem por milagre.
‑ Não consigo nada? É só eu querer! O que acontece é que para não ficar em Madrid ou em Barcelona, não merece a pena. Prefiro retirar‑me. No notariado o prestígio é um factor muito importante, papá.
‑ Sim, mas... E Valença? E Sevilha? E Saragoça? Também devem ser boas.
‑ Não, papá, estás a pensar erradamente. Eu sei o que pretendo. Se queres, deixo‑o...
‑ Não, homem, não, não faças as coisas no ar. Continua. Enfim, já que começaste! Tu disso sabes mais que eu.
‑ Obrigado, papá, és um homem inteligente. Que sorte a minha em ser teu filho.
‑ É possível. Outro pai já te tinha mandado à fava há muito tempo. Mas eu penso: se algum dia chegas a notário!
‑ Papá, Zamora não se conquistou numa hora.
‑ Não, filho, mas vê, em sete anos e tal já houve tempo de erguer uma nova Zamora.
Ventura sorri.
‑ Chegarei a ser notário em Madrid, disso não tenhas dúvidas, papá. Um lucky!
‑ Hã?
‑ Um cigarro fraco?
‑ Ui, ui! Não, deixa, prefiro dos meus.
O Sr. Ventura Aguado Despujols pensa que o seu filho, fumando cigarros fracos como uma senorita, nunca chegará a ser notário. Todos os notários que conhece, gente séria, grave, circunspecta, fumam tabaco forte.
‑ Já sabes o Castán de cor?
‑ Não, de cor não.
‑ E o Código?
‑ Isso sim, pergunta‑me o que quiseres e donde quiseres.
‑ Não, era só por curiosidade.
Ventura Aguado Sans faz o que quer de seu pai. Angustia‑o com isso de «já saber o que pretende» e com «o ele estar a pensar erradamente».
A segunda das filhas de Dona Visi, Visitación, acaba de se zangar com o namorado; falavam‑se já há um ano. O seu antigo namorado chamava‑se Manuel Cordel Esteban e estudava Medicina. Agora, faz já uma semana que a rapariga sai com outro rapaz, também estudante de Medicina. Rei morto, rei posto.
Visi tem uma profunda intuição para o amor. No primeiro dia consentiu que o seu novo companheiro lhe agarrasse na mão, com certa calma, durante a despedida à porta de sua casa; tinham ido lanchar a Garibay. No segundo, deixou que ele lhe desse o braço para atravessar as ruas; foram dançar e tomar uns aperitivos em Casablanca. No terceiro, andou todo o dia de mão dada; foram ouvir música e olhar‑se, silenciosos, para o Café Maria Cristina.
‑ O clássico, quando um homem e uma mulher começam a gostar um do outro ‑ atreveu‑se a dizer, depois de muito pensar.
No quarto dia, a rapariga não ofereceu resistência quando ele lhe deu o braço; fazia que não se apercebia.
‑ Não, ao cinema não. Amanhã.
No quinto, no cinema, ele beijou‑a furtivamente numa das mãos. No sexto, no Retiro, com um frio espantoso, ela fingiu uma desculpa, desculpa da mulher que tem o seu fraco.
‑ Não, não, por favor, deixa‑me, peço‑te, não trouxe o bâton, podem ver‑nos...
Estava sufocada e as aletas do nariz tremiam ao respirar. Custou‑lhe muito negar‑se, mas pensou que a coisa ficava melhor assim, mais elegante.
No sétimo, num camarote do Cine Bilbao, ele, agarrando‑a pela cintura, murmurou‑lhe ao ouvido:
‑ Estamos sós, Visi... querida Visi... minha vida...
Ela deixou cair a cabeça sobre o seu ombro e falou num fio de voz, num fiozinho de voz muito fraquinho, cheio de emoção.
‑ Sim, Alfredo, que feliz que eu sou!
Ao Alfredo Angulo Echevarria as fontes tremeram com violência, como se tivesse febre, e o coração começou a bater desordenadamente.
‑ As cápsulas supra‑renais. Aí estão as cápsulas supra‑renais soltando as suas descargas de adrenalina.
A terceira das raparigas, Esperanza, é como uma andorinha ligeira e tímida como uma pomba. Tem as suas coisas, mas sabe que lhe fica bem o papel de futura esposa. Fala pouco, com voz suave e diz a toda a gente:
‑ O que quiseres, eu faço o que quiseres.
O seu noivo, Agustín Rodríguez Silva, tem quinze anos de diferença e é o proprietário de uma drogaria na Calle Mayor.
O pai da rapariga está encantado: o seu futuro genro parece‑lhe um homem com futuro. A mãe também está.
As suas amigas olham‑na com certa inveja. Que mulher de sorte!
A Dona Célia está a engomar uns lençóis quando toca o telefone.
‑ Diga?
‑ Dona Célia? É a senhora? Sou o Francisco.
‑ Olá, senhor Francisco! Que me conta de novo?
‑ Pouca coisa. Não sai?
‑ Não, não me moverei daqui, já sabe.
‑ Bem, eu irei aí por volta das nove horas.
‑ Como quiser, o senhor manda. Quer que chame a...?
‑ Não, não chame ninguém.
‑ Bem, bem.
Dona Célia desligou o telefone, deu uns estalos com os dedos, e meteu‑se na cozinha para beber um cálice de anis. Havia dias em que tudo corria bem. O mal é que também apareciam outros em que as coisas se torciam e não se vendia nada.
Dona Ramona Bragado, quando Dona Matilde e Dona Asunción saíram da leitaria, vestiu o casaco e foi à Calle de la Madera, onde tratava de convencer uma rapariga empregada como empacotadora numa tipografia.
‑ Victorita está?
‑ Sim, aí a tem.
Victorita, detrás de uma mesa, fazia uns embrulhos de livros.
‑ Olá, Victorita! Queres passar depois pela leitaria? Vão lá as minhas sobrinhas jogar à bisca e creio que passaremos um bocado divertido.
Victorita corou.
‑ Está bem; como a senhora quiser.
À Victorita pouco faltou para chorar; sabia muito bem no que se metia. Victorita andava pelos seus dezoito anos, mas estava muito desenvolvida e parecia uma mulher de vinte ou vinte e dois. A rapariga tinha um namorado, regressado da tropa por estar tuberculoso; o pobre não podia trabalhar e passava todo o dia na cama, sem forças para nada, esperando que Victorita fosse vê‑lo, depois de sair do trabalho.
‑ Como te encontras?
‑ Melhor.
Victorita, quando a mãe do namorado saía do quarto, aproximava‑se da cama e beijava‑o.
‑ Não me beijes que posso pegar‑te isto.
‑ Não me importa, Paço. Não gostas de beijar‑me?
‑ Sim, mulher, sim.
‑ Então o resto não importa, eu por ti seria capaz de tudo.
Um dia, em que Victorita estava pálida e cansada, Paço perguntou‑lhe:
‑ Que é que tens?
‑ Nada, estive a pensar.
‑ A pensar em quê?
‑ A pensar que isto passava‑te com remédios e comendo até te fartares.
‑ Pode ser, mas... já vês!
‑ Eu posso arranjar dinheiro. ‑Tu?
Victorita falou com voz roufenha, como se estivesse embriagada:
‑ Eu, sim. Uma mulher nova, por feia que seja, sempre vale algum dinheiro.
‑ Que dizes?
Victorita estava muito tranquila.
‑ O que ouves. Se te curasses juntava‑me com o primeiro tipo rico que me quisesse.
Paço sentiu invadi‑lo uma onda de calor, e as pálpebras tremeram um pouco. Victorita ficou um tanto surpreendida quando Paço disse: ‑ Bem.
Mas, no fundo, Victorita ainda lhe quis um pouco mais.
No café, Dona Rosa estava pior que uma barata. A discussão que tinha armado com o López por causa das garrafas de licor havia sido terrível; broncas como aquela não era costume verem‑se.
‑ Acalme‑se, minha senhora, eu pagarei as garrafas.
‑ Pois claro que paga! Era o que faltava que eu ainda tivesse que desembolsar. Mas não é só isso. E o escândalo que se armou? E o susto que os clientes apanharam? E o mau efeito que produziu tudo aquilo no chão? Hem? Como se paga isso? Isso quem é que mo paga? Besta! O que tu és é uma besta, um vermelho indecente e um chulo! A culpa tenho‑a eu por não os denunciar a todos! Não se pode ser boa!
Onde tens os olhos? Em que é que estavas a pensar? Vocês são como os bois! Tu e todos! Não sabem onde põem as patas! Consorcio López, branco como a cal, procurava tranquilizá‑la.
‑ Foi uma desgraça, minha senhora; foi sem querer.
‑ Claro, homem! Era o que faltava se fosse por aposta! Sim, só faltava isso. Que no meu café e nas minhas barbas um merda dum encarregado, que é o que és, desatasse a partir as coisas só porque lhe apetecia. Não, muito embora isso ainda possa vir a suceder! Isso sei eu! Mas vocês não hão‑de ver! No dia em que me farte, vocês vão todos para a cadeia, uns atrás dos outros! E tu serás o primeiro!
Em plena questão, com todo o café em silêncio e atento aos gritos da proprietária, entrou uma senhora alta e um tanto gorda, não muito jovem mas bem conservada, ainda bonita, um pouco ostentosa, que se sentou a uma mesa em frente do balcão. Ao vê‑la, López perdeu a pouca calma que ainda conservava: Marujita, com dez anos mais, tinha‑se tornado numa esplêndida mulher, pletórica, cheia de saúde e de poderio. Na rua, qualquer que a visse teria diagnosticado que era uma mulher rica da província, bem casada, bem vestida e bem alimentada, acostumada a mandar e a fazer sempre a sua santa vontade.
Marujita chamou o criado.
‑ Traga‑me um café.
‑ Com leite?
‑ Não, só café. Quem é a senhora que grita?
‑ A senhora daqui; quero dizer, a patroa.
‑ Diga‑lhe, por favor, que quero falar‑lhe. Ao pobre criado tremia‑lhe a bandeja.
‑ Mas, tem de ser mesmo agora?
‑ Sim. Diga‑lhe que venha, que eu quero falar‑lhe.
O criado, com o gesto de um réu que caminha para o garrote, aproximou‑se do balcão.
‑ López, um café. A senhora dá‑me licença? Dona Rosa voltou‑se.
‑ Que é que queres!
‑ Eu, nada, aquela senhora é que a chama.
‑ Qual?
‑ Aquela do anel: aquela que olha para aqui.
‑ Chama‑me a mim?
‑ Sim, a proprietária, disse‑me: não sei o que quererá, parece uma senhora importante, uma senhora de posses. Disse‑me: diga à proprietária que faça o favor de aqui chegar.
Dona Rosa, com a testa franzida, aproximou‑se da mesa de Marujita. López passou com a mão pelos olhos.
‑ Boa tarde. Procurava‑me?
‑ A senhora é a proprietária?
‑ Para a servir.
‑ Sim, era a si que procurava. Deixe que me apresente: sou a senhora De Gutiérrez, Maria Ranero de Gutiérrez, mas tome um cartão meu, tem aí a minha direcção. Eu e o meu marido vivemos em Tomelloso, na província de Ciudad Real, onde temos uma fazenda, umas quintarolas das quais vivemos.
‑ Sim, sim.
‑ Mas já nos fartámos da província, agora queremos liquidar tudo aquilo e vir viver para Madrid. Aquilo, desde a guerra, pôs‑se muito mau, sempre há invejas, pessoas que nos querem mal, a senhora sabe.
‑ Sim, sim.
‑ Pois claro. E além disso os miúdos já são maiorzinhos, depois vêm os estudos, as carreiras, o costume: e se não vierem connosco, corremos o risco de os perder para toda a vida.
‑ Claro, claro. Têm muitos filhos?
A senhora De Gutiérrez era um pouco mentirosa.
‑ Sim, já temos cinco. Os dois maiores vão fazer dez anos; já estão uns homens. Estes gémeos são do meu outro matrimónio, pois fiquei viúva muito jovem. Veja‑os ‑ e estendeu‑lhe uma pequena fotografia.
À Dona Rosa não lhe eram estranhas as caras daqueles miúdos com os fatos da primeira comunhão, mas não se lembrava de onde as tinha visto já.
‑ E, como é natural, como viemos a Madrid queremos, pouco mais ou menos, ver o que há.
‑ Pois, pois.
Dona Rosa foi‑se acalmando; já não parecia a mesma de uns minutos antes.
‑ O meu marido tinha pensado que não seria mau este negócio, um café; trabalhando, parece que se tira algum proveito.
‑ Ha?
‑ Sim, sim, estamos a pensar em comprar um café, se o patrão concordar.
‑ Eu não vendo.
‑ Eu também não lhe propus nada. O que eu disse foi o que pensamos. Meu marido agora está doente, vai ser operado a uma fístula no ânus, mas queremos estar algum tempo em Madrid. Logo que esteja curado virá falar consigo; o dinheiro é dos dois, mas ele é que resolve tudo. Entretanto a senhora, se quiser, vai pensando. Nisto não há nenhum compromisso, ninguém assinou nada.
Por todas as mesas correu a voz de que aquela senhora queria comprar o café.
‑ Qual?
‑ Aquela.
‑ Parece uma mulher rica.
‑ Claro, para comprar um café não deve estar a viver de uma pensão. Quando a notícia chegou ao balcão, López, que já estava agonizante, partiu
outra garrafa. Dona Rosa voltou‑se, com cadeira e tudo. A sua voz troou como um canhão:
‑ Animal, és um animal!
Marujita aproveitou a ocasião para sorrir um pouco para López. Fê‑lo de uma maneira tão discreta que ninguém percebeu; provavelmente nem López.
‑ Olhe, como querem um café, a senhora e o seu esposo já podem ver o ganho.
‑ Partem muito?
‑ Tudo que lhes dê na gana. Para mim fazem‑no por aposta. A maldita inveja come‑os vivos...
Martin fala com a Nati Robles, sua companheira dos tempos da Faculdade. Encontrou‑a nas ruas de San Luis. Martin olhava para a montra de uma joalharia e Nati estava lá dentro com o fim de lhe arranjarem o fecho da pulseira. Nati está mudada, parece outra mulher. Aquela rapariga magrizela, desleixada, de sapatos rasos e sem se pintar, que conhecera da Faculdade, era agora uma jovem esbelta, elegante, bem vestida e bem calçada, com arte e coqueteria. Foi ela que o reconheceu.
‑ Marco!
Martin olhou‑a temeroso. Martin olha com certo receio todas as caras que lhe parecem conhecidas, mas que não consegue logo identificar. O homem pensa que lhe vão dizer coisas desagradáveis; se comesse melhor talvez não lhe acontecesse isso.
‑ Sou a Robles, não te lembras? Nati Robles. Martin ficou estupefacto.
‑Tu?
‑ Sim, filho, eu. Martin sentiu‑se invadido por uma enorme alegria.
‑ Que fantástica, Nati! Como estás? Pareces uma duquesa! Nati riu‑se.
‑ Pois, meu caro, não o sou; não é porque não me apeteça, mas já vês, solteira e sem compromisso, como sempre! Estás com pressa?
Martin titubeou um momento.
‑ Não, sou um homem que não merece a pena de andar com pressa. Nati deu‑lhe o braço.
‑ Continuas tonto!
Martin sobressaltou‑se um pouco e tentou esquivar‑se.
‑ Vão ver‑nos.
Nati deu uma gargalhada, uma gargalhada que fez as pessoas voltarem a cabeça. Nati tinha uma voz belíssima, alta, musical, cheia de alegria, uma voz que parecia um pequeno sino.
‑ Perdoa‑me, rapaz, não sabia que estavas comprometido.
Nati empurrou Martin com o ombro mas não o largou; pelo contrário, puxou‑o mais.
‑ Tu estás sempre na mesma.
‑ Não, Nati, estou pior.
A rapariga começou a andar.
‑ Vem, não sejas palerma. Parece‑me que o que precisavas é que te espevitassem. Continuas a fazer versos?
Martin sentiu um pouco de vergonha de continuar a fazer versos.
‑ Sim, parece‑me que isto já não tem grande remédio.
‑ Também julgo! Nati voltou a rir‑se.
‑ Tu és uma mistura de desavergonhado, de volúvel, de tímido e de trabalhador.
‑ Não te compreendo.
‑ Eu também não. Anda, vamos entrar em qualquer lado, temos de celebrar este encontro.
‑ Como queiras.
Nati e Martin entraram no Café Gran Via, que está cheio de espelhos. A rapariga, com salto alto, era um pouco mais alta que ele.
‑ Sentamo‑nos aqui?
‑ Está bem, onde quiseres. Nati olhou‑o nos olhos.
‑ Que galante! Parece que sou a tua última conquista. Nati cheirava maravilhosamente bem...
Na Calle de Santa Engracia, à esquerda, já próximo da Praça de Chamberí, é onde a Dona Célia Vecino, viúva de Cortês, tem a sua casa.
O seu marido, Obdulio Cortês López, comerciante, tinha morrido depois da guerra, em consequência, segundo dizia o ABC, dos padecimentos sofridos durante o domínio vermelho.
Obdulio tinha sido toda a vida um homem exemplar, recto, honrado, de intocável conduta, o que se chama um modelo de cavalheiro. Foi sempre muito dedicado aos pombos‑correios, e quando morreu, uma revista consagrada a estas coisas tributou‑lhe sentida e carinhosa homenagem: uma foto dele, ainda novo, com a seguinte legenda: «Don Obdulio Cortês López, ilustre prócero da columbofilia hispânica, autor do hino Voa à tua vontade, pomba da paz, ex‑presidente da Real Sociedade Columbófila de Almería, fundador e director da grande revista que foi Pombos e Pombais (boletim mensal com informações de todo o mundo), a quem rendemos o mais fervoroso tributo de admiração com a nossa saudade.» A foto estava rodeada com uma tarja negra. A homenagem fora escrita por Leonardo Cascajo, professor oficial.
A sua mulher, a pobre, para subsistir aluga a uns amigos de confiança uns quartinhos ridículos, de estilo cubista e pintados de cor laranja e azul, onde o não muito abundante conforto é suprido, até onde pode ser, com boa vontade, com discrição e com muito desejo de agradar e servir.
No quarto da frente, que é o melhor, reservado para os melhores clientes, Obdulio, de um doirado quadro, com o bigode levantado e o olhar doce, protege, qual malévolo e velhaco deus do amor, a clandestinidade que permite a sua viúva comer.
A casa de Dona Célia é uma casa onde a ternura transparece por todos os poros; uma ternura, às vezes, um pouco amarga, em certas ocasiões talvez até um tanto venenosa. Dona Célia recolheu dois miúdos pequenos, filhos de uma sobrinha que morreu de sensaborias e desgostos, quatro ou cinco meses atrás. Os miúdos, sempre que chega algum casal, gritam jubilosos pelo corredor: «Viva, viva, chegou outro senhor!» Os anjinhos sabem que entrar um senhor com uma jovem pelo braço representa comer quente no outro dia.
Dona Célia, no primeiro dia em que o Ventura apareceu lá em casa com a namorada, disse‑lhe:
‑ Escute bem, a única coisa que peço é decência, muita decência, porque há crianças. Por amor de Deus, não me ponha em sobressaltos.
‑ Esteja descansada, minha senhora, sou um cavalheiro.
Ventura e Julita costumavam entrar para o quarto às três e meia ou quatro e não saíam até que não dessem as oito horas. Não se ouvia nem falar; assim dava gosto.
No primeiro dia, Julita esteve muito menos conturbada que de costume; tudo via e tudo comentava.
‑ Que lâmpada horrorosa, repara, parece um irrigador. Ventura não encontrava nenhuma semelhança.
‑ Não, mulher, não parece um irrigador. Anda, não sejas indolente, senta‑te aqui ao meu lado.
‑ Está bem.
Obdulio, do seu retrato, olhava para o casal, quase com severidade.
‑ Quem será?
‑ Eu sei lá. Tem cara de morto, deve estar já morto.
Julita continuava a passear pelo quarto. Para aquilo os nervos faziam‑na andar às voltas de um lado para o outro; noutra coisa, não se notavam. , ‑ A ninguém ocorre pôr flores de cretone! Espetam‑nas na serradura porque pensam que ficam muito bonitas, não é verdade?
‑ Sim, pode ser.
Julita nem por um milagre parava. , ‑Olha, olha, esse cordeirinho é aleijado. Pobre!
Efectivamente, ao cordeirinho bordado no almofadão do divã faltava‑lhe um olho.
Ventura pôs‑se sério: aquilo começava a ser uma história que nunca mais acabava.
‑ Queres estar quieta?
‑ Ai, filho, que brusco que estás!
Por dentro, Julita pensava: «O encanto que tem chegar passo a passo ao amor!»
Julita era muito artista, muito mais artista, sem dúvida, que o seu namorado.
Marujita Ranero, assim que saiu do café, entrou numa padaria e telefonou para o pai dos gémeos.
‑ Agradei‑te?
‑ Sim. Mas, Maruja, estás louca!
‑ Não, porque devia de estar! Fui lá para que me visses, não queria que esta noite a coisa te apanhasse de surpresa e que sofresses uma desilusão.
‑ Sim, sim...
‑ Escuta, ainda te agrado mesmo?
‑ Mais do que dantes, juro‑te, e dantes gostava mais de ti do que de pão frito.
‑ Escuta, se eu pudesse casavas‑te comigo?
‑ Mulher...
‑ Escuta, eu deste não tive filhos.
‑ E ele?
‑ Ele tem um cancro, o médico disse‑me que não tinha cura.
‑ Sim, sim. Ouve.
‑ Diz.
‑ Pensas realmente comprar o café?
‑ Se tu quiseres, sim. Desde que possamos casar. Quere‑lo como prenda de casamento?
‑ Caramba, mulher!
‑ Sim, meu caro, aprendi muito. Além disso sou rica e faço o que me apetece. Ele deixa‑me tudo, mostrou‑me o testamento. Dentro de uns meses não me deixo enforcar por cinco milhões.
‑ O quê?
‑ Que dentro de uns meses não me deixo enforcar por cinco milhões!
‑ Sim, sim...
‑ Tens contigo as fotos dos bebés?
‑ Sim.
‑ E as minhas?
‑ Não; as tuas, não. Quando te casaste queimei‑as, pareceu‑me melhor.
‑ Ora tu! Esta noite dar‑te‑ei algumas. A que horas irás, pouco mais ou menos?
‑ Assim que fecharmos, aí por volta da uma e meia ou duas menos um quarto.
‑ Não te demores, vai logo para lá.
‑ Está bem.
‑ Lembras‑te onde é?
‑ Sim. La Colladense, na Calle de la Magdalena.
‑ isso mesmo, quarto número três.
‑ Olha, tenho de desligar porque a besta aproxima‑se.
‑ Adeus, até logo. Queres um beijo?
‑ Sim.
‑ Toma, toma todos, um não, mil milhões...
A pobre padeira estava um pouco assustada. Quando Marujita se despediu e lhe agradeceu, a mulher nem pôde responder.
Dona Montserrat deu a visita por terminada.
‑ Adeus, amiga Visitación, por mim estaria aqui todo o santo dia, a escutar a sua agradável conversa.
‑ Muito obrigada.
‑ Não é imposturice, é a pura verdade. O que acontece é que hoje não quero perder a Reserva.
‑ Sim, claro!
‑ Sabe, já faltei ontem.
‑ Eu estou feita uma laica. Enfim, que Deus não me castigue! Já na porta, Dona Visitación pensa dizer a Dona Montserrat:
«Que acha se nos tratássemos por tu? Creio que devíamos fazê‑lo. Não te parece?»
Dona Montserrat é muito simpática e certamente diria que sim. Dona Visitación pensa dizer‑lhe ainda:
«E se nos tratarmos por tu, será melhor que eu te chame Monse e que tu me chames Visi, não achas?»
Dona Montserrat também concordaria. É muito compreensiva e, bem visto, as duas amigas já são quase veteranas. Mas, o que as coisas são! Com a porta aberta, Dona Visitación só se atreveu a dizer:
‑ Adeus amiga, e não ande tão fugida.
‑ Não, não, agora vou ver se apareço com mais frequência.
‑ Oxalá seja certo!
‑ Sim. Oiça, Visitación, não se esqueça de que me prometeu dois bocados de sabão Lagarto, a um preço jeitoso.
‑ Não, não se preocupe.
Dona Montserrat, que entrou em casa de Dona Visi debaixo do mesmo signo, saiu na altura em que o papagaio do segundo dizia disparates.
‑ Que horror! Que é isto?
‑ Não me fale disso, filha, é um papagaio que é mesmo um diabo.
‑ Que vergonha! Não deviam permitir isso!
‑ Tem razão. Eu já não sei o que fazer.
Rabelais é um papagaio insolente e sem princípios, um papagaio desnaturado que ninguém mete na ordem. Às vezes está uma temporada mais tranquilo, dizendo «chocolate» e «Portugal» e outras palavras próprias de um papagaio educado, mas como é um inconsciente, quando menos se espera e quase sempre quando a dona está com uma visita de cerimónia, desata a dizer palavrões com a sua voz roufenha de velha solteirona. Angelito, que é um rapaz muito piedoso, já tentou levá‑lo ao bom caminho, mas não conseguiu nada: os seus esforços foram em vão. Depois desanimou e pouco a pouco foi deixando‑o; Rabelais, sem preceptor, passou uns quinze dias a dizer tais coisas que faziam corar. De tal forma que até o senhor do 1.o andar, Pio Navaz Pérez, fiscal dos caminhos‑de‑ferro, chamou a atenção da dona dele.
‑ Escute, minha senhora, o seu papagaio já está a passar das marcas. Eu não tinha a intenção de dizer nada, mas a verdade é que não há direito. Tenho em casa uma filha e não está bem que oiça estas coisas. Vamos lá!
‑ Sim, Senhor Pio, o senhor tem mais razão que um santo. Fique descansado que vou tratar do caso. Este Rabelais é incorrigível!
Alfredo Angulo Echevarría diz à sua tia, Dona Lolita Echevarría de Cazuela:
‑ Visi é um encanto de rapariga, verá. Uma rapariga moderna, com muito bom tom, inteligente, bonita, enfim, tudo. Creio que gosto muito dela.
A sua tia Lolita parece distraída. Alfredo suspeita que ela não está a ligar nada ao caso.
‑ Parece‑me, tia, que não te importa nada disto que te estou a contar.
‑ Sim, sim, tonto! Porque não me havia de importar?
Depois, a senhora De Cazuela começou a torcer as mãos, a fazer gestos estranhos e acabou por desatar num pranto violento, dramático, aparatoso. Alfredo assustou‑se.
‑ Que te aconteceu?
‑ Nada, nada, deixa‑me! Alfredo tratou de a consolar.
‑ Mas, tia, que tens? Disse alguma coisa que não devia?
‑ Não, não, deixa‑me, deixa‑me chorar. Alfredo quis animá‑la com uma graça.
‑ Vamos, tia, não sejas histérica, já não tens dezoito anos. Ainda vão pensar que tens contrariedades amorosas...
Nunca o tivesse dito. A senhora De Cazuela empalideceu, os olhos tornaram‑se brancos e pum!, caiu de bruços no chão. O tio Fernando não se encontrava em casa; estava numa reunião com todos os vizinhos porque na noite anterior tinha havido um crime no prédio e queriam trocar umas impressões e chegar a um acordo. Alfredo sentou a tia numa cadeira e deitou‑lhe um pouco de água na cara; logo que ela se recompôs, Alfredo disse às criadas que preparassem uma chávena de tília.
Quando Dona Lolita pôde falar, olhou para Alfredo e disse‑lhe, numa voz lenta e atabalhoada:
‑ Sabes quem me compraria o cesto da roupa suja? Alfredo estranhou um pouco a pergunta.
‑ Não sei, qualquer trapeiro.
‑ Se te encarregares que ele saia de casa, ofereço‑to; eu não quero nem vê‑lo. O que te derem é para ti.
‑ Está bem.
Alfredo ficou um pouco preocupado. Quando o tio chegou, chamou‑o à parte e disse‑lhe:
‑ Escute, tio Fernando, creio que deve levar a tia ao médico, parece‑me que está com uma grande debilidade nervosa. Além disso, tem manias; disse‑me que levasse daqui o cesto da roupa suja, porque não o pode nem ver.
Fernando Cazuela não se perturbou, ficou na mesma. Alfredo, vendo‑o tão tranquilo, pensou que o melhor seria não se meter na vida deles.
«Olha ‑ disse a si próprio ‑, se enlouquecer, que enlouqueça. Eu já disse o que tinha a dizer; se não me fizerem caso, pior para eles. Depois é que vêm as lamentações e o levar as mãos à cabeça.»
A carta está sobre a mesa. O papel tem um timbre que diz: «AGROSIL. Perfumaria e drogaria. Calle Mayor, 20, Madrid.» A carta está escrita com uma bela letra, cheia de rabiscos e floreados, e diz assim:
Querida mãe,
Escrevo‑lhe estas duas linhas para lhe comunicar uma notícia que sei que lhe vai agradar. Antes de o fazer, porém, quero desejar‑lhe que a sua saúde seja, neste momento, tão perfeita como a minha, Graças a Deus, e que a conserve por muitos anos em companhia da boa irmã Paquita, e do seu esposo e bebés.
Pois, mãe, o que tenho a dizer é que já não estou só no mundo, tirando vós todos, e que encontrei a mulher que me pode ajudar a fundar uma família e a erguer um lar, que me pode acompanhar ao trabalho e me há‑de fazer feliz, se Deus quiser, com as suas virtudes de boa cristã. Vamos a ver se para o Verão pode vir visitar este seu filho que já tem saudades suas e assim a conhecer. A mãe não deve preocupar‑se com as despesas da viagem, porque eu, só para a ver, pagaria isso e muito mais. Verá como a minha noiva lhe parece um anjo. É boa, trabalhadora, e tão inteligente como honrada. O seu nome de baptismo, que é Esperanza, já está a ser isso, uma esperança de que tudo corra bem. Peça muito a Deus pela nossa felicidade futura, que será também a tocha que iluminará a sua velhice.
Sem mais por hoje, receba, querida mãe, um beijo carinhoso do seu filho que muito lhe quer e que não a esquece, TiNiN.
O autor da carta, ao acabar de escrevê‑la, levantou‑se, acendeu um cigarro e leu‑a em voz alta.
‑ Creio que está bem. Este final da tocha está bastante bem.
Em seguida aproximou‑se da mesa‑de‑cabeceira e beijou, galante e rendido como um cavaleiro da Távola Redonda, uma foto com uma cercadura de pele e com uma dedicatória que dizia: «Ao Agustín da minha vida com todos os beijos da sua Esperanza.»
‑ Bem; se a minha mãe vier, mostro‑lha.
Uma tarde, aí pelas seis horas, Ventura abriu a porta e chamou em voz baixa a senhora.
‑ Senhora!
Dona Célia deixou a cafeteira onde preparava o café para o lanche.
‑ Vou já! Deseja alguma coisa?
‑ Sim, faça favor.
Dona Célia apagou o gás, para o café não deitar por fora, e pondo o avental para trás e limpando as mãos à bata apressou‑se a atender.
‑ Chamou‑me, Senhor Aguado?
‑ Sim, empresta‑me uns paninhos?
Dona Célia foi buscar os paninhos ao aparador da casa de jantar, deu‑os aos namorados e pôs‑se a matutar. À Dona Célia faz‑lhe pena, e também certo tremor ao
bolso, que o amor dos namoradinhos possa ir por água abaixo, que as coisas possam começar a correr mal.
«Não, não deve ser isso ‑ dizia a si própria Dona Célia tentando ver as coisas sempre pelo lado bom ‑, também pode ser que a rapariga esteja indisposta...»
Dona Célia, negócio à parte, é uma mulher que começa a gostar das pessoas depois de as conhecer; é muito sentimental, é proprietária de uma casa de encontros passionais.
Martin e a sua companheira da Faculdade já estão a falar há uma larga hora.
‑ E tu nunca pensaste em casar?
‑ Não, meu rapaz, por agora não. Casarei quando se me apresentar uma boa oportunidade; como compreenderás, casar para não se sair de pobre, não merece a pena. Creio que há tempo para tudo.
‑ És feliz! Eu creio que não há tempo para nada; penso que se o tempo sobra é porque ele é tão pouco que não sabemos o que fazer com ele.
Graciosamente, Nati franziu o nariz.
‑ Ai, Marco, meu caro, não comeces a dizer‑me frases profundas! Martin riu‑se.
‑ Não gozes comigo, Nati.
A rapariga olhou‑o dum modo quase atrevido, abriu a mala e tirou uma cigarreira de esmalte.
‑ Um cigarro?
‑ Obrigado, estou sem tabaco. Que cigarreira tão bonita!
‑ Sim, não é feia, ofereceram‑ma. Martin procura nos bolsos.
‑ Eu tinha uma carteira de fósforos...
‑ Toma lume, também me ofereceram o isqueiro.
‑ Caramba!
Nati fuma com um ar muito europeu, manejando as mãos com habilidade e elegância. Martin ficou a apreciar.
‑ Nati, parece‑me que formamos um conjunto muito estranho, tu bem vestida e sem que descures um pormenor, e eu descuidado, com nódoas no fato e com os cotovelos rotos...
A rapariga encolheu os ombros.
‑ Bah! Não faças caso. Melhor! Assim as pessoas não sabem o que pensar. Martin, pouco a pouco começou a ficar triste, de uma maneira imperceptível, enquanto Nati o olha com uma ternura infinita, com uma ternura que por nada deste mundo quereria que dessem por ela.
‑ Que tens?
‑ Nada. Recordas‑te de quando os colegas te chamavam Natacha?
‑ Sim.
‑ Recordas‑te de quando Gascón te pôs fora da aula de Administração? Nati também ficou um pouco triste.
‑ Sim.
‑ Recordas‑te daquela tarde em que te beijei no Parque do Oeste?
‑ Sabia que ias perguntar isso. Sim, também me recordo. Pensei muito naquela tarde, tu foste o primeiro homem a quem beijei na boca... Passou já tanto tempo! Escuta, Marco.
‑ Que é?
‑ Juro‑te que não sou uma qualquer. Martin sentiu vontade de chorar.
‑ Mas, mulher, a que vem isso agora?
‑ Eu sei porquê, Marco, eu devo‑te um pouco de fidelidade, pelo menos para te contar as coisas.
Martin, com o cigarro na boca e com as mãos cruzadas sobre as pernas, olha para uma mosca que dá voltas pela borda dum copo. Nati continuou a falar:
‑ Pensei muito naquela tarde. Até então julgava que podia passar sem ter um homem ao lado, que a vida podia ficar cheia com a política e com a filosofia do Direito. Que estupidez! Mas naquela tarde eu não aprendi nada; beijei‑te, mas não aprendi nada. Pelo contrário, julguei que as coisas eram assim, como foram entre nós, e depois vi que não, que não eram assim...
A voz da Nati tremia um pouco.
‑ ... Que eram de outra maneira muito pior... Martin fez um esforço.
‑ Perdoa‑me, Nati. Já é tarde, tenho de ir, mas o caso é que não possuo nem um duro para te convidar. Emprestas‑me um duro para te convidar?
Nati remexeu na sua mala, e procurou a mão de Martin.
‑ Toma, aí tens dez, depois dás‑me uma prenda.
Capítulo Quarto
O guarda Júlio Garcia Morrazo passeia há já uma hora pela Calle de Ibiza. À luz dos candeeiros vemo‑lo passar, para trás e para diante, sem se afastar muito. Anda devagar, como se estivesse pensativo, parece que vai a contar os passos, quarenta para aqui, quarenta para ali, e recomeça. Às vezes dá mais alguns e chega até à esquina.
O guarda Júlio Garcia Morrazo é galego. Antes da guerra não fazia nada, dedicava‑se a levar o pai, cego, de romaria em romaria cantando os louvores de San Sibrán e tocando guitarra. Às vezes, quando havia vinho pelo meio, Júlio tocava um pouco a gaita, ainda que por norma preferisse dançar, e a gaita os outros que a tocassem.
Quando veio a guerra e o chamaram para o serviço militar, o guarda Júlio Garcia Morrazo era já um homem cheio de vida, como um vitelo, com vontade de saltar e brincar como um potro selvagem, e dedicado às sardinhas, às moças mamalhudas e ao vinho do Ribeiro. Em frente das Astúrias, um dia deram‑lhe um tiro nas costas e desde então Júlio Garcia Morrazo começou a enfraquecer e já não conseguiu arribar; o pior de tudo foi o golpe não ter sido suficientemente grande para que o dessem como inútil, e teve de voltar para a guerra sem poder recompor‑se bem.
Quando a guerra terminou, Júlio Garcia Morrazo entrou para a Guarda. ‑ Para o campo não estás bom ‑ disse‑lhe o pai ‑, e além disso também não gostas de trabalhar. Se te fizessem carabineiro!
O pai de Júlio Garcia Morrazo encontrava‑se já velho e cansado e não queria
voltar às romarias.
‑ Eu posso ficar em casa. Com o que tenho amealhado posso ir vivendo, mas
para dois não chega. Júlio andou pensativo alguns dias, dando voltas à cabeça, e por fim, vendo que
o pai insistia, decidiu‑se.
‑ Não, carabineiro é muito difícil, para carabineiro dão preferência aos cabos e aos sargentos; já me conformava em ser guarda.
‑ Não está mal pensado. O que eu te digo é que aqui não há para os dois. Se
houvesse...!
‑ Está bem, está bem.
O guarda Júlio Garcia Morrazo melhorou pouco a pouco e conseguiu pesar mais uma meia arroba. Não tornou, está bem de ver, ao que era, mas já não se queixava; outros ao seu lado tinham ficado no campo, tombados de pança para o ar. O seu primo Santiaguino, sem ir mais longe, deram‑lhe um tiro no saco onde levava as granadas de mão, e o pedaço maior que encontraram dele cabia na palma da mão.
O guarda Júlio Garcia Morrazo sentia‑se feliz no seu ofício; entrar de graça nos eléctricos era uma coisa que ao princípio o intrigava.
«Claro ‑ pensava ‑, é por ser autoridade.»
No quartel todos os chefes gostavam dele, por ser obediente e disciplinado e nem ter saído da casca, como outros que se julgavam alguém. O homem fazia o que lhe mandavam, não mostrava má cara e tudo lhe parecia bem; sabia que não havia outra alternativa senão fazer e não pensava em mais nada.
«Cumprindo as ordens ‑ costumava dizer ‑ nunca terão nada que me apontar. E, além disso, os que mandam, mandam; para isso têm galões e estrelas e eu
não.»
O homem era fácil de se conformar e tão‑pouco queria complicações.
«Conquanto me dêem de comer quente todos os dias e o que eu tenha de fazer não seja mais que passear para trás e para diante...»
Victorita, à hora do jantar, discutiu com a mãe.
‑ Quando é que deixas de andar com esse tísico? Diz‑me, que futuro é que tu tens ali? Que proveito tiras dali?
‑ Tiro o proveito que me apetecer.
‑ Sim, micróbios, e algum dia a barriga inchada.
‑ Eu sei o que faço, e o que me acontecer é assunto meu.
‑ Tu? Que é que tu sabes? Não passas de uma ranhosa, que não sabe da missa a metade.
‑ Bem sei do que necessito.
‑ Sim, mas não te esqueças: se ficas grávida, aqui não entras. Victorita pôs‑se branca.
‑ Foi isso o que a avó te disse?
A mãe levantou‑se e deu‑lhe duas galhetas com toda a força. Victorita nem se moveu.
‑ Vadia! Malcriada! És uma vagabunda! Assim não se fala a uma mãe! Victorita, com o lenço limpou um pouco de sangue que tinha nos dentes.
‑ Nem a uma filha. Se o meu namorado está doente, já tem a desgraça suficiente para que não lhe chames tísico.
Victorita levantou‑se de repente e saiu da cozinha. O pai esteve calado todo o tempo.
‑ Deixa‑a ir para a cama! Não há direito de lhe falar assim! Gosta desse rapaz? Bem, então deixa‑a lá, quanto mais lhe disseres pior. Além disso, para o tempo que ele vai durar...
Na cozinha ouvia‑se o pranto entrecortado da rapariga, que se tinha deixado cair sobre a cama.
‑ Filha, apaga a luz! Para dormir não faz falta a luz. Victorita procurou às apalpadelas a pêra da luz e apagou‑a.
Roberto toca à campainha de sua casa; deixou as chaves nas outras calças, acontecia‑lhe sempre o mesmo e costuma dizer: «Mudar as chaves das calças, mudar as chaves das calças.» Apareceu‑lhe a mulher à porta.
‑ Olá, Roberto. ‑Olá.
A mulher procura tratá‑lo bem e ser amável; o homem trabalha como um negro para conseguirem andar de cabeça levantada.
‑ Deves vir com frio, calça estas sapatilhas, estiveram ao pé do fogareiro. Roberto calçou as sapatilhas e vestiu o casaco velho de trazer por casa, uma
americana coçada, que tinha sido castanha com umas riscas brancas e o fazia muito fino, muito elegante.
‑ E os pequenos?
‑ Já estão deitados; o mais pequeno fez um bocado de banzé, não sei se estará doente.
O casal foi para a cozinha; a cozinha é o único sítio da casa onde se pode estar durante o Inverno.
‑ Essa cabeça no ar apareceu por aqui?
A mulher iludiu a resposta. Talvez se tivessem encontrado à saída. Às vezes, por querer que as coisas saiam bem e que não haja complicações, é mal sucedida e arranja uns sarilhos dos diabos.
‑ Fritei uns chicharros para o jantar.
Roberto ficou muito contente. Chicharros fritos é do que mais gosta.
‑ Muito bem.
A mulher sorriu, mimosa.
‑ Com o que fui poupando no mercado, comprei‑te uma garrafa de vinho. Trabalhas muito e um pouco de vinho, de vez em quando, faz bem ao corpo.
A besta do González, como lhe chamava o seu cunhado, era um pobre homem, um honrado pai de família, mais infeliz que um cão, que logo se punha meigo.
‑ Que boa que tu és, filha! Já pensei muitas vezes: há dias que, se não fosse por ti, não sei o que faria. Enfim, um bocado de paciência, porque o pior são estes primeiros anos, até eu me encaixar; depois levamos uma vida melhor, verás.
Roberto beijou a mulher na face.
‑ Gostas muito de mim?
‑ Muito, Roberto, já o sabes.
Comeram a sopa, chicharros e uma banana. Depois da sobremesa, Roberto olhou fixamente para a mulher.
‑ Que queres que te ofereça amanhã?
Ela sorriu cheia de felicidade e de agradecimento.
‑ Ai, Roberto! Que alegria! Pensei que este ano também não te lembrasses.
‑ Cala‑te, tonta! E por que razão não havia de me lembrar? O ano passado foi pelo que foi, mas este ano...
‑ O que queiras! Tenho tão poucas coisas! À mulher arrasaram‑se os olhos de lágrimas.
‑ Diz‑me, que queres que te ofereça?
‑ Mas, homem, estamos tão mal!
Roberto, olhando para o prato, baixou um pouco a voz:
‑ Pedi, na padaria, alguma coisa por conta. Ela olhou‑o carinhosa, enternecida.
‑ Que tonta que eu sou! Com a conversa esqueci‑me de te dar um copo com leite.
Roberto, enquanto a mulher foi ao guarda‑loiça, continuou:
‑ Também me deram dez pesetas para comprar qualquer bugiganga aos miúdos.
‑ Que bom que tu és, Roberto!
‑ Não, filha, isso são coisas tuas; sou como todos, nem melhor nem pior. Roberto bebeu o seu copo com leite. (A mulher dá‑lhe sempre um copo com
leite.)
‑ Pensei comprar uma bola aos miúdos; se sobrar alguma coisa beberei um vermute. Não pensava dizer‑te nada, mas bem vês, não sei guardar um segredo.
À Dona Ramona Bragado chamou‑a ao telefone o Sr. Mário de la Vega, um que tem uma tipografia. O homem queria notícias de uma coisa de que andava atrás já há alguns dias.
‑ E além disso vocês são do mesmo ofício, a rapariga trabalha numa tipografia, e creio que nunca passou de aprendiza.
‑ Ah sim? Em qual?
‑ Numa que se chama Tipografia El Porvenir, situada na Calle de la Madera.
‑ Bem sei. Melhor, assim fica tudo no mesmo grémio. Oiça, você crê que...? Hã?
‑ Sim, não se preocupe, isso diz‑me respeito. Amanhã, quando o senhor fechar, passe pela leitaria e cumprimenta‑me com qualquer desculpa.
‑ Sim, sim.
‑ Então fica assim. Eu tê‑la‑ei lá, veremos com que motivo. A coisa parece‑me que já está madura, que está já a cair. A criatura anda muito farta de desgraças e não aguenta mais. Quer é que a deixem em paz. Além disso, tem um namorado doente e deseja comprar‑lhe medicamentos; estas apaixonadas são mais fáceis, verá. Isto é limpinho.
‑ Oxalá!
‑ Você verá. Oiça, senhor Mário, daquilo não baixo um real. Bastante trabalho me deu.
‑ Bem, mulher, logo falaremos.
‑ Não, logo falaremos não, já está tudo falado. Fique ciente que não volto atrás.
‑ Está bem, está bem.
Mário riu‑se, dando ares de homem muito experimentado. Dona Ramona queria servir‑se bem de todos os antecedentes...
‑ De acordo?
‑ Sim, mulher, de acordo.
Quando Mário voltou à mesa, disse ao outro:
‑ Você entra a ganhar dezasseis pesetas, entendido? E o outro respondeu:
‑ Sim, senhor, entendido.
O outro era um pobre rapaz que tinha estudado alguma coisa, mas que acabava por nunca terminar nada; não tinha sorte nem tão‑pouco boa saúde. Na sua família havia uma veia de tísica; um seu irmão regressara da tropa porque não podia nem com a sua alma.
As portas já estão fechadas há algum tempo, mas o mundo dos noctívagos continua a girar, cada vez mais lentamente, em direcção aos eléctricos.
A rua, ao cair da noite, vai tomando um ar esfomeado e misterioso, enquanto o vento que corre como um lobo assobia por entre as casas.
Os homens e as mulheres, que vão àquelas horas até Madrid, são os noctívagos puros, os que saem por sair, os que têm o gosto de perder as noites; os clientes endinheirados dos cabarés, dos cafés da Gran Via, cheios de mulheres perfumadas e provocadoras, que usam o cabelo pintado e um impressionante casaco de peles, de cor escura, e alguma boquilha branca de vez em quando; ou os noctívagos de bolsa mais magra, que se metem a conversar numa tertúlia ou que vão beber copos pelas tascas. Tudo, menos ficar em casa.
Os outros noctívagos acidentais, os clientes dos cinemas, que só saem uma noite por outra, sempre com destino certo e nunca ao que apareça, já passaram há um bocado, antes de as portas se fecharem. Primeiro os clientes dos cinemas centrais, apressados, mais bem vestidos, que tratam de apanhar um táxi: os clientes do Callao, do Capitol, do Palácio da Música, que pronunciam quase correctamente os nomes das actrizes, e alguns são até convidados, de vez em quando, para verem películas na Embaixada inglesa, na Calle de Orfila. Sabem muito de cinema e em vez de dizerem, como os habituais dos cinemas de bairro, «é um filme estupendo de Joan Crawford», dizem, como que falando sempre para iniciados, «é uma comédia muito boa, muito francesa, de René Clair», ou «é um grande drama de Frank Capra». Ninguém sabe com exactidão o que é o «muito francês», mas não importa; vivemos um pouco o tempo da ousadia, esse espectáculo que alguns homens de coração limpo contemplam atónitos sem perceberem demasiado o que sucede, apesar de ser bem claro.
Os clientes dos cinemas de bairro, os homens que nunca sabem quem são os directores, passam um pouco depois, já com as portas fechadas, sem grandes pressas, menos bem vestidos, também menos preocupados, sobretudo a essas horas. Dão um passeiozinho até ao Narváez, ao Alcalá, ao Tivoli, ao Salamanca, onde vão filmes famosos, talvez já exibidos durante algumas semanas na Gran Via, filmes de simpáticos e poéticos homens que patenteiam tremendos enigmas humanos nem sempre decifrados.
Os clientes dos cinemas de bairro deverão todavia esperar algum tempo para ver Suspeita ou As Aventuras de Marco Polo ou Se Não Amanhecesse.
O guarda Júlio Garcia Morrazo, numa das vezes que chegou até à esquina, lembrou‑se do Celestino, o do bar.
‑ Este Celestino é mesmo um diabo, as coisas que lhe acontecem! Não tem cara de parvo, e é um homem que leu montes de livros.
Celestino Ortiz, depois de recordar aquilo da ira cega e da animalidade, tirou o seu livro, o seu único livro, de cima das garrafinhas de vermute e guardou‑o na gaveta. As coisas que sucederam! «Martin Marco não saiu hoje com a cara em pedaços graças a Nietzsche. Se Nietzsche levantasse a cabeça!»
Por detrás das cortinas da sua casa, Dona Maria Morales de Sierra fala com o seu marido, José Sierra, ajudante nas Obras Públicas. Dona Maria Morales de Sierra é irmã de Dona Clarita Morales de Pérez, e esta a mulher de Camilo, o calista que vivia na mesma casa que Ignacio Galdácano, o senhor que não pudera assistir à reunião em casa do Sr. Ibrahim porque está louco.
‑ Reparaste nesse guarda? Não faz mais que ir de um lado para o outro, como se esperasse alguém.
O marido nem lhe responde. Lê o jornal, completamente ausente, como se vivesse num mundo mudo e estranho, muito longe de sua mulher. Se José Sierra não tivesse alcançado um grau tão perfeito de abstracção não poderia ler o jornal em casa.
‑ Agora volta outra vez para aqui. O que eu dava para saber o que ele faz! E isto é um bairro tranquilo, de gente sossegada. Se fosse como o que há para os lados da Praça de Touros, que está tudo negro como a boca de um lobo!
As casas da antiga Praça de Touros ficam a uma dúzia de passos da casa de Dona Maria.
‑ Por aí seria outra coisa, por aí até seriam capazes de atacar uma pessoa, mas aqui! Por amor de Deus, aqui nem uma rata se mexe!
Dona Maria voltou‑se sorridente. O seu sorriso não pôde ser visto pelo marido, que continuava a ler o jornal.
Victorita já está a chorar há bastante tempo e na sua cabeça os projectos atropelam‑se uns nos outros: desde entrar para freira até ir para a vida fácil, tudo lhe parece melhor que continuar em casa. Se o namorado pudesse trabalhar, propor‑lhe‑ia que fugissem juntos; trabalhando os dois mal seria que não pudessem arranjar o suficiente para comer. Mas o seu namorado ‑ e a coisa saltava à vista ‑ não estava senão para ficar todo o dia na cama, sem fazer nada e quase sem poder falar. Era uma fatalidade! A doença do namorado, toda a gente diz, às vezes cura‑se com muita comida e com injecções; pelo menos, se não se curam de todo, põem‑se bastante bem e podem durar muitos anos, casar‑se e fazer uma vida normal. Mas Victorita não sabe como arranjar dinheiro. Melhor dizendo, sabe‑o mas não se decide; se Paço soubesse, deixava‑a logo. E se Victorita se decidisse a cometer algum disparate, não seria nem mais nem menos que por Paço. Victorita tem uns momentos em que pensa que Paço lhe diria: «Bem, faz o que quiseres, a mim não me importa»; mas depressa compreende que Paço não lhe diria isso. Victorita não pode continuar em casa, disso está convencida; a mãe faz‑lhe a vida impossível, todo o dia com o mesmo sermão. Mas, também, lançar‑se por aí, ao deus‑dará, sem ninguém que lhe dê a mão, é muito arriscado. Victorita já tinha feito os seus cálculos e viu que a coisa apresentava os seus prós e contras; se tudo corresse bem... mas as coisas nunca vão completamente bem, e às vezes até vão muito mal. A questão era ter sorte ou alguém que se lembrasse de uma pessoa; mas quem se ia lembrar da Victorita? Ela não conhecia ninguém que tivesse dez duros juntos, ninguém que não vivesse de um salário. Victorita sente‑se muito cansada: na tipografia está todo o dia de pé, cada dia encontra o namorado pior, a mãe é como um sargento da Cavalaria que não faz mais que gritar, o pai é um homem calmo e meio bêbedo com o qual não se pode contar para nada. Quem teve sorte foi a Pirula, que trabalhava com Victorita na tipografia, também empacotadora, e que a levou um senhor que, além de a tratar como a uma rainha e lhe satisfazer todos os caprichos, gosta dela e respeita‑a. Se lhe pedisse dinheiro, a Pirula não se negaria; mas, claro, a Pirula dar‑lhe‑ia uns vinte duros, mas também não lhe poderia dar mais. A Pirula, agora, vivia como uma duquesa, toda a gente lhe chamava senorita, andava bem vestida e possuía um andar com rádio. Victorita viu‑a um dia na rua; há um ano que estava com esse senhor e a diferença que fazia! Dir‑se‑ia que nem era a mesma mulher, até parecia que tinha crescido. Victorita não pedia tanto...
O guarda Júlio Garcia Morrazo fala com o guarda‑nocturno, Gumersindo Vega Calvo, seu conterrâneo.
‑ Que má noite!
‑ Há piores.
O guarda e o sereno(1) têm, desde há vários meses, uma conversa à qual voltam sempre todas as noites, com grande deleite.
‑ Então, o senhor é dos lados de Porrino?
‑ Sim, próximo; sou de Mos.
‑ Pois eu tenho uma irmã casada em Salvatierra, que se chama Rosália.
‑ A do Burelo, o dos pregos?
‑ Essa mesmo.
‑ Ela está muito bem, hem?
‑ Assim o penso, casou muito bem.
A senhora do rés‑do‑chão continua a fazer conjecturas.
‑ Agora fala com o sereno, deve estar a pedir informações de algum vizinho, não te parece?
José Sierra continua a ler o jornal com um estoicismo e uma resignação exemplares.
‑ Os serenos estão sempre muito a par de tudo, não é? Coisas que nós não sabemos, já eles as sabem há muito.
José Sierra acabou de ler um artigo sobre a previsão social e meteu‑se noutro que tratava do funcionamento e das prerrogativas das Cortes tradicionais espanholas.
‑ Possivelmente, em qualquer deles há um mação camuflado. Como não se conhecem por fora!
José fez um estranho ruído com a garganta, um som que tanto podia significar sim, como não, ou talvez, ou quem sabe. José é um homem que, à força de ter de aturar a mulher, conseguiu chegar a viver horas inteiras, às vezes dias inteiros, sem dizer mais que hum! Uma maneira muito discreta de dar a entender à mulher que era uma imbecil, mas sem o dizer claramente.
O guarda‑nocturno está muito contente com o casamento da sua irmã Rosália; os Burelos são pessoas muito consideradas em toda a comarca.
‑ Têm já nove rapazes e estão à espera do décimo.
‑ Já casou há muito tempo?
‑‑ Sim, há bastante; vai fazer uns dez anos.
Júlio Garcia demora a fazer as contas. O guarda‑nocturno, sem lhe dar tempo a terminar, retoma o fio à meada.
*1. Em Espanha, guarda‑nocturno. (N. do T.)
‑ Nós somos mais para o lado de La Caniza, somos de Covelo. Nunca ouviu falar dos Pelones?
‑ Não senhor.
‑ Somos nós.
O guarda Júlio Garcia Morrazo viu‑se na obrigação de corresponder.
‑ A mim e ao meu pai chamam‑nos os Raposos.
‑ Sim.
‑ Não levamos a mal, toda a gente nos chama assim.
‑ Pois.
‑ O meu irmão Telmo é que era levado do diabo. Morreu com tifo. Chamavam‑lhe Pito Tinoso.
‑ Sim. Há pessoas que têm muito mau carácter, não é verdade?
‑ Ui! Há alguns que trazem o diabo no corpo! O meu irmão não deixava que lhe dissessem nada.
‑ Esses acabam sempre mal.
‑ É o que eu digo.
Ambos falam sempre em castelhano; querem demonstrar um ao outro que não são nenhuns provincianos. O guarda Júlio Garcia Morrazo, àquelas horas começa a pôr‑se triste.
‑ Aquilo sim, é um bom sítio!
O guarda‑nocturno Gumersindo Vega Calvo é um galego um pouco céptico a quem a confissão de abundância faz corar.
‑ Não é mau.
‑ Não é mau? Ali vive‑se! Hã!
‑ Sim, sim.
Dum bar aberto no passeio em frente, saem para a fria rua os compassos de um fox lento, feito para ser ouvido ou dançado na intimidade. Alguém chama o guarda‑nocturno:
‑ Sereno!
O guarda‑nocturno recorda.
‑ Lá, o que melhor se cria são batatas e milho; no lugar donde somos também há vinho.
O homem que chegou torna a chamá‑lo, mais familiarmente.
‑ Sindo!
‑ Aí vou!
Ao chegar à entrada do Metro de Narváez, a poucos passos da esquina de Alcalá, Martin encontrou‑se com a sua amiga «Uruguaiana», que ia com um senhor. Ao princípio dissimulou, fez que não a viu.
‑ Adeus, Martin.
Martin voltou a cabeça, pois não havia outro remédio.
‑ Adeus, Trinidad, não te tinha visto.
‑ Vou apresentá‑los. Martin aproximou‑se.
‑ Um bom amigo; Martin, que é escritor. Chamavam‑lhe Uruguaiana porque era de Buenos Aires.
‑ Este que tu vês ‑ disse ao amigo ‑ faz versos. Mas vá lá, cumprimentem‑|se que já estão apresentados.
‑ ‑ Muito gosto, como está?
‑ Muito bem jantado, muito obrigada.
O homem que ia com a Uruguaiana é um desses que gostam de se fazer engraçados.
O casal começou a rir‑se em voz alta. A Uruguaiana tinha os dentes da frente cariados e enegrecidos.
‑ Toma um café connosco.
Martin ficou indeciso, pensando que talvez não parecesse bem ao outro.
‑ Enfim... Não me parece bem...
‑ Vamos, homem, venha connosco. Terei muito prazer!
‑ Bem, obrigado, mas só por um momento.
‑ Não tenha pressas, esteja o tempo que quiser! A noite é grande! Fique, eu acho muita piada aos poetas.
Sentaram‑se num café que há à esquina e o homem pediu café e conhaque para todos.
‑ Diga ao empregado da tabacaria que chegue aqui.
‑ Sim, senhor.
Martin sentou‑se em frente do casal. A Uruguaiana estava um bocado alegre, via‑se bem.
O empregado da tabacaria aproximou‑se.
‑ Boa noite, Senhor Flores. Já há algum tempo que não o via... Que deseja?
‑ Arranja‑nos dois charutos que sejam bons. Uruguaiana, tens tabaco?
‑ Não, já tenho pouco; compra‑me um maço.
‑ Traz também um maço do claro para esta.
O bar de Celestino Ortiz está vazio. O bar de Celestino Ortiz é um bar pequenino com a fachada verde‑escura, e que se chama «Aurora. Vinhos e Comidas». Comidas, por agora, não há. Celestino instalará um serviço de comidas logo que as coisas melhorem; não se pode fazer tudo num dia.
Ao balcão, o último cliente, um guarda, bebe um cálice de anis ordinário.
‑ Pois é isso mesmo que eu lhe digo, e que não me venham com histórias.
Quando o guarda se for embora, Celestino pensa fechar, tirar o seu enxergão e deitar‑se a dormir; Celestino é um homem que não gosta de perder noites, prefere deitar‑se cedo e fazer vida sã, pelo menos o mais sã que puder.
‑ Já pode ver o que me importa!
Celestino dorme no seu bar por duas razões: por lhe sair mais barato e por assim evitar que o depenem qualquer noite.
‑ Onde está o mal é mais acima. Aí, claro que não.
Celestino aprendeu depressa a fazer a cama, da qual vem abaixo uma vez por outra, colocando o enxergão de crina sobre oito ou dez cadeiras juntas.
‑ Isso de prenderem as sanguessugas do Metro, parece‑me uma injustiça. As pessoas precisam de comer, e se não encontram trabalho têm de se arranjar como podem. A vida está caríssima, o senhor sabe isso tão bem como eu, e o que dão de provisões não chega para nada. Não quero ofender, mas creio que se algumas mulheres vendem cigarros ou jogo não é para os senhores andarem atrás deles.
O guarda do anis não era um dialéctico.
‑ Eu recebo ordens.
‑ Bem sei. Eu sei distinguir, caro amigo.
Quando o guarda se vai embora, Celestino, depois de dispor as cadeiras sobre as quais se vai deitar, senta‑se e lê um bocado; gosta de se consolar com um pouco de leitura antes de apagar a luz e deitar‑se a dormir. Celestino, na cama, costuma ler romances e quintilhas. Nietzsche é deixado para de dia. O homem tem uma boa quantidade e alguns deles sabe‑os de cor, de fio a pavio. Todos são bonitos, mas gosta mais dos intitulados A Insurreição de Cuba e Relação dos Crimes Que Cometeram os Dois Fiéis Amantes Jacinto del Castillo e Leonor de la Rosa para Conseguirem as Suas Promessas de Amor. Este último é um romance clássico, que começa como Deus manda:
Sagrada Virgem Maria Archote do Céu Empíreo, Filha do Eterno Pai, Mãe do Supremo Filho e do Espírito Esposa, pois com virtude, e domínio no teu ventre virginal concebeste o ser mais benigno, e ao cabo de nove meses, nasceu o Autor mais divino para a redenção do homem de carne humana vestido, ficando intacto o teu Seio casto, terso, puro e limpo.
Estes romances antigos eram os seus preferidos. Às vezes, para se justificar um pouco, Celestino punha‑se a falar da sabedoria do povo e de outras coisas do género. Celestino também apreciava muito as palavras do cabo Pérez diante do piquete:
Soldados, já que a minha sorte
me colocou nestes apuros,
ofereço dois duros
para que me deis boa morte;
Pérez só os adverte
para que aponteis direito,
ainda que delito não tenha feito
para tal carniçaria,
que façam a pontaria
duas ao crânio, duas ao peito.
‑ Caramba, que tipo! Dantes sim, havia homens! ‑ diz Celestino em voz alta antes de apagar a luz.
Ao fundo do salão semiobscurecido, um violinista guedelhudo toca, apaixonadamente, as czardas de Monti.
Os clientes bebem. Os homens, uísque; as mulheres, champagne; as que há quinze dias atrás eram porteiras, bebem pippermint. No local, ainda há muitas mesas, é ainda muito cedo.
‑ Como eu gosto disto, Pablo!
‑ Então diverte‑te, Laurita, não tens outra coisa que fazer.
‑ Isto excita, não achas?
O guarda‑nocturno foi até onde o chamaram.
‑ Boa noite, senhor.
‑ Olá.
O sereno tirou a chave e empurrou a porta. Depois, como se não lhe desse grande importância, estendeu a mão.
‑ Muito obrigado.
O guarda‑nocturno acendeu a luz da escada, fechou a porta e regressou, dando pancadas no chão com o pau, começando em seguida a falar com Júlio Garcia Morrazo.
‑ Este vem todos os dias a esta hora e não se vai embora senão por volta das quatro. Tem uma amante no último andar, uma moça muito bem feita, chamada Pirula.
‑ Assim também eu.
A senhora do rés‑do‑chão não lhes tira os olhos de cima.
‑ De alguma coisa devem falar quando estão juntos. Repara, quando o sereno tem de abrir alguma porta, o guarda espera‑o.
O marido deixou de ler o jornal.
‑ Que mania que tu tens de te ocupares com o que não te diz respeito! Deve estar à espera de alguma criada.
‑ Claro, tu arranjas logo as coisas.
O senhor que tem a amante no último andar, tirou o sobretudo e deixou‑o sobre o sofá do átrio. O átrio é muito pequenino, não tem mais que um sofá para dois e em frente uma mísula de madeira, debaixo de um espelho com moldura doirada.
‑ Que há, Pirula?
Pirula tinha vindo à porta quando ouviu a chave.
‑ Nada, Javierchu; para mim, tudo o que há és tu.
Pirula é uma jovem com ar de ser muito educada e muito fina, ainda que não há muito mais de um ano dissesse: chiça, poça e chatice. Duma sala de dentro, suavemente iluminada por uma luz froixa, chegava, discreto, o som do rádio: um suave, um lânguido, um confortável fox, escrito sem dúvida para ser ouvido e dançado na intimidade.
‑ Menina, quer dançar?
‑ Muito obrigada, cavalheiro, estou um pouco cansada, tenho estado sempre a dançar.
O casal pôs‑se a rir às gargalhadas, como as da Uruguaiana e do Sr. Flores, e depois beijou‑a.
‑ Pirula, és uma criança.
‑ E tu um colegial, Javier.
O casal foi abraçado até ao quartito do fundo, como se estivessem a passear numa avenida de acácias em flor.
‑ Uma cigarrilha?
O rito é sempre o mesmo todas as noites, as palavras que se dizem, também, pouco mais ou menos. Pirula tem um instinto conservador muito perspicaz; provavelmente fará carreira. Para já, não pode queixar‑se: Javier tem‑na como a uma rainha, gosta dela e respeita‑a...
Victorita não pedia tanto. Victorita não pedia mais que comer e continuar a gostar do seu namorado, se ele alguma vez chegasse a curar‑se. Victorita não sentia vontade nenhuma de se prostituir; mas a necessidade faz tudo. A rapariga nunca tinha andado com mais ninguém a não ser com o seu namorado. Força de vontade não lhe faltava, e, ainda que lhe apetecesse, sabia dominar‑se. Com Paço portou‑se sempre bem e não o enganou nem uma só vez.
‑ Eu gosto dos homens todos ‑ disse‑lhe um dia, antes de ele adoecer ‑, por isso não me deito senão contigo. Se começasse, era um conto que nunca mais acabava.
A rapariga estava corada e a morrer de riso quando fez esta confissão, mas o noivo não lhe achou graça nenhuma.
‑ Se eu sou igual a outro, faz o que te apetecer, podes fazer o que quiseres. Uma vez, já durante a doença do seu noivo, um senhor muito bem vestido seguiu‑a na rua.
‑ Oiça, menina, aonde vai com tanta pressa?
À rapariga agradaram‑lhe os modos dele; era um senhor fino, com ar elegante, e apresentável.
‑ Deixe‑me, vou trabalhar.
‑ Mas, mulher, porque te hei‑de deixar? Parece‑me muito bem que vá trabalhar; é sinal de que, ainda que jovem e bonita, é decente. Mas que mal pode haver em falarmos um pouco?
‑ Desde que não seja mais do que isso!
‑ E que mais é que pode ser?
A rapariga sentiu que as palavras lhe fugiam.
‑ Podia ser o que eu quisesse...
O senhor bem vestido não se perturbou.
‑ Claro! Compreenda, menina, que uma pessoa também não é tapada e faz o que sabe.
‑ E o que lhe deixarem.
‑ Sim, claro, e o que lhe deixarem.
O senhor acompanhou Victorita durante um bocado. Pouco antes de chegar à Calle de la Madera, Victorita despediu‑se.
‑ Adeus, deixe‑me aqui. Pode ver‑nos qualquer pessoa da tipografia. O senhor franziu um pouco as sobrancelhas.
‑ Trabalha numa tipografia?
‑ Sim, ali na Calle de la Madera. Por isso dizia que me deixasse, ver‑nos‑emos outro dia.
‑ Espere um momento.
O senhor apanhou a mão da rapariga e sorriu‑lhe.
‑ Tu queres? Victorita também sorriu.
‑ E o senhor?
Ele olhou‑a fixamente nos olhos.
‑ A que horas sais esta tarde? Victorita baixou os olhos.
‑ Às sete. Mas não venha buscar‑me, tenho namorado.
‑ E ele vem buscar‑te?
A voz de Victorita pôs‑se um pouco triste.
‑ Não, não vem buscar‑me. Adeus.
‑ Até logo?
‑ Como quiser, até logo.
Às sete, quando Victorita saiu do trabalho, da tipografia El Porvenir, encontrou‑se com o senhor, que a esperava à esquina da Calle del Escorial.
‑ É só um momento, menina, compreendo que tem de ver o seu noivo. Victorita estranhou que ele não voltasse a tratá‑la por tu.
‑ Eu não quero ser uma sombra entre as suas relações com o seu namorado, compreenda que não posso ter nenhum interesse.
Foram descendo até à Calle de San Bernardo. O senhor era muito correcto, não lhe dava o braço, nem para atravessar as ruas.
‑ Fico muito satisfeito que possa ser feliz com o seu namorado. Se dependesse de mim, a menina e o seu namorado casavam amanhã mesmo.
Victorita olhou de esguelha para o senhor. Ele falava sem a olhar como se estivesse a falar consigo mesmo.
‑ Que mais se pode desejar a uma pessoa que se aprecia, senão que seja muito feliz?
Victorita parecia que ia numa nuvem. Era remotamente feliz, uma felicidade vaga, que quase não sentia, uma felicidade também um pouco triste, algo afastada e impossível.
‑ Vamos entrar aqui, faz frio para andarmos a passear.
‑ Está bem.
Victorita e o senhor entraram no Café San Bernardo e sentaram‑se a uma mesa do fundo, em frente um do outro.
‑ Que devemos pedir?
‑ Um café quentinho.
Quando o criado se aproximou, o senhor disse:
‑ Para a menina traga um café com leite e um bolo; para mim só um café. O senhor puxou por um maço de tabaco claro.
‑ Fuma?
‑ Não, quase nunca fumo.
‑ Que é isso de quase nunca?
‑ Bem, quero dizer que fumo de vez em quando, na noite de Natal... O senhor não insistiu. Acendeu um cigarro e guardou a cigarreira.
‑ Pois é verdade, menina, se de mim dependesse, você e o seu noivo casavam amanhã sem falta.
Victorita olhou para ele.
‑ E porque quer o senhor casar‑nos? Que ganha com isso?
‑ Eu não ganho nada. A mim, como compreenderá, tanto ganho como perco com o facto de você casar ou continuar solteira. Se o dizia é porque me pareceu que lhe agradaria casar‑se com o seu namorado.
‑ Se me agradava! Porque lhe hei‑de mentir?
‑ Faz bem, a falar é que a gente se entende. Para o que pretendo dizer‑lhe nada importa que seja casada ou solteira.
Tossiu um pouco.
‑ Estamos num local público, rodeados de gente e separados por esta mesa. O senhor roçou um pouco as suas pernas pelos joelhos de Victorita.
‑ Posso falar‑lhe com toda a franqueza?
‑ Bem. Desde que não falte...
‑ Nunca poderá haver falta, menina, quando se falam de coisas claras. O que vou dizer‑lhe é como um negócio, que se pode aceitar ou não. Aqui não há compromisso algum.
A rapariga estava um pouco perplexa.
‑ Posso continuar?
‑ Sim.
O senhor mudou de posição.
‑ Então vamos ao assunto. Pelo menos, verá que não quero enganá‑la, que lhe apresento as coisas tal como são.
No café há um ambiente carregado; como fazia calor, Victorita deitou um pouco para trás o seu casaco de algodão.
‑ O caso é que não sei como começar... Você impressionou‑me muito.
‑ Já calculava o que queria dizer‑me.
‑ Parece‑me que se engana. Não me interrompa, fale só quando eu terminar.
‑ Está bem, continue.
‑ Bem. Dizia que você me tinha impressionado muito: o seu andar, a sua cara, as suas pernas, a sua cintura, o seu peito...
‑ Sim, sim, estou a perceber tudo.
A rapariga sorriu, só um instante, com certo ar de superioridade.
‑ Exactamente: tudo. Mas não sorria, estou a falar a sério.
O senhor voltou a tocar‑lhe nos joelhos e segurou‑lhe numa das mãos que Victorita deixou ir, complacentemente, quase com sabedoria.
‑ Juro‑lhe que estou a falar‑lhe absolutamente a sério. Tudo em si me agrada, imagino o seu corpo, rijo e quente, um calor suave...
Apertou a mão de Victorita.
‑ Não sou rico e pouco lhe posso oferecer... Ele estranhou que Victorita não retirasse a mão.
‑ Mas o que vou pedir‑lhe também é pouco. O senhor tossiu mais um pouco.
‑ Eu queria vê‑la despida, nada mais que isso. Victorita apertou a mão do senhor.
‑ Tenho de ir, está a fazer‑se tarde.
‑ Tem razão. Mas responda‑me primeiro. Eu gostava de a ver despida, prometo‑lhe não lhe tocar nem com um dedo. Amanhã virei esperá‑la. Eu sei que é uma mulher decente, que não é uma qualquer... Guarde isto, peço‑lhe. Seja qual for a sua decisão, aceite isto para comprar qualquer coisa que lhe sirva de recordação.
Por debaixo da mesa, a rapariga apanhou uma nota que o senhor lhe dava. Não lhe tremeu o pulso ao recebê‑la.
Victorita levantou‑se e saiu do café. Duma mesa próxima um homem cumprimentou‑a.
‑ Adeus, Victorita, orgulhosa, desde que lidas com marqueses já não falas aos pobres.
‑ Adeus, Pepe.
Pepe era um dos operários da Tipografia El Porvenir.
Victorita já está a chorar há um bocado. Na sua cabeça os planos atropelam‑se como pessoas à saída do Metro. Desde o ir para freira e professar, tudo lhe parece melhor que aturar a sua mãe.
Roberto levanta a voz.
‑ Petrita! Traz‑me o tabaco que está no bolso do casaco! ? A sua mulher intervém.
‑ Cala‑te, homem! Vais acordar as crianças.
‑ Não, não acordam! São como os anjinhos, quando adormecem não há quem os acorde.
‑ Dar‑te‑ei o que necessitas. Não chames mais a Petrita, a pobre deve estar cansada.
‑ Deixa‑a. Mais motivos para estar cansada tens tu.
‑ E mais anos! Roberto sorri.
‑ Vamos lá, Filo, não comeces com as tuas coisas, ainda não te pesam! A criada chega da cozinha com o tabaco.
‑ Dá‑me o jornal, que está na saleta.
‑ Sim, senhor. Filo volta a intervir.
‑ Eu dar‑te‑ei tudo, homem, deixa‑a ir deitar‑se.
‑ Para se deitar? Se agora lhe desses autorização, saía e não voltava senão pelas duas ou três da manhã.
‑ Isso também é verdade...
Elvira dá voltas na cama; está desassossegada, os pesadelos sucedem‑se. O seu quarto cheira a roupa usada e a mulher: as mulheres não cheiram a perfume, cheiram a peixe rançoso. Elvira tem um respirar difícil, como que entrecortado, e o seu sono pesado, desagradável, o seu sono de cabeça quente e pança fria, faz ranger, queixoso, o vetusto colchão.
Um gato preto e meio pelado que sorri, enigmaticamente, como se fosse uma pessoa, e que tem nos olhos um brilho que espanta, atira‑se, de uma distância enorme, sobre Elvira. A mulher defende‑se aos pontapés, aos murros. O gato vai contra os móveis, e rebola como uma bola de borracha, lançando‑se de novo para cima da cama. O gato tem o ventre inchado e vermelho como uma granada e do traseiro sai como que uma flor venenosa e mal‑cheirosa de mil cores, uma flor que parecem plumas de várias cores. Elvira tapa a cabeça com o lençol. Dentro da cama, uma multidão de anões movem‑se enlouquecidos. O gato introduz‑se furtivamente, como um fantasma, descobre o ventre de Elvira e lambe‑lhe a barriga rindo às gargalhadas, umas gargalhadas que intimidam o ânimo. Elvira está amedrontada e atira‑o para fora do quarto: tem de fazer grande esforço, o gato pesa muito, parece de ferro. Elvira procura não esmagar os anões. Um anão grita «Santa Maria! Santa Maria!». O gato passa por debaixo da porta, e estende‑se ao comprido como uma posta de bacalhau. Olha sinistramente, qual verdugo. Sobe à mesa‑de‑cabeceira e, dum modo sanguinário, fixa os olhos em Elvira. Elvira não se atreve nem a respirar. O gato vem até à almofada e lambe a boca e as pálpebras com suavidade, como um baboso. Tem a língua morna como as virilhas e suave como o veludo. Com os dentes desata‑lhe a camisa. O gato mostra o seu ventre inchado que lateja compassadamente, como uma veia. A flor que sai por detrás está cada vez mais viçosa, mais bonita. O gato tem uma pele muito suave. Uma luz que cega começa a inundar o quarto. O gato cresce até se transformar num tigre magro. Os anões continuam a mover‑se desesperadamente. Elvira treme com violência. Respira com força enquanto sente a língua do gato a lamber‑lhe os lábios. O gato continua a esticar‑se cada vez mais. Elvira vai ficando sem respiração, com a boca seca. As suas coxas entreabrem‑se, primeiro cautelosamente, sem vergonha depois... frio. Levanta‑se e põe o casaco aos pés. Os ouvidos zumbem um pouco e os mamilos, como nos bons tempos, mostram‑se rebeldes, quase orgulhosos. Adormece com a luz acesa, a senorita Elvira.
‑ Pois sim! Que tem? Dei‑lhe três duros por conta, amanhã é o aniversário da esposa dele.
O Sr. Ramón não consegue pôr‑se suficientemente enérgico; por mais esforços que faça, não consegue pôr‑se suficientemente enérgico.
‑ Que tem? Tu bem o sabes! Não vês? Já estou farta de to dizer, assim não passamos de pobres. Vê lá tu o que é estar a economizar para isto!
‑ Mas, mulher, se eu os desconto depois. Que importância tem? Se lhos tivesse dado!
‑ Sim, sim, descontas! Menos quando te esqueces!
‑ Nunca me esqueci!
‑ Não? E aquelas sete pesetas da senhora Josefa? Onde estão essas sete pesetas?
‑ Mas, mulher, ela necessitava de um medicamento. Mesmo assim, já vês como ficou.
‑ E a nós que nos importa que os outros não estejam bem? Vá, diz‑me? O Sr. Ramón apagou a beata com o pé.
‑ Escuta, Paulina, sabes o que te digo?
‑ Que é?
‑ Que no meu dinheiro mando eu, entendes? Sei bem o que faço. A Sr.a Paulina resmungou em voz baixa as suas últimas razões.
Victorita não consegue dormir; assalta‑a a recordação da sua mãe que é uma pessoa rude.
‑ Quando deixas esse tísico, rapariga?
‑ Nunca o deixarei, os tísicos sabem melhor que os bêbados.
Victorita nunca se tinha atrevido a dizer à mãe nada de semelhante. Só se o namorado se pudesse curar... Se o noivo se pudesse curar, Victorita teria sido capaz de fazer qualquer coisa, tudo o que pedissem.
Às voltas na cama, Victorita continua a chorar. O caso do seu namorado arranjava‑se com uns duros. Já se sabe: os tísicos pobres morrem; os tísicos ricos se não se curam de todo pelo menos vão‑se defendendo. O dinheiro não é muito fácil de encontrar, Victorita sabe‑o muito bem. Falta‑lhe a sorte. Uma pessoa tudo pode conseguir, menos a sorte; a sorte vem se lhe apetecer, e a verdade é que quase nunca lhe apetece.
As trinta mil pesetas que lhe tinha oferecido aquele senhor perderam‑se porque o noivo de Victorita era um homem cheio de escrúpulos.
‑ Não, não, por esse preço não quero nada, nem trinta mil pesetas nem trinta mil duros.
‑ E a nós, que diferença faz? ‑ dizia‑lhe a rapariga. ‑ Não deixa rasto e ninguém sabe.
‑ E tu atrevias‑te?
‑ Por ti, sim. Sabes de sobra.
O senhor das trinta mil pesetas era um usurário de quem tinham falado à Victorita.
‑ Três mil pesetas empresta‑tas facilmente. Vais estar a pagá‑las toda a vida, mas empresta‑tas facilmente.
Victorita foi vê‑lo; com três mil pesetas ter‑se‑iam podido casar. O noivo ainda não estava muito mal; sofria os seus ataques de tosse, mas ainda não estava mal, ainda não tinha que se meter na cama.
‑ De modo, filha, que queres três mil pesetas?
‑ Sim, senhor.
‑ E para que as queres?
‑ Para me casar.
‑ Ah! Com que então apaixonada.
‑ Pois, sim...
‑ E gostas muito do teu noivo?
‑ Sim, senhor.
‑ Muito, muito?
‑ Sim, senhor, muito.
‑ Mais que a ninguém?
‑ Sim, senhor, mais que a ninguém.
O agiota deu duas voltas ao seu gorro de veludo verde. Tinha a cabeça bicuda, como uma pêra, e o cabelo descolorido, fraco, gorduroso.
‑ E tu, filha, estás virgem? Victorita pôs‑se de mau humor.
‑ E a si que lhe importa?
‑ Nada, filhinha, nada. Era só curiosidade... Caramba! Sabes que és muito mal‑educada?
‑ Você o diz!
O usurário sorriu.
‑ Não, filha, não há razão para estares assim. Além disso, se tens ou não o virgo no seu sítio, isso é coisa tua e do teu namorado.
‑ É o que eu penso.
‑ Pois por isso.
Os olhos do agiota brilhavam como os duma coruja.
‑ Ouve.
‑ O quê?
‑ E se eu, em vez de três mil pesetas, te desse trinta mil, que é que fazias? Victorita ficou sufocada.
‑ O que o senhor mandasse.
‑ Tudo o que eu mandasse?
‑ Sim, senhor, tudo.
‑ E o teu namorado, que é que me fazia?
‑ Não sei; se quiser pergunto‑lhe.
Ao usurário apareceram‑lhe umas rosetas nas pálidas maçãs do rosto.
‑ E tu, minha rica, sabes o que eu quero?
‑ Não, mas o senhor dirá.
O usurário tinha um ligeiro tremor na voz.
‑ Olha, tira para fora as maminhas.
A rapariga tirou as maminhas para fora do decote.
‑ Sabes o que são trinta mil pesetas?
‑ Sei, sim, senhor.
‑ Já as viste alguma vez juntas? ; ‑Não, senhor, nunca vi.
‑ Então vou mostrar‑tas. É questão de tu quereres; tu e o teu namorado.
Um ar desprezível correu torpemente pela casa, passando de móvel para móvel, como uma borboleta moribunda.
‑ Fazes?
Victorita sentiu que um jorro de insolência lhe subia à cara.
‑ Por mim, sim. Por seis mil duros sou capaz de passar toda a vida a obedecer‑lhe. E mais vidas que eu tivesse!
‑ E o teu noivo?
‑ Perguntar‑lhe‑ei se quer.
A porta de Dona Maria abre‑se e dela sai uma rapariga, quase uma menina, que atravessa a rua.
‑ Olha, olha! Parece que saiu deste prédio!
O guarda Júlio Garcia afasta‑se do sereno Gumersindo Vega.
‑ Boa sorte!
‑ É o que faz falta.
O guarda‑nocturno, ao ficar só, põe‑se a pensar no outro. Depois lembra‑se da menina Pirula. A seguir, na cacetada que arriou nos rins a um maricas que andava a exceder‑se. O guarda‑nocturno ri‑se.
‑ Como o tipo galopava! Dona Maria baixou a persiana.
‑ Ai, que tempos! Como está o mundo! Depois calou‑se durante uns instantes.
‑ Que horas são já?
‑ É quase meia‑noite. Anda, vamos dormir, é o melhor.
‑ Vamos dormir?
‑ Sim, será melhor.
Filo vai junto das camas dos filhos e dá‑lhes a bênção. É ‑ como dizer? ‑ é uma precaução que não deixa de tomar todas as noites.
Roberto lava a sua dentadura postiça e guarda‑a num copo com água, que tapa com uma folha de papel higiénico, dobrando‑lhe o excedente em volta do copo como se fosse um pacote de amêndoas. Depois fuma um cigarro. Roberto gosta de fumar todas as noites um cigarro, já na cama e sem os dentes postiços.
‑ Não me queimes os lençóis.
‑ Não, mulher.
O guarda aproxima‑se da rapariga e dá‑lhe o braço.
‑ Julgava que não descias.
‑ É como vês!
‑ Porque te demoraste tanto?
‑ Ouve! Os miúdos não queriam dormir. E depois o senhor: «Petrita, traz‑me água! Petrita, traz‑me o tabaco que está no bolso do casaco! Petrita, dá‑me o jornal que está na saleta!» Julguei que ia estar toda a noite a pedir‑me coisas!
Petrita e o guarda desapareceram por uma rua, em direcção à Praça de Touros. Um ventinho frio sobe pelas pernas da rapariga.
Javier e Pirula fumam os dois uma só cigarrilha. É já a terceira da noite. Estão em silêncio e beijam‑se, de vez em quando, com voluptuosidade, com parcimónia.
Deitados sobre o divã, com as caras muito unidas, têm os olhos semicerrados enquanto se deleitam pensando vagamente em nada ou em quase nada.
Chega o momento em que dão um beijo mais longo, mais profundo, mais exaltado. A rapariga respira profundamente, como um queixume. Javier segura‑a por um braço, como a uma menina, e leva‑a para a alcova.
O leito tem uma colcha de «moaré», sobre a qual se reflecte a silhueta de um lustre de porcelana, de cor violeta‑claro, que está pendurado no tecto. Ao lado da cama foi ligado um aquecedor eléctrico.
Um arzinho suave sobe pelas pernas da rapariga.
‑ Isso está na mesa‑de‑cabeceira?
‑ Sim... Não fales...
Nos terrenos da Praça de Touros, refúgio incómodo dos casalinhos pobres e cheios de resignação, como os ferozes, honestíssimos amantes do Velho Testamento, ouvem‑se ‑ velhos, desengonçados, com a carroçaria desaparafusada e os travões ásperos e violentos ‑ os eléctricos que passam não muito longe, a caminho da estação.
O terreno madrugador dos miúdos barulhentos, brigões, que andam à pedrada todo o dia, é, desde a hora em que se fecham as portas, um éden um pouco obsceno onde não se pode dançar, com suavidade, aos acordes de algum oculto, quase ignorado aparelho de rádio; onde não se pode fumar o aromático e deleitoso cigarro do prelúdio; onde não se podem dizer ao ouvido subtilezas livres, absolutamente livres. Os terrenos das velhas e dos velhos que depois de comer vêm alimentar‑se de sol, como os lagartos, é, a partir da hora em que os miúdos e os casais cinquentões se deitam e sonham, um paraíso directo onde não cabem evasões nem subterfúgios, onde toda a gente sabe para o que vai, onde se ama com nobreza, quase com dureza, sobre o terno solo em que estão, ainda, os riscos feitos por uma menina que passou toda a manhã a saltar ao pé‑coxinho, os buracos perfeitos cavados por um miúdo que gastou avaramente as suas horas jogando ao berlinde.
‑ Tens frio, Petrita?
‑ Não, Júlio, estou muito bem a teu lado!
‑ Gostas muito de mim?
‑ Muito, bem o sabes.
Martin Marco vagueia pela cidade sem lhe apetecer ir para a cama. Não tem com ele sequer uma boa bebedeira e prefere esperar que o Metro feche e que os últimos amarelos e doentes eléctricos se escondam. A cidade parece mais sua, mais dos homens que, como ele, marcham sem rumo fixo com as mãos nos bolsos vazios ‑ nos bolsos vazios e que, às vezes, nem quentes estão ‑, com a cabeça vazia, com os olhos vazios, e no coração, sem que ninguém possa explicar, um vazio profundo e implacável.
Martin Marco sobe por Torrijos até Diego de León, lentamente, quase esquecido, e desce por Príncipe de Vergara, por General Mola, até à Praça de Salamanca, com o marquês de Salamanca no meio, vestindo sobrecasaca e rodeado de um jardinzinho verde e tratado com mimo. Ao Martin Marco agradam‑lhe os passeios solitários, as grandes e cansativas caminhadas pelas ruas amplas da cidade, pelas mesmas ruas em que de dia, como por milagre, se enchem ‑ transbordantes como as chávenas dos pequenos‑almoços razoáveis ‑ das vozes dos vendedores, das ingénuas e desenvoltas criadas de servir, das buzinas dos automóveis, dos prantos dos miúdos pequenos: ternos, violentos, lobinhos urbanos amestrados.
Martin Marco senta‑se num banco de madeira e acende uma beata que traz metida, como várias outras, num sobrescrito que tem a designação: «Repartição Provincial de Madrid. Cédulas Pessoais».
Os bancos das ruas são como uma antologia de todas as sensaborias e de todas as ditas: o velho que descansa da sua asma, o padre que lê o seu breviário, o mendigo que cata os piolhos, o pedreiro que almoça lado a lado com a sua mulher, o tísico que se fatiga, o louco de enormes olhos sonhadores, o músico da rua que apoia o seu cornetim nos joelhos ‑ cada um, com o seu pequenino ou grande afã, vai deixando sobre as tábuas do banco esse aroma cansado das carnes que não chegam a perceber todo o mistério da circulação do sangue. E a rapariga que repousa das consequências daquele profundo queixume, e a senhora que lê uma grande novela de amor, e a cega que espera que as horas passem, e a pequena mecanógrafa que devora as sandes de chouriço e de pão de terceira, e a cancerosa que suporta a dor, e a tonta de boca entreaberta com a baba a pingar, e a vendedora de bujigangas que descansa o tabuleiro no regaço, e a menina que o que mais lhe agrada é ver como mijam os homens...
O sobrescrito das beatas de Martin Marco veio de casa de sua irmã. O sobrescrito, bem visto, é um sobrescrito que já não serve para mais nada a não ser para levar beatas, ou pregos, ou bicarbonato. Já tiraram as cédulas pessoais há vários meses. Agora falam em dar uns bilhetes de identidade e até com as impressões digitais, mas isso é provável que ainda não seja para já. As coisas do Estado andam devagar.
Então Celestino, voltando‑se para o destacamento, diz‑lhes:
‑ Ânimo, rapazes! Para a frente, pela vitória! Que fique o que tiver medo! Comigo só quero homens válidos, homens capazes de se deixarem matar pela defesa de uma ideia!
O destacamento está em silêncio, emocionado, pendente das suas palavras. Nos olhos dos soldados nota‑se o brilho furioso da vontade de combater.
‑ Lutaremos por uma humanidade melhor! Que importa o nosso sacrifício se sabemos que não há‑de ser estéril, se sabemos que os nossos filhos colherão o que hoje semeamos?
Sobre as cabeças da tropa voa a aviação inimiga. Nem um só se move.
‑ E aos tanques dos nossos inimigos oporemos a valentia dos nossos corações! O destacamento rompe o silêncio:
‑ Muito bem!
‑ E os débeis, e os cobardes, e os doentes, deverão desaparecer!
‑ Muito bem!
‑ E os exploradores, e os especuladores, e os ricos!
‑ Muito bem!
‑ E os que jogam com a fome da população trabalhadora!
‑ Muito bem!
‑ Repartiremos o oiro do Banco de Espanha!
‑ Muito bem!
‑ Mas para alcançar a ansiada meta da vitória final, é preciso o nosso sacrifício!
‑ Muito bem!
Celestino estava mais loquaz que nunca.
‑ Avante, pois, sem desfalecimentos e sem uma única claudicação!
‑ Avante!
‑ ...Lutaremos pelo pão e pela liberdade!
‑ Muito bem!
‑ E nada mais! Que cada um cumpra o seu dever! Para a frente! Celestino, de repente, sentiu vontade de fazer uma necessidade.
‑ Um momento!
O destacamento ficou um pouco surpreendido. Celestino deu uma volta; tinha a boca seca. O destacamento começou a esbater‑se, a tornar‑se um pouco confuso...
Celestino Ortiz levantou‑se do seu enxergão, acendeu a luz do bar, bebeu um trago de água do sifão e foi para a retrete.
Laurita já tomou o seu pippermint. Pablo já tomou o seu uísque. O violinista guedelhudo, provavelmente, ainda continua a arrancar do violino, com um gesto dramático, as czardas sentimentais e as valsas vienenses.
Agora Pablo e Laurita estão sós.
‑ Nunca me deixarás, Pablo?
‑ Nunca, Laurita.
A rapariga é feliz, mesmo muito feliz. Lá no fundo do seu coração levanta‑se como que uma incerta, como que uma ligeira sombra de dúvida.
A rapariga despe‑se, lentamente, enquanto olha o homem com os olhos tristes, como uma colegial.
‑ Nunca, realmente?
‑ Nunca, verás.
A rapariga tem uma combinação branca, bordada com flores cor‑de‑rosa.
‑ Gostas muito de mim?
‑ Um horror!
O casal beija‑se de pé, em frente ao espelho do armário. Os seios de Laurita comprimem‑se um pouco contra o casaco do homem.
‑ Tenho vergonha, Pablo. Pablo ri‑se.
‑ Pobrezinha!
A rapariga tem um soutien minúsculo.
‑ Solta aqui.
Pablo beija‑lhe as costas de cima a baixo. ‑Ai!
‑ Que tens?
Laurita sorri, abaixando um pouco a cabeça.
‑ Que mau que és!
O homem volta a beijá‑la na boca.
‑ Mas, não gostas?
A rapariga sente‑se profundamente agradecida a Pablo.
‑ Sim, Pablo, muito. Gosto muito, muitíssimo...
Martin sente frio e pensa em dar uma volta pelos prostíbulos das calles de Alcântara, de Montesa, de Las Naciones, que são umas ruelas pequenas, cheias de mistério, com árvores nos passeios estragados e transeuntes pobres e pensativos que se divertem a ver entrar e sair as pessoas das casas de encontros, imaginando o que se passa lá dentro, por detrás das paredes de sombrios azulejos vermelhos.
O espectáculo, mesmo para Martin, que o vê de dentro, não é do mais divertido, mas mata o tempo. Além disso, de casa em casa, sempre se vai apanhando algum calor.
E também um pouco de carinho. Há raparigas muito simpáticas, as de três duros; não são muito bonitas, isso é verdade, mas são boas e amáveis, e têm um filho nos agostinhos ou nos jesuítas, o filho por quem fazem esforços tremendos para que não seja um filho da desgraça, o filho que vão ver, de vez em quando, um domingo à tarde, com um véu na cabeça e sem se pintarem. As outras, as presunçosas, tornam‑se insuportáveis com as suas pretensões e com ares de duquesas; são bonitas, é certo, mas também são ruins e despóticas, e não têm filhos em nenhum lado. As mais luxuosas abortam e, quando não o conseguem, atabafam a criatura à nascença, tapando‑lhe a cabeça com uma almofada e sentando‑se em cima.
Martin continua a pensar, às vezes em voz baixa:
‑ Não consigo perceber como ainda há criadinhas de vinte anos a ganhar doze duros.
Martin lembra‑se da Petrita, com as suas carnes escuras e com a cara lavada, as pernas direitas e os seios levantando a blusa ou a camisola.
‑ É um encanto de criatura, fazia carreira e até poderia arranjar alguns duros. Enfim, enquanto for decente, melhor. O pior é quando algum peixeiro ou guarda da Segurança a entontecer. Então dar‑se‑á conta de que está a perder o seu tempo.
Martin sai por Lista e ao chegar à esquina de General Pardinas mandam‑no fazer alto, revistam‑no e pedem‑lhe a documentação.
Martin ia a arrastar os pés, a fazer cias! cias! sobre as pedras do passeio. É uma coisa que entretém muito...
Mário de la Vega foi cedo para a cama. Queria estar fresco no dia seguinte, para o caso de a manobra da Dona Ramona sair bem.
O homem que ia entrar a ganhar dezasseis pesetas não era cunhado de uma rapariga que trabalhava na Tipografia El Porvenir, porque o seu irmão Paço tinha apanhado uma tuberculose forte.
‑ Bem, rapaz, até amanhã?
‑ Adeus, passe bem. Até amanhã e que Deus lhe dê muita sorte, estou‑lhe muito agradecido.
‑ De nada, homem, de nada. O que é preciso é que saibas trabalhar.
‑ Tentarei, senhor.
Ao relento, Petrita queixa‑se, cheia de gozo, com todo o sangue do corpo na cara.
Petrita gosta muito do guarda, o seu primeiro namorado, o homem que levou as primícias do amor por diante. No povoado, pouco antes de vir para aqui, a rapariga teve um pretendente, mas as coisas não adiantaram muito.
‑ Ai, Mio, ai, ai! Ai, que mal que me fazes! Selvagem! Ai, ai! O homem morde‑a na fogosa garganta.
Os namorados ficam depois uns momentos em silêncio, sem se moverem. Petrita parece pensativa.
‑ Júlio.
‑ Que é?
‑ Gostas de mim?
O sereno da Calle de Ibiza acolhe‑se numa escada deixando a porta entreaberta para o caso de alguém o chamar.
O sereno da Calle de Ibiza acende a luz da escada; depois esfrega os dedos que os mitenes deixam de fora, para desentorpecê‑los. A luz da escada apaga‑se de repente. O homem esfrega as mãos e volta a acender a luz. Depois puxa pela cigarreira e enrola um cigarro.
Martin fala suplicante, acobardado, com precipitação. Martin treme como varas verdes.
‑ Não tenho os documentos comigo, deixei‑os em casa. Sou escritor, chamo‑me Martin Marco.
Ao Martin dá‑lhe a tosse. Depois ri‑se.
‑ Oh! Perdoem‑me, estou um pouco constipado, é isso, um pouco constipado. (Continua a tossir.)
Martin estranha que o polícia não o reconheça.
‑ Colaboro com a imprensa do Movimento, os senhores podem perguntar na secretaria, aí em Génova. O meu último artigo saiu há uns dias em vários jornais da província, no Odiel, de Huelva; na Proa, de León; na Ofensiva, de Cuenca. Chamava‑se Razões da Permanência Espiritual de Isabel, a Católica.
O polícia fuma um cigarro.
‑ Vamos, vá dormir que faz frio.
‑ Obrigado, obrigado.
‑ Não tem de quê. Oiça. Martin julgou morrer.
‑ Diga?
‑ Que não lhe falte a inspiração.
‑ Adeus, adeus e obrigado.
Martin alarga o passo e não volta a cabeça, não se atreve. Leva no corpo um medo espantoso que não sabe explicar.
Roberto, enquanto lê o jornal, acaricia, um pouco por obrigação, a sua mulher, que apoia a cabeça sobre o seu ombro. Neste tempo, põem sempre um casaco aos pés.
‑ Amanhã o que é, Roberto? Um dia muito triste ou dia muito feliz?
‑ Um dia muito feliz, mulher!
Filo sorri. Num dos dentes da frente tem uma cárie funda, negra, redonda.
‑ Sim, talvez!
A mulher, quando sorri recatadamente, emocionada, esquece‑se da cárie e mostra a dentadura.
‑ Sim, Roberto, é verdade. Que dia tão feliz amanhã!
‑ Pois claro, Filo! E além disso, sabes o que te digo, desde que tenhamos saúde...!
‑ E temos, Roberto, graças a Deus.
‑ Sim, não nos podemos queixar. Quantos estarão pior! Nós, mal ou bem, lá vamos andando. Eu não peço mais.
‑ Nem eu, Roberto. Verdadeiramente, muitas graças temos que dar a Deus, não achas?
Filo está muito agradecida ao seu marido; o facto de que lhe liguem alguma importância enche‑a de alegria. Filo muda um pouco a voz.
‑ Roberto, ouve.
‑ Que é?
‑ Deixa o jornal, homem.
‑ Se queres...
Filo agarra num braço de Roberto.
‑ Escuta.
‑ Diz.
A mulher fala como uma noiva.
‑ Gostas muito de mim?
‑ Pois claro, filha, claro que gosto muito! Que ideia a tua!
‑ Muito, muito?
Roberto deixa cair as palavras como um sermão; quando faz a voz grave, para dizer algo solene, parece um orador sagrado.
‑ Muito mais do que imaginas!
Martin vai desbocado, com o peito arquejante, as fontes a parecerem fogo, a língua junta ao céu da boca, a garganta arrepanhada, as pernas trementes, o ventre como uma caixa de música com a corda partida, os ouvidos a zumbir, os olhos mais míopes que nunca.
Martin trata de pensar, enquanto corre. As ideias atropelam‑se, caem e levantam‑se‑lhe dentro da cabeça, agora tão grande como um comboio, e não sabe explicar como não bate nas duas filas de casas da rua.
Martin, através do frio, sente na carne um calor sufocante, um calor que quase o asfixia, um calor húmido e até afável, um calor unido por mil fiozinhos invisíveis a outros calores cheios de ternura, cobertos de doces recordações.
‑ Minha mãe, minha mãe, são as emanações de eucaliptos, as emanações de eucaliptos, faz mais emanações de eucaliptos, não sejas assim...
Dói‑lhe a cabeça, dão‑lhe uns latejos rigorosamente a compasso, secos, fatais.
‑ Ai! Dois passos.
‑ Ai! Dois passos.
‑ Ai! Dois passos.
Martin leva a mão à testa. Está a suar como um bezerro, como um gladiador no circo, como um porco na matança.
- Ai!
Mais dois passos.
Martin começa a pensar muito depressa.
‑ De que tenho medo? Ah, ah! De que tenho eu medo? De quê, de quê? Tinha um dente de oiro. Ah, ah! De que posso eu ter medo? De quê? De quê? A mim ficava‑me bem um dente de oiro. Que luxo! Ah, ah! Eu não me meto em nada! Em nada! Que me podem fazer se eu não me meto em nada? Ah, ah! Que tipo! Um dente de oiro! Porque tenho eu medo? Não ganhamos para os sustos! Ah, ah! De repente, zás!, um dente de oiro! «Alto! os papéis!» Eu não tenho papéis. Ah, ah! Tão‑pouco tenho um dente de oiro. Ah, ah! Neste país nem Deus conhece os escritores. Paço, ai, se Paço tivesse um dente de oiro! Ah, ah! «Sim, colabora, colabora, não sejas parvo, logo verás que...» Que piada! Ah, ah! Isto é para uma pessoa ficar maluca! Isto é um mundo de loucos! De loucos varridos! De loucos perigosos! Ah, ah! À minha irmã fazia‑lhe falta um dente de oiro. Se tivesse dinheiro comprava um dente de oiro à minha irmã. Ah, ah! Nem a Isabel, a Católica, nem a vice‑secretária, nem a constância espiritual de ninguém. Está claro? O que eu quero é comer! Comer! Será que falo latim? Ah, ah! Ou chinês? Oiça, ponha‑me aqui um dente de oiro. Todo o mundo percebe. Ah, ah! Todo o mundo. Comer! Hem?! Comer! E quero comprar um maço inteiro e não fumar as beatas! Hã? Este mundo é uma merda! Aqui andam todos ao mesmo! Eh? Todos! Os que mais gritam calam‑se ao receberem duas mil pesetas por mês! Um dente de oiro. Ah, ah! E os que andam por aí de qualquer maneira, mal vestidos,
a estender a mão?! Muito bem! Mas mesmo muito bem! Dá‑me vontade de chamar cornos a todos, chiça!
Martin cospe com força e pára, o corpo apoiado contra a parede cinzenta de um prédio. Não vê nada nítido e há momentos em que não sabe se está vivo ou morto.
Martin está vencido.
A alcova do casal González tem os móveis de chapa, um dia agressiva e brilhante, hoje estragada e baça: a cama, as duas mesinhas‑de‑cabeceira, uma cómoda e um guarda‑vestidos.
A lâmpada do tecto, de globos verdes, está apagada. O candeeiro de globos verdes não tem lâmpadas, está só para adornar. A casa é iluminada com uma lâmpada que existe sobre a mesa‑de‑cabeceira de Roberto.
A cabeceira da cama, na parede, um cromo da Virgem del Perpetuo Socorro, prenda de casamento dos amigos de Roberto, presidiu a cinco felizes partos.
Roberto deixa o jornal.
O casal beija‑se com certa perícia. Ao fim destes anos, Roberto e Filo descobriram um mundo quase ilimitado.
‑ Ouve, Filo, olhaste para o calendário?
‑ Que nos importa a nós o calendário, Roberto! Se soubesses como gosto de ti! Cada vez mais!
‑ Bem, mas, vamos fazê‑lo... assim?
‑ Sim, Roberto, assim.
Filo tem as maçãs do rosto ruborizadas. Roberto fala como um filósofo.
‑ Bem, onde comem cinco cachorros, também podem comer seis, não achas?
‑ Claro que sim, filho, claro que sim. Que Deus nos dê saúde e o resto... repara. Se não estamos mais à vontade, ficamos um pouco mais apertados e pronto!
Roberto tira os óculos, mete‑os no estojo e coloca‑os sobre a mesa‑de‑cabeceira, ao lado do copo de água que tem dentro, qual peixe misterioso, a dentadura postiça.
‑ Não tires a camisa de dormir, que te podes constipar.
‑ Não me importo, o que eu quero é agradar‑te. Filo sorri, quase provocante.
‑ O que eu quero é agradar muito ao meu maridinho... Filo, toda nua, ainda tem uma certa formosura.
‑ Ainda te agrado?
‑ Muito, cada dia mais.
‑ Que aconteceu?
‑ Pareceu‑me que um dos miúdos chorava.
‑ Não, filha, estão a dormir. Continua...
Martin tirou o lenço e passou‑o pelos lábios. Num chafariz, Martin agacha‑se e bebe. Pensou que ia estar uma hora a beber, mas a sede acabou‑se depressa. A água estava fria, quase gelada.
O sereno aproximou‑se, com a cabeça envolvida num cachecol.
‑ Com que então a beber, hem?
‑ É verdade, a beber um pouco...
‑ Que noite esta!
‑ Também digo, uma noite para cães!
O sereno afasta‑se e Martin, à luz de um candeeiro, procura no sobrescrito outra beata de bom tamanho.
‑ O polícia era um homem muito amável. Isso é verdade. Pediu‑me a documentação ao pé de um candeeiro, para não me assustar. Além disso deixou‑me prosseguir. Deve ter visto que não tenho o ar de me meter em nada, que sou um homem que não me meto onde não sou chamado; esta gente está muito habituada a distinguir. Tinha um dente de oiro e usava um esplêndido casaco. Sim, não há dúvida que devia ser um homem muito amável...
Martin sente um tremor por todo o corpo e nota que o coração lateja, outra vez com mais força, dentro do peito.
‑ Isto desaparecia‑me com três duros.
O padeiro chama a sua mulher.
‑ Paulina!
‑ Que queres?
‑ Traz‑me a bacia!
‑ Já começas?
‑ Vá, anda, está calada e vem.
‑ Está bem, está bem!
O quarto dos padeiros é de madeira rija, de nogueira maciça, expressivo e decente como os amos. Na parede brilham, nas suas três molduras iguais, uma reprodução em alpaca da Última Ceia, uma litografia representando uma Puríssima de Murillo, e um retrato do casamento com a Paulina, de véu branco, sorridente e de traje escuro o Sr. Ramón, de chapéu, bigode e corrente de oiro.
Martin desce por Alcântara até aos chalés, vira para Ayala e chama o sereno.
‑ Boa noite, senhor.
‑ Olá. Não, essa não.
À luz de uma lâmpada lê‑se Vivenda Filo. Martin tem ainda uns vagos, imprecisos, esfumados respeitos familiares. O que se passou com a sua irmã... bem! Águas passadas não movem moinhos. A sua irmã não é nenhuma desajeitada. O amor é uma coisa que não se sabe onde termina. Nem tão‑pouco onde começa. Pode‑se gostar mais de um cão que de uma mãe. Ou de sua irmã... Bah! Depois de tudo, quando um homem se aquece não distingue. Os homens neste aspecto continuam a ser como os animais.
As letras onde se lê Vivenda Filo são negras, toscas, frias, demasiado direitas, sem graça nenhuma.
‑ O senhor desculpe, vou dar uma volta por Montesa.
‑ Como queira. Martin pensa:
‑ Este sereno é um miserável, os serenos são todos uns miseráveis, não sorriem nem nunca se enfurecem sem antes calcularem. Se soubesse que estou teso corria comigo, desancava‑me com o pau.
Já na cama, Dona Maria, a senhora do rés‑do‑chão, fala com o marido. Dona Maria é uma mulher de quarenta ou quarenta e dois anos. O seu marido aparenta ter uns seis anos a mais.
‑ Escuta, Pepe.
‑ Que é?
‑ Estás um pouco despegado hoje.
‑ Não digas isso!
‑ Sim, a mim parece‑me que sim.
‑ Mas que coisa!
José Sierra não trata a mulher nem bem nem mal, trata‑a como se fosse um móvel que, às vezes, por mania, falasse como uma pessoa.
‑ Escuta, Pepe.
‑ O quê?
‑ Quem ganhará a guerra?
‑ E a ti que te importa? Anda, deixa‑te dessas coisas e dorme.
D. Maria põe‑se a olhar para o tecto. Passados uns momentos, torna a falar com o marido.
‑ Escuta, Pepe.
‑ O quê?
‑ Queres que vá buscar o paninho?
‑ Vai buscar o que quiseres.
Na Calle de Montesa não há mais que empurrar a grade do jardim e bater com os nós dos dedos na porta. Falta o botão da campainha, e a argola está solta. Martin já o sabia de outras vezes.
‑ Olá, Dona Jesusa! Como está?
‑ Eu bem, e tu?
‑ Pois como vê! A Marujita está?
‑ Não, filho. Esta noite não veio, e estou a estranhar. Talvez ainda apareça. Queres esperar por ela?
‑ Está bem, esperarei. Para o que tenho que fazer!
Dona Jesusa é uma mulher forte, amável, obsequiosa, com o ar de ter sido bonita; tem o cabelo pintado de loiro e é muito empreendedora.
‑ Anda, vem connosco para a cozinha, tu és como da família.
‑ Sim...
Em redor do fogão onde fervem várias cafeteiras com água, cinco ou seis raparigas dormitam aborrecidas e com cara de não estarem nem tristes nem contentes.
‑ Que frio que faz!
‑ É verdade, mas aqui está‑se bem!
‑ De facto, aqui está‑se muito bem. Dona Jesusa aproxima‑se de Martin.
‑ Chega‑te ao fogão, estás gelado. Não tens sobretudo?
‑ Não.
‑ Não me digas!
Martin não se diverte com a caridade. No fundo, Martin também é um nietzscheano.
‑ Oiça, Dona Jesusa, e a Uruguaiana, também não está?
‑ Sim, mas está ocupada; veio com um senhor e foi dormir com ele.
‑ Caramba!
‑ Ouve lá, se não é indiscrição, para que queres tu a Marujita? Para estares um bocado com ela?
‑ Não... Queria dar‑lhe um recado.
‑ Vamos, não sejas tolo. É que... estás mal de fundos? Martin Marco sorriu; já começava a sentir calor.
‑ Mal não, Dona Jesusa, pior!
‑ És um tonto, filho. Nestas ocasiões não tens confiança em mim, e como eu gostava da tua pobre mãe, que em paz descanse!
Dona Jesusa deu com o ombro numa das raparigas que se aqueciam ao lume, uma rapariga fracalhota que estava a ler um romance.
‑ Ouve, Pura, vai com este. Vá, vão‑se deitar e não desças já. Não te preocupes, amanhã falaremos.
A rapariga olha para Martin e sorri. Pura é jovem, muito atraente, franzina, olheirenta, com certo ar de virgem viciosa.
‑ Dona Jesusa, muito obrigado, a senhora é sempre tão boa para mim.
‑ Cala‑te, mimoso, já sabes que te trato como a um filho.
Três lanços de escadas e um quarto com uma cama, um gomil, um espelho com moldura branca e uma cadeira.
Um homem e uma mulher.
Quando falta o amor, há que ir buscar calor. Pura e Martin deitaram sobre a cama toda a roupa, para estarem mais abrigados. Apagaram a luz. (Não, não. Está quieta, muito quieta...) E dormiram abraçados, como dois recém‑casados.
Lá fora ouvia‑se, de vez em quando, o Aí vou dos serenos.
Através do tabique ouvia‑se o ranger de um colchão de arame, como o canto de uma cigarra.
A noite fecha‑se, cerca da uma e meia ou das duas da madrugada, sobre o estranho coração da cidade.
Milhares de homens dormem abraçados às suas mulheres, sem pensarem no duro, no cruel dia que talvez os espere, agachado como um gato montês, dentro de poucas horas.
Centos e centos de doutores caem no íntimo, no sublime e delicadíssimo vício solitário.
E algumas dúzias de raparigas esperam ‑ que esperam, meu Deus? porque as têm tão enganadas? ‑ com a cabeça cheia de sonhos doirados...
Capítulo Quinto
Por volta das oito e meia da tarde, e às vezes antes, já a Julita costuma estar em casa.
‑ Olá Julita!
‑ Olá mamã!
A mãe olha‑a de cima a baixo, orgulhosa.
‑ Onde te meteste?
A rapariga deixa o chapéu em cima do piano e ajeita a melena em frente do espelho. Fala distraidamente, sem olhar para a mãe.
‑ Por aí!
A mãe tem a voz terna, como se quisesse tornar‑se agradável.
‑ Por aí! Por aí! Passas o dia na rua e depois, quando chegas, não me contas nada. E eu que tanto gosto de saber coisas a teu respeito! A tua mãe que tanto te quer...
A rapariga retoca os lábios olhando‑se no espelho da caixa do pó‑de‑arroz.
‑ E o papá?
‑ Não sei. Porquê? Saiu há um bocado e ainda é cedo para regressar. Porque perguntas isso?
‑ Por nada. Lembrei‑me de repente que o vi na rua.
‑ E que grande que é Madrid! Julita continua a falar.
‑ Vi‑o na Calle de Santa Engracia. Eu vinha de uma casa, de tirar uma fotografia.
‑ Não me tinhas dito nada.
‑ Queria fazer‑te uma surpresa... Ele ia para a mesma casa; pelo visto tem algum amigo doente.
A rapariga olha‑a pelo espelho. Às vezes pensa que a sua mãe tem cara de tonta.
‑ Também não me disse nada! Dona Visi tinha um ar triste.
‑ Vocês nunca me dizem nada.
Julita sorri e aproxima‑se para beijar a mãe.
‑ Que bonita que é a minha velhota!
Dona Visi beija‑a, inclina a cabeça para trás e arqueia as sobrancelhas.
‑ Ui! Cheiras a tabaco! Julita disse:
‑ Pois não fumei, já sabes de sobra que não fumo, que me parece pouco feminino.
A mãe faz um gesto severo.
‑ Então... Beijaram‑te?
‑ Por amor de Deus, mamã, por quem me tomas? A mulher, a pobre mulher, segura nas mãos da filha.
‑ Perdoa‑me, minha filha, é verdade! Que disparates que eu digo! Fica uns instantes pensativa e fala em voz baixa, como para si mesma:
‑ Nós pensamos que para uma filha tudo é perigoso... Julita deixa escapar duas lágrimas.
‑ Dizes cada coisa!
A mãe sorri, um pouco à força, e acaricia o cabelo da filha.
‑ Anda, não sejas criança, não faças caso. Disse‑te isso a brincar. Julita está abstracta, parece que não ouve.
‑ Mamã...
‑ Que é?
Pablo pensa que os sobrinhos da sua mulher vieram estragar‑lhe a tarde. Àquelas horas estavam já todos os dias no café de Dona Rosa, a tomar chocolate.
Os sobrinhos da sua mulher chamam‑se Anita e Fidel. Anita é filha de um irmão de Dona Pura, empregado na Câmara Municipal de Saragoça, o qual possui uma condecoração porque uma vez salvou do Ebro uma senhora que era prima do presidente dos deputados. Fidel é o seu marido, um rapaz que tem uma confeitaria em Huesca. Estão a passar uns dias em Madrid, em viagem de núpcias. Fidel é jovem, usa bigode e uma gravata verde‑clara. Em Saragoça ganhou, seis ou sete meses atrás, um concurso de tangos, e nessa mesma noite apresentaram‑lhe a rapariga que é agora a sua mulher.
O pai de Fidel, também pasteleiro, tinha sido um tipo muito bruto e que não falava senão de danças e da Virgem do Pilar. Presumia‑se de culto e empreendedor e usava dois tipos de cartões de visita, um que dizia: Joaquín Bustamante. Comerciante, e outro, em letra gótica, onde se lia: Joaquín Bustamante Valls. Autor do projecto «Há que dobrar a produção agrícola em Espanha». Quando morreu deixou uma quantidade enorme de folhas de papel de barba cheias de números e de planos; queria duplicar as colheitas com um sistema de sua invenção: umas tremendas bacias cheias de terra fértil, que recebiam a água por uns poços artesianos e o sol por um jogo de espelhos.
O pai de Fidel mudou o nome à pastelaria quando a herdou do seu irmão mais velho, morto em 98 nas Filipinas. Dantes chamava‑se A Adocicada, mas pareceu‑lhe um nome pouco significativo e então pôs‑lhe: O Solar dos Nossos Maiores. Esteve mais de meio ano a tentar descobrir um título e já tinha apontados pelo menos trezentos, todos neste estilo.
Durante a República e aproveitando o facto de o pai ter morrido, Fidel tornou a mudar o nome da pastelaria e pôs‑lhe o de Sorvete de Oiro.
‑ Não há razão para que as confeitarias tenham nomes políticos ‑ dizia. Fidel, com uma intuição rara, associava a designação O Solar dos Nossos
Maiores com determinadas tendências do pensamento.
‑ O que temos de fazer é meter alguém, seja quem for, para os suíços(1) e para os petiscos. Com as mesmas pesetas nos pagam tanto os republicanos como os carlistas.
Os jovens, já sabeis, vieram a Madrid passar a lua‑de‑mel e julgaram‑se na obrigação de fazer uma demorada visita aos tios. Pablo não sabia como se havia de livrar deles.
‑ De modo que gostam muito de Madrid?
‑ Sim...
Passados uns momentos, Pablo diz:
*1. Bolo especial de farinha, ovo e açúcar. (N. do T.)
‑ Bem!
Dona Pura está passada. O casal, sem dúvida, parece não perceber.
Victorita foi à Calle de Fuencarral, à leitaria de Dona Ramona Bragado, a antiga amante daquele senhor que foi duas vezes subsecretário da Fazenda.
‑ Olá, Victorita! Que grande alegria que me dás!
‑ Olá, Dona Ramona.
Dona Ramona sorri, melíflua, obsequiosa.
‑ Já sabia que a minha menina não havia de faltar ao encontro! Victorita também tentou sorrir.
‑ Sim, vê‑se que está muito acostumada.
‑ Que disseste?
‑ Nada, nada.
‑ Ai, filha, que suspicaz!
Victorita despiu o casaco. Tinha o decote da blusa desabotoado e nos olhos um brilho estranho, não se sabia bem se suplicante, humilhado ou cruel.
‑ Estou bem assim?
‑ Mas, filha, que se passa?
Dona Ramona, olhando para outro lado, tentou tirar nabos do púcaro.
‑ Anda, anda! Não sejas criança. Entra e vai jogar às cartas com as minhas sobrinhas.
Victorita deixou‑se ficar.
‑ Não, Dona Ramona. Não tenho tempo. O meu namorado espera‑me. A mim, sabe a senhora?, já me rebenta andar a dar voltas ao assunto como um burrico numa nora. Escute, a si e a mim o que interessa é ir direito ao assunto, entende?
‑ Não, filha, não te entendo.
Victorita tinha o cabelo um pouco revolto.
‑ Então vou ser mais clara: onde está o cabrito? Dona Ramona ficou espantada.
‑Hã?
‑ Onde está o cabrito? Compreende? Onde está esse tipo?
‑ Ai, filha, que tu és uma dessas.
‑ Bem, eu sou o que a senhora quiser, a mim não me importa. Eu tenho que estar com um homem para poder comprar medicamentos a outro. Que venha esse tipo!
‑ Mas, filha, porque falas assim?
Victorita levantou a voz.
‑ Porque não me apetece falar de outra maneira, velha alcoviteira! Percebe? Porque não me apetece!
As sobrinhas de Dona Ramona, ao ouvirem vozes, apareceram.
‑ Que se passa, tia?
‑ Ai! Esta má rês, desgraçada, quis bater‑me!
... Victorita estava completamente serena. Pouco antes de fazer algum disparate toda a gente está completamente serena. Ou também pouco antes de se decidir a não fazê‑lo.
‑ Voltarei outro dia, quando tiver menos clientes.
A rapariga abriu a porta e saiu. Antes de chegar à esquina, Mário alcançou‑a. O homem levou a mão ao chapéu.
‑ A menina perdoe. Parece‑me, para que vamos estar com rodeios?, que eu sou um pouco o culpado de tudo isto. Eu...
Victorita interrompeu:
‑ Homem, encantada em o conhecer! Aqui me tem! Não andava à minha procura? Juro‑lhe que nunca me deitei com mais ninguém a não ser com o meu namorado. Há três meses, quase quatro que não sei o que é um homem. Eu gosto muito do meu noivo. De si nunca hei‑de gostar, mas enquanto me pagar irei para a cama. Já estou farta. O meu namorado salva‑se com uns duros. Não me importa traí‑lo. Quero é seguir para a frente. Se o senhor o curar, juntar‑me‑ei a si até se fartar.
A voz da rapariga já vinha a tremer. Por fim começou a chorar.
‑ Desculpe...
Mário, que era atravessado com algumas veias sentimentais, tinha um pequeno nó na garganta.
‑ Acalme‑se, menina! Vamos tomar um café, far‑lhe‑á bem. No café, Mário diz à Victorita:
‑ Eu dar‑te‑ia dinheiro para que levasses ao teu namorado, mas, façamos o que façamos, ele vai pensar o que lhe apetecer, não achas?
‑ Sim, pense o que quiser. Ande, leve‑me para a cama.
Julita, abstracta, parece não ouvir, como se estivesse na Lua.
‑ Mamã...
‑ Que é?
‑ Tenho uma confissão a fazer‑te.
‑ Tu? Ai, filha, não me faças rir!
‑ Não, mamã, falo‑te a sério, tenho uma confissão a fazer‑te.
À mãe tremem‑lhe um pouco os lábios ‑ havia que fixá‑los muito para se perceber.
‑ Conta, filha, conta.
‑ Pois... Não sei se me atreverei.
‑ Vamos, filha, conta, não sejas cruel. Pensa no que se diz, que uma mãe é sempre uma amiga, uma confidente para a sua filha.
‑ Bem, se é assim...
‑ Vá lá, conta.
‑ Mamã...
‑ Que é?
Julita teve um momento de coragem.
‑ Sabes porque cheiro a tabaco?
‑ Porquê?
A mãe, que estava ofegante, ter‑se‑ia asfixiado com um cabelo.
‑ Porque estive muito próxima de um homem e ele fumava um charuto. Dona Visi respirou. A sua consciência, sem dúvida, continuava a pedir‑lhe seriedade.
‑Tu?
‑ Sim, eu.
‑ Mas...
‑ Não, mamã, não tenhas receio. É muito bom.
A rapariga assume uma atitude sonhadora, parece uma poetisa.
‑ Muito bom! Muito bom!
‑ E é pessoa decente, filha? Isso é o principal.
‑ Sim, mamã, também é decente.
Esse último vermezito do desejo que existe nalguns velhos mudou de posição no coração de Dona Visi.
‑ Bem, filha, eu não sei o que te dizer. Que Deus te abençoe...
À Julita tremeram‑lhe um pouco as pálpebras, tão pouco que era quase impossível dar‑se por isso.
‑ Obrigada, mamã.
No dia seguinte, Dona Visi estava a coser quando bateram à porta. ‑ Tica, vai abrir!
Escolástica, a velha e suja criada a quem todos chamam Tica, foi abrir a porta.
‑ Minha senhora, um registo.
‑ Um registo? ‑Sim.
‑ Hum, que estranho!
Dona Visi assina no livro do carteiro.
‑ Toma, dá‑lhe uma perra(1).
O sobrescrito do registo diz: Senorita Mia Moisés, Calle de Hartzenbusch, 57, Madrid.
‑ Que será? Parece cartão.
Dona Visi olha à transparência, mas não se vê nada.
‑ Estou cheia de curiosidade! Um registo para a menina, que coisa mais estranha!
Dona Visi pensa que a Julita já não deve demorar‑se muito, que depressa a tirará de dúvidas. Dona Visi continua a coser.
‑ Que poderá ser?
Dona Visi pega outra vez no sobrescrito cor de palha e um pouco maior que os normais, revê‑o por todos os lados e torna a apalpá‑lo.
‑ Que tonta que eu sou! Uma foto! A foto da menina! Mas que rápido! Dona Visi rasga o sobrescrito e um senhor de bigode cai no cesto da costura.
‑ Caramba, que tipo!
Por mais que o olhe e por mais voltas que dê...
O senhor de bigode chamou‑se em vida Obdulio. Dona Visi ignora‑o, Dona Visi ignora quase tudo o que se passa no mundo.
‑ Quem será este tipo?
Quando Julita chega, a mãe sai‑lhe ao caminho.
‑ Julita, tiveste uma carta. Abri‑a porque vi que era uma foto e pensei que fosse a tua. Tenho tanta vontade de a ver!
Julita fez um gesto brusco. Julita era às vezes um pouco déspota com a mãe.
‑ Onde está?
‑ Toma. Penso que deve ser uma brincadeira. Julita vê a foto e fica branca.
‑ Sim, uma brincadeira de mau gosto.
A mãe cada vez entende menos do que se passa com a filha.
*1. Equivale a 2 cêntimos.
‑ Conhece‑lo?
‑ Não, como é que podia conhecê‑lo?
Julita guarda a foto de Obdulio e um papel que a acompanhava onde, com uma letra desajeitada, estava escrito: Conheces este, pequerrucha?
Quando Julita se encontrou com o seu namorado, disse‑lhe:
‑ Olha o que recebi pelo correio.
‑ O morto!
‑ Sim, o morto!
Ventura fica um bocado calado, com cara de conspirador.
‑ Dá‑ma, eu sei o que fazer com ela.
‑ Toma.
Ventura aperta um pouco o braço de Julita.
‑ Sabes o que te digo?
‑ Não.
‑ Que talvez seja melhor mudar de ninho, procurar outra coisa. Isto não me está a cheirar bem.
‑ Sim, a mim também. Ontem encontrei‑me na escada com o meu pai.
‑ Viu‑te?
‑ Pois claro!
‑ E que lhe disseste?
‑ Nada, que vinha de tirar uma foto. Ventura fica outra vez pensativo.
‑ Notaste alguma coisa em tua casa?
‑ Não, por agora nada.
Pouco antes de ver a Julita, Ventura encontrou‑se com Dona Célia na Calle de Luchana.
‑ Adeus, Dona Célia!
‑ Adeus, Senhor Aguado! Nem de propósito, nem que tivessem posto o senhor no meu caminho. Estou muito satisfeita de o ter encontrado, tenho uma coisa muito importante para lhe dizer.
‑ A mim?
‑ Sim, uma coisa que o interessa. Eu perco um bom cliente, mas paciência,
tenho de lho dizer, não quero aborrecimentos; o senhor e a sua noiva devem andar com cuidado, o pai da rapariga também lá vai. ‑Sim?
‑ É como ouve.
‑ Mas...
‑ Nem mais, é como lhe digo!
‑ Sim, sim, bem... Muito obrigado!
Já todos jantaram.
O Ventura acaba de redigir uma breve carta, e agora está a escrever o endereço: Sr. Roque Moisés, Calle de Hartzenbusch, 57, Interior.
A carta, escrita à máquina, diz assim: Caro senhor
Aqui junto a foto que no vale de Josafat poderá falar contra si. Ande com tacto e não jogue, podia ser perigoso. Cem olhos o espiam e mais de uma mão não se importaria de lhe apertar o pescoço. Tenha cuidado, já sabemos em quem votou em 36.
A carta não levava assinatura.
Quando Roque a recebesse, ficaria sem alento. Não poderá lembrar‑se de Obdulio, mas a carta sem dúvida que lhe fará perder o ânimo.
«Isto deve ser obra dos mações ‑ pensará ‑, tem todas as características; a foto não é mais que para despistar. Quem será este desgraçado com cara de morto de há trinta anos?»
Dona Asuncíón, a mãe de Paquita, contava à Dona Juana Entrena, viúva de Sisemón e inquilina vizinha do Sr. Ibrahim e da pobre Dona Margot, a sorte que a sua filha tinha tido.
Dona Juana Entrena, para compensar, dava todos os pormenores sobre a morte trágica da mãe do Suárez, com a alcunha de «a Fotógrafa».
Dona Asunción e Dona Juana eram quase velhas amigas; conheceram‑se quando foram evacuadas para Valença, durante a Guerra Civil, as duas na mesma camioneta.
‑ Ai, filha, sim! Estou encantada! Quando recebi a notícia que a esposa do noivo da minha Paquita tinha morrido, julguei enlouquecer. Que Deus me perdoe, nunca desejei o mal de ninguém, mas essa mulher era a sombra que escurecia a felicidade da minha filha.
Dona Juana, com a vista cravada no chão, voltou ao seu tema: o assassínio de Dona Margot.
‑ Com uma toalha! A senhora pensa que há o direito? Com uma toalha! Que falta de consideração para uma anciã! O criminoso estrangulou‑a como se fosse um frango. Pus‑lhe uma flor na mão. A pobre ficou com os olhos abertos, segundo dizem parecia uma coruja, pois eu não tive coragem para a ver; a mim, estas coisas impressionam‑me muito. Deus queira que me engane, mas tenho a impressão de que o filho deve andar metido nisto. O filho da Dona Margot, que em paz descanse, era mariquinhas, sabe?, andava com muito más companhias. O meu pobre marido dizia sempre: quem mal anda, mal acaba.
O defunto marido da Dona Juana, Gonzalo Sisemón, terminou os seus dias num prostíbulo de terceira classe, numa tarde em que o coração lhe falhou. Os amigos tiveram de trazê‑lo para casa de táxi, à noite, para evitar complicações. À Dona Juana disseram‑lhe que tinha morrido na bicha de Jesus de Medinaceli, e Dona Juana acreditou. O cadáver de Gonzalo vinha sem os suspensórios, mas Dona Juana não deu por isso.
‑ Pobre Gonzalo! ‑ dizia. ‑ Pobre Gonzalo!A única coisa que me conforta é pensar que foi direitinho ao Céu, que a estas horas está muito melhor que nós! Pobre Gonzalo!
Dona Asunción, como quem pressente trabalhos, continua a falar da Paquita:
‑ Agora, se Deus quisesse que ela ficasse de esperanças! Isso, sim, é que era sorte! O seu noivo é um senhor muito considerado por toda a gente, não é nenhum borra‑botas, é um catedrático. Eu fiz uma promessa de ir a pé até ao Cerro de los Angeles se a pequena ficasse grávida. Não acha que faço bem? Penso que, pela felicidade de uma filha, todo o sacrifício é pouco, não lhe parece? Que alegria deve ter tido a Paquita por o seu noivo estar livre!
Às cinco e um quarto ou às cinco e meia, o Dr. Francisco chega a sua casa, para dar as consultas. Na sala de espera há sempre uns doentes que aguardam, circunspectos e em silêncio. O Dr. Francisco vai sempre acompanhado do genro, com quem divide o trabalho.
O Dr. Francisco abriu um consultório popular, que lhe deixa umas boas pesetas todos os meses. Ocupando as quatro varandas da rua, o consultório do Dr. Francisco exibe um letreiro que diz: Instituto Pasteur‑Koch. Director‑proprietário, Dr. Francisco Robles. Tuberculose, pulmões e coração. Raios X. Pele, doenças venéreas, sífilis. Tratamento de hemorróidas por electrocoagulação. Consulta, 5 pesetas. Os doentes pobres da Glorieta de Quevedo, de Bravo MuriUo, de San Bernardo, de Fuencarral, têm uma grande fé no Dr. Francisco.
‑ É um sábio ‑ dizem ‑, um verdadeiro sábio, um médico muito esperto e com muita prática.
O Dr. Francisco costuma atalhar.
‑ Nem só com fé se curará, meu amigo ‑ diz carinhosamente, dando um tom confidencial à voz. ‑A fé sem obras é uma fé morta, uma fé que não serve para nada. É também necessário que colaborem, faz falta a obediência e a assiduidade, muita assiduidade! Não deixar de vir só porque sentem uma ligeira melhoria... Sentir‑se bem não é estar curado, nem nada que se pareça! Infelizmente, os vírus que produzem as doenças são tão teimosos como traidores e aleivosos!
O Dr. Francisco é um pouco trapalhão ‑ o homem tem às costas um agregado familiar tremendo.
Aos doentes que, cheios de timidez e de bons modos, lhe perguntam por sulfa‑midas, o Dr. Francisco consegue dissuadi‑los, quase displicente. E assiste, com o coração constrangido, ao progresso da farmacopeia.
«Lá chegará o dia ‑ pensa ‑ em que seremos de mais, em que nas boticas haverá uma lista de pílulas e os doentes as receitem a si próprios.»
Quando lhe falam, dizíamos, das sulfamidas, o Dr. Francisco costuma responder:
‑ Faça o que quiser, mas não apareça mais por aqui. Eu não me encarrego de vigiar a saúde de um homem que voluntariamente debilita o seu sangue.
As palavras do Dr. Francisco costumam produzir bom efeito.
‑ Não, não, o que o senhor mandar, eu só farei o que o senhor mandar. Em casa, numa dependência interior, Dona Soledad, sua esposa, passaja meias
enquanto deixa divagar a imaginação, uma imaginação curta, torpe e maternal como o voo de uma galinha. Dona Soledad não é feliz. Dedicou toda a sua vida aos filhos, mas os filhos não souberam ou não quiseram fazê‑la feliz. Nasceram onze e onze vivem, quase todos longe, perdidos. Os dois mais velhos, Soledad e Piedad, fizeram‑se freiras há já muito tempo, quando caiu Primo de Rivera; o mais velho dos dois únicos varões, Francisco, o terceiro dos filhos, foi sempre o favorito; agora está como médico militar em Carabanchel, e vem dormir a casa algumas noites. Amparo e Asunción são as únicas casadas. Amparo com o ajudante do pai, Emilio Rodríguez Ronda; Asunción com Fadrique Méndez, que é enfermeiro em Guadalajara, homem trabalhador e manhoso, que dá umas injecções a um menino ou umas lavativas a uma velha de boa posição, ou arranja um rádio ou coloca um parche num tumor. A pobre Amparo nem tem filhos nem poderá tê‑los: anda sempre com pouca saúde, às voltas com as suas indisposições e com os seus achaques; primeiro teve um aborto, depois andou transtornada uma data de tempo, e por fim tiveram de lhe tirar os ovários e tudo o que a incomodava, que devia ser bastante. Asunción, por seu lado, era mais forte e tem três filhos que são três autênticos sóis: Pilarín, Fadrique e Saturnino; a maiorzita fez cinco anos e já vai à escola.
Depois, na família do Dr. Francisco e de Dona Soledad, aparece a Trini, solteira, feia, que arranjou algum dinheiro e pôs uma capelista na Calle de Apodaca.
O estabelecimento é pequeno, mas limpo e arrumado com esmero; tem uma montra minúscula, onde estão uns novelos de lã, confecções para crianças e meias de seda, e um letreiro pintado de azul‑claro, onde com letra bicuda está escrito Trini e por baixo, em letras mais pequenas, Capelista. Um rapaz da vizinhança, que é poeta e que olha para a rapariga com uma grande ternura, trata em vão de explicar à sua família, durante o almoço:
‑ Vocês não se apercebem, mas estes estabelecimentos pequenos e recolhidos que se chamam Trini dão‑me uma nostalgia!
‑ Este rapaz é maluco ‑ assegura o pai. ‑ No dia em que eu desapareça não sei o que será dele.
O poeta da vizinhança é um jovem guedelhudo, pálido, que está sempre na Lua, não dá conta de nada, para que a inspiração não fuja, algo assim como uma borboleta cega e surda mas cheia de luz, uma borboleta que voa sem rumo, às vezes indo contra as paredes, às vezes mais alta que as estrelas. O poeta da vizinhança tem duas rosetas nas faces. O poeta da vizinhança, algumas vezes, quando está com a veia, desmaia nos cafés e têm de o levar para a retrete, para que se recomponha um pouco com o cheiro do desinfectante, que dorme como um grilo na sua jaula de arame.
Depois de Trini vem a Nati, colega de Martin na Faculdade, uma rapariga que anda muito bem vestida, e depois Maria Auxiliadora, que também se tornou freira. A série de desastres fecha com três mais novos. Socorrito fugiu com um amigo do seu irmão Paço, Bartolomé Anguera, que é pintor; levam uma vida de boémios num estúdio da Calle de los Canos, onde gelam de frio e onde qualquer dia acordam rijos como sorvetes. A rapariga assegura às suas amigas que é feliz, que dá tudo por bem empregado desde que esteja ao lado de Bartolo, para o ajudar na sua Obra. A sua Obra é dito com uma ênfase tremenda, a ênfase dum júri das Exposições Nacionais.
‑ Nas Nacionais não há critério ‑ diz a Socorrito ‑ não sabem o que vêem. Mas é igual, mais tarde ou mais cedo não têm outro remédio senão dar uma medalha ao meu Bartolo.
Em casa foi um grande desgosto a fuga da Socorrito.
‑ Ainda se ao menos tivesse saído de Madrid! ‑ dizia o seu irmão Paço, que tinha um conceito muito especial de honra.
A outra, Maria Angustias, começou a dedicar‑se ao canto e pôs o nome de Carmen del Oro. Pensou também em chamar‑se Rosário Giralda e Esperanza Granada, mas um amigo seu, jornalista, disse‑lhe que não, que o nome mais a propósito era Carmen del Oro. E andavam nisto quando, sem dar tempo a que a mãe se recompusesse do caso da Socorrito, Maria Angustias fez as malas e foi com um banqueiro de Múrcia, chamado Estanislao Ramirez. A pobre mãe ficou tão seca que nem chorava.
O mais pequeno, Juan Ramón, saiu da classe B e passava os dias ao espelho e a pôr cremes na cara.
Por volta das sete, entre duas consultas, o Dr. Francisco vai ao telefone. Quase não se ouve o que diz. ‑ Vai estar em casa?
‑ Está bem, eu irei aí por volta das nove.
A rapariga parece estar em transe, o gesto sonhador, o olhar perdido, e nos lábios um sorriso de felicidade.
‑ É muito bom, mamã, muito bom, muito bom. Pegou‑me na mão, olhou‑me fixamente nos olhos...
‑ E nada mais?
‑ Sim, aproximou‑se mais de mim e disse‑me: Julita, o meu coração arde de paixão, eu não posso viver sem ti, se me desprezas, a minha vida não tem razão de ser, será como um corpo que flutua, sem rumo, à mercê da sorte.
Dona Visi sorri emocionada.
‑ Exactamente como o teu pai, minha filha, exactamente como o teu pai. Dona Visi fica beatificamente pensativa, meiga e talvez um pouco descansada.
‑ Claro... O tempo passa... Estás a fazer‑me velha, Julita!
Dona Visi fica uns segundos em silêncio. Depois leva o lenço aos olhos e seca as lágrimas que timidamente assomaram.
‑ Mas, mamã!
‑ Não é nada, filha; só emoção. Pensar que algum dia serás de um homem! Peçamos a Deus, minha filha, que se te depare um bom marido e chegues a ser uma boa esposa.
‑ Sim, mamã.
‑ E tem muito cuidado, Julita, por amor de Deus! Não lhe dês nenhuma confiança, peço‑te. Os homens são teimosos e conseguem o que querem, não te fies nunca nas boas palavras. Não te esqueças que os homens divertem‑se com as que não têm juízo e casam com as decentes.
‑ Sim, mamã.
‑ Claro que sim, filhinha. E conserva o que eu conservei durante vinte e três anos para que o teu pai o levasse. É a única coisa que as mulheres honestas e sem fortuna podem oferecer aos maridos!
Dona Visi deita umas lágrimas, Julita trata de a consolar.
‑ Não te preocupes, mamã.
No café, Dona Rosa continua a explicar à Elvira que tem os intestinos soltos, que passou a noite a correr da retrete para o quarto e do quarto para a retrete.
‑ Penso que houve alguma coisa que não me assentou bem; os alimentos, às vezes, estão em más condições; sim, não consigo perceber.
‑ Claro, deve ter sido isso.
Elvira, que é já quase como um móvel do café de Dona Rosa, tem o costume de concordar com tudo. Ter como amiga Dona Rosa é uma coisa que Elvira considera muito importante.
‑ E a senhora tinha dores fortes?
‑ Ui, filha! E que dores! Tinha os intestinos que nem podia! Devo ter comido de mais. Lá diz o ditado, de grandes ceias estão as sepulturas cheias.
Elvira continua a concordar.
‑ Sim, isso de se comer muito não é bom, não se faz bem a digestão.
‑ Faz muito mal!
Dona Rosa baixou um pouco a voz.
‑ Você dorme bem?
Dona Rosa trata Elvira umas vezes por tu e outras por você, conforme lhe dá.
‑ Sim, costumo dormir bem.
Dona Rosa tirou logo a sua conclusão:
‑ Talvez porque coma pouco ao jantar! Elvira ficou perplexa.
‑ Sim, na verdade não costumo jantar muito. Dona Rosa apoia‑se nas costas de uma cadeira.
‑ Por exemplo, ontem à noite, que é que comeu?
‑ Ontem à noite, pouca coisa: comi uns espinafres e duas postinhas de pescada.
Elvira tinha jantado uma peseta de castanhas, vinte castanhas assadas, e uma laranja como sobremesa.
‑ Claro, o segredo é esse. A mim parece‑me que isto de se comer muito não deve ser saudável.
Elvira pensa exactamente o contrário, mas cala‑se.
Pedro Pablo Tauste, o vizinho do Sr. Ibrahim de Ostolaza e dono de uma oficina de reparação de calçado, A Clínica do Chapim, viu entrar no seu estabelecimento Ricardo Sorbedo, que vinha num estado lastimoso.
‑ Boa tarde, senhor Pedro, dá‑me licença?
‑ Entre, senhor Ricardo, que o traz por aqui?
Ricardo Sorbedo, com a sua melena emaranhada, o seu cachecol debotado e posto de lado, fato roto, deformado e cheio de buracos, a gravata usada e o chapéu sebento, é um tipo meio mendigo meio artista, que dificilmente vive de artifícios e da caridade dos outros. Pedro Pablo sente por ele uma certa admiração e de vez em quando dá‑lhe uma peseta. Ricardo Sorbedo é um homem baixo, de andar quase feminino, de gestos grandiloquentes e respeitosos, de fala precisa e ponderada, com frases construídas com muito esmero.
‑ Coisa pouco boa, amigo Pedro, a bondade escasseia neste sórdido mundo, e uma coisa muito má me traz à sua presença.
Pedro Pablo já conhecia a maneira de começar: era sempre a mesma. Ricardo disparava como os artilheiros.
‑ Você quer uma peseta?
‑ Ainda que não necessitasse dela, meu nobre amigo, aceitá‑la‑ia para corresponder ao seu gesto prócero.
‑ Está bem!
Pedro Pablo tirou uma peseta da gaveta e deu‑a a Ricardo Sorbedo.
‑ É pouco...
‑ Sim, é realmente pouco, mas a sua generosidade ao oferecer‑ma é como se representasse uma gema de muitos quilates.
‑ Bem, se é isso!
Ricardo Sorbedo era um pouco amigo de Martin Marco, e às vezes, quando se encontravam, sentavam‑se num banco do passeio e punham‑se a falar de arte e de literatura.
Ricardo Sorbedo tivera uma namorada, até há bem pouco tempo, mas deixou‑a por já estar cansado e aborrecido dela. A namorada de Ricardo Sorbedo era uma rameira esfomeada, sentimental e um pouco gasta, que se chamava Maribel Pé‑rez. Quando Ricardo Sorbedo se queixava do mal que as coisas se estavam a pôr, Maribel procurava consolá‑lo com filosofias.
‑ Não te aborreças ‑ dizia‑lhe ela. ‑ O alcaide de Cork levou mais de um mês para a apanhar.
Maribel gostava de flores, das crianças e dos animais; era uma rapariga bastante educada e de modos finos.
‑ Ai, aquela criança loura, que bonita! ‑ disse uma vez, quando passeava pela Plaza del Progreso.
‑ São como todas ‑ respondeu‑lhe Ricardo Sorbedo. ‑ É uma criança como as outras. Quando crescer, se não morrer antes, será comerciante ou empregado no Ministério da Agricultura, ou quem sabe se um dentista. Pode também ter inclinação para a arte e sair então pintor ou toureiro. Terá até os seus complexos sexuais.
Maribel não compreendia lá muito bem o que o namorado lhe dizia.
‑ É um tipo muito culto o meu Ricardo ‑ dizia às suas amigas. ‑ Sabe de tudo!
‑ Vocês vão casar?
‑ Sim, quando pudermos. Primeiro diz que me quer retirar, porque isto de casamento deve ser a cala e a prova, como com os melões. E eu creio que tem razão.
‑ Talvez. Que faz o teu namorado?
‑ Bem, fazer, o que se diz fazer, não faz nada, mas há‑de encontrar alguma coisa.
‑ Sim, sempre aparece alguma coisa.
O pai de Maribel tivera uma modesta loja de espartilhos na Calle de la Colegiata, há já bastantes anos, estabelecimento que trespassou porque a sua mulher,
a Eulogia, queria à viva força ter um bar na Calle de la Aduana. O bar da Eulogia chamou‑se O Paraíso Terrestre e o negócio andou bem até ao dia em que a patroa perdeu o juízo e escapou com um tipo que andava sempre embriagado.
‑ Que vergonha! ‑ dizia o Sr. Braulio, o pai de Maribel. ‑ A minha mulher metida com esse desgraçado que a vai matar de fome!
O pobre Braulio morreu pouco depois, de uma pneumonia, e ao seu funeral foi, de luto pesado e muito triste, Paço, o Sardinha, que vivia com a Eulogia em Carabanchel de Baixo.
‑ Não somos nada! ‑ dizia o Sardinha a um irmão do Sr. Braulio, que viera de Astorga para assistir ao enterro.
‑ Sim, sim!
‑ É o que tem a vida, não concorda?
‑ Sem dúvida ‑ respondia‑lhe o irmão de Braulio, num autocarro a caminho do Este.
‑ Era uma jóia de pessoa, este seu irmão.
‑ Sim, homem, sim. Se fosse mau tinha‑o desancado.
‑ Também é verdade!
‑ Pois claro que é! Mas o que eu digo é que nesta vida devemos ser tolerantes.
O Sardinha não respondeu. Por dentro pensava que o Sr. Braulio era um tipo moderno.
‑ Assim é! Este tipo é muito moderno! Queiramos ou não queiramos, é isto o moderno!
A Ricardo Sorbedo, os argumentos da namorada não o convenciam muito.
‑ Sim, rapariga, sim, mas a mim a fome do alcaide de Cork não me alimenta, garanto‑te.
‑ Não te arrelies, homem, não levantes os pés, não merece a pena. Além disso já sabes que não há mal que dure cem anos.
Quando tiveram esta conversa, Ricardo Sorbedo e Maribel estavam sentados entre dois brancos, numa tasca que há na Calle Mayor, perto do Governo Civil. Maribel tinha uma peseta e dissera a Ricardo:
‑ Vamos tomar um branco a qualquer lado. Uma pessoa já está farta de andar e de apanhar frio.
‑ Bem, vamos onde quiseres.
O casal estava à espera de um amigo de Ricardo, poeta, que algumas vezes os convidava a tomar café com leite e até bolos. O amigo de Ricardo era um jovem chamado Ramón Maello, e embora não nadasse em abundância também não passava fome. Filho de boa família, arranjava sempre as coisas de modo a trazer algumas pesetas no bolso. O rapaz vivia na Calle de Apodaca, por cima da capelista de Trini, e ainda que não se desse lá muito bem com o seu pai, tão‑pouco teve de sair de casa. Ramón Maello andava com a saúde muito delicada, e a saída de casa ter‑lhe‑ia custado a vida.
‑ Pensas que ele virá?
‑ Sim, mulher, o Ramón é um rapaz sério. Anda um pouco na Lua, mas é sério, verás que vem.
Ricardo Sorbedo bebeu um trago e ficou pensativo.
‑ Escuta, Maribel, a que te sabe isto? Maribel também bebeu.
‑ Não sei. Parece‑me que sabe a vinho.
Ricardo sentiu, durante uns segundos, um asco enorme à sua namorada.
«Esta tipa é pior que uma calandra!» ‑ pensou.
Maribel não deu por isso. A pobre quase nunca dava por isso.
‑ Olha que gato tão bonito. Esse, sim, é um gato feliz, não te parece?
O gato ‑ um gato negro, lustroso, bem tratado, passeava, paciente e sábio como um abade, pelo rebordo do pedestal, um rebordo nobre e antigo que tinha pelo menos quatro dedos de largura.
‑ A mim parece‑me que este vinho sabe a chá.
No balcão, alguns motoristas de táxis bebiam uns copos.
‑ Olha, olha! É de pasmar que não caia.
A um canto, outro casal adorava‑se em silêncio, mão sobre a mão, o olhar fixo um no outro.
‑ Eu penso que quando se tem a barriga vazia tudo sabe a chá. Um cego passou por entre as mesas a cantar.
‑ Que pêlo tão bonito! Parece quase azul! Mas que gato!
Ao abrir‑se a porta, uma corrente de ar frio misturado com o ruído dos eléctricos correu pela sala, tornando‑se cada vez mais fria.
‑ Sabe ao chá sem açúcar, ao chá que tomam os que sofrem do estômago. O telefone começou a soar estrepitosamente.
‑ É um gato equilibrista, um gato que podia trabalhar no circo.
O rapaz que estava ao balcão secou as mãos no avental de riscas verdes e pretas e atendeu o telefone.
‑ E o chá sem açúcar mais parece água para banhos de assento do que para ser ingerido.
O rapaz do balcão desligou entretanto o telefone e gritou:
‑ Senhor Ricardo Sorbedo! Ricardo fez um sinal com a mão. ‑Hã?
‑ É o senhor Ricardo Sorbedo?
‑ Sim, algum recado?
‑ Sim, da parte do senhor Ramón, que não pôde vir. A mãe adoeceu.
Na padaria da Calle de San Bernardo, no diminuto escritório onde se fazem as contas, o Sr. Ramón fala com sua mulher, a Paulina, e com Roberto González, que veio no dia seguinte, agradecido pelos cinco duros que o patrão lhe adiantou, para ultimar umas coisas e deixar em ordem uns lançamentos.
O casal e Roberto conversam em redor de um aquecedor de serradura que dá bastante calor. Sobre a estufa ardem, numa lata de atum vazia, umas folhas de louro.
Roberto González está satisfeito e conta anedotas aos padeiros.
‑ ... E então o magro vai e diz ao gordo: «O senhor é um porco!» E o gordo volta‑se e responde: «Oiça lá, oiça lá, veja lá se compreende que eu cheiro sempre assim!»
A mulher de Ramón está morta de riso, ficou com soluços e grita, enquanto tapa os olhos com as mãos:
‑ Cale‑se, cale‑se, por amor de Deus! Roberto quer rematar o seu êxito.
‑ E tudo isto dentro do elevador!
A mulher chora, entre grandes gargalhadas, e inclina‑se para trás.
‑ Cale‑se, cale‑se! Roberto também se ri.
‑ O magro tinha cara de poucos amigos!
O Sr. Ramón, com as mãos cruzadas sobre a barriga, olha para Roberto e para Paulina.
‑ Este Roberto tem a sua piada quando está de maré! Roberto não se cansa.
‑ E ainda tenho uma outra, senhora Paulina!
‑ Cale‑se, cale‑se, por amor de Deus!
‑ Está bem, espero que se recomponha um pouco, não tenho pressa.
A Sr.a Paulina, dando fortes palmadas nas coxas, ainda se lembra do mal que o senhor gordo cheirava.
Estava doente e sem um real, mas suicidou‑se porque cheirava a cebola.
‑ Cheira a cebola que empesta, cheira muito mal.
‑ Cala‑te, homem, eu não cheiro a nada, queres que abra a janela?
‑ Não, não me importa. O cheiro não se ia embora, são as paredes que cheiram a cebola, as mãos cheiram‑me a cebola.
A mulher era a imagem da paciência.
‑ Queres lavar as mãos?
‑ Não, não quero, o coração também me cheira a cebola.
‑ Tranquiliza‑te.
‑ Não posso, cheiro a cebola.
‑ Vem dormir um pouco.
‑ Não podia, tudo me cheira a cebola.
‑ Queres um copo de leite?
‑ Não, não quero leite. Queria morrer, nada mais que morrer, morrer muito depressa, cada vez me cheira mais a cebola.
‑ Não digas disparates.
‑ Digo o que me apetecer! Cheira a cebola! O homem desatou a chorar.
‑ Cheira a cebola!
‑ Está bem, homem, pronto, cheira a cebola.
‑ Claro que cheira a cebola! Uma peste!
A mulher abriu a janela. O homem, com os olhos rasos de lágrimas, começou a gritar:
‑ Fecha a janela! O cheiro da cebola não sai!
‑ Como queiras.
A mulher fechou a janela.
‑ Quero água numa chávena; num copo não.
A mulher foi à cozinha arranjar uma chávena de água para o marido.
Estava a lavar a chávena quando ouviu um berro enorme, como se os pulmões de um homem se tivessem quebrado de repente.
O som de um corpo contra as lajes do pátio não o ouviu ela. Em vez disso, sentiu uma dor nas fontes, uma dor fria e aguda como a picadela de uma agulha.
‑ Ai!
O grito da mulher saiu pela janela aberta; ninguém lhe respondeu; a cama estava vazia. Alguns vizinhos assomaram às janelas do pátio.
‑ Que aconteceu?
A mulher não podia falar. Se pudesse tê‑lo feito, teria dito:
‑ Nada, cheirava um pouco a cebola.
Seoane, antes de ir tocar violino para o café da Dona Rosa, passa por um oculista. O homem quer saber o preço de uns óculos escuros, pois a sua mulher está cada vez pior da vista.
‑ Veja estes, com lentes Zeiss. Custam duzentas e cinquenta pesetas. Seoane sorri com amabilidade.
‑ Não, não, eu quero mais baratos.
‑ Está muito bem, senhor. Talvez lhe agrade este modelo, cento e sessenta pesetas.
Seoane não deixara de sorrir.
‑ Não, não, eu não me expliquei bem. Queria ver uns de três ou quatro duros.
O empregado olha‑o com um desprezo profundo. Usa bata branca e umas ridículas lunetas, penteia‑se com o risco ao meio e move o rabinho a andar.
‑ Isso encontrará o senhor numa drogaria. Lamento não o poder servir.
‑ Então adeus, e desculpe.
Seoane vai parando nas montras de todas as drogarias. Umas mais completas que outras, também se dedicam a revelar rolos fotográficos, e têm efectivamente óculos escuros nas montras.
‑ Tem óculos a três duros?
A empregada é uma rapariga bonita, atenciosa.
‑ Sim, senhor, mas não os recomendo, são muito frágeis. Por um pouco mais, podemos oferecer‑lhe um modelo que está bastante bem.
A rapariga rebusca nas caixas da montra e tira um tabuleiro.
‑ Veja, vinte e cinco pesetas, vinte e duas, trinta, cinquenta, dezoito (estes são um pouco piores), vinte e sete...
Seoane não tem no bolso mais de três duros.
‑ Diz que estes de dezoito não são bons?
‑ Sim, não compensa o que poupa. Os de vinte e dois já são outra coisa.
Seoane sorri para a rapariga.
‑ Bem, menina. Muito obrigado, vou pensar e voltarei depois. Lamento tê‑la incomodado.
‑ Por amor de Deus, cavalheiro, para isso aqui estamos.
À Julita, lá bem no fundo do coração, morde‑lhe um pouco a consciência. As tardes em casa de Dona Célia apresentaram‑se, de repente, orladas de todas as maldições eternas.
É só um momento, um mau momento; depois volta a ser bem bela. A lágrima que, por pouco, cai pela cara abaixo, pôde ser contida.
A rapariga vai para o seu quarto e tira da gaveta da cómoda um caderno forrado de tule negro onde faz umas estranhas contas. Procura um lápis, aponta uns números e sorri: a boca franzida, os olhos revirados, as mãos na nuca, os botões da blusa soltos.
A Julita está bonita, muito bonita, e pisca um olho para o espelho...
‑ Hoje o Ventura chegou ao empate...
Mia sorri, enquanto o lábio de baixo estremece; até o queixo lhe treme um pouco. Guarda o seu caderninho, e sopra um pouco as capas para tirar‑lhes o pó.
‑ A verdade é que vou numa marcha que...
Na altura de guardar a chave, adornada com um lacito cor‑de‑rosa, pensa, quase compungida:
«Este Ventura é insaciável!»
Mas quando vai a sair da alcova ‑ o que são as coisas! ‑ um jorro de optimismo rega‑lhe a alma.
Martin despede‑se da Nati Robles e vai até ao café donde, na noite anterior, o puseram fora por não pagar.
«Ainda tenho oito duros e tal ‑ pensa ‑, não creio que seja roubar comprar uns cigarros e dar uma lição a essa velha nojenta do café. À Nati posso oferecer‑lhe um par de estampas que me custam uns cinco ou seis duros.
Toma um autocarro da carreira 17 e vai até à Glorieta de Bilbao. Ao espelho de um barbeiro, passa a mão pelo cabelo e ajeita o nó da gravata.
‑ Parece‑me que vou bastante bem...
Martin entra no café pela mesma porta por onde saiu na véspera. Quer que lhe calhe o mesmo criado, até a mesma mesa se for possível.
No café faz um calor denso, pegajoso. Os músicos tocam La Cumparsita, tango que para Martin tem certas, vagas, remotas recordações. A proprietária, para não perder o costume, grita entre a indiferença dos demais, levantando os braços para o céu, deixando‑os cair pesadamente, estudadamente, sobre o ventre. Martin senta‑se a uma mesa ao lado daquela onde se deu a cena. O criado aproxima‑se.
‑ Hoje está raivosa, se o vê põe‑se aos coices.
‑ Que vá para o diabo. Tome um duro e traga‑me um café. Uma peseta e vinte ontem, uma peseta e vinte hoje, dá duas pesetas e quarenta; fique com o troco; não sou nenhum esfomeado.
O criado ficou passado. Tinha mais cara de bobo que de costume. Antes de ele se afastar demasiado, Martin volta a chamá‑lo.
‑ O engraxador que venha cá.
‑ Muito bem. Martin insiste.
‑ E o empregado da tabacaria.
‑ Muito bem.
Martin teve de fazer um esforço tremendo. Dói‑lhe um pouco a cabeça, mas não se atreve a pedir uma aspirina.
Dona Rosa fala com Pepe, o criado, e olha, estupefacta, para Martin. Martin faz de conta que não vê.
Servem‑no, bebe um par de goles e levanta‑se, em direcção à retrete. Depois não soube se fora ali que ele tinha tirado o lenço, que estava no mesmo bolso do dinheiro...
De regresso à sua mesa engraxou os sapatos e gastou um duro num maço de tabaco.
‑ Esta porcaria que a beba ela, isto é uma malta repugnante. Levantou‑se, quase solenemente, e saiu com um gesto cheio de dignidade. Já na rua, Martin nota que todo o corpo lhe treme. Dá tudo por bem empregado; verdadeiramente, acabou de se portar como um homem.
Ventura Aguado Sans diz ao seu companheiro da pensão, o Sr. Tesifonte Ovejero, capitão de veterinária:
‑ Desengane‑se, meu capitão; em Madrid o que sobra são os assuntos. E agora, depois da guerra, mais do que nunca. Hoje em dia, todas fazem o que podem. Há é que lhes dedicar um bocadinho do dia. Não se pescam trutas a bragas enxutas!
‑ Sim, sim; já compreendo.
‑ Naturalmente, homem, naturalmente. Como quer o senhor divertir‑se se não dá nada de si? As mulheres não o vêm buscar. Aqui, ainda não é como nos outros lados.
‑ Sim, isso é verdade.
‑ E então? Tem de se espevitar, meu capitão, é necessário ter arrojo, e muita lata, muita lata. E, sobretudo, não desanimar com os fracassos. Falha com uma? E depois? Outra virá a seguir.
Roque manda um aviso a Lola, a criada da pensionista D. Matilde: Passa por Santa Engrácia às oito. Teu, R.
A irmã de Lola, Josefa López, tinha sido criada durante muitos anos em casa de D. Soledad Castro de Robles. De vez em quando dizia que ia à terra e passava uns dias na Maternidade. Chegou a ter cinco filhos que, por caridade, eram criados pelas freiras de Chamartín de la Rosa: três de Roque, os três mais velhos; um do filho mais velho do Dr. Francisco, o quarto; e o último do Dr. Francisco, que foi o que tardou mais em descobrir o filão. A paternidade de cada um não oferecia dúvidas.
‑ Eu serei o que for ‑ costumava dizer Josefa ‑, mas a quem me agrada não ponho os paus. Quando uma pessoa se farta, adeus e pronto; mas quando não, como os pombos: um com uma.
A Josefa foi uma mulher bonita, um pouco alta. Agora tem uma pensão para estudantes na Calle de Atocha e vive com os cinco filhos. As más‑línguas dizem que ela se entende com o cobrador do gás e que um dia pôs muito corado o filho do merceeiro, que tem catorze anos. O que há de verdade em tudo isto é muito difícil de averiguar.
A sua irmã Lola é mais nova, mas também é alta e com seios avantajados. Roque compra‑lhe pulseiras de pechisbeque e convida‑a para comer bolos, deixando‑a encantada. É menos honesta que Josefa e parece que se entende também com rapazotes. Um dia, Dona Matilde encontrou‑a deitada com o Ventura, mas preferiu não dizer nada.
A rapariga recebeu o papelinho do Sr. Roque, arranjou‑se e foi para casa de Dona Célia.
‑ Não veio?
‑ Não, ainda não; passa para aqui.
Lola entra no quarto, despe‑se e senta‑se na cama. Quer fazer uma surpresa ao Sr. Roque, a surpresa de lhe abrir a porta assim.
Dona Célia olha pelo buraco da fechadura; gosta de ver como se despem as raparigas. Às vezes, quando sente muito calor na cara, chama um lulu que tem.
‑ «Pierrot»! «Pierrôt»! Vem ver a tua dona. Ventura entreabre a porta do quarto que ocupa.
‑ Senhora.
‑ Diga.
Ventura mete três duros na mão de D. Celia.
‑ A senorita que saia antes. Dona Célia concorda com tudo.
‑ O senhor manda.
Ventura regressa ao quarto, a fazer tempo, e entretanto acende uma cigarrilha enquanto a rapariga se afasta. A namorada sai, olhando para o chão, escadas abaixo.
‑ Adeus, filha.
‑ Adeus.
D. Celia bate com os nós dos dedos na porta do quarto onde está Lola.
‑ Se queres, podes passar para o quarto grande. Já está desocupado.
‑ Pois sim.
Julita, ao chegar ao rés‑do‑chão, dá de caras com o Sr. Roque.
‑ Olá, filha! Donde vens? Julita fica passada.
‑ Da... do fotógrafo. E tu, aonde vais?
‑ Pois... vou ver um amigo doente, o pobre está muito mal.
À filha custa‑lhe pensar que o pai vai a casa de Dona Célia; ao pai sucede‑lhe o mesmo.
«Não, não, que disparate! Não passa pela cabeça de ninguém!» ‑ pensa o Sr. Roque.
«Deve ser verdade isso do amigo ‑ reflecte a rapariga ‑, o papá terá os seus planos, mas também seria um grande azar que viesse meter‑se aqui!» Quando o Ventura vai a sair, Dona Célia detém‑no:
‑ Espere um momento, tocaram.
O Sr. Roque chega, um pouco pálido.
‑ Olá! A Lola já veio?
‑ Sim, está no quarto da frente.
O Sr. Roque dá dois ligeiros toques na porta.
‑ Quem é? (‑Eu.
‑ Entra.
Ventura Aguado continua a falar, quase eloquentemente, com o capitão.
‑ Ora veja, eu tenho agora uma coisa bastante bem encaminhada com uma rapariga, cujo nome não vem para o caso, e quando a vi pela primeira vez pen sei:
«Aqui não há nada que fazer.» Fui até ela, para não ficar com pena de a deixar passar e não lhe dizer nada, disse‑lhe três coisas, paguei‑lhe dois vermutes com gambás, e já vê, agora tenho uma cordeirinha. Faz o que eu quero e não se atreve nem a levantar a voz. Conheci‑a em Barcelona a vinte e tantos de Agosto do ano passado e, na semana passada, no dia dos meus anos, zás, para a caminha! Se tivesse ficado como um tonto a ver como a cortejavam e lhe metiam as mãos, a estas horas estava como o senhor.
‑ Sim, isso está tudo muito bem, mas parece‑me que é tudo questão de sorte. Ventura saltou da cadeira.
‑ Sorte? Aí é que está o erro! A sorte não existe, meu amigo, a sorte é como as mulheres, entrega‑se a quem a perseguir e não a quem a vê passar na rua sem lhe dizer nem uma palavra. Para já, não se pode estar aqui metido todo o santo dia como o senhor faz, olhando para essa usurária e estudando as doenças das vacas. O que eu digo, é que assim não chega a nenhum lado.
Seoane coloca o violino sobre o piano. Acaba de tocar La Cumparsita. Fala com Macario.
‑ Vou num instante ao water(1).
Seoane passa por entre as mesas. Na sua cabeça continuam a dar voltas os preços dos óculos.
‑ Na realidade, merece a pena esperar um pouco. Os de vinte e duas são bastante bons, pelo menos parece‑me.
Empurra com o pé a porta onde se lê Cavalheiros: dois urinóis de parede e uma débil lâmpada de quinze velas protegida com uns arames. Na sua jaula, como um grilo, um rectângulo de desinfectante preside à cena.
Seoane está só, aproxima‑se da parede e olha para o chão.
‑Eh?
A saliva vai‑lhe para a garganta, o coração salta‑lhe, um zumbido prolongado atravessa‑lhe os ouvidos. Seoane olha para o chão com mais insistência. A porta está fechada. Seoane agacha‑se precipitadamente. Sim, são cinco duros. Estão um pouco molhados, mas não faz mal. Seoane seca a nota com um lenço.
No dia seguinte voltou à drogaria.
‑ Os de trinta, menina, dê‑me os de trinta.
*1. Water‑closet: retrete. Em inglês, no original. (N. do T.)
Sentados no sofá, Lola e o Sr. Roque falam. O Sr. Roque tem o casaco vestido e o chapéu sobre os joelhos. Lola está despida e com as pernas cruzadas. No quarto arde um fogareiro, está‑se muito quente. No armário reflectem‑se as suas figuras, que fazem na realidade um conjunto muito estranho: o Sr. Roque de cachecol e com gestos preocupados, Lola em pelote e de mau humor.
O Sr. Roque está calado.
‑ E é tudo.
Lola coça o umbigo e depois cheira o dedo.
‑ Sabes o que te digo?
‑ Que é?
‑ Que eu e a tua filha já não temos nada que lançar à cara uma da outra. Podemos tratar‑nos por tu.
O Sr. Roque grita:
‑ Cala‑te! Cala‑te!
‑ Está bem, calo‑me.
Fumam os dois. Lola, gorda, nua e deitando fumo parece uma foca do circo.
‑ Isso da fotografia da tua filha é como o do teu amigo doente.
‑ Queres calar‑te?
‑ Caramba, homem, para o diabo com tanto calar. Parece que não tens olhos na cara!
Já noutro lado dissemos o seguinte:
«Do seu quadro com moldura doirada, o Sr. Obdulio, com o bigode levantado, o olhar doce, protege, como um malévolo e velhaco deus do amor, a clandestinidade que permite à sua viúva comer.»
Obdulio encontra‑se à direita do armário, por detrás de uma coluna. À esquerda está pendurado o retrato da proprietária, ainda jovem e rodeada de cães lulus.
‑ Anda, veste‑te, não estou para nada.
‑ Está bem. Lola pensa:
«‑ A rapariga vai pagar‑mas, assim haja Deus! Ai isso paga!» O Sr. Roque pergunta:
‑ Sais tu primeiro?
‑ Não, sai tu, enquanto eu me visto.
O Sr. Roque sai e Lola corre o fecho da porta.
«‑ Ali, onde está, ninguém vai notar» ‑ pensa.
Pega no retrato do Sr. Obdulio e guarda‑o na bolsa. Arranja um pouco o cabelo no lavatório e acende um charuto.
O capitão Tesifonte parece entusiasmado.
‑ Bem... Vamos lá tentar...
‑ Não me diga!
‑ Sim, homem, verá. No dia em que for para a paródia, chama‑me e vamos os dois. Combinado?
‑ Combinado. No primeiro dia que for por aí, aviso‑o.
O ferro‑velho chama‑se José Sanz Madrid. Tem duas lojas onde compra e vende roupas usadas e «objectos de arte», onde aluga smokings aos estudantes e fraques aos noivos pobres.
‑ Entre aí, e prove, tem muito por onde escolher.
Efectivamente, há muito por onde escolher: pendurados nos cabides, centos de fatos esperam os clientes que os levem a tomar ar.
As lojas estão uma na Calle de los Estúdios e a outra, a mais importante, a meio da Calle de la Magdalena.
O Sr. José, depois de comer, leva Purita ao cinema, pois gosta de andar um pouco antes de se deitar. Vão ao Ideal, em frente ao Calderón onde corre O Seu Irmão e Ele, de António Viço, e Um Enredo de Família, de Mercedes Vecino, ambos «sem classificação especial». O cinema Ideal tem a vantagem de dar sessões contínuas e de ser muito grande; assim, há sempre lugar.
O arrumador alumia‑os com a lanterna.
‑ Onde?
‑ Aqui, aqui já estamos bem.
Purita e o Sr. José sentam‑se na última fila. O Sr. José passa uma das mãos por cima do pescoço da rapariga.
‑ Que me dizes?
‑ Nada.
Purita olha para o ecrã. O Sr. José pega‑lhe nas mãos.
‑ Estás fria.
‑ Sim, faz muito frio.
Ficam alguns instantes silenciosos. O Sr. José não está bem sentado, e mexe‑se na cadeira constantemente.
‑ Ouve.
‑ Diz.
‑ Em que estás a pensar?
‑ Psiu...
‑ Não dês mais voltas a isso, o do Paquito arranjo eu; tenho um amigo que manda muito no Auxílio Social. É primo do governador civil não sei donde.
O senhor baixa a mão até ao decote da rapariga.
‑ Ai, que fria!
‑ Não te apoquentes, eu aquecê‑la‑ei.
O homem põe a mão na axila da Purita, por cima da blusa.
‑ Que quente que tens o sovaco!
‑ Sim.
Purita tem muito calor debaixo do braço, até parece que está doente.
‑ E tu pensas que o Paquito poderá entrar?
‑ Mulher, eu penso que sim, que o meu amigo poderá fazer algo para isso.
‑ E o teu amigo quererá fazê‑lo?
O senhor tem a outra mão numa liga da Purita. Purita, no Inverno, usa ligas diferentes; as ligas redondas não se seguram bem porque está um pouco magra. No Verão não usa meias; parece que não, mas sempre se poupa.
‑ O meu amigo faz o que eu lhe mandar, deve‑me muitos favores.
‑ Oxalá! Deus te oiça!
‑ Verás que sim.
A rapariga fica a pensar; tem o olhar triste, perdido. O Sr. José separa‑lhe um pouco as coxas.
‑ Com o Paquito lá, já é outra coisa!
Paquito é o irmão mais novo da rapariga. São cinco irmãos e ela seis; Ramón, o mais velho, tem vinte e dois anos e está a cumprir o serviço militar em África; Mariana, que está doente e não pode mover‑se da cama, tem dezoito anos; Júlio trabalha como aprendiz numa tipografia e anda pelos catorze; Rosita tem onze, e Paquito, o mais novo, nove. Purita é a segunda: tem vinte anos, ainda que aparente ter mais.
Os irmãos vivem sós. O pai foi fuzilado, e a mãe morreu tísica no ano de 41.
Ao Júlio dão‑lhe quatro pesetas na tipografia. O resto tem de o ganhar a Purita, andando todo o dia na rua e indo depois do jantar para casa de D. Jesusa.
Os rapazes vivem numa água‑furtada na Calle de la Ternera. Purita fica numa pensão; ali está mais livre e pode receber recados pelo telefone. Purita vai vê‑los todas as manhãs, por volta das doze ou da uma. Às vezes, quando não tem nenhum compromisso, também almoça com eles; na pensão guardam‑lhe o jantar, para o caso de querer comer. O Sr. José tem já a mão, há algum tempo, dentro do decote da rapariga.
‑ Queres ir‑te embora?
‑ Isso é contigo!
O Sr. José ajuda Purita a vestir o casaco de algodão.
‑ Só mais um momento, sim? A mulher está já a ficar danada.
‑ Como quiseres.
‑ Toma, para ti.
O Sr. José mete cinco duros no bolso da Purita, um bolso tinto de azul que mancha um pouco as mãos.
‑ Que Deus te pague.
À porta do quarto o casal despede‑se.
‑ Escuta, como te chamas?
‑ Eu chamo‑me José Sanz Madrid, e tu? É verdade que te chamas Purita?
‑ Sim, é verdade, porque te havia de mentir? Chamo‑me Pura Bartolomé Alonso.
Os dois ficam um bocado a olhar para o bengaleiro.
‑ Bem, vou andando!
‑ Adeus, Pepe, não me dás um beijo?
‑ Com certeza.
‑ Escuta, quando souberes alguma coisa para o Paquito, telefonas‑me?
‑ Sim, fica descansada, telefonar‑te‑ei.
Dona Matilde, aos gritos, chama os seus hóspedes:
‑ Senhor Tesi! Senhor Ventura! O jantar! Quando se encontra com o capitão Tesifonte, diz‑lhe:
‑ Para amanhã encomendei fígado, veremos qual será a sua cara. O capitão nem olha para ela, pois vai a pensar noutras coisas.
‑ Sim, pode ser que esse rapaz tenha razão. Estando aqui como um palerma, poucas conquistas se podem fazer, essa é a verdade.
À Dona Montserrat roubaram‑lhe a mala na Reserva, que disparate! Agora até na igreja há ladrões! Não levava mais que três pesetas e uns centimos, mas a mala ainda estava bastante boa, em muito bom estado.
Já se tinha cantado o Tantum ergo ‑ que o irreverente do José Maria, o sobrinho de Dona Montserrat, cantava com a música do hino alemão ‑ e nos bancos não estavam senão umas senhoras, entregues às suas devoções.
Dona Montserrat medita sobre o que acaba de ler: «Esta quinta‑feira traz na alma a fragrância de açucenas e também o doce sabor de lágrimas de perfeita contrição. Em inocência foi um anjo, na penitência abandonou‑se às austeridades da Tebaida...»
Dona Montserrat volta um pouco a cabeça e a mala já lá não estava. Ao princípio não ligou muito ‑ tudo na sua imaginação eram aparições e desaparições.
Na sua casa, Julita guarda outra vez o caderno e, como os hóspedes da Dona Matilde, vai também jantar. A mãe dá‑lhe um carinhoso beliscão na cara.
‑ Estiveste a chorar? Parece que tens os olhos vermelhos. Julita responde com um trejeito.
‑ Não, mamã, tenho estado a pensar. Dona Visi sorri com um certo ar atrevido. ‑Nele?
‑ Sim.
As duas mulheres dão o braço.
‑ Escuta, como se chama?
‑ Ventura.
‑ Ah!, minha velhaca! Por isso puseste ao chinesinho o nome de Ventura! A rapariga semicerra os olhos.
‑ Sim.
‑ Então já o conheces há algum tempo?
‑ Sim, conheço‑o há cerca de mês e meio ou talvez dois. Vemo‑nos de vez em quando.
A mãe põe‑se quase séria. , ‑ E porque não me disseste nada?
‑ Para que te ia dizer antes de ele se me declarar?
‑ Também é verdade. Pareço uma tonta! Fizeste muito bem, minha filha, as coisas não devem dizer‑se sem que haja uma certeza absoluta. Temos de ser sempre discretas.
À Julita corre‑lhe um tremor pelas pernas e sente um pouco de calor no peito.
‑ Sim, mamã, muito discretas!
Dona Visi volta a sorrir e a perguntar:
‑ Escuta, e que é que ele faz?
‑ Estuda para notário.
‑ Se conseguisse arranjar um lugar!
‑ Veremos se tem sorte, mamã. Eu ofereci duas velas para conseguir arranjar lugar num notário de primeira.
‑ Muito bem feito, minha filha, pedindo a Deus... Eu também vou oferecer o mesmo. Ouve... E qual é o seu apelido?
‑ Aguado.
‑ Não soa mal, Ventura Aguado. Dona Visi ri‑se, alvoroçada.
‑ Ai filha, que ilusão! Julita Moisés de Aguado, já pensaste nisto? A rapariga tem o olhar perdido.
‑Já, já.
A mãe, velozmente, temerosa de que tudo seja um sonho que se esfume, começa a fazer planos.
‑ E o teu primeiro filho, Julita, se for um menino, chamar‑se‑á Roque, como o avô. Roque Aguado Moisés. Que felicidade! Ai, quando o teu pai souber! Que alegria!
Julita já está no outro lado da corrente, já fala de si mesma como se falasse de outra pessoa, e nada lhe importa fora da simplicidade da sua mãe.
‑ Se for uma menina pôr‑lhe‑ei o teu nome, mamã. Também fica muito bem Visitación Aguado Moisés.
‑ Obrigada, filha, muito obrigada, estou emocionada. Peçamos que seja varão; um homem faz sempre muita falta.
À rapariga voltam a tremer‑lhe as pernas.
‑ Sim, mamã, muita.
A mãe fala com as mãos enlaçadas sobre o ventre.
‑ Vê lá que se Deus quisesse que ele tivesse vocação!
‑ Quem sabe!
Dona Visi eleva o olhar para o alto. O tecto liso da sua casa tem umas manchas de humidade.
‑ A ilusão de toda a minha vida, um filho sacerdote!
Dona Visi é naqueles momentos a mulher mais feliz de Madrid. Pega na filha pela cintura ‑ de uma maneira muito semelhante à do Ventura em casa de Dona Célia ‑ e balancei‑a como a um menino pequeno.
‑ Se calhar é um netinho, querida, se calhar! As duas mulheres riem abraçadas.
‑ Ai, como eu desejo viver agora! Julita quer adornar a sua obra.
‑ Sim, mamã, a vida tem muitos encantos. Julita baixa a voz, que soa velada, cadenciada.
‑ Creio que conhecer o Ventura ‑ os ouvidos da rapariga zumbem ligeiramente ‑ foi uma grande sorte para mim.
A mãe prefere dar uma amostra de sensatez.
‑ Logo veremos, filha, logo veremos. Deus o queira! Tenhamos fé! Sim, porque não? Um netinho sacerdote que nos dê bons exemplos a todos com a sua virtude. Um grande orador sagrado! Repara, agora estamos a brincar, mas se depois chega a acontecer que saiam os anúncios dos Exercícios Espirituais dirigidos pelo Reverendo Padre Roque Aguado Moisés! Eu seria já uma velhinha, minha filha, mas o coração não me cabia no peito com orgulho.
‑ A mim também não.
Martin recompõe‑se depressa, vai orgulhoso de si mesmo.
‑ Que lição! Ah, ah!
Martin acelera o passo, vai quase a correr, às vezes dá um saltinho.
‑ O que não terá dito esse javali! O javali é a Dona Rosa.
Ao chegar à praceta de San Bernardo, Martin pensa na prenda para a Nati.
‑ Talvez o Rómulo ainda esteja na loja.
Rómulo é um livreiro de coisas antigas, que tem às vezes umas estampas interessantes.
Martin aproxima‑se da loja de Rómulo, descendo, à direita, passada a Universidade.
Na porta está pendurado um cartão que diz: Fechado. Meta os seus pedidos pela porta. Lá dentro vê‑se luz: Rómulo está a ordenar as fichas ou a separar alguma encomenda.
Martin chama‑o, batendo com os nós dos dedos na porta que dá para o pátio.
‑ Olá, Rómulo!
‑ Olá, Martin, ditosos olhos te vejam!
Martin puxa pelo tabaco, e os dois homens fumam sentados em volta do braseiro que Rómulo avivou debaixo da mesa.
‑ Estava a escrever à minha irmã, a de Jaén. Agora vivo aqui, só saio para comer; há ocasiões em que não me apetece sair daqui e então não me movo durante todo o dia; dali defronte trazem‑me o café e pronto.
Martin olha para uns livros que estão sobre uma cadeira de vime, com as costas aos bocados, e que só serve para estante.
‑ Pouca coisa.
‑ Sim, não é muito. Isso de Romanones, Notas de Uma Vida, deve ter interesse, está esgotado.
‑ Sim.
Martin deixa os livros no chão.
‑ Escuta, queria uma boa estampa.
‑ Quanto queres gastar?
‑ Quatro ou cinco duros.
‑ Por cinco duros posso arranjar‑te uma com bastante graça; não é muito grande, lá isso é verdade, mas é autêntica. Além disso, tenho‑a com moldura e tudo, já a comprei assim. Se é para oferecer, não encontras melhor.
‑ Sim, é para oferecer a uma rapariga.
‑ A uma rapariga? Então nem por medida, verás. Vamos fumar o cigarro porque ninguém corre atrás de nós.
‑ Como é?
‑ Já vês. É uma Vénus que tem em baixo umas figurinhas. E tem uns versos
em toscano ou em provençal, não sei bem.
Rómulo deixa o cigarro sobre a mesa e acende a luz do corredor. Volta logo em seguida com um quadro que limpa com a manga da bata.
‑ Olha.
A estampa é bonita, tem cor.
‑ As cores são da época.
‑ Parece.
‑ Sim, sim, disso podes estar certo.
A estampa representa uma Vénus loura, completamente despida, coroada com flores. Está de pé, dentro de uma cercadura doirada. A melena chega‑lhe, por trás, até aos joelhos. Sobre o ventre tem uma rosa‑dos‑ventos; é muito simbólico. Na mão direita segura uma flor e na esquerda um livro.
O corpo da Vénus destaca‑se sobre um céu azul, todo cheio de estrelas. Dentro da mesma cercadura, e até em baixo, há dois pequenos círculos: o que está por debaixo do livro tem o signo do Touro e por baixo da flor o da Libra.
O fundo da estampa representa uma campina rodeada de árvores. Dois músicos tocam, um deles um alaúde e o outro uma harpa, enquanto três casais, dois sentados e um passeando, conversam. Nos ângulos superiores, dois anjos sopram com as suas bochechas inchadas. Por baixo há quatro versos que não se entendem.
‑ Que é que diz aqui?
‑ A tradução está feita atrás, fê‑la o Rodríguez Entrena, o catedrático da Cardenal Cisneros.
Por trás, escrito a lápis, lê‑se:
Vénus, notável de ardor,
incendeia os corações gentis onde há um cantar. E com danças e vagas festas de amor, incita com um suave divagar.
‑ Agrada‑te?
‑ Sim, a mim agradam‑me sempre estas coisas. O maior encanto destes versos é a sua imprecisão, não achas?
‑ Sim, é realmente o que me parece. Martin puxa outra vez pelo maço de tabaco.
‑ Andas bem fornecido!
‑ Hoje. Há dias que não tenho nem uma beata; apanho as do meu cunhado, como sabes.
Rómulo não responde; sabe que o tema do cunhado põe o Martin fora de si.
‑ Bem, por quanto ma vendes?
‑ Olha, vendo‑ta por vinte; tinha‑te dito vinte e cinco, mas se me dás as vinte podes levá‑la. A mim custou‑me quinze e já a tenho quase há um ano. Que dizes?
‑ De acordo, dá‑me um duro de troco.
Martin leva a mão ao bolso. Fica um instante indeciso, com as sobrancelhas franzidas, como se estivesse a pensar. Tira o lenço e põe‑o sobre os joelhos.
‑ Quase jurava que a tinha aqui. Martin põe‑se de pé.
‑ Não consigo perceber...
Procura nos bolsos das calças e puxa os forros para fora.
‑ Ora esta! Era só o que me faltava!
‑ Que é que te aconteceu?
‑ Nada, prefiro não pensar.
Martin olha para os bolsos da americana, puxa pela velha e desfiada carteira, cheia de cartões de amigos e de recortes de jornais.
‑ Perdi‑a!
‑ O quê?
‑ A nota dos cinco duros...
Julita sente uma sensação rara. Às vezes nota como que um pesar, enquanto outras vezes tem de fazer uns esforços tremendos para não rir.
«‑ A cabeça humana ‑ pensa ‑ é um aparelho pouco perfeito. Se fosse possível ler como num livro aquilo que passa pelas cabeças! Não, não; é melhor que continue tudo assim, que não possamos ler nada, que nos entendamos uns aos outros só com aquilo que nos apetece dizer, que porra!, ainda que seja mentira!
A Julita, de vez em quando, gosta de dizer uns palavrões.
Pela rua, de mãos dadas, parecem tio e sobrinha que andam a passear. A miúda, ao passar pela casa da porteira, volta a cara para o outro lado. Vai a pensar e não vê o primeiro degrau.
‑ Vê lá se te desgraças!
‑ Não.
Dona Célia aparece a abrir.
‑ Olá, Doutor Francisco!
‑ Olá, minha amiga! A rapariga que entre para ali, eu queria falar consigo.
‑ Está muito bem! Vai para ali, filha, e senta‑te onde quiseres.
A rapariga senta‑se na beira de uma cadeira forrada de verde. Tem treze anos e o peito já desponta um pouco, como uma rosa pequenina a desabrochar. Chama‑se Merceditas Olivar Vallejo, e as suas amigas chamam‑lhe Merche. A família desapareceu com a guerra, uns mortos e outros emigrados. Merche vive com uma cunhada da avó, senhora velha cheia de rugas e pintada como uma boneca, que usa chinó e que se chama Carmen. No bairro chamam à Dona Carmen «Cabelo de Morta». Os rapazes da rua preferem chamar‑lhe «Corredora».
Dona Carmen vendeu a Merceditas por cem duros, e quem a comprou foi o Dr. Francisco, o do consultório.
Ao homem disse‑lhe:
‑ As primícias, Doutor Francisco, as primícias! Um anjo! E à miúda:
‑ Ouve lá, o Doutor Francisco a única coisa que quer é brincar, e, além disso, algum dia tinha que ser! Não compreendes?
Naquela noite, o jantar em casa da família Moisés foi alegre. Dona Visi está radiante e Julita sorri, quase envergonhada. O Sr. Roque e as outras duas filhas também estão contagiadas, todavia sem saberem a razão daquela alegria. O Sr. Roque, nalguns momentos, pensa naquilo que a Julita lhe disse nas escadas: «Pois... do fotógrafo», e o garfo treme‑lhe um pouco na mão; até isto não lhe passar não se atreve a olhar para a filha.
Já na cama, Dona Visi tarda a adormecer. A sua cabeça não faz senão pensar no mesmo.
‑ Sabes que a Julita já tem namorado?
‑ A Julita?
‑ Sim, um estudante de notário.
O Sr. Roque dá uma volta entre os lençóis.
‑ Não te ponhas para aí a dar com a língua nos dentes. Vamos lá ver onde é que isto vai parar.
‑ Ai, filho, estás sempre a dar‑me banhos de água fria!
Dona Visi adormece cheia de sonhos felizes. Despertou‑a, passadas algumas horas, a sineta de um convento de freiras pobres, tocando a alvorada.
Dona Visi tinha o ânimo disposto para ver em tudo presságios felizes, ditosos augúrios, signos certos de felicidade e prosperidade.
Capítulo Sexto
É manhã.
Entre sonhos, Martin ouve a vida da cidade despertar. Sente‑se bem a escutar, entre os lençóis, com uma mulher viva ao seu lado, viva e despida, os ruídos da cidade, o seu latejar alvoroçador: os carros dos trapeiros que descem de Fuencarral e Chamartín, dos que sobem por Ventas e por Injúrias, que vêm da triste e desolada paisagem do cemitério e que passam ‑ caminhando há já várias horas debaixo de frio ‑ lentos, puxados por um cavalo fraco, ou por um burro triste. As vozes das vendedeiras que madrugam, e que vão montar os seus postos de frutas na Calle del General Porlier. As longínquas e incertas primeiras buzinas. Os gritos dos miúdos que vão para o colégio, com a pasta ao ombro e a fragrante merenda no bolso...
No prédio, a azáfama mais próxima soa, amorosamente, dentro da cabeça de Martin. Dona Jesusa, a madrugadora Dona Jesusa que, depois de comer durante a sesta, para compensar dispõe do trabalho das assistentes, velhas rameiras em declive, umas amorosas, meigas mães de família as restantes. Dona Jesusa tem de manhã sete assistentes. As suas duas criadas dormem até à hora do almoço, até às duas da tarde, numa cama qualquer, num leito misterioso que antes ficara livre, quem sabe se como um túmulo, deixando prisioneiro entre os ferros da cabeceira todo um mar de angústia, guardando entre a crina do seu colchão o áulido do jovem esposo que pela primeira vez, sem se aperceber, enganou a sua mulher, que era uma rapariga encantadora, com qualquer mastronça cheia de borbulhas e de feridas como uma mula: a sua mulher que o esperava levantada, como todas as noites, fazendo meia junto ao fogo da braseira, embalando o menino com o pé, lendo uma novela de amor, pensando difíceis, complexas estratégias económicas que, com um pouco de sorte, podiam levá‑la a comprar umas meias.
Dona Jesusa, que é a ordem em pessoa, reparte o trabalho entre as suas assistentes. Em casa de Dona Jesusa lava‑se a roupa da cama todos os dias; cada cama tem dois jogos completos, que, às vezes, quando algum cliente lhe faz um rasgão, inclusivamente de propósito, pois há de tudo, são cosidos com todo o cuidado. Agora não há roupa de cama; encontram‑se lençóis e pano para almofadas no Rastro(1), mas a preços impossíveis.
Dona Jesusa tem cinco lavadeiras e duas engomadeiras desde as oito da manhã até à uma da tarde. Ganham três pesetas cada uma, mas o trabalho não as mata. As engomadeiras têm as mãos mais finas e põem brilhantina no cabelo. São de saúde delicada e prematuramente envelhecidas. Ambas entraram para a vida, quase crianças, e nenhuma delas soube poupar. Agora sofrem as consequências. Cantam como as cigarras, enquanto trabalham, e bebem sem conta, como os sargentos de Cavalaria.
Uma chama‑se Margarita. É filha de um homem que em vida fazia caixotes na Estação das Delícias. Aos quinze anos teve um namorado que se chamava José ‑ ela não sabe mais. Levou‑a um domingo para o monte do Prado e depois deixou‑a. Margarita começou a entregar‑se e acabou nos bares de Antón Martin. O que se seguiu depois era muito vulgar, mais vulgar ainda.
A outra chamava‑se Dorita. Perdeu‑se com um seminarista da sua terra, numas férias. O seminarista, que já morreu, chamava‑se Cojoncio Alba. O nome tinha sido uma pesada graça de seu pai, que era muito bruto. Apostou um jantar com os amigos em como o seu filho havia de se chamar Cojoncio, e ganhou a aposta. No dia do baptizado o pai, Estanislao Alba, e os amigos apanharam uma bebedeira tremenda. Davam morte ao rei e vivas à República Federal. A pobre mãe, Dona Conchita Ibánez, que era uma santa, chorava e não parava de dizer:
‑ Ai, que desgraça, que desgraça! O meu marido embriagado num dia tão feliz!
Com o correr dos anos, nos aniversários do baptizado ainda se lamentava.
‑ Ai, que desgraça, que desgraça! O meu marido embriagado num dia tão feliz!
*1. Nome como em Madrid se designa a Feira da Ladra. (N. do T.)
O seminarista, que chegou a cónego da catedral de Leão, levou‑a, mostrando‑lhe umas estampas de cores brilhantes, que representavam os milagres de São José de Calasanz, até às margens do Curueno e ali, num prado, aconteceu tudo o que tinha de acontecer. Dorita e o seminarista eram de Valdeteja, na província de Leão. A rapariga, quando o acompanhava, tinha o pressentimento de que ia no caminho errado, mas deixava‑se levar, tonta.
Dorita teve um filho, e o seminarista, numa outra licença em que passou pelo povoado, não quis nem vê‑la.
‑ É uma mulher de má vida ‑ dizia ‑, um engenho do Inimigo, capaz de perder com as suas manhas o homem mais pacato. Evitemos olhar para ela! Puseram Dorita fora de casa e ela andou algum tempo de terra em terra, com o menino ao colo. O pobre foi morrer, uma noite, numas grutas que há no rio fiurejo, na província de Palencia. A mãe não disse nada a ninguém; atou‑lhe umas pedras ao pescoço e atirou‑o ao rio; as trutas comeram‑no. Depois, quando já não havia remédio, desatou a chorar e esteve cinco dias metida na gruta, sem ver ninguém e sem comer.
Dorita tinha dezasseis anos, um ar triste e sonhador de cão sem dono, de besta errante.
Andou algum tempo em bolandas ‑ como um móvel usado ‑ pelos bordéis de Valladolid e de Salamanca, até que poupou o suficiente para a viagem e veio para a capital. Aqui esteve numa casa na Calle de la Madera, à esquerda de quem desce, e que se chamava «Sociedade das Nações» porque havia muitas estrangeiras: francesas, polacas, italianas, uma russa, alguma portuguesa morena e bigoduda, mas sobretudo francesas, muitas francesas: fortes alsacianas com o ar de tratadoras de gado, normandas honestas que foram para a vida a fim de juntar para o vestido de noiva, parisienses adoentadas ‑ algumas com um passado esplendoroso ‑ que desprezavam profundamente o motorista, o comerciante que lhes arrancava do bolso as suas boas sete pesetas. Da casa tirou‑a Nicolás de Pablos, um ricaço de Valdepenas que casou com ela pelo Registo Civil.
‑ O que eu quero ‑ dizia Nicolás ao seu sobrinho Pedrito, que fazia uns versos muito bonitos e estudava Filosofia e Letras ‑ é uma gaja gorda que me faça gozar, entendes?, uma tipa que tenha onde se possa agarrar. Tudo o resto são cantigas e jogos florais.
Dorita deu três filhos ao marido, mas todos nasceram mortos. A pobre, paria ao contrário: tinha‑os pelos pés e, claro, ao sair afogavam‑se. Nicolás deixou a Espanha no ano de 39, porque diziam que ele era mação, e não voltou a ouvir‑se falar mais nele. Dorita, que não se atrevia a viver ao lado da família do marido, quando se acabou o dinheiro que havia em casa foi outra vez para a vida, mas teve pouco êxito. Por muito boa vontade que tivesse e embora procurasse ser simpática, não conseguiu uma clientela fixa. Isto nos princípios de 40; já não era criança nenhuma e além disso havia muita concorrência, muitas raparigas novas que estavam bem. E bastantes que o faziam para se divertirem, tirando o pão às outras. Dorita andou aos tombos por Madrid, até que encontrou Dona Jesusa.
‑ Estou à procura de outra engomadeira de confiança, vem comigo. Basta alisar os lençóis e pronto. Dou‑te três pesetas todos os dias. Além disso tens as tardes e as noites livres.
Dorita, à tarde, acompanhava uma senhora inválida a dar uma volta por Ricoletos ou a ouvir um pouco de música no Maria Cristina. A senhora dava‑lhe duas pesetas e um café com leite; ela tomava chocolate. A senhora, Dona Salvadora, tinha sido parteira. De mau feitio, estava sempre a queixar‑se e a gemer. Soltava palavrões constantemente e dizia que o mundo devia ser queimado, que não servia para nada de bom. Dorita aguentava e concordava com tudo, pois tinha que defender as suas duas pesetas e o cafezinho das tardes.
As duas engomadeiras, cada uma na sua mesa, cantam enquanto trabalham e batem com o ferro nos sítios cosidos. Às vezes conversam.
‑ Ontem veio o racionamento. Eu não o quero. Por um quarto de açúcar dei quatro e cinquenta. Um quarto de azeite por três. Duzentos gramas de feijão verde, por duas, e ainda por cima cheio de bicho.
‑ Eu dei‑o à minha filha. Vou comer com ela um dia por semana. Martin, nas águas‑furtadas, ouve‑as. Não distingue o que dizem. Ouve as suas
desafinadas coplas e as batidelas na tábua.
Já está acordado há algum tempo, mas não abre os olhos. Prefere sentir a Pura, que o beija com cuidado de vez em quando, e fingir‑se a dormir, para não ter que se mover. Sente o cabelo da rapariga sobre a sua cara, sente‑lhe o corpo despido debaixo dos lençóis e a respiração que, às vezes, ronca um pouco, de uma maneira que mal se apercebe.
Assim passa mais um bocado: aquela é a sua única noite feliz desde há já muitos meses. Agora encontra‑se como novo, como se tivesse dez anos a menos, como se fosse um rapaz. Sorri e abre um olho, pouco a pouco.
Pura, de cotovelos sobre a almofada, olha‑o fixamente. Sorri também, quando o vê despertar.
‑ Que tal dormiste?
‑ Muito bem, Purita, e tu?
‑ Eu também. Com homens como tu, dá gosto. Não incomodas nada.
‑ Cala‑te, fala de outra coisa.
‑ Como queiras.
Ficaram uns instantes silenciosos. Pura beijou‑o de novo.
‑ És um romântico.
Martin sorri quase com tristeza.
‑ Não. Simplesmente um sentimental. Martin acaricia‑lhe a cara.
‑ Estás pálida, pareces uma noiva.
‑ Não sejas tonto.
‑ Sim, uma recém‑casada... Pura pôs‑se séria.
‑ Pois não sou!
Martin beija‑lhe os olhos delicadamente, como um poeta de dezasseis anos.
‑ Para mim, sim, Pura! Creio que sim!
A rapariga, cheia de agradecimento, sorri com resignada melancolia.
‑ Se tu o dizes! Não era mau!
Martin sentou‑se na cama.
‑ Conheces um soneto de Juan Ramón que começa assim: «Imagem alta e terna do consolo»?
‑ Não. Quem é Juan Ramón? ‑ ‑ Um poeta.
‑ Fazia versos?
‑ Claro.
Martin olha para Pura, quase com raiva, só por um instante.
‑ Verás.
Imagem alta e terna do consolo, aurora dos meus mares de tristeza lis de paz com cores de pureza, preço divino do meu grande duelo!
‑ Que triste e que bonito!
‑ Gostaste?
‑ Sim, creio que gostei!
‑ Outro dia dir‑te‑ei o resto.
O Sr. Ramón, com o tronco nu, chapinha na funda bacia de água fria.
O Sr. Ramón é um homem forte e rijo, um homem que come bem, que não apanha gripes, que bebe os seus copos, que joga o dominó, que belisca as nádegas das criadas de servir, que se levanta ao raiar do dia e que trabalhou toda a sua vida.
O Sr. Ramón já não é nenhuma criança. Agora, como é rico, já não se aproxima do forno aromático e pouco saudável onde se coze o pão; desde a guerra que não sai do balcão, atendendo esmeradamente, procurando agradar a todas as compradoras, estabelecendo um grupo pitoresco e exacto por idades, por estados, por condições, e até por pareceres.
O Sr. Ramón tem os cabelos do peito brancos.
‑ Vamos, rapariga! Que é isso de estar metida na cama a estas horas, como uma finória?!
A rapariga levanta‑se sem dizer palavra, e lava‑se na cozinha. A rapariga, pelas manhãs tem uma ligeira tosse, quase imperceptível. Às vezes apanha um pouco de frio e então a tosse torna‑se um tanto mais forte, mais seca.
‑ Quando deixas esse desgraçado tísico? ‑ diz‑lhe a mãe.
A rapariga, que é doce como uma flor e também capaz de deixar‑se dominar sem dar um grito, sente vontade de matar a mãe.
‑ Devias rebentar, víbora! ‑ diz em voz baixa.
Victorita, com o seu casaco de algodão, vai dar um passeio até à Tipografia El Porvenir, na Calle de la Madera, onde trabalha como empacotadora, todo o santo dia de pé.
Há alturas em que Victorita tem mais frio que de costume e vontade de chorar, uma vontade enorme de chorar.
Dona Rosa madruga bastante, pois vai todos os dias à missa das sete.
Dona Rosa dorme, neste tempo, com uma camisola de abafar, uma camisola de flanela inventada por ela.
Dona Rosa, no regresso da igreja, compra uns churros(1), mete‑se no café ‑ no seu café que parece um cemitério deserto, as cadeiras com os pés para o ar, em cima das mesas, a máquina do café e o piano tapados ‑ e toma um copo de ojén.
*1. Espécie de farturas. (N. do T.)
Dona Rosa, enquanto toma o pequeno‑almoço, pensa na instabilidade dos tempos; na guerra que, Deus não permita!, os Alemães vão perdendo; nos criados, no encarregado, no moço, nos músicos; até os miúdos dos recados têm cada dia mais exigências, mais pretensões, mais vaidades.
Dona Rosa, entre os golos de ojén, fala sozinha, em voz baixa, um pouco sem sentido, sem tom nem som, como Deus quer.
‑ Mas quem manda aqui sou eu, o diabo que os leve! Se quiser bebo outro copo e não tenho que dar satisfações a ninguém. E se me apetecer atiro com uma garrafa ao espelho. Não o faço porque não quero. E se eu quiser fecho isto para sempre e não se serve um café nem a Deus. Tudo isto é meu, foi com o meu trabalho que o ergui.
Dona Rosa, pela manhã, sente que o café é mais seu do que nunca.
‑ O café é como um gato, só com a diferença de que é maior. Como o gato é meu, se me apetecer dou‑lhe chouriço ou mato‑o às pauladas.
Roberto González calcula que desde a sua casa até à repartição dos Deputados não é mais de meia hora a andar. Salvo se estiver muito cansado, Roberto vai sempre a pé a todo o lado. Dando um passeio desentorpece as pernas e poupa, pelo menos, quase noventa duros ao fim do ano.
Roberto González toma ao pequeno‑almoço uma chávena de malte com leite bem quente e meio pão. A outra metade leva‑a, com um pouco de queijo, para comer ao meio da manhã.
Roberto González não se queixa, pois há quem esteja pior. Apesar de tudo tem saúde, que é o principal.
O miúdo que canta flamengo dorme debaixo de uma ponte, no caminho do cemitério. O miúdo que canta flamengo vive com uma espécie de família cigana, em que cada um dos membros que a forma se arranja como melhor pode e com liberdade e autonomia absolutas.
O miúdo que canta flamengo molha‑se quando chove, gela quando faz frio, tosta‑se no mês de Agosto, mal protegido na escassa sombra da ponte: é a velha lei do Deus do Sinai.
O miúdo que canta flamengo tem um pé um bocado torcido; rebolou por um monte de entulho, doeu‑lhe muito, e andou a coxear durante algum tempo...
Purita acariciou a testa de Martin.
‑ Tenho um duro e picos na carteira, queres que mande buscar alguma coisa para o pequeno‑almoço?
Martin, com a felicidade tinha perdido a vergonha. Acontece o mesmo com toda a gente.
‑ Está bem.
‑ Que queres, café e uns churros!
Martin riu‑se um pouco. Estava muito nervoso.
‑ Não, café e dois suíços, que tal?
‑ O que tu quiseres.
Purita beijou Martin. Martin saltou da cama, deu duas voltas pelo quarto e tornou a deitar‑se.
‑ Dá‑me outro beijo.
‑ Todos os que quiseres.
Martin, com um descaramento absoluto, apanhou o sobrescrito das beatas e fez um cigarro. Purita não se atreveu a dizer nada. Martin tinha no olhar um brilho quase triunfador.
‑ Anda, pede o pequeno‑almoço.
Purita pôs o vestido sobre a pele e saiu para o corredor. Martin, ao ficar só, levantou‑se e olhou‑se no espelho.
Dona Margot, com os olhos abertos, dormia o sono dos justos no Depósito sobre o mármore frio de uma das mesas. Os mortos do Depósito não parecem pessoas mortas, parecem pessoas assassinadas, máscaras às quais se acabou a corda.
É mais triste um títere degolado que um homem morto.
Elvira acorda cedo, mas não madruga. Elvira gosta de estar na cama muito tapada, a pensar nas suas coisas, ou lendo Os Mistérios de Paris, pondo só uma mão de fora para segurar o pesado e desconjuntado volume.
A manhã vai aclarando, pouco a pouco, penetrando como um verme nos corações dos homens e das mulheres da cidade; dando golpes, quase com mimo, sobre os miradouros recém‑despertos, esses miradouros que jamais descobrem horizontes novos, paisagens novas, ou novas decorações.
A manhã, essa manhã eternamente repetida, joga um pouco, sem dúvida, a mudar a face à cidade, esse sepulcro, essa colmeia...
Que Deus nos perdoe!
Epílogo
Passaram três ou quatro dias. O ar vai tomando um certo aspecto de Natal... Sobre Madrid, que é como uma velha planta com tenros talinhos verdes, ouve‑se, às vezes entre o barulho da rua, o doce, o carinhoso dobrar dos sinos de alguma capela. As pessoas cruzam‑se apressadas. Ninguém pensa no vizinho do lado, nesse homem que provavelmente vai a olhar para o chão; com o estômago desfeito, ou com um quisto num pulmão, ou mal da cabeça...
Roberto lê o jornal enquanto toma o pequeno‑almoço. Em seguida despede‑se da sua mulher, a Filo, que ficou na cama um pouco adoentada.
‑ Já vi isso, aliás está bem claro. Há que fazer algo por esse rapaz. Merecer não o merece, mas, enfim!
A Filo chora, enquanto os seus dois filhos, ao lado da cama, a fitam sem compreender: os olhos cheios de lágrimas, a expressão vagamente triste, quase perdida, como o dessas vitelas que ainda respiram ‑ o sangue fumegante sobre os azulejos do chão ‑ enquanto lambem, com a língua torpe dos últimos momentos, o cascão da blusa do magarefe que as fere, indiferente como um juiz, a beata nos lábios, o pensamento em qualquer criada e uma zarzuela trauteada em voz turbada.
Ninguém se recorda dos mortos que estão já há um ano debaixo da terra.
Nas famílias ouve‑se dizer:
‑ Não se esqueçam que amanhã é o aniversário da pobre mamã.
É sempre uma irmã, a mais triste, que fica com a incumbência...
Dona Rosa vai todos os dias à Corredera, fazer as compras, com a criada atrás. Dona Rosa vai à praça depois de ter destinado as coisas no seu café; Dona Rosa prefere ir fazer as compras quando a maioria das pessoas já está de regresso, isto quase no fim da manhã.
Na praça encontra‑se às vezes com a sua irmã. Dona Rosa pergunta sempre pelas sobrinhas. Um dia disse à Dona Visi:
‑ E a Julita?
‑ Lá anda.
‑ A essa rapariga faz‑lhe falta um namorado!
No outro dia ‑ fez já uns dias ‑ Dona Visi ao ver a Dona Rosa aproximou‑se radiante de alegria.
‑ Sabes que a pequena já tem noivo?
‑ Sim?
‑ É verdade.
‑ E que tal?
‑ Uma maravilha, filha, estou encantada.
‑ Bem, bem, ainda bem; que as coisas corram pelo melhor e...
‑ E porque é que não hão‑de correr bem?
‑ Sei lá! Com o que se vê agora!
‑ Ai, Rosa, estás sempre a ver as coisas pelo pior!
‑ Pois enganas‑te, mulher, o que acontece é que eu gosto de ver como as coisas se desenrolam. Se saem bem, tanto melhor!
‑ Está bem.
‑ E se não...
‑ Se não, outro virá.
‑ Claro, se este não a desgraçar.
Ainda existem eléctricos onde as pessoas se sentam frente a frente, contemplando‑se detidamente, com certa curiosidade.
‑ Aquele tem cara de cornudo, se calhar a mulher fugiu com algum, talvez com um corredor de bicicleta, quem sabe se com algum de Abastos.
Se o trajecto é comprido, as pessoas chegam a afeiçoar‑se. Parece que não, mas sempre se sente pena por aquela mulher, que parecia tão desgraçada, ficar numa rua qualquer sem que voltemos a vê‑la mais.
‑ Não se deve arranjar lá muito bem, talvez o seu marido esteja sem trabalho, e tenham muitos filhos.
Há sempre uma jovem, forte, pintada, e vestida com certa ostentação. Usa uma grande carteira de pele verde, uns sapatos de pele de cobra, e as faces pintadas.
‑ Tem o aspecto de ser a mulher de um ferro‑velho rico. Também tem o aspecto de ser amante de um médico; os médicos escolhem sempre umas amantes muito atractivas, parecendo querer dizer a todo o mundo: «Vejam! Os senhores vêem bem? Gado do melhor!»
Martin vem de Atocha. Ao chegar a Ventas apeia‑se e segue a pé pela Calle del Este. Vai ao cemitério ver a sua mãe, Dona Filomena López de Marco, que morreu já há algum tempo, um dia antes da noite de Natal.
Pablo Alonso dobra o jornal e toca à campainha. Laurita tapa‑se, tem vergonha que a criada a veja na cama. Apesar de tudo, pensa que não vive naquela casa senão há dois dias; na pensão da Calle de Preciados onde se meteu depois de sair da sua casa em Lagasca, não se estava lá bem.
‑ Pode‑se entrar?
‑ Sim, entre. O senhor Marco está?
‑ Não, senhor, não está. Saiu há um bocado. Pediu‑me uma gravata velha sua, que fosse preta.
‑ Deu‑lha?
‑ Dei, sim, senhor.
‑ Está bem. Prepare‑me o banho. A criada sai do quarto.
‑ Tenho de sair, Laurita. Pobre desgraçado! Era só o que faltava!
‑ Pobre rapaz! Pensas encontrá‑lo?
‑ Não sei, irei às Comunicações e ao Banco de Espanha, pois ele costuma estar por aí.
Do caminho do Este vêem‑se umas casinhotas miseráveis, feitas de latas velhas e de pedaços de tábuas. Alguns miúdos brincam atirando pedras para os charcos formados pelas chuvas. No Verão, quando ainda o Abronigal não secou, pescam rãs com paus e molham os pés nas águas sujas e mal‑cheirosas dos lagos. Algumas mulheres esgaravatam nos montes de lixo. Um ou outro velho, já gasto, senta‑se à porta de casa, em cima de uma caixa virada para baixo, e põe ao fraco sol da manhã um jornal cheio de beatas.
‑ Não se apercebem, não se apercebem...
Martin, que ia a tentar encontrar uma rima para um soneto dedicado à sua mãe e que já tinha começado, pensa no tão falado assunto de que o problema não é de produção, mas sim de distribuição.
‑ Na realidade, estes estão piores do que eu. Que disparate! As coisas que acontecem!
Paço chega, sufocado, com a língua de fora, ao bar da Calle de Narváez. O proprietário, Celestino Ortiz, serve um cálice de bagaço ao guarda Garcia.
‑ O abuso do álcool é mau para as moléculas do corpo humano, que são, como já disse uma vez, de três classes: moléculas sanguíneas, moléculas musculares e moléculas nervosas, porque as queima, mas um cálice de vez em quando serve para aquecer o estômago.
‑ É o que eu digo.
‑ ... E para iluminar as misteriosas zonas do cérebro humano. O guarda Júlio Garcia está apalermado.
‑ Conta‑se que os antigos filósofos, os da Grécia e os de Roma e os de Cartago, quando queriam ter algum poder sobrenatural...
A porta abriu‑se violentamente e uma corrente de ar gelado passou pelo balcão.
‑ Olhem essa porta!
‑ Olá, senhor Celestino!
O proprietário interrompeu‑o. Ortiz dava muita importância aos tratamentos, era como que um chefe de protocolo.
‑ Amigo Celestino.
‑ Deixe‑se disso agora. O Martin veio por aqui?
‑ Não, não voltou cá desde aquele dia, parece que se zangou; eu estou um pouco desgostoso com isso, pode crer.
Paço voltou‑se de costas para o guarda.
‑ Veja. Leia aqui.
Paço deu‑lhe um jornal dobrado.
‑ Aí em baixo.
Celestino lê devagar, com o sobrolho franzido.
‑ Oh, diabo! Isto é mau!
‑ É o que eu penso.
‑ Que é que pensa fazer?
‑ Não sei. Que é que acha? Eu creio que será melhor falar com a irmã, não lhe parece? Se o pudéssemos mandar para Barcelona amanhã mesmo!
Na Calle de Torrijos, um cão agoniza numa cova ao pé de uma árvore. Atropelou‑o um táxi, apanhando‑o pela barriga. Tem os olhos suplicantes e a língua de fora. Uns miúdos incomodam‑no com os pés. Assistem ao espectáculo duas ou três dezenas de pessoas.
Dona Jesusa encontra‑se com Purita Bartolomé.
‑ Que é que se passa aí?
‑ Nada, um canito atropelado.
‑ Coitadinho!
Dona Jesusa dá o braço à Purita.
‑ Sabes o que se passa com o Martin?
‑ Não, que é?
‑ Escuta.
Dona Jesusa lê à Purita umas linhas do jornal.
‑ E agora?
‑ Não sei, tenho medo que aconteça alguma coisa má. Viste‑o?
‑ Não, não tornei a vê‑lo.
Alguns varredores juntam‑se ao grupo que está a ver o cão moribundo, apanham‑no pelas patas de trás e atiram‑no para dentro do carrito. O animal dá um profundo, um desalentado latido de dor, quando vai pelo ar. O grupo observa durante um momento os varredores e depois dissolve‑os. Cada um vai para seu lado. Entre as pessoas há, talvez, algum miúdo pálido que goza ‑ enquanto sorri sinistramente, quase imperceptivelmente ‑ ao ver como o cão vai morrer...
Ventura Aguado fala com a namorada, com a Julita, pelo telefone.
‑ Mas, agora mesmo?
‑ Sim, agora mesmo. Dentro de meia hora estou no Metro de Bilbao, não faltes.
‑ Não, não, está descansado. Adeus.
‑ Adeus, dá‑me um beijo.
‑ Toma‑o.
Meia hora depois, à entrada do Metro de Bilbao, Ventura encontra‑se com a Julita, que já o esperava. A rapariga tinha uma curiosidade enorme, e até estava um pouco preocupada. Que se passaria?
‑ Já chegaste há muito tempo?
‑ Não, cheguei há cinco minutos. Que aconteceu?
‑ Já te digo, vamos entrar aqui.
Entraram numa cervejaria e sentaram‑se ao fundo, a uma mesa quase às escuras.
‑ Lê.
Ventura acende um fósforo para que a rapariga possa ler.
‑ O teu amigo meteu‑se em boa!
‑ Isto é tudo o que há, foi por isso que te chamei. Julita fica pensativa.
‑ E que vai fazer?
‑ Não sei, não o vi.
A rapariga dá uma fumaça no cigarro dele.
‑ Mas que diabo!
‑ Sim, a cão tinhoso todos lhe atiram pedras... Pensei que era bom que fosses ver a irmã dele, vive na Calle de Ibiza.
‑ Mas eu nem a conheço!
‑ Não importa, dizes‑lhe que vais da minha parte. O melhor era que fosses agora mesmo. Tens dinheiro?
‑ Não.
‑ Toma dois duros. Vai e vem de táxi, quanto mais depressa andarmos melhor. Temos de o esconder, não há outro remédio.
‑ Sim, mas... Não iremos arranjar algum sarilho?
‑ Não sei, mas não temos outra solução, se Martin se vê só é capaz de fazer algum disparate.
‑ Está bem, está bem, tu mandas!
‑ Anda, vai já.
‑ Que número é?
‑ Não sei, fica à esquina da segunda transversal do lado esquerdo de quem sobe por Narváez, não sei como se chama. É no passeio dos pares, o marido chama‑se González, Roberto González.
‑ Esperas‑me aqui?
‑ Sim, vou ver um amigo de grande posição, e dentro de meia hora estarei aqui outra vez.
O Sr. Ramón fala com Roberto, que não foi ao escritório, e que está a pedir licença pelo telefone.
‑ É uma coisa muito urgente, garanto‑lhe; muito urgente e muito desagradável.
O senhor bem sabe que eu não gosto de abandonar o trabalho sem mais nem menos. É um assunto de família.
‑ Está bem, homem, está bem, então não venha, eu direi ao Díaz que dê uma olhadela pelo seu serviço.
‑ Muito obrigado, senhor José, que Deus lhe pague. Eu saberei corresponder à sua benevolência.
‑ De nada, homem, de nada, nós estamos cá para nos ajudarmos uns aos outros, o que é preciso é que consiga resolver o seu problema.
‑ Muito obrigado, senhor José, vamos lá ver se consigo... O Sr. Ramón tem um ar preocupado.
‑ Veja, senhor González, eu escondo‑o aqui uns dias; mas depois, terá de procurar outro sítio. Não é por nada, porque aqui mando eu, mas a Paulina vai ficar pior que uma barata quando souber.
Martin anda pelos compridos caminhos do cemitério. Sentado à porta da capela, o padre lê uma novela de cow‑boys do Oeste. Sob o fraco sol de Dezembro os pardais‑de‑telhado piam, saltando de cruz para cruz, balouçando‑se nos ramos despidos das árvores. Pelo carreiro passa uma menina de bicicleta; vai a cantar, com a sua voz terna, uma canção em voga. Tudo o mais é um suave silêncio, um grato silêncio. Martin sente um bem‑estar inefável.
Petrita fala com a sua patroa, a D. Filo.
‑ Que tem, senhora?
‑ Nada, o menino não está a passar bem. Petrita sorri carinhosamente.
‑ Não, o menino não tem nada. A senhora é que não está a passar bem. Filo leva o lenço aos olhos.
‑ Esta vida não me dá senão desgostos, filha, tu és muito nova para poderes compreender!
Rómulo, na sua livraria, dá uma vista de olhos pelo jornal. Londres. ‑ Rádio Moscovo anuncia que a conferência entre Churchill, Roosevelt e Stalin se realizou há dias em Teerão.
‑ Este Churchill é mesmo um diabo! Com a idade que tem e a andar de um lado para o outro como se fosse um rapazote!
Quartel‑General do Fúhrer. ‑ Na região de Gomel, do sector central da Frente Este, as nossas forças deixaram...
‑ Ui, ui! Isto não me cheira nada bem!
Londres. ‑ O presidente Roosevelt chegou à ilha de Malta a bordo do seu avião gigante Douglas.
‑ Que tipo! Aposto que esse aeroplaninho até tem retrete! Rómulo volta a folha e passa a vista pelas colunas, quase cansado. Detém‑se ante umas breves e apertadas linhas. A sua garganta fica seca e os ouvidos começam a zumbir.
‑ Olhem para isto.
Martin chegou ao pé da catacumba da mãe. As letras ainda se viam muito bem. «R. I. P. Dona Filomena López Moreno, viúva de D. Sebastián Marco Fernández. Faleceu em Madrid a 20 de Dezembro de 1934.»
Martin não vai todos os anos, pelo aniversário, visitar os restos da mãe. Vai quando se lembra.
Martin descobre‑se. Sente que uma leve sensação de quietude lhe dá placidez ao corpo. Por cima dos muros do cemitério, lá ao longe, vê‑se a planície de cor escura, onde o sol pára, como que deitado. O ar é frio mas não gelado. Martin, com o chapéu na mão, sente uma carícia já quase esquecida, uma velha carícia do tempo da sua meninice...
«Aqui está‑se muito bem ‑ pensa ‑, vou começar a vir aqui mais vezes.»
Pouco faltou para que começasse a assobiar.
Martin olha para os lados.
A menina Josefina de la Pena Ruiz subiu ao Céu no dia 3 de Maio de 1941, com onze anos de idade.
‑ Como a menina da bicicleta. Se calhar eram amigas; provavelmente, uns dias antes de morrer, dizia‑lhe, como dizem, às vezes, as meninas de onze anos: «Quando for maior e me casar...»
O Exmo Senhor Raul Soria Bueno. Faleceu em Madrid...
‑ Um homem ilustre a apodrecer dentro de um caixão! Martin apercebe‑se de que isto não faz sentido.
‑ Não, não. Martin, está quieto.
Levanta de novo o olhar e ocupa a memória com a recordação de sua mãe. Não pensa nos seus últimos tempos, vê‑a com trinta e cinco anos...
‑ Pai Nosso que estais no Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim como nós perdoamos aos nossos devedores... Não, parece‑me que não é assim.
Martin começa outra vez e torna a enganar‑se; naquele momento teria dado dez anos de vida para se lembrar do pai‑nosso. Fecha os olhos e aperta‑os com força. De repente, desata a falar a meia‑voz.
‑ Minha mãe que estás no túmulo, eu levo‑te no coração e peço a Deus que te tenha na Glória eterna como mereces. Ámen.
Martin sorri. Está encantado com a oração que acaba de inventar.
‑ Minha mãe que estás no túmulo, peço a Deus... Não, não era assim. Martin franze o sobrolho.
‑ Como era?
Filo continua a chorar.
‑ Não sei o que fazer, o meu marido foi falar com um amigo. O meu irmão não fez nada, garanto‑lhe; isso deve ser um equívoco, ninguém é infalível, ele tem as suas coisas em ordem...
Julita não sabe o que dizer.
‑ É o que eu penso, certamente enganaram‑se. De todas as maneiras, julgo que convinha fazer alguma coisa, falar com alguém.
‑ Sim, vamos a ver o que diz o Roberto logo que chegue.
Filo chora mais forte, de repente. O menino pequeno que tem nos braços também chora.
‑ A mim, a única coisa que me ocorre é rezar à Virgenzinha do Perpétuo Socorro, que sempre me tem tirado de aflições.
Roberto e o Sr. Ramón chegaram a um acordo. Como o caso de Martin não devia ser nada de grave, o melhor seria que ele se apresentasse sem mais nem menos. Para que andar a fugir quando não há nada de importante para esconder? Esperariam uns dias ‑ Martin podia passá‑los muito bem em casa do Sr. Ramón ‑ e depois, porque não?, apresentar‑se‑ia acompanhado do capitão Ovejero, e de Tesifonte, que não diz que não e que sempre é uma garantia.
‑ Parece‑me muito bem, senhor Ramón, muito obrigado. O senhor é um homem justo.
‑ Não, homem, não, é simplesmente o que me parece melhor.
‑ Creia que me tirou de cima um peso enorme...
Celestino já tem três cartas escritas, e ainda pensa escrever mais três. O caso de Martin preocupa‑o.
‑ Se não me paga, que não me pague, mas eu não posso deixá‑lo assim.
Com as mãos nos bolsos, Martin desce o carreiro ao lado do cemitério.
‑ Sim, vou ser organizado. Trabalhar um pouco todos os dias é a melhor maneira. Se me quisessem em qualquer escritório, eu ia. Ao princípio não, mas depois até se pode escrever nas folgas, sobretudo se houver um bom aquecimento. Vou falar nisto ao Pablo, com certeza sabe de alguma coisa. Nos Sindicatos deve estar‑se muito bem, dão vencimentos extras.
Martin esqueceu‑se já da mãe, como se uma borracha a tivesse apagado.
‑ Também se estará bem no Instituto Nacional de Previsão; aí deve ser mais difícil entrar. Nesses sítios está‑se melhor que nos bancos. Nos bancos exploram as pessoas, àquele que chegar tarde um dia é‑lhe descontado no ordenado. Em escritórios particulares há alguns nos quais não deve ser difícil prosperar; o que me calhava bem é que me nomeassem para fazer uma campanha na Imprensa. O senhor padece de insónia? O senhor é um desgraçado porque quer! As pastilhas xis (Marco, por exemplo) torná‑lo‑iam feliz sem que atacassem o coração!
Martin vai entusiasmado com a ideia. Ao passar pela porta do cemitério dirige‑se ao empregado.
‑ Tem um jornal? Se já o leu, eu pago‑o, é para ver uma coisa que me interessa...
‑ Sim, já o li, pode levá‑lo.
‑ Muito obrigado.
Martin saiu rapidamente. Sentou‑se no banco dum jardinzinho que existe à entrada do cemitério e desdobrou o jornal.
‑ Às vezes, na Imprensa, vêm anúncios muito bons para os que procuram emprego.
Martin reparou que ia demasiado depressa na leitura dos anúncios e travou um pouco.
‑ Vou ler as notícias; não é por muito madrugar que amanhece mais cedo. Martin está encantado consigo mesmo.
‑ Hoje sim, estou fresco e discorro bem! Deve ser do ar do campo. Martin enrola um cigarro e começa a ler as notícias.
‑ Isto da guerra é uma grande calamidade. Todos perdem e ninguém faz a Cultura avançar um passo.
Por dentro sorri; vai de êxito em êxito.
De vez em quando, pensa no que lê, olhando para o horizonte.
‑ Enfim, prossigamos!
Martin lê tudo, tudo lhe interessa; as crónicas internacionais, o artigo de fundo, o extracto de uns discursos, a informação teatral, as estreias nos cinemas, a Liga...
Nota que a vida, saindo até aos arredores, tem uns matizes mais ternos, mais delicados do que se vivesse afundado na cidade.
Martin dobra o jornal, guarda‑o no bolso da americana, e começa a andar. Agora sabe mais coisas que nunca, agora poderia seguir qualquer conversação sobre a actualidade. Leu o jornal de cima a baixo; a secção dos anúncios deixa‑a para a ver com calma, nalgum café, para o caso de querer tomar nota de alguma morada ou de telefonar a alguém. A secção dos anúncios, dos éditos e do racionamento dos povos, foi a única coisa que Martin não leu. Ao chegar à Praça de Touros, vê um grupo de raparigas que olham para ele.
‑ Adeus, preciosas.
‑ Adeus, turista.
Ao Martin o coração salta‑lhe do peito. É feliz. Sobe por Alcalá a passo largo, assobiando a Madelón.
‑ Hoje os meus hão‑de ver que sou outro homem. Os seus também pensavam algo parecido.
Martin que já ia a andar havia um bocado, parou diante da montra duma bijutaria.
‑ Quando estiver a trabalhar e ganhar dinheiro, comprarei uns brincos à Filo. E outros à Purita.
Apalpa o jornal e sorri.
‑ Aqui pode haver uma pista!
Martin, por um vago pressentimento, não quer precipitar‑se... No bolso leva o jornal, de que não havia lido ainda a secção dos anúncios e a dos éditos. Nem o racionamento dos povos do cinturão.
‑ Ah, ah! Os povos do cinturão! Que cómicos! Os povos do cinturão!
Camilo Jose Cela
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa