



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Ao fundo das Montanhas Rochosas, a terrível descoberta de centenas de corpos mumificados desperta a atenção internacional e provoca uma acesa controvérsia. Apesar das dúvidas quanto à origem desses c orpos, a comissão local da Herança Nativa Americana reivindica os r estos mortais pré-históricos, assim como os estranhos artefactos e ncontrados na mesma gruta: placas de ouro gravadas com uma e scrita desconhecida. No decorrer de uma manifestação no local da e scavação, uma antropóloga tem uma morte horrível e é reduzida a c inzas numa violenta explosão à vista das câmaras de televisão.
Todas as provas apontam para um grupo radical de nativos a mericanos, do qual faz parte uma jovem militante que consegue e scapar com algumas dessas valiosas placas. Perseguida, ela pede a juda à única pessoa que poderá ajudá-la: o seu tio, Painter Crowe, d iretor da Força Sigma. Para ajudar a sobrinha e descobrir a verdade, Painter dá início a uma guerra entre as mais poderosas agências de e spionagem do país. Surge contudo uma ameaça ainda maior quando uma assustadora reação em cadeia nas Montanhas Rochosas provoca uma catástrofe geológica que põe em perigo a metade ocidental dos E.U.A. Painter Crowe une forças com o comandante Gray Pierce para desvendar os segredos de uma sombria cabala que manipula a história americana desde a fundação das treze colônias. Mas c onseguirá Painter descobrir a verdade - e causar a queda de governos - antes que tudo o que lhe é caro seja destruído?
NOTAS DO ARQUIVO HISTÓRICO
Todos os miúdos da escola conhecem o nome de Thomas Jefferson, o arquiteto e autor da Declaração de Independência, o homem que ajudou a fundar uma nação a partir de um punhado de colónias dispersas no Novo Mundo. Muitos livros se escreveram sobre ele nos últimos dois séculos, mas de todos os Pais Fundadores da América, Jefferson permanece até hoje envolto em mistério e contradições.
Por exemplo, só em 2007 é que uma carta em código, perdida no meio dos seus papéis, foi inalmente decifrada. Fora-lhe enviada em 1801 por um colega da Sociedade Filosó ica Americana — organização da época colonial que promovia debates cientí icos e eruditos. Este grupo estava particularmente interessado em dois tópicos: criar códigos indecifráveis e investigar mistérios à volta das tribos nativas que habitavam o Novo Mundo.
A cultura e a história dos índios americanos fascinavam Jefferson de modo obsessivo. Juntou em sua casa, em Monticello, uma coleção de artefactos tribais que, segundo se dizia, rivalizava com as que se encontravam nos museus (coleção que desapareceu misteriosamente após o seu falecimento). Muitas dessas relíquias índias foram-lhe enviadas por Lewis e Clark no decorrer da sua famosa expedição na América, mas o que muitos ignoram é que, em 1803, Jefferson transmitiu uma mensagem secreta ao Congresso sobre esses dois exploradores, em que revelava a verdadeira finalidade da jornada pelo Oeste.
O leitor icará a par desse objetivo nestas páginas, pois há uma história secreta acerca da fundação da América que só uns quantos conhecem. Não tem que ver com pedreiros-livres, templários ou teorias loucas. Na realidade, um dos indícios pende descaradamente na rotunda do Capitólio norte-americano. No interior desse nobre salão está pendurado o famoso q u a d ro A Declaração de Independência, de John Turnbull. Obra supervisionada por Jefferson, mostra todos os que assinaram o célebre documento — mas pouca gente se apercebe de que Turnbull pintou cinco indivíduos a mais, homens que não assinaram a Declaração de Independência. Porquê? E quem eram?
Para obter uma resposta, continue a ler.
NOTAS DO ARQUIVO CIENTÍFICO
Neste novo milénio, o próximo grande passo na investigação cientí ica e na indústria pode resumir-se numa palavra: nanotecnologia. Signi ica, numa palavra, produção a nível atómico, a um milésimo de milionésimo de um metro. Para imaginar algo tão minúsculo, olhe para o ponto no im desta frase. Os cientistas da Nanotech.org conseguiram fabricar tubos de ensaio tão pequenos que trezentos mil milhões caberiam nesse ponto.
E a indústria nanotecnológica está em expansão. Calcula-se que só este ano sejam vendidos produtos nanotecnológicos no valor de setenta mil milhões de dólares nos EUA. Tais produtos encontram-se em tudo: pasta dentífrica, óleo de proteção solar, creme para bolos, argolas de dentição, peúgas para correr, cosméticos, remédios e até pranchas de competição na neve. Atualmente, cerca de dez mil produtos contêm nanopartículas.
Qual é a desvantagem do desenvolvimento desta indústria? Estas partículas podem provocar doenças e até a morte. Cientistas da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), descobriram que as nanopartículas de dióxido de titânio (encontradas no óleo de proteção solar para crianças e em muitos outros produtos) podem ser geneticamente perigosos para os animais. Os nanotubos de carbono (existentes em milhares de objetos usados diariamente, como os capacetes de proteção infantis) acumulam-se nos pulmões e no cérebro dos ratos.
Coisas esquisitas e inesperadas acontecem também a este nível. O papel de alumínio, por exemplo. É inofensivo e prático para guardar restos de comida, mas reduzido a nanopartículas torna-se explosivo.
Trata-se de uma nova fronteira desconhecida. Hoje, não é exigido rotular os efeitos das nanopartículas nem existem estudos quanto às medidas de segurança a tomar com os produtos que as contêm. Há um aspeto ainda mais sombrio em relação a esta indústria. A história desta tecnologia vai mais longe do que o século XX — muito mais. Para descobrir onde tudo começou e as origens desta «nova» ciência...
... Prossiga a leitura.
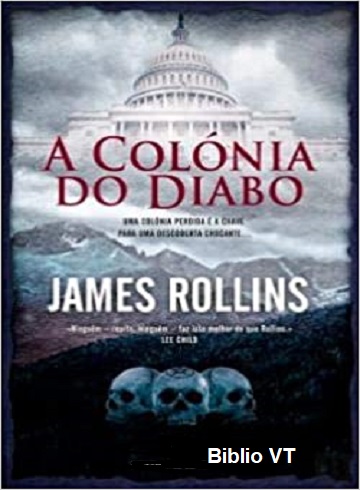
OUTONO DE 1779
TERRITÓRIO DO KENTUCKY
O crânio do monstro foi lentamente revelado.
A ponta de uma presa amarelada emergiu do solo negro.
Dois homens cobertos de lama estavam ajoelhados no fundo do buraco.
Um deles era o pai de Bill Preston e o outro, o tio. Billy, mordiscando nervosamente os nós dos dedos, mantinha-se à beira da escavação. Com doze anos, suplicara para participar nesta viagem. No passado, icara sempre em casa, em Filadélfia, com a mãe e a irmã bebé, Nell.
Orgulhava-se de se encontrar ali.
Mas, de momento, também sentia medo.
Talvez fosse devido ao Sol que baixava no horizonte lançando sombras confusas, como uma rede, sobre o acampamento. Ou talvez por causa dos ossos que andaram a escavar durante a semana.
Havia mais gente à volta do buraco — os escravos negros que carregavam as pedras e a terra; os eruditos formalmente vestidos e com os dedos manchados de tinta; e o enigmático cientista francês Archard Fortescue, chefe da expedição ao remoto território do Kentucky.
Este último — alto e magro, cabelo preto como carvão e olhos encovados — metia medo a Billy e, com a sua casaca e colete pretos, lembrava-lhe um coveiro. Ouvira uns boatos sussurrados acerca desse tipo escanzelado: dissecava cadáveres, fazia experiências com eles e percorria lugares longínquos em busca de objetos misteriosos. Até se dizia que participara na mumi icação de um colega falecido, um homem que doara o corpo e se arriscava a perder a alma imortal por causa de uma ação tão macabra.
Mas o cientista francês chegara com credenciais que o apoiavam.
Benjamin Franklin escolhera-o para se juntar a um novo grupo cientí ico, a Sociedade Americana para a Promoção de Conhecimento Útil.
Aparentemente, impressionara Franklin, mas desconheciam-se os pormenores. Além do mais, o francês era ouvido pelo novo governador da Virgínia, o homem que os enviara para aquele sítio estranho.
Era por isso que ali se encontravam — e há muito tempo.
Ao longo das últimas semanas, Billy observara que a folhagem que os rodeava passara lentamente de tons acobreados para carmesim-brilhantes. E, de manhã, começara a cair geada. De noite, o vento despia as árvores, deixando ramos esqueléticos a arranhar o céu. Ao acordar, Billy via-se obrigado a varrer e a tirar montes de folhas do local da escavação.
Era uma batalha constante, como se a loresta tentasse enterrar o que estava exposto ao sol.
De vassoura na mão, Billy olhava para o pai — de calças enlameadas e com as mangas da camisa arregaçadas até aos cotovelos — a limpar a última camada de terra de cima do tesouro enterrado.
— Agora com muito cuidado... — avisou o francês com o seu forte sotaque.
As abas da casaca afastaram-se quando se inclinou sobre o buraco, com uma mão na anca e a outra apoiada numa bengala de madeira esculpida.
Billy irritou-se com a condescendência implícita nos modos do francês.
O pai conhecia todos os bosques, das marés da Virgínia às distantes pistas do Kentucky, melhor do que ninguém. Antes da guerra já armadilhava animais selvagens e negociava com os índios dessas regiões. Até conhecera Daniel Boone.
No entanto, Billy apercebera-se de que as mãos do pai tremiam enquanto libertava o tesouro da terra fértil da loresta, com uma escova e uma colher de pedreiro.
— É isto! — exclamou o tio, excitado. — Encontrámo-lo.
Fortescue debruçou-se por cima dos homens ajoelhados.
— Naturellement. Tinha de estar enterrado aqui... Na cabeça da serpente.
Billy desconhecia o que procuravam — só o pai e o tio tinham lido as cartas seladas do governador para o francês —, mas sabia o que Fortescue queria dizer com a palavra «serpente».
Billy afastou os olhos do buraco para examinar o espaço. Tinham escavado um monte de terra que serpenteava e penetrava pela loresta adentro. Tinha dois metros de altura, o dobro de largura e estendia-se uns trezentos metros ao longo do bosque por cima de amenas colinas. Parecia que uma serpente gigantesca tinha morrido e ali fora enterrada.
Billy ouvira falar desses montes de terra. Aterros como este, assim como muitas colinas feitas pelo homem, pontilhavam vastas áreas remotas das Américas. O pai a irmava que os antepassados dos selvagens da região há muito desaparecidos as tinham construído e que eram cemitérios sagrados dos índios. Contava-se que os próprios índios não se lembravam dos antigos construtores e que eram apenas mitos e lendas. Abundavam histórias sobre civilizações perdidas, reinos antigos, fantasmas, maldições — e tesouros escondidos.
Billy aproximou-se quando o pai desenterrou o objeto embrulhado no que parecia ser uma grossa pele de animal com os espessos pelos pretos ainda intactos. Um odor almiscarado — intensa mistura de terra e animal — elevou-se, sobrepondo-se ao cheiro do guisado de carne de caça que estava ao lume.
— Pele de búfalo — declarou o pai, lançando um olhar a Fortescue.
O francês fez-lhe sinal com a cabeça para ele continuar.
Utilizando as mãos, o pai afastou delicadamente um pedaço de pele para revelar o que há muito se encontrava escondido.
Billy susteve a respiração.
Desde a descoberta destas terras que muitas sepulturas índias foram abertas e roubadas. Mas apenas encontraram os ossos do morto juntamente com pontas de lechas, escudos de couro e cacos de cerâmica índia.
Porque era este sítio em particular tão importante?
Após dois meses de meticulosas inspeções, medições e escavações, Billy continuava sem saber por que razão foram mandados para ali. A exemplo dos ladrões de outras sepulturas, tudo o que a equipa do pai tinha para mostrar pelo tempo passado a trabalhar era uns artefactos índios: arcos, alijavas, lanças, uma enorme panela, um par de mocassins revirados e um imponente cocar de penas. E também encontraram ossos. Milhares deles.
Caveiras, costelas, fémures, pélvis. Fortescue ouvira dizer que pelo menos uma centena de homens, mulheres e crianças foram ali enterrados.
Era um esforço desencorajador juntar e catalogar tudo. Tinham demorado até quase ao princípio do inverno para ir de uma ponta do monte à outra, esvaziando a sepultura índia camada a camada e peneirando terra e pedras — até chegar, como disse o francês, à cabeça da serpente.
O pai desdobrou a pele de búfalo. Os que ali estavam reunidos ofegavam ansiosamente e Fortescue respirou fundo.
Na parte interior da pele estava desenhada uma batalha. Figuras estilizadas de homens a cavalo, muitos deles com escudos, galopavam à rédea solta. Lanças espetavam-se salpicando tinta vermelha, lechas voavam. Billy jurava que conseguia ouvir os gritos de guerra dos guerreiros.
Ao ajoelhar-se, Fortescue falou estendendo uma mão para aquela cena.
— Já vi os índios executarem trabalhos destes. Curtem a pele de búfalo com uma mistura de miolos do animal e, depois, aplicam o pigmento com um osso oco. Mas, mon Dieu, nunca vi tal obra-prima. Vejam como cada cavalo é diferente do outro, como o vestuário de cada guerreiro é pintado com pormenor. — A mão do francês pairou sobre o que a pele protegera durante tanto tempo. — Nunca vi nada assim.
Um pouco antes, tinham extraído as presas do animal que sobressaíam do volume embrulhado na pele. O crânio do monstro foi exposto à luz do dia. Tinha o tamanho do sino de uma igreja e, como a pele, também fora usado como tela por algum artista pré-histórico.
Figuras e formas tinham sido esculpidas no osso e pintadas com cores tão brilhantes que a tinta parecia ainda fresca.
— O crânio é de mamute, não é? — perguntou o tio de Billy com ar admirado. — Como aqueles que foram encontrados em Big Salt Lick.
— Não, não é um mamute — atalhou Fortescue, apontando com a ponta da bengala. — Vejam a curva e o comprimento das defesas e as dimensões gigantescas dos molares. A anatomia e estrutura do crânio são diferentes das dos mamutes do Velho Mundo. Vestígios como estes... Únicos nas Américas... Foram reclassi icados como pertencendo a uma nova espécie, um animal chamado mastodonte.
— Pouco me importa como lhe chamam — comentou energicamente o pai. — Tudo o que quero saber é se o crânio é este ou não.
— Só há uma maneira de descobrir.
Fortescue passou o indicador pela crista ossuda do crânio e a ponta do dedo afundou-se num ori ício na parte de trás. Ao longo dos anos, Billy esfolara corças e coelhos su icientes para reparar que o ori ício estava demasiado limpo para ser natural. O francês utilizou esse ponto de apoio para puxar.
Brados de surpresa voltaram a elevar-se da assistência. Vários escravos recuaram horrorizados. Billy esbugalhou os olhos quando o crânio do monstro se separou em duas metades, abrindo-se como as portas de um armário. Com a ajuda do pai, Fortescue separou vagarosamente as duas partes — cada uma com cinco centímetros de espessura e com o tamanho de um prato de sopa.
Até mesmo à luz fraca do im do dia, o que se encontrava no interior do crânio cintilava.
— É ouro — murmurou, meio engasgado, o tio.
O precioso metal revestia todo o interior do crânio. Fortescue passou um dedo pela super ície dourada de uma das metades e só então Billy se apercebeu das bossas e sulcos lá gravados. Parecia um mapa grosseiro com árvores estilizadas, montanhas esculpidas e rios serpenteantes.
Também havia umas garatujas que poderiam ser uma forma de escrita.
Aproximou-se e ouviu Fortescue murmurar admirado e meio amedrontado.
— Hebraico.
Após o choque inicial, o pai recuperou a fala.
— Mas o crânio está vazio.
A atenção de Fortescue concentrou-se na cavidade aberta do crânio revestido de ouro. O espaço era su icientemente grande para servir de berço a um recém-nascido, mas, como o pai de Billy assinalara, estava vazio.
Fortescue examinava a cavidade sem deixar transparecer as emoções, mas Billy notou que, por detrás dos seus olhos, a mente do francês não parava de fazer cálculos e especulações.
O que esperavam encontrar?
Fortescue ergueu-se.
— Voltem a embrulhá-lo na pele de búfalo. Mantenham-no no esconderijo. Tem de ser transportado para a Virgínia dentro de uma hora.
Ninguém protestou. Se alguém soubesse que havia aqui ouro, o local seria certamente saqueado. Na hora seguinte, enquanto o Sol baixava no horizonte e se acendiam archotes, os homens trabalharam rapidamente para soltar o enorme crânio do solo enlameado. Foi preparado um vagão e aprontados cavalos. O pai e o tio de Billy e o francês passaram a maior parte do tempo a conferenciar.
Fingindo estar ocupado, Billy aproximou-se su icientemente para escutar a conversa, mas falavam demasiado baixo e só conseguiu perceber poucas palavras.
— Um lugar onde começar pode ser suficiente — disse Fortescue. — Se o inimigo descobrir antes de nós, a vossa jovem confederação estará perdida antes de ter começado.
O pai abanou a cabeça.
— É melhor que seja destruído agora. Faça uma fogueira e reduza o osso a cinzas. E derreta o ouro.
— É possível que assim seja, mas vamos deixar que seja o governador a tomar essa decisão.
O pai parecia disposto a discutir com o francês, mas viu Billy a rondar por perto. Virou-se, levantando um braço para afastar o ilho, e abriu a boca para falar.
Mas as palavras não chegaram a ser articuladas.
Antes que pudesse falar, um jato de sangue jorrou-lhe da garganta.
Caiu de joelhos agarrado ao pescoço. A ponta de uma seta saía por baixo do seu maxilar. O sangue borbulhava entre os lábios, ensanguentando-lhe os dedos.
Billy correu para o pai, retrocedendo naquele breve e sombrio instante da adolescência à infância.
— Papá!
Ensurdeceu com o choque. O mundo encolheu para incluir apenas o pai que o itava com uma expressão de dor e remorso. A seguir, o seu corpo contorceu-se e tombou de borco. Penas de lechas crivavam-lhe as costas.
Billy viu o tio ajoelhar-se de cabeça baixa. Uma lança atravessara-lhe o peito pelas costas e a ponta enterrada na terra mantinha o tronco direito.
Antes de Billy ter tempo para perceber o que estava a acontecer, foi atingido de lado — não por uma lecha ou uma lança, mas por um braço.
Caiu e rolou no chão. Mas o impacte também o fez voltar a ver o mundo com nitidez.
Gritos ecoavam-lhe nos ouvidos. Cavalos relinchavam. Sombras de homens a lutar dançavam à luz dos archotes. À sua volta, as setas zuniam no ar acompanhadas por uma gritaria selvagem.
Um ataque dos índios.
Billy debateu-se, mas estava entalado debaixo do francês, que lhe sibilou ao ouvido.
— Não te mexas, rapaz.
O francês saiu de cima dele e levantou-se agilmente quando um selvagem meio nu e com o rosto pintado como uma horrível máscara vermelha se lançou sobre ele de machado erguido. Fortescue defendeu-se com a única arma que tinha à mão — a bengala.
Ao voltá-la contra o atacante, a madeira da bengala deslizou do cabo como uma bainha, revelando a lâmina de uma espada oculta no interior. A bainha vazia acertou na testa do adversário, fazendo-o tropeçar.
Aproveitando-se da ocasião, Fortescue atacou e trespassou-lhe o peito.
O selvagem soltou um grito gutural. Fortescue deixou-o cair ao lado de Billy e puxou a espada.
— Segue-me, rapaz!
Billy obedeceu. Era tudo o que o seu estado de espírito permitia. Não tinha tempo para pensar. Tentou levantar-se, mas uma mão agarrou-lhe o braço. O selvagem coberto de sangue procurava detê-lo. O rapaz libertou-se.
O índio voltou a cair, mas a marca ensanguentada da sua mão manchava a manga de Billy. Não era sangue, apercebeu-se repentinamente o rapaz.
Era tinta.
Olhou para o selvagem moribundo. A palma da mão que o agarrara estava branca como um lírio, mas havia vestígios de tinta.
Uns dedos puxaram-no pelo colarinho e puseram-no de pé.
Billy virou-se para Fortescue que o continuava a segurar.
— Não são índios — balbuciou, esforçando-se por compreender.
— Eu sei — respondeu Fortescue sem se assustar.
O caos reinava. Os dois últimos archotes apagaram-se e só se ouvia gritos, preces e pedidos de clemência à sua volta.
Fortescue arrastou Billy pelo acampamento fora, tentando passar despercebido e detendo-se apenas para recuperar a pele de búfalo abandonada que entregou a Billy. Encontraram um cavalo solitário escondido no fundo do bosque, amarrado a uma árvore e já selado como se alguém tivesse previsto o ataque. Assustado pelos gritos e pelo cheiro a sangue, o animal batia com as patas no chão e agitava a cabeça.
— Monta — disse-lhe o francês. — Prepara-te para voar.
Mal en iara o pé no estribo, já o francês desaparecera no meio das sombras. Sem outra escolha, Billy subiu para a sela. O seu peso pareceu acalmar o cavalo. Agarrou-se ao pescoço suado da montada, mas o coração continuava a bater aceleradamente. Sentia o sangue a zumbir nos ouvidos.
Tinha vontade de os tapar para não ouvir os gritos, mas fez um esforço para ver se os selvagens se aproximavam.
Não, não eram selvagens, lembrou-se.
Um ramo estalou atrás dele. Voltou-se e avistou um vulto. Pela casaca e pelo brilho da espada, viu que era o francês. Quis saltar do cavalo e agarrar-se a ele para o obrigar a explicar a razão daquela carni icina e traição.
Fortescue aproximou-se a coxear com a haste partida de uma seta espetada na coxa, acima do joelho. Ao alcançá-lo, entregou-lhe dois grandes objetos.
— Toma e embrulha-os na pele de búfalo.
Billy pegou neles e viu com assombro que se tratava da parte superior do crânio do monstro, divida em duas metades: osso de um lado e ouro do outro. Fortescue devia tê-las roubado.
Mas porquê?
Sem tempo para perguntas, guardou as duas peças de osso revestidas de ouro na pele de búfalo que tinha no colo.
— Vai — disse Fortescue.
Billy pegou nas rédeas, mas hesitou.
— E o senhor?
Fortescue pousou-lhe uma mão no joelho, como se sentindo o seu terror quisesse tranquilizá-lo. As palavras foram ditas com irmeza e rapidez.
— Tu e o teu cavalo já carregam um fardo su iciente para terem de suportar o meu peso. Tens de galopar tão depressa quanto puderes. Leva-o para um lugar seguro.
— Para onde? — insistiu Billy, agarrando nas rédeas.
— Ao novo governador da Virgínia — respondeu o francês, afastando-se. — Entrega-o a Thomas Jefferson.
1
PRESENTE
18 DE MAIO, 13H32
MONTANHAS ROCHOSAS, UTAH
Parecia a entrada do inferno.
Os dois jovens encontravam-se num rebordo sobre um abismo profundo e sombrio. Levaram oito horas a subir da pequena povoação de Roosevelt até este sítio elevado nas Montanhas Rochosas.
— Tens a certeza de que é o local certo? — perguntou Trent Wilder.
Charlie Reed pegou no telemóvel, veri icou o GPS e examinou o mapa índio desenhado num pedaço de pele de corça protegido por plástico transparente.
— Julgo que sim. Segundo o mapa, deveria haver um pequeno rio no fundo deste barranco. A entrada para a gruta deve ser onde o riacho vira para norte.
Trent estremeceu de frio e sacudiu neve do cabelo. Embora uma tapeçaria de lores selvagens anunciasse a chegada da primavera na planície, o inverno ainda reinava em cima. O ar era gelado e a neve cobria os cumes das montanhas vizinhas. Para di icultar a situação, o céu mostrara-se ameaçador durante todo dia e ligeiras rajadas de vento começaram a soprar.
Trent examinou o estreito precipício. Parecia não ter fundo. Lá em baixo, um pinhal emergia de um mar de nevoeiro. Falésias a pique rodeavam todos os lados. Embora trouxesse cordas e material de alpinismo, esperava não ser obrigado a usá-los.
Mas não era isso que realmente o incomodava.
— Talvez não devêssemos descer — disse.
Charlie franziu o sobrolho.
— Depois de passarmos todo o dia a subir?
— E a maldição? O que o teu avô...
— O velhote estava a morrer e tinha a cabeça cheia de peiote — disse Charlie, fazendo um gesto desdenhoso com a mão e dando-lhe uma palmada no ombro. — Por isso, vê lá se não te borras nas calças. Só devemos encontrar pontas de setas e cacos de barro na caverna. E, se tivermos sorte, ossos. Vamos.
Trent não teve outro remédio senão seguir Charlie por um trilho abaixo com os olhos ixos nas duas penas bordadas — símbolo da Universidade do Utah — nas costas do blusão carmesim do amigo. Trent ainda vestia o blusão com o puma, emblema do liceu Roosevelt Union. Eram amigos desde a escola primária, mas tinham-se afastado ultimamente. Charlie acabara o primeiro ano da faculdade e Trent trabalhava a tempo inteiro na o icina de bate-chapas do pai. Neste verão, Charlie iria participar num curso com o grupo de Direito da reserva de Uinta.
O seu amigo era uma estrela em ascensão e, em breve, Trent necessitaria de um telescópio para seguir o seu progresso desde a pequenina povoação de Roosevelt. Mas qual era a novidade? Charlie sempre o eclipsara. E nem o facto de ele ser meio Ute, com a pele bronzeada e o cabelo preto comprido do seu povo, o ajudara. O cabelo ruivo cortado à escovinha de Trent e o enxame de sardas que lhe cobria o nariz e as faces tinham-no relegado para um papel secundário ao lado de Charlie nas festas da escola.
Apesar de não terem falado do assunto, era como se ambos soubessem que, com a aproximação da idade adulta, a amizade estava prestes a terminar. E como um ritual de passagem, os dois concordaram em participar nesta última aventura — procurar uma gruta sagrada das tribos Ute.
Segundo Charlie, apenas um punhado de anciãos tribais conhecia estas sepulturas nos montes Uinta. E era proibido falar delas. Charlie estava a par da sua existência porque o avô gostava muito de bourbon e, na sua opinião, o velhote nem sequer se lembrava de lhe ter mostrado o mapa de pele de corça escondido num chifre oco de búfalo.
Trent ouvira-o contar essa história pela primeira vez numa tenda, à luz de uma lanterna, quando andavam nos primeiros anos do liceu.
— O meu avô diz que essa gruta ainda é assombrada pelo Grande Espírito que guarda o tesouro do nosso povo.
— Que género de tesouro? — perguntara desconfiadamente Trent.
Nessa altura, interessava-se mais pela Playboy que tirava às escondidas do armário do pai. Como tesouro, era suficiente.
Charlie encolhera os ombros.
— Não sei. Mas deve estar amaldiçoado.
— O que queres dizer com isso?
O amigo aproximara a lanterna do rosto e fizera uma careta diabólica.
— O meu avô diz que quem entra na gruta do Grande Espírito nunca mais sai.
— Porquê?
— Porque o mundo acaba.
O velho cão de caça de Trent soltara um uivo ensurdecedor, fazendo-os dar um pulo, assustados. Depois, riram-se e conversaram durante toda a noite. Charlie acabou por considerar a história do avô uma superstição absurda e, armando em índio moderno, rejeitou-a como se fosse uma treta.
Mas, mesmo assim, obrigara Trent a jurar segredo e recusara levá-lo ao local marcado no mapa — até agora.
— Está a ficar mais quente cá em baixo — disse Charlie.
Trent abriu a mão. O amigo tinha razão. Caía mais neve e os locos eram maiores, mas, à medida que desciam, o ar aquecia e cheirava ligeiramente a ovos podres. A certa altura, a neve transformou-se em chuva miúda.
Limpou as mãos às calças e apercebeu-se de que, o que ao princípio julgara ser nevoeiro, era na realidade vapor.
Através das árvores avistou um pequeno riacho a borbulhar ao longo de um canal rochoso no fundo do barranco.
— Cheira a enxofre — disse Charlie, a fungar.
Ao chegar ao riacho, enfiou um dedo na água.
— Está quente. Deve vir de uma fonte térmica aqui perto.
Trent não icou impressionado. As montanhas à volta estavam cheias dessas fontes.
Charlie ergueu-se.
— Deve ser este o lugar.
— Porque dizes isso?
— Águas quentes como estas são sagradas para o meu povo e, portanto, faz sentido que tenham escolhido este sítio como cemitério — explicou Charlie. — Já estamos perto — acrescentou, saltando de pedra em pedra.
Subiram juntos o riacho e, a cada passo, o ar aquecia. O cheiro a enxofre irritava as narinas de Trent. Não admirava que ninguém tivesse descoberto este lugar.
Sentindo os olhos a arder, Trent queria desistir, mas Charlie parou de repente numa curva apertada do riacho. Rodou num círculo perfeito segurando o telemóvel como uma varinha de vedor e veri icou o mapa que roubara nessa manhã do quarto do avô.
— Chegámos — disse.
Trent olhou à volta, mas não viu nenhuma gruta. Apenas árvores e mais árvores. A neve começara a acumular nos locais mais altos, mas continuava a cair cá em baixo como chuva pegajosa.
— A entrada tem de ser algures por aqui — resmungou Charlie.
— Ou pode tratar-se apenas de uma velha lenda.
Charlie passou para a outra margem e começou a dar pontapés nuns fetos.
— Devíamos pelo menos procurar.
Por seu lado, Trent, afastando-se da água, fez umas vagas tentativas.
— Não vejo nada! — gritou ao chegar a uma parede de granito. — Porque não...
Ao virar-se, pelo canto do olho, reparou numa abertura com pouco mais de um metro de largura. Parecia uma sombra projetada na parede da falésia, mas, nesse momento, uma brisa atravessou o vale agitando a vegetação e as sombras.
Mas aquela sombra não se mexeu.
Aproximou-se. Protegida sob uma protuberância de pedra, a entrada da gruta abria-se até cerca de um metro e vinte do solo como uma boca num perpétuo esgar mal-humorado.
O chapinhar de água e um palavrão anunciaram a chegada do amigo.
Trent levantou o braço e apontou com um dedo.
— Está realmente ali — murmurou Charlie, parecendo pela primeira vez hesitante.
Ficaram durante um longo momento a itar a entrada da gruta, lembrando-se das histórias que se contavam. Estavam ambos nervosos de mais para avançar, mas igualmente cheios de orgulho viril para desistir.
— Vamos entrar? — perguntou finalmente Trent.
As suas palavras puseram fim à hesitação.
Charlie endireitou-se.
— Claro que vamos!
Aproximaram-se da falésia antes que um deles perdesse a coragem e subiram para o rebordo da gruta. Charlie apontou a lanterna para uma espécie de túnel. Uma passagem íngreme descia pelas entranhas da montanha.
Charlie enfiou a cabeça na abertura.
— Vamos descobrir esse tesouro!
Encorajado pela fanfarronice do amigo, Trent seguiu-o.
A passagem tornou-se rapidamente mais estreita, obrigando-os a avançar atrás um do outro. O ar ainda era mais quente no interior, mas, pelo menos, era seco e não cheirava muito mal.
Esgueirando-se por um espaço particularmente apertado, Trent sentiu o calor do granito através do blusão.
— Isto parece uma sauna — comentou depois de passar.
O rosto de Charlie brilhava de suor.
— Se calhar, era para isso que a minha tribo utilizava esta gruta.
Aposto que a fonte das águas termais fica mesmo por baixo dos nossos pés.
Trent não apreciou muito a ideia, mas já não podiam voltar para trás.
Mais uns passos e o túnel foi dar a uma câmara do tamanho de um campo de basquete com teto baixo. Em frente, uma cova fora cavada na rocha e a pedra ainda estava enegrecida por labaredas antigas.
Charlie estendeu a mão para agarrar o braço de Trent, sem olhar para ele. Os dedos incaram-se como garras de aço, mas ele tremia. E Trent percebeu porquê.
A câmara não estava vazia.
Havia corpos de homens e mulheres encostados às paredes e espalhados no chão, uns direitos e de pernas cruzadas, outros caídos de lado. Pele ressequida à volta dos ossos, órbitas vazias, lábios arreganhados e dentes amarelecidos. Estavam todos de tronco nu e os seios de inhados das mulheres pendiam do peito. Alguns corpos estavam enfeitados com cocares de penas ou colares de tendões com pedras.
— O meu povo — murmurou Charlie, com a voz embargada pela emoção, aproximando-se respeitosamente de uma das múmias.
— Tens a certeza?
À luz brilhante da lanterna, a pele deles parecia pálida e o cabelo demasiado claro. Mas Trent não era nenhum antropólogo. Talvez o calor do minério tivesse embranquecido os corpos.
Charlie examinou um homem com um colar de penas pretas à volta do pescoço. Aproximou a lanterna.
— Este parece vermelho.
Não se referia à cor da pele. O cabelo à volta do crânio era ruivo.
Trent reparou noutro pormenor.
— Olha para o pescoço dele.
A cabeça do homem caíra contra a parede de granito e via-se tecido ressequido e osso por baixo do maxilar. O corte era a direito e a razão fácil de perceber. Os dedos mirrados seguravam uma lâmina de metal polido que refletia a luz.
O foco da lanterna varreu a sala. Lâminas iguais juncavam o chão de pedra ou ainda se encontravam entre os dedos de outras múmias.
— Dá a impressão de que se suicidaram — disse Trent, admirado.
— Mas porquê?
Trent apontou para um túnel escuro ao fundo da câmara onde se encontravam.
— Talvez quisessem esconder qualquer coisa para que ninguém soubesse.
— Um arrepio percorreu o corpo de Trent, dos pés à cabeça, eriçando-lhe os pelos dos braços. Nenhum deles se moveu. Receavam permanecer naquele local macabro. Já nem se sentiam motivados para encontrar o tesouro.
Charlie foi o primeiro a recompor-se.
— Vamos embora.
Trent não discutiu. Já tinha visto horrores de sobra.
Charlie virou-se e dirigiu-se para a saída, levando a lanterna.
Trent seguiu-o, mas olhava constantemente para trás com medo de que o Grande Espírito ordenasse a um daqueles cadáveres que fosse atrás deles de punhal em riste. Estava tão aflito que, a dado momento, tropeçou e caiu, escorregando uns metros pela íngreme ladeira.
Ansioso por fugir, Charlie não esperou pelo amigo e, quando Trent voltou a pôr-se em pé, já ele saíra da gruta.
Trent começou a gritar, protestando por ter sido abandonado, mas uma voz severa e zangada respondeu-lhe do lado de fora. Era uma voz desconhecida. Trent calou-se. Houve uma troca acalorada de palavras, mas não reconheceu quem falava.
Ouviu um tiro.
Trent deu um pulo, assustado, e recuou uns passos na escuridão.
À detonação seguiu-se um pesado silêncio.
— Charlie...
Tremendo de medo, Trent voltou a descer o túnel, afastando-se da saída. Os olhos tinham-se ajustado à escuridão e, conseguiu voltar à câmara onde ainda há pouco estivera. Encontrava-se encurralado entre as trevas e quem estava à entrada da gruta.
O silêncio aumentava e o tempo diminuía.
Ouviu pés a arrastar e uma respiração ofegante.
Oh, não.
Sentiu um nó na garganta. Alguém entrava na gruta. Com o coração a bater, não teve outro remédio senão refugiar-se no meio da scuridão — mas precisava de uma arma. Apoderou-se da lâmina de um dos cadáveres, partindo-lhe os dedos como ramos secos.
Armado, abriu caminho por entre os corpos de braços estendidos diante dele, roçando sem ver por penas quebradiças, peles curtidas e pelo áspero. Imaginava mãos ossudas a tentar agarrá-lo, mas recusou parar.
Tinha de encontrar um lugar onde se esconder.
Havia apenas um refúgio possível.
O túnel ao fundo da câmara...
Mas a ideia apavorava-o.
A dada altura, o pé icou suspenso no ar. Quase soltou um grito, mas percebeu que era a cova da fogueira cavada no chão. Saltou e passou-lhe por cima. Tentou orientar-se na escuridão pela posição do poço, mas não foi necessário.
A luz aumentava de intensidade por detrás dele, banhando a câmara.
Conseguia ver e precipitou-se para o túnel. Ao chegar, ouviu um baque.
Espreitou por cima do ombro.
Um corpo rolou da passagem e icou estendido de borco no chão. A luz revelou as penas bordadas nas costas do blusão carmesim.
Charlie.
Trent levou uma mão à boca e fugiu para a escuridão protetora do túnel. O medo aumentava a cada passo.
Saberão que também estou aqui?
O túnel não apresentava qualquer obstáculo, mas era demasiado curto.
Após cinco passos desembocava noutra câmara.
Trent esgueirou-se para o outro lado e encostou-se à parede.
Convencido de que o ouviriam, tentou controlar a respiração ofegante.
Arriscou-se a olhar para trás.
Alguém entrara na sala das múmias com uma lanterna. Viu um vulto baixar-se e arrastar o corpo do amigo para a beira da cova. Era apenas uma pessoa. O assassino ajoelhou-se, pousou a lanterna e puxou Charlie contra o peito. Ergueu o rosto para o teto e balançou-se, entoando um canto em Ute.
Ao reconhecer aquela face curtida e enrugada, Trent reteve um suspiro.
O avô de Charlie encostou o cano de aço polido de uma pistola à própria cabeça. Trent afastou os olhos, mas foi demasiado lento. A detonação ecoou ensurdecedoramente no espaço reduzido e metade do crânio do velho explodiu numa chuva de miolos, sangue e ossos.
A pistola caiu com um som metálico no chão e o velho tombou pesadamente sobre o corpo do neto, como se, na morte, o desejasse proteger. Um braço inerte bateu na lanterna, apontando-a para onde Trent se encontrava escondido.
Horrorizado, deixou-se cair de joelhos, lembrando-se do aviso profético do avô de Charlie: Quem entra na gruta do Grande Espírito nunca mais sai.
O ancião da tribo tinha certamente con irmado a profecia. Devia ter-se apercebido do roubo do mapa e seguira-os.
Trent cobriu o rosto com as mãos, respirando com di iculdade por entre os dedos e recusando acreditar no que acabara de testemunhar. Pôs-se à escuta para tentar detetar a presença de mais alguém. Mas só o silêncio lhe respondeu. Aguardou mais dez minutos.
Finalmente, certi icando-se de que estava sozinho, levantou-se. Olhou por cima do ombro. A luz da lanterna penetrava na pequena gruta, revelando o que há muito estivera escondido.
Caixas de pedra, do tamanho de lancheiras, estavam empilhadas no fundo da câmara. Pareciam ter sido oleadas e embrulhadas em cascas de árvores. Mas o que chamou a atenção de Trent erguia-se no meio da sala.
Um crânio maciço sobre um plinto de granito.
Um totem, pensou.
Trent itou as órbitas vazias, reparando no alto crânio abobadado e nas presas invulgarmente longas. Cada um tinha cerca de trinta centímetros de comprimento. Nas aulas de Ciências Naturais aprendera a reconhecer o crânio do tigre-dentes-de-sabre.
No entanto, o estranho estado daquele crânio não podia deixar de o espantar. Tinha de falar com alguém acerca do homicídio, do suicídio e também deste tesouro.
Um tesouro que não fazia sentido.
Atravessou rapidamente o túnel, passou pela câmara das múmias e correu em direção à luz do dia. Parou à saída da gruta, lembrando-se do aviso do avô de Charlie sobre o que aconteceria se alguém entrasse e se fosse embora.
O mundo acabará.
Com lágrimas nos olhos, Trent abanou a cabeça. As superstições mataram o seu melhor amigo. Não ia deixar que lhe acontecesse o mesmo.
Com um salto, fugiu de volta ao mundo.
2
30 DE MAIO, 10H38
REGIÃO MONTANHOSA DE UINTAUTAH
Não há nada como um homicídio para atrair uma multidão.
Margaret Grantham atravessou o acampamento provisório instalado numa várzea com vista para a ravina. O ar rarefeito di icultava-lhe um pouco a respiração e a artrite nos nós dos dedos doía-lhe por causa do frio.
Uma rajada de vento quase lhe arrancou o chapéu da cabeça, mas ela segurou-o enquanto afastava umas madeixas grisalhas dos olhos.
À sua volta, as tendas estendiam-se ao longo de vários hectares e estavam organizadas em secções, desde forças de segurança à imprensa local. Uma unidade da Guarda Nacional encontrava-se ali para manter a ordem, mas a sua presença aumentava ainda mais a tensão.
Havia duas semanas que grupos de nativos americanos começaram a chegar, vindos de todos os pontos do país, a cavalo ou à boleia, atraídos pela controvérsia. Deslocavam-se sob os auspícios de várias organizações cuja inalidade comum era proteger os direitos dos nativos americanos e preservar a herança tribal. Várias tendas eram tipis, construídos pelos grupos mais tradicionais.
Ao ver um helicóptero da imprensa pousar num campo aberto à beira do acampamento, Margaret pôs-se a resmungar e a abanar a cabeça. Tanta atenção só piorava as coisas.
Professora de Antropologia na Universidade Brigham Young, fora chamada pelo Departamento dos Assuntos Índios do Utah para servir como mediadora na disputa legal da descoberta feita nesta área. Como passara trinta anos a supervisionar o programa de estudos sobre nativos americanos, as tribos locais sabiam que ela respeitava a sua causa. Além do mais, trabalhava frequentemente com o historiador e naturalista Henry Kanosh.
E hoje não era exceção.
Hank aguardava a chegada de Margaret no caminho que conduzia às grutas. E, como ela, calçava botas e vestia calças de ganga e uma camisa caqui. Tinha o cabelo grisalho atado em rabo de cavalo. Ela era uma das raras pessoas que sabiam o seu nome índio, Kaiv’u wuhnuh, que signi icava montanha erguida. E, naquele momento, de pé, fazia jus ao nome. Com cerca de sessenta anos e um metro e noventa centímetros de altura, possuía ainda um ísico bem musculado. A dureza da sua pele curtida era atenuada por pintas douradas que dançavam nos seus olhos cor de caramelo.
O seu cão — um pastor-australiano com um olho azul e outro castanho — estava sentado ao seu lado. Chamava-se Kawtch, palavra Ute que queria dizer «não». Maggie sorriu ao lembrar-se da explicação de Hank: Como lha gritava tantas vezes quando era cachorro, o nome ficou.
— Como correm as coisas lá em cima? — perguntou Hank quando ela o cumprimentou com um rápido abraço.
— Não muito bem — respondeu ela. — E é provável que piorem.
— Porquê?
— Falei com o xerife do condado. O relatório toxicológico sobre o avô já chegou.
Hank mordeu com mais força o charuto metido entre os dentes. Nunca acendia os charutos, mas gostava de os mastigar. Era contra os princípios mórmones fumar, mas, por vezes, tinham de ser feitas concessões. Embora fosse um nativo americano, fora criado como mórmon. Pertencia a uma das tribos Shoshone do Noroeste que fora convertida no século XIX depois do massacre de Bear River.
— E qual foi o resultado? — perguntou, sem tirar o charuto.
— Deu positivo. O velhote ingerira peiote.
Hank abanou a cabeça.
— Boa! Os repórteres vão icar todos contentes. Índio maluco drogado mata o neto e suicida-se no decorrer de frenético ritual religioso.
— Por agora, estão a ocultar os pormenores, mas vai acabar por se saber — suspirou Margaret, resignada. — A reação ao primeiro relatório foi bastante má.
A polícia do condado fora a primeira a aparecer no local do crime para investigar o assassínio de um jovem Ute e o suicídio do avô. Com uma testemunha — um amigo do rapaz assassinado — o caso fora rapidamente encerrado e os corpos enviados de helicóptero para a morgue em Salt Lake City. Segundo o relatório inicial do médico legista, a tragédia devia-se a demência secundária motivada por envenenamento alcoólico crónico.
Começaram a ser publicados artigos de opinião nos jornais locais e nacionais sobre o abuso de álcool entre os nativos americanos, frequentemente acompanhados por caricaturas de índios bêbados.
O que não ajudava a situação. Margaret sabia que estes problemas tinham de ser abordados com delicadeza, sobretudo aqui, no Utah, onde a história das relações entre índios e brancos era sangrenta e tensa.
Mas era apenas a ponta do atoleiro político. Havia ainda a questão dos outros corpos encontrados na gruta, das centenas de múmias.
Hank fez um gesto na direção da gruta. O cão tomou a dianteira, trotando com a cauda felpuda empinada.
— Os investigadores finalizaram o relatório esta manhã. Leste-o?
Ela abanou a cabeça, seguindo-o ao longo do carreiro.
— Na opinião deles, a gruta encontra-se em terreno federal, mas toda a área subterrânea está por baixo da reserva.
— O que baralha a linha de jurisdição.
Ele concordou com um aceno de cabeça.
— Mas, no im, não fará grande diferença. Li o boletim informativo dos Assuntos Índios e, em 1861, toda esta terra pertencia à reserva índia de Uinta e Ouray. Ao longo do século passado, contudo, as fronteiras alteraram-se.
— O que signi ica que os Assuntos Índios ainda têm bons argumentos para provar em tribunal que o conteúdo das grutas lhes pertence.
— Depende da idade dos corpos enterrados e de os restos mortais serem de nativos americanos.
Maggie acenou a cabeça. A razão principal por ter sido convocada era determinar a origem racial dos cadáveres. No dia anterior, conduzira um exame ísico super icial baseando-se no tom da pele, na cor do cabelo e na estrutura óssea do rosto; os restos mortais pareciam pertencer a indivíduos caucasianos, mas os artefactos e os trajes eram distintamente índios. Quaisquer outros exames — análises de ADN e testes químicos — dependiam do parecer de uma batalha legal. Até mesmo mover os corpos era proibido por causa de uma injunção imposta pela NAGPRA, organização que supervisionava a proteção e repatriação das sepulturas dos nativos americanos.
— É a repetição do que aconteceu com o homem de Kennewick — disse Maggie.
Hank ergueu interrogativamente uma sobrancelha.
— Em 1996, foi descoberto um velho esqueleto na margem de um rio em Kennewick, no estado de Washington. O antropólogo médico-legista que primeiro o examinou declarou que era caucasiano.
Hank olhou para ela e encolheu os ombros.
— E então?
— O corpo foi datado por radiocarbono como tendo mais de nove mil anos. Um dos corpos mais velhos descobertos nas Américas. As feições caucasianas despertaram imenso interesse. A teoria corrente é que os primeiros homens migraram para a América do Norte através de uma passagem entre a Rússia e o Alasca. A descoberta de um esqueleto antigo com feições caucasianas contradiz essa hipótese. A história da América teria de ser reescrita.
— O que aconteceu?
— Cinco tribos índias locais reclamaram o corpo. E exigiram judicialmente que os ossos voltassem a ser enterrados sem serem examinados. Passou-se uma década e o caso ainda está em tribunal. Têm ocorrido outros casos de restos mortais caucasianos encontrados na América do Norte, que foram disputados com a mesma ferocidade. — Pôs-se a contar pelos dedos. — A múmia da Gruta do Espírito no Nevada, o homem de Oregon, a mulher de Arlington Springs... A maioria destes corpos nunca foi adequadamente examinada e outros ficaram para sempre perdidos em sepulturas índias anónimas.
— Esperemos que não dê a mesma confusão aqui — comentou Hank.
Entretanto, chegaram ao fundo do vale e Kawtch esperava por eles de língua de fora e cauda ainda levantada.
Maggie fez uma careta ao sentir o cheiro a ovos podres que se elevava da fonte de enxofre. O seu rosto já estava coberto de suor. Abanou-se com a mão.
Hank reparou no seu desconforto e avançou apressadamente para a entrada da gruta. Dois soldados da Guarda Nacional, armados com espingardas e pistolas, estavam de guarda. Com toda a publicidade feita à volta do caso, especialmente de um tesouro escondido, os ladrões de sepulturas constituíam uma grande preocupação.
Um dos guardas, um jovem de rosto rosado e barba arruivada, avançou na direção dos dois cientistas. O soldado Stinson encontrava-se ali postado há uma semana e reconhecera-os agradecido.
— O major Ryan já está lá dentro — informou-os. — Está à vossa espera para levar os objetos.
— Ótimo — disse Hank. — Há tensão suficiente por estas bandas.
— E câmaras — acrescentou Maggie. — Não parecerá muito bem ver um militar americano fardado sair furtivamente com um artefacto sagrado dos nativos americanos. Isto tem de ser tratado com diplomacia.
— Foi o que o major Ryan pensou.
O soldado afastou-se e, depois, acrescentou em voz baixa: — Mas está a icar impaciente. Não está a gostar do que se está a passar.
Que grande novidade...
O major Ryan já provara ser um espinho cravado difícil de tirar.
Hank ajudou Maggie a subir para a entrada da gruta. As suas mãos enormes seguraram-lhe as ancas, provocando-lhe uma onda de calor acompanhada de recordações agridoces. Aquelas mãos tinham outrora percorrido o seu corpo nu, um breve encontro amoroso, nascido de longas noites passadas juntos e de uma profunda amizade. Mas, no im, a relação não lhes agradou. Eram melhores amigos do que amantes.
Mas as faces de Maggie coraram quando ele se juntou a ela. Pareceu não notar a sua reação, o que simultaneamente lhe agradou mas também a feriu.
Hank ordenou a Kawtch para esperar no exterior e o cão, desapontado, baixou a cabeça.
Ao entrar no túnel, ouviram o eco de um grito abafado. Entreolharam-se. Hank volveu os olhos. Como de costume, o major Ryan não estava muito contente. Aquela descoberta antropológica não lhe interessava minimamente e não gostava de ter sido nomeado para che iar a missão.
Maggie suspeitava, além do mais, que havia uma tensão racial pois ouvira um comentário dele acerca dos nativos americanos ali reunidos: Devíamos tê-los afogado todos no Pacífico quando tivemos oportunidade.
No entanto, ela tinha de trabalhar com ele — pelo menos até o tesouro estar a salvo. Era um dos motivos por que ela e Hank foram autorizados a enviar o totem para o museu da Universidade Brigham Young. Era demasiado valioso para ser deixado sem proteção. Logo que estivesse instalado no museu, a segurança poderia relaxar e parte do ressentimento na hierarquia superior acalmaria.
Maggie chegou à câmara principal e deteve-se no limiar, mais uma vez surpreendida pelo macabro espetáculo de todas aquelas múmias. O espaço estava profusamente iluminado. Cadeias de agrimensor e itas amarelas de cenas de crime dividiam-no em secções. Um percurso protegido por um cordão conduzia ao túnel do outro lado.
Ela dirigiu-se para lá, mas a sua atenção foi de novo atraída pelos corpos caídos à sua volta. O calor geotérmico cozera os luidos dos restos mortais, secara os tecidos e concentrara os sais no corpos, agindo como um agente natural de salga.
Perguntou-se pela milésima vez porque se tinham todos suicidado.
Lembrava-lhe o cerco de Masada, em que os rebeldes judeus preferiram suicidar-se a render-se às legiões romanas.
Teria algo desse género acontecido aqui?
Não tinha resposta. Era mais um mistério entre tantos outros.
Viu sombras moverem-se pelo canto do olho. Parou e olhou para um monte de corpos a um canto. Uma mão pousou no seu ombro, pregando-lhe um susto.
Os dedos pressionaram tranquilizadoramente a sua pele.
— O que é? — indagou Hank.
— Julguei ver...
Um berro vindo do túnel interrompeu-a.
— Chegaram, finalmente!
Uma luz a oscilar saiu do túnel e o major Ryan surgiu com uma lanterna na mão. Estava fardado e tinha um capacete na cabeça que mantinha os seus olhos na sombra, mas os seus lábios comprimidos indicavam irritação.
Fez sinal com a lanterna para que o seguissem e voltou a entrar no túnel.
— Despachemo-nos. Tenho o caixote de transporte pronto como ordenaram. Dois dos meus homens ajudá-los-ão.
Hank resmungou baixinho enquanto o seguia.
— Muito bom dia também para si, major.
Maggie olhou novamente por cima do ombro. Não viu nada a mexer e abanou a cabeça.
Foi apenas um efeito de luz. Até as sombras me sobressaltam.
— Temos um problema — prosseguiu Ryan. — Um contratempo.
— Que género de contratempo? — perguntou Hank.
— Já vão ver.
Preocupada, Maggie apressou-se atrás deles.
O que teria acontecido?
11h40
Escondida na sombra, ela esperou que desaparecessem no túnel. Soltou um lento suspiro de alívio, tentando dominar o medo. Quase fora apanhada ao esconder o que trazia consigo atrás de uns corpos.
As dúvidas atormentavam-na.
O que estou a fazer?
Aguardou, agachada na escuridão. O seu nome navajo era Kai, o que signi icava «salgueiro». Com o coração aos pulos, procurava ganhar forças, inspirando-se na paciência da árvore e na sua lendária lexibilidade.
Esticou lentamente a perna esquerda, mas as costas continuavam a doer-lhe.
Não demoraria muito, prometeu a si mesma. Estava ali escondida desde o nascer do dia. Dois dos seus amigos ingiram estar bêbados e provocaram uma briga para afastar os guardas da entrada da gruta. E ela aproveitara-se da distração para se esgueirar pelo túnel adentro.
Fora um desa io colocar-se em posição. Mas com dezoito anos, era ágil e sabia esgueirar-se através das sombras, técnica que aprendera em pequenina com o pai quando caçavam. Ele ensinara-lhe os costumes antigos antes de ser morto a tiro quando conduzia um táxi em Boston.
A recordação provocou-lhe uma dor de raiva.
Um ano depois da sua morte, fora recrutada pela WAHYA, um grupo militante que defendia os direitos dos nativos americanos, cujo nome provinha da palavra Cherokee para «lobo». Eram espertos e violentos e, como ela, muito jovens, nenhum tinha mais de trinta anos, todos orgulhosamente intolerantes do servilismo que reinava nas organizações estabelecidas.
Escondida na penumbra, deixou a raiva percorrê-la e enxugar-lhe as lágrimas. Lembrou-se das fogosas palavras de John Hawkes, o fundador e líder da WAHYA: Porque temos de esperar que o governo norte-americano nos devolva os nossos direitos? Porquê ajoelharmo-nos e aceitarmos migalhas?
A WAHYA já dera que falar através de pequenas ações. Queimara uma bandeira americana nos degraus do tribunal de Montana após a condenação de um índio Crow por comer cogumelos alucinogénios durante uma cerimónia religiosa. No mês passado, pintalgaram o escritório de um congressista do Colorado que queria impor restrições nos casinos índios.
Mas, na opinião de John Hawkes, o que estava a acontecer dava-lhes a possibilidade de se tornarem mais conhecidos a nível nacional. A WAHYA sairia do anonimato e ocupar-se-ia do assunto, tomando uma posição irme contra a intrusão governamental em questões tribais.
Um grito fê-la concentrar mais atentamente o olhar no túnel.
Sentiu o corpo crispar-se. Antes da chegada do casal ouvira um estrondo proveniente da câmara do fundo, seguido por um colérico chorrilho de pragas. Algo correra obviamente mal. Rogou para que não viesse a constituir um obstáculo à sua missão.
Sobretudo depois de ter esperado tanto.
Kai mudou de posição, aguardando pacientemente pelo sinal. Estendeu a mão e pousou-a na mochila carregada de explosivos C-4 com detonadores sem fios.
Não devia demorar muito mais tempo.
11H46
— O que izeram? — perguntou Hank, com a voz a trovejar de indignação na pequena câmara.
Maggie pousou-lhe uma mão no ombro para o acalmar. Apercebeu-se imediatamente do problema ao entrar.
Tinham empilhado as caixas de pedra, todas com a forma de um cubo com trinta centímetros de lado, de encontro à parede. Examinara uma delas no dia anterior. Lembrara-lhe um pequeno ossário. Mas até autorização da NAGPRA nenhuma podia ser aberta. Estavam todas untadas de óleo e embrulhadas em casca seca de zimbro.
Mas as circunstâncias mudaram.
Olhou para meia dúzia de caixas espalhadas no chão. A que estava mais perto quebrara-se ao meio, mas a casca de zimbro mantinha as duas metades juntas.
Hank respirou fundo e repreendeu o major.
— Há ordem expressa para não se tocar em nada. Sabe o sarilho que isto vai dar? É um barril de pólvora...
— Eu sei — retorquiu o major. — Por descuido, um destes imbecis bateu com o contentor de transporte na pilha e caiu.
Maggie lançou um olhar aos guardas. Ambos ouviam a repreensão de olhos ixos na biqueira das botas. Um contentor verde de plástico, aberto, com o interior revestido de espuma encontrava-se entre eles pronto a transportar o precioso tesouro da câmara.
— O que fazemos agora? — perguntou amargamente Ryan.
Maggie não respondeu. As pernas conduziram-na à caixa de pedra partida no chão. Ajoelhou-se ao lado dela sem quase se aperceber.
Hank veio ter com ela.
— O melhor é não lhe tocar. Registamos e documentamos os estragos...
— Ou damos uma espreitadela para dentro — disse ela, pegando numa metade rachada. — O que está feito, está feito.
Hank rosnou um aviso.
— Maggie...
Ela pegou o bocado de pedra solto e afastou-o com cuidado. A luz brilhou pela primeira vez há séculos no interior da caixa.
Susteve a respiração e tirou outro caco, pondo a descoberto o que estava escondido. Parecia conter placas de metal oxidadas pelo tempo.
Aproximou o rosto e inclinou a cabeça.
Estranho...
— Isso aí é alguma escrita? — perguntou Hank, colocando-se ao lado dela, cheio de curiosidade.
— Podem ser apenas vestígios de corrosão.
Maggie estendeu a mão e esfregou ligeiramente o polegar num canto da super ície. A mancha escura desapareceu e surgiu um familiar brilho amarelado. Ela endireitou-se.
— Ouro — sussurrou Hank, espantado.
Ela olhou para ele e, depois, para a parede onde se encontravam as caixas de pedra. Imaginou placas semelhantes guardadas no seu interior. O
coração começou a bater desenfreadamente. Que quantidade de ouro lá estaria?
Maggie levantou-se, tentando calcular o valor do tesouro.
— Major Ryan — chamou. — Julgo que o senhor e os seus homens irão passar muito mais tempo aqui.
O militar soltou um gemido.
— Quer dizer que há ainda mais ouro.
Maggie virou-se para o pilar de granito no meio da sala. No alto estava pousado o crânio maciço de um tigre-dentes-de-sabre. Por si só, este artefacto pré-histórico era uma valiosíssima descoberta, um totem espiritual da tribo massacrada — tão importante que todo o crânio do gigantesco felino fora coberto por uma camada de ouro.
Muito lentamente, ela deu uns passos à volta do precioso ídolo. Sentia um pouco de medo. Havia algo de errado em tudo isto. Não o conseguia identificar, mas sabia que era verdade.
Infelizmente, não tinha tempo para refletir sobre o mistério.
— Levem pelo menos este crânio daqui — pediu Ryan. — Podemos encarregar-nos destas caixas mais tarde. Precisam de ajuda dos meus homens?
Hank levantou-se impetuosamente.
— Nós tratamos disso.
Maggie acenou a cabeça e os dois ladearam o totem. Ela estendeu as mãos para as longas presas douradas.
— Eu seguro-o pela frente — disse. — E tu agarras atrás do crânio.
Quando contar até três, levantamo-lo e colocamo-lo dentro do contentor.
— OK.
Maggie agarrou nas presas onde se prendiam ao maxilar, mas os seus dedos mal conseguiam rodeá-las.
— Um, dois... três.
Conseguiram levantá-lo. Mas, coberto de ouro, era muito mais pesado do que ela imaginara. Percebeu que havia qualquer coisa dentro, a escorregar como areia solta. Sentiu curiosidade, mas teria de esperar.
Aproximaram-se em típicos passos de valsa do contentor aberto e baixaram o crânio que se afundou logo pesadamente no revestimento de espuma.
Endireitaram-se, olhando um para o outro. Hank esfregou as mãos nas calças de ganga sem a largar de vista. Quer dizer que ele também se apercebera. Não apenas da areia a escorregar, mas de algo ainda mais estranho. Apesar do calor geotérmico da gruta, o crânio estava frio.
Bem frio...
Antes de um deles poder falar, Ryan fechou a tampa do contentor com estrondo e apontou para a saída.
— Agora, os meus homens vão transportar o crânio até lá fora. E, a partir daí, a responsabilidade é vossa.
12h12
Agachada, Kai viu a procissão atravessar a sala juncada de corpos. Uma mulher de idade com um chapéu de abas largas na cabeça ia à frente, seguida por três militares da Guarda Nacional. Dois deles transportavam um contentor verde de plástico.
É o crânio dourado, pensou.
Como a tinham informado, estavam a levá-lo dali. Tudo parecia passar-se conforme o plano. Uma vez o crânio removido, ela teria a gruta só para si. Colocaria os explosivos e esperaria que anoitecesse para escapar.
Depois rebentariam com a gruta vazia para voltar a enterrar os seus antepassados. A WAHYA marcaria um ponto a seu favor. Os nativos americanos estavam fartos de ter de solicitar autorizações ao governo norte-americano, sobretudo nos casos que diziam respeito a direitos tão básicos como enterrar os mortos.
Observou o homem alto que caminhava atrás dos outros. Apercebeu-se com irritação de que o conhecia. Todos os nativos o conheciam. O professor Henry Kanosh era encarado pelas tribos como uma igura controversa e provocava fortes reações. Ninguém contestava que era um leal partidário da soberania índia e, segundo algumas estimativas, o território da reserva nos estados do Oeste aumentara dez por cento graças aos seus esforços.
Mas, como a maioria da sua tribo ancestral, convertera-se à fé mórmon, aliando-se a uma seita religiosa que outrora perseguira e matara índios no Utah. Era considerado um pária pelos membros mais tradicionais e ela ouvira, uma vez, alguém referir-se a ele como sendo um «tio Tom índio».
O professor Kanosh dirigiu-se ao grupo ao chegarem à saída.
— Até controlarmos a situação, espero que ninguém mencione o ouro que encontrámos nas caixas. Mantenham-se calados. Não queremos que este local seja invadido por gente em busca de ouro.
Aquelas palavras arrebitaram as orelhas de Kai. Ouro?
De acordo com o que lhe disseram, o único ouro que existia era o que cobria o crânio pré-histórico. A WHYA aquiescera de bom grado que o totem fosse retirado daqui. Como o artefacto devia ser exibido no museu dos nativos americanos, não havia problema. E, além disso, se a explosão enterrasse o crânio juntamente com as múmias, alguém poderia ser tentado a desenterrá-lo voltando a perturbar o local de repouso dos antepassados.
Mas se há ainda mais ouro...
Esperou até os outros voltarem a entrar no túnel, levantou-se e pôs a mochila aos ombros. Atravessou a sala e encaminhou-se cautelosamente para a câmara do fundo. Tinha de ver por si mesma. Se havia um monte de ouro escondido, tudo mudava. Como o crânio, uma tal riqueza atrairia muitos salteadores.
Tinha de saber a verdade.
Ao precipitar-se ao longo do túnel do fundo, veio-lhe à cabeça outra preocupação. A existência desse tesouro obrigaria certamente os guardas a voltarem para o proteger, complicando os seus planos de fuga. Ficaria encurralada e, se fosse apanhada, como explicaria a mochila carregada de explosivos? Passaria anos ou até mesmo décadas, na cadeia.
O receio apressou-lhe o passo.
Ao chegar à câmara mais pequena, acendeu uma lanterna de bolso. Ao princípio, nada viu, apenas antigas caixas de pedra e um pilar de granito.
Mas um re lexo fê-la baixar os olhos. Havia uma caixa meio partida no chão.
Ajoelhou-se e aproximou o raio de luz. A caixa continha placas metálicas. Por baixo da camada oleosa de uma delas vislumbrou o brilho de ouro. Sentou-se, espantada. Com a lanterna iluminou a parede onde se encontravam as caixas empilhadas.
O que faço agora?
Era impossível pedir socorro por rádio debaixo de terra. Sentiu-se confusa e encurralada. Tinha de tomar uma decisão, mas com a pressão do tempo a avançar e temendo o regresso dos guardas, não conseguia pensar.
A escuridão parecia adensar-se à sua volta.
Um grito distante fê-la estremecer. Virou-se para a saída. Ouviu vozes abafadas e alguém gritou.
Levantou-se de um salto.
O que se passa?
Agarrou-se à mochila. O cuidadoso plano da WAHYA estava a ir por água abaixo. O coração palpitava com o pânico crescente. O medo sobrepunha-se à razão. Baixou-se, arrancou a tampa da caixa e tirou três placas de ouro com cerca de cinquenta centímetros quadrados de super ície. Eram surpreendentemente pesadas. En iou-as dentro do blusão e apertou-o com o fecho de correr bem ajustado contra o corpo.
Precisava de uma prova para a explicar a John Hawkes porque abortara a missão. Não iria icar muito satisfeito, mas o ouro poderia vir a ser útil, principalmente se o governo tentasse encobrir qualquer coisa.
Lembrou-se das últimas palavras do professor Kanosh.
Mantenham-se calados.
Tencionava fazer a mesma coisa, mas, primeiro, tinha de sair dali.
Voltou a correr para a câmara principal. As vozes iradas lá fora subiam de tom. Desconhecia o que suscitara aquela agitação, mas esperava que a ajudasse a escapar. Sabia que tinha de arriscar, caso contrário seria apanhada em flagrante pelos soldados.
Só lhe restava uma possibilidade, utilizar o seu melhor trunfo: a velocidade.
Se conseguir safar-me e chegar ao bosque...
Mas o que se passava à sua frente?
O vozeirão do professor Kanosh ecoou-lhe nos ouvidos.
«Para trás.»
12h22
Maggie encontrava-se apenas a uns metros da entrada da gruta. Não tinham ido muito longe quando o circo da imprensa os apanhou.
Os aparelhos fotográficos apontaram para ela numa explosão de flashes.
Reconheceu, um pouco mais longe, as feições cinzeladas, o cabelo branco e os frios olhos azuis de um jornalista da CNN. O governador do Utah acompanhava-o. Não admirava que a Guarda Nacional não os tivesse detido. Não havia nada como uma boa fotogra ia para animar a campanha de reeleição do governador.
Claro que, juntamente com a equipa noticiosa, vieram os suspeitos do costume em busca da atenção nacional e representando diante das câmaras.
— Estão a roubar a nossa herança! — gritou alguém entre a multidão.
Ela localizou o indivíduo vestido de pele de gamo e rosto pintado. Tinha um iPhone erguido e gravava o evento. Maggie esperava aparecer no YouTube dentro de uma hora.
Mordeu a língua, sabendo que qualquer palavra que pronunciasse atearia a discussão.
Há pouco, quando saía da gruta, acompanhada por Hank e pelos militares, a multidão invadira aquela área, passando pelo governador que estava a dar uma entrevista em direto. Várias pessoas foram derrubadas.
Começaram a brigar e quase ocorreu um pequeno motim. O major Ryan mandou os soldados da Guarda Nacional estabelecerem um cordão para conter a vaga de gente e restaurar uma aparência de ordem.
Entretanto, Hank e os outros guardas formaram uma barreira entre Margaret e as câmaras e os manifestantes.
O professor ergueu uma mão no ar.
— Se quiserem ver o totem, nós mostramo-lo. Mas, a seguir, a doutora Grantham vai levá-lo diretamente para a universidade onde será examinado por especialistas do Museu Nacional dos Índios Americanos do Instituto Smithsonian...
Outro berro furioso interrompeu-o.
— Quer dizer que vão fazer a esse crânio o que izeram ao corpo de Black Hawk!
Maggie contraiu-se. A referência tinha que ver com um triste episódio da história do Utah. Black Hawk fora um chefe índio Ute que morrera no decorrer de um con lito com colonos em meados do século XIX. O corpo fora exibido em vários museus e desaparecera. O esqueleto voltara a ser encontrado mais tarde por um escuteiro no armazém do departamento de história de uma igreja mórmon. Os ossos acabaram por ser enterrados.
Maggie já ouvira o su iciente. Colocou-se ao lado do contentor com a mão levantada. Todos os olhos e lentes das câmaras se viraram para ela.
— Não temos nada a esconder! — bradou. — É óbvio que esta descoberta causa fortes emoções. Mas asseguro-vos que tudo será tratado com o máximo respeito.
— Chega de conversa! Se não há nada a esconder, mostrem-nos o crânio!
O pedido foi repetido por outras vozes e tornou-se uma ladainha.
Maggie surpreendeu o olhar do governador. Este fez-lhe um discreto sinal para aquiescer. Ela suspeitava que o totem dourado era encarado mais como uma novidade pela maioria da assistência do que um artefacto de importante signi icado histórico. Já que estava num autêntico circo, mais valia mostrar-se à altura.
Voltou-se de costas e tentou abrir as fechaduras. Os seus dedos artríticos di icultaram a operação. A neblina transformara-se em chuva miudinha. As gotas pingavam no plástico e o silêncio pairava entre a multidão.
Conseguiu inalmente abrir a tampa. Não podia expor o totem durante mais do que um minuto por causa da chuva. Olhou para o crânio de ouro aninhado no fundo de espuma do contentor. Brilhava esplendorosamente.
Recuou para desimpedir a vista e permitir que as pessoas o vissem e as câmaras o ilmassem, mas não conseguiu afastar os olhos do totem. Uma neblina cobria-lhe a super ície. Uma gota de chuva caiu-lhe em cima e transformou-se imediatamente numa lágrima gelada.
A multidão atrás soltou um suspiro coletivo.
Pensou que tinham visto a gota a cair, mas ouviu alguém a correr.
Olhou e viu uma rapariga magra de blusão e calças de ganga pretas a saltar da gruta com o cabelo de ébano a esvoaçar como as asas de um corvo. Tinha um braço à volta do corpo como se agarrasse alguma coisa, e algo deslizou por debaixo do blusão e bateu na pedra com um ruído metálico.
Era uma das placas de ouro.
Ryan gritou para a tentar deter.
A rapariga ignorou-o e prosseguiu a corrida para o bosque, mas a dado momento escorregou na rocha molhada. Tropeçou e largou a mochila que rolou para junto do contentor. Conseguiu recuperar o equilíbrio e, como uma corça assustada, precipitou-se para a floresta.
Maggie permaneceu ali, sem se mexer, debruçada sobre o crânio para o proteger. Certi icou-se de que estava seguro e, como continuara a chover, reparou que a sua superfície dourada estava coberta por gotas de gelo.
Estendeu a mão e tocou numa, sentindo um choque doloroso percorrer-lhe o braço. Mas, em vez de o retirar, sentiu-o puxado para a frente. A palma da mão bateu na super ície do crânio e, de repente, os dedos pegaram fogo. O choque e o horror fecharam-lhe a garganta. As pernas enfraqueceram.
Ouviu Hank gritar.
E o berro de Ryan.
Uma palavra ecoou na angústia.
Bomba!
12h34
O clarão cegou Hank. Num momento gritava a Maggie e, no seguinte, não via nada. Um estrondo pressionou-lhe o crânio, ensurdecendo-o. Como uma bofetada de Deus, uma vaga gelada atirou-o de escantilhão. Caiu de costas e sentiu um estranho puxão no corpo que o arrastava para a explosão.
Debateu-se, em pânico. A sensação não era apenas errada, mas fundamentalmente anormal. Lutou contra a vaga com todas as ibras do seu ser.
Depois, terminou tão depressa como começara.
O puxão inexorável abrandou, acabando por soltá-lo. E recuperou os sentidos com os ouvidos cheios de lamentos e gritos. As imagens tornaram-se de novo nítidas. Hank jazia de lado, virado para onde Maggie estivera.
Demasiado atordoado não se mexeu.
Ela desaparecera — assim como o contentor, o crânio e a maior parte da falésia, incluindo a entrada da gruta.
Apoiou-se num cotovelo e olhou à volta.
Não havia sinal dela, nem do corpo despedaçado ou de restos carbonizados. Nada a não ser um círculo preto de rocha fumegante.
Ergueu-se com di iculdade. Kawtch aproximou-se a arrastar a barriga com a cauda entre as pernas. Se Hank tivesse cauda, faria exatamente a mesma coisa. Fez uma festa tranquilizadora ao cão.
— Vai tudo correr bem.
Esperava que fosse verdade.
A multidão dispersava em pânico. A equipa de imprensa, empurrada pela Guarda Nacional, recuara para uma posição mais elevada. E, por precaução, no caso de haver outro ataque, dois soldados retiraram o governador do local.
Hank reviu a cena da mochila atirada pela rapariga. Abrira-se ao cair perto do contentor e o seu conteúdo espalhara-se no chão: cubos de plástico explosivo amarelado com fios.
O major reconhecera imediatamente a ameaça.
Era uma bomba.
Mas o aviso chegara demasiado tarde a Maggie.
Sentiu o ardor da raiva no fundo do estômago. Concentrou-se na atacante. A pele acobreada, os olhos castanhos e o cabelo preto identi icavam-na como sendo nativa americana. Uma terrorista. Como se a situação já não fosse suficientemente má.
Entorpecido pela dor, cambaleou para a área destruída, tentando compreender. O major Ryan apanhou o capacete e voltou a colocá-lo na cabeça.
— Nunca vi uma coisa assim — disse, ainda abalado. — A força da explosão poderia ter mandado pelos ares metade da multidão. Incluindo nós.
Estendeu o braço com a palma da mão para cima.
— E sinta o calor.
Hank sentia-o. Era como uma fornalha. O ar tresandava a enxofre e dava-lhe voltas ao estômago.
Enquanto estavam ali, um pedregulho desfez-se em pequenas rochas. A encosta da falésia começou igualmente a desintegrar-se numa cascata de pedras e areia. Era como se o duro granito se esboroasse.
— Olhe para o chão.
Hank viu o solo a fumegar, expelindo uma nuvem de vapor. A chuva silvava ao cair nele. Não percebia, contudo, porque estava o major tão agitado.
Ajoelhou-se para examinar o solo mais de perto. E também percebeu. A superfície rochosa não era sólida, parecia pimenta moída — e movia-se!
Os grãos saltitavam e bailavam como se fossem gotas de óleo a cozer num tacho quente. Viu uma pequena pedra desfazer-se em areia e, depois, em pó. Uma gota de chuva bateu no chão e abriu uma cratera. Como uma pedra lançada na água tranquila de um lago, pequenas ondas espalharam-se em círculos concêntricos.
Hank abanou a cabeça sem poder acreditar. Observou a medo onde terminava a área da explosão e o chão sólido começava. Ao olhar, a linha divisória esboroou-se em areia, aumentando progressivamente a área explodida.
— Está a expandir-se — disse Hank, empurrando Ryan.
— O que está a dizer?
Hank não tinha a resposta, apenas uma certeza.
— Há qualquer coisa ainda ativa. Está a dar cabo da rocha e a irradiar.
— Está maluco ou quê? Nada pode...
Do centro da área de explosão, um jato de água irrompeu do subsolo e ergueu-se vários metros no ar numa coluna de vapor. Um calor escaldante obrigou-os a afastarem-se.
Quando voltaram a deter-se, a pele de Hank queimava e os olhos ardiam. Arquejou, balbuciando umas palavras.
— Deve ter danificado a fonte geotérmica... debaixo do vale.
— O que está a dizer? — repetiu Ryan, tapando a boca e o nariz com a gola do casaco.
O enxofre a arder tornava perigoso respirar.
— Seja o que for, não está apenas a expandir-se para fora.
Hank apontou para o minigéiser.
— Também está a dirigir-se para baixo.
3
30 DE MAIO, 15H39
WASHINGTON, DC
Tanto pior para os planos de jantar.
Embora a explosão no Utah tivesse ocorrido há uma hora, Painter Crowe sabia que passaria toda a noite no escritório. Os pormenores não paravam de chegar, mas a informação era escassa devido à localização remota e montanhosa onde se dera a explosão. Todos os serviços de informação de Washington se encontravam em estado de alerta e mobilizavam-se para ficar a par da situação.
Incluindo a Sigma.
O grupo de Painter operava como um braço secreto da DARPA, a agência de projetos de investigação avançada de defesa. A sua equipa era composta por militares das forças especiais escolhidos a dedo — com coe iciente de inteligência superior ou uma perspicácia mental única.
Recrutava-os e treinava-os em várias disciplinas cientí icas para servirem como operacionais na unidade de investigação e desenvolvimento do Departamento de Defesa. Estas equipas eram enviadas pelo mundo para combater ameaças globais.
Normalmente, um ataque doméstico como o do Utah não seria da competência da sua equipa, mas pormenores anormais atraíram o interesse do seu chefe, o diretor da DARPA, o general Gregory Metcalf.
Painter podia ter-se oposto à utilização dos recursos da Sigma para um acontecimento tão confuso, mas devido à controvérsia à volta da explosão, até o presidente — a quem, no passado, a Sigma salvara a vida — tinha pessoalmente requerido a sua assistência neste assunto delicado.
E ninguém diz não ao presidente James T. Gant Os planos de Painter para ir a uma churrascada com a namorada foram adiados.
Em vez disso, icou de pé, com as costas viradas para a secretária, a examinar os monitores planos montados nas três paredes do seu gabinete.
Mostravam várias imagens da explosão. As melhores provinham das câmaras da CNN que tinham gravado o evento. Vídeos e fotogra ias captados com telemóveis, os novos olhos digitais do milénio sobre o mundo, passavam nos outros monitores. Estudou pela centésima vez as cenas ilmadas pela CNN. Viu uma mulher de idade — a antropóloga Margaret Grantham — debruçar-se sobre um contentor militar verde de transporte, abrir as fechaduras e levantar a tampa. Seguiu-se uma perturbação que fez estremecer a câmara. A imagem oscilou violentamente. Entreviu uma figura a fugir por detrás da mulher e, a seguir, um clarão de luz ofuscante.
Parou a imagem com um telecomando à distância. Observou o centro da explosão. Se cerrasse os olhos, conseguia distinguir a sombra da mulher no meio do clarão, um fantasma sombrio no interior das chamas. Avançou a imagem fotograma a fotograma e viu a sombra ser lentamente consumida pela claridade até ficar reduzida a nada.
Pesaroso, pressionou o botão para avançar depressa. A partir dali a película tornou-se caótica: árvores, céu, pessoas a correr. Por im, o homem da câmara acabou por encontrar um bom local para continuar a ilmar. A imagem voltou à área da explosão fumegante. A confusão ainda reinava.
Algumas pessoas fugiam e outras seguiam de longe o que se passava.
Momentos mais tarde um géiser rebentava, pondo em fuga os que restavam.
Um relatório preliminar redigido pelo geólogo da Sigma já se encontrava em cima da sua secretária. Na sua opinião, a explosão atingira um «aquífero geotérmico subterrâneo».
Painter olhou novamente para o géiser. Já não era subterrâneo. A avaliação do geólogo incluía um mapa topográ ico das redondezas, pontilhado com nascentes quentes. Até mesmo no árido jargão técnico do relatório, Painter sentia o entusiasmo do jovem geólogo e o desejo de investigar o local em primeira mão.
Embora apreciasse tal paixão, a Guarda Nacional encerrara o lugar e efetuava uma busca para identi icar o vulto indistinto que estava por detrás da explosão. Utilizando de novo o comando à distância, paralisou a imagem fugidia captada durante menos de um segundo.
Segundo as entrevistas, tratava-se de uma jovem. Atirara uma mochila cheia de C-4 com detonadores e escondera-se no bosque. A Guarda Nacional, a polícia local e agentes do FBI de Salt Lake City tentavam selar a área, mas o terreno montanhoso, escarpado e densamente arborizado constituía um desafio, sobretudo, porque ela o conhecia bem.
Para piorar a situação, as testemunhas oculares diziam que era uma nativa americana e, no caso de ser verdade, a tensão política agravar-se-ia.
Painter viu o seu re lexo no monitor e pensou nos seus antepassados.
Era meio índio Pequot do lado do pai, mas os olhos azuis e a pele clara vinham da mãe italiana. A maior parte das pessoas não o via como nativo americano, mas as feições estavam lá: maçãs do rosto largas e salientes e cabelo muito preto. À medida que envelhecia, as características índias sobressaíam mais.
No mês passado, Lisa comentara isso. Tinham passado um ocioso domingo na cama sem descobrir motivo para se levantar. Ela apoiara-se num cotovelo e delineara o perfil do seu rosto com um dedo.
— Estás cada vez mais bronzeado e as rugas do sol estão mais fundas.
Estás a parecer-te com uma fotografia antiga do teu pai.
Não era exatamente o que se queria ouvir quando se estava na cama com a namorada.
Ela estendera a mão e tocara no único caracol de cabelo branco atrás da sua orelha, escondido como uma pena branca de neve num campo escuro.
— Ou talvez seja porque estás deixar o cabelo crescer. Quase podia fazer uma trança de guerreiro com ele.
Para dizer a verdade, ele não andava a deixar crescer o cabelo. Mas há meses que não tinha oportunidade para o cortar. Passava cada vez mais tempo no centro de comando da Sigma. As instalações estavam escondidas por baixo do Castelo Smithsonian no National Mall e ocupavam os antigos abrigos antibombas da Segunda Guerra Mundial. A localização fora escolhida tanto por ser conveniente para aceder a individualidades importantes como por estar próxima dos inúmeros laboratórios de investigação do Instituto Smithsonian.
Era ali que Painter passava a maior parte dos dias. Ultimamente, as suas únicas janelas sobre o mundo eram os três gigantescos monitores instalados no gabinete.
Regressou à secretária, re letindo sobre as implicações de um terrorista local ser um nativo americano. Raramente pensava na sua herança, sobretudo depois de ter passado a maior parte da juventude em lares adotivos. A mãe, que sofria de depressão, matara o pai à facada após sete anos de casamento e do nascimento do ilho. Mais tarde, Painter continuou a ter algum contacto com as suas raízes nativas através da grande família da tribo do pai. Mas depois de uma educação caótica, crescera dando mais importância à parte americana do que aos seus antepassados nativos.
Uma pancada na porta aberta do seu gabinete interrompeu-lhe os pensamentos. Ergueu a cabeça e viu Ronald Chin, o geólogo da Sigma, de pé, no vão da porta.
— Achei que devia ver isto.
Painter fez-lhe sinal para entrar, embora soubesse que tinha de se baixar. Só não media um metro e oitenta e cinco porque rapava o cabelo.
Vestia um fato-macaco cinzento que deixava ver uma t-shirt dos Rangers através do fecho de correr meio aberto.
— O que é? — perguntou Painter.
— Estava a ler alguns dos relatórios e encontrei uma coisa que pode ser importante.
Colocou um dossiê em cima da secretária.
— Trata-se do interrogatório ao major da Guarda Nacional Ashley Ryan que se encontrava no local. A maior parte das questões centra-se na identidade da pessoa que lançou a bomba, juntamente com os acontecimentos anteriores à explosão. Mas o major Ryan parece muito agitado com a explosão em si.
Painter endireitou-se na cadeira e pegou no dossiê.
— Veja a página dezoito. Sublinhei a passagem.
Painter folheou o dossiê e leu o que estava marcado a amarelo. Era apenas a transcrição de declarações, mas a última do major gelou-lhe o sangue.
Leu em voz alta.
— O solo... parecia estar a dissolver-se.
Chin manteve-se com as mãos atrás das costas do outro lado da secretária.
— Desde o princípio que achei que havia algo estranho nesta explosão, por isso consultei o perito em demolições da Sigma. E chegou à mesma conclusão. Para atravessar a rocha dura do subsolo e dani icar uma nascente geotérmica, a explosão deveria ter sido dez vezes maior.
Uma voz rude interrompeu-os.
— Exatamente. Não tem poder de choque suficiente.
Painter virou-se para a entrada. Pelos vistos, o novo perito em bombas da Sigma viera dar o seu apoio à avaliação de Chin. O homem encostou-se à porta. Era quinze centímetros mais alto do que Chin e pesava mais uns bons vinte quilos do que o seu companheiro de equipa, quase tudo em músculo. Tinha cabelo preto curto e hirsuto e penteava-o com gel para trás.
Vestia um fato-macaco igual ao de Chin, mas, pelo peito nu, aparentava não usar nada por baixo.
Parecia amassar um pedaço de barro na mão direita.
Painter pareceu preocupado.
— Tiraste esse C-4 do armário das armas, Kowalski?
O homem endireitou-se e encolheu os ombros com um ar embaraçado.
— Pensei fazer um teste...
Painter sentiu o estômago a revolver-se. Joe Kowalski era um antigo fuzileiro contratado pela Sigma. Ao contrário dos outros, era mais um tipo adotado do que um recruta. Servia como apoio da equipa, mas Painter pressentia que talvez tivesse mais qualidades do que apenas músculos. Um espírito vivo sob aquele exterior sem interesse.
Pelo menos, assim esperava.
Revira a icha de Kowalski desde que se juntara à Sigma — avaliando as suas aptidões e capacidades — e colocara-o num setor que parecia adequado: explosões.
Mas começava a arrepender-se.
— Não creio que sejam necessários testes com explosivos. — Apontou para o dossiê. — Leu este relatório?
— Folheei-o.
— E qual é a sua opinião?
— Não foi de certeza C-4.
Levantou o punho que segurava o explosivo e apertou-o.
— A explosão deveu-se a outra coisa qualquer.
— Tem alguma ideia?
— Só depois de examinar o local da explosão e recolher amostras. De outro modo, não terei quaisquer pistas.
Tinha de dar crédito a Kowalski. Era uma avaliação razoável.
— Bem, há uma pessoa que sabe a verdade.
Painter recostou-se na cadeira da secretária e lançou um olhar à imagem paralisada da bombista.
— Mas temos de a encontrar.
14h22
Região remota do Utah Kai escondeu-se num cerrado matagal de salgueiros na montanha junto a um riacho de água fria. Ajoelhou-se, pôs a mão em concha e bebeu a água límpida. Ignorou os avisos acerca da giardia e de outros parasitas intestinais. A água era neve derretida fresca. Tinha tanta sede que correria o risco.
Depois de saciar a sede, tapou o rosto com as palmas das mãos molhadas. O frio ajudava-a a concentrar-se.
No entanto, mesmo com os olhos fechados, não conseguia tirar aquelas imagens da cabeça. Ao fugir da gruta, olhara para trás e vira o clarão luminoso e ouvira o estrondo. Os gritos perseguiram-na no fundo da floresta.
Porque deixei cair a mochila?
John Hawkes jurara que o C-4 era seguro. Explicara-lhe que se podia disparar sobre uma dessas cargas explosivas e nada sucederia. Portanto, o que se passou? Assustou-a ainda mais pensar numa terrível possibilidade.
Alguém da WAHYA tê-la-ia visto fugir e acedera ao comando do detonador pelo telefone?
Mas, sabendo que havia gente à volta, porque o fariam?
Ninguém devia ficar ferido.
Não tivera tempo para pensar. Passara as duas últimas horas a correr através do bosque como uma corça e evitando, tanto quanto possível, ser vista do ar. Avistara um helicóptero a sobrevoar o cume das montanhas.
Deveria ser da imprensa e não da polícia, mas escondera-se logo no matagal.
Durante as horas de dia que restavam, tinha de se distanciar o mais possível dos perseguidores. Sabia que a procurariam e imaginou o seu retrato difundido por todo o país. Não tinha quaisquer ilusões. A sua identidade em breve seria conhecida.
Todas aquelas câmaras... alguém certamente me fotografou.
Apanharem-na era apenas uma questão de tempo.
Necessitava de ajuda.
Mas em quem poderia confiar?
16h35
Washington, DC
— Parece que temos finalmente uma pista, chefe.
— Mostre lá — disse Painter, entrando na sala escura iluminada apenas por um círculo de monitores e ecrãs de computador a cintilar.
A sala de comunicações por satélite da Sigma lembrava-lhe sempre a sala de controlo de um submarino nuclear em que a luz ambiente era mantida fraca para preservar a visão noturna. E, a exemplo da sala de controlo de um submarino, também era o centro nervoso do comando da Sigma. Toda a informação entrava e saía desta teia interligada de dados atualizados, provenientes de várias agências secretas, tanto nacionais como estrangeiras.
A aranha desta teia particular, diante de uma série de monitores, fez sinal a Painter para se aproximar. A capitã Kathryn Bryant era a principal especialista de informação e tornara-se comandante-adjunta de Painter.
Era os seus olhos e ouvidos em Washington e uma personagem perspicaz no mundo con lituoso da política na capital. Como boa aranha, lançava os ios da teia bem longe, mas o seu melhor trunfo era a inquietante capacidade de controlar todas as vibrações dos ilamentos, eliminar a estática e produzir resultados.
Como, por exemplo, agora.
Kat chamara-o com a promessa de qualquer coisa.
— Dê-me um segundo para reunir os dados de Salt Lake City — disse ela.
Fez uma ligeira careta, pousou uma mão na barriga e continuou a datilografar no teclado com a outra. Grávida de oito meses, estava enorme, mas recusava pedir uma licença de maternidade antecipada. A única concessão ao seu estado foi trocar a farda azul justa por um vestido largo e um casaco, e deixar que os caracóis do seu cabelo castanho arruivado caíssem sobre os ombros em vez de os prender.
— Porque não se senta? — disse ele, puxando a cadeira para diante do monitor.
— Estive sentada todo o dia. O bebé tem andado a sapatear em cima da minha bexiga desde o almoço.
Fez-lhe sinal para se aproximar.
— Precisa de ver isto, chefe. Tenho acompanhado os programas de notícias locais em Salt Lake City desde que começou a investigação. Não foi di ícil entrar nos servidores dos computadores e espreitar por cima dos ombros deles enquanto preparavam as emissões da noite.
— Porquê?
— Porque pensei que era muito fácil esconder um telemóvel.
Ele lançou-lhe um olhar inquisitivo.
E ela explicou.
— Existia uma boa probabilidade de haver, entre as pessoas que assistiram ao ataque, alguém que tivesse fotografado ou captado em vídeo quem lançou a bomba. Porque não há nada?
— Talvez todos tivessem entrado em pânico.
— Depois de a bomba rebentar, não antes. Se partirmos do princípio que foi tirada uma foto, porque não foi entregue à polícia? Segui esta linha de raciocínio. A ganância é uma boa motivação.
— Acha que alguém está a reter a imagem de quem lançou a bomba para ganhar uns dólares?
— Para fazer um trabalho minucioso, tive de o assumir. Teria sido bastante fácil ocultar um telemóvel no meio da confusão. Ou até mesmo enviar a imagem por e-mail e apagar a gravação. Por isso, veri iquei os registos das emissões para o noticiário local desta noite em Salt Lake City e, numa associada da NBC, encontrei um intitulado «Novas imagens do caso da bomba no Utah».
Kat premiu um botão do teclado e surgiu um vídeo, a mesma cena que ele examinara repetidas vezes. Mas, desta vez, a bombista, em corpo inteiro, saía da gruta com uma mochila. Movia-se velozmente, mas itou a câmara por uma fração de segundo.
Kat captou habilmente a imagem e paralisou-a. Como uma testemunha ocular informara, a rapariga parecia realmente ser uma nativa americana.
Painter chegou-se mais perto. O coração começou a bater com mais força.
— Pode fazer zoom?
— A imagem é má. Dê-me um minuto.
Os dedos de Kat voaram por cima do teclado.
— Achei que deveríamos estar atentos. A emissão está marcada para as seis horas em Salt Lake City. Li, por acaso, um rascunho do texto que vão ler. É muito sedicioso e descreve o ataque como constituindo uma possível reaparição da militância nativa americana. Há também imagens de arquivo do episódio de Wounded Knee.
Painter reprimiu um gemido. Em 1973, membros do movimento índio americano confrontaram o FBI em Wounded Knee, no estado do Dacota do Sul. Duas pessoas morreram e muitas outras icaram feridas. A tensão entre as tribos e o governo demorou anos a acalmar.
— OK — disse Kat. — O programa já limpou a amostra.
A imagem reapareceu mil vezes mais nítida. Kat manipulou o rato do computador para encher o ecrã com o rosto da rapariga. Os pormenores eram espantosos. Os seus olhos escuros estavam arregalados de medo, os lábios entreabertos numa expressão de pânico e o cabelo cor de ébano esvoaçava enquadrando feições distintamente nativas.
— É muito atraente — disse Kat. — Tem de haver alguém que a conheça. Não vai demorar muito a encontrar um nome para essa cara bonita.
Painter mal ouvia o que ela dizia. Continuava a olhar para o ecrã. A sua visão estava fixa na imagem paralisada.
Kat deve ter sentido que se passava qualquer coisa e virou-se para ele.
— Chefe Crowe?
Antes de Painter ter tempo para responder, o seu telemóvel tocou.
Tirou-o do bolso. Era o seu BlackBerry pessoal, descodificado.
Devia ser Lisa para saber da churrascada.
Levou o telemóvel ao ouvido porque queria ouvir a voz dela.
Mas não era Lisa. As palavras de quem telefonava eram precipitadas e ofegantes.
— Tio Crowe... Preciso da tua ajuda.
O choque engasgou-o.
— Estou metida num sarilho. Não sei...
As palavras desapareceram e ouviu o rosnar de um animal enorme seguido de um grito de terror.
Painter agarrou o telemóvel com mais força.
— Kai!
A comunicação foi cortada.
4
30 DE MAIO, 14H50
REGIÃO REMOTA DO UTAH
Kai afastou-se do cão
Coberto de lama e encharcado até aos ossos, parecia feroz, talvez até mesmo raivoso. Arreganhou o focinho com um rosnar ameaçador, mostrando os dentes. Aproximou-se de cabeça baixa e cauda levantada, pronto a saltar-lhe para o pescoço.
Um grito atrás da rapariga fê-la dar um pulo.
— Chega, Kawtch! Para trás!
Ela virou-se no momento em que um homem alto de chapéu à cowboy na cabeça surgiu por entre os pinheiros montado num cavalo castanho. A égua movia-se graciosamente, subindo a encosta em silêncio.
Kai encostou-se a uma árvore, preparando-se para fugir. Tinha a certeza de que era um polícia federal. Juraria que vira um distintivo, mas, quando se aproximou, reparou que se tratava de uma simples bússola pendurada à volta do pescoço.
— Deu-nos bastante trabalho, minha menina — disse ele em tom severo, o rosto ainda meio escondido pela larga aba do chapéu. — Mas não há pista que o Kawtch não consiga seguir quando lhe sente o faro.
O cão abanou a cauda, mas sem tirar os olhos dela. A rosnar baixinho.
O desconhecido deslizou da sela e pisou agilmente o chão. Fez uma festa ao cão para o acalmar ao dirigir-se para ela.
— Tem de desculpar o Kawtch. Ainda está assustado pela explosão.
Está muito nervoso.
Kai não entendia a atitude do homem. Era evidente que não pertencia à Guarda Nacional nem à polícia estadual. Seria que se dedicava à captura de criminosos para receber a recompensa? Olhou para a pistola no coldre pendurado na anca direita. Era por causa dela ou uma mera precaução contra os ursos pretos e linces que rondavam por estas florestas?
Ele tirou inalmente o chapéu e limpou a testa com um lenço. Kai reconheceu o cabelo grisalho atado em rabo de cavalo e as suas características feições de nativo americano. O choque deixou-a confusa momentaneamente. Vira este homem há apenas duas horas na gruta da montanha.
— Professor Kanosh...
O nome saiu-lhe dos lábios em tom meio zangado, meio aliviado.
Surpreendido, levou algum tempo a falar. Acabou por estender a mão.
— Suponho que, nestas circunstâncias, é melhor tratar-me por Hank.
Ela recusou apertar-lhe a mão. Ainda se lembrava de como John Hawkes descrevera este homem. Um tio Tom índio. Este traidor deveria estar a colaborar com o governo para a apanhar.
O professor baixou o braço e colocou as mãos nas ilhargas, roçando os dedos pelo punho da pistola.
— O que vamos fazer consigo? Meteu-se num monte de sarilhos. Toda a polícia deste lado das Montanhas Rochosas anda à sua procura. A explosão...
— A culpa não foi minha! — balbuciou ela em voz alta e furiosa. — Não faço ideia do que sucedeu!
— Talvez seja verdade, mas a explosão matou uma pessoa. Uma querida amiga minha. E as pessoas procuram alguém para acusar.
Ela itou-o e apercebeu-se da sua tristeza nas rugas profundas ao canto dos olhos. Ele estava a dizer a verdade.
As palavras dele extinguiram a sua fúria interior como se fosse uma vela caída na água. Os piores receios de Kai eram agora reais. Lembrando-se da explosão e do clarão ofuscante, cobriu o rosto. Agachou-se e aninhou-se de encontro ao tronco da árvore. Matara uma pessoa.
Aterrorizada, não conseguiu conter por mais tempo as lágrimas que tinha retidas no peito. Foi sacudida por soluços silenciosos.
— Ninguém deveria icar ferido — murmurou, mas as palavras soavam sem sentido até mesmo para ela.
Uma sombra debruçou-se sobre Kai. O velho ajoelhou-se ao seu lado, passou-lhe um braço à volta dos ombros e puxou-a para si. Ela não teve força para se debater.
— Imagino o que tencionava fazer com a mochila cheia de explosivos — disse docemente. — Mas tem razão. A culpa não foi sua.
Ela resistiu ao conforto daquelas palavras. Antes de morrer, o pai ensinara-lhe a diferença entre o certo e o errado, inculcando-lhe a importância da responsabilidade. Ao longo da maior parte da vida, viveram os dois sozinhos. Ele tinha dois empregos para pagar a comida e um telhado por cima deles. Ela passava quase todas as noites mais em casa dos vizinhos a cuidar-lhes dos ilhos do que na sua casa. Tomavam conta um do outro como podiam.
Portanto, não podia enganar-se a si mesma. Quer fosse um acidente ou não, as ações dela mataram alguém.
— Não sei ao certo o que se passou — prosseguiu Kanosh em voz calorosa e tranquilizadora. — Mas não foram os seus explosivos que rebentaram com a encosta da montanha. Julgo que foi o crânio do totem.
Ou algo dentro desse crânio.
Parte dela ouviu o que ele disse e agarrou-se às suas palavras como alguém a afogar-se. No entanto, perdida em culpas e pesar, temeu aceitar plenamente o que ele dizia.
Sentindo talvez a sua resistência, ele falou com voz calma.
— Antes de ir atrás de si, li os relatórios e os boatos acerca da gruta, histórias antigas partilhadas por um punhado de anciãos tribais. De acordo com essas histórias, a gruta estava amaldiçoada e quem lá entrasse causaria a destruição de todos. — Suspirou tristemente. — Talvez devêssemos ter dado ouvidos a essa lenda. Ao estudar o passado do nosso povo, aprendi que muitas vezes contém um grão de verdade.
O conforto do seu braço e a segurança com que dizia aquelas palavras ajudaram a acalmá-la. As lágrimas continuavam a correr-lhe dos olhos, mas ela, precisando tanto do conforto do rosto dele como de ouvir as suas palavras, ganhou forças para levantar a cabeça.
— Quer dizer que não foram os explosivos C-4 que carregava na mochila que provocaram tudo aquilo?
— Não. Foi algo muito pior. Foi por isso que vim à sua procura. Para a proteger.
Ela endireitou-se, libertando-se dos seus braços. E ele apercebeu-se da sua expressão interrogativa.
— O C-4 apenas ajudou a desencadear a explosão que se preparava no alto da montanha. Quando me vim embora, já tinha começado uma escaramuça entre a Guarda Nacional e os manifestantes que lá se encontravam. As duas fações acusam-se reciprocamente de toda a espécie de crimes e atrocidades. Mas têm todos a certeza de uma coisa.
Adivinhando o que era, Kai engoliu em seco.
— Julgam que a culpada sou eu.
— E andam à sua procura. E há tanta confusão e tensão que receio que possam disparar primeiro e fazer as perguntas depois.
Ela estremeceu, arrepiada.
— O que devo fazer?
— Primeiro, vai contar-me o que aconteceu. Tudo. Todos os pormenores. A verdade é frequentemente a melhor proteção.
Ela não sabia por onde começar, nem sequer tinha a certeza de estar a par de toda a verdade. Mas a mão do velhote encontrou a dela e apertou-a de forma tranquilizadora. Os seus dedos férreos deram-lhe forças. As mãos dele eram calosas como as do pai.
Ao princípio, contudo, as palavras vinham-lhe relutantemente à boca, mas, passado pouco tempo, saíam precipitadamente como uma con issão ou um ato de contrição. No fundo, Kai precisava de descarregar o seu fardo nos ombros de outra pessoa e de o partilhar.
15h08
Hank observou a rapariga enquanto ouvia a sua versão dos acontecimentos. Questionou-a raramente, descobrindo mais verdade no modo como ela contava do que nos factos. Viu o medo nos seus olhos reduzir-se a brasas. À medida que contava a história, ele reconheceu o seu sentimento de traição profundamente enraizado após a morte do pai e a necessidade de culpar alguém para dar sentido a um assassínio insensato.
Perdida e assustada, encontrou uma nova casa, uma nova tribo com os seus camaradas militantes da WAHYA.
Era uma história que o professor ouvira com frequência ser contada entre os jovens nativos americanos: famílias separadas, pobreza, violência doméstica, alcoolismo. Tudo combinado e concentrado pelo isolamento da vida na reserva. Deixava os jovens de ambos os sexos confusos e zangados à procura de um bode expiatório. Muitos caíam no crime, outros passavam a odiar qualquer manifestação de autoridade. Eram homens como John Hawkes, o fundador da WAHYA, que se aproveitavam destas almas perdidas, que se serviam da angústia dos adolescentes para seu proveito.
Era um percurso que Hank conhecia bem de mais. Aos dez anos, começara a vender drogas, primeiro na escola e, mais tarde, alargara os seus horizontes. Convivia com gente violenta e só quando um dos seus melhores amigos foi assassinado por um drogado é que voltou à igreja mórmon da tribo. Para muitos, era um estranho caminho para um índio chegar à salvação. Sabia que outras tribos desprezavam aquelas que adotavam a fé dos mórmones. Mas desde que regressara não se poderia sentir mais feliz.
E, a partir desse momento, recusara desistir de quem se perdera. Era um dos motivos por que lutava tanto para proteger os direitos tribais, não pelas tribos em si, mas para dar apoio e enriquecer as reservas e construir melhores fundações para os mais jovens.
O seu avô — há muito falecido — dissera-lhe uma vez: A melhor colheita provém da terra mais bem lavrada. Era uma iloso ia que tentava seguir todos os dias.
Quando a rapariga terminou, abriu o blusão e mostrou-lhe duas placas de metal do tamanho de um livro de bolso.
— Foi por isso que parti sem detonar os explosivos. E trouxe isto como prova para o John Hawkes. Para lhe mostrar que há mais ouro para além daquele crânio de felino.
Os olhos de Hank arregalaram-se. Ela roubara duas placas de ouro. E
ele julgara que estavam todas perdidas, enterradas debaixo de meia montanha.
— Posso vê-las?
Ela passou-lhe uma e ele examinou-a à luz do sol. Através da sujidade, distinguia os gatafunhos de uma estranha escrita gravados no ouro. Era o único indício do mistério da gruta, do suicídio em massa para proteger o que tinha sido escondido, que sobrevivera.
Mas, na verdade, o seu interesse não era apenas académico. Segurava as placas com mãos trémulas. Embora fosse nativo americano, também era mórmon — e, como historiador, estudara a sua religião tão minuciosamente como a sua herança nativa. Segundo a sua fé, o Livro de Mórmon era a tradução de uma língua perdida inscrita em placas douradas descobertas por Joseph Smith, o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Desde essa revelação que periodicamente corriam boatos de outros esconderijos com placas nas Américas. Muitas foram consideradas fraudes e outras nunca foram encontradas ou provaram ser verdadeiras.
Ficou a olhar para aquela escrita, desejando intelectualmente e do fundo do coração saber o que lá estava escrito, mas tinha uma preocupação mais imediata.
A rapariga exprimiu-a em voz alta.
— O que vamos fazer?
Ele devolveu-lhe a placa e fez-lhe sinal para as voltar a guardar no blusão. Estendeu mais uma vez a mão para se apresentar.
— Hank Kanosh.
Desta vez, ela apertou-a.
— Kai... Kai Quocheets.
Ele franziu o sobrolho.
— Se não me engano, «kai» signi ica salgueiro em navajo. Mas pela sua aparência e sotaque, diria que vem de uma tribo do Nordeste.
Ela acenou a cabeça.
— Sou índia Pequot. A minha mãe é que me deu o nome. Era um quarto navajo e, no dizer do meu pai, queria que eu possuísse parte da sua herança.
Hank apontou para a encosta da montanha.
— Então vamos ver se faz justiça ao seu nome. O salgueiro é conhecido pela sua resistência contra ventos e marés. E prepara-se certamente uma tempestade à sua volta.
Ela sorriu.
Hank aproximou-se da sua montada. Apesar de ter vinte anos, a égua era tão segura como qualquer outro cavalo mais novo. Montou com um breve queixume por causa da anca.
Fez sinal a Kawtch para seguir à frente. Com as montanhas esquadrinhadas por caçadores armados, não desejava ter mais surpresas.
Se alguém andasse por perto, Kawtch avisá-lo-ia.
Virando-se na sela, estendeu o braço a Kai. Esta olhou para a égua com desconfiança.
— Nunca montou a cavalo?
— Cresci em Boston.
— OK. Então, agarre o meu braço e eu puxo-a para se sentar atrás de mim. A Mariah não a deixará cair.
A rapariga agarrou-se ao pulso dele.
— Onde vamos?
— Entregá-la à polícia.
O sorriso de Kai desapareceu e o medo atiçou os seus olhos como brasas. Mas sem lhe dar tempo para protestar, Hank puxou-a e sentiu uma dor aguda no ombro.
— Tenho muita pena, mas vai ter de enfrentar o que fez.
Ela subiu para a sela.
— Não fui eu quem provocou a explosão.
Ele virou-se para a olhar de frente.
— Sim, mas o seu plano era cometer um ato violento, o que acarreta consequências. Mas não se inquiete. Estarei ao seu lado... com um grupo de advogados nativos americanos.
As palavras dele não apagaram o medo que brilhava nos olhos de Kai.
Não havia nada que ele pudesse fazer. Quanto mais cedo a rapariga fosse detida, mais segura icaria. Como se tivesse ouvido os seus pensamentos, um helicóptero surgiu ruidosa e subitamente vindo sabe-se lá de onde. Ao levantar a cabeça para observar o céu, dois braços trémulos agarram-se ao seu estômago. Nunca tivera ilhos e aquele simples gesto comoveu-o, despertando a necessidade paternal de proteger aquela rapariga assustada.
A norte, um pequeno helicóptero militar emergiu do vale vizinho e pairou lentamente sobre o primeiro, voltando depois a baixar para esquadrinhar o terreno. Parecia uma vespa persistente e zangada. Hank apercebeu-se de que se tratava de um helicóptero da Guarda Nacional do Utah, um Apache Longbow.
Apesar de nem o professor ou Kai serem apaches, era um bom augúrio.
Encaminhou a égua para a borda do pinhal em direção à estrada alcatroada.
Mais valia acabar com isto de uma vez por todas.
Pensou nos braços dela apertados à volta da sua cintura.
— Mantenha-se quieta — disse-lhe. — Deixe-me ser eu a falar.
Manteve Mariah a passo, enquanto avançavam para a clareira ao sol.
Não queria que houvesse surpresas. Antes mesmo de chegarem à orla do pinhal, o helicóptero inclinou-se abruptamente e virou na sua direção.
Deve ter infravermelhos a bordo. Captou o calor do nosso corpo.
Saiu do pinhal e manteve-se em campo aberto.
O helicóptero mergulhou sobre eles, as pás do rotor ceifavam velozmente o ar. O barulho era ensurdecedor.
Por fim, ouviu o matraquear das armas do helicóptero.
Que raio é isto...
O choque e a incredulidade cortaram-lhe a respiração.
Disparavam contra eles.
Com um puxão de rédeas, obrigou a égua a dar meia volta.
— Segure-se bem! — gritou para Kai.
5
30 DE MAIO, 17H14
WASHINGTON, DC
— Ainda não conseguimos seguir o rasto do telemóvel da sua sobrinha — anunciou Kat ao entrar no gabinete de Painter. — Mas vamos continuar a tentar.
Ele estava de pé atrás da secretária a veri icar o conteúdo da sua volumosa pasta. O jato partiria do aeroporto Reagan National dentro de meia hora e chegaria em quatro horas a Salt Lake City.
Examinou o rosto de Kat. Uma única ruga na testa exprimia a sua preocupação.
Há mais de meia hora que a frenética chamada da sobrinha fora subitamente interrompida e ele ainda não fora capaz de contactar com ela.
Teria desligado o telefone ou não teria sinal? Kat tentara detetá-lo, mas não tivera melhor sorte.
— E ainda não há notícias da sua captura no Utah? — perguntou.
Kat abanou a cabeça.
— Quanto mais depressa lá chegar, melhor. Se houver qualquer notícia, entrarei em contacto consigo a meio do voo. O Kowalski e o Chin já estão à sua espera.
Painter fechou a pasta com um estalido. Antes da desesperada chamada, planeara enviar uma equipa para trabalhar no Utah. Precisava de alguém da Sigma no terreno para determinar a verdadeira natureza da estranha explosão. Chin era a escolha perfeita — e Kowalski podia certamente algum trabalho de campo como membro de uma equipa de investigação.
Mas com aquela chamada telefónica, o assunto tornara-se pessoal.
Pegou na pasta e dirigiu-se para a porta. De momento, pouca gente estava a par do caso da sobrinha. Kai já tinha um alvo su icientemente grande pintado nas costas.
Como precaução extra, Painter não informou o seu chefe, o general Metcalf, o diretor da DARPA. Queria evitar uma longa explicação quanto ao motivo da sua ida ao Utah. Metcalf operava estritamente segundo as regras, atitude que o manietava constantemente. E, porque a viagem era de natureza pessoal, Painter achou que era mais fácil pedir desculpa ao chefe do que obter licença para partir.
Ultimamente, a relação entre os dois não era muito boa, sobretudo por causa de uma investigação particular que Painter iniciara há seis meses sobre uma sombria organização que importunava a Sigma desde a sua fundação. Apenas cinco pessoas no mundo estavam ao corrente deste projeto secreto de investigação. Mas Metcalf não era parvo. Suspeitava de algo e começara a fazer perguntas a que Painter preferia não responder.
Por isso, talvez fosse melhor afastar-se de DC por uns tempos.
Kat seguiu Painter.
Ao saírem do gabinete, um homem levantou-se. Painter icou surpreendido por ver o marido de Kat, Monk Kokkalis.
As suas feições duras, a cabeça rapada e o ísico de pugilista não deixavam a maioria das pessoas aperceber-se da sua penetrante inteligência. Monk era um antigo comando, mas recebera formação em medicina forense pela Sigma e especializara-se em biotecnologia através de experiência pessoal. No decorrer de uma missão anterior, perdera uma mão que fora substituída, empregando as mais recentes tecnologias da DARPA, por uma maravilha da ciência protética. Equipada com todo o tipo de medidas defensivas, era meio mão, meio arma.
— O que está a fazer aqui, Monk? Pensei que andava a testar a sua nova prótese.
— Já terminei. Passei com sucesso. — Levantou o braço e remexeu os dedos para provar o que dizia. — A Kat telefonou-me. Pensou que você talvez precisasse de outro par de mãos. Ou, pelo menos, uma mão e uma prótese para tratar da saúde de uns quantos.
Painter olhou para Kat.
Ela manteve-se impávida.
— Pensei que podia usar alguém com mais experiência no terreno.
Painter agradeceu a oferta pois sabia que Kat detestava que Monk se afastasse dela, sobretudo agora que o segundo ilho estava prestes a nascer. Mas Painter recusou por motivos mais práticos.
— Obrigado, mas com a tensão a subir naquela montanha, julgo que uma equipa mais pequena é melhor.
Ao ver a ruga na testa de Kat desaparecer, percebeu que tomara a atitude certa. Con iava que Kat conseguiria substituí-lo na che ia enquanto estivesse ausente — e sabia que, com Monk por perto, estaria concentrada.
O marido era simultaneamente a sua âncora e a água que a mantinha a lutuar. Monk passou o braço à volta da cintura da mulher e colocou a mão em cima da sua barriga. Ela encostou-se a ele.
Resolvida a questão, avançou pelo corredor.
— Tenha cuidado por lá, chefe — gritou-lhe Monk.
Painter sentiu a nostalgia na voz daquele homem. Parecia que a oferta para o acompanhar não vinha unicamente de Kat. Do mesmo modo, a decisão de deixar Monk para trás não era inteiramente por causa dela.
Embora ele fosse de facto a âncora dela, Monk desempenhava esse mesmo papel para mais alguém, um colega que estava a passar um período muito duro.
E Painter suspeitava que estaria a piorar.
17h22
O comandante Grayson Pierce não sabia o que fazer com a mãe que percorria a sala de espera de um lado para o outro.
— Não compreendo porque não posso estar enquanto o neurologista interroga o teu pai — disse ela, frustrada.
— Sabes bem porquê — replicou ele calmamente. — A assistente social explicou. Os testes de acuidade mental que estão a fazer ao pai são mais precisos se não houver parentes presentes.
Ela rejeitou as palavras do ilho com um gesto de impaciência e voltou a atravessar a sala. Viu-a tropeçar e preparou-se para a agarrar, mas ela recuperou o equilíbrio.
Recostando-se na cadeira de plástico, Gray observou a mãe. Desgastada pela preocupação, perdera peso nos últimos meses. A blusa de seda estava-lhe tão larga que pendia dos ombros, mostrando uma alça do sutiã, falta de pudor que normalmente nunca toleraria. Só o seu cabelo grisalho, preso atrás num carrapito, permanecia perfeito. Gray imaginou-a a arreliar-se com isso, a única parte da vida que ela ainda controlava.
Enquanto a senhora Pierce prosseguia o seu vaivém para afastar as preocupações, Gray escutava as palavras abafadas que vinham do consultório. Não as entendia, mas reconhecia as exclamações irritadas do pai. Receava uma explosão da parte dele em qualquer altura e permanecia tenso, pronto a intervir. O pai, que trabalhara numa plataforma petrolífera no Texas, nunca fora um homem calmo e, durante a infância de Gray, tinha repentinas e violentas explosões — temperamento exacerbado por um acidente que o deixou apenas com uma perna boa. Mas, agora que a doença de Alzheimer, em estado bastante avançado, lhe corroía o autocontrolo e a memória, ainda estava mais irascível.
— Devia estar com ele — repetiu a mãe.
Gray não contra-argumentou. Já tivera inúmeras conversas com ambos sobre isso, insistindo em internar o pai numa instituição que lhe prestasse assistência. Mas as suas tentativas depararam com resistência, raiva e suspeita. Os dois recusavam deixar a casa em Takoma Park onde viviam há décadas, preferindo o ilusório conforto do que lhes era familiar ao apoio de uma instituição.
Gray não sabia quanto tempo essa situação poderia ser mantida.
Não apenas para bem do pai, mas igualmente da mãe.
Ela voltou a tropeçar. Ele segurou-a pelo cotovelo.
— Porque não te sentas? Ficas cansada. O exame terminará em breve.
Sentiu os frágeis ossos de ave do braço da mãe ao conduzi-la a uma cadeira. Já falara em particular com a assistente social que se mostrara preocupada com a saúde da mãe — tanto ísica como mental — avisando-o de que era comum uma pessoa que cuidava de outra sucumbir ao stresse e morrer primeiro.
Gray não sabia o que mais fazer. Contratara uma enfermeira a tempo inteiro para ajudar a mãe durante o dia, mas fora uma intrusão encarada com mais ressentimento do que aprovação. E já não era su iciente. Havia problemas crescentes com a medicação, com a segurança dos pais em casa e até com a preparação das refeições. À noite, qualquer telefonema alvoraçava Gray pois estava sempre à espera de uma má notícia.
Propusera mudar-se para casa deles e permanecer lá de noite, mas a mãe recusava — embora Gray achasse que a recusa dela era motivada menos por orgulho do que por essa imposição ao ilho a fazer sentir-se culpada. E, com tudo o que se passava entre pai e ilho, talvez fosse melhor.
Por isso, continuava a ser uma dança lenta entre marido e mulher.
A porta do consultório abriu-se inalmente e Gray endireitou-se na cadeira quando o neurologista entrou na sala. Pela expressão grave do médico, Gray assumiu que a avaliação era negativa. E ao longo dos vinte minutos seguintes, essa suposição foi con irmada. Os sintomas tinham piorado e, a partir deste momento, seria de esperar que o pai tivesse mais di iculdade em vestir-se sozinho ou ir à casa de banho. E a possibilidade de vaguear pelas ruas e perder-se aumentava. A assistente social sugeria que instalassem um sistema de alarme nas portas.
Enquanto conversavam, Gray observava o pai sentado a um canto com a mãe. Parecia a sombra frágil do homem autoritário que fora. Estava sentado com ar carrancudo, resmungando a cada palavra do médico. De vez em quando, a palavra «tretas» escapava dos seus lábios, em tom tão baixo que só Gray a ouvia.
Mas Gray também reparou que a mão do pai agarrava a da mãe com toda a força. Agarravam-se um ao outro, suportando o melhor que podiam o diagnóstico do médico, como se, unicamente através da força de vontade, conseguissem resistir ao declínio inevitável e garantir que nenhum deles jamais perderia o outro.
Por im, após tratar de documentos de seguros e rever receitas, foram libertados. Gray conduziu os pais a casa, certi icou-se de que havia comida para jantar e voltou ao seu apartamento de bicicleta. Pedalou velozmente pelas ruas, tentando desanuviar o espírito.
Ao chegar ao apartamento, tomou um duche demorado, esgotando toda a água quente. A tremer por causa da água fria, limpou-se com uma toalha, vestiu uns calções e encaminhou-se para a cozinha. Ao abrir o frigorí ico para tirar a garrafa de Heineken que sobrara da embalagem de seis que comprara na véspera, reparou na presença de uma pessoa sentada na poltrona reclinável La-Z-Boy.
Virou-se. Normalmente, não era tão pouco observador, coisa que não convinha a um operacional da Sigma. A mulher, toda vestida de cabedal preto, com fechos de correr prateados, estava imóvel como uma estátua.
Um capacete para motocicleta encontrava-se pousado no braço da cadeira.
Gray reconheceu-a, mas isso não lhe acalmou o coração. Os pelos dos braços continuavam arrepiados. E com razão. Era como se, de repente, descobrisse uma pantera na sala de estar.
— Seichan... — murmurou.
A única saudação dela foi descruzar as pernas, mas até este pequeno movimento sugeria a força e a graça armazenadas no seu corpo esguio como um chicote. Olhos verdes cor de jade itaram-no, avaliando-o com uma expressão inescrutável. Na sombra, as suas feições euro-asiáticas pareciam esculpidas em mármore claro. A única suavidade era a do sedoso cabelo solto, mais comprido, até aos ombros, e não o habitual corte curto. O
canto esquerdo dos lábios levantava-se ligeiramente, divertida pela surpresa — ou tratava-se de um jogo de sombras?
Não se deu ao trabalho de lhe perguntar como entrara no seu apartamento trancado nem porque viera de repente sem se anunciar. Era uma assassina hábil, antigamente contratada por uma organização criminosa chamada Confraria — mas nem esse nome era verdadeiro, apenas um pseudónimo útil para usar em relatórios de destacamentos especiais ou em instruções secretas. A sua identidade e objetivo verdadeiros permaneciam desconhecidos, até mesmo para os seus agentes. A organização operava através de células individuais em todo o mundo, cada uma delas funcionando de modo independente e desconhecendo o que faziam as outras.
Depois de atraiçoar os antigos patrões, Seichan icou sem casa e sem pátria. Figurava na lista das pessoas mais procuradas de todos os serviços de informação, incluindo os norte-americanos. A Mossad tinha ordens para a matar logo que fosse vista. Recrutada o iciosamente pelo diretor Crowe para uma missão demasiado secreta para aparecer em qualquer relatório — descobrir a identidade de quem mandava realmente na Confraria — há um ano que trabalhava para a Sigma.
Mas a sua cooperação não enganava ninguém. Era motivada pela sobrevivência e não por lealdade para com a Sigma. Tinha de destruir a Confraria antes que esta a destruísse. Apenas um punhado de pessoas no governo estava ao corrente do acordo especial com esta assassina. Para ajudar a manter este nível de secretismo, Gray fora designado seu supervisor direto e único contacto com a Sigma.
Tinham decorrido cinco semanas desde que contactara com ele pela última vez. E fora por telefone. Encontrava-se algures em França e ainda não tinha encontrado qualquer pista.
Portanto, o que estava a fazer aqui agora?
Ela respondeu à pergunta silenciosa.
— Temos um problema.
Gray não desviou os olhos dela. Embora devesse estar preocupado, não pôde deixar de sentir uma centelha de alívio. Pensou na garrafa de cerveja no frigorí ico, lembrando-se porque precisava dela. Ficou, de repente, satisfeito pela distração. Algo que não envolvia assistentes sociais, neurologistas nem receitas.
— O problema é teu. Tem alguma coisa que ver com a situação no Utah?
— Que situação? — perguntou ela, semicerrando os olhos.
Ele observou-a, procurando um sinal de surpresa no seu rosto. A bomba tinha certamente chamado a atenção da Sigma e o aparecimento repentino de Seichan despertara a desconfiança de Gray.
Ela encolheu os ombros.
— Vim mostrar-te isto.
Levantou-se, passou-lhe um maço de papéis e encaminhou-se para a porta. Era óbvio que ele a deveria seguir. Olhou distraidamente para o símbolo na primeira página. Não fazia sentido.
Lançou-lhe um olhar quando ela chegou à porta.
— Algo provocou um grande sarilho — disse ela. — Mesmo aqui, no vosso pátio das traseiras. Qualquer coisa em grande. Talvez seja a oportunidade de que temos estado à espera.
— Como assim?
— Há doze dias, todas as antenas que espalhei pelo globo começaram de repente a dar sinal. Um autêntico tremor de terra. A seguir, todos os contactos que tenho andado a aliciar ficaram em silêncio.
Há doze dias...
Gray apercebeu-se de que essa data coincidia com o dia em que o rapaz índio fora morto no Utah. Haveria alguma ligação?
— Algo grande despertou o interesse da Confraria — continuou Seichan. — E o tremor de terra que mencionei... o seu epicentro foi aqui em Washington, DC. — Encarou-o da porta. — Sinto, até mesmo agora, forças invisíveis a posicionarem-se. E é no decorrer deste género de caos que são abertas portas seladas apenas o tempo su iciente para bits de informação explodirem.
Gray notou que os olhos dela brilhavam e que a sua respiração acelerava de excitação.
— Descobriste qualquer coisa.
Ela apontou para o maço de papéis nas mãos dele.
— Começa aí.
Ele voltou a olhar para o símbolo na primeira página.
Era o Grande Selo dos Estados Unidos.
Não compreendeu. Folheou as páginas seguintes. Eram uma mistura de notas de pesquisa datilografadas, esboços e fotocópias de uma antiga carta escrita à mão em francês. Apesar de a tinta estar desbotada, a caligra ia era precisa. Leu o nome do destinatário da carta, Archard Fortescue. Soava a francês. Mas foi a assinatura ao fundo da página de quem escrevera a carta que chamou a atenção de Gray. Tratava-se de um nome que todas as crianças da América em idade escolar conheciam.
Benjamin Franklin.
Franziu o sobrolho e voltou a olhar para ela.
— O que têm estes papéis que ver com a Confraria?
— Tu e o Crowe disseram-me para encontrar a verdadeira origem desses filhos da mãe.
Seichan virou-se e abriu a porta. Antes de ela desviar o olhar, Gray viu uma expressão de medo assombrar as suas feições.
— Não vão gostar do que eu descobri.
Ele aproximou-se, atraído pela ansiedade dela e pela sua própria curiosidade.
— O que encontraste?
Ao sair para a noite, respondeu: — A Confraria... data do tempo da fundação da América.
6
31 DE MAIO, 06H24
PREFEITURA DE GIFU, JAPÃO
Os dados não faziam sentido.
Jun Yoshida estava sentado no seu gabinete do observatório Kamioka.
Fitava o monitor do computador, ignorando a dor nas costas.
A origem dos dados no ecrã estava a cerca de mil metros por baixo dos seus pés, no centro do monte Ikeno. Enterrado no subsolo e protegido dos raios cósmicos que poderiam interferir com a deteção das partículas subatómicas evasivas, encontrava-se o detetor Super-Kamiokande, um tanque de aço inoxidável com quarenta metros de altura, cheio com cinquenta mil toneladas de água ultrapura. A inalidade desta instalação maciça era estudar uma das mais pequenas partículas do universo, o neutrino — partícula subatómica tão pequena que não possui carga elétrica e quase não tem massa e é tão minúscula que pode passar através de matéria sólida sem a perturbar.
Vindos do espaço, os neutrinos atravessam constantemente a terra.
Sessenta mil milhões passam através da ponta do dedo de uma pessoa todos os segundos. São uma das partículas fundamentais do universo e, no entanto, permanecem um mistério aos olhos da física moderna.
Abaixo do solo, o detetor Super-Kamiokande procurava gravar e estudar essas partículas evasivas. Em raras ocasiões, um neutrino colidia com uma molécula — uma molécula de água, no caso do detetor. O impacte despedaçava o núcleo e emitia um cone azul de luz. Só a mais absoluta escuridão permitia detetar essa breve e in initesimamente pequena explosão de luz e, para a captar, eram necessários treze mil tubos fotomultiplicadores alinhados no tanque com água, a espreitar naquela escuridão preta como breu para marcar a passagem de um neutrino.
Porém, mesmo com este enorme equipamento, era di ícil encontrar essas partículas. Ao longo do ano, o número de neutrinos captados pelos fotomultiplicadores mantivera um ritmo razoavelmente estável — motivo por que os dados do monitor lhe faziam confusão.
Jun consultou o grá ico no ecrã. Mostrava a atividade dos neutrinos nas últimas doze horas.
Passou um dedo pelo ecrã, traçando o grá ico. A ponta do dedo acusou um pico cerca das três horas desta manhã. Marcava uma explosão maciça e repentina de neutrinos ocorrida há três horas, a um nível nunca assinalado.
Tem de ser um erro de laboratório. Um problema técnico qualquer.
Toda a organização passara três horas a localizar problemas em todas as peças de equipamento e de eletrónica. No mês seguinte, a sua equipa iria participar numa experiência conjunta com o CERN — Organização Europeia para a Investigação Nuclear — na Suíça.
Se isso tivesse de ser cancelado...
Levantou-se para esticar as costas doridas e aproximou-se da janela.
Adorava a luz a esta hora matinal. Era perfeita para fazer fotogra ia, um dos seus passatempos. Fotogra ias que tirara do monte Fuji com o sol nascente a refletir-se no lago Kawaguchi, outras de Nara Pagoda contra um fundo de áceres vermelhos, ou a sua favorita, as cataratas de Shiraito no inverno, com esqueléticas árvores embutidas em gelo a espalhar a luz da manhã em arco-íris, decoravam as paredes de sua casa.
Avistava da janela a paisagem menos pitoresca das instalações do observatório, mas havia um pequeno curso de água em baixo, ao longo de um jardim zen, a rodopiar em torno de um alto rochedo escarpado. Sentia-se muitas vezes como essa pedra, sozinho e curvado, arrastado pela vida à sua volta.
A porta abriu-se atrás dele, interrompendo as suas divagações. Uma colega loura de pernas altas, a doutora Janice Cooper, uma estudante pós-graduada de Stanford, entrou lestamente na sala. Era trinta anos mais nova do que Jun e tão magra quanto Jun era gordo. Cheirava sempre a óleo de coco e, demasiado repleta do sol da Califórnia para se manter quieta, portava-se como se fosse partir a qualquer instante.
Às vezes, a simples presença dela fatigava-o.
— Doutor Yoshida! — exclamou, respirando com di iculdade como se tivesse vindo a correr. — Acabei de ter notícias do Observatório de Neutrinos de Sudbury, no Canadá, e do IceCube, na Antártida. Ambos assinalaram picos elevados de neutrinos na mesma altura.
Era óbvio que ela queria acrescentar mais qualquer coisa, mas, necessitando de um momento para pensar, Jun ergueu a mão para soltar um suspiro de alívio. Os dados não se deviam a um problema técnico. Isso resolvia um mistério — mas havia outra questão ainda mais perturbadora: qual era a origem de uma tal explosão de neutrinos. O nascimento de uma supernova no espaço? Uma explosão solar maciça?
Como se lesse os seus pensamentos, a doutora Cooper retomou a palavra.
— O Riku pergunta se o senhor não deseja ir ter com ele. Pensa que conhece uma forma para localizar com precisão a origem da explosão de neutrinos. Quando saí, ele ainda estava a trabalhar nisso.
Jun não tinha tempo para as excentricidades do doutor Riku Tanaka.
Com provas de que o impulso de neutrinos não era o resultado de um defeito no sistema, concluiu que a resolução do mistério podia aguardar umas horas. Estivera acordado toda a noite e, com sessenta e três anos, já não era nenhum jovem.
— Ele insistiu — prosseguiu a doutora Cooper. — Disse que era importante.
— Tudo é importante para o doutor Tanaka — resmungou Jun em voz baixa sem se dar ao trabalho de ocultar o seu desdém.
No entanto, uma ponta de excitação soava na voz da doutora Cooper.
— O Riku acha que os neutrinos podem ser geoneutrinos.
Ele lançou-lhe um olhar penetrante.
— É impossível.
A maior parte dos neutrinos provinha da radiação do universo: explosões solares, estrelas moribundas, colapso de galáxias. Mas alguns neutrinos — chamados geoneutrinos — tinham a sua origem na Terra: queda de isótopos no solo, raios cósmicos que atingem a camada superior da atmosfera e até explosões de bombas atómicas.
— Mas o Riku acredita que sim — insistiu ela.
— É absurdo. Seria preciso o equivalente a cem bombas de hidrogénio para gerar uma explosão de neutrinos desta magnitude.
Jun encaminhou-se subitamente para a porta. A dor subiu-lhe pela perna direita, uma explosão de ciática.
Talvez seja melhor ir falar com ele.
O desejo surgiu não tanto da necessidade de descobrir se o doutor Tanaka estava certo, mas de provar que o jovem ísico se enganava. Seria um erro raro e Jun não queria perder a ocasião.
Deixando-se icar para trás a im de terminar o seu trabalho, a doutora Cooper segurou a porta para ele passar. Jun fez o possível para caminhar sem coxear até ao elevador que descia dos escritórios para o laboratório subterrâneo. Antes de terem instalado o elevador, o único acesso ao fundo da montanha era numa vagoneta através de um túnel de uma antiga mina.
Apesar de este meio ser mais rápido, também era mais enervante.
O elevador precipitava-se como uma pedra e ele sentia o estômago subir-lhe à garganta. E, como sofria de claustrofobia, tinha constantemente consciência dos metros cúbicos de rocha sobre a sua cabeça. Quando inalmente chegou ao fundo do poço, as portas abriram-se na sala de controlo do detetor. Dividida em gabinetes e cubículos, era igual aos outros laboratórios à superfície.
Mas Jun não se deixou enganar.
Ao sair do elevador, manteve-se curvado, sentindo o peso do monte Ikeno por cima. Encontrou o colega de pé, ao lado de um monitor LED
montado na parede ao fundo da sala principal.
O doutor Riku tinha vinte e poucos anos e pouco mais de um metro e meio de altura. O rapaz maravilha da ísica tinha dois doutoramentos e estava a preparar o terceiro.
Naquele instante, o jovem japonês estava hirto, com as mãos atrás das costas, a olhar para um mapa giratório do mundo. Colunas de dados desfilavam na metade esquerda do ecrã.
Tanaka mantinha a cabeça de lado, como se estivesse atentamente a escutar um som que só ele conseguia ouvir, sussurros que talvez dessem resposta aos segredos do universo.
— Os resultados são intrigantes — disse sem se virar. Apercebera-se possivelmente do reflexo de Jun num dos monitores desligados ao lado.
Jun franziu o sobrolho perante a falta da mais elementar cortesia. Nem vénia de saudação nem reconhecimento da sua di iculdade em vir cá abaixo. Dizia-se que Tanaka sofria da síndrome de Asperger, uma forma atenuada de autismo. Mas, pessoalmente, Jun acreditava que o seu colega era simplesmente malcriado e usava esse diagnóstico como desculpa.
Jun juntou-se-lhe diante do monitor, falando-lhe com brusquidão.
— Que resultados tem para me mostrar?
— Tenho andado a reunir dados provenientes dos laboratórios de investigação de neutrinos em todo o mundo. Da Rússia, no lago Baical, dos EUA, de Los Alamos, dos britânicos no observatório de Sudbury...
— Eu ouvi falar disso — interrompeu Jun. — Todos assinalaram impulsos mais elevados de neutrinos.
— Pedi a outros laboratórios que me enviassem dados. — Tanaka apontou com a cabeça para as colunas que passavam no ecrã. — Os neutrinos viajam em linha reta a partir do ponto onde foram criados. Nem a gravidade nem os campos magnéticos mudam o seu rumo.
Jun irritou-se. Não precisava que lhe izessem uma palestra sobre noções tão elementares.
Tanaka pareceu não se aperceber da afronta e continuou.
— Por isso, bastava triangular simplesmente os dados provenientes de vários pontos do globo para encontrar a origem da explosão.
Jun pestanejou, surpreendido. Era uma solução simples. Corou. Como diretor, deveria ter sido o primeiro a pensar nisso.
— Passei o programa quatro vezes, re inando os parâmetros de busca a cada passagem. A origem parece ser definitivamente terrestre.
Tanaka manipulou o teclado por baixo do monitor. Surgiram umas linhas inas no globo do ecrã. Incluindo, primeiro, o hemisfério do Oeste, depois a América do Norte e, a seguir, a metade ocidental dos Estados Unidos. Após mais uns toques no teclado, as linhas cruzadas tornaram-se mais inas e a imagem global concentrou-se numa secção das Montanhas Rochosas.
— A origem encontra-se aqui.
Jun observou o território realçado no ecrã.
Utah.
— Como é possível? — balbuciou.
Era di ícil entender estes resultados impossíveis. Lembrou-se da sua conversa com a doutora Cooper e que lhe dissera que seriam necessárias cem bombas de hidrogénio para gerar uma explosão de neutrinos com aquela magnitude.
Ao seu lado, Tanaka, insuportavelmente calmo, encolheu os ombros. Jun refreou o desejo de o esbofetear para obter uma reação. Em vez disso, fixou o ecrã e a topografia da montanha com uma única questão em mente.
O que raio estava a acontecer?
7
30 DE MAIO, 15H52
REGIÃO REMOTA DO UTAH
Hank deitado sobre a montada para não tocar nos ramos das árvores enquanto a égua descia a encosta a galope, através de uma loresta de abetos e pinheiros, não conseguia evitar icar todo arranhado. Kai, agarrada à sua cintura, não se saía melhor.
Ouvia-a gemer de dor a cada pulo na sela que partilhavam, mas, sobretudo, apercebeu-se do seu medo, sentindo a respiração ofegante da rapariga e os dedos a fincarem-se-lhe na barriga.
Hank deixava Mariah correr à rédea solta, con iando no seu instinto para escolher o terreno onde assentava as patas. Dava-lhe apenas pequenos puxões para a manter nos atalhos abrigados pela loresta. O cão, Kawtch, de barriga a rasar o solo, acompanhava-os seguindo um percurso mais direto através das árvores.
O helicóptero militar perseguia-os, troando por cima da copa das árvores. A vegetação oferecia alguma proteção, mas Hank tinha cada vez mais a certeza de que os seguiam pelo calor do corpo, utilizando raios infravermelhos.
Um pouco à esquerda, uma rajada de tiros estilhaçou os ramos e as folhas de um arbusto, ferindo-lhe o rosto. A pontaria estava a melhorar.
Quando o barulho das armas esmoreceu, um grito soou atrás dele.
— Professor! — chamou Kai, arriscando-se a soltar uma mão para apontar.
À frente, um prado iluminado pelo sol barrava-lhes o caminho. Era extenso e coberto de ervas, pontilhado de pequenos zimbros e uns a loramentos de granito. A loresta continuava para lá do prado, mas como chegar? Seriam facilmente apanhados em campo aberto.
Como se entendesse o que se passava, Mariah começou a abrandar o passo. Outra rajada ecoou atrás deles.
Estão a tentar afugentar-nos da floresta.
Sem outro remédio senão obedecer, Hank esporeou a égua e partiu a galope, mais depressa do que era prudente. Assobiou para manter Kawtch ao seu lado e atravessaram vertiginosamente o prado em direção ao a loramento rochoso mais próximo. Os tiros perseguiram-nos, rasgando sulcos paralelos no meio das ervas quando as metralhadoras do helicóptero começaram a disparar.
Hank contornou o a loramento como se fosse um obstáculo numa corrida. Os cascos de Mariah afundaram-se na terra solta e na erva. Hank debruçou-se na sela para manter o equilíbrio, mas sentiu os braços de Kai, apanhada de surpresa por aquela curva abrupta, escorregarem.
— Agarre-se bem! — gritou-lhe.
Mas ela não foi a única a ser surpreendida pela manobra.
As balas ricochetearam nas pedras que os protegiam e o helicóptero passou por cima, falhando o alvo. Depois virou, rodopiando sobre si mesmo, e voltou à carga.
Hank avançou, a galope, direito ao helicóptero que mergulhava na direção deles. Tirou a pistola do coldre. Era uma Ruger Blackhawk, su icientemente poderosa para abater um urso selvagem. Não sabia se o facto de um nativo americano disparar contra um helicóptero da Guarda Nacional seria considerado um ato de guerra, mas não fora ele quem começara esta batalha. E, além disso, o seu objetivo não era matar. Tratava-se apenas de uma manobra de diversão.
Puxou o gatilho e disparou até esvaziar o carregador enquanto galopava em direção ao helicóptero. Não viu qualquer motivo para se reter.
E umas balas até acertaram no alvo, rachando o para-brisas.
O ataque apanhou os soldados desprevenidos.
O aparelho baixou rapidamente, sacudindo o atirador e interrompendo os disparos. Hank usou os calcanhares para incitar Mariah e colocou-se por baixo do helicóptero. A altitude era tão baixa que Hank, levantando um braço, podia tocar-lhe.
Avistou um dos atiradores vestido com a farda preta dos comandos pendurado numa escotilha aberta. Entreolharam-se e Mariah afastou-se rapidamente. Com o ronco ensurdecedor dos motores e o zumbido das pás do rotor, a égua não necessitava de mais exortações.
Mariah partiu a galope para o bosque, escondendo-se entre as sombras.
E Kawtch alcançou a orla da floresta, uns metros à esquerda.
O motor do helicóptero soltou um uivo fantasmagórico ao elevar-se novamente para continuar a perseguição.
Este jogo do gato e do rato não podia durar para sempre. Até agora, tiveram sorte, mas, mais adiante, quando chegassem perto do sopé da montanha, as lorestas alpinas seriam substituídas por alguns carvalhos e campo aberto. O helicóptero acelerou atrás deles. Os perseguidores não se deixariam surpreender novamente.
E Hank não tinha mais balas.
Um brilho prateado atraiu o seu olhar. Um pequeno riacho cavado no glaciar transbordava com neve derretida e água da chuva numa séria de cataratas. Pressionou os joelhos para guiar Mariah até lá.
Chegados à margem, bateu ligeiramente com os calcanhares nos lancos da égua que saltou para a água com grande estardalhaço. Mas, a partir daqui, teriam de se separar.
Hank largou as rédeas, agarrou no pulso de Kai e ambos rolaram da sela. Deu uma palmada na garupa de Mariah com a outra mão, despedindo-se dela e ordenando-lhe que continuasse a avançar.
Ela saltou para fora do rio quando Kai e Hank caíram na água gelada.
Kawtch juntou-se-lhes. A corrente arrastou-os. A última coisa que ouviu foi um grito da rapariga.
Kai veio à super ície, esbracejando e batendo com o calcanhar num corpo. Demorara a reagir quando fora puxada da sela, mas, assim que sentiu o frio, soltou um grito, um grito preso dentro dela desde a explosão perto da gruta.
Ficou com a boca cheia de água.
Sem fôlego, engasgou-se enquanto o seu corpo rodopiava, embatendo contra rochas escorregadias. A água fria entrou-lhe pelo nariz e, a seguir, a sua cabeça voltou à super ície. Tossiu e desatou aos gritos. Foi apanhada por uns braços que a puxaram para a margem.
— Fique aqui — murmurou Hank.
Com o cabelo colado ao crânio, parecia meio afogado. O cão subiu para um penhasco.
— Porquê? — perguntou ela, batendo os dentes de frio e susto.
Ele apontou para o céu.
Kai avistou o helicóptero a desaparecer por cima de uma cadeia de montanhas a oeste.
— Seguiam-nos através do calor dos nossos corpos — explicou o professor. — Foi por isso que não conseguimos escapar na loresta.
Esperemos que persigam a garupa suada da Mariah até aos bosques.
Kai compreendeu.
— E a água fria... ajuda a esconder-nos.
— Uma pequena falcatrua. Que espécie de índios seríamos se não conseguíssemos enganar um caçador na floresta?
Apesar do horror da situação, os olhos dele sorriam. Kai sentiu-se mais confortável.
— Vamos — disse Hank, ajudando-a a sair do riacho gelado.
O cão saltou para a margem, sacudindo-se e salpicando tudo à sua volta como se nada tivesse acontecido.
Kai tentou fazer a mesma coisa, sacudindo o cabelo e o blusão para se livrar do frio. Uma das placas de ouro caiu. Os olhos do professor ixaram-se na placa, mas não fez um movimento para a ajudar a transportá-las. Ela apanhou-a e voltou a guardá-la juntamente com a outra no blusão.
O professor Kanosh apontou para a encosta.
— Temos de continuar a andar para aquecer.
— Para onde vamos? — perguntou ela ainda a tiritar de frio.
— Primeiro, vamos afastar-nos deste lugar tanto quanto possível. O
truque só vai resultar até a Mariah sair da floresta. Assim que toparem que não há ninguém montado nela, voltarão para trás. E, nessa altura, nós já queremos estar longe.
— O que vamos fazer?
— Regressar à civilização. Procurar ajuda. Rodearmo-nos de gente que esteja do nosso lado.
Desceu a montanha, seguindo por um estreito caminho de cabras, mas Kai reparou que ele parecia preocupado. Lembrou-se da chamada que ele interrompera quando a encontrara. O tio Crowe era uma pessoa importante em Washington, trabalhava num departamento relacionado com a segurança nacional. Não era um parente chegado, mas meio tio do lado do pai. Encontrara-se com ele apenas algumas vezes, a última no funeral do pai. Mas a tribo Pequot era uma grande família. O clã era um novelo de laços de sangue e relações familiares. Tinha milhares de tias e tios. Quando havia sarilho, todos sabiam que um telefonema para o tio Crowe ajudava a resolver o assunto.
— Sei de alguém que nos pode ajudar — disse.
Enquanto caminhava, meteu a mão no bolso das calças e tirou o telemóvel. Pingava por causa da queda no riacho e não funcionaria. Voltou a guardá-lo com ar irritado. De qualquer modo, duvidava que tivesse sinal.
No alto da montanha, tivera a sorte de conseguir uma única barra no visor.
O professor reparou que ela continuava a resmungar.
— Muito bem, a primeira coisa que temos de fazer é encontrar um telefone antes de eles sentirem novamente o nosso cheiro. Mesmo que para isso tenhamos de nos entregar à polícia estadual ou à Guarda Nacional.
Ela tropeçou.
— Mas são justamente esses que queriam matar-nos.
— Não. Reparei nas fardas. Eram soldados, mas não pertenciam a nenhuma unidade da Guarda Nacional.
— Então quem eram?
— Talvez fossem do governo ou um grupo mercenário a aproveitar-se de algum prémio de resgate. De qualquer maneira, só estou certo de uma coisa.
— Qual é?
As palavras dele gelaram-na mais do que o mergulho no riacho.
— Quem quer que sejam, querem vê-la morta.
8
30 DE MAIO, 21H18
SALT LAKE CITY, UTAH
— Ela deixou pelo menos algum número de telefone? — perguntou Painter ao sentar-se no Chevy Tahoe com matrícula do governo, estacionado na pista ao lado do jato privado Gulfstream que os trouxera de DC.
Kowalski já estava ao volante, ajustando o assento para acomodar o seu enorme corpo. O terceiro companheiro de equipa, Chin, apanhara um helicóptero da Guarda Nacional que se dirigia para o local da explosão nas Montanhas Rochosas — mas antes de Painter poder concentrar-se totalmente nesse anormal acontecimento, tinha outros assuntos para tratar.
A voz de Kat soava metálica através da comunicação encriptada.
— Foi tudo o que pude apurar da sua sobrinha. Mas ela parecia assustada. E paranoica. Falava de um telemóvel descartável, mas deixou o número e pediu para que lhe telefonasse logo que aterrasse.
— Dê-me o número.
Ela assim fez, mas tinha mais notícias.
— O comandante Pierce também nos contactou. Pelo tom da sua voz, não me pareceu que tivesse boas notícias. Está com a Seichan.
Os dedos de Painter crisparam-se à volta do telefone.
— Ela está de volta aos Estados Unidos?
— Parece que sim.
Painter fechou os olhos e respirou fundo. Não fora informado de que Seichan voltara aos Estados Unidos. Mas com o treino e as ligações dela, não se deveria admirar. No entanto, o seu aparecimento repentino sugeria que algo importante estava para acontecer.
— O que se passa?
— Ela afirma ter uma pista sobre o Echelon.
— Que género de pista?
Endireitou-se no assento enquanto Kowalski mantinha o motor do SUV
a trabalhar. Echelon era o nome de código dos chefes da organização terrorista conhecida por Confraria. Começava a arrepender-se de ter partido de Washington.
— O Gray não deu mais pormenores. Disse apenas que a Seichan precisava da sua ajuda para ter acesso aos Arquivos Nacionais. Vão encontrar-se esta noite com o curador de um museu.
Painter franziu o sobrolho. Porque andava Seichan a farejar à volta dos Arquivos Nacionais? O museu era um armazém de manuscritos e documentos históricos americanos. O que é que o seu conteúdo tinha que ver com a Confraria? Consultou o relógio. Eram nove e meia, um pouco depois da meia-noite em DC. Era uma hora tardia para um encontro com o pessoal do museu.
— O Gray disse que, se houvesse algo de novo, voltaria a telefonar. Eu mantê-lo-ei informado.
— Faça-o. Vou ver se consigo resolver este assunto com a minha sobrinha e volto amanhã de manhã para DC. Até lá, continue a defender o forte.
Kat desligou e Painter ligou para o número de telefone que memorizara. Uma voz ansiosa atendeu ao primeiro toque.
— Tio Crowe?
— Kai, onde estás?
Seguiu-se um longo momento de silêncio. Ouviu uma voz grave no fundo a aconselhá-la a responder.
A voz dela parecia hesitante, entre as lágrimas e o medo.
— Estou... estamos em Provo. No campus da Universidade Brigham Young... No gabinete do professor Kanosh...
Painter semicerrou os olhos. Porque é que aquele nome lhe parecia familiar? Lembrou-se de um relatório que lera a caminho de Salt Lake City, uma informação preliminar sobre o que acontecera na montanha. O
professor fora um amigo íntimo da antropóloga morta pela explosão.
Kai, ainda aterrorizada, indicou-lhe como chegar ao gabinete do professor.
Ele fez o que pôde para a tranquilizar.
— Posso estar em Provo dentro de uma hora. — Painter fez sinal a Kowalski para sair do aeroporto. — Não saiam daí até eu chegar.
Outra voz substituiu a de Kai ao telefone.
— Senhor Crowe, não me conhece, mas eu chamo-me Hank Kanosh.
— O senhor era colega de Margaret Grantham e encontrava-se no local da explosão.
Painter colocou a pasta sobre os joelhos. Tinha uma icha do homem, juntamente com fichas de outras pessoas que testemunharam a explosão.
Uma pausa indicou a surpresa do professor, mas o tom da sua voz sugeria que a hesitação era mais do que apenas surpresa.
— A Maggie... Ela preferia que lhe chamassem Maggie.
Painter optou por falar em voz mais amena.
— Lamento a sua perda.
— Agradeço-lhe. Mas é melhor que ique a saber que eu e a sua sobrinha fomos atacados enquanto tentávamos fugir das montanhas. Um helicóptero da Guarda Nacional disparou sobre nós.
— O quê?
Kat não referira que a suposta terrorista fora avistada e muito menos que tinham disparado sobre ela.
— Julgo, contudo, que não eram soldados da Guarda Nacional. Parecia mais um grupo de mercenários, talvez caçadores de resgates, que se apoderou de um helicóptero da Guarda.
Painter não aceitava aquela explicação, especialmente porque nada daquilo fora transmitido pelos canais adequados. Mais alguém teria tentado prender ou eliminar os supostos terroristas. O que levantava outro receio.
— Professor Kanosh, acha que pode ter sido reconhecido por essa gente?
A incerteza fez-lhe tremer a voz.
— Não... creio. Passámos a maior parte do tempo a coberto das árvores e eu tinha um chapéu na cabeça. Mas, se reconheceram, acha que podem vir à nossa procura aqui? Devia ter pensado nisso.
— Não havia motivo. — A paranoia faz parte integrante do meu trabalho. — Mas, como precaução, há algum lugar para onde o senhor e a Kai possam ir que não conduza diretamente a si?
Painter podia praticamente ouvir as engrenagens a rodar na cabeça do professor.
— Tenho de fazer umas veri icações no edi ício das ciências da Terra aqui ao lado — respondeu inalmente Kanosh. — Poderíamos encontrar-nos lá.
— Parece-me bem.
Depois de obter a direção, Painter desligou. Kowalski ia a caminho do Sul na Interestatal 15.
— Faltam sessenta e poucos quilómetros para chegarmos a Provo, informou Kowalski, mastigando a ponta de um charuto apagado.
Painter leu a estimativa do tempo que demoraria no GPS.
— Cinquenta e dois minutos — resmungou em voz baixa.
Kowalski piscou um olho ao chefe.
— Se for preciso, posso lá estar em quarenta e dois minutos.
Fez roncar o motor e levantou uma sobrancelha interrogadora.
Painter afundou-se no assento, pensando com o coração a bater nos tipos que perseguiam Kai e o professor.
— E que tal em trinta e dois minutos?
Kowalski sorriu de esguelha e acelerou.
— É um desafio.
Painter foi impelido para trás quando o SUV ganhou velocidade.
Embora devesse icar nervoso quando a agulha do ponteiro do velocímetro se aproximou dos cento e sessenta quilómetros, sentiu-se aliviado por ter vindo a Utah. Era a con irmação de que os seus instintos não de inharam durante o tempo que passara debaixo do Castelo Smithsonian.
Tramava-se algo importante por estas bandas.
E talvez não somente aqui.
Pensou na chamada de Kat para o informar do súbito reaparecimento de Seichan, que voltara à super ície com uma dica quanto à verdadeira identidade dos chefes da Confraria. Era raro que qualquer informação transpirasse das caves dessa organização. Só algo de signi icativo os fazia baixar a guarda.
Como esta misteriosa explosão, por exemplo.
Podia estar enganado, mas não acreditava em coincidências. E, se tivesse razão, tinha pelo menos um dos seus melhores homens a seguir essas pistas na Costa Leste. Apesar da hora tardia, deveria estar a preparar-se para começar.
Se o homem conseguisse manter-se concentrado.
9
30 DE MAIO, 23H48
WASHINGTON, DC
Gray seguiu Seichan até à fachada com colunas do edi ício dos Arquivos Nacionais. Era uma noite fria de primavera, um último sopro de frio do inverno antes de o húmido e pantanoso verão da capital federal começar.
Poucos carros percorriam as ruas a esta hora tardia.
Após o repentino aparecimento de Seichan no seu apartamento, Gray vestira um par de calças pretas, botas e uma t-shirt do exército de mangas compridas, e um sobretudo de lã que lhe dava pelos joelhos. Seichan parecia alheia ao frio e usava apenas uma ina blusa carmesim por baixo do blusão de motociclista aberto. As calças de cabedal contornavam-lhe as curvas do corpo, mas os seus modos não eram sedutores. Caminhava com passos determinados e os seus olhos captavam qualquer estremecimento de ramos agitados pelo vento. Era a corda de um piano esticada até ao ponto de rotura. Mas tinha de o ser para sobreviver.
Dirigiram-se para a entrada do departamento de investigação dos arquivos na Pennsylvania Avenue. Comparado com a entrada pública com as gigantescas portas de bronze do outro lado do edi ício, este acesso não valia a pena ser descrito. Ia dar à rotunda principal dos arquivos onde se exibiam as cópias originais da Declaração de Independência, da Constituição e da Declaração dos Direitos, todas conservadas dentro de armários de vidro cheios de hélio.
Mas não era por causa desses documentos que vinham fazer esta visita à meia-noite. O edi ício continha mais de dez mil milhões de arquivos que cobriam toda a história americana, catalogados e empilhados numa área de oitenta mil metros quadrados. Na opinião de Gray, iriam precisar de ajuda para encontrar o documento que procuravam.
Ao aproximarem-se da entrada, a porta abriu-se. Gray hesitou até ver um vulto magro mostrar-se e acenar-lhes com brusquidão. Tinha um ar irritado. O doutor Eric Heisman era um dos curadores do museu e especialista em história americana colonial.
— O vosso colega já está lá dentro — disse em jeito de saudação.
O homem tinha uma barbicha e o cabelo comprido, branco como a neve, caía-lhe ao longo do pescoço. Enquanto mantinha a porta aberta para entrarem, manipulava nervosamente os óculos presos numa ita à volta do pescoço. Não parecia muito satisfeito por ter sido incomodado a esta hora.
Chamado à pressa, estava vestido com calças de ganga e uma camisola.
Gray reparou no emblema dos Washington Redskins — o per il de um guerreiro nativo com penas — bordado na camisola. Considerando o assunto que tencionava abordar, achou o símbolo irónico. A especialização do doutor Heisman abrangia as relações entre as lorescentes colónias americanas e os povos indígenas que os colonos encontraram a viver no Novo Mundo. Era o especialista de que Gray precisava para avançar com a investigação.
— Façam o favor de me seguir — disse Heisman. — Reservei uma sala junto dos principais documentos. O meu assistente mostrar-vos-á os arquivos de que precisarem. — Voltou a olhar para eles quando atravessavam a sala de entrada. — Isto é muito pouco ortodoxo. Até mesmo os funcionários do Supremo Tribunal não solicitam documentos fora das horas de expediente. Se me tivessem dito qual o assunto específico que queriam investigar, teria sido mais fácil.
O curador parecia preparado para os admoestar durante mais tempo, mas o seu olhar pousou no rosto de Seichan. O que viu silenciou as suas queixas. Afastou-se rapidamente.
Gray itou-a. Ela desviou o olhar e levantou uma sobrancelha com ar inocente. Quando Seichan se virou, ele notou uma pequena cicatriz por baixo da sua orelha esquerda, meio escondida por uma madeixa de cabelo caída. Tinha a certeza de que era recente. Era evidente que o seu envolvimento com a Confraria fora duro.
Seguindo o curador através de um labirinto de salas, chegaram a uma pequena sala com uma mesa de conferências e uma parede revestida com leitores de micro ichas. Duas pessoas esperavam por eles. Uma jovem com aspeto de universitária e pele de ébano que podia ter saído de uma revista de moda. O vestido preto justo que moldava a sua igura ainda realçava mais a sua aparência e o rosto perfeitamente maquilhado sugeria que não se encontrava em casa quando fora chamada.
— A minha assistente, Sharyn Dupre. Fala luentemente cinco línguas, mas a sua língua materna é o francês.
— Prazer em conhecê-los — cumprimentou-os, com uma voz sedosamente grave e um ligeiro sotaque árabe.
Gray apertou-lhe a mão. É argelina, presumiu, por causa da entoação melodiosa. Apesar de aquele país norte-africano se ter libertado do jugo dos colonialistas franceses no princípio dos anos sessenta, a língua francesa continuava a ser falada.
— Desculpem tê-los feito esperar — disse Gray.
— Não faz mal — respondeu uma voz brusca do outro lado da mesa.
Era de um homem que Gray conhecia bem. Monk Kokkalis estava sentado com os pés em cima da mesa com uma sweatshirt e um boné de basebol. O seu rosto brilhava sob as lâmpadas luorescentes. Inclinou a cabeça para a esbelta assistente.
— Sobretudo atendendo à companhia que tive.
A rapariga baixou timidamente a cabeça com um sorriso nos lábios.
Monk conseguira chegar antes deles aos Arquivos Nacionais. É verdade que o comando da Sigma icava a curta distância do National Mall e Kat insistira para que o marido se juntasse a eles esta noite. Mas Gray achava que ela estava mais preocupada em livrar-se do marido do que em oferecer a sua ajuda para os apoiar nesta investigação.
Todos se sentaram à volta da mesa, exceto Heisman, que permaneceu de pé com as mãos atrás das costas.
— Talvez agora me possas dizer porque fomos convocados a estas horas.
Gay abriu um envelope, tirou a carta escrita em francês e fê-la deslizar por cima da mesa em direção a Sharyn. Antes de esta poder tocar-lhe, Heisman pegou nela e colocou os óculos.
— O que é isto? — perguntou, acenando a cabeça enquanto examinava a mancheia de páginas.
Era evidente que não percebia francês, mas arregalou os olhos ao reconhecer a assinatura no fundo da carta.
— Benjamin Franklin! — exclamou lançando um olhar a Gray. — Isto parece a sua letra.
— Sim, isso já foi certificado e a carta traduzida...
Heisman interrompeu-o.
— Mas isto é uma fotocópia. Onde está o original?
— Isso não interessa.
— Interessa-me a mim! — gaguejou o curador. — Li tudo o que foi escrito por Franklin, mas nunca vi uma coisa assim. Estes desenhos...
Bateu com a carta na mesa e espetou um dedo sobre um dos esboços desenhados à mão.
Representava uma águia-careca com as asas abertas, segurando um ramo de oliveira numa das garras e um feixe de lechas na outra.
Gatafunhos indecifráveis apontavam aqui e ali para a figura.
— Parece ser uma primeira versão do Grande Selo dos Estados Unidos.
Mas a carta é datada de 1778, anos antes de este esboço surgir nos arquivos públicos por volta de 1782. É certamente uma falsificação.
— Mas não é — afirmou Gray.
— Posso?... — atalhou Sharyn, puxando delicadamente para si as folhas de papel. — Disse que já foi traduzida, mas terei muito prazer em confirmar a fidelidade desse trabalho.
— Ficar-lhe-ia agradecido — disse Gray.
Heisman deu uns passos à volta da mesa.
— Suponho que o motivo deste encontro a hora tão tardia se deve ao conteúdo desta carta. Talvez possa explicar porque é que um documento com dois séculos não podia esperar até amanhã...
Seichan dirigiu-se aos presentes pela primeira vez. A sua voz era calma, mas friamente ameaçadora.
— Porque foi necessário derramar sangue para obter estes papéis.
Estas palavras levaram Heisman a sentar-se.
— Muito bem. Falem-me da carta.
— Trata-se de uma troca de correspondência entre Franklin e o cientista francês Archard Fortescue. Esse homem era membro de uma organização cientí ica criada por Franklin. A Sociedade Americana para a Promoção de Conhecimento Útil.
— Sim, estou a par dessa organização — comentou Heisman. — Era uma rami icação da Sociedade Filosó ica Americana, mas os seus objetivos eram mais especí icos... coligir novas ideias cientí icas. Os seus membros eram mais conhecidos pelo seu trabalho de investigação arqueológica sobre relíquias nativas americanas. No im, icaram quase obcecados por coisas dessas... e passaram o tempo a escavar sepulturas índias por todo o lado...
Sharyn, sentada ao lado do curador, interveio.
— É justamente a isso que a carta parece referir-se — disse. — É um apelo a esse cientista francês para que ajude Franklin a organizar uma expedição ao Kentucky.
E traduziu o que se segue, com a testa enrugada.
— Descobrir e escavar um túmulo índio em forma de serpente, procurar uma ameaça à América, lá enterrada. — Levantou a cabeça. — Parece haver alguma urgência nesta carta.
E para provar o que estava a dizer, traduziu outra passagem da carta sublinhando-a com um dedo.
— Caro amigo, lamento ter de o informar que as nossas esperanças para a décima quarta colónia — a Colónia do Diabo — caíram por terra. Os xamã da Confederação Iroquesa foram massacrados da forma mais vil quando iam a caminho da reunião com o governador Jefferson. Com essas mortes, todos os que tinham conhecimento do Grande Elixir e os Índios Pálidos estão nas mãos da Providência. Mas um dos xamãs, enterrado por baixo dos corpos dos outros, viveu tempo su iciente para proferir uma última esperança. Falou-nos de um mapa, oculto no crânio de um demónio cornudo e embrulhado numa pele de búfalo pintada. Está escondido num túmulo no território do Kentucky que as tribos aborígenes consideram sagrado. É possível que essa conversa de demónios e mapas perdidos seja o resultado de um espírito confuso e moribundo, mas ousamos não correr esse risco. É vital que nos apoderemos desse mapa antes do inimigo. Descobrimos um indício quanto às forças que procuram destruir a nossa jovem nação. Um símbolo que marca o inimigo.
Virou a folha de papel para que todos vissem. O desenho representava um compasso por cima de um esquadro em L enquadrando uma minúscula lua em forma de foice e uma estrela com cinco pontas.
Ela olhou para eles.
— Parece ser um símbolo maçom, mas nunca vi uma versão igual. Com uma estrela e uma lua. Vocês viram?
Gray manteve-se em silêncio enquanto o doutor Heisman examinava o símbolo. O curador abanou lentamente a cabeça.
— Franklin era maçom e não difamaria a maçonaria. Isto deve ser uma coisa completamente diferente.
Monk debruçou-se para ver o símbolo. Embora o seu rosto se mantivesse impávido, Gray reparou que encarquilhava o nariz como se tivesse cheirado algo desagradável. Como Gray, Monk reconhecera a marca dos chefes da Confraria. O seu olhar cruzou-se com o de Gray e a pergunta re letida nos seus olhos era bem clara: Como é que este símbolo pode ter sido encontrado numa carta de Benjamin Franklin a um cientista francês?
Era precisamente para essa pergunta que Gray queria obter uma resposta.
— Porque é que o velho Ben pediu a um francês para o ajudar? — indagou Monk. — Certamente que havia alguém mais à mão para conduzir uma expedição ao Kentucky?
Seichan propôs uma explicação.
— Provavelmente, não con iava nas pessoas à sua volta. Esse misterioso inimigo de quem fala... podia ter-se in iltrado nos círculos mais influentes do governo.
— Talvez — concordou Heisman. — Mas a França foi nossa aliada contra os britânicos durante a revolução e Franklin passou muito tempo em Paris. Ainda mais importante, os colonos franceses tinham alianças com tribos nativas americanas e, no Canadá, lutaram com os nativos da região contra as forças britânicas. Se Franklin precisava de alguém para investigar um assunto importante para os índios daquela época, não era estranho que contactasse um francês.
— A carta parece confirmar isso, disse Sharyn.
Traduziu mais umas linhas.
Archard, como con idente e amigo do falecido chefe Canasatego — cuja morte por envenenamento ainda acredito ter sido obra do nosso mesmo inimigo — é na minha opinião a pessoa mais indicada para che iar uma expedição tão vital. Esta missão não pode falhar.
Apesar das palavras da carta, Gray suspeitava que a verdadeira resposta para a pergunta de Monk era uma combinação entre as duas teorias. Franklin mostrava-se prudente e pedia ajuda a um amigo em quem sabia poder con iar, alguém que tinha boas relações com as tribos da região.
— Quem é Canasatego? — perguntou Monk, escondendo um bocejo com a mão.
Mas, pelo brilho nos olhos do amigo, Gray sabia que ele estava a fingir.
Gray compreendia a curiosidade de Monk. A carta sugeria que os inquietantes inimigos de Franklin tinham assassinado esse chefe índio — e caso o símbolo desenhado numa das folhas fosse mais do que simples coincidência, tratava-se possivelmente do mesmo inimigo contra quem a Sigma andava há anos a combater. Parecia impossível, mas por que outro motivo teria a Confraria preservado e escondido esta carta que continha a sua marca?
Heisman respirou profundamente e parte da sua frieza obsequiosa desapareceu.
— O chefe Canasatego — disse em tom caloroso, como alguém que recorda um amigo íntimo — é uma igura histórica que a maior parte das pessoas desconhece, mas que desempenhou um papel predominante na criação da América. Há quem o considere um Pai Fundador desaparecido.
Sharyn explicou num tom um pouco orgulhoso: — O doutor Heisman é autor de um vasto trabalho de investigação sobre este chefe iroquês. Uma das suas dissertações foi essencial para que o Congresso aprovasse uma resolução quanto ao papel dos nativos americanos na fundação do país.
Heisman tentou não dar importância ao elogio, mas corou e empertigou-se um pouco.
— É uma personagem fascinante. O maior e mais in luente nativo americano da sua época. Se não tivesse morrido tão cedo, talvez este país pudesse ser muito diferente, em particular, no que diz respeito às relações com os nativos americanos.
Gray recostou-se na cadeira.
— Ele foi morto como conta a carta?
Heisman acenou a cabeça e sentou-se finalmente à mesa.
— Foi envenenado. Os historiadores ainda desconhecem a identidade do criminoso. Uns dizem que foram espiões do governo britânico e outros, que foi o seu povo.
— Parece que o velho Ben tinha a sua própria teoria — acrescentou Monk.
Heisman olhou para a carta com curiosidade.
— É muito intrigante.
Gray suspeitava que não teriam di iculdade em convencer o curador a ajudá-los. O torpor irritado do seu comportamento esmorecera e dera lugar a um ávido interesse.
— Porque é que esse chefe iroquês era tão importante? — perguntou Monk.
Heisman pegou na carta fotocopiada e procurou o desenho que representava em traços grosseiros a águia-careca com as asas abertas.
Apontou para a garra que segurava o feixe de flechas.
— Por causa disto. — Lançou um olhar em redor da mesa. — Algum de vocês sabe por que razão este pormenor igura no Grande Selo dos Estados Unidos?
Gray encolheu os ombros e puxou a carta para mais perto.
— O ramo de oliveira numa das garras signi ica paz e as lechas na outra, guerra.
Um sorriso irónico — o primeiro da noite — desenhou-se no rosto do curador.
— É uma ideia falsa comum. Mas há uma história por detrás desse feixe de treze flechas relacionadas com o chefe Canasatego.
Gray calou-se, percebendo que, deixando-o falar, obteria mais informações.
— Canasatego era um chefe da nação Onondaga, uma das seis nações que acabaram por se juntar para formar a Confederação Iroquesa. Essa união única de tribos, formada no século XVI, tinha séculos de existência antes da fundação da América. Após gerações de batalhas sangrentas, a paz entre as tribos foi inalmente alcançada para seu bem comum.
Nomearam um governo democrático e igualitário com representantes de todas as tribos. Era um governo como nenhum outro, na altura, com leis e uma constituição.
— É-me bastante familiar — murmurou Monk.
— Com efeito, o chefe Canasatego encontrou-se com os primeiros colonos em 1744 e citou a Confederação Iroquesa como um exemplo a seguir, encorajando-os a imitá-los. — Heisman lançou outro olhar à volta da sala. — Benjamin Franklin encontrava-se presente e contou o que ouviu aos que acabariam por redigir a nossa Constituição. Na verdade, um dos delegados à Convenção Constitucional... John Rutledge, da Carolina do Sul...
até leu passagens das leis iroquesas aos seus colegas. Um dos seus tratados tribais começava assim: Nós, o povo, para formarmos uma união, estabelecer a paz, a igualdade e a ordem...
— Espere lá — interrompeu Monk, endireitando-se na cadeira. — Essas palavras são quase iguais às do preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos. Está a dizer que velhas leis índias serviram de modelo ao nosso documento fundador?
— Não sou apenas eu que o digo. O Congresso dos Estados Unidos também. A Resolução 331, de outubro de 1988, reconhece a in luência da Constituição Iroquesa sobre a nossa Constituição e a Declaração dos Direitos. Embora haja alguma disputa quanto ao grau dessa in luência, os factos não podem ser negados. Os nossos Pais Fundadores até imortalizaram essa dívida no nosso selo nacional.
— Como? — perguntou Gray.
Heisman voltou a apontar para o desenho da águia.
— No decorrer dessa reunião, em 1744, o chefe Canasatego ofereceu uma lecha com uma única pena a Benjamin Franklin. Perante a confusão deste, Canasatego pegou na lecha e quebrou-a, deixando cair os pedaços no chão. Depois, presenteou-o com um feixe de treze lechas atadas com uma tira de cabedal. A seguir, Canasatego tentou quebrar o feixe, mas não conseguiu. Ofereceu-o a Franklin e a mensagem foi compreendida por todos. Para serem fortes e sobreviverem, as trezes tribos tinham de se juntar... só assim a nova nação seria inquebrável. A águia no Grande Selo segura esse feixe de treze lechas nas garras, numa eterna homenagem, embora de certo modo secreta, às sábias palavras do chefe Canasatego.
Enquanto Heisman relatava estes factos, Gray estudava o desenho, incomodado por algo que parecia não fazer sentido. O esboço era manifestamente grosseiro e tinha anotações crípticas ao lado e em baixo, mas examinando-o mais perto, apercebeu-se do que o estivera a perturbar.
— Há catorze flechas neste desenho — constatou.
Heisman debruçou-se sobre a mesa.
— O quê?
Gray mostrou-lhe.
— Faça o favor de contar. Há catorze lechas nas garras da águia e não treze.
Os outros levantaram-se e juntaram-se à volta da mesa.
— Tem razão — confirmou Sharyn.
— Este desenho é certamente apenas um esboço — disse Heisman. — Uma representação aproximada do que se tencionava fazer.
Seichan cruzou os braços.
— Ou talvez não. A carta de Franklin não menciona uma décima quarta colónia? De que estava ele a falar?
Um pensamento formou-se no espírito de Gray enquanto olhava para a águia.
— A carta também sugere um encontro secreto entre Thomas Jefferson e os chefes da nação iroquesa. — Olhou para Heisman. — Poderiam Jefferson e Franklin ter contemplado a formação de uma nova colónia, a décima quarta, constituída por nativos americanos?
— A Colónia do Diabo... — murmurou Monk, utilizando o outro nome que Franklin empregara na carta. — Como na expressão diabos vermelhos...
Gray assentiu com um gesto de cabeça.
— Talvez a lecha extra neste desenho represente a colónia que nunca chegou a existir.
Os olhos de Heisman brilharam enquanto re letia sobre essa possibilidade.
— Se assim for, esta carta pode ser o documento histórico mais importante descoberto há décadas. Mas porque não existem provas que confirmem isso?
Gray tentou pôr-se no lugar de Franklin e de Jefferson.
— Porque os seus esforços falharam e algo os assustou tanto que apagaram todos os vestígios, deixando apenas algumas pistas.
— Mas, nesse caso, o que andavam a esconder?
Gray abanou a cabeça.
— Quaisquer respostas... ou, pelo menos, pistas para chegar à verdade... podem encontrar-se noutras cartas entre Franklin e Fortescue.
Temos de procurar...
O telemóvel de Gray começou a tocar, interrompendo-o. O som forte perturbou o ambiente sossegado da sala. Tirou o telemóvel do bolso e veri icou a identidade de quem estava a telefonar-lhe. Suspirou resignadamente.
— Tenho de responder a esta chamada — murmurou, levantando-se e virando-se de costas.
A voz frenética da mãe ecoou-lhe no ouvido, aflita e trémula.
— Gray, preciso que me ajudes!
Ouviu um estrondo seguido de um bramido brutal.
E, a seguir, a ligação foi cortada.
10
30 DE MAIO, 22H01
REGIÃO MONTANHOSA DE UINTA UTAH
O major Ashley Ryan estava de guarda ao portão para o inferno.
A cinquenta metros do seu posto de comando, o local da explosão continuava a ribombar e a lançar jatos de água escaldante e lama a borbulhar. O vapor transformava o abismo numa sauna ardente e sulfurosa. Em apenas doze horas, a circunferência da área da explosão duplicara de tamanho, corroendo a encosta da montanha vizinha. Ao pôr do Sol, um grande pedregulho da falésia soltara-se como um icebergue a separar-se de um glaciar. O penhasco desabara no abismo. Ao anoitecer, as nuvens ocultaram a Lua e as estrelas, deixando o vale tão sombrio como uma gruta.
E, agora, um clarão avermelhado e inquietante emergia do fundo do abismo.
O que quer que estivesse a acontecer ainda não acabara.
Por causa do perigo e instabilidade do local, a Guarda Nacional retirara todo o pessoal que não era essencial e colocara barreiras ao longo de cinco quilómetros à volta do vale. Homens faziam patrulhas a pé e dois helicópteros militares sobrevoavam a área. Ryan mantinha um pequeno pelotão no vale. Todos os soldados tinham experiência em combater incêndios, vestiam roupas amarelas Nomex resistentes à chamas e estavam equipados com capacetes e máscaras respiratórias para o caso de o ar piorar.
Ryan dirigiu-se ao recém-chegado enquanto este se equipava.
— Acha que nos pode dizer o que se passa? — perguntou.
O geólogo — que se tinha bruscamente apresentado como Ronald Chin — perfilou-se com um capacete debaixo do braço.
— É por isso que estou aqui.
Ryan olhou para ele com ceticismo. O homem chegara de helicóptero, vindo de Washington, DC, há um quarto de hora. Apesar de ter pouco respeito pelos burocratas do governo que metiam o nariz onde não eram chamados, o major pressentiu que havia mais qualquer coisa neste geólogo. Pelo modo direto como agia e pela sua cabeça rapada, Ryan descon iava que tinha experiência militar. Ao chegar, o cientista do governo apreendera a situação com um só olhar e começara a equipar-se antes mesmo que o major pedisse que o fizesse.
— Tenho de ir sozinho — avisou Chin, pegando numa mala de metal.
— Nem pensar. Enquanto estiver aqui, está sob a minha responsabilidade.
Ryan recebera ordens para lhe dar toda a cooperação, mas ele ainda comandava esta operação. Fez sinal a um dos seus homens para se aproximar.
— O soldado Bellamy e eu vamos escoltá-lo até ao local, à ida e à volta.
Chin aquiesceu, aceitando sem discutir e ganhando um pouco mais de respeito por parte do major.
— Então, vamos — disse Ryan, abrindo o caminho e acendendo a lanterna LED montada no ombro.
Os outros seguiram o seu exemplo como uma equipa prestes a explorar uma gruta desconhecida.
Ao aventurarem-se pelo bosque escuro, o ar tornou-se mais quente a cada passo, repleto de enxofre. Os três homens colocaram imediatamente os capacetes e as máscaras, mas o calor fazia-lhes frente como uma parede sólida. O vapor condensava nos visores e turvava-lhes a vista. O ar comprimido sabia a metal ou talvez fosse o medo. Afastando-se da orla da loresta, Ryan ordenou-lhes que parassem. Não se apercebera do estado degradante da área da explosão.
À sua frente, o vale abatera numa rampa pouco profunda, mais ou menos circular, e estendia-se ao longo de trinta metros até à encosta da falésia à esquerda. Mais perto, a borda rochosa continuava a desfazer-se em cascalho e areia grossa, alargando lentamente o buraco. No meio, o buraco envolto em fumo precipitava-se a pique.
Escorria água a borbulhar por essa garganta escura iluminada por fogos subterrâneos. Um tremor abalou o chão, acompanhado por um ronco sonoro, e um géiser de água a escaldar lançou um jato de vapor para o céu noturno. Todos recuaram prudentemente.
Logo que o jato perdeu energia, Chin aproximou-se e icou a um metro da cratera.
— A explosão dani icou de initivamente as camadas geotérmicas — disse com a voz abafada pela máscara. — Toda a região está assente em solo vulcânico.
Ryan e Bellamy foram ter com ele.
— Cuidado. A borda da cratera pode abater.
Chin acenou com a cabeça, aproximou-se com cuidado e, com um joelho em terra, abriu a mala. O interior continha instrumentos cientí icos, produtos químicos impecavelmente arrumados e equipamento de prospeção geológica.
— Preciso de várias amostras de detritos e lama a partir da periferia para o meio — disse Chin, enquanto organizava o material. Passou-lhes um martelo e um cinzel. — Avançaríamos mais depressa se um de vocês pudesse extrair um pedaço de granito perto da borda.
Ryan fez sinal a Bellamy para obedecer.
— Porque precisa de um pedaço de rocha?
— Para me servir de base e, comparando-a com as amostras da área de explosão, ficar a saber a composição do subsolo local.
Bellamy pegou nas ferramentas e num pequeno saco de amostras, e afastou-se. O jovem soldado negro fora linebacker da equipa de futebol americano, Utah State Aggies, mas uma lesão no joelho acabara-lhe com a carreira. Casado e com uma ilha a caminho, desistira dos estudos e alistara-se na Guarda. Era um bom soldado e trabalhava depressa e eficazmente.
Chin prendeu um tubo de vidro a uma vara de alumínio extensível e, debruçando-se, recolheu uma amostra da areia grossa que se encontrava mais perto da borda.
Enquanto o geólogo trabalhava, Ryan observava o outro lado do buraco.
Os destroços estavam reduzidos a uma poeira ina no meio e pareciam rodopiar como numa ampulheta descendo em espiral e desaparecendo na garganta do buraco que continuava a fumegar.
Um arfar abafado fê-lo voltar-se de novo para Chin. O geólogo segurava a vara por cima do buraco. Conseguira colher uma amostra da areia escaldante, mas a super ície do tubo estava coberta por uma teia de pequeninas fendas.
Teria estilhaçado com o calor?
Por im, o tubo quebrou, derramando a amostra, e os pedaços de vidro pareceram derreter. Não, não era bem derreter. Tinham-se dissolvido, desaparecendo.
Chin endireitou-se. Ainda segurava a vara com o que restava do tubo quebrado na ponta. Sob o olhar de ambos, o resto do tubo e a extremidade da vara de alumínio desintegraram-se começando a corroer lentamente o cabo. Antes de poder avançar mais do que alguns centímetros, Chin atirou a vara para o buraco. Penetrou a super ície friável como um dardo e afundou-se como se tivesse caído em areias movediças.
Ryan sabia que não estava apenas a afundar-se.
— Está a decompor-se — explicou Chin com o espanto a contrapor-se ao terror de Ryan. — O que quer que seja está a desintegrar a matéria.
Talvez a nível atómico.
— Que raio está a causar a desintegração?
— Não faço a mais pequena ideia.
— Então, como detemos isto?
Chin limitou-se a abanar a cabeça. Ryan imaginou o processo a espalhar-se como um cancro pelas montanhas, chegando cada vez mais fundo. Lembrou-se das palavras do geólogo para descrever o que se encontrava por debaixo dos seus pés.
Toda a região está assente em solo vulcânico.
Como para lho lembrar, o chão tremeu violentamente, pior do que antes. O géiser voltou a lançar um jato que chegou à copa das árvores, formando uma parede de ar muito quente.
Chin protegeu o rosto com um braço, apontando para o posto da Guarda.
— Isto está demasiado instável! Tem de mandar evacuar esta zona.
Recue pelo menos dois quilómetros.
Ryan não tencionava discutir. Gritou para Bellamy que continuava a uns metros de distância a colher amostras.
— Esquece isso! Diz aos homens para recolherem todo o equipamento e retirarem!
Antes de Bellamy poder dar um passo, outro rochedo soltou-se da encosta atrás dele e precipitou-se no abismo. Poeira húmida respingou para fora, atingindo-o na perna direita.
— Saia daí! — ordenou Ryan.
Sem precisar que lhe dissessem duas vezes, Bellamy aproximou-se deles a passo de corrida. O seu rosto era uma máscara de dor. Coxeava.
— O que se passa? — perguntou Ryan.
— Tenho a perna a arder, meu major.
Ryan examinou-o. As calças resistentes às chamas deveriam ter-lhe protegido a pele contra quaisquer queimaduras.
— Atire-o para o chão! Já!
Reagindo ao tom de comando na voz do geólogo, Ryan lançou-se sobre Bellamy. Mas, de repente, o soldado soltou um grito, tropeçando quando a perna direita se dobrou sob o seu peso. O osso da tíbia estalou, fraturando-se de lado.
Ryan conseguiu aparar-lhe a queda e deitá-lo.
— Foda-se! — gemeu o soldado, contorcendo-se de dor.
O major não o repreendeu por praguejar. Tinha vontade de fazer o mesmo. O que se passava com o soldado?
Chin ajoelhou-se ao lado de Bellamy. Tinha uma faca na mão, uma arma militar. Cortou a perna das calças do soldado do joelho ao tornozelo. Um pedaço rachado da tíbia perfurava a barriga da perna, a sua brancura contrastava com a cor da pele. Sangrava, mas não tanto quanto o geólogo temera.
— Está contaminado — declarou Chin.
Ryan tentou compreender o que ele queria dizer — e viu a extremidade do osso começar a desfazer-se em pó diante dos seus olhos. A pele ao longo do ferimento dissolvia-se. Ryan reviu a cena da poeira a atingir Bellamy e lembrou-se da palavra que o geólogo usara há uns momentos.
Decompor-se.
A poeira devia ter desintegrado o fato de proteção e atacara-lhe a perna.
— O que fazemos? — gaguejou Ryan.
— Arranje um machado! — ordenou Chin.
Desta vez, não foi o tom de comando que o fez reagir, mas o medo que ecoava na sua voz. Chin cortou o tecido ensanguentado sem lhe tocar e lançou-o no poço. Se Ryan tinha quaisquer dúvidas quanto à intenção do geólogo, deixou de as ter quando o viu fazer um torniquete com o cinto.
Bellamy também compreendeu e soltou um gemido.
— Não...
— É a única solução — explicou-lhe Chin. — Não podemos deixar que se espalhe por toda a perna.
Tinha razão. Enquanto o major se dirigia a correr para o posto da Guarda, lembrou-se da pergunta que izera ao imaginar a cratera a expandir. Como detemos isto?
Encontrara a resposta.
A muito custo.
Por agora, a única coisa que podiam fazer era controlar os estragos.
Voltou, em menos de um minuto, com um machado e dois soldados.
Quando chegaram, Chin já tinha apertado o cinto à volta da coxa de Bellamy. O soldado estava deitado de costas com os ombros manietados pelo geólogo. O seu rosto, por detrás da máscara, cintilava de dor e medo.
Os dois homens que tinham vindo com o major olhavam com horror para o companheiro. Parecia que um tubarão lhe mordera a barriga da perna. Só a pele e uns tendões a mantinham no lugar. O resto fora devorado por aquilo que o contaminava.
Chin e Ryan entreolharam-se enquanto os dois soldados se colocaram ao lado do companheiro. O geólogo olhou para o machado e, depois, para Bellamy.
— Quer que seja eu a fazê-lo? — perguntou a Ryan.
O major abanou a cabeça. É um dos meus homens. A responsabilidade é minha. Perguntou apenas ao geólogo: — Acima ou abaixo do joelho?
A resposta foi-lhe dada pela expressão cruel de Chin. Não podiam correr riscos.
Levantou o machado a arquejar e deixou-o cair com toda a força.
11
30 DE MAIO, 22H20
PROVO, UTAH
Painter Crowe teve de incar os dedos nos apoios dos bancos para os libertar do entorpecimento em que se encontravam. A corrida de Salt Lake City até à cidade universitária de Provo conseguira pôr à prova a sua in lexível determinação. Tentara distrair-se telefonando à namorada, Lisa, para a informar que chegara são e salvo, mas lançados a alta velocidade pela estrada fora, desviando-se do tráfego mais lento e, com frequência, entrando nas faixas de sentido contrário, perguntara-se se a chamada não fora prematura.
Kowalski desligou inalmente o motor do Chevy Tahoe e consultou o relógio.
— Vinte e oito minutos. Deve-me um charuto.
— Devia ter dado ouvidos ao Gray.
Painter abriu a porta com um empurrão e quase caiu.
— Disseme para o manter afastado de tudo o que tivesse rodas.
Kowalski encolheu os ombros e saiu do carro.
— O que é que ele sabe? Passa a maior parte do tempo a pedalar aquela bicicleta à volta de Washington. Se Deus quisesse que os homens andassem de bicicleta, não nos teria colocado os tomates onde estão.
Painter itou Kowalski. Siderado e sem saber o que dizer, abanou simplesmente a cabeça e atravessou o parque de estacionamento seguido por Kowalski, que vestia um guarda-pó preto até aos tornozelos, e que lhe permitia ocultar a espingarda Mossberg presa à perna. Para amenizar o seu poder letal no meio urbano, a arma estava equipada com cápsulas Taser XREP — sem ios, lançavam descargas elétricas que paralisavam os alvos.
Atendendo ao homem que manipulava aquela arma, era uma precaução sábia.
A esta hora tardia, reinava o sossego no campus da Universidade Brigham Young. Alguns estudantes percorriam apressadamente os passeios, agasalhados contra o vento frio que soprava das montanhas cobertas de neve que rodeavam a cidade. Um casal olhou-os com curiosidade e prosseguiu o caminho.
As lâmpadas da rua brilhavam ao longo dos passeios arborizados e os sinos do alto campanário repicavam à distância. Edi ícios universitários, em grande parte às escuras, espalhavam-se em todas as direções enquanto alguns ainda estavam iluminados por causa das aulas.
Painter veri icou o mapa do campus no visor do telemóvel. O professor Kanosh marcara encontro num laboratório do edi ício de ciências da Terra.
Depois de se orientar, Painter seguiu em frente.
O Centro de Ciências Eyring estava localizado ao longo de uma vereda arborizada fora de West Campus Drive. Era di ícil não ver o observatório com uma grande cúpula no alto. Uma escada larga conduzia aos três níveis da sua fachada de vidro.
Assim que entraram, Kowalski franziu o sobrolho ao contemplar a sala que parecia uma catedral. A principal atração era um gigantesco pêndulo de Foucault suspenso do teto mantido a prumo por uma enorme esfera de bronze. Ao lado, um pequeno café — fechado a esta hora — estava na sombra de um alossauro em tamanho real aninhado no meio de altos fetos.
— Para onde vamos?
Era uma boa pergunta. Era um lugar invulgar para um encontro com um historiador, mas o professor Kanosh mencionara qualquer coisa acerca de uns testes. De qualquer modo, não deixa de ser um lugar sossegado para se encontrarem. Painter folheou um boletim informativo e aproximou-se de uma escada que descia. O Laboratório Subterrâneo de Investigação Física merecia o nome. Não se encontrava apenas na cave do edi ício; estava enterrado por baixo do relvado no lado norte do edifício.
Porque as instalações se encontravam desertas, não foi di ícil encontrar o laboratório. Ouviam-se vozes através de uma porta aberta ao fundo do corredor.
Painter apressou-se, temendo que alguém já tivesse encontrado Kai e o professor. Ao entrar na sala, levou a mão ao coldre por baixo do casaco.
Um homem parecia ameaçar o professor com um punhal — mas deteve-se ao entender a situação. O homem tinha uma bata branca e o punhal era antigo, possivelmente um artefacto arqueológico. E Kanosh não manifestava medo, apenas irritação. O outro homem era certamente um colega e parecia determinado no que dizia.
— Pode ser a prova do que procurávamos! — bradou, batendo com o punhal no tampo da mesa. — Porque és tão teimoso?
Antes de o professor poder responder, os dois homens aperceberam-se da chegada repentina de Painter. Arregalaram os olhos que icaram ainda mais esbugalhados quando o corpulento Kowalski entrou na sala.
Os dois professores estavam sentados a uma mesa comprida no meio do vasto laboratório. As luzes iluminavam diversos equipamentos, alguns dos quais Painter reconheceu por ter estudado engenharia elétrica e projeto: espectrómetros, vários solenoides e reóstatos, caixas de resistência e de capacitância. Uma peça chamou-lhe particularmente a atenção. Numa reentrância na parede, uma coluna alta de um microscópio eletrónico zunia junto de uma série de monitores a cintilar.
— Tio Crowe?
A voz vinha das sombras que envolviam os microscópios. Uma jovem saiu hesitantemente para a luz com os braços cruzados à frente do peito e os ombros caídos. Fitou-o através de uma longa madeixa de cabelo preto.
Era Kai, a sua sobrinha.
— Estás bem? — perguntou Painter.
Tendo em conta as circunstâncias, era uma pergunta estúpida.
Ela encolheu os ombros, balbuciou umas palavras e foi ter com o professor Kanosh. Painter seguiu-a. Lá se foi a calorosa reunião de família...
Mas a verdade é que desde o funeral do pai dela, há mais de três anos, que não a via. E nesse curto intervalo, a rapariga desajeitada e tímida que conhecera transformara-se numa mulher bonita. Também notara que a sua expressão se tornara mais austera, muito mais do que deveria em apenas três anos.
Adivinhava porquê. Reconhecia aquele ar reservado, meio desa iador, meio prudente, bem de mais. Sendo igualmente órfão, sabia como era ser criado sozinho, recebido por uma extensa família que ainda nos mantinha à distância e nos passava de um lar para outro.
Era por saber isso que lhe doía. Devia ter feito mais por ela quando tivera essa oportunidade. Talvez não estivessem ali...
— Obrigada por ter vindo — agradeceu, desanuviando a tensão. Fez sinal a Painter para se sentar. — Talvez possamos esclarecer esta confusão com a sua ajuda.
— Espero que sim.
Painter examinou o colega de Kanosh sem saber se poderia falar diante dele.
O homem estendeu-lhe a mão. Mas era mais uma simples saudação do que um gesto de boas-vindas. Embora parecesse ter a mesma idade do professor Kanosh, o cabelo grisalho no alto da cabeça era mais ralo e enquanto o sol bronzeara e endurecera a pele de Kanosh, o seu rosto era balofo e tinha papos enormes debaixo dos olhos. Painter perguntou-se se o homem não teria sofrido um ataque cardíaco recente. Ou talvez fosse por passar grande parte do tempo en iado neste laboratório subterrâneo, longe do sol e de ar fresco.
Painter compreendia a deterioração a que estava exposto um corpo.
— Doutor Matt Denton — apresentou-se o homem. — Diretor do departamento de Física.
Todos apertaram as mãos e Painter apresentou Kowalski como seu «assistente pessoal», o que o fez rolar os olhos.
Kanosh foi suficientemente delicado para não fazer comentários.
— Trate-me por Hank, por favor — disse, apercebendo-se possivelmente do ar circunspecto de Painter. — Já expliquei a nossa situação ao Matt. Tenho plena con iança nele. Somos amigos desde o liceu quando ambos fizemos parte de uma missão da igreja.
Painter assentiu com um aceno de cabeça.
— Agora, vai ter de a explicar novamente, mas a mim.
— Deixe-me, primeiro, assegurar-lhe que não acredito que a Kai tenha alguma coisa que ver com a explosão. Esta tragédia não se deve às cargas explosivas que deixou cair.
Painter notou que a sua voz se embargara no im. Sabia que o professor era muito chegado à antropóloga que morrera. Kai pousou uma mão no braço do velhote, parecendo querer agradecer-lhe e consolá-lo ao mesmo tempo.
— Eu bem lhe disse que não tinha sido o C-4... — rosnou Kowalski baixinho.
Painter ignorou-o e virou-se para o professor.
— O que acha que causou a explosão?
Kanosh olhou-o nos olhos.
— É muito simples — respondeu, com irme convicção. — Foi uma maldição índia.
22h35
Rafael Saint Germaine esperou que o ajudassem a sair do helicóptero.
O rotor aplanou o relvado bem tratado que rodeava o local de aterragem.
Apesar de haver homens que se envergonhavam de necessitar de ajuda, ele estava habituado. Até o pequeno salto para a pista podia partir-lhe um osso.
Desde o dia em que nascera, Rafe — como preferia que o tratassem — sofria de osteogenesis imperfecta, uma doença que atacava os ossos, defeito autossómico na produção de colagénio que o deixara com ossos frágeis e baixa estatura. Devido a uma ligeira corcunda causada por escoliose e uma obnubilação nos seus olhos escuros, a maior parte das pessoas julgava-o muito mais velho do que os trinta e quatro anos que contava.
Não era, contudo, nenhum inválido. Mantinha-se su icientemente em forma tomando cálcio e suplementos de bifosfonatos, juntamente com uma série de hormonas de crescimento experimentais. Também se exercitava isicamente de modo obsessivo, compensando em músculo o que lhe falava em ossos.
No entanto, sabia que o seu grande trunfo não era nem um nem outro.
Ao descer da cabina do helicóptero, ergueu os olhos para o céu noturno. Conhecia o nome de todas as constelações e das estrelas que as compunham. A sua memória era eidética, fotográ ica, e retinha tudo o que se atravessava no seu caminho. Considerava o seu crânio como um frágil invólucro à volta de um vasto buraco negro capaz de sugar toda a luz e sabedoria.
Portanto, apesar da sua invalidez, a sua família depositava grandes esperanças nele. Rafe teria de se mostrar à altura dessas esperanças e compensar os seus defeitos. Por causa da sua incapacidade, fora mantido afastado e escondido, mas, neste momento tão auspicioso, necessitavam dele e fora-lhe oferecida a oportunidade de trazer grande honra para a família.
Diziam que a linhagem dos Saint Germaine datava de antes da Revolução Francesa e que grande parte da fortuna familiar provinha de lucros ganhos à custa de guerras. Esta situação continuou através dos tempos modernos e, agora, os negócios da família estendiam-se a uma grande variedade de empreendimentos e de empresas.
Com a sua mente excecional, Rafe supervisionava os projetos de investigação e desenvolvimento elaborados numa empresa dos Saint Germaine localizada na região Ródano-Alpes, perto de Grenoble. Era um viveiro para toda a espécie de pesquisas cientí icas, um local de fusão da indústria e do conhecimento académico. A família coordenava centenas de projetos através de vários laboratórios e empresas, a maioria especializada em microeletrónica e nanotecnologia. Só, Rafe possuía trinta e três patentes.
Sabia qual era o seu lugar, conhecia os episódios mais sombrios da família e as ligações com a Verdadeira Estirpe. Tocou com o dedo na parte posterior da cabeça, onde, por baixo do cabelo, havia uma pequena parte rapada ainda dorida por causa de uma tatuagem recente. Marcava a tinta o papel da sua família — o pacto dele — com essa herança negra.
Rafe baixou as mãos. Também sabia acatar ordens. Fora convocado, recebera instruções especí icas e recordaram-lhe o trilho frio da história que conduzira a este momento. Era a oportunidade de deixar realmente uma marca neste mundo, de provar o seu valor, de trazer riquezas incalculáveis e honrar a família.
Quando a porta do helicóptero se fechou atrás dele, entreviu o seu re lexo no vidro. Com o cabelo preto negligentemente longo e as feições aristocráticas escurecidas por um eterno prenúncio de barba, havia quem o achasse atraente. Tivera certamente o seu quinhão de mulheres.
Os braços fortes que o acolheram à saída do helicóptero pertenciam a um membro do sexo fraco — embora pouca gente usasse essa expressão.
«Temível» seria o termo mais conveniente. Rafe permitiu-se o assomo de um sorriso. Partilharia mais tarde esta observação com ela.
— Merci, Ashanda — agradeceu, quando ela lhe largou o braço.
Um dos seus homens avançou com uma bengala. Rafe encostou-se a ela, esperando que a equipa saísse e o resto do equipamento fosse descarregado.
Ashanda manteve-se imperturbavelmente ao seu lado. Com mais de um metro e oitenta de altura e uma pele tão negra como a escuridão, era enfermeira e guarda-costas, e um membro chegado da sua família, como se partilhasse a linhagem sanguínea dos Saint Germaine. O pai de Rafe encontrara-a nas ruas da Tunísia quando Ashanda era criança. Era muda, pois tinham-lhe cortado a língua; e fora brutalizada e vendida como objeto sexual. O pai mandara matar o homem que a explorava e levou-a para o castelo da família nos arredores de Carcassonne, onde ela conheceu um rapazinho numa cadeira de rodas e se tornou sua con idente e animal de estimação.
Um grito ecoou aos ouvidos de Rafe. Olhou para o outro lado do relvado ondulante na direção de uma mansão sombria — em cujo terreno tinham aterrado. Não sabia a quem pertencia a propriedade, tratava-se apenas de um sítio que convinha aos seus planos. A casa encontrava-se na encosta de Squaw Peak e das janelas via-se a cidade de Provo. Escolhera o local por estar próximo da Universidade Brigham Young.
Um tiro abafado silenciou o grito vindo da mansão.
Não podiam deixar pontas soltas.
O seu ajudante, um mercenário alemão chamado Bern, antigo membro das forças especiais da Bundeswher, surgiu à sua frente todo vestido de preto. Era alto e louro e tinha olhos azuis. Ariano dos pés à cabeça, uma imagem invertida da aparência mais morena de Rafe.
— Estamos prontos para avançar. Isolámos os alvos num dos edi ícios do campus e temos todos os pontos de acesso sob vigia. Podemos capturá-
los assim que nos der ordens.
— Muito bem — disse Rafe.
Detestava falar inglês, mas era a língua comum entre os mercenários, o que, considerando a sua crueza e falta de subtileza, não deixava de ser justo.
— Mas precisamos deles vivos. Pelo menos o tempo su iciente para nos apoderarmos das placas de ouro. Está compreendido?
— Sim, senhor.
Rafe apontou a bengala na direção do campus. Imaginou a rapariga e o homem de idade a fugirem a cavalo. Embora a sua equipa tivesse sido enganada por um estratagema inteligente, tratara-se apenas de um transtorno temporário. Através dos vídeos dessa perseguição e de um programa de reconhecimento facial identi icara o índio. E não demorara a saber que voltara para onde se sentia mais seguro, o seio da sua universidade. Rafe sorriu perante tanta simplicidade de espírito. Tinham escapado uma vez à armadilha que lhes montara, mas não voltaria a acontecer.
— Prossiga — ordenou, avançando para a casa a coxear. — Traga-os à minha presença. E desta vez não falhe.
22h40
— O que quer dizer com maldição índia? — indagou Painter.
O professor Kanosh estendeu a palma de uma mão.
— Ouçam-me.... Sei que parece estranho, mas não podemos pôr de lado toda a mitologia que existe em redor dessa gruta. Há muito tempo que os anciãos Ute, aqueles que transmitem conhecimento xamanista de geração em geração, clamavam que quem penetrasse clandestinamente no túmulo sagrado se arriscava a destruir o mundo. Eu diria que foi mais ou menos o que se passou.
Kowalski emitiu um som trocista vindo do fundo da garganta.
O professor encolheu os ombros.
— Penso que tem de haver um grão de verdade nesses mitos antigos.
Vimos avisos para não serem retiradas coisas da gruta. Julgo que algo instável se encontrava ali escondido há séculos... e a nossa tentativa para o tirar fê-lo explodir.
— Mas o que podia ser? — perguntou Painter.
Kai remexeu-se na cadeira. A resposta a essa pergunta também era muito importante para ela.
— Quando a Maggie e eu tirámos o crânio de ouro do pedestal, achei que estava invulgarmente frio e senti algo mexer dentro dele. Creio que Maggie se apercebeu do mesmo. Descon io que havia qualquer coisa escondida no interior do totem, algo su icientemente valioso para estar selado no interior de um crânio fossilizado.
Kowalski revirou um canto do lábio numa expressão de desagrado.
— Porque escolher um crânio para uma coisa dessas?
— Foram encontrados muitos fósseis pré-históricos em muitas sepulturas índias, que eram enterrados com os mortos e venerados — explicou o professor. — Para dizer a verdade, foi um índio que indicou aos primeiros colonos a localização de muitas valas com fósseis, onde os restos de mastodontes e outros animais extintos despertaram a imaginação dos cientistas dessa era. Houve discussões acesas entre os colonos, algumas delas envolvendo Thomas Jefferson, acerca da hipótese de esses animais ainda viverem no Oeste. Assim, se esses índios antigos precisaram de um recipiente para guardar algo que consideravam sagrado, e talvez até perigoso, a escolha de um crânio pré-histórico não seria invulgar.
— OK... — interveio Painter. — Supondo que tem razão, o que podia ter sido? O que escondiam?
— Não faço ideia. Nesta altura, ainda tem de ser determinado se as múmias encontradas na gruta são realmente de nativos americanos.
Ao lado de Painter, o professor de Física pigarreou.
— Fala-lhe da datação dos restos com carbono-14, Hank.
O olhar de Painter passou de um professor a outro.
Como Kanosh demorava a responder, o professor Denton pôs-se a falar em tom precipitado e impaciente.
— O departamento de arqueologia datou os corpos como sendo do início do século XII. Muito antes de os europeus pisarem o solo do Novo Mundo.
Painter não entendeu o signi icado da informação nem a razão por que Denton parecia tão excitado. A datação dava simplesmente crédito ao facto de os corpos pertencerem a nativos americanos.
Denton estendeu a mão para a mesa e passou um punhal antigo a Painter. Este lembrou-se de ter visto o professor a manipulá-lo quando chegou.
— Examine-o bem — sugeriu Denton.
Painter pegou no punhal. O punho era de osso amarelecido, mas a lâmina parecia ser de aço com um brilho quase aquoso na superfície.
— Esse punhal foi tirado da gruta — explicou Kanosh.
Painter examinou-o mais atentamente.
— O miúdo que fugiu da sepultura após o homicídio-suicídio tinha este punhal na mão. Con iscámo-lo mais tarde, pois é proibido roubar relíquias de um túmulo índio, e descobrimos que o material da lâmina requeria mais investigação.
Painter compreendeu.
— Porque os índios dessa época não possuíam tecnologia para fabricara aço.
— Exatamente — con irmou Denton, olhando para Kanosh. — Especialmente este tipo de aço.
— O que quer dizer com isso? — perguntou Painter.
Denton voltou a concentrar-se no punhal.
— Este género de aço é raro e só é identi icável pela sua invulgar super ície ondulada. É conhecido por aço de Damasco, forjado unicamente no decorrer da Idade Média em poucas fundições do Médio Oriente. As espadas feitas com este aço eram lendárias e atingiam preços muito superiores aos das outras. Dizia-se que eram inquebráveis e que o io da sua lâmina era o mais a iado. O método usado na sua fundição era secreto e acabou por se perder ao longo do século XVII. Todas as tentativas para fazer uma cópia iel falharam e ainda hoje, quando podemos fabricar um aço tão duro ou mais, continuamos sem conseguir fazer aço comparável ao de Damasco.
— Porquê?
Denton apontou para o microscópio eletrónico que zunia na reentrância da parede.
— Para me certi icar de que o meu parecer inicial estava certo, analisei o aço a nível molecular. Consegui detetar a presença de nano ios de cementite e nanotubos de carbono no interior do metal. Ambos são características únicas do aço de Damasco e dão ao material a sua elevada resiliência e solidez. Universidades de todo o mundo andam a estudar amostras deste aço para tentar descobrir como era feito.
Painter fez um esforço para entender toda esta informação. Estava familiarizado com nano ios e nanotubos. Ambos eram subprodutos da nanotecnologia. Os nanotubos de carbono — cilindros de átomos de carbono arti icialmente criados — eram extraordinariamente fortes e já eram incorporados em produtos comerciais, desde capacetes antichoque até armaduras para proteger o corpo. Do mesmo modo, os nano ios eram compridas cadeias de átomos com propriedades elétricas únicas e mostravam-se promissores no progresso da microeletrónica e no desenvolvimento de chips
para
computador.
A
nanotecnologia transformara-se numa indústria de milhões e milhões de dólares e continuava a expandir a um ritmo espantoso.
Tudo isto levantava uma questão na mente de Painter. Apontou para o punhal.
— Estão a sugerir que esses fabricantes de espadas medievais eram capazes de manipular matéria a nível atómico e que tinham desvendado o código da nanotecnologia na Idade Média?
Denton acenou a cabeça.
— Possivelmente. Ou, pelo menos, estavam a par de algo. Foram encontrados outros vestígios de nanotecnologia antiga. Veja, por exemplo, os vitrais encontrados nas igrejas medievais. O vidro vermelho-rubi dessas velhas igrejas não pode ser reproduzido nos nossos dias e sabemos porquê. O exame do vidro a nível atómico revela a presença de esferas de nano-ouro, cuja criação ainda desa ia a ciência moderna. Outros exemplos como este têm igualmente sido descobertos.
Painter tentou arrumar tudo isto na cabeça. Pegou no punhal.
— Se têm razão, como é que este punhal foi encontrado na América, enterrado entre corpos do século XII?
Notou que Denton e Kanosh se entreolharam. O historiador índio abanou ligeiramente a cabeça na direção do ísico. Este, com rosto avermelhado pelo esforço de se manter calado, parecia ansioso para contar mais coisas. Acabou por desviar o olhar. Painter lembrou-se das palavras que ouvira ao entrar no laboratório. Isto pode ser a prova do que procurávamos! Porque és tão teimoso?
Parecia que os dois cientistas tinham mais especulações a fazer sobre o assunto, mas que, de momento, se mostravam relutantes em falar disso com um forasteiro. Painter não insistiu. Tinha algo mais imediato a tratar.
Virou-se para a sobrinha.
— Conta-me mais pormenores sobre os homens que andavam atrás de vocês. Os que se encontravam no helicóptero... Porque achas que vos queriam matar?
Kai encolheu-se toda. Lançou um olhar a Hank que a sossegou, acenando-lhe afetuosamente a cabeça. Ela respondeu com uma ponta de desafio na voz.
— Acho que foi por causa do que roubei da sepultura — disse.
— Mostra-lhe — interveio Kanosh.
Ela tirou duas placas de ouro de baixo do blusão, cada uma com cerca de cinquenta centímetros quadrados de super ície e seis milímetros de espessura. Uma parecia ter sido recentemente polida, mas a outra permanecia coberta por uma camada escura. Painter reparou que havia algo gravado nas placas.
Kanosh explicou.
— Na gruta, parecia haver centenas de placas embrulhadas em casca de zimbro e guardadas em caixas de pedra. Ao fugir, a Kai roubou três placas.
— Só vejo duas.
— Pois... Ela deixou cair uma ao saltar da gruta à vista das câmaras.
Painter deixou a informação penetrar-lhe no cérebro.
— Acha que alguém viu a imagem no noticiário e veio ver se ela tinha mais ouro.
— Se for ouro — atalhou Denton.
Princeton virou-se para ele.
— Assim como o punhal, examinei uma das placas ao microscópio eletrónico. Embora as placas tenham a cor de ouro, o metal é mais duro.
Muito mais... O ouro é relativamente maleável e lexível, mas estas placas são duras como pedras preciosas. A análise microscópica revelou uma estrutura atómica invulgarmente densa feita de estruturas macromoleculares de átomos de ouro ajustados uns aos outros como um puzzle. E toda a matriz parece ser mantida no lugar pelos mesmos nano ios de cementite encontrados no punhal. — Abanou a cabeça. — Nunca vi nada assim. O seu valor é incalculável.
— E, pelos vistos, vale a pena matar para lhes deitar a mão — acrescentou Painter.
Depois destas palavras, todas as luzes se apagaram de repente.
Ninguém se mexeu, sustendo a respiração. Algumas lâmpadas alimentadas a pilhas tremeluziram no corredor, mas iluminavam pouco o laboratório.
Um rosnar canino surgiu debaixo da mesa, arrepiando os pelos dos braços de Painter. Ajustando os olhos à escuridão, conseguiu ver uma forma escura e musculosa que contornou a perna da cadeira de Kanosh e icou a montar guarda.
— Caluda, Kanosh — murmurou o professor. — Está tudo bem, rapaz.
Kowalski resfolegou.
— Desculpe, doutor. Mas acho que devia dar ouvidos ao seu cão. Isto não está bem.
Kai esgueirou-se do lugar onde estava sentada e foi colocar-se ao pé do tio. Ele estendeu a mão e agarrou-lhe o pulso. Sentiu-lhe a pulsação acelerar quando algo pesado caiu com estrondo junto às escadas e ecoou pelos corredores.
O cão, Kawtch, voltou a rosnar.
— Há outra maneira de sair daqui? — sussurrou Painter ao professor de Física. — Uma saída de emergência?
— Não — respondeu baixinho e com medo. — O laboratório é subterrâneo. Todas as saídas dão para as escadas e conduzem ao edi ício principal.
Por isso, estamos encurralados.
12
31 DE MAIO, 01H12
TAKOMA PARK, MARYLAND
— Vire na próxima à esquerda — disse Gray ao taxista.
Para Seichan, era fácil notar a ansiedade estampada no seu rosto.
Depois de receber o telefonema frenético da mãe icara tenso. Sentado no banco de trás, estava inclinado para a frente e apontava com o braço estendido, como se quisesse saltar por cima do assento e apoderar-se do volante. A outra mão ainda agarrava o telemóvel. Tentara telefonar para casa dos pais várias vezes durante o trajeto de DC aos subúrbios de Maryland, mas ninguém atendera e ficara ainda mais nervoso.
— Vire na Cedar — ordenou. — É mais rápido.
Enquanto ele estava sentado à beira do banco, Seichan olhava pela janela. O táxi passou lentamente pela biblioteca de Takoma Park e virou num labirinto sombrio de ruas estreitas ladeadas com pequenas vivendas de estilo Queen Anne e imponentes mansões vitorianas. Densas copas de áceres e carvalhos transformavam as estradas em túneis frondosos que amorteciam o brilho das lâmpadas intermitentes da rua.
Ela observou as casas às escuras e tentou imaginar a vida de quem ali habitava, mas era uma existência estranha para ela. A infância no Vietname deixara-lhe poucas recordações. Não tinha memória do pai e preferia esquecer o que se lembrava da mãe; de ser arrancada dos seus braços, de a mãe ser arrastada por uma porta, com o rosto ensanguentado e a gritar, por homens fardados. Depois, Seichan passou a infância numa série de orfanatos miseráveis, meio esfomeada a maior parte do tempo e, a outra parte, maltratada.
Aqueles lares sossegados com vidas felizes não signi icavam nada para ela.
Finalmente, o táxi virou na Butternut Avenue. Seichan visitara apenas uma vez a casa dos pais de Gray. Fora ferida e procurava ajuda junto do único homem em quem podia con iar. Olhou para Gray. Há quase três meses que não estava tão perto dele. O seu rosto estava mais macilento, as feições marcadas por linhas mais duras, amenizadas apenas pelos lábios carnudos. Lembrava-se de beijar esses mesmos lábios uma vez, num momento de fraqueza. Não houve ternura nesse gesto, apenas desespero e necessidade. Ainda hoje se lembrava do calor, da aspereza da sua barba por fazer, do modo brusco como a agarrara. Mas, assim como aquelas casas tranquilas, essa vida não era para ela.
Além disso, a última notícia que ouvira é que ele andava intermitentemente envolvido com uma tenente dos carabinieri. Pelo menos, há uns meses.
Os olhos de Gray franziram-se subitamente a litos, revelando as rugas fundas aos cantos. A rua estava tão escura como as outras da vizinhança, mas, à frente deles, um pequeno bangaló com alpendre espaçoso encontrava-se profusamente iluminado.
— É esta a casa — disse Gray ao taxista.
Saltou do táxi em andamento, lançando um punhado de notas ao motorista. Seichan cruzou o olhar com o taxista no espelho retrovisor, que parecia prestes a reagir rudemente a tamanha incorreção, mas ela itou-o, silenciando-o. Estendeu-lhe a mão aberta.
— O troco.
Deixou-lhe uma pequena gorjeta, guardou o resto no bolso e saiu do táxi.
Seguiu Gray que atravessava a rua a correr, mas a sua meta não era o alpendre da frente. Ao lado da casa, um caminho estreito conduzia a uma garagem para um único carro. A porta de correr estava aberta e as luzes acesas revelavam duas silhuetas. Não admirava que ninguém tivesse atendido o telefone.
Gray percorreu rapidamente o caminho.
Ao aproximar-se da garagem, Seichan ouviu o ruído de uma serra elétrica; o aço a morder a madeira espalhava um odor a cedro.
— Vais acordar toda a vizinhança, Jack — suplicava em tom de queixa uma mulher. — Acaba com isso e vem deitar-te.
— Mãe... — chamou Gray, apressando-se.
Seichan manteve-se uns passos atrás, mas a mãe de Gray olhou-a com o sobrolho franzido, tentando identi icar a pessoa estranha que acompanhava o ilho. Há dois anos que não se viam. O reconhecimento e a confusão estamparam-se lentamente no rosto da mulher mais velha — e como seria de esperar um pouco de receio.
Seichan icou chocada ao ver como os pais de Gray tinham envelhecido, frágeis sombras do que foram. A mãe, despenteada, estava vestida com um casaco de andar por casa atado à cintura e calçava chinelos. O pai, descalço, vestia uma camisola interior e uns calções que revelavam a prótese da perna amarrada à coxa com um cinto.
— Onde está a máquina de polir, Harriet? Porque mexes nas minhas coisas?
O pai de Gray estava encostado à bancada de carpinteiro com o rosto vermelho de cólera e a testa suada. Tentava a custo segurar um pedaço de madeira a um grampo. Atrás dele, estava uma serra elétrica e bocados de carvalho cortados ao acaso estavam espalhados no chão, como se tivesse estado a construir peças de um puzzle cuja solução só ele conhecia.
Gray avançou, desligou a serra e aproximou-se do pai tentando afastá-
lo gentilmente da bancada. Um cotovelo acertou-lhe no rosto. Cambaleou para trás.
— Jack! — gritou a mãe, furiosa.
O pai olhou à volta com ar confuso. Pareceu inalmente aperceber-se do que fizera.
— Tenho... Não quis...
Levou a mão à testa, como se fosse veri icar se tinha febre. Estendeu um braço na direção do filho.
— Desculpa, Kenny...
Gray teve um sobressalto.
— Sou o Gray, pai. O Kenny está na Califórnia.
Seichan sabia que Gray tinha um único irmão que dirigia uma start-up da internet em Silicon Valley. Gray, a sangrar do lábio, aproximou-se do pai com mais prudência.
— Sou eu, pai.
— Grayson?
Deixou o ilho pegar-lhe no braço. Com os olhos congestionados e exausto, olhou à volta da garagem. Uma súbita expressão de medo passou-lhe pelo rosto.
— O que... onde...?
— Está tudo bem, pai. Vamos para dentro.
Ele hesitou, desequilibrando-se na perna aleijada.
— Tenho de beber uma cerveja.
— Vamos buscar-te uma.
Gray guiou-o até à porta do fundo que dava para o interior da casa. A mãe deixou-se icar para trás com os braços cruzados no peito. Seichan mantinha-se a alguma distância, insegura e pouco à vontade.
Os olhos da mãe, marejados de lágrimas, encontraram o rosto dela.
— Não o consegui deter — disse, sentindo necessidade de se explicar.
— Acordou agitado. Pensava que estava de novo no Texas e que ia chegar tarde ao emprego. A seguir, veio para aqui. Julguei que ia cortar a mão.
Seichan deu um passo na sua direção, mas não tinha palavras para reconfortar a mulher a lita. Parecendo sentir isso, a mão de Gray passou os dedos pelo cabelo e respirou fundo, como para ganhar forças. Seichan vira Gray fazer o mesmo muitas vezes e, neste momento, reconheceu a verdadeira origem da sua resistência.
— Devia ajudar o Gray a metê-lo novamente na cama.
Dirigiu-se para casa, passando su icientemente perto de Seichan para lhe apertar a mão.
— Obrigada por ter vindo. O Gray encarrega-se de demasiadas coisas sozinho. É bom que você esteja aqui.
A mãe encaminhou-se para a porta, deixando Seichan no pátio.
Esfregou a mão que Harriet lhe apertara e ainda estava quente do contacto. Sentiu uma inexplicável contração no peito. Até mesmo esta pequena inclusão, esta pequena intimidade familiar a enervava.
Chegada à porta, Harriet virou-se para ela.
— Quer esperar cá dentro?
Seichan recuou. Apontou para a fachada da casa.
— Vou esperar no alpendre — disse.
— Tenho a certeza de que não vai demorar.
Com um breve sorriso triste de desculpa, deixou a porta fechar-se atrás dela.
Seichan icou por ali um momento e, depois, voltou para a garagem, sentindo a necessidade de fazer qualquer coisa para se acalmar. Apagou a luz, fechou a porta e dirigiu-se para a entrada da casa. Subiu para o alpendre e sentou-se num banco, banhada pela luz da sala da frente.
Sentia-se exposta, o corpo delineado pela claridade, mas não havia ninguém por ali. A avenida permanecia escura e vazia — contudo, convidativa. Teve o desejo momentâneo de fugir. As ruas eram o seu único e verdadeiro lar.
As luzes da casa acabaram por se apagar uma a uma. Ouviu vozes abafadas, mas não entendeu as palavras. Era o lento rumor das famílias.
Esperou, encurralada entre o vazio da rua e o calor da casa.
Por im, uma última luz apagou-se, afundando o pátio nas sombras.
Ouviu passos e a porta abriu-se. Gray saiu, soltando um longo suspiro.
— Estás bem? — perguntou ela docemente.
Ele encolheu os ombros. Que mais dizer? Foi ter com ela.
— Gostaria de icar por aqui mais meia hora, para me certi icar de que está tudo bem. Posso chamar um táxi.
— Para ir onde? — perguntou ela, deixando um pouco de humor negro embotar a opressiva realidade.
Gray sentou-se ao seu lado, recostando-se. Permaneceu em silêncio durante um longo momento antes de voltar a falar.
— Chamam-lhe síndrome do pôr do Sol — disse, dando livre curso aos seus pensamentos ou tentando talvez encontrar uma justi icação, dar um nome à sua dor. — No caso dos doentes de Alzheimer, os sintomas de demência pioram de noite. Não se sabe realmente porquê. Há médicos que dizem que é por as alterações hormonais ocorrerem de noite. Outros que é uma descarga da tensão acumulada e da estimulação sensorial do dia.
— Com que frequência é que acontece?
— Está a tornar-se frequente. Três ou quatro vezes por mês. Mas deve passar o resto da noite bem. As explosões como esta parecem esgotá-lo.
— E tu vens sempre?
Outro encolher de ombros.
— Quando posso.
O silêncio instalou-se entre eles. Gray perscrutava a distância como se fosse o futuro. Ela suspeitava que ele ponderava quanto tempo conseguiria fazê-lo sozinho.
Pensando que uma distração talvez lhe izesse bem, Seichan mudou a conversa para o outro problema deles.
— Tens notícias do teu parceiro?
Gray abanou a cabeça. A sua voz tornou-se mais irme; este problema transportava-o para um terreno mais estável.
— Nenhum telefonema. Os arquivistas demorarão provavelmente até de manhã para fazer uma busca minuciosa. Mas julgo que percebi porque essa carta... a de Benjamin Franklin ao cientista francês... apareceu no meio da recente atividade da Confraria.
Ela endireitou-se no banco. Custara-lhe muito, quase se expôs, recuperar uma cópia dessa carta.
— Segundo disseste — continuou ele. — A carta de Franklin surgiu há doze dias.
— Exato.
— Pouco depois de a gruta ter sido descoberta no Utah.
— Já mencionaste isso, mas não estou a ver a relação.
— Penso que o ponto crucial se reduz a duas palavras encontradas na carta do Franklin. Índios pálidos.
Ela abanou a cabeça, lembrando-se da frase nessa carta. Lera a tradução suficientes vezes para a saber de cor.
Com essas mortes, todos os que tinham conhecimento do Grande Elixir e os Índios Pálidos estão nas mãos da Providência.
E ainda não compreendia.
— E então?
Gray aproximou-se, como se a proximidade física o ajudasse a falar.
— Pouco depois da descoberta, uma investigação começou a identi icar os restos mortais mumi icados encontrados no interior da gruta. Grupos de nativos americanos reivindicavam direitos sobre os mortos, mas havia disputa quanto à propriedade, pois a aparência dos restos era mais caucasiana.
— Caucasiana?
— Índios pálidos — acentuou Gray. — Se a Confraria... a velha inimiga de Franklin... esteve envolvida no passado em assuntos que tinham que ver com índios de pele branca, a repentina descoberta de uma gruta cheia deles mumi icados, juntamente com as suas relíquias, também atrairia certamente a sua atenção. Nesses tempos, Franklin e Jefferson procuravam claramente qualquer coisa, algo que, segundo acreditavam, ameaçava a nova união. E, aparentemente, o inimigo deles também andava atrás dessa coisa.
— E, no caso de teres razão, ainda anda — acrescentou ela. — Que achas? Foi a Confraria que provocou a explosão no Utah?
— Não acredito, mas, de qualquer modo, tenho de informar o chefe Crowe. Se eu tiver razão, ele está a meter-se no meio de uma guerra que dura há séculos.
13
30 DE MAIO, 23H33
PROVO, UTAH
Quando os seus olhos se ajustaram à escuridão do laboratório, Kai puxou o pulso da mão do tio. Um ténue clarão proveniente das luzes de emergência inundava o corredor.
Examinou o labirinto do laboratório às escuras, pronta para fugir. Era a sua única defesa. Adotada por várias famílias, aprendera rapidamente a reconhecer os sinais de alerta à sua volta. Era fundamental para sobreviver, sentir o estado de espírito ambiente, saber quando agir com prudência ou bater o pé em casas onde mal era tolerada.
O professor Kanosh, que de joelhos acalmava Kawtch, levantou-se.
— Talvez se trate apenas de um corte temporário de eletricidade.
Kai agarrou-se a essa ideia, mas sabia que era por desespero. Olhou para o tio em busca de conforto.
Painter aproximou-se do telefone de uma secretária e levantou o auscultador. A velha imagem estereotipada de um índio com a orelha colada ao chão para ouvir sinais de perigo veio à cabeça de Kai. Era uma versão moderna.
— Não tem som — constatou. — As linhas devem ter sido cortadas.
Ela cruzou os braços. Tanto pior para essa esperança...
Painter virou-se para o grandalhão com quem viera e apontou para a porta do laboratório.
— Vigia a entrada, Kowalski. Prepara-te para barricar a entrada caso seja necessário.
Kowalski encaminhou-se para a porta, afastando o guarda-pó comprido e revelando uma espingarda presa à perna. Kai era su icientemente conhecedora de armas por causa dos tempos em que caçava com o pai, mas havia algo de estranho nesta, sobretudo as balas suplementares alinhadas na coronha da espingarda. Eram a iadas numa ponta. A presença da arma tornava a situação ainda mais autêntica. O seu coração começou a bater com mais força e os seus sentidos aguçaram-se.
— O que vamos fazer? — perguntou Denton.
— Devíamos esconder-nos — balbuciou Kai, debatendo-se contra um tremor que ameaçava deixá-la a espernear no chão. Afastou-se, procurando o conforto de espaços escuros.
Painter deteve-a, colocando-lhe uma mão no ombro. Puxou-a e Kai não resistiu, encostando-se a ele. Era como abraçar um poste metálico. Era todo músculo, osso e decisão.
— Não resolve nada esconderes-te — explicou-lhe. — É óbvio que alguém deve ter andado a vigiá-los. Seguiu-vos até aqui e mandou uma equipa para vos encontrar. Vão passar este lugar a pente ino. A nossa única esperança é que levem tempo a fazer buscas no edi ício principal e só depois corram o risco de descer ao laboratório subterrâneo. Até lá, temos de arranjar maneira de fugir.
Kai olhou para o teto, imaginando o laboratório enterrado.
— E por cima? — perguntou, agarrando-se a todas as possibilidades.
Painter lançou-lhe um olhar apreciativo, o que muito a ajudou a recuperar forças.
— O que acham? — perguntou aos dois professores. — Há condutas de ventilação? Túneis de serviço?
— Lamento — disse Denton com voz trémula. — Conheço todo o traçado das infraestruturas deste lugar. Não há nada disso. Pelo menos, su icientemente largo para alguém passar. A única coisa que está por cima das nossas cabeças é cimento reforçado com trinta centímetros de espessura e cerca de um metro de terra, rocha e relva.
— Mas a ideia da miúda é boa. E se fabricámos a nossa saída? — disse com voz roufenha Kowalski.
Atirou um objeto com o tamanho de um pêssego a Crowe, que o apanhou com uma mão. Ela viu Painter estremecer e praguejar em voz baixa.
23h35
Painter baixou os olhos para o que estava a segurar. Embora os seus olhos se tivessem ajustado à escuridão, era difícil distinguir o objeto — mas pelo seu odor químico e contacto gorduroso não havia dúvidas quanto à sua identificação.
— O que andas a fazer com C-4? — perguntou finalmente, chocado.
Kowalski encolheu os ombros.
— É o que sobrou da outra vez.
Da outra vez?
Painter franziu o sobrolho e lembrou-se. Reviu o homem no escritório a amassar o explosivo plástico como se fosse uma bola para aliviar a tensão.
E, provavelmente, era para isso que lhe servia pois, aparentemente, não se livrara dele.
Painter baixou o braço e abanou a cabeça sem poder acreditar. Só Kowalski é que era capaz de andar por aí com um explosivo destes no bolso.
O que levantava outra questão.
— Por acaso, trouxeste também um detonador? — perguntou.
— Vá lá, chefe. Não posso pensar em tudo.
Painter lançou um olhar à volta do laboratório, tentando ver se encontrava alguma coisa que pudesse usar para improvisar um detonador.
O C-4 era conhecido pela sua estabilidade. Podia ser queimado, eletrocutado ou levar um tiro sem explodir. Era necessário uma intensa onde de choque, como a provocada por um detonador, para explodir.
— Pode ser que o laboratório de ísica aplicada tenha o que precisa — sugeriu Denton. — Trabalham com atividades mineiras da região e possuem detonadores.
— E onde fica esse laboratório?
— Ao pé da escada.
Painter suspirou interiormente. Não era nessa direção que desejava ir.
Seria perigoso e arriscavam expor-se, mas não tinha outra alternativa.
Examinou Denton. Odiava envolver civis, mas o laboratório subterrâneo era um labirinto e não sabia onde começar a procurar detonadores.
— Não se importa de vir comigo, professor Denton? Para me mostrar?
O professor aquiesceu com um gesto de cabeça, mas era claro que sentia alguma relutância.
Painter foi ter com Kowalski e devolveu-lhe a bola de explosivo.
— Procura um lugar para colocar isto. Uma viga do teto ou um sítio onde a possibilidade de abrirmos um buraco seja maior. E coloca-o o mais fundo que puderes e tão longe quanto possível do centro de ciências.
Painter achava que todas as saídas estavam a ser vigiadas. Para que o seu plano desse resultado teriam de escapar a todas as armadilhas que tivessem sido montadas à volta do edifício.
— As instalações mais recuadas são as da câmara do acelerador de partículas — indicou Denton.
— Eu sei onde é — acrescentou Kanosh. — Em frente, na outra extremidade do corredor. É impossível alguém enganar-se. Posso levá-lo.
— Ótimo. Traga a Kai e o seu cão também. Escondam-se lá todos até voltarmos.
Painter sentiu a pressão do tempo e calculou rapidamente o que precisava para executar esta operação. Dentou ajudou-o a reunir as ferramentas necessárias. A seguir, Painter sacou a sua pistola SIG Sauer do coldre e trocou-a pela espingarda modificada de Kowalski.
— Proteja-os e atire a matar.
Kowalski protestou.
— Como se eu disparasse de maneira diferente.
Kai colocou-se ao seu lado, mas os seus olhos assustados estavam ixos em Painter.
— Tem cuidado, tio Crowe...
— É esse o meu plano — murmurou ele ironicamente, sem conseguir, contudo, evitar um momento de apreensão ao apontar para a porta. — Toca a sair daqui.
23h36
Sentado numa poltrona de cabedal, Rafe olhava para o ecrã do seu computador portátil. Transmitia ao vivo a operação no terreno sob múltiplos ângulos, através de câmaras montadas nos capacetes pretos dos seus mercenários. Eram imagens que lhe davam volta ao estômago, mas não conseguia afastar o olhar.
Seguira o assalto inicial quando a eletricidade e o telefone foram cortados, e todas as saídas estavam sob vigilância apertada. Quatro estudantes atordoados pelas granadas saíram a cambalear por várias portas, fugindo do edi ício às escuras. Foram rapidamente despachados e os seus corpos escondidos. O corpo de assalto entrou, revistando todos os andares em busca dos alvos.
Não icou surpreendido por não os conseguirem desalojar. Apesar de os seus homens terem sido escolhidos a dedo por Bern pela sua crueldade e espírito minucioso, a presa tornara-se mais cautelosa depois dos acontecimentos nas montanhas. Mas acabariam por ser apanhados.
A um dos cantos do ecrã, Bern virou a câmara para o seu próprio rosto a im de indicar que o queria informar do que se passava no terreno. A sua voz era um pouco indistinta por causa da transmissão digital.
— Todos os andares superiores foram passados a pente ino. Só resta a cave. A equipa dirige-se neste momento para lá.
— Muito bem.
Rafe aproximou o rosto do ecrã na ânsia de ver melhor. Quer dizer que fugiram para a cave, como ratos em pânico. Pouco importa. Tenho os melhores caçadores de ratos que o dinheiro pode comprar.
Um gemido atraiu a sua atenção para uma poltrona atrás dele junto ao fogo. As chamas dançavam, projetando sombras — mas nenhuma mais escura do que a sua rainha negra, Ashanda, que segurava um rapazinho que não tinha mais de quatro anos. O rosto da criança estava banhado de lágrimas e muco, os olhos esbugalhados de medo. Deveriam, provavelmente, ter retirado o corpo da mãe da sala, mas não houve tempo para tais delicadezas. A mulher jazia sobre o tapete persa e o sangue e os miolos arruinavam a subtil trama dos fios de lã.
Ashanda olhava para as labaredas e acariciava docemente os cabelos da criança. Um dos homens de Bern oferecera-se para aliviar o seu sofrimento com um golpe de espada, mas Ashanda empurrara o musculoso mercenário como se fosse uma boneca de trapos para proteger o menino.
Cuidava sempre de toda a gente.
Rafe suspirou. Ainda teriam de se ocupar do rapazinho, mas não enquanto Ashanda estivesse a olhar por ele.
Até lá...
Virou-se para o ecrã, concentrando-se totalmente nele.
De volta ao espetáculo.
23h38
Em cima de um pequeno banco no interior do laboratório de ísica aplicada, Painter trabalhava com afã enquanto Denton segurava uma lanterna. O professor guiara-o em segurança até aqui, não muito longe da escada que acedia ao edifício principal.
Apesar dos seus escrúpulos em envolver civis, estava satisfeito por Denton o ter acompanhado. Meio escondido, o laboratório não era fácil de encontrar. A sala comprida e estreita estava apinhada de aparelhos e equipamento e era dominada por uma prensa cúbica com bigornas de aço inoxidável, usada em operações de alta pressão, como a fabricação de diamantes sintéticos.
Mas o objetivo de Painter era mais precioso do que qualquer diamante.
Denton conduzira-o a um armário fechado. Após ter manipulado desajeitadamente várias chaves, conseguiu abri-lo e passou a Painter uma caixa com detonadores elétricos.
— Acha que isto chega? — sussurrara, ofegante.
Teria de chegar... mas requeria alguma improvisação.
Painter concentrou-se no trabalho, utilizando pinças e alicates de ponta fina, executando uma delicada cirurgia. Estes detonadores necessitavam de uma descarga elétrica, como a da bateria de um telemóvel ou de outra fonte. E não queria estar por perto quando o detonador izesse explodir o C-4. Precisava de arranjar maneira de o detonar à distância — e, sem sinal no telemóvel aqui em baixo, só havia outra possibilidade.
Com extremo cuidado, ligou os ios do detonador à bateria da Taser XREP que esvaziara previamente. A cápsula da espingarda tinha o mesmo tamanho de qualquer bala de calibre 12, mas o seu invólucro era transparente e cheio de elementos eletrónicos em vez de chumbos normais. Mesmo com a sua experiência em engenharia eletrónica e microdesign, Painter susteve a respiração. Qualquer engano poderia levar-lhe os dedos.
Ao prender o último io — certi icando-se de que não perturbava o transformador nem o microprocessador do engenho — foi alertado por um ruído furtivo vindo da porta do laboratório. O denunciador bater de botas nas escadas chegou até eles, seguido por vozes abafadas, entrecortadas e bruscas, em tom militar. Os assaltantes, con iantes, avançavam sem o mínimo cuidado, julgando que os seus alvos eram civis desarmados.
Painter voltou rapidamente a montar a cápsula e meteu-a no bolso, agarrando na espingarda Mossberg encostada ao banco.
— Ao meu sinal, vá ter com os outros — disse, virando-se para Denton.
— Eu encarrego-me de ganhar tempo.
O professor acenou a cabeça, mas a mão que segurava a lanterna estremeceu quando a apagou.
Painter saiu pela porta do laboratório e deu mais uns passos para chegar ao corredor principal. Com Denton atrás, espreitou à esquina. À luz ténue dos sinais de emergência, avistou um grupo de homens fardados de preto junto às escadas. A equipa fazia gestos com as mãos, preparando-se para se separar: metade para revistar a cave por baixo do edi ício de ciências e a outra para entrar nas instalações subterrâneas a norte do centro.
Painter não tinha tempo a perder. Levando um dedo aos lábios, fez sinal a Denton para se afastar das escadas e fugir. Denton não icaria exposto muito tempo. A cinco metros, o corredor, às escuras, virava abruptamente à esquerda e, depois da esquina, o professor tinha o caminho aberto para ir ter com os outros.
Denton pareceu perceber isso e, encostando-se à parede, começou a mover-se na direção dos companheiros. Painter vigiava a equipa de assalto pelo sistema de mira da Mossberg. Se algum se mostrasse agressivo com Denton, atingia-o com uma descarga do taser. A surpresa de uma resistência armada deveria obrigar o adversário a procurar cobertura e dar tempo su iciente a Painter para virar a esquina antes que a equipa se reagrupasse.
Sem tirar os olhos da equipa de assalto, ouvia os passos de Denton a afastarem-se. Ao chegar à esquina, estrebuchou. Painter virou-se a tempo de ver o corpo do professor ser atirado contra a parede do fundo e escorregar numa massa inerte sem metade do rosto.
Painter fez um esforço para não reagir e, endurecido pela raiva, manteve uma calma letal.
Um enorme vulto surgiu à esquina com uma pistola com silenciador a fumegar na mão. O homem usava equipamento de combate preto como os outros e tinha óculos de visão noturna montados no capacete. Ao contrário dos companheiros, nada havia de negligente na sua atitude. A irmeza dos seus movimentos indicava uma posição de comando. Devia ter entrado no laboratório de ísica aplicada sem que Painter se apercebesse para fazer o reconhecimento do terreno sozinho. E o professor em fuga fora apanhado desprevenido. Após uma ligeira hesitação, o homem virou-se na direção de Painter.
Quer tivesse sido visto ou não, Painter sabia que a única salvação era defender-se. Baixou-se. Um tiro passou perto dele — o homem era rápido, mas com a precipitação visara demasiado alto.
Painter disparou e a detonação da espingarda ecoou, ensurdecedora, no corredor. Acertou-lhe na parte de cima da coxa, que icou marcada por uma descarga elétrica azulada. Painter rolou de costas, puxando atrás a bomba da Mossberg com uma mão para soltar o cartucho gasto e colocar outro na câmara.
Levantando-se de um salto, disparou às cegas em direção às escadas e fugiu. Ouviu um grito, indicando que acertara em alguém. Deixou que essa pequena vitória alimentasse a sua fuga pelo corredor. Ao chegar à esquina, saltou por cima do corpo do adversário a contorcer-se.
Viu de relance Denton caído no chão e teve a certeza de que estava morto. Foi percorrido por um sentimento de culpa. O professor estava sob a sua proteção. Não o devia ter exposto daquela maneira — mas sabia porque o tinha feito.
Imaginou o rosto de Kai, assustada e de olhos esgazeados como uma corça, parecendo muito mais jovem do que os seus dezoito anos. Correra riscos que normalmente não correria — outro homem pagara o preço da sua imprudência.
Por enquanto, contudo, não tinha tempo para sentir remorsos.
Ao virar a esquina, uma rajada de tiros detonou atrás dele. Esquivou-se e fugiu dos assaltantes — mas não seria por muito tempo.
23h39
— Levanta-te! — gritou Rafe diante do ecrã.
Através do circuito, vira Bern dar um tiro na cara de um velho de bata branca e saboreara a expressão de surpresa antes de se desfazer numa imagem indistinta de ossos e sangue. Mas essa vitória não durara muito tempo. Passado um instante, Bern estava caído no chão. A câmara revelava uma parte distorcida do teto e, a seguir, um vulto com uma espingarda ou fuzil na mão saltava por cima do seu ajudante de campo.
Rafe debruçou-se tocando com o nariz no ecrã. Ativou o rádio de Bern.
— Levanta-te! — repetiu.
Não o preocupava se Bern capturava o atirador. Só queria saber o que estava a acontecer. Recostou-se com um sorriso tenso no rosto. Era tudo muito excitante.
23h40
Painter atravessou o corredor a correr. Era sempre a direito até chegar ao laboratório na parte de trás do edi ício. À sua frente, entreabriram-se umas portas duplas. Avistou Kowalski a espreitar de pistola apontada para o corredor. Devia ter ouvido os tiros.
— Reúne toda a gente! — gritou Painter. — Têm de se abrigar!
Kowalski obedeceu e recuou, abrindo a porta de par em par com um pontapé para facilitar a fuga de Painter.
Todos os segundos contavam.
Enquanto corria, Painter puxou atrás a bomba da espingarda para soltar o cartucho vazio. Pondo a Mossberg debaixo do braço, tirou o cartucho adaptado e en iou-o desajeitadamente na câmara vazia. Depois, empurrou a bomba para a frente, colocando o bloco e o percutor em posição.
Só teria a possibilidade de disparar um tiro.
Ao chegar à porta do laboratório, um tiro de pistola ressoou atrás dele e sentiu uma queimadura quando a bala lhe roçou o braço. Olhou por cima do ombro e viu o comando abatido ainda a contorcer-se e a pôr-se em pé. A pistola, a tremer no seu punho, disparou outra vez, mas falhou o alvo.
Painter teve de admitir a verdade: Aquele tipo era um ilho da mãe duro de roer.
Ao chegar ao laboratório, mergulhou para dentro e fechou a porta atrás de si. Poucos segundos depois, rajadas de uma arma automática martelaram a porta de aço. A equipa de assalto devia ter entrado no corredor e os tiros continuaram sem parar.
Painter não tinha tempo a perder.
Para tornar a situação ainda pior, não via nada. Com a porta fechada, o laboratório estava escuro como breu. Avançou pela sala com um braço levantado à sua frente para não esbarrar em nada.
— Onde estão? — gritou para ser ouvido no meio da barulheira cacofónica do assalto.
Uma lanterna acendeu-se diante dele, iluminando a sala com um brilho ofuscante que lhe permitiu ver os outros escondidos por detrás da volumosa massa de um acelerador Van de Graaff e parte de um complexo maior que se estendia através da sala cavernosa.
Painter correu para junto deles, examinando o teto à procura do C-4.
— Atrás de si! — gritou-lhe Kowalski. — Por cima da porta.
Painter virou-se e olhou na direção indicada. A luz da lanterna iluminou um pedaço amarelo acinzentado de explosivo enfiado numa fenda por cima da porta. Parecia uma issura recentemente remendada. Kowalski escolhera um bom lugar.
Levantou a caçadeira — justamente no momento em que as portas duplas eram arrancadas. O tiroteio rebentou na sala às escuras. Painter afastou-se a cambalear e deixou-se cair de costas. Protegidos por uma barragem de tiros, dois comandos precipitaram-se no laboratório. Kowalski respondia ao fogo da sua posição abrigada.
Painter avistou o homem que recebera uma descarga do taser no corredor. Era obviamente o chefe dos comandos. Apontava uma arma e dava ordens.
Painter não podia dar-lhe mais atenção.
Ergueu a espingarda deitado no chão, fez pontaria ao C-4 e puxou o gatilho. O projétil XREP saiu com uma explosão e a descarga elétrica provocou faíscas ao longo do teto na altura da explosão — mas nada mais aconteceu.
Kowalski praguejou.
O que é que falhou...
Uma explosão ensurdecedora cortou a respiração a Painter e atirou o seu corpo contra o acelerador. Ao ser lançado de costas, viu os dois comandos serem esmagados, primeiro, pela onda de choque e, depois, enterrados sob um monte de cimento, traves retorcidas e terra.
Nuvens de fumo e pó rolaram pela sala em turbilhão.
Atordoado, sentiu o corpo ser levantado no ar. Kowalski carregava-o com um braço e arrastava Kai com o outro. Com os ouvidos a retinir, tentou pôr-se em pé. Os destroços bloqueavam a porta, impedindo a entrada dos restantes comandos. Painter esticou o pescoço. Na escuridão envolta em fumo, a luz entrava a jorros pelo buraco aberto pela explosão.
O luar era dolorosamente brilhante.
Tinham conseguido.
23h42
Rafe permaneceu diante da secretária onde estava o computador portátil. Cruzou os dedos no alto da cabeça, olhando para um corredor em ruínas enquanto os seus homens recuavam. Soltou inalmente o longo suspiro que continha.
Baixou os braços, cerrando os punhos.
Olhou para Ashanda, como se lhe perguntasse em silêncio se vira o que acontecera no ecrã. Ela continuava sentada com o rapazinho que parecia em estado meio comatoso por causa do choque.
Rafe podia entender.
O coração batia, incendiando-lhe o sangue nas veias. Embora estivesse zangado, uma parte dele não podia deixar de se sentir impressionado.
Quer dizer que a nossa presa arranjou ajuda... um guarda-costas com alguma competência.
Bern conseguira pelo menos tirar uma boa fotogra ia ao astucioso culpado, com a câmara montada no capacete, antes de a explosão abater o teto. Embora a foto não fosse de grande qualidade, captara um grande plano do seu rosto. O programa de reconhecimento facial desenvolvido por uma subsidiária da família Saint Germaine para a Europol deveria ser capaz de identificar facilmente essa personagem.
Através da rádio, a voz de Bern soava um pouco deformada.
— ... escapou a pé. A polícia local e as equipas de emergência estão a chegar ao local. Quais... ordens?
Rafe suspirou, reduzindo a intensidade do fogo no seu sangue. Era uma vergonha. Devido às limitações do seu corpo, não era com frequência que tinha a oportunidade de desfrutar uma tal lufada de adrenalina. Falou para o laringofone.
— Vão-se embora. Os alvos não irão permanecer nessa área.
Seguiremos a sua pista mais tarde.
Furioso pela perda dos seus companheiros de armas, parecia que Bern queria discutir. Devia ser o seu sangue ariano que alimentava o desejo germânico de vingança imediata. Mas tinha de aprender a ser paciente. Se havia uma verdadeira origem por detrás da riqueza e poder dos Saint Germaine, provinha do seu conhecimento, apreço e talento no long jeu.
O jogo demorado.
E com a sua mente excecional, não havia melhor jogador do que Rafael Saint Germaine. Para os outros, isto podia não passar de mera gabarolice, mas ele já dera provas do seu valor vezes sem conta. E era por isso que, tendo sido nomeado pela família para procurar um tesouro com milhares de anos, se encontrava aqui.
Havia algum jogo mais demorado?
Depois de Bern ter desligado, Rafe consultou novamente o portátil para ver a imagem de quem se imiscuíra nos seus negócios. Muitas culturas primitivas davam muita importância aos nomes pois julgavam que a obtenção de tais pormenores lhes concedia poderes especiais. Rafe acreditava nisso até ao fundo dos seus pobres ossos.
Com os punhos em cima da secretária fitou o adversário.
— Vous êtes qui? — murmurou em francês.
Queria desesperadamente obter uma resposta a essa pergunta.
Quem são vocês?
00h22
Sentado no assento ao lado do volante, Painter viu as luzes de Provo desaparecerem à distância no retrovisor. Só então baixou a guarda.
Ligeiramente.
Contra a sua vontade, era Kowalski quem guiava o carro alugado, um Toyota Land Cruiser branco. Para onde iam, um veículo com tração às quatro rodas era imprescindível. Painter não estava em condições de conduzir durante um longo trajeto pois ainda sentia o braço a latejar por causa da bala e doía-lhe a cabeça.
Talvez esteja a ficar demasiado velho para isto...
Reviu o divã em sua casa e Lisa a acariciar-lhe o caracol branco. O que estava a fazer ali no terreno? Era trabalho para um tipo mais novo.
A prová-lo, Kowalski parecia em forma, bebericando café de um termo para se manter acordado ao longo do percurso noturno. No banco de trás, Kai estava encostada ao professor Kanosh com uma mão pousada no cão.
Ambos dormiam, mas um par de olhos caninos — um castanho e outro azul — permanecia vigilante.
Painter acenou com a cabeça a Kawtch. Vigia-a.
O cão reagiu abanando a cauda.
Virou-se para a frente, ainda desanimado. Após a fuga do campus, teve de informar os outros da morte do professor Denton. Kanosh icou muito abatido, envelhecendo em segundos. Perdera demasiados amigos em vinte e quatro horas. Apenas a necessidade de se distanciarem dos assaltantes atenuara o desgosto. E, assim, depois de uma rápida passagem por uma farmácia para tratar o ferimento, saíram da cidade.
Iam encontrar-se com amigos de Kanosh, um grupo de nativos americanos que vivia da natureza. Painter queria levar Kai para um lugar seguro e precisava de respostas sobre o que estava realmente a acontecer.
O telemóvel vibrou no bolso. Tirou-o franzindo o sobrolho, veri icou a identidade de quem telefonava e levou o aparelho ao ouvido.
— Comandante Pierce?
Um telefonema a esta hora surpreendia-o, em particular por vir da Costa Leste onde eram duas horas mais tarde. Falou em voz baixa para não perturbar os outros.
— Chefe Crowe — disse Gray. — Alegra-me que esteja bem. A Kat falou-me do ataque e pediu-me para lhe telefonar.
— A respeito de quê?
Painter já contactara o comando da Sigma e informara Kathryn Bryant do episódio no Utah. Ela estava a seguir o resultado da explosão na universidade e, utilizando os recursos que tinha na polícia federal e em vários serviços de informação, tentava identi icar os assaltantes do laboratório de física.
— Creio que talvez tenha uma informação sobre o ataque — explicou Gray.
As palavras espicaçaram a atenção de Painter. Que ele soubesse, Gray andava a investigar uma pista da Confraria. Tinha má impressão disto.
— Que espécie de informação? — perguntou.
— Ainda é preliminar. Mal começámos a escavar a super ície, mas julgo que uma informação obtida pela Seichan esteja relacionada com os eventos no Utah.
Painter escutou a história que Gray contou de Benjamin Franklin e do cientista francês, e de uma ameaça relacionada com os índios pálidos, para usar o termo de Franklin. Inclinou-se para a frente à medida que a história se desenrolava, especialmente no que dizia respeito a um misterioso inimigo dos Pais Fundadores que usava o mesmo símbolo da Confraria moderna.
— Julgo que a descoberta dessa gruta despertou a atenção da Confraria — continuou Gray. — É óbvio que algo importante se perdeu há muito ou foi escondido deles.
— E, agora, voltou à superfície — concluiu Painter.
Era um pensamento intrigante e, pelo requinte e brutalidade do assalto ao laboratório, o ataque tinha todas as características da Confraria.
— Vou continuar a investigar essa faceta aqui — disse Gray. — E ver o que consigo descobrir.
— Muito bem.
— Mas a Kat também queria que lhe telefonasse por outro motivo.
— Qual?
— Para o informar de uma anomalia que está a propagar-se por toda a comunidade cientí ica. Parece que um grupo de ísicos japoneses observou um estranho impulso na atividade dos neutrinos. Fora do normal, pelo que compreendi.
— Neutrinos?... Partículas subatómicas?
— Exatamente. Ao que parece, são necessárias forças muito violentas para gerar uma explosão de neutrinos desta magnitude... fusões solares, explosões nucleares ou erupções solares. Por isso, este impulso colossal está a alvoraçar os físicos.
— OK, mas o que tem isso que ver connosco?
— Os cientistas japoneses conseguiram detetar a fonte do impulso de neutrinos e sabem de onde veio a explosão.
Painter extrapolou a resposta. Por que outro motivo estaria Gray a telefonar?
— Daquele local nas montanhas do Utah?
— Exatamente.
Após o choque inicial, Painter restabeleceu-se. Qual era o signi icado desta nova informação? Interrogou Gray até começarem a falar em círculos sem chegar a nenhuma conclusão. Por im, desligou e voltou a recostar-se no assento.
— De que estavam a falar? — perguntou Kowalski.
Painter abanou a cabeça, voltando a sentir a dor por detrás dos olhos.
Precisava de tempo para pensar.
Horas antes, falara com Ronald Chin, que estava a supervisionar o local da explosão. Mencionara uma estranha volatilidade por aquelas paragens e o facto de toda a área permanecer ativa, espalhando-se cada vez mais e devorando tudo o que encontrava pelo caminho. Estava possivelmente a decompor matéria a nível atómico.
O que trouxe os pensamentos de Painter de volta à fonte da explosão.
Kanosh suspeitava de que havia algo escondido no interior do crânio dourado, algo su icientemente volátil para explodir ao ser retirado da gruta. E também encontrara provas de que os índios mumi icados — caso fossem realmente índios — possuíam artefactos que indicavam um certo conhecimento de nanotecnologia ou, pelo menos, uma receita antiga de fabricação que lhes permitia manipular a matéria a nível atómico.
E, agora, esta notícia de um pico de neutrinos — partículas produzidas por acontecimentos catastróficos a nível atómico.
Tudo parecia remeter para a nanotecnologia, um mistério oculto no meio das partículas mais pequenas do universo. Mas o que signi icava tudo isso? Se a sua cabeça não estivesse a latejar, talvez conseguisse descobrir.
Mas, de momento, tinha apenas uma convicção, um aviso irritante.
O verdadeiro perigo estava apenas a começar.
14
31 DE MAIO, 15H30
PREFEITURA DE GIFU, JAPÃO
— Devíamos contar a alguém — insistiu Jun Yoshida.
Com a sua insuportável calma habitual, o doutor Riku Tanaka limitou-se a empertigar a cabeça da direita para a esquerda, como uma garça à espera de apanhar um peixe. O jovem físico continuou a examinar os dados que passavam no monitor.
— Seria imprudente — resmungou inalmente o pequeno homem, como para consigo mesmo, perdido na bruma da sua síndrome de Asperger.
Como diretor do Observatório Kamioka, Jun passara todo o dia no coração do monte Ikeno, à sombra do detetor de neutrinos Super-Kamiokande. Assim como a sua colega de Stanford, a doutora Janice Cooper. Os três estiveram a acompanhar a atividade de neutrinos depois do pico daquela madrugada. A origem fora registada numa montanha no Utah onde ocorrera uma explosão, mas os pormenores eram escassos.
Teria sido um acidente nuclear? Estavam os Estados Unidos a ocultar o que acontecera?
Não icaria admirado que fossem os americanos. E, como precaução, Jun alertara a comunidade internacional pois recusava que aquela ocorrência não fosse pública. Caso se tratava de uma experiência secreta que correra mal, o mundo tinha o direito de saber. Lançou um olhar feroz a Janice Cooper, como se a culpa fosse dela. O constante bom humor da cientista americana era motivo suficiente para se sentir ressentido.
— Penso que Riku tem razão — disse ela, dirigindo-se respeitosamente ao seu superior. — Ainda estamos a tentar detetar a origem. Além disso, o padrão desta nova explosão não parece igual ao do Utah. Talvez não devêssemos anunciar nada o icialmente até estarmos mais bem informados.
Jun examinava o ecrã. O grá ico continuava a desenrolar-se, uma versão digital de um sismógrafo. Seguia a atividade dos neutrinos e não de tremores de terra — mas considerando o que tinham encontrado, tratava-se realmente de um terramoto. Nos últimos oitenta minutos, captaram um novo surto na geração de neutrinos e, como anteriormente, parecia provir de geoneutrinos gerados pela terra.
A doutora Cooper tinha razão: este padrão era distintamente diferente.
A atividade no Utah provocara uma única e monstruosa explosão de neutrinos e, depois, abrandara, como uma chaleira ao lume. Agora era menos intensa e ocorria em explosões cíclicas: um pico pequeno seguido por um maior... depois uma acalmia e, repetia-se como as palpitações de um coração.
Há uma hora que era assim.
— Isto tem de estar relacionado com um acontecimento anterior — insistiu Jun. — Duas irrupções aberrantes de neutrinos desta magnitude no período de um dia ultrapassa as possibilidades estatísticas.
— Provavelmente, uma causou a outra — disse Tanaka.
Jun recostou-se na cadeira e tirou os óculos. Esfregou a cana do nariz. A sua primeira reação foi rejeitar a ideia — sobretudo, considerando a origem —, mas manteve-se calado com ar contemplativo. Tinha de admitir que não era uma má hipótese.
— Está a sugerir que o primeiro pico desencadeou outra coisa — disse Jun. — Talvez uma fonte instável de urânio.
Imaginou a primeira explosão de neutrinos a irradiar, partículas a voar em todas as direções, a atravessar a terra como um enxame de fantasmas — mas deixando um trilho de fogo, capaz de causar outra explosão.
— Mas os neutrinos não reagem com a matéria — disse a doutora Cooper, atirando um balde de água fria sobre a ideia. — Atravessam tudo até o âmago da Terra. Como podem detonar algo?
— Não sei — confessou Jun.
Para dizer a verdade, sabia muito pouco do que se estava a passar.
Tanaka recusou admitir a derrota.
— Sabemos que, esta manhã, uma misteriosa explosão provocou um pico de neutrinos no Utah. Qualquer que tenha sido a origem, trata-se de um acontecimento excecional. Nunca vi valores como estes.
A doutora Cooper pareceu pouco convencida, mas Jun acreditava que Riku estivesse possivelmente na direção certa. Pensava-se que os neutrinos não tinham massa nem carga. Mas experiências recentes provavam o contrário. Muita coisa permanecia um mistério. Talvez houvesse uma substância desconhecida sensível ao bombardeamento de neutrinos. Talvez a explosão de partículas no Utah tivesse acionado o detonador noutro depósito. Era um pensamento aterrador. Imaginou uma cadeia de explosões, uma atrás da outra, a espalhar-se à volta do globo.
Onde pararia? Viria a parar?...
— É tudo suposição — concluiu por im Jun em voz alta. — Não teremos respostas até descobrir onde começou esta nova vaga.
Ninguém discutiu com ele. Retomaram o trabalho com renovada determinação, mas levaram mais meia hora para triangular com outros laboratórios à volta do mundo a fonte destas intermitentes explosões.
Reuniram-se à volta de um monitor para comparar dados. Um mapa do mundo enchia o ecrã com um círculo luminoso que incluía a maior parte do hemisfério norte.
— Não é uma grande ajuda — comentou Jun.
— Espere — disse Tanaka num tom neutro.
Ao im de mais dez minutos, o círculo começou a diminuir lentamente, concentrando-se nas coordenadas das novas explosões de neutrinos. Não estavam a ocorrer perto do Utah.
— Parece que, desta vez, não podemos culpar os Estados Unidos — disse com alívio a doutora Cooper, ao ver o círculo contrair-se e deixar de fora a América do Norte.
Jun ficou siderado quando a fonte foi finalmente assinalada.
Entreolharam-se.
— Agora, já podemos contar a alguém? — perguntou Jun.
Tanaka acenou lentamente a cabeça.
— Tinha razão, Yoshida-sama — acabou por dizer, usando um termo honorífico raro. — Não podemos esperar mais.
Jun icou surpreendido com a reação do colega — até Tanaka se aproximar do ecrã do computador vizinho, que tinha o grá ico digital que cartografava a atividade de neutrinos em tempo real. Soltou um pequeno suspiro. Os picos de atividade aumentavam com maior frequência, como um coração acelerado pela adrenalina.
A sua pulsação aumentou para acompanhar o ritmo.
Estendeu a mão para o telefone e um número privado que lhe tinham deixado, mas o seu olhar continuava ixo no ecrã, no ponto centrado no Atlântico Norte.
Alguém tinha de lá ir antes que fosse demasiado tarde.
15
31 DE MAIO, 02H45
WASHINGTON, DC
— Islândia? — repetiu Gray. Encostou com mais força o telefone ao ouvido, ao falar com Kat Bryant. — Quer que eu parta para Reiquiavique dentro de uma hora?
Ele e Seichan partilhavam o banco de trás de um Lincoln Town Car preto. Por precaução, Kat enviara o carro a casa dos pais dele assim que soube do ataque ao chefe. Naquele momento, regressavam aos Arquivos Nacionais. Monk e os dois investigadores tinham descoberto algo interessante, demasiado importante ou elaborado para ser discutido ao telefone.
— A irmativo — respondeu Kat. — Por ordem do chefe. E também quer que o Monk vá consigo. Apanhe-o a caminho do aeroporto.
— Já estamos a caminho. O Monk enviou-me uma mensagem acerca de uma descoberta nos Arquivos Nacionais.
— Bem, informe-se do que é, mas esteja no aeroporto dentro de quarenta e cinco minutos. Vá bem agasalhado.
— Obrigado, mas de que se trata?
— Já lhe falei da irrupção de partículas subatómicas no local da explosão no Utah. Acabei de falar com o chefe do Observatório Kamioka no Japão. Ele detetou outra irrupção numa ilha ao largo da costa da Islândia, o que o perturbou imenso. Acha que as duas irrupções de neutrinos podem estar relacionadas e que o bombardeamento de partículas subatómicas proveniente da explosão no Utah possa ter desencadeado esta atividade recente na Islândia. O chefe Crowe acha que vale a pena investigar o caso.
Gray concordou.
— Vou apanhar o Monk e seguir para lá.
— Tenha cuidado — preveniu-o ela.
Embora a sua mensagem fosse lacónica, ele entendeu o signi icado subjacente. Tome conta do meu marido.
— A Seichan e eu podemos cumprir esta missão sozinhos, Kat. Talvez seja melhor deixar o Monk com os investigadores que estão a examinar a parte histórica.
Não houve resposta e ele imaginou-a a ponderar as suas palavras. Por fim, Kat soltou um suspiro.
— Percebo o que está a propor, Gray. Mas tenho a certeza de que os investigadores não precisam que o Monk os ande a espreitar por cima dos ombros. E, além disso, o Monk pode esticar as pernas. Com um bebé a caminho... e a Penélope a aproximar-se dos terríveis dois anos... vamos ter de ficar em casa durante meses.
— OK. Mas con ie em mim. Passar todo esse tempo em casa consigo não é nada que o Monk receie.
— Quem é que está a falar dele?
Gray sentiu exasperação na sua voz, mas também ternura. Tinha di iculdade em imaginar uma vida assim, a intimidade de duas pessoas a partilhar tudo, os ilhos, a simplicidade de um corpo quente ao lado todas as noites.
— Hei de trazê-lo de volta são e salvo — prometeu.
— Eu sei.
Depois de resolverem mais alguns pormenores, desligaram.
No outro lado do banco, Seichan encostou-se à porta. De olhos fechados, parecia que estava a dormitar, mas ele sabia que ouvira todas as palavras.
Isto foi con irmado quando ela resmungou sem se dar ao trabalho de abrir os olhos.
— Um passeio?...
— Assim parece.
— Ainda bem que trouxe proteção solar.
Pouco depois, o Town Car parou diante do edi ício dos Arquivos Nacionais. Monk encontrou-se com eles no interior. Tinha os olhos brilhantes e um grande sorriso. Acenou-lhes com impaciência, manifestamente excitado.
— A Islândia — disse, conduzindo-os para a sala de investigação. — Dá para acreditar?
Pelos modos, estava entusiasmado por ir trabalhar no terreno, mas havia um brilho travesso nos seus olhos. Chegaram ao destino antes de Gray ter tempo para fazer mais perguntas.
A sala sofrera uma transformação sensacional desde a última vez que lá estiveram. Livros, manuscritos e mapas, juntamente com pilhas de caixas com icheiros cobriam a mesa de conferências. Todos os leitores de micro ilmes ao longo da parede cintilavam com páginas de velhos recortes de jornais ou imagens de documentos amarelecidos.
No meio daquele caos, o doutor Eric Heisman e Sharyn Dupre debruçavam-se sobre uma das caixas e rebuscavam o seu conteúdo.
Heisman tirara a camisola e arregaçara as mangas. Tirou o que parecia um panfleto com os cantos dobrados e pousou-o sobre uma pilha de papéis.
— Aqui está outra monografia de Franklin acerca da erupção...
Levantaram a cabeça quando Monk entrou e olharam para ele.
— Contou-lhes? — perguntou Heisman.
— Achei melhor que vocês se encarregassem disso. Foram vocês quem teve todo este trabalho. Eu apenas encomendei a piza.
— Contar-nos o quê? — indagou Gray.
Heisman olhou para Sharyn que estava ainda com o vestido preto, mas colocara um casaco branco comprido por cima e calçara luvas de algodão para manusear documentos frágeis.
— Porque não começa você, Sharyn? Foi a sua sugestão inspirada que abriu as comportas. E a sua geração é mais competente com computadores...
Ela sorriu timidamente ao cumprimento e fez uma ligeira vénia de agradecimento com a cabeça antes de encarar Gray e Seichan.
— Tenho a certeza de que acabaríamos por descobrir, mas como a maior parte dos documentos dos arquivos foram digitalizados, pensei que podíamos selecionar os registos com mais e iciência alargando e generalizando os parâmetros de busca.
Gray disfarçou a sua impaciência. Não lhe interessava como descobriram, apenas os factos. Reparou, contudo, no brilho divertido nos olhos de Monk. O seu parceiro escondia alguma coisa.
— Fizemos uma busca global, combinando os nomes de Fortescue e Franklin — prosseguiu Sharyn. — Mas não encontrámos nada.
— É como se todos os registos tivessem sido expurgados — acrescentou Heisman. — Alguém parece andar a cobrir o seu rasto.
— Alarguei a busca para além de Franklin e tentei todas as gra ias alternativas para escrever o nome de Fortescue. Nada. A seguir, decidi pôr simplesmente as iniciais do homem, A e F, Archard Fortescue.
Lançou um olhar a Heisman que sorriu orgulhosamente.
— Foi quando descobrimos. — Heisman pegou numa resma de páginas amarelas e quebradiças. — Numa carta de Thomas Jefferson ao seu secretário particular, Meriwether Lewis.
— Lewis? Como em Lewis e Clark? Os dois exploradores que atravessaram o continente até ao Pacífico?
Heisman assentiu com um gesto de cabeça.
— O mesmo. Esta carta a Lewis é datada de 8 de junho de 1803, cerca de um ano antes de os dois partirem para essa aventura. Diz respeito a um debate sobre uma erupção vulcânica.
Gray não compreendia onde isto ia chegar.
— O que é que um vulcão tem que ver com alguma coisa?
— Primeiro que tudo — explicou Heisman —, um debate destes não era invulgar... Foi provavelmente por isso que esta carta não atraiu a atenção e não foi expurgada. Ao longo da sua relação, Lewis e Jefferson falaram muitas vezes sobre ciência. Meriwether era um antigo militar, mas recebera uma educação científica e as ciências naturais interessavam-no.
Gray apercebeu-se de que isto tinha a inidades com os membros da Sigma.
— Os dois eram amigos bastante íntimos — continuou Heisman. — Na verdade, as suas famílias cresceram a dezasseis quilómetros de distância uma da outra. Não havia ninguém em quem Jefferson con iasse mais do que em Lewis.
Monk deu uma cotovelada a Gray.
— Por isso, Lewis era a única pessoa a quem Jefferson con iava os seus segredos.
Heisman acenou a cabeça.
— Nesta carta, aparece constantemente um nome, o de um homem cripticamente identificado como sendo A.F.
— Archard Fortescue... — murmurou Gray.
— É óbvio que Jefferson não quis escrever o seu nome completo, o que tem muito que ver com o caráter deste Pai Fundador. Interessava-se imenso por criptogra ia e chegou a desenvolver a sua própria escrita secreta. Só há cerca de um ano é que um dos seus códigos foi inalmente desvendado.
— Esse tipo era paranoico — atalhou Monk.
Heisman fitou-o com ar ofendido.
— Talvez tivesse motivos para isso. Numa carta anterior, Franklin prevenia que um grande inimigo ameaçava secretamente a nova união.
Essa mesma paranoia, provavelmente, alimentou a purga do exército durante os anos da sua presidência.
— O que quer dizer com isso? — perguntou Gray, cada vez mais intrigado.
— Pouco depois de ser eleito presidente após uma acérrima campanha, uma das suas primeiras ordens foi reduzir o exército. Pediu a Meriwether Lewis que o ajudasse a escolher os o iciais mais competentes e Lewis entregou-lhe uma lista codi icada. Alguns historiadores descon iam que tal purga teve menos que ver com competência do que com lealdade aos EUA.
Monk lançou um olhar significativo a Gray.
— É a melhor maneira de agir em segredo quando se deseja eliminar traidores, sobretudo a nível de comando.
Gray estava a par das di iculdades que a Sigma enfrentava para expurgar do seu seio os espiões e os operacionais da Confraria. Tinham os Pais Fundadores tentado fazer a mesma coisa? Imaginou o envolvimento de Lewis neste assunto. Soldado, cientista e espião. O indivíduo parecia cada vez mais um operacional da Sigma.
Seichan deixou-se cair numa cadeira à volta da mesa com ar aborrecido.
— Tudo bem, mas que raio tem isto que ver com vulcões?
Heisman assentou com mais irmeza os óculos no nariz e falou rapidamente.
— Ia agora mesmo falar disso. A carta menciona uma erupção ocorrida precisamente há duas décadas. A erupção em Laki. Foi a mais letal registada pela história. Mais de seis milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Morreu o gado e minguaram as colheitas. Seguiu-se a fome e conta-se que o céu icou da cor do sangue e o planeta esfriou ao ponto de o rio Mississippi gelar até Nova Orleães.
Levantando um dos papéis que folheava quando Gray entrou na sala, Sharyn interrompeu-o.
— Aqui estão as palavras de Benjamin Franklin a descrever os efeitos...
Ao longo de vários meses do verão de 1783, altura em que os raios do Sol deveriam aquecer mais a terra nestas regiões do Norte, havia um constante nevoeiro sobre toda a Europa e grande parte da América do Norte. Franklin ficara obcecado por este vulcão.
— E, pelos vistos, com razão — acrescentou Heisman, voltando a chamar a atenção de Gray. — De acordo com esta carta, Archard Fortescue testemunhou essa erupção... chegando até a sentir-se culpado, como se tivesse sido ele que a provocara.
— O quê? — interveio Gray sem poder conter a surpresa.
— Desculpem a minha falta de conhecimentos geográ icos — disse Seichan enquanto ele procurava entender o que acabara de ouvir. — Mas onde está situado esse vulcão?
Os olhos de Heisman arregalaram-se, apercebendo-se de que não os informara.
— Na Islândia.
Gray virou-se para Monk que mostrava um grande sorriso. Andara a esconder aquele pormenor.
— Tudo indica que vamos seguir na peugada desse francês — disse, encolhendo os ombros.
03h13
Enquanto os outros veri icavam a localização do vulcão em vários mapas desdobrados sobre a mesa, Seichan continuava sentada a mexer num minúsculo dragão de prata que tinha pendurado ao pescoço. Era um tique nervoso. A mãe sempre usara um igual. Era um dos poucos pormenores que a faziam lembrar-se dela.
Em criança, contemplava com frequência o pequenino dragão ao pescoço da mãe enquanto dormia numa cama por baixo de uma janela aberta. Enquanto os pássaros chilreavam, o luar re letia-se na prata, cintilando como água ao ritmo da respiração da mãe. Seichan imaginava todas as noites que o dragão ganharia vida se olhasse para ele tempo suficiente — e talvez isso acontecesse, pelo menos nos seus sonhos.
Irritada com tanto sentimentalismo, largou o pendente de prata.
Esperara tempo su iciente. Como ninguém naquela sala fazia a pergunta essencial, Seichan decidiu fazê-la.
— Nessa carta, doutor... — Todos se voltaram para ela. — O que queria dizer quando disse que o francês se sentia culpado por causa da erupção desse vulcão?
Heisman ainda segurava a carta na mão.
— É o que está na carta de Jefferson.
Pigarreou e leu uma passagem em voz alta.
— Tivemos inalmente notícias de A.F. Ainda sente mágoa e está muito triste por causa do que aconteceu no verão de 1783. Sei que foi por apoiar a nossa causa que seguiu o trilho marcado no mapa encontrado no túmulo índio, prémio que alcançou à custa de muito sofrimento pessoal quando da emboscada armada pelo nosso inimigo. No entanto, A.F. lamenta ter ativado o vulcão nos mares nesse verão. Acredita que as grandes epidemias de fome que dizimaram as costas do seu país depois da erupção motivaram as sangrentas revoluções em França e sente-se culpado por isso.
Heisman baixou o papel.
— Para dizer a verdade, Fortescue pode ter razão. Muitos historiadores pensam que a erupção em Laki... e a pobreza e a fome que se seguiram em França tiveram um papel predominante na Revolução Francesa.
— E, ao que parece — acrescentou Gray —, Fortescue censurou-se por isso. Ter ativado o vulcão. O que quer ele dizer com isso?
Ninguém soube responder.
— Então o que sabemos, nós? — insistiu Seichan, indo direta à questão.
— Através dessa primeira carta, sabemos que Franklin pediu a Fortescue para encontrar um mapa enterrado numa sepultura índia. E, pelo teor desta carta, ele conseguiu.
Gray acenou a cabeça.
— O mapa apontava para a Islândia. E Fortescue foi lá. Deve ter descoberto alguma coisa, algo su icientemente assustador ou potente para acreditar que provocou a erupção vulcânica. Mas o quê?
— Talvez exista uma indicação na primeira carta — disse Seichan. — Qualquer poder ou conhecimento que os índios possuíam e, segundo parece, desejavam partilhar... provavelmente em troca da constituição dessa mítica décima quarta colónia.
— Mas esse pacto acabou por não ser concluído — comentou Monk.
A assistente de Heisman procurou no meio das pilhas de papel.
— Aqui está novamente essa passagem — disse. — Os xamãs da Confederação Iroquesa foram massacrados da forma mais vil quando iam a caminho da reunião com o governador Jefferson. Com essas mortes, todos os que tinham conhecimento do Grande Elixir e os Índios Pálidos estão nas mãos da Providência.
Gray voltou a acenar a cabeça.
— Mas sabemos que um dos xamãs sobreviveu e revelou a existência de um mapa... que indicava provavelmente a fonte desse conhecimento. E
foi para o encontrar que enviaram Fortescue.
— Aparentemente, conseguiu — acrescentou Monk. — Talvez fosse esse elixir mencionado na carta ou outra coisa qualquer. Ele acreditou, de qualquer maneira, que era su icientemente poderoso para desencadear uma erupção vulcânica, e ficou cheio de remorsos.
— Até Jefferson o ter voltado a chamar, vinte anos mais tarde — concluiu Heisman.
Seichan virou-se para o historiador. Apercebeu-se de que mexia no pequeno dragão e baixou o braço.
— O que quer dizer com isso?
Heisman pôs os óculos e leu outra passagem da carta.
— Após tanta tragédia, custa-me enviar A.F. em mais uma busca, mas a sua cordialidade e o alto respeito que os aborígenes deste continente têm por ele serão de grande utilidade para nós nesta grande viagem. Irá encontrar-se consigo em Saint Charles, a tempo de obter o que for necessário para a vossa expedição rumo ao Oeste.
Gray inclinou-se para a frente.
— Espere. Está a dizer que Fortescue se juntou à expedição de Lewis e Clark?
— Não sou eu quem diz — retorquiu Heisman, abanando os papéis que segurava na mão. — É Thomas Jefferson...
— Mas não existe outro registo...
— Talvez tenham também sido expurgados — sugeriu Heisman. — Como todos os outros sobre este homem. Só encontrámos esta carta.
Depois de Fortescue partir nesta expedição, nunca mais é mencionado.
Pelo menos que saibamos...
— Mas porque o enviou Jefferson com Lewis e Clark? — perguntou Gray.
Presumindo a resposta, Seichan endireitou-se na cadeira.
— Provavelmente a Islândia não era o único local marcado no mapa índio. Talvez houvesse outro sítio. Um para oeste. A Islândia icava mais perto e investigaram esse primeiro.
Gray esfregou o olho direito com um dedo, um dos hábitos que tinha quando tentava juntar mentalmente as peças de um puzzle.
— Se havia outro local, porquê esperar vinte anos para ir à sua procura?
— Censura-os por se mostrarem mais prudentes depois do que aconteceu da primeira vez? — perguntou Monk. — Se Fortescue tinha razão, o que izeram matara seis milhões de pessoas e desencadeara a Revolução Francesa. À segunda vez, tinham de ser mais cautelosos.
Heisman interveio.
— Segundo consta nos Arquivos Históricos, o objetivo da missão de Lewis e Clark não era apenas explorar. E Jefferson quase o admitiu.
— O que quer dizer? — perguntou Gray.
— Antes da expedição, Jefferson enviou uma carta secreta para ser lida somente pelos membros do Congresso. Revelava o verdadeiro motivo da viagem. Primeiro, espiar os índios do Oeste e reunir tanta informação sobre eles quanta possível. Segundo, Jefferson e Lewis utilizavam um código privado entre ambos e, assim, as cartas enviadas no decorrer da expedição só podiam ser lidas por Jefferson ou por quem lhe fosse leal.
Isso parece algum passeio pela natureza ao longo de um ano? O Jefferson andava à procura de algo no Oeste.
— E encontrou o que queria? — perguntou Seichan.
— Não existe nenhum registo público. Mas todos os registos referentes a Archard Fortescue foram expurgados. Portanto, quem sabe? Há, contudo, um pormenor intrigante sugerindo que algo estava a ser encoberto.
Monk aproximou-se.
— O que é?
— No dia 11 de outubro de 1809, três anos depois de a expedição regressar do Oeste, Meriwether foi encontrado morto no quarto de uma estalagem no Tennessee. No entanto, por um motivo qualquer, a sua morte foi considerada suicídio e o corpo enterrado à pressa perto da estalagem.
Esta tentativa para abafar o caso demorou duzentos anos a ser revelada e, hoje, julga-se que foi assassinado.
Heisman virou-se para eles.
— Lewis ia a caminho de Washington para se encontrar com Thomas Jefferson e há quem acredite que tinha em seu poder informações valiosas ou transportava alguma coisa de grande importância para a segurança nacional quando foi morto. Mas, a partir daí, não há mais pistas.
O silêncio instalou-se na sala. Seichan reparou que Gray continuava a esfregar o canto do olho direito e quase ouvia as engrenagens da cabeça dele a trabalhar.
Heisman consultou o relógio.
— E por esta noite é tudo, meus caros senhores e senhoras. Creio que têm um avião para apanhar.
Monk levantou-se e todos se despediram. Heisman e Sharyn prometeram prosseguir a investigação de manhã, mas não pareciam ter muitas esperanças.
Seichan seguiu os dois homens até à rua onde o Town Car os aguardava.
Monk examinou atentamente Gray.
— Tem aquela ruga de preocupação na testa. O que é que há? Nervoso por casa da viagem?
Gray abanou lentamente a cabeça quando uma brisa fria varreu a rua.
— Não. Estou preocupado por causa do Utah. Depois do que aprendemos acerca da Islândia... e sabendo que ambos os lugares mostram sinais de descargas anormais de neutrinos... julgo que a explosão de hoje é o menor dos nossos problemas.
Monk abriu a porta do carro.
— Sendo assim, temos alguém a vigiar o que se passa.
Gray entrou.
— É o que mais me aflige.
16
31 DE MAIO, 04H55
REGIÃO MONTANHOSA DE UINTA UTAH
O major Ryan manteve-se em vigília com Ronald Chin. Permaneceram à beira do abismo. A madrugada não estava longe — e, na opinião de Ryan, não chegava suficientemente cedo.
Fora uma noite longa e sangrenta. Ele e a sua unidade conseguiram tirar o companheiro ferido do vale sufocante e um helicóptero transportara-o para o hospital mais próximo — sem a maior parte da perna direita e sedado pela mor ina, com o sangue a pingar da ligadura à volta do coto.
Ryan tentara dormir, mas, sempre que fechava os olhos, via a lâmina do machado a penetrar na coxa do homem... ou Chin a lançar o membro decepado para o poço incandescente, como se atirasse uma acha para uma fogueira. Mas Ryan compreendia. Não podiam correr o risco de contaminação.
Sabendo que não ia conseguir adormecer, desistira e saíra da tenda para contemplar o vale com o geólogo. Durante a noite, o cientista instalara toda uma bateria de equipamento: câmaras de vídeo, detetores de infravermelhos e sismógrafos, aparelhos a que ele dava o nome de contadores magnéticos e eram usados para medir a força e direção do campo magnético. Os soldados queixavam-se por causa da crescente interferência de rádios e telemóveis. Há uma hora que os ponteiros e as bússolas apontavam para o abismo. O pior é que os abalos os abalos e tremores de terra agitavam a montanha e a sua frequência e intensidade aumentavam.
— A área foi evacuada — disse Ryan, olhando para o jipe estacionado.
— Recuámos para uma base a três quilómetros da montanha. É
suficientemente distante?
— Deveria ser — respondeu Chin, distraído. — Veja isto.
O geólogo ajoelhou-se diante de um monitor de vídeo que mostrava imagens ilmadas por uma câmara de controlo à distância deixada ao lado do fosso. Chin apontou para o clarão infernal que irradiava do local da explosão e iluminava uma coluna escura de cinzas que pairava no ar.
— Há quarenta minutos que o géiser não se manifesta — continuou o geólogo. — Julgo que toda a água da fonte térmica evaporou.
— Então, o que está a sair?
— Gases. Hidrogénio, monóxido de carbono e dióxido de enxofre.
Independentemente do processo, deve ter perfurado a fonte e penetrado nas camadas vulcânicas por baixo destas montanhas.
Enquanto Ryan olhava, um clarão de fogo atravessou a coluna e desapareceu.
— O que foi aquilo?
Chin recuou, empalidecendo.
— Doutor?... — insistiu o major.
— Penso que... talvez seja lava...
— O quê? — disse em tom esganiçado de rapariga. — Lava? Está a dizer que esta coisa vai entrar em erupção?
Enquanto olhavam, mais dois clarões atravessaram a coluna. Rocha fundida começou a escorrer, o que não deixava dúvidas quanto ao que estava a suceder.
— Chegou a altura de fugir — disse Chin, levantando-se. Ignorou o equipamento e começou apressadamente a guardar as pen drives que continham as informações.
Ryan tomou uma atitude agressiva. Depois do que se passara com o soldado Bellamy, questionara o geólogo sobre a verdadeira situação.
— Julguei que tinha dito que isto nunca ocorreria. Que mesmo perfurando um vulcão não o faria entrar em erupção.
— Eu disse que, habitualmente, não acontece.
Falava apressadamente enquanto trabalhava.
— As perfurações a grande profundidade, por vezes, provocam explosões quando acertam em câmaras de magma e permitem que a lava saia. Como aconteceu, por exemplo, há três anos na Indonésia. Um erro de perfuração deu origem a um vulcão de lama que ainda hoje continua em atividade. Por isso, não, normalmente não acontece... mas nada do que está a acontecer aqui é normal.
Ryan respirou fundo, lembrando-se da perna de Bellamy. O geólogo tinha razão. O que se estava a passar era tudo menos normal. Os seus homens tinham de recuar para mais longe.
Pegou no rádio, mas só ouviu ruídos de eletricidade estática. Rodou em círculo, captou algumas palavras e aproximou o rádio dos lábios.
— Fala o major Ryan! Recuem! Recuem imediatamente! Saiam desta montanha!
Ouviu uma resposta indistinta, mas não sabia se era para acusar a receção das ordens ou mera confusão. Tê-lo-iam ouvido?
Chin endireitou-se, aproximando-se da mala metálica.
— Temos de ir embora, major. Já!
Pontuando as suas palavras, o chão estremeceu violentamente. Ryan desequilibrou-se e caiu sobre um joelho. Ambos se viraram para as imagens de vídeo. A câmara de controlo à distância fora deitada abaixo, mas continuava a ver-se o fosso.
O géiser voltou a entrar em atividade — mas, em vez de vapor e água, expeliu uma coluna de lama efervescente e rochas incandescentes saíam do buraco obscurecido por uma nuvem de fumo e cinzas.
Sob os seus pés, o chão continuava a estremecer, sem parar, vibrando através das solas das botas de Ryan.
— Vamos embora! — gritou Chin.
Correram juntos para o jipe. Ryan saltou para trás do volante e Chin atirou-se em voo para o banco ao lado. Com as chaves na ignição, o major ligou o motor, fez marcha atrás e pisou o acelerador. Virou o veículo com uma guinada no volante, atirando Chin contra a porta.
— Está OK? — perguntou Ryan.
— Arranque!
No início da noite, a unidade militar abrira um tosco caminho serpenteante pela encosta, mas ainda era necessário um carro com tração às quatro rodas para o percorrer e era melhor fazê-lo a passo de caracol.
Mas neste momento não era possível.
Nem pensar abrandar a velocidade, sobretudo, com o mundo a explodir atrás deles. O espelho do retrovisor revelava uma massa cintilante de lava a escorrer para fora do rebordo do fosso. Uma alta coluna negra elevava-se no céu e o vale não era su icientemente largo para a conter. A nuvem incandescente avançava como uma avalanche na sua direção.
Mas não era o único perigo.
Pedregulhos em brasa do tamanho de pequenos carros abatiam-se sobre a loresta e as encostas à volta deles, incendiando árvores e arbustos. Tinham o impacte de obuses de morteiro. Ryan percebia agora porque lhes chamavam bombas de lava.
Uma passou por cima da sua cabeça, largando cinza em chamas que lhe queimou a face e os braços nus, lembrando a Ryan que o veículo não tinha tejadilho.
Ignorou a dor e concentrou-se na estrada. O jipe chocalhava e pulava pelo íngreme caminho pedregoso abaixo. O para-choques da esquerda bateu numa saliência do terreno, estilhaçando o farol. O carro soergueu-se e, por uns instantes, pensou que estava a guiar sobre uma única roda, como uma bailarina com meia tonelada de peso. Mas, depois, o jipe voltou a estabilizar.
— Segure-se!
— O que julga que estou a fazer?
Chin virara-se de costas com um braço à volta do apoio para a cabeça.
— A corrente piroclástica está a descer a montanha depressa de mais.
Não conseguiremos escapar!
— Não posso aumentar a velocidade neste terreno.
— Então dê meia-volta.
— O quê? — Arriscou-se a tirar os olhos da estrada para o itar. — Enlouqueceu?
Chin apontou para o leito de um ribeiro que cortava o caminho.
— Vá por ali. Pelo ribeiro acima!
Ryan apercebeu-se novamente do tom de comando na sua voz, o que con irmava a suspeita de que ele passara alguns anos na tropa. Reagiu a essa autoridade.
— Vá-se foder! — berrou, irritado por não haver mais opções, mas deu uma guinada ao volante.
Desa iando o mínimo instinto de sobrevivência, virou em direção ao leito do ribeiro e acelerou. Subiu a toda a velocidade, levantando um leque de água por detrás dos pneus da retaguarda.
— Estou a falar a sério, Chin. Vá-se foder! Que raio estamos a fazer?
O geólogo apontou para a direita, para o alto da encosta, na direção do cume de onde se avistava o fosso em chamas.
— Temos de contornar a nuvem e subir mais alto. As correntes piroclásticas são nuvens luidas compostas de fragmentos de rochas, lava e gás. Muito mais pesadas do que o ar. Vão envolver a montanha e descer.
Apesar de sentir o coração a bater com força, o major compreendeu.
— Temos de nos posicionar por cima delas.
Mas até isso era arriscado. Os bosques que os rodeavam estavam em chamas enquanto pedregulhos continuavam a cair do céu, quebrando ramos e deixando um trilho de fogo. O pior é que o mundo à direita do jipe terminava num enorme muro de chamas fumegantes, um autêntico caldeirão de bruxas. A nuvem rolava na direção deles, engolindo tudo pelo caminho enquanto, por baixo, o carro avançava velozmente.
A única consolação era o leito do ribeiro ser largo e pouco fundo, cheio de cascalho e areia. Ryan carregou no acelerador até ao fundo e o carro ganhou terreno, desviando-se dos pedregulhos graças aos seus hábeis movimentos de pulso. Mas quanto mais avançava, mais o atalho estreitava.
O ribeiro estava a desaparecer.
Um pedregulho caiu com a força de um foguete espacial cinquenta metros à frente deles. A água explodiu em vapor e o cascalho choveu-lhes em cima.
Fim da viagem.
— Por ali! — gritou Chin, apontando para a margem direita.
Para lá de umas árvores que estavam rapidamente a ser consumidas pela passagem do fumo a arder, estendia-se um prado alpino.
Ryan virou bruscamente o volante e galgou a margem para alcançar o prado. Os pneus com sulcos fundos rasgaram o chão coberto de erva e um pouco de neve a esta altitude.
— Não vamos conseguir — murmurou Chin, olhando para a direita, onde o mundo acabava.
O tanas é que não vamos.
Ryan acelerou ao longo do prado com a nuvem por cima deles. O calor da nuvem que se aproximava queimava como o bafo de um dragão. A neve começou a derreter.
Ao fundo do prado elevava-se uma íngreme encosta de granito. Ryan apontou o carro para lá e, com as costas coladas ao banco, começou a subir cada vez mais alto enquanto o jipe se inclinava quase na vertical. Viu a nuvem passar por baixo deles no espelho retrovisor apagando o mundo e substituindo-o por um opaco mar escuro.
O calor ardente secou-lhe os pulmões, mas gritou de alívio.
— Conseguimos!
Os pneus — os quatro — perderam tração na pedra lisa. O jipe deu um solavanco, escorregando de lado e caindo para trás. Tentou detê-lo, mas a gravidade puxava-os para o mar em chamas.
— Vá lá, major!
Uma mão agarrou-o pelo colarinho da farda e foi arrancado do banco.
Chin passou por cima do para-brisas a arrastá-lo. Ryan percebeu a manobra e saltou para o capô. Atiraram-se juntos para a frente enquanto o carro deslizava para trás.
Ryan caiu na encosta de granito e debateu-se para não se despenhar com o jipe. Dedos fortes agarraram-lhe o pulso e içaram-no até à beira de uma rocha. A posição era di ícil, mas havia lugar para assentar os pés. Sem fôlego e a tossir, icaram ali empoleirados como dois pássaros chamuscados.
Ryan seguiu o olhar de Chin por cima do vale. A nuvem ardente mantinha-se a meio da encosta. O fosso por baixo vomitava fogo e a lava continuava a avançar.
— Os meus homens... — balbuciou o major, entorpecido, interrogando-se sobre o seu destino.
Chin estendeu um braço e apertou-lhe o cotovelo num gesto de simpatia.
— Peça a Deus que o tenham ouvido.
17
31 DE MAIO, 06H05
SAN RAFAEL SWELL UTAH
Hank Kanosh saudou a madrugada de joelhos, não em adoração, mas por estar exausto. Subira o íngreme caminho a partir do círculo de cabanas pouco antes do Sol nascer. O trilho serpenteante conduzia através de um labirinto de des iladeiros estreitos até a um charco seco. Kawtch sentou-se ao seu lado, com a língua de fora, a arfar. Com o Sol acabado de nascer, a manhã ainda estava fria, mas o percurso era duro e nenhum deles era jovem.
No entanto, ele sabia que não era a passagem dos anos que lhe roubava a força das pernas e tornava a subida tão cansativa. Era o coração.
Senti-lo no peito causava-lhe remorsos, culpa por sobreviver, por não ser capaz de fazer nada quando mais precisavam dele. Nos últimos dias, enquanto fugia, tinha sido mais fácil afastar a dor sentida pela morte dos seus amigos.
Mas agora não.
Contemplou a paisagem violada lá em baixo. Ele e Maggie izeram este percurso há dez anos para verem como as coisas corriam entre eles. Ainda se lembrava do beijo que deram neste sítio. O cabelo dela cheirava a salva e os seus lábios tinham um sabor salgado, mas doce.
Saboreava agora aquela recordação ajoelhado numa rocha precariamente equilibrada sobre um des iladeiro profundo chamado «Little Grand Canyon». O vale estendia-se no coração da San Rafael Swell, uma dobra com noventa quilómetros de rochas sedimentares erguida por forças geológicas há mais de cinquenta milhões de anos. A chuva e o vento tinham esculpido e burilado a região num labirinto de encostas íngremes, des iladeiros acidentados e cursos de água. Ao longe, o rio San Rafael continuava o processo de erosão, serpenteando preguiçosamente pela paisagem rumo ao Colorado.
Com rochas vermelhas, a região era na sua maior parte deserta, habitat de burros selvagens, garanhões e um dos maiores rebanhos de carneiros selvagens do deserto. Os visitantes com duas pernas eram os excursionistas mais aventureiros pois atravessar as áreas remotas requeria veículos com tração às quatro rodas. No passado, o quase inacessível labirinto de des iladeiros e ravinas fora o esconderijo de muitos marginais, incluindo Butch Cassidy e o seu bando.
E parecia que era de novo.
Hank e os outros chegaram de madrugada, a gatinhar por um atalho coberto de pedras desde Copper Globe Road. Iam para as cabanas da família dos seus colegas reformados Alvin e Iris Humetewa. O grupo de Hank chegara sem avisar, mas como já esperava, o casal aceitara a intrusão de bom grado.
O pequeno conjunto de cinco pueblos de lama e pedra era meio comum, sendo metade escola para crianças Hopi a quem três gerações do clã Humetewa ensinavam os velhos costumes. Era dirigido por Iris Humetewa, matriarca e ditadora benevolente.
Naquela altura não havia estudantes.
Ou quase nenhuns.
— Podes sair, disse Hank.
Com um suspiro de irritação, a esbelta igura de Kai Quocheets saiu de trás de um penhasco. Seguia-o desde que deixara as cabanas.
— Se queres ver o nascer do Sol — sugeriu —, é melhor que venhas para aqui.
Com um encolher de ombros, subiu para o bloco de arenito. Kawtch bateu com a cauda contra a rocha um par de vezes para a saudar.
— Isto aqui é seguro? — perguntou ela, avaliando com ar desconfiado a altura a que se encontravam.
— Esta pedra está aqui há milhares de anos e irá, muito provavelmente, permanecer mais uns minutos.
Ela pareceu duvidar, mas, de qualquer modo, avançou.
— O tio Crowe e o amigo estão a montar uma espécie de antena parabólica ligada ao computador portátil e ao telefone.
— Julguei que preferisse manter-se fora da rede.
As cabanas dos Humetewas não tinham televisão nem telefone. Nem sequer havia rede de telemóvel por estas paragens labirínticas.
Ela encolheu os ombros.
— Não deve haver problema. Ouvi-o falar de programas encriptados.
Ele acenou a cabeça e deu uma palmada na pedra.
— Fizeste esta caminhada para me vires contar isso?
Ela sentou-se de pernas cruzadas.
— Não...
Seguiu-se uma longa pausa, demasiado longa para ser verdadeira.
— Queria apenas esticar as pernas.
Kanosh apercebeu-se de que aquilo não passava de conversa iada. Já notara que ela se esquivava do tio, andando à sua volta como um cão com medo que lhe batam, mas, de qualquer modo, atraída. No entanto, Kai não era tímida e mantinha-se pronta a morder. Devia ser desconfortável para ela ficar nas cabanas.
Kanosh virou o rosto para o Sol quando surgiu em toda a sua plenitude e incendiou a paisagem de rochas vermelhas.
— Conheces a cerimónia na’ii’es?
— O que é isso?
Ele abanou a cabeça. Porque é que os mais fervorosos ativistas nativos americanos eram muitas vezes tão ignorantes da sua herança?
— É a cerimónia do nascer do Sol — respondeu, apontando para o nascer resplandecente do novo dia. — Trata-se de um ritual de passagem das raparigas para mulheres. Quatro dias e quatro noites de danças e bênçãos sagradas que impregnam as novas mulheres com o poder espiritual e curativo da Mulher Pintada de Branco.
Respondendo à sobrancelha levantada, explicou-lhe a mitologia apache e navajo à volta desta deusa também conhecida por Mulher-que-Muda, por causa da facilidade com que altera a sua aparência ao longo das quatro estações do ano. Ao longo da explicação, apreciou que ela tenha perdido a expressão de enfado, mostrando-se interessada, um sinal do seu interesse por estes assuntos.
Quando terminou, ela virou-se para o Sol.
— Ainda há tribos que façam essa cerimónia?
— Algumas, mas raramente. No início do século XX, o governo norte-americano proibiu os costumes e rituais dos nativos americanos, ilegalizando a cerimónia do sol nascente. Ao longo do tempo, esta prática foi desaparecendo até ser retomada numa versão sem força.
O rosto de Kai ensombrou-se.
— Roubaram-nos tanta coisa...
— O passado é o passado. A nossa cultura só depende de nós. Apenas perdemos o que não sustentamos.
Isto não pareceu apaziguá-la e as suas palavras tornaram-se azedas.
— O quê? Como o senhor faz? Renunciando às suas crenças a troco da religião dos brancos. Uma religião que perseguiu o nosso povo e incitou a massacres.
Kanosh suspirou. Já se habituara a ouvir isto e, mais uma vez, tentou esclarecer a ignorância.
— Os erros são cometidos por gente estúpida. No decorrer da história humana, as religiões foram usadas como pretexto para empregar a violência, como entre as nossas tribos. Mas quando se trata de cultura, a religião é apenas um io de um vasto tapete. O meu pai e a minha mãe foram criados como mórmones. Faz parte da minha história como o meu sangue índio. Um não repudia o outro. Leio muitas passagens no Livro de Mórmon que me dão paz e me aproximam de Deus... ou o que queiras chamar a essa eterna espiritualidade que reside em todos nós. A inal, a minha fé até propõe outro ponto de vista sobre o passado do nosso povo.
Foi por isso que me tornei um historiador dos nativos americanos e um naturalista. Para encontrar a resposta para o que somos.
— O que quer dizer com isso? Como é que o mormonismo pode explicar alguma coisa sobre o nosso povo?
Ele não sabia se era a altura certa para explicar a história contida nas páginas do Livro de Mórmon, uma crónica dos passos de Cristo no Novo Mundo. Em vez disso, tentara que Kai vislumbrasse os primeiros tempos da história das tribos dos nativos americanos.
Levantou-se.
— Segue-me.
Dirigiu-se a coxear ligeiramente para uma cúpula recortada no arenito.
Sob a prega da rocha via-se uma série de blocos de pedra, ruínas de uma antiga casa índia. Entrou, baixando a cabeça, e foi até à parede do fundo.
— Há muita coisa do nosso povo que desconhecemos — disse, olhando para trás. — Conheces os túmulos índios encontrados na Região Centro-Oeste, que vão desde os Grandes Lagos até aos pântanos da Louisiana?
Ela encolheu os ombros.
— Alguns têm seis mil anos. Até mesmo as tribos que viviam nessa área quando os europeus chegaram nada sabiam desses antigos construtores de túmulos. É essa a nossa herança. Um grande mistério.
Na parede, um artista pré-histórico pintara três iguras altas e esqueléticas com pigmentos carmesins no arenito amarelo. Levantou uma mão por cima da antiga obra artística.
— Hás de encontrar gravuras rupestres como esta em toda a área. Os arqueólogos a irmam que as imagens mais antigas aqui representadas têm oito mil anos. São relativamente recentes comparadas com os petróglifos Coso nas salinas de China Lake. Essas datam de há dezasseis mil anos, no inal da última época glaciar, quando o continente ainda era percorrido por mamutes, tigres-dentes-de-sabre e o monstruoso bisonte do Pleistoceno. — Virou-se para Kai. — É por essa data que termina a nossa história e sabe-se muito pouco.
Deixou que o peso do tempo pressionasse os ombros jovens de Kai antes de continuar.
— Até o número de pessoas que aqui viveram foi bastante subestimado. Estudos recentes, a partir da composição química das estalagmites, e da profundidade e largura dos depósitos de carvão encontrados em toda a América do Norte, calculam que a população de nativos americanos era muito superior a cem milhões de habitantes. É mais gente do que a que vivia na Europa quando Cristóvão Colombo pisou pela primeira vez o solo do Novo Mundo.
Os olhos dela brilharam no espaço cheio de sombras.
— O que lhes aconteceu?
O professor fez um gesto que englobava as ruínas ao abrir caminho para a saída.
— Depois da chegada dos europeus, doenças infeciosas como a varíola espalharam-se mais depressa pelo continente do que os colonos, o que deu a impressão de uma América dispersamente povoada. Mas isso, como a maior parte do resto, é falso.
Kai juntou-se-lhe no exterior, acompanhada por Kawtch que farejava o ar. A rapariga tinha uma expressão pensativa. O céu perdera o tom rosado da madrugada e ostentava o azul-escuro da manhã.
— Compreendo o que está a dizer — disse ela. — Só poderemos realmente conhecer-nos quando soubermos a nossa história.
Ele itou-a, avaliando-a com outros olhos. Era muito mais esperta do que parecia — o que voltou a provar ao fazer nova pergunta.
— Mas não chegou a explicar qual é a perspetiva do Livro de Mórmon sobre a nossa história.
Antes de Hank ter tempo para responder, Kawtch soltou um grunhido de aviso. O seu focinho mantinha-se levantado a farejar. Ambos se viraram na direção do Nordeste, para onde o focinho de Kawtch apontava. Via-se no céu, agora mais claro, uma mancha escura, como se fossem nuvens negras a anunciar uma tempestade.
— Fumo... — murmurou Kanosh.
E em grande quantidade.
— Um incêndio na floresta? — perguntou Kai.
— Julgo que não.
O coração batia com um crescente sentimento de apreensão.
— Temos de voltar.
06h38
Provo, Utah
Na extravagante cozinha da mansão, Rafael Saint Germaine estava sentado a apreciar um café expresso servido numa pequena chávena de porcelana. O aspeto absurdo da divisão divertia-o. O que os americanos consideravam o epítome da so isticação — viver em casas de construção moderna barata decoradas de modo a evocar um falso charme à Velho Mundo — era ridículo para ele. O castelo da família em Carcassonne, datado do século XVI e rodeado por muralhas, testemunhara batalhas que mudaram o curso da civilização ocidental.
Era essa a verdadeira marca da aristocracia.
Olhou pelas janelas abertas o relvado onde a tripulação preparava o helicóptero para a partida. Do outro lado da mesa havia uma catadupa de dados biográ icos. Lera-os ao pequeno-almoço e não viu necessidade de os consultar novamente. Sabia de cor a maior parte dos pormenores.
No alto de uma das pilhas estava a fotogra ia do homem que, na última noite, na universidade, contrariara os seus planos. A sua identi icação não demorara muito. Era uma pessoa que a sua organização conhecia bastante bem. Se não houvesse tanto grão e sombras na fotogra ia, não teria sido necessário o programa de reconhecimento facial para o identificar.
Sussurrou o nome do adversário: «Painter Crowe.» O chefe da Sigma.
Abanou a cabeça — simultaneamente consternado e divertido — e olhou para a fotografia.
— O que andas a fazer longe da tua toca em DC?
Rafe não previra que a Sigma seria tão rápida a reagir aos acontecimentos. Não os voltaria a subestimar. Mas não era inteiramente culpado por esse erro. Não levou muito tempo a juntar as peças. O alvo — a ágil ladra com dedos pegajosos — estava indiretamente relacionado com Crowe. Ambos partilhavam o mesmo clã tribal. Ela devia ter evocado os laços familiares para conseguir a ajuda dele.
Era uma evolução interessante. Com exceção de uma pequena dormida, passara o resto da noite a incorporar esta nova variável nas suas equações, fazendo várias permutações mentais. Como usar isto da melhor maneira? Como conseguir utilizá-lo em meu proveito?
Só esta manhã encontrara uma solução.
Ecoaram passos vindos do corredor, que se aproximaram passando pelo gabinete do mordomo.
— Estamos prontos a partir, senhor.
— Merci, Bern.
Rafe deu uma palmadinha no seu relógio de pulso Patek Philippe, que incluía um movimento chamado tourbillon, «furacão» em francês. Era o que precisavam de ser esta manhã.
— Estamos atrasados.
— Sim, senhor. Vamos compensar no ar o tempo perdido.
— Muito bem.
Rafe deu um último gole no café. Fez uma careta por causa do sabor.
Estava tépido, o que realçava o gosto amargo. Era uma vergonha, pois ter encontrado café aqui, uma dispendiosa importação do Panamá, fora uma agradável surpresa. Tinha de conceder alguns pontos pelo bom gosto aos donos desta casa monstruosa, quanto mais não fosse pelo café.
Ergueu-se, sentindo-se generoso.
— A Ashanda ainda está com o rapazinho? — perguntou a Bern.
— Estão na biblioteca.
Sorriu. Sem língua, ela não estava certamente a ler-lhe uma história.
— O que deseja que faça ao rapaz quando o senhor se for embora? — perguntou Bern constrangido, talvez por saber qual seria a resposta.
Rafe acenou negligentemente com um braço.
— Deixe-o aqui. Incólume.
O sobrolho de Bern levantou-se ligeiramente. Para um homem estoico, era equivalente a um suspiro de surpresa.
Rafe afastou-se. Por vezes, era bom agir imprevisivelmente para manter os subordinados em estado de alerta. Utilizando a bengala, atravessou a casa para ir buscar Ashanda. A biblioteca tinha dois andares e estava cheia de livros encadernados com pele que, muito provavelmente, nunca ninguém leu. Eram apenas exibidos ostensivamente, como tudo nesta casa.
Foi encontrar Ashanda sentada numa poltrona. A criança dormia nos seus braços enquanto lhe acariciava os caracóis louros com os seus dedos vigorosos. Cantarolava. Era um som reconfortante para Rafe, tão familiar como a voz da mãe. Sorriu, recordando momentaneamente o passado, as noites felizes de verão a dormir na varanda sob as estrelas, aquecido pela presença de Ashanda junto dele, num ninho de cobertores. Ouvira-a muitas vezes a trautear assim, abraçada a ele enquanto se restabelecia de algum osso quebrado. Era um bálsamo que apaziguava a maior parte das dores, até mesmo o pesar de uma criança.
Detestava importuná-la, mas tinham um horário a cumprir.
— Ashanda, ma grande, temos de ir embora.
Ela baixou a cabeça acatando a ordem. Levantou-se com presteza e colocou gentilmente o menino na almofada quente. Só então Rafe reparou nas contusões à volta do pescoço do rapazinho, na estranha posição do pescoço. Afinal, não estava a dormir.
Ela aproximou-se de Rafe e ofereceu-lhe o braço. Ele aceitou-o, apertando-lhe ternamente o antebraço. Ela soubera o que devia ser feito e o que ele, normalmente, teria ordenado. Agira tanto em bene ício dele como da criança, dando-lhe um im rápido e sem dor. Não teve coragem de lhe dizer que não era necessário — pelo menos, desta vez.
Sentiu-se mal.
Sou realmente assim tão previsível?
Tinha de se preparar contra isso, especialmente hoje. Fora informado da erupção vulcânica nas montanhas, con irmando o que há muito suspeitava. Tinham de mover-se depressa. Consultou o relógio, reparando no movimento giratório do tourbillon.
Como um furacão, lembrou-se.
Não podia perder tempo. Tinham de enxotar os pássaros fugidos na noite anterior para lhes seguir novamente a pista. Levara quase a noite inteira para encontrar uma solução, uma constante no quotidiano selvagem.
Para obrigar um pássaro assustado a aterrar era muitas vezes necessário um falcão.
07h02
San Rafael Swell
— Quantos mortos? — perguntou Painter, com o telefone via satélite encostado ao ouvido.
Andava de um lado para o outro na sala do maior pueblo. As brasas brilhavam na lareira escurecida pelo fogo e cheirava a café. Morto de cansaço por causa da longa condução, Kowalski estava sentado num sofá com armação de pinho, com as pernas em cima de uma mesa de madeira e o queixo encostado ao peito.
A voz de Ronald Chin era roufenha. As lutuações magnéticas e os detritos das partículas do vulcão em erupção interferiam com a receção digital.
— Perdemos apenas cinco soldados da Guarda Nacional porque o major Ryan conseguiu enviar um aviso de perigo e mandou iniciar a evacuação. Ainda não conhecemos ao certo o número de excursionistas e de pessoas acampadas na região... O acesso à área foi proibido e, assim, espero que esteja tudo bem.
Painter olhou para as vigas do teto. A cabana fora construída de modo tradicional com vigas de madeira, colmo e argamassa feita de pedra moída misturada com lama. Parecia estranho estar a discutir o aparecimento de novos vulcões num ambiente tão convencional.
— A boa notícia é que a erupção parece estar a acalmar — prosseguiu Chin. — Percorri a área de helicóptero pouco antes do nascer do Sol. A lava parou de verter e, até agora, permanece con inada no interior das paredes da abertura e começou a endurecer. De momento, o maior perigo parece ser um incêndio na loresta. As equipas de salvamento estão a instalar barreiras contra o fogo, à pressa, e os helicópteros estão a despejar água. A situação está cinquenta por cento contida.
— A não ser que haja outra erupção — disse Painter.
Chin já izera a sua avaliação. Acreditava que um processo causado pela explosão estava a atomizar matéria e perfurara uma câmara de magma super icial que aqueceu a região geotérmica e provocara a sua explosão.
— Talvez a situação esteja controlada — disse Chin.
— Porquê?
— Tenho estado a monitorizar o campo de lava na zona de explosão.
Está a icar progressivamente mais espessa ao longo da abertura e não noto qualquer indício de uma atomização renovada. Penso que o calor extremo da erupção eliminou o que estava a decompor a matéria. Deu cabo dele.
Deu cabo dele?
Painter suspeitou que Chin tinha uma ideia do que se tratava.
— Se tiver razão — continuou —, tivemos muita sorte com esta erupção vulcânica.
Painter não chamaria sorte à perda de cinco membros da Guarda Nacional. Mas compreendeu o alívio do geólogo. Se esse processo tivesse continuado, podia ter-se espalhado pelas Montanhas Rochosas, decompondo a paisagem e deixando apenas poeira atómica.
Por isso, talvez Chin tivesse razão. Talvez fosse sorte — mas Painter não tinha muita fé na sorte ou nas coincidências.
Lembrou-se dos restos mortais mumi icados que foram encontrados na gruta com uma carga tão destruidora.
— Provavelmente, foi por isso que os índios mortos, ou o que fossem, escolheram o vale geotérmico para armazenar a substância combustível.
Talvez a guardassem ali por segurança. Se explodisse, perfuraria as camadas geotérmicas superquentes por baixo do solo, onde o calor extremo daria cabo dela antes de se poder espalhar e consumir o mundo.
— Um verdadeiro sistema de falha segura — disse Chin, interiorizando.
— Caso tenha razão, a substância necessita de ser mantida quente para não explodir. Talvez tenha sido por isso que o crânio explodiu quando o tiraram da gruta e o expuseram ao ar frio da montanha.
Era um pensamento intrigante.
Chin desenvolveu-o.
— Tudo isto dá ainda maior suporte a uma coisa em que tenho andado a pensar.
— Que coisa?
— Mencionou que o punhal tirado da gruta era feito de aço de Damasco, um tipo de aço cuja robustez e elasticidade resultam da manipulação de matéria a nível nano.
— Foi o que o ísico, o doutor Denton, disse antes de morrer. Citou-o como exemplo de uma antiga forma de nanotecnologia.
— O que me faz pensar... que quando estava a observar o processo de decomposição que ocorria no vale, o que me impressionou foi ser menos uma reação química e mais algo que atacava ativamente a matéria e a decompunha.
— Onde quer chegar?
— Um dos objetivos da nanotecnologia moderna é a produção de nanorrobôs, máquinas de tamanho molecular que manipulam matéria a nível atómico. E se esse povo desconhecido não só praticasse a nanotecnologia mas também a nanorrobótica? E se essa explosão tivesse ativado biliões e biliões de nanorrobôs em estado latente, dando origem a um nanoninho que começou a espalhar-se em todas as direções?
Parecia uma ideia um tanto ou quanto exagerada. Painter imaginou robôs microscópicos a destruir moléculas átomo por átomo.
— Chefe, sei que parece loucura, mas há laboratórios no mundo que já estão a fazer progressos na produção e montagem de nanorrobôs. Alguns até desenvolvem robôs de silicone chamados nanites que podem fazer cópias de si mesmos com a matéria-prima que consomem.
Painter voltou a pensar no processo de decomposição que ocorrera nesse vale.
— É um grande salto da imaginação, Chin.
— Não concordo. Já foram encontrados inúmeros nanorrobôs na natureza. As enzimas nas células agem como robôs minúsculos. Alguns dos mais pequenos vírus autorreprodutores operam numa nanoescala. Talvez alguém no passado distante tenha criado um nanorrobô semelhante, um subproduto da fabricação do aço de Damasco? Não sei. Mas o problema do calor faz-me pensar.
— Como?
— Um dos obstáculos em nanotecnologia, em especial no que se refere à funcionalidade dos nanorrobôs, é a dissipação de calor. Para uma nanomáquina funcionar tem de conseguir perder o calor que produz enquanto funciona, processo difícil a nível nano.
Painter juntou tudo na cabeça.
— Assim, um modo fácil de manter os nanorrobôs em estado latente seria armazená-los num lugar quente. Como, por exemplo, uma gruta aquecida por fontes geotérmicas, onde a temperatura permanece relativamente uniforme durante séculos e até mesmo milhões de anos.
— E se ocorre um acidente — continuou Chin —, esse nanoninho, que se espalha em todas as direções, acaba por abrir caminho até às fontes geotérmicas e, inadvertidamente, autodestruir-se.
Apesar da impossibilidade aparente, a ideia era assustadoramente realizável. E perigosa. Tal produto era uma arma pronta a usar, mas o maior prémio seria a tecnologia por detrás da sua produção. Se fosse descoberta, o seu valor seria incalculável.
A nanotecnologia já estava em posição de ser considerada a próxima grande tecnologia do novo milénio, com potencial para se tornar vital em todos os setores cientí icos, medicina, eletrónica, manufaturação... a lista era interminável. Quem se apoderasse dela governaria o mundo, desde o nível atómico até ao topo.
Mas tudo isto suscitava uma grande pergunta.
— Se estamos certos, quem eram as pessoas mumi icadas naquela gruta? — inquiriu Chin.
Painter consultou o relógio. A única pessoa que talvez fosse capaz de responder àquela pergunta deveria chegar ali dentro de uma hora. Tratou de mais uns pormenores com Chin pelo telefone e ordenou-lhe que permanecesse no local e que continuasse a monitorizar o vale.
Quando Painter desligou, Kowalski falou do sofá sem se dar ao trabalho de levantar o queixo.
— Provocar erupções vulcânicas...
Painter lançou um olhar na sua direção.
— Se é isso o que esta coisa pode fazer — prosseguiu de olho aberto e itando-o —, talvez seja melhor prevenir o Gray para não se esquecer de meter roupa interior de asbesto na mala para a viagem à Islândia.
18
31 DE MAIO, 13H10
VESTMANNAEYJAR
Gray atravessou o convés da popa do barco de pesca. Embora o dia estivesse claro, o vento provocava uma forte ondulação, fazendo o convés balançar e empinar-se debaixo dos pés. Encontrou Seichan e Monk na balaustrada envoltos em capotes à prova de água, contra o frio salgado da brisa. O sol brilhante do meio-dia re letia-se no mar, mas pouco aquecia o ar.
— No parecer do capitão — disse Gray —, chegaremos à ilha Ellioaey em cerca de vinte minutos.
Seichan protegeu os olhos com uma mão e olhou para leste.
— Temos a certeza que é a ilha certa?
— É a melhor hipótese.
Os três tinham aterrado em Reiquiavique há uma hora e apanharam um avião particular em direção ao arquipélago que icava a sul da costa da Islândia, a sete milhas de distância. As ilhas Vesmannaeyjar eram uma feroz linha de sentinelas de cume cor de esmeralda a navegar num mar varrido pela tempestade — mares tão turbulentos como a história da região. As ilhas receberam o nome de escravos irlandeses, conhecidos por Westmen, que mataram os seus captores em 840 e ali se refugiaram.
Foram recapturados e mortos, deixando apenas os nomes. Hoje, é preciso um coração saudável para viver ali, na maior das ilhas, partilhando parcelas de terra com aves marinhas e as colónias mais populosas do mundo de papagaios-do-mar.
Gray olhou para trás a im de contemplar o porto pitoresco de Heimaey que se afastava com as suas casas e lojas garridamente pintadas contra um fundo de colinas verdes e um par de ameaçadores cones vulcânicos.
Tinham aterrado no pequeno aeroporto da ilha e, sem perder tempo, alugaram um barco para os transportar na direção das coordenadas fornecidas pelos ísicos japoneses — na opinião de Kat, contudo, as coordenadas eram aproximadas. E havia muitas ilhas por essas paragens.
Mais de uma dezena de ilhas desabitadas e inúmeros pilares de rocha naturais e arcos escavados pelo mar formavam o arquipélago.
Nascido nos últimos vinte mil anos, devido à atividade vulcânica de uma fenda incandescente que se estendia ao longo do fundo do mar e ainda estava ativa, o arquipélago era geologicamente jovem. Em meados dos anos sessenta, uma erupção vulcânica submarina deu origem à ilha mais a sul, Surtsey. Na década dos anos setenta, o vulcão Eldfell — um dos dois cones de Heimaey — entrou em atividade e soterrou metade do porto debaixo de lava. Gray reparara nas consequências quando se preparavam para aterrar. Sinais de trânsito estavam ainda en iados na lava e algumas casas desenterradas do meio das rochas contribuíram para que chamassem à cidade Pompeia do Norte.
— Julgo que é ali — disse Monk, apontando em frente.
Gray virou-se e avistou um imponente rochedo preto a sair do mar. Não era nenhuma ilha de praias arenosas e portos abrigados. Paredões negros circundavam a ilha Ellioaey, que pouco mais era do que um bocado de um cone vulcânico partido a emergir das ondas. O cume da ilha era verde-esmeralda — um planalto de musgo, líquenes e algas tão brilhantes à luz do sol que não pareciam naturais.
— Como chegamos lá acima? — perguntou Monk, enquanto o barco se aproximava lentamente do rochedo.
— Têm de subir por ali acima, meus caros amigos americanos.
A resposta veio da casa do leme. O capitão Ragnar Huld saiu para o convés, vestido com um oleado amarelo, desabotoado, com botas e uma grossa camisola de lã. De farfalhuda barba ruiva grisalha e pele curtida pelo sal, poderia facilmente ser tomado por um pirata viking. Só o brilho bonacheirão e divertido nos seus olhos verdes atenuava essa impressão.
— Receio que a única maneira seja com a ajuda de uma corda — explicou. — Mas parecem em boa forma física e, portanto, deve correr tudo bem. O jovem Egg vai levar o barco para junto da costa leste onde as falésias são mais baixas.
Huld apontou um polegar para a cabina onde o ilho, Eggert, com pouco mais de vinte anos, cabeça rapada e os braços cobertos de tatuagens, manobrava o leme.
— Não se preocupem — continuou. — Costumo trazer caçadores e alguns fotógrafos até aqui regularmente. Nunca trouxe geólogos, mas nunca perdi ninguém.
Piscou galantemente o olho a Seichan, mas, de braços cruzados, ela não parecia divertida. De acordo com a história que contaram eram investigadores da Universidade de Cornell, que andavam a fazer um estudo sobre ilhas vulcânicas, o que explicava as suas pesadas mochilas e as perguntas acerca desta ilha em particular.
Huld apontou para o rochedo.
— Há um pavilhão de caça lá em cima, onde, caso seja necessário, poderão alugar um quarto. Com esforço, conseguem avistá-lo daqui.
Gray procurou durante uns instantes e descobriu-o. Abrigado no meio de um relvado, viu um pavilhão de boas dimensões, com um telhado de ardósia.
— Mas não sei se haverá lugar — disse o capitão. — Um barco trouxe ontem, ao im da tarde, um grupo de turistas. Caçadores belgas, segundo ouvi contar. Ou talvez sejam suíços... Vão permanecer aqui mais uns dias.
Além deles, só irão encontrar gado e os habituais bandos de papagaios-do-mar como companhia.
Tanto melhor, pensou Gray. Preferia manter a busca pela origem das emissões de neutrinos o mais discreta possível.
De repente, Seichan largou a amurada do barco, empurrando Gray, e quase perdeu o equilíbrio antes de ele a agarrar.
— O que se passa?
Sem conseguir falar, apontou para o mar. Uma enorme barbatana preta elevou-se em leque, cortando as ondas ao lado do barco. Enquanto Gray olhava, surgiu outra barbatana, seguida por uma terceira, uma quarta e ainda outra.
— Há mais ali — disse Monk do outro lado do barco de pesca. — Orcas.
Muitas.
Huld encheu o peito e acenou.
— É habitual. A nossa ilha tem a maior população de baleias-assassinas e de gol inhos de toda a Islândia. Estão curiosas e gostam de navegar na esteira do barco. Ou talvez estejam à procura de qualquer coisa para comer. Quando apanho bastante peixe, dou-lhes um pouco. Dá gangi pér vel, sorte, como dizem por aqui.
Ao im de algum tempo, e sem nenhuma refeição à borla, as orcas voltaram a mergulhar e desapareceram todas ao mesmo tempo como se tivessem ouvido um sinal silencioso. No entanto, Gray reparou que Seichan continuou a itar descon iadamente as ondas, enervada pela presença dos enormes predadores.
Era bom saber que havia algo que podia perturbar a sua férrea determinação.
Quando a traineira passou pela ponta sul da ilha, Gray examinou as redondezas, olhando para as ondas que rebentavam na profundidade escura das grutas vulcânicas que abundavam nas falésias. Se há muito tempo algum tesouro tivesse sido escondido naquelas grutas submersas, as marés e as tempestades já o teriam destruído. Para encontrar o que procuravam, o melhor seria um lugar mais abrigado, um tubo de lava ou uma caverna em terra firme.
Mas por onde começar?
Gray virou-se para o capitão Huld.
— Temos de penetrar no interior da ilha o mais possível para instalar o nosso equipamento. Tem alguma sugestão?
O capitão co iou a barba, olhando para as encostas do imponente rochedo.
— Sim. Há muitas grutas e túneis por aqui. Escolham. O local é praticamente um pedaço endurecido de queijo suíço, esburacado pelo vento e pela chuva. Mas há uma gruta famosa que deu o nome à ilha. A gruta de Ellioaey. Conta-se que uma jovem fugiu para aqui e se escondeu nessa gruta para não ser violada nem roubada pelos invasores. Turcos ou piratas da Berbéria, dependendo de quem conta a história. De qualquer modo, uma vez em segurança, ela teve um ilho e criou-o aqui. Essa criança tornou-se o guardião das ilhas e diz-se que tinha poderes especiais e era capaz de convocar as forças do fogo e das rochas fundidas para proteger os nossos mares. — Huld abanou a cabeça. — Claro que se trata de histórias contadas à volta da fogueira durante os longos invernos daqui.
Gray surpreendeu o olhar de Monk. Talvez houvesse uma ponta de verdade nesse velho conto, uma alusão acerca de qualquer poder explosivo aqui enterrado há muito, escondido por alguém, desesperado, à procura de um refúgio.
— Pode dizer-me onde fica essa gruta? — perguntou Gray.
Huld encolheu os ombros.
— Fjandinn se eu sei. Mas há um guarda no pavilhão, o velho Olafur Bragason. Trate-o por Ollie. Vive aqui há mais de sessenta anos e é tão duro e acutilante como as rochas da ilha. Sabe tudo sobre este lugar e é a pessoa indicada para responder às suas perguntas.
Por esta altura, o barco contornara a ponta sul e aproximava-se de uma interrupção na super ície da falésia. Uma corda grossa, presa em vários sítios às rochas, descia de cima, marcando um caminho mais propício à passagem de cabras da montanha do que a um ser humano. Para alcançar a corda, que tinha na ponta um pequeno dispositivo para içar a bagagem, teriam de embarcar num pequeno bote de alumínio, mas, pelo menos, o local era relativamente protegido das ondas.
No entanto, o ilho do capitão ainda teve de fazer umas manobras astuciosas para os desembarcar. Gray ajudou Seichan a saltar do bote para a corda escorregadia e, depois, olhando para o alto, pôs a mochila às costas.
Ia ser uma ascensão di ícil e, por uns instantes, invejou a mão protética de Monk. Com a prótese recentemente concebida, podia esmagar nozes entre os dedos, o que o ajudaria bastante durante a longa subida.
Huld manejou o pequeno motor fora de borda à popa.
— O Egg e eu vamos pescar e estaremos por perto. Avisem-nos pela rádio quando estiverem prontos e viremos buscá-los. Mas se decidirem passar a noite aqui, avisem-nos também. Podemos voltar amanhã a qualquer hora.
— Obrigado.
Gray saltou do bote a balançar para terra irme. A rocha vulcânica, embora húmida, era áspera e acerada, o que facilitava a adesão das botas.
Apesar de íngreme, o trilho tinha bons apoios para os pés e reentrâncias rochosas. A corda proporcionava segurança suplementar.
Apreciou a vista. Seichan subia progressivamente sem repousar, com as coxas a esticar as calças de ganga sobre a suave curva das suas nádegas. Via-se pelo ritmo que estava contente por escapar às águas escuras lá em baixo.
Uns metros mais abaixo, Monk viu para onde Gray estava a olhar.
— Não deixes que a tua namorada italiana te veja a babares-te dessa maneira.
Gray fez-lhe uma careta. Felizmente, o vento dispersou a maior parte das palavras antes de chegarem aos ouvidos de Seichan. Há mais de quatro meses que não via Rachel Verona. Os seus ocasionais encontros amorosos tinham murchado depois de ela ter sido promovida nos carabinieri, obrigando-a a permanecer em Itália enquanto os problemas dele com os pais tornavam as longas viagens a Roma impossíveis. Ainda contactavam por telefone, mas era tudo. Separados por um golfo ainda mais largo do que o Adriático, ambos reconheceram que cada um tinha de continuar o seu caminho.
Após um último esticão, o grupo saiu das falésias e chegou a um belo panorama de gramíneas e a loramentos pintados com musgo e líquenes em todos os tons de verde. Uma ligeira neblina cobria a parte protegida do cone vulcânico, projetando uma luminosidade prismática sobre a paisagem.
Monk soltou um assobio.
— Parece que acabámos de chegar a um conto popular irlandês.
Seichan não se mostrou impressionada.
— Vamos interrogar o guarda.
Abriu caminho até o pavilhão de dois pisos aninhado no meio de um prado à direita. À esquerda, a ilha desenvolvia-se numa sucessão de socalcos e falhas de rocha preta. Gray esperava que as informações do guarda limitassem a busca.
Depois de uma curta caminhada, chegaram ao único edi ício da ilha.
Revestido de madeira, com pequenas janelas, o pavilhão de caça parecia um celeiro rústico, especialmente por causa das vacas que pastavam um pouco mais longe na encosta verdejante. Uma ténue espiral de fumo elevava-se da única chaminé.
Passaram pelo portão e uma cerca e atravessaram uma pequena horta.
Gray bateu à porta. Como não obteve resposta, experimentou o trinco e viu que não estava trancada. Porque haveria de estar?
Entrou.
A sala principal era sombria e, depois de andarem ao frio, pareceu-lhes excessivamente quente. Uma mesa manchada e coberta de marcas encontrava-se diante de uma lareira, fazendo daquele espaço sala de estar e de jantar. Um só candeeiro a óleo iluminava o topo da mesa e podiam ver-se vários mapas topográ icos e cartas marítimas. Encontravam-se em desordem e, pelo aspeto, era evidente que eram manuseados com frequência.
Gray abriu o fecho de correr do casaco para sacar com mais facilidade a SIG Sauer do coldre e na mão de Seichan surgiu um punhal.
— O que se passa? — perguntou Monk.
Gray lançou um olhar em redor. O lugar estava demasiado sossegado.
Os mapas espalhados davam a impressão de se encontrarem mais num gabinete de guerra do que na receção de um pavilhão de caça. Ouviram um gemido abafado vindo de um quarto ao fundo.
Gray tirou a pistola e avançou, colado às paredes. Seichan contornou o outro lado e Monk posicionou-se junto a uma janela de onde se via a porta da frente.
Espreitando o quarto do fundo, Gray apercebeu-se da presença de um velho magro e amarrado a uma cadeira, com o nariz partido, o lábio rachado e a sangrar. Era certamente Olafur Bragason. Gray examinou o resto do quarto antes de entrar. Não havia mais ninguém.
Aproximou-se do homem que deixou cair a cabeça para trás ao ouvir os passos. Um olho velado mirou-o antes de o queixo do homem voltar a cair-lhe no peito.
— Nei, nei... — arquejou. — Contei tudo o que sei.
Seichan virou-se para Gray.
— Parece que mais alguém está a par das emissões de neutrinos e chegou primeiro do que nós.
Não teve de mencionar qualquer nome. Mas como é que a Confraria estava ao corrente da ilha? Uma pequena suspeita percorreu-o ao olhar para ela. O seu rosto devia ter revelado qualquer coisa pois Seichan icou hirta de raiva. Mas ele também viu a mágoa re letir-se nos seus olhos.
Seichan dirigiu-se para a porta. Esforçara-se para provar a sua lealdade e não merecia ser alvo de desconfiança.
Gray foi atrás dela e agarrou-a por um braço num pedido silencioso de desculpa, mas não tinha tempo para sentimentos feridos. Acenou a Monk.
— Vou revistar o resto do pavilhão. Ajuda o guarda. Temos de o pôr em condições de andar. Quem aqui está viu-nos chegar.
Uma estrondosa explosão ecoou na ilha, fazendo estremecer as janelas.
Gray precipitou-se para fora do quarto. Era TNT. De uma das janelas avistou uma nuvem de fumo escuro a elevar-se do monte de rochas a meio da ilha. Um bando de papagaios-do-mar brancos e pretos levantou voo, esvoaçando em pânico através do fumo. Alguém estava a tentar penetrar nas entranhas da ilha com explosivos.
Mais perto, um movimento chamou-lhe a atenção. Um grupo de oito homens em linha surgiu por detrás dos penhascos e atravessou o prado, mantendo-se curvados e movendo-se furtivamente. Estavam armados com espingardas com miras telescópicas que cintilavam à luz do Sol. Eram os caçadores de quem o capitão Huld falara.
A verdadeira caçada ia, aparentemente, começar.
22h14
Prefeitura de Gifu, Japão Jun Yoshida deixara-se adormecer à secretária. Acordou em sobressalto ao ouvir bater à porta e, antes de ter tempo para se recompor, Riku Tanaka entrou precipitadamente com Janice Cooper atrás.
— Tem de ver isto — disse Tanaka, batendo com um rolo de papel na secretária.
— O que foi? Houve outra explosão de neutrinos?
Jun empertigou-se na cadeira, sentindo imediatamente uma pontada nas costas doridas. Saíra do laboratório principal há três horas para inalizar uns documentos que ainda se encontravam em cima da secretária sem que lhes tivesse tocado.
— Não... bem, sim... não é bem isso — gaguejou Tanaka, claramente nervoso, acabando, exasperado, por evitar a questão. — Tem que ver com uns desvios menores. Tenho andado a segui-los, mas não parecem ser importantes.
A doutora Cooper interrompeu-o.
— Não foi por isso que viemos, doutor Yoshida. — Virou-se para Tanaka. — Mostre-lhe.
Tanaka contornou a secretária, invadindo o espaço do diretor. Afastou a pilha de documentos e substitui-a pelos seus.
— Temos estado a monitorizar a explosão na Islândia e a elaborar um gráfico com os resultados. Veja como os picos de neutrinos que irradiam da ilha se tornaram progressivamente mais frequentes.
— Já me fez notar isso antes.
— Pois, eu sei.
O rosto de Tanaka corou. Pelos vistos não gostava de ser interrompido.
Jun permitiu-se uma centelha de satisfação.
— Então, porquê esta súbita invasão do meu gabinete?
Tanaka apontou para o gráfico.
— Na última hora, notei que a dupla vibração da Islândia tem vindo a mudar. As explosões mais pequenas tornaram-se mais fortes e os picos mais altos estão a ficar mais fracos.
— As mudanças têm sido lentas — explicou a doutora Cooper. — Demorámos horas a perceber o que estava a acontecer.
Tanaka colocou dois gráficos ao lado um do outro.
— O primeiro grá ico é de há quatro horas e o segundo foi elaborado na última meia hora.
Jun pegou nos óculos de ver ao perto e inclinou-se sobre os grá icos. A avaliação de Tanaka parecia estar correta. No primeiro grá ico, as explosões duplas tinham amplitudes distintamente diferentes, mas, na última leitura, o seu tamanho era quase igual.
— O que signi ica isso? — indagou Jun, tirando os óculos e esfregando os olhos fatigados.
Tanaka olhou para a doutora Cooper que acenou encorajadoramente a cabeça. Era raro mostrar-se tão inseguro. Esse pormenor indicava até que ponto Tanaka devia estar inquieto. Passava-se qualquer coisa que o assustara.
— Creio que estamos a presenciar uma aproximação da massa crítica — declarou inalmente Tanaka. — Logo que as duas amplitudes se tornem iguais e iquem alinhadas, será desencadeada uma reação em cadeia no interior do substrato que irradia dessas partículas subatómicas.
— Como a fusão num reator nuclear — acrescentou a doutora Cooper.
— O Riku e eu acreditamos que o aumento de frequência e de alterações na amplitude atua como um cronómetro natural, contando o tempo descendente até a substância desconhecida na Islândia se tornar crítica.
Jun sentiu um aperto no peito.
— Vai haver outra explosão...?
— Só que desta vez será cem vezes mais potente — interrompeu Tanaka.
— Quando?
— Fiz vários cálculos, extrapolando o tempo que as emissões duplas levarão até ficarem alinhados.
— Diga-me quando — insistiu Jun.
— Dentro de uma hora — respondeu a doutora Cooper.
Provando a sua habitual repugnância por generalidades, Tanaka esclareceu.
— Cinquenta e dois minutos, para ser preciso.
14h32
Ilha de Ellioaey
Seichan icou de vigia à janela. Receando a mira telescópica das espingardas inimigas, manteve-se escondida. Os adversários pareciam mercenários e tinham, sem dúvida, recebido treino militar. Os oito homens estabeleceram um perímetro diante do pavilhão, abrigando-se por detrás dos a loramentos rochosos. Deviam aguardar ordens enquanto os seus superiores tentavam identi icar os recém-chegados. Alguém devia estar a pensar se os devia matar ou capturar.
Não que o grupo de Gray tivesse grande coisa a dizer quanto a isso.
Segurou a pistola com as mãos, apoiando-a nos joelhos, pronta a estilhaçar a janela e a defender a sua posição. Mas não tinha ilusões. O inimigo era mais numeroso e estava mais bem armado. Com os soldados a guardar a parte da frente do pavilhão, a única saída segura era pelas traseiras. E depois? Ficariam expostos se fugissem para a orla das falésias.
Mesmo que lá chegassem, tudo o que poderiam esperar era uma morte rápida nas rochas por baixo das falésias.
Estavam encurralados.
Gray posicionou-se junto de outra janela ao fundo da sala. Tinha a SIG
Sauer preta numa mão e encostava um telemóvel ao ouvido com a outra.
Conseguira comunicar com o comando da Sigma, mas a ilha era demasiado remota para serem socorridos imediatamente. Só podiam contar com eles até chegar ajuda. Seichan sentia o estômago a ser corroído pela acidez, não tanto pela situação di ícil em que se encontravam, mas pela reação de Gray há instantes, ao aperceber-se de que tinham sido emboscados. Vira a suspeita estampada no seu rosto. Ele izera o possível para a dominar, mas a verdade é que sentira desconfiança.
Seichan espreitou pela janela. O que era preciso fazer para lhe provar a sua lealdade? Morrer talvez fosse uma maneira. Ou talvez não.
Ouviu Monk a falar baixinho com o guarda. Usara sais para o reanimar e por em pé. O velho era duro de roer. Desatou a praguejar fazendo-a quase corar e tirou uma caçadeira pendurada por cima da lareira, pronto a vingar-se.
A voz de Gray tornou-se mais cortante ao falar com o comando da Sigma.
— Temos de sair da ilha em quarenta minutos?
De sobrolho franzido, ela olhou novamente pela janela. De que estaria a falar? Teria de aguardar para obter uma resposta. Viu os soldados saírem dos esconderijos e começarem a avançar. Já deviam ter recebido ordens.
Qualquer que fosse o destino que os esperava — captura ou morte — já decidira.
Seichan levantou a pistola.
— Lá vêm eles!
19
31 DE MAIO, 08H34
SAN RAFAEL SWELL UTAH
Kai entrou no pequeno quarto de hóspedes no fundo do pueblo.
Deparou com Hank Kanosh debruçado sobre um computador portátil mas sem olhar para o ecrã. Cobria o rosto com as mãos numa atitude de pesar.
Ela sentiu-se mal por ter entrado e pensou em retirar-se, mas o tio tinha-a mandado ali.
— Professor Kanosh... — murmurou.
Ele endireitou-se bruscamente na cadeira com ar confuso e baixou rapidamente as mãos, fitando-as como se estivesse admirado de as ver.
— Desculpe incomodá-lo — disse ela.
Ele desligou o computador e Kai viu de relance um e-mail com carateres estranhos, uma escrita parecida com a que vira nas placas de ouro. Era evidente que o professor estivera a tentar decifrar aquilo.
Painter permitira que tivessem acesso à internet através de um sistema encriptado. Podiam ler e-mails e as notícias, mas estavam proibidos de enviar mensagens. Não enviar e-mails nem usar o Facebook. A proibição do segundo era mais dirigida a ela do que ao professor.
Kanosh respirou fundo para se recompor.
— O que é, Kai?
— O tio Crowe pede que vá ter com ele à sala principal. Quer falar consigo sobre um assunto antes que os outros cheguem.
Ele acenou a cabeça e levantou-se.
— Há sempre algo para tratar com o teu tio, não é?
Kai sorriu e Kanosh apertou-lhe ligeiramente o ombro ao passar. Ela estremeceu, traindo o seu nervosismo.
— Vou icar por aqui — disse. — O tio Crowe quer falar consigo em particular.
— Então o melhor é não o fazer esperar.
Logo que o professor saiu, ela fechou cuidadosamente a porta. Olhou para o computador. Tinha alguma relutância em ler o e-mail com medo do que poderia encontrar. Mas a curiosidade era mais forte. Não podia continuar a virar as costas ao pandemónio que causara. Mais cedo ou mais tarde, teria de enfrentar as consequências — mas, por agora, era suficiente expor-se a todo o mundo discretamente.
Sentando-se na cadeira ainda quente do professor, ligou o computador e olhou para o ecrã brilhante. Era agora ou nunca. Estendeu a mão, abriu o browser e foi à sua conta Gmail.
Susteve a respiração enquanto esperava a ligação. Teve de se sentar sobre as mãos para não voltar a desligar o computador. Não faria mal a ninguém isolar-se do mundo durante um pouco mais de tempo. Mas antes de poder seguir o seu pensamento, o ecrã encheu-se de e-mails que ainda não lera. Percorreu a lista. Havia alguns spams e e-mails anteriores à explosão, mas uma das mensagens mais recentes chamou a sua atenção.
Sentiu o corpo frio e comichão na pele. O e-mail fora enviado por jh_wahya@cloudbridge.com. Era de John Hawkes, o fundador da WAHYA.
Nem sequer teve de o abrir para saber o que dizia. O assunto era suficientemente claro. Apenas três letras: WTF.
Sabendo que nada mais podia fazer, abriu-o. Sentiu o peso de uma pedra nas entranhas ao lê-lo. Os amigos e compatriotas daquela organização eram todo o seu mundo. Aceitaram-na quando já não tinha idade para continuar integrada no sistema de adoção e fora abandonada para se desembaraçar sozinha. Apoiaram-na inanceira e emocionalmente, oferecendo-lhe uma família que lhe fizera muita falta desde a morte do pai.
A amargura da carta tornou-a ainda mais difícil de ler.
De: jh_wahya@cloudbridge.com Assunto: WTF
Para: Kai Quocheets <willow3tree@gmail.com> O que tens feito? Na WAHYA empenhámo-nos tanto na tua honrosa e pací ica missão e vimo-la desabar em ruínas, sangue e vergonha. O teu rosto igura em todos os meios de comunicação nacional e chamam-te terrorista e assassina. Em breve a tua vergonha será também a nossa. No entanto, continuamos sem notícias tuas, apenas um retumbante silêncio.
Foste paga pelo governo dos EUA para nos atraiçoar ou comprometer? É o que as pessoas andam a cochichar por aqui.
Tenho feito o que posso para aconselhar paciência e desencorajar julgamentos precipitados, mas sem nenhuma explicação ou prova, quanto à tua lealdade à nossa causa, não consigo calar os lobos que se juntam à nossa porta. Pedem sangue enquanto eu apenas peço respostas.
O conselho da WAHYA reuniu-se há uma hora. A não ser que possas limpar o teu nome aos nossos olhos, não temos outro remédio senão renegar-te, denunciar as tuas ações como agente inimigo e exporte como terrorista que subverte a nossa nobre causa. Tens até ao meio-dia de hoje para responder antes de convocarmos uma conferência de imprensa.
JH
Kai fechou o e-mail, sentindo as lágrimas a subir dentro dela. Veio-lhe à cabeça a imagem de todos os amigos a sorrir e a abraçá-la antes de partir para as montanhas. Lembrou-se de icar agarrada a Chayton Shaw, um dos mais entusiastas advogados da organização juvenil. O nome de Chay signi icava «falcão», em Sioux, nome apropriado devido ao cabelo preto que lhe caía sobre os ombros e esvoaçava à mais ligeira brisa. Há dois dias — que pareciam uma eternidade — tinham falado em tornar-se mais do que apenas amigos.
Pensou nele agora, imaginando-o a virar-lhe as costas, repudiando-a.
Soluçando baixinho, tapou o rosto com as mãos para esconder as lágrimas e a vergonha.
O que vou fazer?
08h35
Hank Kanosh sentou-se à mesa com as costas viradas para a lareira para sentir o calor das últimas brasas. Painter sentou-se do outro lado mesa. O seu colega ressonava docemente no sofá.
Pelas olheiras que marcavam os olhos de Painter, via-se que também lhe faria bem dormir um pouco, mas algo parecia inquietá-lo. Hank suspeitou, contudo, que nem sequer se relacionava com o assunto em questão. O homem parecia distraído e levava demasiado tempo a abordar o que queria discutir. Estava a acontecer outra coisa qualquer. Passara toda a manhã ao telefone. Talvez tivesse que ver com a estranha erupção vulcânica ou fosse outra coisa. Tudo o que Hank sabia é que ele estava nervoso.
Painter acabou por clarear a voz e cruzar as mãos em cima da mesa.
— Vou ser franco consigo e espero que faça o mesmo. Morreram pessoas e ainda mais hão de morrer se não compreendermos o que temos pela frente.
Hank baixou ligeiramente a cabeça.
— Claro.
— Tenho falado com o nosso geólogo que está a seguir a atividade vulcânica no local da explosão. Julgamos ter uma compreensão rudimentar do que está escondido nessa gruta. Envolve a manipulação de matéria a nível nano. E também estamos convencidos de que esse povo antigo criou, deliberada ou acidentalmente, um produto instável, ativo e explosivo que necessita de calor para permanecer em estado latente. Foi por isso que o esconderam numa zona geotérmica, onde poderia ser mantido quente e em segurança durante séculos.
Um sentimento de culpa percorreu Hank.
— Quer dizer, até o termos tirado dessa fonte de calor.
— E o desestabilizarem. A seguir à explosão, libertou o que o nosso geólogo chama nanoninho, uma massa de nanorrobôs, máquinas microscópicas que desintegram a matéria e têm potencial para se espalhar inde inidamente. Mas por sorte ou previsão desse povo, o calor da erupção destruiu o nanoninho, pondo termo ao processo.
Horrorizado, Hank fechou os olhos uns instantes. Maggie... o que fizemos? A seguir, falou calmamente.
— Era por isso que as velhas lendas da gruta avisavam que não se entrasse lá.
— E talvez essa gruta não seja a única.
Hank abriu os olhos e franziu o sobrolho.
— O que quer dizer com isso?
— É possível que haja outra na Islândia.
Islândia?
Painter explicou como os neutrinos provenientes da explosão no Utah podiam ter detonado uma segunda carga potencial desta substância.
— Neste momento, um depósito na Islândia está a desestabilizar — acrescentou Painter. — Temos gente no terreno a investigar, mas há uma peça fundamental para este puzzle que desconhecemos.
Hank fitou-o, à espera.
— Temos uma certa compreensão do que estava escondido nesses sítios, mas não sabemos quem o escondeu. Quem era esse povo antigo?
Porque parecem ser caucasianos, mas usavam roupa nativa americana?
Hank sentiu a boca seca. Teve de desviar os olhos e fitar as mãos.
Painter continuou.
— Sabe alguma coisa Hank. Ouviu-o discutir com o doutor Denton no laboratório. O vosso conhecimento pode ser vital para entender plenamente o perigo que enfrentamos.
Hank sabia que o homem tinha razão, mas as respostas percorriam uma perigosa linha entre a sua herança étnica e a sua fé. Tinha relutância em divulgar as suas suspeitas sem mais provas. Embora agora talvez as tivesse.
— Tratava-se apenas de uma teoria — disse inalmente Hank. — O
Matt podia ser ísico, mas, como eu, era igualmente um mórmon devoto. Na nossa discussão, as conclusões do Matt eram extravagantes e não mereciam ser mencionadas na altura.
Painter inclinou a cabeça de lado, fitando-o.
— Mas podemos falar delas agora.
— O facto de ter mencionado a Islândia dá algum apoio à teoria do Matt.
— Que teoria?
— Para lhe responder, tem de conhecer uma secção do Livro de Mórmon que é muito contestada. De acordo com as nossas escrituras, os nativos americanos eram descendentes de uma tribo perdida de Israel que chegou aqui depois da queda de Jerusalém, mais ou menos no ano 600
antes de Cristo.
— Espere aí! Está a a irmar que os índios são oriundos de uma tribo judaica que se exilou aqui?
— Segundo uma leitura literal do Livro de Mórmon, sim. São descendentes da tribo israelita de Manassés.
— Mas isso não faz sentido. Há imensas provas arqueológicas de que havia gente a viver nas Américas muito antes de 600 a.C.
— Estou ciente disso. E, apesar de parecer contraditório, o Livro de Mórmon também reconhece a existência dessa gente, desses primeiros nativos americanos. Faz até referência a gente que vivia aqui quando a tribo perdida de israelitas chegou do Oeste. — Hank levantou uma mão. — Deixe-me continuar, por favor, para tentar esclarecer essa contradição através de uma interpretação menos literal e mais alegórica das nossas escrituras.
— OK. Continue.
— De acordo com uma interpretação direta do Livro de Mórmon, o grupo de israelitas que veio para a América era formado por duas famílias guiadas por um pai comum, Leí. Estes dois ramos familiares eram os ne itas e os lamanitas. Mas passemos por alto os pormenores mais complicados. Mil anos mais tarde, os lamanitas massacraram os ne itas e tornaram-se os nativos americanos de hoje.
Painter fez uma expressão pouco convencida.
— A história parece mais racista do que histórica. E sei que os testes de ADN não con irmam a existência de qualquer linhagem genética entre os nativos americanos e os europeus ou os habitantes do Médio Oriente.
— Concordo. Estudos genéticos provaram que os nativos americanos têm origem asiática. Atravessaram provavelmente o estreito de Bering e desceram pelo continente. Acredite no que lhe digo, ao longo dos anos, os cientistas e historiadores mórmones têm tentado a todo o custo associar os nativos americanos à herança judaica, mas, até agora, só conseguiram passar por uma grande vergonha.
— Então não estou a perceber onde quer chegar.
— Hoje, a maior parte dos mórmones acredita numa versão alegórica dessa passagem nas nossas escrituras. Esse grupo de israelitas veio para a América e contactou com tribos indígenas, o povo nativo americano.
Hank apontou com uma mão para ambos.
— Os israelitas instalaram-se entre as nossas tribos e, possivelmente, tentaram convertê-las à lei de Abraão. Mas, na grande maioria, os israelitas mantiveram-se reunidos à volta do seu clã, tornando-se outra tribo entre as numerosas nações índias. É por isso que não existem vestígios genéticos.
— Essa explicação parece mais forçada do que convincente.
Hank sentiu uma ponta de irritação.
— Foi você quem me pediu ajuda. Ainda a quer?
Painter ergueu uma mão.
— Desculpe. Continue. Mas julgo que sei onde quer chegar. Acredita que os corpos mumi icados encontrados na gruta pertencem a membros dessa tribo judaica perdida.
— Com efeito. Acredito que são os ne itas descritos no Livro de Mórmon, com a pele branca, abençoados por Deus e dotados de capacidades especiais. Esta descrição não se assemelha à das pobres almas que encontrámos?
— E os criminosos lamanitas que os massacraram?
— Talvez fossem índios que se converteram ou izeram as pazes com os recém-chegados. Mas algo mudou ao longo dos séculos. Qualquer coisa assustou as tribos índias levando-as a aniquilar os nefitas.
— Está portanto a dizer que a história contada no Livro de Mórmon é uma mistura de lendas e episódios reais. A tribo perdida de Israel, os ne itas, veio para a América e juntou-se às nativas americanas. E, cerca de mil anos depois, algo assustou um grupo destes índios, os lamanitas, que exterminou a tribo perdida.
Hank assentiu.
— Sei que parece estranho, mas, se me der ouvidos, eu passo a explicar.
Painter fez-lhe sinal para continuar, embora parecesse pouco convencido.
— Repare, por exemplo, na quantidade de carateres hebreus existentes na linguagem das várias tribos nativas americanas. As investigações mostraram que há mais semelhanças entre as duas línguas do que as que podem ser atribuídas à sorte. A palavra hebraica para «relâmpago»
é baraq. Em uto-asteca, um grupo linguístico nativo americano, a palavra é berok.
Hank tocou no ombro.
— Isto é shekem em hebreu e sikum em uto-asteca.
Passou a mão pelo braço nu.
— Geled em hebreu, eled em uto-asteca. E a lista continua, indo mais além do que a simples coincidência.
— Mas como é que isso se relaciona diretamente com as múmias na gruta?
— Deixe-me mostrar-lhe.
Hank levantou-se e foi buscar o que queria à mochila, voltando depois a sentar-se. Colocou as duas placas de ouro em cima da mesa.
— O Livro de Mórmon foi escrito por John Smith. Segundo consta, o anjo Moroni ofereceu-lhe umas placas de ouro escritas numa língua estranha.
Uns dizem que eram hieróglifos e outros que se tratava de uma antiga variante de hebreu. Foi conferido a Joseph Smith o dom de traduzir essas placas e a tradução deu origem ao Livro de Mórmon.
Painter puxou uma das placas para si.
— E a escrita nesta placa?
— Antes de você chegar à universidade a noite passada, copiei umas linhas e enviei-as a um colega meu, um especialista em línguas antigas do Médio Oriente. Esta manhã, tive notícias dele e devo dizer que iquei intrigado. Conseguiu identificar a escrita. É de uma forma de proto-hebreu.
Painter remexeu-se na cadeira com uma expressão cada vez mais intrigada.
— Um erudito do século XVI, Paracelso, foi a primeira pessoa a mencionar essa escrita proto-semítica. Chamou-lhe o Alfabeto dos Magos.
Declarou tê-lo aprendido com um anjo e disse ser a fonte de dons especiais e de magia. Tudo isso leva-me a perguntar a mim mesmo se John Smith não teria descoberto as placas e não as teria traduzido, aprendendo assim a história desse povo antigo, a tribo perdida de Israel.
Painter recostou-se na cadeira. Hank apercebeu-se de que ele ainda tinha dúvidas, mas que se mostrava menos trocista e mais pensativo.
— E, agora, temos a Islândia.
Painter acenou a cabeça, encaixando essa peça do puzzle.
— Se estes antigos praticantes de nanotecnologia, eruditos, magos, etc., fossem realmente oriundos de uma tribo perdida de Israel, tivessem fugido através do Atlântico com um objeto que queriam guardar mas duvidassem do sucesso da viagem...
Hank concluiu o pensamento.
— Chegados à Islândia, uma terra de fogo num mar de gelo, teriam encontrado o lugar perfeito para proteger pelo menos uma parte do seu volátil tesouro antes de seguir para a América.
— Hank, acho que pode...
O ruído de pneus a esmagar pedras soltas interrompeu-o, soando distante, mas aproximando-se velozmente. Painter rodopiou e uma pistola surgiu-lhe na mão, vinda não se sabe de onde. Encaminhou-se apressadamente para a porta.
Kowalski sentou-se, arrotou e olhou à volta, estremunhado.
— O que foi? O que perdi?
Painter veri icou as janelas e icou um minuto inteiro a olhar para fora enquanto o barulho na estrada aumentava progressivamente.
— São os seus amigos Alvin e Iris — disse, visivelmente mais calmo. — Parece que encontraram o nosso último convidado.
08h44
O velho e amolgado Toyota levantou um remoinho de areia e poeira ao travar no meio das cabanas. Painter saiu da sombra da varanda e entrou no braseiro do sol. Apesar de ainda ser cedo, a luz martelava os terrenos bravios à volta em tons carmesins e dourados. Semicerrando os olhos por causa da luminosidade, foi ajudar Iris a sair do banco do condutor. Alvin saltou do carro pelo outro lado.
O casal idoso, a caminho dos oitenta anos e mirrado pelo sol, com camisas coloridas e calças de ganga desbotadas com a bainha des iada parecia um par de hippies. Mas a sua roupa tinha elementos Hopi. Iris tinha o longo cabelo grisalho entrançado à Hopi, enfeitado com penas e pedrinhas turquesas. E Alvin conservava o seu comprido cabelo branco de neve solto, e usava pulseiras largas de prata, incrustadas com conchas e pedrinhas nos braços nus. Ambos tinham cintos bordados com desenhos tipicamente Hopi, mas, em vez de calçarem mocassins de pele de boi ou de veado, usavam botas encomendadas por catálogo a uma loja urbana.
— Pelo menos não queimaram nada — disse Iris, inspecionando as casas com as mãos nas ancas.
— Apenas o café — comentou Painter, piscando um olho.
Dirigiu-se depois para a porta traseira do SUV para ajudar o novo membro do grupo. A noite passada, Painter dissera-lhe que queria falar com um dos anciãos Ute, alguém da mesma tribo do avô que matara o próprio neto para manter a gruta secreta. Era evidente que esse velhote sabia qualquer coisa. E, provavelmente, outros anciãos da sua tribo também. Precisava de ouvir alguém que o pudesse esclarecer sobre o signi icado da gruta e contar-lhe a sua história. Alvin e Iris foram buscar o velho à paragem de autocarros para que a presença de Painter e dos outros se mantivesse discreta.
Painter esticou o braço para abrir a porta ao ancião, mas abriu-se sem ter tempo para lhe tocar e um jovem que não parecia ter mais de vinte anos saltou do carro. Painter en iou a cabeça no interior da viatura, mas não havia mais ninguém no banco de trás.
O rapaz estendeu-lhe a mão. Estava vestido com um fato azul-escuro, mas trazia o casaco e a gravata no braço. Tinha o colarinho desabotoado.
— Chamo-me Jordan Appawora, ancião da tribo Ute do Norte.
O absurdo da declaração não escapou ao jovem que esboçou um sorriso tímido e embaraçado. Painter suspeitou que a timidez não fosse uma característica habitual do rapaz. O seu aperto de mão era forte e irme. Havia músculos escondidos debaixo daquele fato. Quando retirou a mão, afastou a mecha de cabelo preto dos olhos e olhou em redor.
— Talvez devesse explicar melhor — disse o jovem. — Sou realmente membro do conselho dos anciãos. Represento o meu avô que é cego e bastante surdo, mas continua tão a iado como um machado. Aqueço o seu lugar nas reuniões do conselho, tomo notas, discuto os assuntos com ele e, depois, voto em seu nome.
Painter suspirou. Estava tudo muito bem, mas este jovem Ute não era o ancião que esperava interrogar, alguém conhecedor de histórias antigas e de costumes tribais perdidos.
— Pela sua expressão — prosseguiu Appawora, sorrindo de forma mais aberta e calorosa —, vejo que está desapontado, mas o meu avô não pode de modo algum fazer esta longa viagem. — Ajeitou o fundilho das calças com a mão. — Estas estradas são tão más que, por esta altura, iria a caminho do hospital para fazer outra operação à anca. E, se tomarmos em consideração os dois últimos quilómetros, é bem possível que, pela primeira vez, eu mesmo necessite de ser operado.
— Vamos esticar as pernas — propôs Alvin, provando a sabedoria dos seus anos.
Fez-lhes sinal na direção do átrio do pueblo, e, colocando o braço à volta da cintura da mulher, dirigiu-se para uma cabana vizinha.
— A Iris e eu vamos preparar-lhes o pequeno-almoço enquanto resolvem o que têm para resolver.
Painter percebeu que o casal estava a esquivar-se para que pudessem falar em particular, mas, dadas as circunstâncias, já não era necessário; no entanto, não recusava o pequeno-almoço. Conduziu Jordan até ao átrio abrigado do sol. Kowalski já lá se encontrava instalado numa cadeira com as botas em cima do parapeito. Pouco impressionado com o intitulado ancião, olhou para Painter sem se mexer.
Acompanhado de Kai, Kanosh juntou-se-lhes. O seu corpulento cão pastor também apareceu, farejando a perna das calças do recém-chegado.
Jordan voltou a apresentar-se — e a sua timidez reapareceu ao apertar a mão de Kai. Ela também gaguejou e a sua voz soou mais doce; acabou por se retirar para o lado oposto, ingindo-se desinteressada, mas, pelo canto do olho olhava com frequência para Jordan através dos cabelos caídos.
Painter tossiu e recostou-se no parapeito, de frente para os outros.
— Suponho que sabe porque lhe pedi que viesse — disse a Jordan.
— Sei, sim. O meu avô e Jimmy Reed eram bons amigos. O que aconteceu, o tiroteio na gruta, foi uma tragédia. Conhecia o neto dele, o Charlie, muito bem. Vim para oferecer toda a ajuda que puder quanto a este assunto e responder a todas as perguntas.
Era a resposta de um político. Pelas suas respostas breves e contidas, Painter supôs que frequentou, pelo menos um ano, uma Faculdade de Direito. O jovem Ute estava aqui para ajudar, mas não ia permitir que a sua tribo icasse envolvida em algo potencialmente nocivo como os trágicos acontecimentos ocorridos nas montanhas.
Painter acenou a cabeça.
— Agradeço que tenha vindo, mas de quem precisávamos realmente era de alguém, como o Jimmy Reed, que seguisse os velhos costumes e que tivesse um conhecimento íntimo e pormenorizado da história da gruta.
Jordan permaneceu impassível.
— Isso foi claro. O recado chegou aos ouvidos do meu avô que me chamou em segredo e me enviou aqui sem que ninguém soubesse. Para a tribo Ute, nós recusámos o seu pedido.
Painter mudou de posição, itando intensamente o rapaz. A inal, talvez não fosse uma perda de tempo.
O olhar de Painter não intimidou Jordan.
— Só dois anciãos sabiam que a gruta existia, a sua localização estava marcada num mapa tribal das terras Ute. Foi o meu avô quem falou da gruta a Jimmy Reed. E, a noite passada, o meu avô contou- me.
Uma centelha de medo surgiu nos olhos do jovem. Desviou o olhar para as falésias batidas pelo sol, como se tentasse desenvencilhar-se dele.
— História loucas... — murmurou.
— Acerca dos corpos mumi icados? — insistiu Painter num tom aliciante. — E do que lá estava escondido?
Como resposta, um lento aceno da cabeça.
— Segundo contou o meu avô, os corpos preservados na gruta pertenciam a um clã de grandes xamãs, uma misteriosa raça de pele branca que chegou a esta terra com grandes dons e poderes. Eram chamados Tawtsee’untsaw Pootseev.
Kanosh traduziu.
— O povo da Estrela da Manhã.
Virou-se para Painter.
— Aquela que brilha todas as manhãs no Leste.
Jordan assentiu.
— Essas histórias antigas dizem que os forasteiros vieram do leste das Montanhas Rochosas.
Painter e Kanosh trocaram um olhar. O professor estava claramente a pensar no povo que viera de muito mais a leste.
A sua tribo perdida de Israel... Os nefitas dos mórmones.
— Uma vez instalados nestes territórios — continuou Jordan —, os Tawtsee’untsaw Pootseev ensinaram muita coisa ao nosso povo, reunindo os xamãs das tribos do Oeste. Os seus ensinamentos espalharam-se até muito longe, o que atraiu muita gente para as suas ileiras e os tornou um grande clã.
Os lamanitas, pensou Painter.
— Os Tawtsee’untsaw Pootseev eram muito venerados e também temidos por causa do poder que possuíam. Ao longo dos séculos, mantiveram-se isolados. Os nossos xamãs começaram a combater entre si à procura de mais sabedoria e desa iaram os avisos feitos pelos forasteiros. Um dia, uma tribo Pueblo do Sul roubou um poderoso tesouro aos Tawtsee’untsaw Pootseev. Mas os ladrões desconheciam o poder do que roubaram e uma grande catástrofe abateu-se sobre eles, destruindo a maior parte da sua tribo. Furiosas, as outras tribos exterminaram todos os sobreviventes Pueblo, homens, mulheres e crianças.
— Genocídio — sussurrou Kanosh.
Jordan baixou a cabeça em sinal de assentimento.
— Tal ação horrorizou os Tawtsee’untsaw Pootseev. Sabiam que os seus poderosos conhecimentos eram demasiado tentadores para as tribos ainda em guerra e reuniram os seus membros em todo o Oeste para esconder, no máximo sigilo, os seus tesouros em locais sagrados. Muitos foram mortos quando tentaram fugir e os sobreviventes não tiveram outro remédio senão suicidar-se para manter o segredo.
Painter examinou Kanosh pelo canto do olho. Seria esta a guerra descrita no Livro de Mórmon entre nefitas e lamanitas?
— Só alguns dos anciãos em quem mais con iamos estavam a par desses esconderijos, e dizem que há um relato acerca dos Tawtsee’untsaw Pootseev escrito a ouro.
Kanosh respirou fundo, desviando os olhos velados, talvez de lágrimas.
Era mais uma con irmação de tudo em que acreditava acerca do seu povo, do seu lugar na história e nos planos de Deus.
No entanto, Painter — há muito afastado da sua herança índia — mostrava-se cético.
— Existem provas dessa história?
Jordan, examinando a biqueira dos sapatos antes de erguer a cabeça, levou uns instantes a responder.
— Não sei. Mas o meu avô diz que, se quiser ter mais informações sobre os Tawtsee’untsaw Pootseev, deveria ir ao local onde o im deles começou.
— O que quer dizer? — perguntou Kowalski.
Jordan virou-se para ele.
— O meu avô sabe onde os ladrões que roubaram o tesouro perderam a vida. E também sabe o nome do clã.
Voltou-se para os outros.
— Eram Anasazi.
Painter não conseguiu disfarçar uma expressão de surpresa. Os Anasazi eram um clã do antigo povo Pueblo que vivia sobretudo na região dos Four Corners dos Estados Unidos; conhecidos por viverem em casas espaçosas nas falésias e pelo seu misterioso e súbito desaparecimento.
Kanosh fitou Painter.
— Em navajo, Anasazi quer dizer «inimigo antigo». Os Anasazi desapareceram entre o ano 1000 e 1100, mas desconhece-se porquê. Há várias teorias: uma grande seca, guerras entre as tribos. Uma das teorias mais recentes dos arqueólogos da Universidade do Colorado a irma que a tribo se envolveu numa guerra religiosa tão violenta como uma batalha entre cristãos e muçulmanos. Diz-se ainda que o aparecimento de uma nova religião os levou para o Sul e que, pouco depois, todo o clã se extinguiu.
Essa teoria entrosava com a velha história contada pelo avô de Jordan.
Painter dirigiu-se ao jovem.
— Disse-nos que o seu avô sabe onde morreram os ladrões Anasazi.
Onde foi?
— Se tiver um mapa do Sudoeste, em particular do Arizona, posso indicar-lho.
Todos entraram. Após a luz matinal, o interior da casa estava tão escuro como uma gruta. Kai acendeu vários candeeiros enquanto Painter pegou num mapa da região dos Four Corners e o desdobrou em cima da mesa.
— Mostre lá — pediu Painter.
Jordan examinou o mapa com a cabeça inclinada para um lado.
— Fica a cerca de quinhentos quilómetros a sul de onde estamos — disse, debruçando-se um pouco mais sobre a mesa. — Ah, cá está. Mesmo à saída de Flagstaff.
Colocou um dedo no mapa.
Painter leu o nome.
— Sunset Crater National Park.
Bem, fazia certamente sentido...
Kowalski resmungou em voz baixa.
— Parece que vamos passar de um vulcão para outro.
Painter começou a fazer mentalmente planos.
— Vou consigo, disse Kanosh.
Painter preparou-se para discutir. Queria deixar o professor aqui com Kai para os manter fora de perigo.
— Os meus amigos deram o seu sangue e as suas vidas — insistiu Kanosh. — Vou seguir isto até ao im. E quem sabe o que irá encontrar no Arizona? Pode vir a necessitar da minha assistência.
Painter franziu o sobrolho, mas não tinha nenhum bom motivo para recusar a ajuda nem os valiosos conhecimentos do professor.
Kowalski chegou à mesma conclusão.
— Por mim, tudo bem.
Kai aproximou-se. Painter sabia o que a sobrinha ia dizer e levantou uma mão.
—Vais icar com a Iris e o Alvin. — Apontou depois para Jordan. — E
você também.
Ambos icariam mais seguros aqui e também não queria que se soubesse para onde ele, o professor e Kowalski se dirigiam. Kai parecia prestes a armar uma discussão, mas depois de olhar para Jordan reconsiderou e limitou-se a cruzar os braços.
Painter pensou que o assunto estava arrumado, mas Jordan dirigiu-se-lhe. Tirou um papel dobrado do bolso com a intenção de lho entregar, mas, em vez disso, segurou-o meio amarfanhado entre os dedos.
— O meu avô queria que eu lhe desse isto antes de partir. Mas, primeiro, tenho de comunicar uma última coisa. Sou eu que o digo, não o meu avô.
— De que se trata?
— As lendas que acabei de lhe contar são histórias sagradas de há vários séculos que foram transmitidas de um ancião para outro. O meu avô só as contou porque acredita realmente que já é tarde de mais.
Kowalski fez um gesto impaciente.
— O que quer dizer com tarde de mais?
— O meu avô crê que o espírito libertado da gruta nas montanhas nunca mais será detido e há de destruir o mundo.
Painter lembrou-se da descrição de Chin — a lava escaldante a verter do sítio da explosão, a que ele chamava nanoninho, e imaginou nanomáquinas a desintegrarem toda a matéria em que tocavam. O potencial desse fenómeno a espalhar-se indefinidamente era aterrador.
— Mas foi detido — a irmou inalmente Painter. — A erupção vulcânica voltou a meter o espírito dentro da garrafa.
Jordan olhou-o bem nos olhos.
— Isto foi apenas o princípio. O meu avô diz que o espírito varrerá o mundo a partir daqui, destruindo-o até ficar em ruínas.
Painter sentiu-se gelar. Era assustadoramente semelhante ao que os ísicos diziam. A explosão de neutrinos no Utah atravessara o globo terrestre e desencadeara outra carga escondida de nanomaterial.
Lembrou-se do aviso de Kat sobre a iminente explosão na Islândia.
Jordan estendeu a mão com o papel.
— O meu avô tem pouca esperança, mas queria que visse isto. É o símbolo dos Tawtsee’untsaw Pootseev. Diz para deixar que o guie para onde necessitar de ir.
Painter desdobrou o papel. O que lá estava escrito não fazia sentido,
mas sentiu os joelhos fraquejarem. Abanou a cabeça sem poder acreditar.
Reconheceu os dois símbolos marcados a carvão no papel, o sinal dos Tawtsee’untsaw Pootseev.
Uma lua em quarto crescente e uma pequena estrela.
Os mesmos elementos que figuravam no símbolo da Confraria.
Como era possível?
20
31 DE MAIO, 14H45
ILHA ELLIOAEY
ISLÂNDIA
Trinta e dois minutos...
De guarda à janela, os dedos de Gray crisparam-se à volta da pistola.
Falara com Kat há uns minutos — não só não os podia ajudar como partilhara inquietantes notícias do Japão com ele. Se os ísicos tinham razão, a ilha explodiria pouco depois da 15h00. Tinham de sair dali quanto antes. Havia apenas um problema — não, oito problemas.
Os comandos ocuparam posições seguras em frente do pavilhão e mantinham-no sob a mira das armas. Há minutos, tinham atacado, mas, por um motivo qualquer, recuaram de repente, abrigando-se por detrás de uns afloramentos de basalto.
— Porque pararam o assalto? — perguntou Ollie.
O velho guarda estava junto da lareira com a caçadeira na mão.
Bastante maltratado, recompusera-se depois de Monk o soltar, mas a ânsia da espera estava a esgotá-lo.
Seichan respondeu à pergunta de Ollie sem tirar os olhos da janela.
— Tal como nós, devem ter ouvido dizer que a ilha vai explodir e estão a manter-nos encurralados até ao último minuto, a tempo de eles escaparem.
As suas palavras provaram ser proféticas quando o ruído de um helicóptero a aproximar-se fez estremecer os vidros das janelas. O
aparelho passou por cima do pavilhão e sobrevoou o prado, as quatro pás do rotor varriam a erva enquanto o piloto procurava um lugar seguro para aterrar no meio das rochas.
Temos de nos apoderar daquele helicóptero, pensou Gray.
— Olhem! — gritou Seichan, apontando. — Do outro lado do prado, junto dos rochedos. Temos mais companhia.
Gray afastou os olhos do helicóptero e avistou o que a tinha alarmado.
Mais soldados invadiam a paisagem, vindos da direção da nuvem de fumo que marcava a recente explosão de TNT. À frente deles, corria alguém vestido à civil. O homem de meia-idade segurava uma mochila contra a barriga e, atrás dele, dois soldados transportavam uma maca carregada com pequenas caixas de pedra.
Deviam ter conseguido abrir caminho até onde se encontrava o tesouro. Se Gray ainda tinha dúvidas, foram imediatamente postas de lado quando distinguiu o brilho de ouro no alto da pilha de caixas. Um dos soldados fez sinais frenéticos ao helicóptero para aterrar.
Sabem que a ilha está prestes a ir pelos ares.
O ruído de passos fê-lo virar-se. Sem fôlego, Monk precipitou-se para dentro da sala.
— Estive a veri icar as traseiras do edi ício e parece não haver ninguém.
— Temos de agir rapidamente. Estão a preparar a evacuação da ilha.
Monk acenou a cabeça.
— Vi o helicóptero.
— Então, vamos.
Gray certi icou-se de que todos sabiam o que tinham de fazer. Ollie e Monk icaram de guarda junto das janelas da frente enquanto ele e Seichan se dirigiram a correr para a porta das traseiras.
— Esperemos que o velhote saiba do que está a falar — disse Seichan.
Gray estava a apostar a vida de todos nas palavras de Ollie. Há sessenta anos que o guarda vinha para aquela ilha. Se havia alguém que conhecia os seus segredos, tinha de ser ele.
Juntos, ele e Seichan empurraram a porta e começaram a correr curvados pelo prado. O pavilhão impedia que os comandos os vissem. Gray dirigiu-se para uma pequena saliência no terreno verde. Ollie assinalara-a e dissera-lhe o que fazer. No entanto, ao contorná-la, quase caiu de cabeça num buraco.
Seichan puxou-o. A saliência era, na realidade, uma antiga bolha de lava endurecida e oca no interior. Do outro lado abria-se a fonte dessa bossa: um túnel de lava. A entrada abria-se no meio de uma confusão de rochas basálticas fendidas como dentes partidos.
Deslocaram-se para um monte de detritos que lhes permitiria descer a garganta do túnel. Gray acendeu a lanterna. O feixe de luz revelou um túnel de paredes lisas onde mal cabia uma pessoa e não se podia andar direito.
— Segue-me — disse Gray, partindo a grande velocidade.
Segundo Ollie, o túnel passava por baixo do pavilhão e descia até a uma pequena gruta sob o prado. Era uma espécie de encruzilhada. A partir dali, outro túnel conduzia à super ície do outro lado do prado. O guarda izera um esboço à pressa e Gray memorizara o percurso, mas também se lembrava de o capitão do barco de pesca ter comparado a ilha a um pedaço endurecido de queijo suíço, esburacado pelo vento e pela chuva . Seria muito fácil alguém perder-se aqui — mas não tinham tempo para cometer erros.
Chegaram a uma gruta com uma abóbada alta em menos de um minuto.
Pedregulhos atravancavam a passagem, poças de água da chuva molhavam os pés e o ar cheirava a mofo e a sal. Gray rodou em círculo com a lanterna acesa. Havia meia dúzia de saídas, mas Ollie marcara apenas quatro no mapa.
Com o coração a bater, Gray voltou ao túnel de lava e tentou fazer um círculo ao longo da parede, veri icando todas as aberturas. Tinham-lhe dito para seguir a segunda passagem. A primeira era uma fenda. Iluminou-a.
Acabava a uns dois metros de distância. Isso contava? Ou Ollie não a mencionara por não ser um verdadeiro túnel?
Gray apressou o passo. O velho guarda parecera-lhe uma pessoa séria e prática. Não havia nada de supér luo naquele homem endurecido pelo mar. Interessava-se apenas pelos pormenores importantes. Por isso, Gray ignorou a fenda sem saída, passou pela passagem imediata e entrou na seguinte. Tinha de ser a segunda passagem marcada no mapa de Ollie.
Era outro túnel de lava, o que era bom, mas descia. Não parecia estar bem, mas Gray não podia desperdiçar mais tempo. Respirou fundo e entrou. Ainda era mais apertado do que o primeiro.
— Tens a certeza de que é o caminho certo? — perguntou Seichan.
— Havemos de descobrir.
Gray começava a ter dúvidas quando o túnel começou a subir, dirigindo-se para a super ície. Após outro longo minuto, um pouco de luz invadiu o túnel. Apagou a lanterna. O ruído dos rotores do helicóptero chegou-lhes aos ouvidos.
A abertura surgiu em frente deles, ofuscante. Uma brisa forte atiroulhes terra para cima.
Ele virou-se e aproximou-se do ouvido de Seichan.
— Devemos estar perto do helicóptero.
Ela acenou a cabeça, tirou a pistola e fez-lhe sinal para seguir em frente.
Gray afastou-se rapidamente, mas abrandou o passo próximo da saída para examinar a abertura. O túnel desembocava num grupo de pináculos de pedra partidos que lembrava um jogo. Saiu a rastejar para procurar abrigo. Seichan rolou atrás dele, en iando-se no meio de umas pedras caídas.
Num golpe de vista, Gray avaliou a situação.
A dez metros, o helicóptero estava pousado no prado com os rotores a trabalhar. Devia ter acabado de aterrar. Dois soldados abriam as portas laterais de correr. Os outros comandos, uns vinte no total, estavam agrupados por perto.
A maca encontrava-se sobre a relva com o carregamento à espera de ser transportado para o porão do helicóptero. Gray reparou que o brilho do ouro provinha de uma caixa de pedra quebrada com uma pilha de placas de metal.
Como na gruta do Utah.
Junto da maca e ainda apertando a mochila contra o peito com um braço estava o civil que avistara. Gray examinou o seu rosto mais atentamente. O cabelo louro emoldurava um rosto pálido com lábios salientes e barba rala. Era o rosto de alguém que levava uma vida fácil e que não havia muita coisa de que gostava. Assim que a porta do helicóptero se abriu completamente, o homem avançou. Dois soldados ajudaram-no a entrar.
Do outro lado do prado, o pavilhão de caça permanecia às escuras e tranquilo. Monk aguardava o sinal.
Gray apontou a SIG Sauer P226. A câmara continha doze balas de calibre .357. O mesmo da arma de Seichan. Cada tiro tinha de contar. Ela adotou a postura dele, pronta a disparar.
Gray fez pontaria ao soldado de guarda ao helicóptero. Não podia correr o risco de permitir que o inimigo se abrigasse no interior do porão do helicóptero. Premiu o gatilho.
A detonação ruidosa foi seguida pelo eco da arma de Seichan. O alvo dele tombou, mas, antes de chegar ao chão, Gray abateu um segundo adversário.
Por instantes, reinou a confusão. Os soldados, bloqueados e ensurdecidos pelos motores do helicóptero, tentavam perceber quem estava a disparar contra eles. Um dos comandos, julgando que era de lá que vinha o ataque, começou aos tiros contra o pavilhão de caça.
Ollie respondeu do edifício com um tiro ao acaso.
Bom trabalho, Ollie.
A atenção dos adversários concentrou-se no pavilhão.
Foi um erro.
Com toda a gente a olhar na direção errada, Gray abateu mais dois homens enquanto Seichan se ocupava dos oito comandos que cercavam o edi ício. A sua pontaria era terrivelmente certeira. Esvaziou um carregador e introduziu logo outro. Dois soldados que estavam perto despertaram o interesse de Gray. Tinham-se afastado do pavilhão e aproximavam-se, inconscientes do perigo, do esconderijo onde ele e Seichan se encontravam.
Matou-os aos dois, saindo de rompante e esvaziando o carregador.
Precisavam de mais munições.
Precipitou-se na direção dos corpos e, sem parar, agarrou numa das suas armas automáticas enquanto Seichan disparava para lhe dar cobertura. Rodopiou com a arma na mão e, apoiando-a na anca, recomeçou aos tiros, metralhando a linha de soldados, abatendo alguns e afastando os outros do helicóptero para procurar proteção por detrás dos rochedos.
Seichan apoderou-se da outra espingarda e, juntos, entraram no porão do helicóptero.
O único ocupante era o civil gorducho. Tentava sacar uma arma do coldre, mas Seichan deu-lhe uma coronhada e caiu desmaiado no banco.
Depois, avançou para os pilotos, decidida a convencê-los, sob a ameaça da arma, a juntarem-se à sua causa.
Gray manteve uma barragem de fogo para permitir que Monk e Ollie alcançassem o helicóptero. E Monk também disparou uns tiros para desencorajar o inimigo.
Ambos chegaram sãos e salvos ao aparelho. Gray puxou-os para dentro e fechou a porta com os ouvidos a retinir por causa das detonações.
— Baixem-se! — gritou a Monk e a Ollie.
Uma saraivada de balas embateu contra a fuselagem do helicóptero quanto começou a elevar-se. Aparentemente, Seichan fora bastante persuasiva — ou os pilotos também estavam a par da iminente explosão.
Gray consultou o relógio.
Mais quatro minutos...
Tinha tempo suficiente.
Mas enganou-se.
Uma tremenda explosão abanou o helicóptero. O chão levantou-se por baixo do aparelho e Gray caiu de gatas. Os rotores gemeram e o helicóptero subiu de modo instável com o nariz para baixo e a descolagem comprometida pelo tremor de terra. A porta, mal fechada, abriu-se.
Nuvens e fumos obscureciam metade da ilha.
— Gray! — berrou Monk.
Gray virou-se e viu o civil, ainda agarrado à mochila e com o nariz partido a sangrar, a mergulhar para a porta aberta. Gray rolou atrás dele e, agarrando numa alça, tentou tirar-lhe a mochila. Para que o homem preferisse morrer a separar-se dela, o que havia no interior tinha de ser muito importante. Mas o homem não a largou e, en iando o braço na outra alça, saltou do helicóptero.
O peso do homem puxou Gray em direção à porta aberta. Deitado de barriga para baixo e com metade do corpo fora do aparelho, Gray continuou a segurar a mochila. O homem balançava o corpo continuamente, tentando desesperadamente soltar-se, a si e à preciosa carga.
Gray deslizou ainda mais, mas sentiu alguém agarrá-lo pelas pernas.
— Apanhei-te — murmurou Monk.
O helicóptero subiu, esforçando-se para ganhar altura. Uma secção do cone vulcânico separou-se e despenhou-se pesadamente no mar. Fendas profundas abriram-se em toda a ilha e os homens corriam em todas as direções — mas não havia fuga possível.
O helicóptero estremeceu e, de repente, desceu vários metros num único segundo. Gray levantou-se, mas voltou a ser atirado para o chão.
Monk debatia-se para impedir que o amigo caísse pela porta aberta.
— Estamos a perder pressão! — gritou Seichan da cabina.
Antes de Gray poder reagir ao novo perigo, ouviu a detonação de uma pistola. A bala queimou-lhe a ponta de uma orelha. Olhou para baixo. O seu adversário estava agarrado ao helicóptero com uma mão, mas conseguira tirar a arma com a outra. Se o aparelho não tivesse descaído subitamente, Gray estaria morto.
Não que a sua esperança de vida fosse muito longa.
Enquanto o piloto procurava estabilizar o aparelho, o teimoso civil aperfeiçoava a pontaria. À queima-roupa, era impossível falhar uma segunda vez.
O homem sorriu a Gray, gritou algo em francês e puxou o gatilho. A detonação foi ensurdecedora — mas não foi um tiro de pistola. Foi de caçadeira.
E, a seguir, a única coisa de que Gray se apercebeu foi que Ollie estava escarranchado em cima dele com a caçadeira a fumegar na mão.
Metade do rosto do francês fora arrancada. O seu braço desprendeu-se lentamente da mochila e o corpo despenhou-se girando em direção às ruínas da ilha.
Monk puxou Gray e o prémio ganho a muito custo para o interior.
— A partir de agora, quero os braços e as pernas de toda a gente dentro do aparelho quando andarmos em viagem — comentou Monk, abanando a cabeça.
Gray apertou a mão a Ollie.
— Obrigado.
— Estava em dívida para com ele — disse o velho guarda, levando um dedo ao nariz partido. — Ninguém me bate na cara e se safa.
O helicóptero deu outro violento solavanco e recomeçou a cair. Todos se agarraram às pegas, à espera que o aparelho estabilizasse. A ilha a desfazer-se elevava-se na direção deles. O clarão do fogo cintilava no fundo das fendas e o fumo que saía prometia que o pior ainda estava para vir.
Em queda, o helicóptero começou a rodopiar lentamente.
Seichan esticou o pescoço fora da cabina.
— Os rotores detrás perderam pressão! — preveniu, acrescentando o que todos já sabiam. — Estamos a cair!
21
31 DE MAIO, 09H05
SAN RAFAEL SWELL
UTAH
Kai estava de pé à sombra. Mastigou um pinhão torrado apreciando o sabor salgado. Iris apanhara as sementes dos pinheiros que aqui cresciam.
Estava no interior da casa a sacudir um tabuleiro com mais pinhões sobre o fogo para os moer e fazer farinha.
Iris tentou ensinar-lhe como se fazia sem os deixar queimar, mas Kai sabia que a velha mulher Hopi estava apenas a tentar distraí-la. Seguiu com o olhar uma impercetível nuvem de poeira que se afastava pelas terras áridas. Painter e os outros não tinham perdido tempo e partiram no SUV alugado, levando até o cão.
Mas não a ela.
Refreara a raiva, sabendo que não lhe faria bem, mas a amargura ainda lhe queimava as entranhas como uma brasa. Merecia ver o im.
Diziam que tinha de arcar com as consequências como uma mulher, mas tratavam-na como se fosse uma criança.
Meteu outro pinhão na boca e mastigou-o. Estava acostumada a que a deixassem para trás. Portanto, porque hoje seria diferente? Porque esperar mais do tio?
No entanto, bem no fundo, esperara que isso acontecesse.
Aquele tipo é determinado.
Virou-se e deparou com Jordan Appawora na soleira da porta. Trocara o fato por uma t-shirt azul desbotada, botas de cowboy e calças de ganga pretas e um cinto com uma grande ivela de prata em forma de cabeça de búfalo.
— Painter Crowe é teu tio?
— Um tio distante.
Naquele momento, estava disposta a cortar completamente os laços de sangue.
Jordan aproximou-se com um chapéu à cowboy numa mão e a sacudir um punhado de pinhões fumegantes na outra para os tentar arrefecer.
Devia tê-los tirado do tabuleiro de Iris.
— Em Paiute, chamam-lhes toovuts — disse, mastigando um. — Queres saber o nome em Hopi?
Ela abanou a cabeça.
— E em Arapaho ou navajo? — insistiu com um sorriso. Chegou-se mais perto.
— Parece que a nossa an itriã quer partilhar tudo o que sabe sobre pinhões. Sabias que a resina dos pinheiros era usada para fazer pastilha elástica e que também a aplicavam como bálsamo nos cortes e nas feridas?
Essa substância pegajosa era o Trident e o Neosporin do Velho Mundo.
Ela virou a cabeça para esconder um sorriso.
— Tive de sair antes que me ensinasse a dança da chuva Hopi — disse ele em tom cúmplice.
— Está apenas a tentar ajudar — barafustou Kai sem poder conter o riso.
— O que vamos fazer agora? — perguntou Jordan, pondo o chapéu na cabeça. — Podíamos ir a pé até Three Finger Canyon. Ou ir nas bicicletas dos netos do Alvin até Black Dragon Wash.
Ela lançou-lhe um olhar, tentando adivinhar-lhe os motivos. O seu rosto bronzeado com maçãs do rosto salientes que lhe faziam brilhar os olhos pretos parecia inocente e franco, mas ela suspeitava que no seu convite havia mais do que simples exercício e turismo. Surpreendera-o a olhar para ela vezes de mais. Sentiu as faces corarem e afastou-se em direção à porta aberta. Já tinha alguém interessado e esse alguém era importante para ela.
Imaginou Chayton Shaw com os amigos na WAHYA. Seria uma traição sair com Jordan. Já se comprometera bastante. O e-mail que lera ainda a magoava e não tencionava piorar a situação.
— É melhor icar por perto — disse, entrando em casa. — O meu tio pode telefonar...
Era uma fraca desculpa até mesmo para os seus ouvidos, mas ele não fez comentários, o que di icultou ainda mais virar-lhe as costas. Mas espreitou por cima do ombro, observando a sua silhueta recortada contra a luz da manhã. Não pôde deixar de o comparar com Chay, cujo indomável ativismo era com frequência embotado por excesso de peiote, cogumelos ou marijuana. Apesar de ter conhecido Jordan há menos de uma hora, havia algo mais puro e honesto no seu orgulho tribal, no modo como tratava e apoiava o avô e como escutava pacientemente os seus ensinamentos.
Parecendo sentir a sua atenção, ele começou a virar-se. Kai afastou-se apressadamente, indo de encontro a uma mesa e quase derrubando um tabuleiro de pinhões a arrefecer. Necessitando um pouco de privacidade, refugiou-se no quarto do fundo.
Permaneceu na escuridão, cobrindo as faces a escaldar com as mãos. O
que estou a fazer?
Do outro lado do quarto, o botão do computador portátil brilhava como o olho verde de um gato. Painter deixara-o ligado para o caso de querer contactar com eles. Agradeceu-lhe por isso.
Precisava de uma coisa que a distraísse e sentou-se à secretária e abriu o portátil. Receava encontrar um segundo recado de John Hawkes, mas tinha de veri icar. Foi ao e-mail e, após uma espera interminável, viu que não tinha correio. Ia fechar o computador quando viu o e-mail que guardara do fundador da WAHYA. Contraindo a cara, determinada, voltou a abri-lo. Queria lê-lo mais uma vez, talvez como uma espécie de punição ou, então, para confirmar se era tão desagradável como se lembrava.
Ao relê-lo, não sentiu o mesmo desespero e, em vez disso, a sua raiva foi aumentando lentamente a cada linha. Triste por Painter a ter abandonado, reconheceu que John Hawkes estava a tentar fazer o mesmo.
Desembaraçavam-se dela sempre que havia o mais pequeno sarilho.
Depois de tudo o que fiz... de todos os riscos que corri...
Antes de ter tempo para pensar, premiu o botão de responder. Não tencionava enviar qualquer resposta. Apenas precisava de descarregar a sua fúria através das pontas dos dedos, de se ver livre dela. Escreveu uma longa carta incoerente, declarando a sua inocência e informando que estava a limpar o seu nome sem qualquer ajuda da WAHYA. Sublinhou essa última parte e sentiu-se bem por o fazer. Exprimiu o seu desdém pela falta de lealdade e apoio a um dos seus membros. Fez uma lista de todos os seus atos e contribuições em favor da causa e também explicou a John Hawkes quanto a WAHYA significava para ela e como esta traição e falta de confiança a magoara.
Ao terminar as últimas palavras, tinha os olhos marejados de lágrimas e mal via o ecrã. Sabia que aquele sentimento vinha do fundo do seu ser, de uma ferida que não sarava. Queria ser amada pelo que era — pelo seu lado bom, mau, nobre ou fraco — e não ser posta de lado quando a sua presença se tornava inconveniente. No im, reconhecia uma verdade.
Queria ser amada como o pai a amara. Merecia-o. E tinha vontade de o gritar ao mundo.
Mas, em vez disso, limitou-se a ixar o ecrã, a carta — e, a seguir, fez a melhor coisa. Moveu o cursor e icou com o dedo suspenso, a pairar.
Painter dissera que a ligação à internet estava encriptada.
Que perigo poderia correr?
Retomando um pouco de controlo sobre a sua vida, premiu o botão de enviar.
09h18
Salt Lake City, Utah Rafe sorriu ao ouvir a caixa de entrada a repicar anunciando a chegada de um e-mail. Consultou o relógio. Era muito mais cedo do que previra.
Tudo estava a avançar de forma esplêndida. Com o cabelo ainda húmido do duche e vestido com um sumptuoso roupão e chinelos do hotel, espreguiçou-se confortavelmente.
Olhou em redor da suíte presidencial no alto do Grand America Hotel localizado no centro de Salt Lake City. Pela primeira vez desde que chegara aos Estados Unidos, quase se sentiu em casa instalado no meio de todos os requintes europeus do quarto: a mobília de cerejeira trabalhada à mão de estilo Richelieu, o mármore de Carrara na casa de banho, as tapeçarias flamengas do século XVII. Do seu poleiro no topo do hotel, as janelas do chão ao teto permitiam que contemplasse a bela vista das montanhas e dos jardins meticulosamente tratados mais abaixo.
Um soluço abafado esfriou a sua boa disposição.
Virou-se para o jovem magrizela nu e apontou para uma das cadeiras Richelieu. Fita adesiva selava-lhe a boca e ranho escorria-lhe do nariz.
Arquejava, tentando respirar, com os olhos esbugalhados e vidrados como uma raposa ferida.
Mas ele não era nenhuma raposa.
Era o falcão de Rafe... um falcão que mandara à caça.
Os dados biográ icos sobre Kai Quocheets listavam as suas a iliações, incluindo a sua participação na WAHYA, a organização de ardentes jovens lobos que lutavam pelos direitos dos nativos americanos. Levara menos de uma hora a conhecer o paradeiro do seu líder. Viera para Salt Lake City, onde estava mais perto da ação nas montanhas, pronto a expor-se à publicidade que, em geral, acompanhava essas tragédias. Mas, aparentemente, John Hawkes também tinha outras necessidades. Bern apanhara-o à saída de um clube de striptease perto do aeroporto. Parecia que o ativista nativo americano gostava de mulheres brancas e louras com desenvoltos seios falsos.
Ouviu outro queixume vindo da cadeira.
Rafe ergueu um dedo.
— Paciência, senhor Hawkes. Voltaremos a falar consigo em breve. Tem sido muito cooperante, mas, primeiro, vamos certi icar-nos de que a sua caçada foi bem-sucedida.
Não demorara muito a convertê-lo à sua causa. Dois dos seus dedos ainda apontavam para o teto. Ashanda partira-os tão facilmente como se fossem galhos. Devido à fragilidade dos seus ossos, Rafe sabia que a dor era insuportável. Ao longo da vida, partira todos os dedos das mãos e dos pés.
Nem sempre por acidente.
Acabara por obter a cooperação de Hawkes, conseguindo saber pormenores pessoais sobre Kai de modo a redigir uma carta capaz de atrair a avezinha que lhe fugira. E, pelos vistos, dera resultado.
Muito mais depressa do que esperava...
N o e-mail enviado, Rafe estipulava que ela tinha de responder até ao meio-dia. Tudo levava a crer que ela não queria perder tempo. E ele também não tencionava perdê-lo.
— Conseguimos descodi icar o texto do e-mail — informou-o o técnico informático.
Rafe virou-se. O homem era conhecido apenas por T.J. e Rafe nunca tivera a curiosidade de perguntar a que nome correspondiam essas iniciais. Era americano, magro e tomava tantos estimulantes que podia trabalhar dias a io. Encontrava-se diante de uma série de servidores interconectados por cabos Cat 6 e ligados a uma linha de banda larga T2.
Rafe não compreendia um décimo daquilo. Tudo o que lhe interessava era o resultado.
— O texto vai sair no seu ecrã pessoal dentro de um instante. Estamos a seguir os endereços IP, triangulando os nódulos, mudando as interconexões do servidor e passando um algoritmo para desvendar vias de pacote.
— Descubra só de onde foi enviado.
— Estamos a trabalhar nesse sentido.
Rafe volveu os olhos por causa da utilização da primeira pessoa do plural. T.J. não passava de um assistente. O verdadeiro mágico estava sentado no ninho do equipamento rodeado por ios elétricos. Os dedos compridos de Ashanda dançavam sobre os três teclados com a agilidade e a elegância de um pianista de concerto a tocar num piano de cauda. Em vez de uma partitura, os seus olhos percorriam fluidas linhas de código. Noutro ecrã, modos de servidores e protocolos gateway formavam uma teia emaranhada que atravessavam o mapa global digital. Nada podia barrar-lhe o caminho. Firewalls desmoronavam-se diante dela como pedras de dominó.
Satisfeito, Rafe dirigiu-se para o seu portátil e leu a mensagem de Kai Quocheets. Bateu com o indicador no lábio inferior enquanto lia o turbilhão de angústia adolescente e de sentimentos feridos. Uma pequena parte de si mesmo, levada pela paixão e a nua franqueza dela, sentiu um pouco de simpatia. Lançou um olhar a John Hawkes com repentina vontade de lhe partir um terceiro dedo. Era evidente que o líder manipulava os membros do movimento e aproveitava-se da sua juventude e entusiasmo. No inal, deixava os outros sofrer as consequências enquanto ele icava com os louros.
Era uma prática administrativa bastante reles.
T.J. assobiou, chamando de novo a atenção de Rafe. Estava debruçado sobre o ombro de Ashanda.
— Penso que ela conseguiu! — disse em voz estridente. — Está a dar cabo dos últimos obstáculos!
Rafe aproximou-se, afastando T.J. Se tinham ganho, queria saborear a vitória com Ashanda.
De pé atrás dela, segredou-lhe ao ouvido: — Mostra-me o que sabes fazer...
Perdida no seu próprio mundo, como qualquer artista em plena inspiração, ela não deu sinal de ter entendido. O seu meio de comunicar era este. Dizem que quando alguém perde um sentido, desenvolve outro mais forte. Este era o novo sentido de Ashanda, uma extensão digital de si mesma.
Rafe passou-lhe a mão pelo braço, sentindo os inchaços das antigas escari icações debaixo da pele. A escari icação constituía uma prática ritual da tribo africana a que ela pertencera. Os inchaços eram mais salientes quando ela chegara ao castelo em criança. Mas, agora, só podiam ser sentidos com a ponta dos dedos, como Braille.
— Está quase! — disse T.J., sem respirar.
Ashanda aproximou-se mais da face de Rafe, que, àquela distância, sentiu o calor da sua pele. Ninguém compreendia a sua relação. Ele não a sabia explicar e o mesmo acontecia com ela. Desde a infância que eram inseparáveis. Ela foi sua ama, enfermeira, irmã e con idente. Ao longo da vida de Rafe, Ashanda era o poço silencioso para dentro do qual ele podia lançar as suas esperanças, temores e desejos. Por seu lado, ele oferecia-lhe segurança, uma vida sem necessidades — e também amor, por vezes, até mesmo ísico, embora fosse raro. Rafe era impotente, um efeito secundário da sua doença. Até o mais íntimo dos ossos estava afetado.
Observou as mãos dela a voar pelos teclados. Lembrava-se de como em momentos privados ela, às vezes, lhe dobrava um dedo, entre a agonia e o êxtase, até se quebrar. Não era masoquismo. Sentia uma espécie de pureza nessa dor que achava libertadora. Ensinava a não recear a fraqueza do corpo, mas a aceitá-la para explorar um primordial poço de sensações que era único.
Ela soltou um ligeiro suspiro.
— Conseguiu! — guinchou T.J., de braços no ar como um fã de futebol depois de a sua equipa marcar um golo.
Rafe debruçou-se mais, roçando a sua face na dela.
— Bom trabalho — sussurrou-lhe ao ouvido.
Sem se mover, ela itava o ecrã. O mapa digital aumentara e as linhas verdes cintilantes convergiam num único local situado no Utah. Rafe anotou a localização e sorriu ao ver, por um acaso feliz, o seu nome no ecrã.
— San Rafael — murmurou. A divertida coincidência animou-o. — Oh, é demasiado perfeito!
Virou-se para John Hawkes.
Os olhos arregalados do homem estavam fixos nele.
— Parece que já não vamos precisar do nosso falcão de caça — resmungou.
Aproximou-se do homem nu assustado, que soltou um gemido. Rafe achava que lhe devia uma pequena prenda pelos seus serviços — neste caso, uma lição sobre boas práticas administrativas, algo de que ele lamentavelmente carecia.
Rafe colocou-se atrás dele e passou-lhe um braço à volta do pescoço magro. Não era fácil partir o pescoço a um homem — não era como nos ilmes. Foram necessárias três tentativas. Mas foi uma excelente lição. Por vezes, até mesmo um líder tinha de sujar as mãos. Ajudava a manter o moral.
Afastou-se, limpando o suor bem ganho da testa.
— Com isto fora do caminho... — disse Rafe, oferecendo o braço a Ashanda. — Vamos continuar, mon chaton noir?
22
31 DE MAIO, 15H19
POR CIMA DA ILHA ELLIOAEY
ISLÂNDIA
Gray apoiou-se atrás do piloto com Seichan ao lado. A mão dela agarrava-se com força ao seu antebraço, tanto para se segurar como por medo. O helicóptero mergulhou em espiral na direção de um caos em chamas. Os rotores guinchavam, tentando mantê-los no ar. Através da janela, viam-se as nuvens de fumo cada vez mais densas enquanto partículas ardentes batiam contra a fuselagem do aparelho como granizo.
As entradas de ar sorviam os detritos, sufocando ainda mais o motor.
No banco, o piloto manipulava a alavanca de comando entre as pernas com uma mão e ligava interruptores no painel com a outra. Era um inimigo, um dos comandos mercenários, mas, de momento, o seu destino estava associado ao deles — e as perspetivas não eram boas.
— Estamos fodidos! — gritou o piloto. — Não há nada que possa fazer!
A ilha vinha ao encontro deles, um bocado de rocha despedaçada a fumegar. As issuras continuavam a desintegrar o antigo cone vulcânico e avistavam-se chamas violentas no interior dos fossos mais profundos. A água do mar inundava o interior da ilha e elevava-se em géiseres fumegantes quando a água gelada encontrava rocha fundida.
Lá em baixo, era o inferno na terra.
A única esperança, pensou Gray, era o mar largo, mas as águas eram geladas, capazes de matar um ser humano em poucos minutos. Sentou-se no banco vazio do copiloto e encostou o rosto à curva da janela. Perscrutou o mar à volta da ilha. A luz do sol re letia-se nas ondas, uma imagem demasiado idílica considerando as circunstâncias. A coluna de fumo e vapor que se elevava da ilha projetava uma sombra escura a sul.
Distinguiu uma nesga de branco a navegar no mar sombrio.
— Ali! — exclamou, apontando para a direita. — Às duas horas! A sul da ilha.
O piloto virou-se para ele, com o seu rosto pálido de morte sob o capacete.
— O quê?...
— Um barco. — Tinha de ser a traineira do capitão Huld. — Tente pousar tão perto quanto puder.
O piloto inclinou o aparelho de lado e olhou para baixo.
— Estou a vê-lo. Mas não sei se consigo obter altitude su iciente para me afastar da ilha, quanto mais chegar tão longe.
Mas ele sabia que não tinha outra alternativa. Ajustou a alavanca de comando e apontou a descida para sul. Até mesmo esta pequena manobra os fez perder altitude. Apenas com um conjunto de rotores a funcionar, o grande aparelho de transporte desceu a pique. A ilha enchia o mundo lá em baixo. Gray perdeu o barco de vista.
— Não vou conseguir... — murmurou o piloto, debatendo-se com a alavanca de comando e o acelerador.
Uma explosão de água e vapor a ferver saiu de uma fenda à frente deles, elevando-se no céu e cegando-os momentaneamente. O helicóptero conseguiu passar e a água limpou o vidro da janela. Viram que mergulhavam na direção de um recorte do vulcão que se elevava como uma vaga rochosa e impedia o caminho para o mar largo.
— Não há potência su iciente! — berrou o piloto por cima dos lamentos estridentes dos rotores.
— Dê tudo o que puder — encorajou-o Gray também aos berros.
O chão aproximava-se velozmente. Gray avistou carcaças de gado espalhadas nos campos, morto por calor extremo ou gases tóxicos — ou, simplesmente de terror.
De súbito, a ilha começou a recuar e o prado a desaparecer de vista aos poucos.
Estavam a subir novamente.
O piloto também reparou.
— Não fui eu! Segundo o altímetro, ainda estamos a cair!
Gray olhou para baixo e percebeu o erro. O helicóptero não estava a subir — o chão é que estava a cair por baixo deles.
Um bocado do cone desabou, rachando ao longo de uma enorme fenda.
Um quarto da ilha inclinava-se lentamente e deslizava rumo ao mar como um bêbado a cair de um banco.
Em frente, a parede de rocha vulcânica baixou, abrindo caminho para o mar. Mas ainda não estavam a salvo.
— Vai ser por pouco! — disse o piloto.
Pedras enormes saltavam e rolavam pelo prado. Uma delas passou perto da janela da cabina.
O piloto praguejou, desviando o aparelho para evitar qualquer colisão.
No entanto, continuavam a despenhar-se em direção ao cone. O piloto gemeu. Tentava desesperadamente controlar a alavanca. Gray ativou os comandos do lado do copiloto. Não sabia manobrar este tipo de aparelho, mas podia tentar ajudar. Puxou com força o coletivo. Debateu-se com ele, parecia que queria levantar o helicóptero com as mãos.
— Não serve de nada! — gritou o piloto. — Aguente-se! Vamos...
E bateram.
As rodas embateram no rebordo do cone, que rasgou a parte de baixo do helicóptero com um ruído metálico. O aparelho empinou. Através do para-brisas, Gray teve uma visão estonteante do mar lá em baixo quando o helicóptero capotou e se libertou da ilha em ruínas.
O aparelho voou para mais longe, inclinado de lado, e tombou em espiral, rodopiando o mundo num caleidoscópio.
15H22
Seichan vislumbrou o mar sombrio quando o helicóptero girou descontrolado. Agarrou-se a uma pega e incou os pés no chão para manter o equilíbrio. O grito que Monk soltou da parte de trás foi acompanhado por outro mais esganiçado do guarda. Gray foi arrancado do banco do copiloto e atirado com força contra o para-brisas, ferindo a cabeça.
Ao lado, imobilizado por correias, o piloto continuava a debater-se com os comandos, experimentando todos os truques que conhecia para estabilizar o aparelho e abrandar a queda. Gray foi arremessado de novo para o seu banco, batendo com um joelho no capacete do piloto. Escorria-lhe sangue do crânio, encharcando-lhe metade do rosto.
O piloto empurrou-o.
— Saia daqui! Segurem-se!
Seichan estendeu um braço e, agarrando Gray pela gola do blusão, puxou-o. Caíram juntos na parte de trás da cabina enquanto Monk tentava prender Ollie com correias num banco.
A porta lateral abria e fechava sem parar, revelando o choque da ilha em ruínas. O cone partido caiu na água, levantando uma gigantesca onda que o arrastou para o mar alto. O fumo que se elevava de vários sítios ocultava a maior parte da terra. No fundo da escuridão, uma fonte lamejante cintilava, borbulhando à super ície e, de vez em quando, jorrando mais alto.
Mas o mais assustador era o mar que se precipitava pelas falésias acima.
Seichan levou Gray aos ombros até uma parede coberta por redes para reter carga. Embora atordoado, ele percebeu e emaranhou os braços naquele material. Ela preparava-se para fazer o mesmo quando se virou e viu a enorme onda provocada pelo vulcão destruído elevar-se por baixo do helicóptero e atingir o aparelho em queda.
O embate foi brutal. O corpo de Seichan foi lançado com força ao chão.
Ouviu o metal ranger e viu a água gelada invadir a cabina. A inundação atirou-a de um lado para o outro como uma boneca de trapos. A perna bateu contra um objeto aguçado, rasgando-lhe as calças de ganga e traçando um linha de fogo na coxa. Foi arremessada violentamente contra Gray que continuava meio atordoado. Ele tentou segurá-la com um braço e ela tentou agarrar-se à rede.
Ambas as tentativas falharam.
A corrente separou-os quando o helicóptero perdeu ainda mais altitude, arrastando-a para a porta aberta no meio de uma confusão de bolhas. Foi levada aos trambolhões num rasto de sangue, engasgada pela água salgada. O helicóptero dani icado afundou-se na escuridão, largando uma nuvem de óleo. Não viu ninguém pôr-se a salvo quando o aparelho desapareceu no mar sombrio.
Gray...
Mas não havia nada que Seichan pudesse fazer. Mesmo que conseguisse nadar, o helicóptero já estava demasiado fundo. Ninguém podia regressar à superfície sem se afogar.
Sem esperança e desesperada, combateu a tristeza e afastou-se, esticando o pescoço na direção da pálida luz do sol. Não se apercebera de que fora arrastada tão fundo. Ansiosa por respirar, bateu com os pés para alcançar a super ície sem ter a certeza de lá chegar. O frio esquartejava-lhe o corpo como as lâminas de uma faca.
Viu uma sombra passar por cima da sua cabeça. Imobilizou-se, pairando na profundidade gelada. Outras sombras surgiram à sua volta, aos círculos, barbatanas fendendo as águas. Uma passou por perto, rolando um grande olho na sua direção. Viu inteligência e esperteza no brilho daquele olhar, e fome.
Orcas...
Atraídas pelo seu sangue.
Embora o frio a gelasse até aos ossos, uma sensação de calor percorreu-lhe o corpo. Olhou para baixo, sentindo o perigo.
Uma forma negra emergiu da profundidade na sua direção, a boca aberta revelava uma fileira de dentes afiados.
Gritou e esperneou freneticamente, engolindo água salgada.
Não valeu de nada.
Os dentes abocanharam-lhe a perna da calça e enterraram-se na carne.
15H24
Sustendo a respiração e quase sem fôlego no interior do helicóptero que se afundava, Gray soltou-se da rede com os dedos gelados e entorpecidos. A pressão martelava-lhe a cabeça, espetando-lhe agulhas no crânio. Soltou o cubo de borracha de sessenta centímetros das tiras que o prendiam.
Foi de encontro a Monk que já tinha tirado um cubo semelhante.
Passou um braço à volta de Ollie que parecia inconsciente, provavelmente afogado. Depois do embate, Gray veri icara que o piloto, ainda preso por correias ao seu lugar, estava morto. Um pedaço de metal atravessara-lhe a garganta.
Um caso perdido.
Com tudo o que precisavam, Monk e Gray saíram pela escotilha aberta e mergulharam. O sol e o ar estavam bem longe por cima das suas cabeças.
Nunca chegariam à super ície sem ajuda, sobretudo, a tempo de reanimarem Ollie. Mas Gray devia a vida ao velhote e tencionava retribuir o favor.
Gray passou o seu cubo de borracha a Monk. O ar borbulhou dos lábios do amigo enquanto a sua mão protética segurava a pega de corda pendente do cubo. Viu a angústia re letida nos olhos de Monk e pensou que a sua expressão deveria ser a mesma. Se o frio não os matasse, a falta de ar em breve o faria.
Gray agarrou-se ao cinto de Monk, disposto a colocar Ollie entre os dois, mas, primeiro, agarrou e puxou com força o cordão da câmara de ar comprimido do cubo.
Com um esticão, o cubo aumentava de volume e transformava-se numa balsa salva-vidas amarela. Normalmente, estes cubos eram lançados do ar para marinheiros em perigo. Gray esperava que usando-os desta maneira se pudessem salvar. A sua capacidade de lutuação começou imediatamente a puxá-los para cima — primeiro, lentamente, mas, depois, cada vez mais depressa.
Em segundos, subiam a toda a velocidade para a superfície.
A água à volta deles ia-se tornando mais clara e Gray aliviou a sua necessidade urgente de oxigénio, expelindo ar do peito — tentava enganar os pulmões e levá-los a pensar que ia inspirar.
Esperava que o truque desse resultado.
A falta de oxigénio limitava-lhe a visão, escurecendo-a e tornando di ícil calcular a distância que tinham ainda de percorrer.
Nessa altura, saltaram inalmente da água como a rolha de uma garrafa de champanhe. A balsa rasgou as ondas e lançou-se ao ar. Depois, caíram.
Gray conseguiu agarrar Ollie enquanto Monk procurava segurar a balsa.
Gray falou atabalhoadamente, sem fôlego, cuspindo água salgada. Monk aproximou-se com a balsa, com uma pequena luz a piscar na proa. Saíram da água gelada a tremer e a bater os dentes. Gray deitou Ollie na balsa enquanto Monk verificava o seu estado.
— Não respira, mas o pulso bate ligeiramente.
Monk virou-o para cima e começou a massajar-lhe o peito, o que, naquela super ície de borracha a lutuar, era uma operação di ícil.
Entretanto, começou a sair água da boca e do nariz de Ollie. Satisfeito, Monk virou-o de lado. A pele do velho tinha um arrepiante tom roxo-acinzentado, mas a formação médica de Monk não o deixou desistir.
Começou a fazer-lhe respiração boca a boca.
Gray fez uma silenciosa prece aos céus. Devia a sua vida a Ollie. E já lhes tinha custado de mais ter vindo a esta ilha. Tirou dos ombros a mochila que tirara ao civil que participara no ataque dos comandos.
Recuperara-o do helicóptero e não tencionava abandoná-la. Era tudo o que tinham para mostrar desta missão.
E o que tinham ganho?
Examinou cuidadosamente as águas em redor. Reviu Seichan a separar-se dele e a desaparecer da cabina num turbilhão. Não tinha muita esperança. Ela não podia sobreviver mais do que alguns minutos nestas águas geladas.
Onde poderia estar?
Gay olhou à volta, mas o fumo espesso encobria o mar a sul da ilha.
Apenas distinguia alguns metros em todas as direções. O ar tresandava a enxofre e a sal, mas, pelo menos, era quente.
O Sol era uma mancha alaranjada. Brilhando, ao longe, estava a ilha mais próxima. As ruínas de Ellioaey encontravam-se a duzentos metros.
Uma sombra escura com uma coroa de fogo por cima. As chamas elevavam-se no ar enquanto a lava lamejante escorria pelas encostas. O
vapor pairava sobre a costa destruída, marcando o lugar onde a rocha fundida penetrava nas águas geladas.
Entretanto, o mundo ribombava e rugia.
Ainda se encontravam demasiado próximo da ilha.
Tornou-se evidente quando se deu uma explosão ensurdecedora acompanhada por um jato de fogo vindo do fundo da ilha. O fumo rodopiou com mais fúria quando uma chuva miudinha de pó incandescente começou a cair do céu, crepitando ao entrar na água e queimando a pele.
Pedregulhos enormes despenharam-se no mar; não se viam por causa do fumo, mas ouvia-se o estrondo do embate.
Uma ligeira tosse chamou a atenção de Gray.
Ollie arquejou e tossiu novamente. Saiu-lhe mais água da boca e do nariz. A expressão de Monk era de alívio. Ajudou o velhote a sentar-se. O
guarda olhou meio estremunhado à sua volta.
A voz dele era rouca.
— Sempre soube que iria acabar em helviti.
Monk deu-lhe uma palmada no ombro.
— Ainda não estás no inferno, velhote.
Ollie voltou a olhar à sua volta.
— Tens a certeza?
Começaram a cair locos de cinza mais densos pairando como neve de fogo e cobrindo com uma ina camada a super ície da água. Uma grande pedra em brasa acertou num dos lutuadores da balsa. Antes de ter tempo para o tirar, perfurou a super ície de poliuretano. O ar silvou, escapando rapidamente, e esvaziou aquele lado.
— Temos de nos afastar mais da ilha — avisou Gray. — Temos de sair de baixo desta nuvem de cinza. Temos de remar com as mãos.
— Ou podemos apanhar uma boleia — acrescentou Monk, apontando para trás de Gray.
O ruído de uma sirene fendeu a água.
Gray virou-se. A proa de um grande barco saía do fumo. Era uma aparição fantasmagórica mas familiar.
Era o barco de pesca do capitão Huld.
A traineira, impecavelmente pilotada pelo ilho de Huld, deslizou ao lado deles.
— O que fjandanum izeram à minha ilha? — gritou o capitão do convés aberto, arvorando um largo sorriso.
Huld ajudou-os a subir a bordo pela popa. Ollie, ainda fraco, teve de ser carregado por Monk e Gray.
— Um bando de ratos afogados — resmungou Huld. — Venham. Temos cobertores e roupa seca lá em baixo.
— Como nos encontrou? — perguntou Gray.
— Avistei a luz a piscar. — Apontou para a lâmpada na proa. — Além do mais, não sairíamos daqui sem os encontrar. Ela recusaria.
Um vulto esguio saiu a coxear da casa do leme, embrulhado num cobertor, a perna esquerda ligada desde a barriga da perna até ao meio da coxa.
Seichan...
Uma súbita vontade de a abraçar quase fez Gray largar Ollie. Apanhado de surpresa, Monk soltou uma praga.
— Foi uma coisa muito esquisita — prosseguiu Huld. — O bando de orcas, que têm andado agarradas às nossas saias como miúdos assustados desde que o fogo de arti ício começou, mergulhou de repente. Julguei que iam abandonar-nos, mas meio minuto depois voltaram com a vossa mulher, quase afogada, e trouxeram-na para o barco com o focinho.
Gray sabia que o termo assassina em baleia-assassina não era apropriado. Nunca nenhuma orca atacara um ser humano. Na verdade, como acontecia com o seu parente, o gol inho, havia vários casos de orcas que protegiam as pessoas no mar.
E parecia que este bando brincalhão — alimentado e respeitado por Huld — retribuíra hoje esse afeto.
Seichan juntou-se-lhes, a coxear, parecendo mais zangada do que aliviada.
— Podia ter chegado à superfície sozinha.
Huld encolheu os ombros.
— As orcas não pensaram a mesma coisa. E conhecem estas águas melhor do que tu, minha stúlka.
Ela franziu as sobrancelhas.
— Tenho de deitar o Ollie num lugar quente — interrompeu Monk. — E
de lhe fazer um exame mais aprofundado. Engoliu muita água salgada.
O mesmo sucedera a todos, mas Gray aconselhou Monk a fazer o que sugerira.
Huld foi ajudar o filho, mas antes deu-lhes mais notícias.
— Tenho estado a ouvir estações de ondas curtas. Diz-se que a erupção ocasionou explosões de magma ao longo da fenda que atravessa o fundo do mar nesta zona. Antes de isto terminar, podemos vir a ter mais uma ilha ou duas.
E com essas sinistras palavras, deixou-os sozinhos no convés.
Seichan cruzou os braços. Fitava o mar sem olhar para Gray. O barco afastou-se lentamente da ilha, escapando à nuvem de cinzas.
— Julguei que estavas morto — sussurrou ela. — Mas... não podia desistir.
Gray aproximou-se.
— Ainda bem que não. Salvaste as nossas vidas, obrigando o Huld a permanecer aqui.
Ela olhou para ele, examinando-lhe o rosto para ver se estava a ser irónico. O que descobriu fê-la virar-se rapidamente, mas Gray teve tempo de reparar numa rara centelha de incerteza nos seus olhos.
Ela aconchegou-se mais confortavelmente no cobertor. Nenhum deles falou durante alguns instantes.
— Já viste o que está dentro do saco? — perguntou ela.
Ele icou momentaneamente confuso até Seichan lançar um olhar para a mochila que ele deixara no convés.
— Não — respondeu. — Ainda não tive oportunidade.
Ela levantou uma sobrancelha.
Tinha razão. Agora era uma altura tão boa como outra qualquer.
Gray ajoelhou-se ao lado da mochila e abriu-a. Seichan debruçou-se sobre ele.
Revistou o conteúdo húmido. Não havia muita coisa: duas tshirts molhadas, canetas, um bloco de notas com folhas empapadas. Mas enterrado no meio de umas camisas, talvez para o proteger, havia algo dentro de um saco de plástico selado. Gray tirou-o.
— O que é?
— Parece um livro antigo... um diário...
— Gray abriu o saco de plástico.
Era um volume encadernado em pele tão antiga que estava quase a desfazer-se. Folheou-o com todo o cuidado. Uma caligra ia meticulosa preenchia as páginas juntamente com desenhos feitos com uma mão igualmente precisa. Aparentava ser realmente um diário.
Examinou a escrita.
— É em francês — disse.
Virou a primeira página onde figuravam umas iniciais com floreados.
— A.F. — leu em voz alta, e fitou Seichan.
Ambos reconheceram o autor das iniciais.
Archard Fortescue.
23
31 DE MAIO, 10H12
FLAGSTAFF, ARIZONA
— Não devemos estar muito mais longe — disse Hank Kanosh do banco de trás.
Perdido nos seus pensamentos, Painter olhava pela janela para o deserto. O sol dera à paisagem tons carmesins e dourados, quebrados por manchas de artemísias e iúcas.
Kowalski conduzia velozmente ao longo da autoestrada 89. Tendo aterrado há apenas um quarto de hora após uma curta viagem num avião alugado em Price, Utah, saíam de Flagstaff rumo ao Nordeste. O seu destino — Sunset Crater National Park — ficava a quarenta minutos da cidade.
— Temos de apanhar a Fire Road 545 — acrescentou Hank.
O cão do professor estava sentado na outra ponta do banco do SUV com o focinho colado ao vidro porque tinha visto uma lebre a fugir. Kawtch estava em estado de alerta.
— A estrada, que passa pelo parque e por uma grande quantidade de antigas ruínas Pueblo, descreve uma circunferência de cinquenta quilómetros a partir da autoestrada. A Nancy Tso encontra-se connosco no centro turístico, à entrada do parque.
O contacto deles, Nancy Tso, era uma mulher navajo que trabalhava como guarda-lorestal no parque e o seu nome fora indicado a Hank quando izera uma série de telefonemas discretos para saber quem conhecia melhor aquela região. E durante o voo até aqui, todos leram as informações que Kat enviara de DC sobre o assunto. Painter, contudo, preferia informar-se diretamente e, por isso, o plano era questionar a guia.
No entanto, Painter estava com di iculdade em concentrar-se. Soubera por Kat o que se passava na Islândia e ouvira através das notícias que as erupções vulcânicas se espalhavam. Todo o arquipélago a sul da costa da Islândia estava a fumegar e a tremer. Além do vulcão da ilha, dois vulcões submersos entraram em atividade, expelindo lava cada vez mais alto.
Uma gigantesca nuvem vulcânica movia-se na direção da Europa e os aeroportos interromperam o tráfego aéreo. Mas Gray antecipara-se e já se encontrava num avião de regresso a Washington com um antigo diário do cientista francês Archard Fortescue.
Mas será que esclareceria a situação difícil em que se encontravam?
— Ali está a saída! — exclamou Hank, debruçando-se para a frente e apontando.
— Estou a vê-la — disse Kowalski. — Não sou cego.
Hank reclinou-se no banco. Toda a gente andava irritada por falta de sono. O silêncio instalou-se entre eles quando entraram na estrada de duas vias. Ao percorrerem os últimos quilómetros perceberam que não podiam ter-se enganado no caminho.
Sunset Crater surgiu diante deles. O cone com trezentos metros de altura elevava-se acima dos pinheiros e álamos. De todos os vulcões de São Francisco, este era o mais jovem e o que menos sofrera os efeitos da erosão. Dos mais de seiscentos vulcões de diferentes formas e tamanhos que se espalhavam a partir daqui, a maior parte encontrava-se em estado latente, mas, por baixo deste planalto do Colorado, o magma cozia a fogo lento perto da superfície.
Enquanto avançavam, Painter imaginou os tremores de terra e as bombas de lava que deviam ter assolado a região há mil anos. Pensou na tempestade de escórias em chamas e cinzas incandescentes a incendiar o mundo, transformando o dia em noite. E, no im, as cinzas cobriam mais de dois mil quilómetros quadrados.
Ao aproximarem-se, a característica singular deste vulcão — e que lhe dava o nome — tornou-se evidente. À luz do sol, a coroa do cone cintilava com vivas cores carmesins com manchas brilhantes amarelas, violetas e esmeralda, como se a visão da cratera se tivesse imobilizado para sempre ao pôr do Sol. Todavia, Painter lera o su iciente para saber que nada havia de mágico neste efeito. A coloração icara a dever-se à grande quantidade de ferro vermelho oxidado e de escórias de enxofre que se depositaram à volta do topo do cone no decorrer da última erupção.
Do bando de trás, Hank propôs uma perspetiva menos geológica.
— Tenho andado a ler lendas Hopi sobre este local. Esta montanha era sagrada para os índios da região, que acreditavam que os deuses se tinham zangado e destruído um povo maléfico com fogo e rochas fundidas.
— Isso não me parece uma lenda — comentou Painter. — Assemelha-se à história contada pelo avô do Jordan. Este vulcão teve uma erupção por volta de 1064, mais ou menos na mesma altura em que os Anasazi desapareceram.
— É verdade. Mas o que eu acho mais interessante é que a mesma lenda Hopi a irma que o povo que morreu ainda se encontra aqui e continua a ser o guardião espiritual do lugar. O que me leva a pensar no que ainda precisa de ser guardado aqui.
Painter olhou para o cone vermelho, re letindo sobre o enigma. O avô de Jordan Appawora sugerira que havia algo aqui escondido, uma coisa que podia fornecer esclarecimentos sobre o povo antigo, os Tawtsee’untsaw Pootseev — a mítica tribo perdida de Israel mencionada por Hank .
— A senhora que está à nossa espera é aquela? — perguntou Kowalski, apontando com um dedo, quando passaram pelos portões do parque nacional.
Painter endireitou-se no banco. Uma jovem esbelta saiu de um jipe Cherokee com uma barra azul-clara no tejadilho. Vestia uma camisa cinzenta com um distintivo no peito, calças verdes, botas pretas e um cinto da mesma cor com uma pistola no coldre. Quando o carro deles parou, ela colocou um chapéu de abas largas na cabeça e encaminhou-se para a porta do lado do passageiro.
Kowalski soltou um discreto assobio de apreço.
— Não creio que a sua namorada em Washington aprove — advertiu Painter.
— Temos um acordo. Tenho licença para olhar, mas não para tocar.
Painter deveria ter ralhado com ele por causa do seu comportamento, mas não podia discordar da opinião do subordinado quanto à guarda-lorestal. No entanto, embora fosse bonita, não podia comparar-se com Lisa. Ele tinha falado com a namorada há uma hora e assegurara-lhe que estava tudo a correr lindamente. Lisa fora obrigada a voltar ao centro de comando da Sigma, à pressa, e a juntar-se a Kat porque a situação que tinham entre mãos estava a complicar-se.
Quando a guarda-lorestal chegou ao carro, Painter baixou o vidro. Ela inclinou-se. Tinha a pele acobreada e os olhos cor de caramelo-escuro eram emoldurados por cabelos compridos penteados numa trança que lhe caía pelas costas.
— Guarda-florestal Tso? — perguntou ele.
Ela olhou para os bancos da frente e de trás.
— Sãos os professores de História? — indagou em tom cético, olhando para Painter e Kowalski.
Parecia que o seu instinto era tão requintado como a sua aparência.
Mas os guardas-lorestais tinham de exercer as mais variadas funções, desde supervisionar os recursos nacionais a combater atividades ilegais de toda a espécie. Eram simultaneamente bombeiros, polícias, naturistas e preservadores da história — e, com muita frequência, psiquiatras, pois faziam o que podiam para proteger a natureza dos visitantes, os visitantes da natureza e os visitantes uns dos outros.
Ela apontou para um parque de estacionamento.
— Estacionem ali e, depois, expliquem-me o que se passa.
Kowalski obedeceu. Ao virar para o parque de estacionamento, olhou para Painter e articulou a palavra «uau».
Painter, mais uma vez, viu-se obrigado a concordar.
Pouco depois, caminhavam todos em ila indiana ao longo de uma picada fazendo ranger o cascalho debaixo dos pés. Como estavam a meio da semana e era meio-dia, não havia mais ninguém. Subiram em direção à cratera, por um caminho com uma tabuleta a dizer TRILHO DA LAVA e que passava no meio de um pinhal. Flores selvagens cresciam em terras onde havia mais sol, mas a maior parte do caminho era formado por pedra-pomes desfeita e escórias de um antigo curso de lava. Passaram por uns cones, conhecidos por hornitos em castelhano, ou «pequenos fornos», onde antigas bolhas de lava tinham rebentado formando minivulcões. Também se viam estranhas erupções provenientes de fendas onde camadas de lava tinham endurecido e encaracolado formando esculturas que pareciam lores. Mas a principal atração era o cone que se erguia cada vez mais alto diante dos seus olhos. De perto, o espetáculo era ainda mais impressionante pois as escórias cinzento-escuras das encostas mais baixas elevavam-se numa exibição de tons brilhantes que refletiam a luz do sol.
— Este caminho só tem um quilómetro e meio de comprimento — preveniu a guarda-lorestal. — Escutarei o que têm para me dizer durante o percurso.
Painter tentara fazer perguntas vagas mas obtivera respostas sem importância que não os levavam a lado algum. Decidiu mostrar-se mais agressivo.
— Andamos à procura de um tesouro perdido — disse.
Ela prestou logo atenção. Parou com as mãos nas ancas.
— A sério? — perguntou sarcasticamente.
— Sei que parece estranho — continuou Painter. — Mas andamos a seguir um enigma histórico que sugere que algo foi escondido aqui há muito. Por altura da erupção... talvez um pouco mais tarde.
Nancy não parecia acreditar.
— Todos os cantos do parque foram esquadrinhados durante décadas.
O que estão a ver é o que há. Se há alguma coisa escondida, há muito que está enterrada. As únicas coisas que existem por baixo dos nossos pés são uns túneis antigos de lava gelados e a maior parte deles em ruínas.
— Gelados? — perguntou Kowalski, limpando o suor da testa. Já tinha a camisa encharcada e o trilho oferecia pouca sombra.
— A água passa através dos poros da rocha vulcânica e entra nos túneis — explicou Nancy. — Gela durante o inverno, mas o isolamento natural e a falta de circulação de ar nos túneis estreitos não deixa o gelo derreter. Mas, só para que saibam, esses túneis foram cartografados a pé e por radar. Há apenas gelo lá em baixo.
Começou a preparar-se para regressar ao parque de estacionamento.
— Se já acabaram de me fazer perder tempo...
Hank ergueu uma mão, detendo-a, mas o cão puxou-o para a berma do caminho. Nancy insistira para que o professor usasse uma trela no interior do parque e Kawtch não estava contente com isso — especialmente agora que tinham parado. O cão farejou o ar, aparentemente à procura da lebre.
— Estamos a seguir uma hipótese alternativa ao desaparecimento dos Anasazi — disse Hank. — Estamos convencidos de que a erupção vulcânica que ocorreu aqui pode ter provocado...
Ela suspirou, fitando duramente Hank.
— Doutor Kanosh, conheço a sua reputação e, por isso, dava-lhe o bene ício da dúvida, mas já ouvi as teorias mais loucas sobre os Anasazi.
Alterações climáticas, guerras, praga e até o seu rapto por extraterrestres.
Sim, os Anasazi viveram aqui. Tanto os Winslow Anasazi como os Kayenta Anasazi, mas também havia os Sinagua, os Cohonina e outras tribos do antigo povo Pueblo. Qual é a sua teoria?
Hank enfrentou o desdém da jovem. Como índio convertido ao mormonismo, estava habituado a lidar com situações ridículas.
— Sim, estou a par disso tudo, menina. — A sua voz adquiriu um tom professoral, intimidando-a. — Conheço bem a história do nosso povo e, por isso, não interprete o que estou a dizer como uma fantasia causada pelo peiote. Os Anasazi desapareceram realmente desta região repentinamente.
As suas habitações nunca mais voltaram a ser ocupadas, como se as pessoas tivessem medo de morar nelas. Algo sucedeu a essa tribo... algo que começou aqui e se espalhou para o exterior... e é possível que estejamos a seguir uma pista que irá mudar a história.
Painter deixou esta pequena escaramuça chegar ao im. Nancy corou — mas descon iou que fosse mais por vergonha do que por irritação.
Painter fora criado à maneira índia o tempo su iciente para saber que era má educação falar grosseiramente com um ancião, mesmo que pertencesse a uma tribo diferente.
Por fim, ela encolheu os ombros.
— Desculpem, mas não vejo como os posso ajudar. Se querem obter mais informações sobre os Anasazi, talvez devam procurar em Wupatki e não aqui.
— Wupatki? — repetiu Painter. — Onde fica?
— A cerca de trinta quilómetros para norte. É outro parque nacional.
Hank explicou.
— Wupatki tem uma série de ruínas e monumentos dos Pueblo espalhados ao longo de milhares de hectares. A principal atração é um edi ício de três andares com mais de uma centena de divisões. O parque adotou o nome do local. Wupatki em Hopi significa «casa alta».
— Nós, navajos, ainda lhe chamamos Anasazi Bikin.
Hank traduziu, lançando um olhar intencional a Painter.
— Que quer dizer «Casa dos Inimigos». Os arqueólogos acham que foi uma das últimas fortalezas dos Anasazi.
Painter olhou para a cratera brilhante. Segundo o avô de Jordan, o nascimento deste vulcão devia-se ao roubo de um tesouro por um clã Anasazi. O que se passara depois tinha semelhanças com o que recentemente sucedera nas Montanhas Rochosas no Utah. Teria uma grande povoação realmente existido aqui? E fora destruída e enterrada debaixo de cinzas e lava? Foram os sobreviventes perseguidos e massacrados? Painter lembrou-se da palavra que Hank empregara.
Genocídio.
Talvez estivessem a procurar no lugar errado.
Painter tirou do bolso da camisa a folha de papel que Jordan Appawora lhe dera. O avô do jovem dissera que ela os guiaria até onde fosse preciso.
Desdobrou-a e mostrou os dois símbolos à guarda-florestal.
— Estes símbolos podem ter ligação com o que procuramos. Alguma vez os viu?
Ela debruçou-se com ar de dúvida. Mas, ao examinar a lua em quarto crescente e a estrela de cinco pontas, arregalou os olhos. Fitou Painter.
— Sim — respondeu. — Conheço estes símbolos e sei exatamente onde os podem encontrar.
12h23
San Rafael Swell
kai percorria Buckhorn Wash atrás de Jordan. Ele conduzia um veículo preto todo-o-terreno de quatro rodas enquanto ela o perseguia num branco. Ela mantinha-se curvada sobre o volante, virando à direita e à esquerda, à procura de uma oportunidade para o ultrapassar e engolindo grande parte da poeira que ele levantava. O ruído estridente dos dois motores ecoava nas ravinas de ambos os lados enquanto aceleravam ao longo do barranco, seguindo uma velha pista perto da estrada de terra batida.
Os cinco mil quilómetros quadrados de terreno público da Swell tinham poucas restrições contra a utilização de veículos todo-o-terreno. Ao longo dos anos, os entusiastas abriram centenas de pistas que entrecruzavam esta área. Como nativa americana, uma parte de Kai insurgia-se contra este abuso contra a terra.
Mas também era jovem e precisava de um escape.
Depois de enviar o e-mail a John Hawkes, veri icara repetidas vezes se havia resposta. Passado algum tempo, já não suportava estar sozinha en iada numa sala escura. Tinha de sair para desanuviar a cabeça.
Deparou com Jordan ainda sentado no átrio. Com um brilho cúmplice nos olhos, ele mostrou-lhe o que descobrira numa barraca por detrás de um dos pueblos. Iris e Alvin tinham-lhes dado relutantemente as chaves dos veículos todo-o-terreno, com rigorosas instruções para se manterem nas pistas planas.
O que izeram — durante cerca de vinte minutos — até se sentirem capazes de enfrentar um desafio maior.
À frente dela, Jordan deu um grito quando descreveu uma curva apertada e escorregou no talude. Ao sair da curva, derrapou. Kai sorriu de orelha a orelha, curvou-se e acelerou. Passou por ele a toda a velocidade quando o veículo de Jordan se foi abaixo, su icientemente perto para lhe deitar a língua de fora.
Ele riu-se e gritou.
— Isto ainda não acabou!
Ela acelerou ao longo da pista, saltando sobre pedras mais pequenas e voando por cima de uma pequena vala. Aterrou sobre os quatro pneus, a ranger os dentes, mas com o sorriso ainda estampado no rosto.
Finalmente, o barranco chegou ao im e a pista da montanha juntou-se à estrada de terra batida. Ela travou.
Uns segundos depois, Jordan veio ter com ela, derrapando com perícia de lado para parar ao seu lado. A habilidosa manobra levou-a a perguntar-se se ele não teria andado a brincar com ela durante a corrida.
Mas, quando ele tirou o capacete e os óculos, a alegria e o entusiasmo que Kai viu no seu rosto re letiam-se no dela. Com metade do rosto coberto de poeira, Jordan parecia um guaxinim.
Ela imaginou que não deveria estar com melhor aspeto.
Ele pegou na garrafa de água e verteu-a pela cabeça abaixo, lavando parte da sujidade e, depois, deu um longo gole. Kai icou a observar a sua maçã de Adão a subir e a descer enquanto engolia. Sacudindo a cabeça, ele sorriu-lhe, tornando o dia escaldante apenas um pouquinho mais quente.
— E que tal uma desforra? — propôs, apontando para outra pista.
Ela riu-se, mas a timidez obrigou-a a desviar o rosto.
Mas sentia-se bem.
— Talvez devêssemos regressar — disse, consultando o telemóvel para ver as horas. — Já saímos há duas horas.
Não se apercebera de que tinham demorado tanto. O tempo passara rapidamente enquanto correram pela Swell, detendo-se de vez em quando para examinar gravuras rupestres ou visitar uma das antigas minas existentes nos desfiladeiros.
Jordan pareceu icar um pouco dececionado, mas concordou. — Acho que tens razão. Se continuarmos, a Iris e o Alvin vão enviar gente à nossa procura. E, além disso, não me importava de almoçar... quero dizer, desde que não sejam mais pinhões torrados.
— Toovuts — lembrou-lhe ela.
Jordan acenou a cabeça com ar aprovador.
— Muito bem, menina Quocheets. A armar em nativa Paiute comigo, não é?
Bateu no peito com o punho.
— Faz um bravo sentir-se orgulhoso.
Ela fingiu que ia atirar-lhe com o capacete.
Ele recuou.
— OK. Eu rendo-me! — disse com um sorriso feroz. — Vamos embora.
Regressaram pela estrada a velocidade mais moderada, avançando sem pressa e aproveitando até à última gota os momentos passados juntos.
Chegaram inalmente ao círculo de pequenos pueblos. Estacionaram os veículos debaixo do alpendre.
Ao dar o primeiro passo, as pernas de Kai vacilaram, ainda a vibrar do passeio. Jordan agarrou-a pelo braço, apertando-o com força. Ela virou-se, pronta a desenvencilhar-se, mas o seu rosto estava crispado.
Puxou-a para a sombra do alpendre.
— Passa-se qualquer coisa — murmurou. — Olha para as marcas recentes de pneus.
Agora que lhe mostrara, ela reparou que múltiplos traços se entrecruzavam na areia. Mas onde estavam os carros? De repente, apercebeu-se do silêncio que reinava à volta, como se alguma coisa estivesse a suster a respiração.
— Temos de sair daqui... — começara a dizer.
Mas antes de poderem mexer-se, viram homens com equipamento de combate sair da sombra por detrás dos pueblos. Kai sentiu o coração subir-lhe à garganta, sufocando-a. Soube imediatamente que era culpada por este ataque e como fora encontrada pelo inimigo.
O e-mail...
Jordan puxou-a, mas deparou com um tipo louro monstruosamente alto, fardado com camu lado caqui. O homem levantou uma espingarda e deu-lhe uma coronhada no rosto.
Caiu de joelhos soltando um grito que era mais de surpresa do que de dor.
— Jordan!
O atacante virou-se e apontou a espingarda ao peito de Kai. As suas palavras eram bruscas e o comportamento assustadoramente frio.
— Vem comigo. Há uma pessoa que quer falar contigo.
11h23
Flagstaff, Arizona De pé, na base do imponente edi ício, Kanosh repetia o seu nome.
Wupatki. Era realmente uma «casa alta».
As ruínas do antigo pueblo tinham três andares construídos com blocos de arenito vermelho extraídos de uma pedreira local e unidos com argamassa. Era uma espantosa proeza de engenharia com uma centena de divisões. Uma parte do pueblo também incluía os restos de um antigo estádio de pedra e uma grande sala comunitária circular.
Imaginou como deveria ter sido. Repôs o teto de colmo com vigas.
Reconstruiu as paredes. Imaginou milho, feijões e abóboras a crescerem nos barrancos vizinhos. E povoou o lugar com várias tribos — Sinagua, Cohonina e, claro, Anasazi —, vivendo em relativa paz umas com as outras.
De pé, junto das ruínas, com Kawtch ao lado, Hank contemplava um panorama que pouco mudara desde tempos antigos. Wupatki fora erigido num pequeno planalto que dominava uma vasta área, revelando as diferentes mesas que envolviam o deserto, a luminosa beleza do Painted Desert a leste e os serpenteantes caminhos verdes do Little Colorado River.
Era um local pitoresco.
No entanto, foi invadido por um estado de espírito sombrio enquanto contemplava as ruínas. Porque é que esse povo antigo partira? Fora perseguido, massacrado? Imaginou o sangue a salpicar as paredes vermelhas, ouviu os gritos das crianças e das mulheres. Era de mais. Teve de se afastar.
Em baixo, junto das ruínas, Painter e o colega deambulavam perto do an iteatro comunitário. O grupo, guiado por Nancy Tso, percorrera a curta distância desde o parque nacional de Sunset Crater, mas ainda estavam à espera que a guarda-lorestal obtivesse autorização para entrarem. Era proibido sair das zonas públicas do parque sem guia. As ruínas e monumentos mais remotos — perto de três mil — eram considerados demasiado frágeis, assim como o ecossistema do deserto, para serem visitados.
Logo que Nancy obtivesse licença, conduzi-los-ia pessoalmente ao lugar onde vira os elementos que Painter lhe mostrara, o símbolo dos Tawtsee’untsaw Pootseev, o povo da Estrela da Manhã. Quando pensava neles, o sangue de Hank latejava com mais força. Era possível que fossem uma das tribos perdidas de Israel descrita no Livro de Mórmon?
Impaciente, Hank encaminhou-se para o lugar onde se encontravam os outros, puxando um amuado Kawtch pela trela. Avistou Nancy Tso a sair do centro turístico e a tomar a mesma direção.
Chegou primeiro e viu Kowalski a divertir-se com uma das particularidades únicas do pueblo. Estava junto do que parecia ser um poço de fogo elevado construído recentemente com lajes. Mas o quadrado do meio não era para se acender fogo.
Kowalski debruçava-se sobre a abertura, e tinha de agarrar no chapéu à cowboy que comprara para que o forte vento que saía do poço não lho levasse.
— É bastante frio — suspirou. — Parece ar condicionado.
Hank assentiu.
— É a abertura para um sistema de arejamento de uma caverna.
Depende da pressão atmosférica. Quando os dias são quentes, como hoje, expele o ar fresco encurralado em baixo e no inverno, quando está frio, absorve-o. O vento chega a soprar até cinquenta quilómetros por hora e os arqueólogos a irmam que foi um dos motivos para estabelecer o pueblo aqui. Estas condutas de ventilação, consideradas como aberturas para o outro mundo, eram sagradas para o povo antigo e, conforme mencionou, proporcionam ar condicionado natural no verão.
Painter leu o que estava escrito no letreiro.
— Em 1962, durante as escavações encontraram aqui em baixo cerâmica, obras em arenito e até mesmo petróglifos.
Hank compreendeu o interesse re letido no rosto de Painter. Nancy Tso indicara-lhes finalmente onde vira a lua e a estrela desenhadas pelo avô de Jordan. Figuravam em alguns petróglifos encontrados no deserto, perto de umas das inúmeras ruínas Pueblo não registadas.
— Também diz aqui que — continuou Painter — o tamanho, profundidade e complexidade do sistema da gruta nunca foram definitivamente determinados.
— Isso não é totalmente verdade — interrompeu Nancy Tso.
Ao notar o interesse do grupo, juntou-se-lhes.
— Estudos publicados nos dois últimos anos sugerem que o sistema da gruta de pedra calcária por baixo deste planalto pode ter cerca de duzentos milhões de metros cúbicos de volume e estender-se o longo de muitos quilómetros.
Painter examinou a conduta de ventilação. A abertura estava selada com uma placa metálica.
— Quer dizer que se alguém quisesse esconder qualquer coisa de olhos indiscretos...
Nancy soltou um suspiro.
— Não vamos começar outra vez com essa conversa. Concordei em mostrar-lhes onde vi os símbolos e é tudo o que vou fazer. Depois, vão-se embora. — Consultou o relógio. — O parque fecha às cinco e o meu plano é sair daqui nessa altura.
— Quer dizer que nos arranjou uma autorização? — perguntou Hank.
Ela bateu com uns formulários contra a coxa.
— A viagem vai demorar umas boas duas horas.
Kowalski endireitou-se e assentou com maior irmeza o chapéu à cowboy na cabeça.
— Porque não podemos levar o seu jipe Cherokee? Tem tração às quatro rodas, não tem? Chegaríamos em dez minutos e até menos se fosse eu a conduzir.
Ela pareceu ficar horrorizada com a sugestão.
Painter também icou, mas Hank descon iou que foi por motivos diferentes. O colega de Painter tinha pouco respeito pelos regulamentos que diziam respeito à velocidade — ou pela cortesia mais comum na estrada.
— Vamos estabelecer regras desde o princípio — disse Nancy, erguendo um dedo. — Primeiro: Não deixar vestígios. O que signi ica que têm de trazer o que levam. Já me ocupei das mochilas e da água. Está tudo inventariado e será verificado no regresso. Perceberam?
Acenaram com a cabeça. Kowalski encostou-se a Painter e cochichou.
— Ela ainda fica melhor quando se zanga.
Por sorte, Nancy não o ouviu — ou, pelo menos, fingiu não o ter ouvido.
— Segundo, temos de caminhar com cuidado. Sem bastões ou qualquer outro apoio pois está provado que destroem o frágil ecossistema dos desertos. E, por im, não podem levar GPS. Os serviços do parque não querem que as localizações exatas das ruínas sejam cartografadas eletronicamente. Estamos entendidos?
Todos assentiram. Kowalski limitou-se a sorrir.
— Então, vamos.
— Para onde? — perguntou Painter.
— Para uma ruína chamada Fenda-na-Rocha.
— Porque tem esse nome? — indagou Kowalski.
— Já vai ver.
Guiou-os até ao lugar onde estava empilhado o equipamento deles.
Hank puxou uma mochila que continha água, tabletes energéticas e bananas.
Quando todos estavam prontos, Nancy partiu a passo acelerado, aparentemente decidida a reduzir o seu cálculo de duas horas. Não se tratava certamente de uma excursão turística. O grupo marchava em ila indiana atrás dela, passando por campos com artemísia, éfedra, atríplex e stanleya. Os lagartos desviavam-se do caminho e as lebres fugiam. A dada altura, Hank ouviu o chocalhar roufenho de uma cascavel e puxou Kawtch para perto de si. O cão conhecia serpentes, mas não queria correr riscos.
Também passaram por outros monumentos do parque: blocos de arenito caídos marcando um pequeno pueblo, um círculo de pedras de um poço pré-histórico e até um slogan ou uma casa de suar dos navajos. Mas o seu destino — uma das imponentes mesas — icava muito mais longe, um ponto indistinto no horizonte.
Para ajudar a passar o tempo e a esquecer o calor, Hank caminhava ao lado de Painter.
— Uma lua e uma estrela — disse. — Tenho pensado nesse símbolo e no nome da tribo. Tawtsee’untsaw Pootseev.
— O povo da Estrela da Manhã.
Hank acenou a cabeça.
— A estrela da manhã que brilha com tanto esplendor nos céus orientais de madrugada é, na realidade, o planeta Vénus. Mas Vénus também é chamado a estrela da tarde porque brilha ao pôr do Sol no Oeste.
Muitos astrólogos antigos entenderam esta relação e é por isso que a lua em quarto crescente é muitas vezes associada com a Estrela da Manhã.
Com um braço desenhou um arco de leste a oeste.
— As duas pontas da lua representam o nascer da estrela a leste e a oeste, juntando-as.
— OK, mas onde quer chegar?
— Este conjunto da lua e da estrela constitui um símbolo antigo, um dos mais antigos do mundo. Fala do conhecimento do homem acerca do lugar que ocupa no universo. Alguns historiadores religiosos acreditam que, na realidade, a estrela de Belém era a Estrela da Manhã.
Painter encolheu os ombros.
— Também se encontra o mesmo símbolo na bandeira da maior parte dos países islâmicos.
— É verdade, mas até eruditos muçulmanos lhe dirão que esse símbolo nada tem que ver com a sua fé. Foi adotado dos turcos.
Hank desembaraçou-se de todas aquelas explicações com um gesto da mão.
— Mas o alcance do símbolo vai muito mais longe. Um dos primeiros registos deste símbolo remonta às terras do antigo Israel. Desde os moabitas, que, segundo o Génesis, eram parentes dos israelitas, mas que também tinham elos com os egípcios.
Painter levantou uma mão, detendo o professor.
— Estou a perceber. O símbolo pode corroborar ainda mais a sua teoria de que este povo antigo veio de Israel.
— Bem, sim, mas...
Painter apontou para o horizonte, em direção à mesa distante.
— Se houver respostas, é ali que haveremos de as encontrar.
12:46
San Rafael Swell O que é que eu fiz?
Kai mantinha-se quieta, entorpecida com o choque, no meio da sala dos Humetewas. Iris estava sentada numa cadeira junto da lareira, as lágrimas brilhavam-lhe à luz das chamas, mas mantinha um rosto duro. Os dedos incavam-se nos braços da cadeira enquanto olhava para o marido. Alvin, apenas de cuecas, encontrava-se deitado de costas sobre a mesa de pinho.
O peito magro subia e descia com demasiada rapidez. Chagas vermelhas marcavam-lhe o tórax. O odor a carne queimada enchia a sala.
Uma mulher negra de ossos largos remexeu o fogo. Um segundo atiçador aquecia nas chamas. A ponta tinha a mesma forma que as marcas de Alvin. A mulher nem sequer levantara a cabeça quando Kai foi arrastada para dentro da sala.
O gigantesco soldado louro que os capturara atirou Jordan para um canto. Com os pulsos amarrados atrás das costas, não conseguira amparar-se na queda, mas contorcendo-se acabou por se encostar à parede.
O outro ocupante estava sentado à cabeceira da mesa. Levantou-se com a ajuda de uma bengala. Kai pensou que era um homem mais velho — talvez por causa da bengala ou do fato ultraconservador ou da fragilidade que parecia emanar dele. Mas, quando coxeou à volta da mesa, viu que o seu rosto era liso, sem mácula, excetuando uma barba ligeira, tão bem tratada como o cabelo. Tinha pouco mais de trinta anos.
— Ah, chegou, menina Quocheets. Chamo-me Rafael Saint Germaine.
Olhou para o relógio.
— Esperávamo-la muito mais cedo e tivemos de começar sem a sua presença.
O homem apontou a bengala na direção de Alvin. O velho estremeceu, o que abriu ainda mais a ferida no coração de Kai.
— Temos estado a tentar saber onde se encontra o seu tio, mas o Alvin e a Iris não têm cooperado connosco... apesar dos ternos cuidados da minha querida Ashanda.
A mulher junto à lareira levantou a cabeça.
Ao ver o seu rosto, as entranhas de Kai gelaram. À parte o tamanho, Ashanda parecia vulgar, mas ela notou que os seus olhos, a cintilar à luz das chamas, eram insondavelmente vazios, um espelho para quem olhasse para eles.
O ruído da bengala no chão atraiu a sua atenção.
— Vamos tratar de negócios — disse Rafael fazendo sinal à sua torcionária para tirar do fogo o atiçador em brasa. — Continuamos a necessitar de uma resposta.
Kai cambaleou até à mesa.
— Não! — balbuciou. — Eles não sabem onde está o meu tio.
Rafael franziu o sobrolho.
— É o que os Humetewas têm estado a dizer, mas como posso acreditar neles?
— Por favor... O meu tio não lhes disse. Não queria que soubessem. Só eu é que sei.
— Não lhes digas — gritou Iris, rouca de dor e raiva.
O homem chamado Rafael olhou para o teto e suspirou.
— Que melodrama!
Kai ignorou Iris e continuou a falar com o homem da bengala.
— Eu conto-lhe tudo — acrescentou, recuperando de novo a voz. — Mas, primeiro, tem de deixar que os outros se vão embora... todos. Logo que estiverem a salvo, dir-lhe-ei para onde foi o meu tio.
Rafael pareceu considerar a oferta.
— Apesar de ter a certeza de que é franca e honesta, menina Quocheets, receio não poder correr esse risco.
Fez sinal para a mulher negra se chegar mais perto de Alvin.
— As bocas têm tendência para não se abrir sem o uso da força. É tudo uma questão de psicologia básica, de ação e reação.
O atiçador aproximou-se da face de Alvin. A ponta em brasa cintilava, fumegando e silvando suavemente.
Rafael inclinou-se com as duas mãos apoiadas na bengala.
— Esta cicatriz será mais difícil de esconder. Se sobreviver.
Kai tinha de pôr termo a isto. Havia apenas uma opção. Para ganhar tempo e deixarem de torturar Alvin, tinha de lhes dizer a verdade.
Abriu a boca, mas Jordan interrompeu-a.
— Mantenha-me prisioneiro! — gritou. — Sirva-se de mim se quer a cooperação da Kai. Mas, por favor, deixe partir os Humetewas.
Kai aproveitou aquela oportunidade.
— Ele tem razão. Faça-o e eu falarei.
— Minha querida, há de falar quer os solte ou não.
— Mas levará mais tempo — insistiu Kai. — Talvez demasiado tempo.
Virou-se e trocou olhares com Iris para absorver a força da mulher de idade. Se fosse necessário, Kai resistiria tanto quanto possível e tentaria convencer aquela gente de que apenas perderiam tempo se continuassem a torturar o velho casal. Alcançariam mais depressa o que desejavam se os deixassem partir.
Com ar determinado, virou-se novamente para Rafael. Ele itou-a e ela não ousou estremecer.
Após longos instantes, Rafael encolheu os ombros.
— Bem jogado e argumentado, menina Quocheets. — Apontou a bengala para o soldado louro. — Mete os Humetewas num desses veículos todo-o-terreno e deixa-os partir.
— Quero ver a sua partida para me certi icar de que estão bem — disse Kai.
— Absolutamente.
Em poucos minutos, Iris e Alvin foram instalados no veículo branco.
Alvin estava demasiado maltratado para poder conduzir e por isso, sentou-se ao lado da mulher. Iris acenou a cabeça a Kai, não só a agradecer-lhe como a preveni-la para ter cuidado.
Kai retribuiu o aceno, passando-lhe a mesma mensagem.
Obrigada... e tem cuidado.
Iris ligou o motor e partiram. O casal desceu um barranco e desapareceu rapidamente numa curva do desfiladeiro.
Kai permaneceu à porta, vendo o rasto de poeira afastar-se.
Rafael mantinha-se no átrio, à sombra.
— Creio que isto deve satisfazê-la.
Kai soltou um suspiro. Fitou o homem e a sombra escura que pairava por detrás dele. Qualquer mentira que dissesse seria punida — e caberia a Jordan suportar as consequências. Mas, se cooperasse, os seus captores mantê-los-iam vivos.
Para serem usados como alavanca contra Painter.
Como aquele filho da mãe dissera, era física elementar.
— O meu tio foi de avião para Flagstaff — admitiu inalmente. — Dirigem-se para o parque nacional de Sunset Crater.
E explicou-lhe rapidamente porquê — para ser convincente.
Ao terminar, reparou que Rafael parecia desnorteado.
— Pelos vistos sabem muito mais do que eu esperava...
Mas depressa se recompôs.
— Não interessa. Trataremos disso mais tarde.
Apoiou-se na bengala e voltou-se para a porta aberta, falando com o soldado louro.
— Envia uma mensagem por rádio ao atirador, Bern. Diz-lhe para cumprir a missão e voltar para o helicóptero.
Um atirador?
Kai avançou dois passos.
Iris e Alvin.
Rafael encarou-a.
— Disse-lhe que os deixaria partir, mas não disse até onde os deixaria ir.
O tiro de uma espingarda ecoou à distância.
Seguido por uma segunda detonação.
13h44
Flagstaff, Arizona Painter examinou o alto da mesa. Chupou sofregamente o tubo ligado à garrafa de água. Durante duas horas escaldantes ao calor, chegaram a pensar que nunca alcançariam a mesa que se afastava deles constantemente como uma miragem no deserto.
Mas chegaram.
— E agora? — perguntou Kowalski, abanando o rosto com o chapéu à cowboy.
Tinha-se transformado numa mancha de suor com pernas.
— O pueblo fica lá no alto — disse Nancy.
Kowalski gemeu.
Painter esticou o pescoço, mas não viu nenhum caminho.
— Ali — indicou ela, dirigindo-se para o sopé da mesa onde uma pista em mau estado subia a encosta.
Enquanto a seguiam, Painter viu grandes faixas de arte rupestre nas encostas: serpentes, lagartos, corças, carneiros, extravagantes iguras humanas e desenhos geométricos de todas as formas. Os petróglifos pareciam pertencer a dois tipos. Nos mais comuns, a cobertura mais escura da superfície da pedra tinha sido cortada ou raspada para revelar a pedra mais clara por baixo e, nos outros, centenas de ori ícios minúsculos perfuraram o arenito macio contornando figuras ou espirais solares.
Seguindo atrás de Hank, Painter apercebeu-se de que o professor estudava as encostas, provavelmente à procura da lua e da estrela dos seus israelitas perdidos.
Por im, depois de subirem um bom bocado, chegaram a uma passagem na encosta, a fenda na rocha que dava o nome ao pueblo. A abertura era estreita, mas a chuva e o vento tinha amolecido o arenito.
— A partir daqui, é uma pequena subida — prometeu Nancy.
Ela tomou a dianteira subindo o trilho rochoso. A fenda abria-se até ao alto da mesa e Kowalski praguejava baixinho pois tinha, por vezes, de passar de lado por pedregulhos que bloqueavam parcialmente o caminho.
Finalmente, todos alcançaram o cume, saindo da fenda e entrando no pueblo. O conjunto de ruínas não era tão impressionante como o que viram em Wupatki, mas o panorama compensava. Avistava-se o Little Colorado River e várias centenas de quilómetros em todas as direções.
— Uma das teorias acerca deste lugar — disse Nancy na sua voz de guia — é que era um posto avançado. Se olharem para esta muralha à volta da mesa verão aberturas para lançar lechas. Mas outros historiadores sugerem que teria sido um observatório usado pelos xamãs, sobretudo, porque algumas das aberturas estão inclinadas para cima.
Mas não fizeram aquela longa caminhada por causa destas teorias.
— E as gravuras rupestres que mencionou? — perguntou Painter com insistência. — Onde estão?
— Venham comigo. Normalmente, nunca levamos ninguém por aqui. O
caminho é perigoso, íngreme e escorregadio. Um passo em falso e uma pessoa pode matar-se.
— Mostre-nos — disse Painter sem se deixar intimidar.
Nancy dirigiu-se para um monte de pedras de uma parede caída há muito. Tiveram de passar por cima para chegar ao que parecia outra passagem ou fenda. Esta descia e o declive era traiçoeiro. As pedras rolavam por baixo dos pés de Painter que tinha de se apoiar em ambos os lados para não perder o equilíbrio. O facto de o cão de Hank se mover entre eles com a agilidade de uma cabra da montanha, detendo-se para marcar uma pedra ou um pequeno arbusto, não ajudava.
— Kawtch! — gritou-lhe Hank. — Se me deres outro empurrão, juro...
Nancy deixara que o professor soltasse o cão, mas só enquanto estivessem no cimo da mesa. Aparentemente, toda a gente lamentava esta decisão — exceto Kawtch. Levantou novamente a pata e desapareceu.
Esta fenda era mais estreita e comprida do que a outra e, mesmo avançando com cuidado, levaram algum tempo a atravessá-la. Mas, por im, chegaram ao fundo. Em vez de depararem com o exterior, o grupo foi dar a um espaço ladeado por paredes altas com uma abertura para o céu, mas sem saída.
Hank olhou à sua volta de boca aberta.
— Espantoso.
Painter viu-se obrigado a concordar. Gravuras rupestres cobriam totalmente ambos os lados. Era uma visão quase demasiado estonteante.
Mas a guia, que já ali estivera, mostrava-se mais impaciente do que impressionada.
— O que vieram ver está ali — disse Nancy, conduzindo-os a uma secção lisa do chão de pedra. — Isto é outro motivo por que não permitimos que venha gente aqui. Não podemos deixar que os visitantes andem por cima destas obras-primas.
Em vez de gravar na parede, o artista usara o chão.
Era mais uma desregrada panóplia de arte pré-histórica, mas, no meio, envolta por uma das ubíquas espirais, via-se uma lua em quarto crescente e uma estrela com cinco pontas. Não havia engano. O desenho era idêntico ao traçado pelo avô de Jordan.
Painter levantou um pé, preparando-se para atravessar aquele campo de obras de arte. Olhou para Nancy, que acenou timidamente a cabeça.
— Mas tenha cuidado.
Painter avançou seguido por Hank e Kawtch, mas Kowalski permaneceu junto de Nancy, dando a entender qual era o seu verdadeiro interesse. Painter ajoelhou-se ao lado do crescente e da estrela, e Hank imitou-o do outro lado. Juntos, examinaram a obra.
Incluindo a espiral à volta, a gravura deveria ter um metro de uma ponta à outra. O artista utilizara as duas técnicas que tinham visto noutros sítios. A lua e a estrela foram esculpidas na rocha, mas a espiral era composta de milhares de minúsculos orifícios perfurados.
Kawtch farejou a super ície — ao princípio, curioso, mas, depois, os seus pelos eriçaram-se. Recuou a espirrar, irritado.
Painter e Hank entreolharam-se. Painter aproximou o nariz da gravura e cheirou. Hank fez o mesmo.
— Sente o cheiro de alguma coisa? — perguntou Painter.
— Não — respondeu o professor, mas havia uma ponta de excitação na sua voz.
A seguir, Painter também lhe tocou, roçando ligeiramente a face como um beijo paternal. Sentou-se e estendeu a palma da mão por cima dos pequenos orifícios do petróglifo.
— Também sente isto, não sente? — perguntou Painter.
— Uma brisa — respondeu Hank. — Vinda de baixo, através dos orifícios perfurados na espiral.
— Deve haver uma conduta de ventilação aqui por baixo. Como em Wupatki.
Painter debruçou-se e passou suavemente a mão pela super ície da gravura. Parte da ina poeira da rocha elevou-se no ar ao passar pelos ori ícios, mas o seu objetivo não era esse. Estava a fazer aquilo por outro motivo.
Passou as pontas dos dedos pelas bordas do petróglifo e, depois, insistiu com o professor para que fizesse o mesmo.
— Sinta isto — disse Painter, arrastando um dos dedos de Hank ao longo de uma junção que rodeava a peça de arte.
— Foi colocada neste lugar com argamassa — disse o professor, espantado.
Painter assentiu com um aceno de cabeça.
— Alguém selou a conduta de ventilação com uma laje de arenito. Como uma placa sobre um esgoto.
— Mas deixaram orifícios para as grutas em baixo respirarem.
Os olhos de Painter fitaram os de Hank.
— Temos de ir lá abaixo.
24
31 DE MAIO, 16H50
WASHINGTON, DC
Este dia nunca ia acabar.
À sombra do Monumento a Washington, Gray atravessava o National Mall lançando um olhar de profundo desprezo ao Sol. Parecia que se recusava a pôr. Apesar de o voo de Reiquiavique ter demorado cinco horas, aterrara em DC apenas uma hora depois de partir da Islândia, por causa da mudança horária — e por muito que viajasse, estas mudanças continuavam a desregular o seu relógio orgânico.
Parte da sua irritação também tinha que ver com as duas horas que passara no comando subterrâneo da Sigma, por baixo do Castelo Smithsonian. Fora sujeito a um meticuloso interrogatório, enquanto se roía todo para descobrir o conteúdo do diário de Archard Fortescue.
Tinha de ser importante e ele trazia a prova disso. Tocou delicadamente na orelha esquerda. Um penso líquido que mal se via cobria a ferida da bala que lhe acertara quando tentava tirar a mochila ao tipo da Confraria. Mas os ferimentos que sofrera não eram os piores dessa viagem.
— Mais devagar! — gritou-lhe Seichan.
Coxeava atrás dele, da perna direita. Os médicos da Sigma também a tinham tratado, suturando as marcas mais fundas da dentada e enchendo-a de antibióticos e uma dose mais ligeira de analgésicos, como o demonstravam os seus olhos ligeiramente vidrados. Seichan tivera sorte por as orcas a tratarem tão suavemente, de outro modo poderia ter perdido a perna.
Gray abrandou o passo para ela o conseguir apanhar.
— Podíamos ter vindo de táxi.
— Precisava de esticar as pernas. Quanto mais me mexer, mais depressa fico boa.
Gray não sabia se seria assim. Ouvira um dos médicos preveni-la para se poupar. Mas reparou no brilho feral por detrás daquele olhar velado pela medicação. Tal como ele, Seichan não apreciara icar duas horas debaixo de terra. Dizia-se que os tubarões só conseguiam respirar se estivessem sempre a mover-se. Suspeitava que o mesmo se passava com ela.
Atravessaram juntos Madison Drive. O pé esquerdo dela escorregou ao descer o passeio. Ele agarrou-a pela cintura. Ela disse um palavrão, equilibrou-se e começou a empurrá-lo — mas Gray puxou-a, pegou-lhe na mão e colocou-a no ombro dele.
— Segura-te.
Seichan fez menção de retirar a mão, mas ele franziu-lhe o sobrolho.
Ela suspirou e os seus dedos apertaram o ombro. Ele manteve a mão atrás da sua cintura por baixo do blusão aberto, pronto a ajudá-la se fosse necessário.
Quando atravessaram a rua e passaram entre o Museu Nacional de História Natural e a Galeria Nacional de Arte, os dedos dela enterravam-se nos seus deltoides. Ele passou a mão à volta da sua cintura e deixou-a sob o tórax para a apoiar.
— Da próxima vez, um táxi... — ofegou ela, oferecendo-lhe um pequeno sorriso enquanto avançava a coxear.
Nesse momento, Gray sentia-se egoisticamente satisfeito por terem ido a pé. Ela estava encostada pesadamente. Ele sentia o cheiro a pêssego do seu cabelo, misturado com algo mais substancial, quase picante, proveniente da humidade do seu corpo. E, no fundo, ele era su icientemente simples para apreciar este raro momento de fraqueza, a necessidade que ela tinha dele.
Ele encostou a mão com mais força contra ela, sentindo o calor do seu corpo através da blusa, mas a intimidade não durou muito.
— Graças a Deus estamos a chegar — disse ela, afastando-se, mas mantendo uma mão no seu ombro para se equilibrar.
O edi ício dos Arquivos Nacionais erguia-se diante deles. Iam encontrar-se com o curador e o seu assistente na sala de investigação.
Pouco depois de chegar a Sigma, Gray mandara fazer uma fotocópia do diário para lhes ser entregue pessoalmente. O original encontrava-se em segurança num cofre da Sigma. Não queriam correr riscos com o documento.
Na rua, Gray reconheceu facilmente os dois agentes nomeados para vigiar os arquivos. Outros dois agentes deviam patrulhar o interior. Até mesmo as fotocópias estavam sob vigilância apertada.
Estava a ajudar Seichan a subir os degraus, quando o telemóvel vibrou no bolso. Tirou-o para identi icar quem chamava. Deixara Monk com Kat.
Ambos estavam a supervisionar os acontecimentos na Islândia para determinar se tinham desencadeado outra erupção em Laki. Mas, como acontecera no Utah, o calor eliminara o nanoninho. A explosão desse arquipélago, contudo, conduziria a outra catástrofe global como aquela que Fortescue testemunhara?
A chamada não era de Monk, mas de casa dos pais de Gray. Ao aterrar em Washington, falara com a mãe para saber da saúde do pai depois da má noite que passara. Como de costume, o pai estava bem na manhã seguinte, apenas distraído como habitualmente.
Atendeu.
— Mãe?
— Não, é o teu pai — ouviu. — Não reconheces a minha voz?
Gray não se deu ao trabalho de lhe explicar que ele ainda não tinha dito nada.
— De que precisa, pai?
— Estava a ligar para te dizer... porque...
Seguiu-se uma longa e confusa pausa.
— Pai?
— Espera, caramba...
O pai começou a gritar do outro lado.
— Harriet, porque é que estou a telefonar ao Kenny?
A voz da mãe era fraca.
— O quê?
— Quero dizer Gray... Porque estou a telefonar ao Gray?
Bem, pelo menos acertara no nome.
Ouviu tagarelar ao fundo, a voz do pai icava mais forte e agressiva.
Tinha de pôr cobro a isto antes que piorasse.
— Pai! gritou ao telefone.
Alguém olhou na sua direção.
— O que é? — barafustou o pai.
Gray manteve a voz calma e uniforme.
— Porque não me telefona quando se lembrar? Seria ótimo.
— OK, pois, parece-me bem. Estão a acontecer muitas coisas, faz-me imensa confusão.
— Não se preocupe, pai.
— Está bem, filho.
Gray desligou.
Seichan itou-o, inquirindo em silêncio se estava tudo bem. A sua mão passara do ombro para a anca dele, como para o ajudar a manter-se direito.
Gray meteu o telemóvel no bolso.
— Coisas de família.
Ela continuou a fitá-lo, como se tentasse ler-lhe os pensamentos.
Ele apontou para a porta.
— Vamos saber porque o Fortescue escondeu o diário na Islândia. Tem de ser muito importante.
17h01
Seichan sentou-se numa das cadeiras à volta da mesa de conferências, apoiando o peso sobre a anca boa e esticando a perna direita. Fez o possível para não soltar um gemido de alívio.
Gray permaneceu de pé. Ela examinou-o, lembrando-se do seu rosto tenso e da expressão receosa nos olhos quando falava com o pai. Agora, já não havia nenhum vestígio. Onde os escondera? Quanto tempo mais conseguiria continuar a fazê-lo?
— O que podem dizer-me acerca do diário de Fortescue? — perguntou Gray.
O doutor Eric Heisman acenava vigorosamente a cabeça enquanto andava de um lado para o outro. A sala estava ainda mais desarrumada. O
número de documentos e livros em cima da mesa triplicara. Alguém trouxera mais dois leitores de micro ichas de uma sala vizinha. Outros funcionários que trabalhavam no edi ício deviam perguntar-se o que se passava, em particular, por causa do guarda armado à porta. Mas considerando todos os valiosos documentos preservados nos cofres enormes e gabinetes dos arquivos, a presença de um guarda não era assim tão invulgar.
No entanto, por esta altura, Heisman parecia-se mais com um cientista louco do que com um curador de museu. A camisa estava amarrotada, com as mangas enroladas até aos cotovelos, e o cabelo branco eriçava-se como uma peruca para meter medo. Mas esta impressão provinha principalmente dos olhos, congestionados e a piscar nervosamente, brilhando com um zelo fanático.
Este último talvez se devesse aos inúmeros copos de café Starbucks que deitavam por fora do único caixote de lixo da sala.
Há quanto tempo não dormia?
— Há coisas aqui que são realmente assombrosas — disse Heisman. — Não sei por onde começar. Onde o encontrou?
Gray abanou a cabeça.
— Lamento, mas é confidencial. Como a nossa conversa.
Heisman afastou aquelas palavras com um gesto.
— Eu sei, eu sei... A Sharyn e eu assinámos todos os documentos necessários para esta autorização temporária.
A sua assistente estava sentada na outra extremidade da mesa. Desde que tinham entrado que não dissera nada. Os seus olhos escuros levantaram-se apenas das páginas fotocopiadas o su iciente para lhes acenar com a cabeça. Tinha trocado o vestido preto justo por uma blusa elegante e calças confortáveis.
Atenta, Seichan mantinha meio olho ixo nela. Além da sua fascinante beleza, pele macia, feições delicadas e cabelo preto liso, não havia nada que tivesse feito para levantar suspeitas. O que é que uma pessoa tão bela estava a fazer como simples assistente de um curador numa sala de manuscritos poeirentos? Esta mulher podia facilmente estar a passar modelos em Milão.
Seichan também não gostava da maneira como os olhos de Gray se detinham em Sharyn sempre que se mexia na cadeira para virar uma página ou anotar um apontamento.
— Porque não começa pelo princípio? — sugeriu Gray, tentando dar início ao debate.
— Não é uma má sugestão — retorquiu Heisman, indicando uma cadeira a Gray. — Sente-se. Vou contar-lhes tudo. É uma história notável.
Preenche muitos espaços em branco.
Gray obedeceu.
Heisman, demasiado agitado para se sentar, continuou a andar de um lado para o outro.
— Este diário é uma crónica de acontecimentos que começa quando Benjamin Franklin abordou pela primeira vez Archard.
Archard...?
Seichan ocultou um breve sorriso de satisfação. Parecia que o curador tratava o francês pelo nome próprio.
— Principia com a descoberta de um túmulo índio no Kentucky.
Heisman virou-se para pedir ajuda à assistente.
Ela nem sequer levantou a cabeça.
— O túmulo da serpente.
— Sim, muito dramático. Foi lá que descobriram um mapa dourado que forrava o interior de um crânio de mastodonte, que, por sua vez, estava embrulhado numa pele de búfalo. Era o mapa índio de que o xamã moribundo falara a Jefferson.
Heisman prosseguiu, gesticulando enquanto falava para, quando necessário, realçar certas passagens. O que, aparentemente, era quase sempre.
— Mas essa não foi a primeira vez que Jefferson e Franklin se encontraram com um xamã nativo americano. O chefe Canasatego trouxe outro xamã de uma longínqua tribo ocidental para se encontrar com Jefferson. Parece que esse homem idoso viajara muito tempo para se encontrar com os novos chefes brancos destas costas. O xamã contou uma longa história a Jefferson, acerca dos anteriores índios pálidos com quem tinham partilhado as terras, um povo com grandes poderes. Dizia-se que também vinham do Leste, como os colonos. Isto interessou vivamente Franklin e Jefferson. E, ao mesmo tempo, deixou-os bastante céticos.
Gray acenou com a cabeça.
— Sem dúvida.
— O xamã acabou por voltar com uma prova. E certi icando-se de que o que transpirasse seria mantido em segredo, ele mostrou-lhes uma tecnologia que espantou e surpreendeu ambos os homens.
Heisman virou-se novamente para a assistente.
— Sharyn... podia ler essa passagem?
— Um instante.
Folheou umas páginas até encontrar a que procurava e leu.
— Trouxeram ouro que não fundia, armas de um aço que nenhum índio jamais manejara, mas, mais importante, um elixir seco prateado; uma pitada era mil vezes mais possante do que uma montanha de pólvora preta.
Gray trocou um olhar com Seichan. O ouro imutável devia ser o mesmo metal das placas. Era muito mais denso e duro do que o ouro. E o elixir seco prateado... poderia ser a causa da poderosa explosão no Utah e na Islândia?
Heisman continuou.
— Como a Confederação Iroquesa desejava fazer parte de uma nova nação, tentaram fazer um pacto.
— Para fundar a décima quarta colónia — acrescentou Gray.
— A Colónia do Diabo, sim. As negociações, embora secretas, corriam razoavelmente bem. Seria uma troca. A Confederação Iroquesa marcara o seu território.
Virou-se, mas, desta vez, Sharyn estava preparada.
— Desejavam possuir uma grande terra para lá dos territórios franceses, terras inexploradas e não reivindicadas, para não ameaçar o crescente interesse dos colonos para leste. Os iroqueses dariam as suas antigas terras e o seu grande segredo em troca de um novo território permanente e uma posição sólida nessa nova nação. Além do mais, foi apurado, através de reuniões privadas com o chefe Canasatego, que no coração da colónia índia havia uma cidade perdida, origem desses materiais milagrosos. Mas mantiveram-se enigmáticos quanto à sua localização.
Enquanto a assistente lia a tradução, Heisman fez deslizar um atlas aberto ao longo da mesa. Continha um antigo mapa dos Estados Unidos.
Apontou com um dedo para uma secção sombreada que se estendia para norte em forma de V, desde Nova Orleães, e que ocupava o que, mais tarde, seria o meio do país.
— Aqui estão as terras compradas aos franceses por Jefferson.
— A aquisição da Louisiana — disse Gray.
— Por uma entrada no diário, penso que a décima quarta colónia desejada pelos índios se encontrava a oeste dessa aquisição. Mas Archard nunca dá pormenores do local onde se encontrava exatamente. Há apenas uma menção tangencial.
— Qual é? — perguntou Seichan.
— Depois de Archard descobrir o mapa índio no túmulo da serpente, veri icou que o metal do mapa era composto do mesmo ouro estranho. E
nesse mapa estavam marcados dois sítios.
— A Islândia era um deles — resmungou Gray, dando voltas ao miolo para resolver o enigma.
— Acertou. E o segundo era mais para oeste. Archard acreditava que o sítio marcado nos territórios ocidentais talvez fosse o local dessa cidade perdida, o coração da nova colónia. Mas icava demasiado a oeste, em terras ainda por explorar nessa altura, e o mapa não era su icientemente preciso quanto a pormenores. Assim, Archard decidiu investigar a Islândia primeiro, o itinerário era conhecido dos marinheiros.
Gray recostou-se.
— Suponho que o francês não incluiu uma cópia desse mapa no diário.
— Não. Segundo Archard, Thomas Jefferson manteve o mapa em grande segredo. Não deixava ninguém vê-lo, a não ser os que faziam parte do seu círculo íntimo de amigos.
Seichan compreendia a sua prudência. O presidente devia ter receado o seu inimigo desconhecido e não se apercebia de até que ponto o seu governo já fora in iltrado. Descon iança e paranoia. Sim, ela podia facilmente pôr-se no lugar de Jefferson.
— O que aconteceu ao mapa? — perguntou Gray.
Heisman apenas teve de se virar para a assistente.
Sharyn leu:
— Sempre astucioso, Jefferson concebeu uma maneira de preservar o mapa índio para o proteger e manter para sempre fora do alcance do inimigo sem rosto. Usaria o ouro para o ocultar à vista de todos. Ninguém suspeitaria de que o tesouro estivesse escondido no coração do Selo.
Gray franziu a testa.
— O que quer isso dizer?
Heisman encolheu os ombros.
— Ele nunca dá pormenores. É disto que trata a maior parte da primeira metade do diário. Ainda estamos a trabalhar na tradução da segunda metade, que começa com a missão secreta de Archard por mar até à Islândia.
O telemóvel de Gray tocou.
— Desculpem — disse, verificando quem estava a chamar.
Seichan voltou a reparar no brilho de preocupação mais intenso do seu olhar, quase à lor da pele. Sem provavelmente ter consciência disso, ele soltou um pequeno suspiro de alívio.
— É o Monk — informou-a em voz baixa. — É melhor atender lá fora.
Gray desculpou-se e foi para o corredor. Heisman aproveitou o intervalo para consultar Sharyn e, a falar em voz baixa, ambos se debruçaram sobre as fotocópias.
— Deveriam ver isto — disse o curador, mas o resto perdeu-se em sussurros.
Gray en iou a cabeça dentro da sala e fez sinal a Seichan para se juntar a ele.
— Mais sarilhos? — perguntou ela ao passar pela porta.
Ele puxou-a para um canto sossegado e discreto.
— O Monk acabou de ter notícias dos cientistas japoneses. No decorrer da explosão na Islândia houve outro enorme pico de neutrinos dez vezes maior do que no Utah. A atividade vulcânica em todo o arquipélago também já está a decrescer e, por isso, talvez tenhamos sorte. O consenso é que o extremo calor da erupção vulcânica na Islândia aniquilou o nanoninho, impedindo que se dispersasse.
Seichan não pressentiu nenhum alívio nas suas palavras. Vinha aí algo mais.
— Mas as últimas notícias do Japão chegaram há cerca de cinco minutos e, entretanto, os cientistas captaram outro sítio. Pensam que a explosão na Islândia desestabilizou um terceiro esconderijo de nanomatéria.
Seichan imaginou uma cadeia de explosões, umas a seguir às outras.
Primeiro, Utah... depois, a Islândia.... e, agora, a terceira.
Gray prosseguiu.
— E, segundo os registos dos ísicos, este novo depósito deve ser maciço. A vaga de neutrinos em vias de ser gerada é tão grande que têm di iculdade em localizar a sua origem. Tudo o que podem dizer-nos neste momento é que se situa nos Estados Unidos, algures no Oeste.
— É um território demasiado extenso para vigiar.
Gray concordou.
— Os cientistas japoneses estão a contactar com outros laboratórios do mundo para nos arranjar mais informações.
— Há um problema — resmungou Seichan.
— Porquê?
— Fomos emboscados na Islândia por operacionais da Confraria, o que signi ica que têm as mesmas fontes de informação que nós. Contrariámos os seus planos na ilha, mas, agora, eles não vão icar de braços cruzados e permitir que volte a acontecer. Conheço a forma de pensar destes gajos e sei como reagem. Trabalhei nessa organização o tempo su iciente para partilharmos o mesmo ADN.
— Então, qual vai ser a próxima jogada deles?
— Vão impedir o nosso acesso a qualquer nova informação e secá-la de modo que, a partir daqui, só eles tenham a inteligência crítica.
Seichan itou Gray para que ele entendesse a gravidade das palavras seguintes.
— E, depois, irão atrás das nossas fontes no Japão para as silenciar.
1 de junho, 06h14
Prefeitura de Gifu, Japão
Riku Tanaka detestava que lhe tocassem, sobretudo quando estava enervado. Como neste momento. Calçara um par de luvas de algodão e colocara tampões nos ouvidos para atenuar o ruído da agitação à sua volta.
Batia com um lápis no tampo da secretária enquanto observava os dados a passar em tempo real no ecrã. A cada quinta pancada, lançava o lápis ao ar e voltava habilmente a apanhá-lo. Ajudava-o a acalmar.
Embora fosse de manhã cedo, reinava uma grande atividade no seu laboratório — que estava situado no coração do monte Ikeno e era normalmente muito sossegado. Jun Yoshida-sama solicitara mais pessoal depois de ser detetada a enorme vaga de neutrinos: mais quatro ísicos e dois técnicos informáticos. Estavam reunidos à volta de Yoshida, numa instalação vizinha, para tentar coordenar os dados de seis laboratórios internacionais diferentes. Riku afastara-se o mais longe que podia dos outros e refugiara-se no fundo do laboratório.
Enquanto eles trabalhavam no puzzle principal, Riku concentrava-se no menor e, de cabeça inclinada para um lado (ajudava-o a pensar melhor), estudava o grá ico global que cintilava no ecrã. Vários ícones pequenos pontilhavam o mapa, cada um deles representando um pico de neutrinos menor.
— Não vale a pena perder o nosso tempo com isso — dissera Yoshida quando Riku lhe mostrara os resultados.
Riku pensava de maneira diferente. Sabia que, com tanta agitação e estardalhaço, Yoshida estava a desperdiçar a sua energia. Haveria de falhar. A origem da nova vaga captada ao longo da metade ocidental dos Estados Unidos era impossível de localizar. Tinha a mesma pulsação (como um coração a bater) da que ocorrera na Islândia, mas era 123,4 vezes maior.
Apreciava a sequência numérica dessa magnitude.
1, 2, 3, 4.
A sequência era pura coincidência, mas a sua beleza fazia-o sorrir interiormente. Havia uma pureza e um requinte em números que ninguém, exceto ele, parecia compreender.
Continuou a olhar para o mapa. Registara estas leituras anómalas após a primeira explosão de neutrinos no Utah, que dera início à instabilidade na Islândia e também desencadeara estas vagas mais pequenas provenientes de diversos sítios à volta do mundo. E voltara a registá-las quando a situação na Islândia se tornou crítica.
Não vale a pena perder tempo...
Pôs de lado aquela voz irritante, examinando os pequenos pontos à procura de um padrão. Um ou dois eram no Oeste, mas os locais exatos eram obscurecidos pela vaga de neutrinos que, como um tsunami, obliterava todos os pormenores. Era por isso que Yoshida iria falhar.
— Riku?
Alguém lhe tocou no ombro. Estremeceu e voltou-se, deparando com a doutora Janice Cooper de pé, atrás dele.
— Desculpe — disse Janice.
Preferia ser tratada por Janice, mas ele ainda achava desconfortável tal informalidade. Ela retirou a mão do ombro.
Riku enrugou a testa, tentando interpretar os pequenos movimentos musculares da sua face e associá-los a um conteúdo emocional. O melhor que conseguiu foi pensar que ela tinha fome, mas, provavelmente, não era essa a resposta certa. Devido à síndrome de Asperger, ele enganava-se vezes de mais para confiar nas suas opiniões.
Janice aproximou uma cadeira, sentou-se e colocou uma chávena de chá verde ao lado do seu cotovelo.
— Pensei que talvez lhe apetecesse isto.
Ele acenou a cabeça, mas não percebeu porque é que ela tinha de se sentar tão perto.
— Riku, temos estado a tentar compreender por que razão surgiu esta vaga no Oeste.
— O bombardeamento de neutrinos na Islândia atravessou o planeta e desestabilizou uma terceira fonte.
— Sim, mas porquê agora? Porque é que esse depósito não desestabilizou mais cedo depois da explosão do Utah? A Islândia passou por uma fase crítica, mas este depósito no Oeste dos EUA, não. A anomalia está a inquietar os outros físicos.
Riku continuou a examinar o ecrã.
— Energia de ativação — disse, e lançou-lhe um olhar como se fosse óbvio.
E era óbvio.
Ela abanou a cabeça. Não concordava ou não compreendia?
Ele suspirou.
— Algumas reações químicas, como as reações nucleares, requerem uma determinada quantidade de energia para começar.
— Energia de ativação.
Ele franziu a testa. Não tinha acabado de dizer isso? Mas prosseguiu: — Com frequência, a quantidade de energia depende do volume ou massa do substrato. O depósito na Islândia devia ser mais pequeno e, por isso, as quantidades de neutrinos do pico no Utah foram su icientes para o desestabilizar.
Ela acenou a cabeça.
— Mas a explosão de neutrinos na Islândia foi muito maior. Su iciente para desestabilizar o depósito no Oeste. Se tiver razão, isso signi ica que o depósito no Oeste deverá ser muito maior.
Mais uma vez, não tinha acabado de tornar isso claro?
— 123,4 vezes maior.
Enunciar os números ajudou-o a acalmar-se.
— Se houver uma correlação exata de um para um entre a produção de neutrinos e a massa.
Quando Riku deu a sua estimativa, o rosto dela empalideceu um pouco.
Pouco à vontade, ele virou-se para o ecrã, para o seu puzzle de minúsculos pontos luminosos de neutrinos.
— O que acha que são essas emissões mais pequenas? — perguntou Janice após um longo momento de silêncio.
Riku cerrou os olhos para pensar, desfrutando o puzzle. Imaginou os neutrinos a esvoaçar, in lamando os fusíveis dos depósitos instáveis, mas, quando atingiam os alvos mais pequenos, tudo o que faziam eram excitá-
los, desencadeando miniexplosões.
— Não podem ser iguais à substância instável. O padrão não é consistente. Não vejo nenhum paralelismo. Em vez disso, acho que stas marcas são uma substância relacionada com esses depósitos, mas não idêntica.
Ele debruçou-se mais sobre o ecrã, mas não ousou tocar-lhe.
— Aqui está uma na Bélgica. Uma ou duas novamente no Oeste dos Estados Unidos, mas obscurecidas pela nova explosão. E uma reação particularmente forte numa localidade no leste dos EUA.
Janice inclinou-se para a frente.
— Kentucky...
Antes de poder perceber porque tinha ela de se chegar tão perto, o seu mundo desfez-se. Soavam sirenes estridentemente e luzes vermelhas cintilavam ao longo das paredes. O barulho in iltrava-se através dos tampões nos ouvidos como navalhas. Tapou as orelhas com as palmas das mãos. Os outros começaram a gritar e a gesticular. Não conseguia interpretar o significado da expressão dos seus rostos.
O que está a acontecer?
No fundo da sala, as portas dos elevadores abriram-se. Figuras equipadas de preto avançaram armadas com espingardas, espalhando-se pela sala. O metralhar ensurdecedor das armas levou-o a atirar-se para o chão — não para se esquivar das balas, mas para escapar àquele barulho.
Os gritos pioravam ainda mais a situação.
Por baixo da secretária, viu Yoshida cambalear e cair sem grande parte do crânio. Riku não conseguia desviar os olhos da poça de sangue que se formava à volta da sua cabeça.
A seguir, alguém o agarrou. Debateu-se, mas era Janice. Agarrou-o pela gola da bata e arrastou-o, apontando para uma saída lateral. Dava para um enorme espaço aberto, uma antiga mina, mas, atualmente, era o lugar onde se encontrava instalado o detetor Super-Kamiokande.
Riku compreendeu. Tinham de fugir do laboratório. Permanecer escondido aqui era morte certa. Para sublinhar este pensamento, ouviu mais tiros. Os invasores estavam a matar toda a gente.
Mantendo-se escondido por detrás de uma ileira de secretárias, seguiu Janice na direção da saída lateral. Fechou a porta atrás deles e pôs-se a esquadrinhar o local.
Ecoaram detonações no poço da mina que conduzia à super ície. Além do novo elevador, era o único meio para entrar ou sair do laboratório. Os assassinos ocupavam ambas as saídas e convergiam para onde eles estavam.
— Por aqui! — chamou Janice, puxando-o por um braço.
Fugiram juntos na única direção que podiam, correndo ao longo de outro túnel. Mas Riku sabia que não tinha saída. Os comandos iriam cair-lhes em cima em segundos. Ao fim de trinta metros, alcançaram uma gruta.
Ele conseguia ver o teto em abóbada lá no alto. Estava revestido por polietileno para impedir que o rádon se in iltrasse. Em posição inferior estava o detetor Super-Kamiokande, um tanque maciço inoxidável cheio de cinquenta mil toneladas de água ultrapura e com treze mil tubos fotomultiplicadores.
— Vamos — disse Janice.
Contornaram precipitadamente o setor eletrónico. O enorme espaço estava juncado de equipamento e mecanismos, empilhadores e carrinhos de mão. E, por cima, havia um andaime amarelo suspenso por gruas. Tudo para prestar serviços técnicos e de manutenção ao detetor Super-Kamiokande.
Um grito em árabe ressoou nas paredes atrás deles. Os atacantes aproximavam-se.
Riku procurou à volta. Não havia lugar onde se esconderem. Seriam descobertos em segundos.
Janice continuava a puxá-lo. Parou junto ao depósito de equipamento de mergulho e, então, ele compreendeu.
E recuou.
— É a única maneira — insistiu ela, sussurrando.
Colocou-lhe nos braços um pesado reservatório de ar, equipado com um regulador. Riku não teve outro remédio senão agarrá-lo. Ela girou a válvula de cima e o ar começou a sair pelo bocal. Depois, pegou noutro reservatório e precipitou-se para uma espécie de escotilha no chão. Abria sobre uma gigantesca câmara cheia de água. Os mergulhadores usavam-na para substituir sobretudo os tubos fotomultiplicadores dani icados do Super-Kamiokande.
Janice en iou o bocal do regulador entre os lábios dele. Riku teve vontade de cuspir — o sabor era péssimo — mas segurou o silicone. Ela apontou para o buraco sombrio.
— Entre!
A tremer de medo, Riku aproximou-se da abertura e saltou com os pés para a frente para a água fria. O peso do reservatório puxou-o rapidamente para o fundo. Esticou o pescoço e viu Janice mergulhar, fechando a escotilha atrás dela.
A mais absoluta escuridão envolveu-o.
Riku continuou a mergulhar às cegas, soltando bolhas de ar ao pousar os pés no fundo. Agachou-se, abraçado ao reservatório de ar, a tremer — de medo, mas o frio em breve tornaria aquilo pior.
A seguir, uns braços encontraram-no e abraçaram-no. Uma face encostou-se à dele, muito quente. Janice abraçava-o no meio da escuridão.
E, pela primeira vez na vida, tocarem-lhe fazia-o sentir-se bem.
31 de maio, 17h32
Washington, DC
— Archard levou um mês para ir de barco até à Islândia — dizia o doutor Heisman. — Esses mares eram particularmente bravios.
Gray sentou-se ao lado de Seichan quando o curador começou a resumir a outra metade do diário de Fortescue. Sharyn terminara a tradução enquanto ele fora dar o alarme acerca de um possível ataque no Japão.
Os seus joelhos tremiam de impaciência. Desejava ouvir este relato, mas queria igualmente estar no centro de comando da Sigma para saber se os físicos japoneses estavam bem.
Olhou de lado para Seichan.
Está ela a ser exageradamente paranoica?
Não achava. Tinha con iança na sua opinião, principalmente no que dizia respeito à Confraria. Avisara logo Kat, que, por sua vez, alertara as autoridades japonesas quanto à potencial ameaça. Ainda estavam todos à espera de notícias.
— No decorrer dessa longa viagem, Archard passou muitos dias a escrever pormenorizadamente as suas teorias sobre os índios pálidos, o povo mítico que deu aos antepassados dos iroqueses estes poderosos dons.
Reunira histórias acerca de índios de pele branca contadas por muitas tribos e ouvira boatos sobre colonos que diziam ter encontrado povoações anteriores fundadas por gente que não era índia, como as so isticadas técnicas de construção provavam. Archard parecia sobretudo estar convencido de que essa gente era de origem judaica.
— Judaica? — inquiriu Gray, endireitando-se na cadeira. — Porquê?
— Ele fala de uma escrita gravada no mapa de ouro índio que lhe pareceu ser hebreu, embora um pouco diferente.
Sharyn leu a passagem correspondente.
— As garatujas no mapa são de um escriba desconhecido. Poderiam ter sido escritas por um índio pálido? Consultei as mais eruditas autoridades rabinas e todas concordaram que existe uma certa semelhança com a antiga escrita judaica; contudo, todas a irmam que não é realmente hebreu, mas talvez esteja relacionada com essa língua. É um mistério irritante.
Enquanto ela lia, Heisman acenava a cabeça, cada vez mais agitado.
— É, de facto, um mistério — repetiu. — Enquanto a Sharyn terminava a tradução e você estava ocupado a contactar a sua gente por causa do que se passa no Japão, recebi informação sobre o que me inquietava acerca do primeiro esboço do Grande Selo, aquele com as catorze flechas.
Heisman puxou uma pilha de papéis.
— Veja por baixo do próprio Selo. Há algo escrito que mal se vê, quase como anotações.
Gray reparara naquilo, mas não dera importância.
— E então?
— Bem, consultei um especialista em línguas antigas. A escrita é uma forma antiga de hebreu, exatamente como Archard mencionou. Nas letras em curva por baixo do selo está escrita a palavra Manassés, o nome de uma das dez tribos perdidas de Israel.
Gray mostrou-se mais atento. Horas antes, Painter enviara um e-mail em que especulava com a possibilidade de esse povo antigo, o Tawtsee’untsaw Pootseev, ser descendente de uma tribo perdida de Israel.
E Painter também se referia ao Livro de Mórmon cujas escrituras sustentavam que uma tribo exilada de israelitas — o clã de Manassés — tinha vindo para a América.
Heisman continuou: — De facto, os Pais Fundadores pareciam obcecados com as tribos perdidas de Israel. Quando o comité encarregado de desenhar o original do Grande Selo se reuniu pela primeira vez, Benjamin Franklin exprimiu o desejo de o desenho incluir uma cena do Êxodo, quando os israelitas partiram para o exílio. E Thomas Jefferson sugeriu uma ilustração dos filhos de Israel no deserto.
Gray examinou o esboço do selo. Sabiam os Pais Fundadores que esta tribo perdida alcançara a costa da América? Tinham de algum modo icado a saber que os «índios pálidos» descritos pelos iroqueses eram, na realidade, israelitas exilados?
Tudo levava a crer que sim. E deviam ter tentado incorporar esse conhecimento no Grande Selo para homenagear a tribo.
As palavras seguintes de Heisman sugeriram que Gray tinha razão.
— O que acho estranho é que as tribos de Israel eram todas representadas por diferentes pares de símbolos. No caso do clã de Manassés, era um ramo de oliveira e um feixe de flechas.
Heisman olhou para Gray.
— Porque é que os Pais Fundadores utilizaram os símbolos dessa tribo no Grande Selo?
Gray desconfiou que ele sabia a resposta para essa pergunta, mas tinha uma preocupação mais imediata. Fez sinal para Heisman prosseguir.
— Está tudo muito bem, mas vamos passar para a altura em que Fortescue chegou à Islândia...
Heisman pareceu icar desapontado, mas pôs o desenho do Grande Selo de lado.
— Muito bem. Conforme disse, a viagem de Archard até à Islândia demorou um mês, mas ele mostrava-se cada vez mais con iante de que haveria de encontrar a ilha marcada no mapa. No entanto, depois de desembarcar, não descobriu nada e, vinte e dois dias mais tarde, começou a desesperar. A seguir, a sua sorte mudou. Um dos seus homens deixou cair uma maçã quando investigava um complicado sistema de grutas e o fruto rolou por um declive que ninguém notara. Baixaram uma lâmpada e viram ouro a brilhar no fundo.
— Tinham encontrado o sítio certo — concluiu Seichan.
— Ele descreve pormenorizadamente a gruta e fala de caixas de pedra que continham centenas de placas de ouro gravadas com a mesma escrita proto-hebraica. Também encontrou vasos de ouro maciço cheios de um elixir prateado seco, que é frequentemente mencionado. Ficou bastante excitado e fez muitos desenhos.
Pelo tom da voz do curador, era evidente que estava igualmente excitado. Fez deslizar uma das páginas na direção de Gray e Seichan e bateu repetidas vezes com um dedo no meio.
— São os vasos de ouro que continham o elixir.
Ao vê-los, o rosto de Gray crispou-se. Os desenhos mostravam urnas altas com várias cabeças esculpidas nas tampas: a de um chacal, um falcão, um babuíno e um homem de capuz.
— Parecem vasos canopos egípcios — disse.
— Sim, Archard também pensava a mesma coisa. Ou, pelo menos, reconheceu que tinham origem egípcia. Declarou que os índios pálidos talvez fossem refugiados da Terra Santa, uma seita secreta de magos que tinha raízes judaicas e egípcias. Mas tais especulações terminaram abruptamente. Depois disto, a sua escrita torna-se muito negligente e apressada. Nota-se que estava em pânico.
— Porquê?
A um sinal do seu chefe, Sharyn começou a ler.
— Ouvi dizer que um barco se dirige para a Islândia. O Inimigo descobriu a investigação que andamos a fazer e aproxima-se. Jamais poderão encontrar este esconderijo de tesouros perdidos. Os meus homens e eu faremos o possível para os afastar desta ilha. Rezem para que sejamos bem-sucedidos.
Vamos zarpar para a costa, para o frio continente, e atraí-los atrás de nós.
Guardarei uma pequena amostra do tesouro na esperança de conseguir alcançar a costa da América. Mas, no caso de falhar, deixo este diário em testamento.
Heisman cruzou os braços.
— É assim que o diário termina, com Archard a fugir do inimigo, mas creio que podemos reconstituir o que sucedeu depois.
— A erupção em Laki — murmurou Gray.
— O sítio do vulcão não ica longe da costa. Archard deve ter percorrido uma certa distância, mas deu-se a catástrofe.
Gray testemunhara pessoalmente acontecimentos desses. Uma explosão seguida por uma violenta erupção vulcânica.
Heisman suspirou.
— Depois disso, sabemos pela carta de Thomas Jefferson que o nosso francês se retirou do mundo para expiar a morte de mais de seis milhões de pessoas, causada pelas suas ações.
— Até ser convocado vinte anos mais tarde por Jefferson para levar a cabo uma nova missão. Juntar-se a Lewis e Clark numa expedição ao Oeste.
Gray deixou as peças ajustarem-se na sua cabeça.
— De acordo com a data no mapa que nos mostrou anteriormente, Jefferson concluiu a aquisição da Louisiana em 1803 e, nesse mesmo ano, encarregou o seu amigo, o capitão Meriwether Lewis, de formar uma equipa para explorar esses antigos territórios franceses e as terras mais a oeste.
Gray estava tão seguro do seu raciocínio que sentia a cabeça a zumbir.
— Fortescue acompanhou-os. Fora enviado para encontrar aquele local no mapa índio, encontrar o que o próprio Fortescue acreditava ser o coração da nova colónia, a cidade perdida.
Seichan acompanhava a sua linha de pensamento.
— E deve tê-lo encontrado. Ele desapareceu da história e Lewis foi assassinado.
Gray virou-se para Heisman.
— Tem um mapa da expedição de Lewis e Clark?
— Claro. Só um momento.
— Ele e a assistente rebuscaram pilhas de volumes e depressa descobriram o livro certo.
— Aqui está.
Gray examinou uma página. Passou um dedo ao longo do itinerário que começava em Camp Wood, em St. Charles, Missouri, e terminava em Fort Clatsop, na costa do oceano Pacífico.
— Algures ao longo deste caminho, ou perto dele, tem de estar o local da décima quarta colónia perdida.
Mas onde?
O seu telemóvel tocou. Tinha-o deixado em cima da mesa e, de relance, viu que era o número de emergência da Sigma.
Seichan também viu.
— Volto já — disse, dirigindo-se de novo para a porta. Seichan juntou-se a ele no corredor.
Gray atendeu.
— Monk?
— É a Kat, Gray. O Monk vai a caminho de carro para se encontrar contigo.
— O que se passa? Quais são as notícias do Japão?
— Más. Um grupo de comandos matou quase toda a gente no laboratório.
Praguejou em silêncio. Tinham sido demasiado lentos.
Kat continuou.
— Mas dois funcionários importantes sobreviveram. As autoridades japonesas pescaram-nos do tanque de água do detetor de neutrinos. Um lugar inteligente para se esconderem. A nosso pedido, estão sob custódia da PSIA.
A PSIA era o acrónimo da agência de informação japonesa. Terem-na chamado era uma precaução sensata. Se ninguém soubesse que havia sobreviventes, a Sigma teria a possibilidade de superar a Confraria. E Kat também sabia disso.
— Falei ao telefone com um deles — acrescentou Kat. — Uma estudante americana pós-graduada. Ela disse que, antes do ataque, os ísicos japoneses ainda não tinham descoberto a origem da última vaga de neutrinos. Mas relatou um facto estranho, algo que o ísico que sobreviveu também notou. Ele estava inquieto acerca de umas explosões de neutrinos que detetara. Não dei muita importância a esse pormenor até ela me dizer onde era a fonte dessas leituras.
— Onde?
— Talvez num ou em dois sítios no Oeste, mas ele não conseguia localizá-los com precisão por causa do movimento de fundo dos neutrinos provenientes do pico maior. Dos dois foi capaz de identi icar um, na Bélgica.
Ela deixou a informação a pairar e Gray levou apenas um pequeno instante para reconhecer a sua importância. Lembrou-se de o capitão Huld lhe ter dito que um grupo de caçadores chegara à ilha Ellioaey antes de Gray. E eram da Bélgica. Monk devia ter feito a mesma conexão. Podia tratar-se de uma coincidência, mas Gray não acreditava.
Apressou-se a contar a Kat.
— Os comandos na Islândia vinham da Bélgica. Tem de ter um significado qualquer. E onde é que fica o outro sítio de que o físico falou?
— No Kentucky.
Kentucky?
Kat continuou: — O Monk vai a caminho para te apanhar. Quero que veri iquem a localização. Temos de aproveitar totalmente esta informação enquanto ainda podemos.
Gray sentiu alguma hesitação da parte dela.
— O que é que o chefe Crowe pensa disto?
— Não pensa nada. Não o consigo apanhar desde que recebemos esta notícia. Dirigia-se para o deserto. Vou continuar a tentar contactar com ele enquanto vocês vão a caminho. Mas não podemos esperar. Se as coisas mudarem, avisar-te-ei. Também estou em contacto com o chefe do estado-maior do presidente.
Isso espantou-o.
— Porquê envolver Gant?
— Onde vão, precisam de uma ordem presidencial para entrar. Só a assinatura de Gant abrirá essas portas.
— Que portas? Onde vamos?
A resposta deixou-o siderado. Após mais alguns pormenores, Kat desligou. Gray deparou com Seichan a fitá-lo.
— Para onde nos vão mandar agora?
Ela abanou lentamente a cabeça, tentando compreender o que acabara de ouvir e, depois, respondeu-lhe.
— Fort Knox.
25
31 DE MAIO, 14H55
DESERTO DO ARIZONA
— O que está a fazer viola tanto a lei federal como a do Estado — declarou Nancy Tso.
Painter ignorou a ameaça e utilizou um punhal para extrair os últimos bocados de argamassa que selavam a laje de arenito por cima da conduta de ventilação.
Nancy Tso, de pé, com as mãos nas ancas, estava à beira da área de petróglifos esculpidos no chão. A sua arma encontrava-se em poder de Kowalski, que se apoderara da pistola da guarda-lorestal sem ela perceber e que, agora, a mantinha à distância.
— Desculpe, Nancy — disse Hank Kanosh. — Estamos a tentar ser tão cuidadosos quanto podemos.
E, para o provar, Hank afastou com mil precauções os pedaços de argamassa e, com uma escova, limpou a areia que cobria os símbolos.
Entretanto, Kawtch farejava tudo o que o dono tocava como se fosse uma brincadeira.
A suar e com o pescoço a arder sob o calor do Sol, Painter continuou a esgravatar. Decorridos cinco minutos sentiu a placa a vibrar sob as palmas das mãos.
Hank sentiu a mesma coisa.
— A laje já deve estar solta. O ar que vem de baixo está a fazê-la mexer.
Trabalhando à volta, Painter conseguiu encontrar uma abertura para en iar a lâmina. As bordas inclinavam-se para o interior como um tampão de borracha. Empurrou o punhal até ao cabo e levantou ligeiramente a pedra, mas tinha cerca de dez centímetros de espessura e era demasiado pesada para Hank a levantar sozinho.
Voltou a baixá-la e chamou Kowalski.
— Dá aqui uma ajuda.
— E ela? — perguntou Kowalski, apontando com o polegar para a guarda-florestal.
Painter inclinou-se para trás, apoiando-se nos calcanhares. Precisava da cooperação de Nancy, o que signi icava mostrar-se franco e revelar-lhe a gravidade da situação.
— Guarda-lorestal Tso. Tenho a certeza de que ouviu falar das erupções vulcânicas no Utah e na Islândia.
Ela continuou a olhar para ele, sem que as rugas de cólera à volta dos olhos e a expressão dura da boca se modificassem.
— O que procuramos está relacionado com essas duas catástrofes.
Muitas pessoas morreram e muitas mais também hão de morrer se não obtivermos respostas. Respostas que podem encontrar-se aqui debaixo.
Ela abanou a cabeça com ar trocista.
— O que está a dizer?
— Os Anasazi. — interveio Hank. — Temos provas de que a atual atividade vulcânica está diretamente relacionada com o que deu origem à Sunset Crater e à aniquilação dos Anasazi. Não posso adiantar-lhe muito mais pormenores, exceto que os símbolos que lhe mostrámos, a lua e a estrela esculpidas na gravura rupestre da laje, são indícios dessa tragédia.
— Temos de prosseguir o nosso trabalho — insistiu Painter. — Para salvar vidas.
Ela olhou para Painter, depois para Hank e de novo para Painter. Por fim, Nancy soltou um suspiro e as rugas desapareceram.
— Vou dar-lhes um pouco de espaço. Por agora. Mas tenham cuidado.
Estendeu a mão para Kowalski.
— Pode devolver-me a arma?
Painter observou-a, interpretando a sua linguagem corporal, tentando perceber se era um ardil para reaver a pistola. Parecia sincera e não podiam continuar a desconfiar uns dos outros.
— Dá-lha — ordenou a Kowalski.
Por uns instantes, Kowalski deu a impressão de ir recusar, mas, depois, entregou a arma com a coronha virada para Nancy, que pegou nela, empunhou-a durante um longo momento enquanto todos esperavam e, finalmente, meteu-a rapidamente no coldre.
Fez sinal a Kowalski para avançar.
— Vá lá, eu ajudo-o.
Foi necessário o esforço dos três para retirar a pedra da abertura. E
Kowalski arrastou-a depois até à parede e deixou-a lá encostada.
— Satisfeita? — perguntou ele a Nancy, limpando as mãos nas calças.
Ela não respondeu e virou-se para o buraco. Painter tirou uma lanterna da mochila e apontou-a para baixo. O feixe de luz iluminou um poço largo com paredes inclinadas num ângulo acentuado.
— Tem degraus! — exclamou ela, espantada.
Degraus era um termo exagerado. Talhados na rocha, havia apoio para os pés que não davam para apoiar mais do que a biqueira do sapato. No entanto, sempre era melhor do que nada. Não precisariam de cordas.
Kowalski debruçou-se sobre a abertura.
— Que horror! — exclamou, abanando uma mão diante do rosto. — Cheira pessimamente.
Hank acenou a cabeça.
— Enxofre. E quente. O que não é normal numa conduta de ventilação.
Deve haver alguma atividade geotérmica lá em baixo...
Era um pensamento desconcertante, mas não tinham outro remédio senão continuar.
Virou-se para Nancy.
— Não se importa de esperar aqui?
Ela assentiu com um aceno de cabeça.
— Mas, por favor, conceda-nos as duas horas prometidas — acrescentou enfaticamente, temendo que, assim que partissem, ela chamasse os colegas.
— Dei-lhe a minha palavra de honra — disse ela. — E tenciono respeitá-la.
Com a cauda entre as pernas, Kawtch recuou. O odor e o aspeto estranho do buraco deviam tê-lo assustado. Painter não o censurava por essa reação.
Hank estendeu a trela de Kawtch à guarda-florestal.
— Pode olhar pelo Kawtch enquanto espera?
— Julgo que não há mais nada que possa fazer. Ele não quer ir lá abaixo. É provavelmente o mais esperto de todos.
Painter fez uma rápida chamada ao comando da Sigma para informar Kat e Lisa da situação. E começou a descer pela passagem, pousando cuidadosamente o salto da bota em cada apoio talhado na rocha. Não queria escorregar e cair no esquecimento. Ia à frente, apontando o feixe de luz, enquanto Kowalski cobria a retaguarda com outra lanterna na mão.
O túnel não parava de descer e, em poucos minutos, a abertura lá no alto reduziu-se a um simples ponto de luz. Em frente, a temperatura era cada vez mais quente e cheirava cada vez pior. Os olhos e as narinas de Painter ardiam, uma sensação desagradável que era exacerbada pelo vento a soprar-lhe constantemente na cara. Não sabia até onde poderiam ir sem serem obrigados a voltar para trás.
— Devemos estar muito fundo debaixo da mesa — calculou Hank. — Pelo menos, a trinta metros. Toquem nas paredes. Já não são de arenito, mas do calcário que constitui a base da maior parte do planalto do Colorado.
Painter também se apercebera da mudança. Até onde é que isto vai?
Kowalski devia fazer-se a mesma pergunta. Sorveu ruidosamente no tubo da sua garrafa de água e, depois, cuspiu, praguejando.
— Se encontrarmos um gajo com cascos e uma forquilha, pisgamo-nos a bater com os calcanhares no rabo, não é?
— Ou até mesmo antes de isso suceder — disse Hank, tossindo por causa da qualidade do ar.
Painter continuou a avançar até um silvo constante e um suave rugido lhe chegarem aos ouvidos. A luz da lanterna revelava que tinham chegado ao fim do túnel.
Finalmente.
— Há qualquer coisa à nossa frente — avisou.
Percorreu os últimos metros com mais cautela e penetrou numa cavidade que era simultaneamente aterradora e maravilhosa na sua beleza. Afastou-se para que os outros pudessem juntar-se a ele.
Kowalski soltou uma praga e Hank levou a mão à boca e murmurou: — Deus meu...
O túnel ia dar a uma enorme gruta, su icientemente alta para alojar um prédio com cinco andares. O teto era uma abóbada perfeita, como se a câmara tivesse sido formada a partir de uma bolha na rocha calcária. Só que esta bolha rebentara há muito.
À esquerda, uma cascata jorrava através de uma larga fratura no alto da parede precipitando-se no interior da gruta — mas não era uma cascata de água. Da fenda saía lama espessa preta a escaldar e a vomitar vapores de enxofre. Formava um grande lago que ocupava metade da gruta e era alimentado por dezenas de luxos do mesmo líquido lamacento que vertiam de issuras mais pequenas. O lago desembocava numa garganta ao meio da gruta e, borbulhando, desaparecia numa fossa do outro lado.
— Espantoso — comentou Hank. — Um rio de lama subterrâneo. Deve ser uma das artérias geotérmicas que correm através do planalto do Colorado desde a cadeia vulcânica de São Francisco.
Mas não eram os primeiros a descobrir esta artéria gigantesca.
Uma ponte em arco construída com lajes de arenito, compridas e estreitas — facilmente identi icada pelo padrão e estilo com os índios Pueblo — passava por cima da garganta fumegante.
— Como é que foi feita uma coisa destas aqui em baixo? — indagou Kowalski.
Hank respondeu.
— As tribos antigas desta região eram engenheiros fenomenais capazes de construir complexas e vastas habitações a meio caminho de penhascos. Para eles, esta ponte seria fácil de fazer. Devem ter transportado manualmente cada uma destas lajes para aqui.
Os olhos do professor adquiriram uma aparência vítrea — ou devido ao ar que os picava ou ao facto de imaginar uma tal proeza de engenharia.
Avançou. Rochas partidas cobriam o chão da gruta, mas alguém tinha, há muito, aberto um caminho para chegar à ponte.
Ao aperceber-se do objetivo de Hank, Painter seguiu-o. Do outro lado, um caminho semelhante ia ter a um túnel na parede oposta. Parecia que a viagem através deste mundo subterrâneo ainda não terminara.
Ao aproximarem-se da ponte, o calor tornou-se escaldante. O ar estava saturado de enxofre e era quase impossível respirar. Tinham conseguido chegar tão longe porque a brisa constante que atravessava a gruta empurrava os fumos mais tóxicos pelo poço acima.
— Acha que é seguro atravessar? — perguntou Kowalski, recuando juntamente com Hank que também parecia pouco à vontade.
— Há séculos que esta ponte se mantém aqui — respondeu Painter. — Mas vou seguir sozinho e, se tudo correr bem, faço-lhes sinal para passarem, um de cada vez.
— Tenha cuidado — aconselhou Hank.
Era essa a intenção de Painter. Aproximou-se da ponte. Tinha uma boa vista do fosso. A lama borbulhava, chapinhando as paredes calcárias que se erguiam de ambos os lados da garganta. Cair lá em baixo seria morte instantânea.
Colocou outro pé e, a seguir, outro. Deteve-se um instante. Parecia sólida e foi avançando. Estava mesmo por cima do fosso. Ao ouvir um ligeiro rangido sob o seu peso, parou novamente, engolindo o medo. O suor escorria-lhe pelas costas e os olhos ardiam.
— Está bem? — gritou Kowalski.
Painter ergueu um braço para tranquilizar o companheiro, mas teve receio de gritar. Continuou a avançar até chegar ao outro lado e saltar de felicidade para terra firme.
Inclinou-se, aliviado, pousando as mãos nos joelhos.
— Podemos passar? — gritou Hank.
Painter limitou-se a acenar com a mão.
Os dois atravessaram em segurança e, após um breve período para se recomporem, encaminharam-se para a passagem.
Logo que chegaram à entrada, foram recompensados por uma brisa fresca que saía do fundo do túnel. O ar tinha um cheiro mineral, mas, depois do ardor sulfuroso da gruta, era bem-vindo.
Kowalski estendeu uma mão.
— De onde vem isto?
— Só há uma maneira de descobrir — disse Painter, retomando o caminho.
Enquanto avançavam, Hank propôs uma resposta mais pormenorizada.
— O sistema de ventilação da gruta deve expandir-se por baixo da terra até muito mais longe. Para uma gruta respirar desta maneira, necessita de um grande volume de ar fresco. — Apontou para trás dele. — A gruta de ar quente está a empurrar o ar frio para cima e a brisa continua até à superfície, expelindo o calor para fora.
Painter lembrou-se da estimativa do volume da gruta por baixo da abertura de ventilação de Wupatki. Quase duzentos milhões de metros cúbicos. Sentiu que este era maior, mas até onde teriam de descer?
O túnel continuava a afundar-se, tornando-se mais íngreme em certos sítios e quase plano noutros. Mas nunca subia. E fazia cada vez mais frio.
Dez minutos depois, o gelo começou a cobrir as paredes e a refletir a luz da lanterna de Painter. Lembrou-se do que Nancy contara acerca dos túneis de lava gelados por baixo do cone da Sunset Crater. O mesmo fenómeno acontecia aqui.
Dentro de pouco tempo, até mesmo o chão se tornou mais traiçoeiro.
Kowalski deu uma queda aparatosa. A brisa soprava cada vez mais forte e o frio gelado queimava as faces de Painter com a mesma intensidade do calor do enxofre há alguns minutos.
— Sou só eu — perguntou Kowalski enquanto se punha outra vez em pé — ou mais alguém está a pensar na expressão quando o inferno gelar?
Painter não respondeu. A luz da sua lanterna iluminava inalmente o im do túnel. Avançou apressadamente, deslizando na super ície escorregadia. Chegara a outra gruta. Parou à entrada, estupefacto pelo que via diante dele.
Kowalski assobiou estridentemente.
E Hank abriu a boca de espanto.
— Encontrámo-los.
Painter compreendeu o que ele queria dizer.
Tinham encontrado os Anasazi.
16h14
— É quase como ver um jogo de vídeo, n’est-ce pas? — perguntou Rafael.
Estava sentado na cabina da retaguarda de um helicóptero de vigilância — um dos dois aparelhos alugados a uma milícia privada que patrulhava a fronteira mexicana à procura de «narcoterroristas». Com janelas fumadas à prova de bala e os motores a trabalhar, os dois helicópteros estavam pousados no deserto a dois quilómetros da mesa.
A cabina de Rafael tinha duas cadeiras que giravam facilmente entre um banco corrido de um lado e, do outro, uma parede com equipamento, incluindo gravadores digitais, leitores de DVD e três monitores LCD, tudo ligado a recetores de micro-ondas e câmaras exteriores.
No monitor central, uma imagem tremida mostrava um grupo de comandos a subir através de uma fenda na encosta da mesa com umas ruínas no alto. O sinal vinha da câmara montada no capacete de Bern, permitindo a Rafael coordenar mais uma vez o assalto.
Virou a cadeira para Kai Quocheets que estava sentada no banco corrido ao lado de um dos colegas de Bern. De braços cruzados, ela itou-o com ar carrancudo, visivelmente furiosa pela sua traição. Desde que tinham partido dos pueblos, depois do assassínio do idoso casal Hopi, que ela não dizia palavra. Rafael sentia-se um pouco mal por causa disso e admitia para consigo que cometera uma ação indigna, mas desculpava-se porque a viagem até aos pueblos o fatigara e a resistência da mulher durante o interrogatório o enfurecera. Acreditava, agora, que o casal não sabia realmente nada.
Um desperdício.
E se esta jovem não fosse tão teimosa, talvez lhe atirasse um osso, mas, em vez disso, deixava-a amuar.
Seja.
Olhou para os monitores. O grupo che iado por Bern chegou ao alto da mesa e cercou o local onde o satélite localizara pela última vez a equipa de Painter Crowe a desaparecer por uma passagem do outro lado. A imagem não era suficientemente boa para revelar mais pormenores.
Não fora di ícil seguir a pista do chefe da Sigma até ali. Algumas chamadas, uns interrogatórios e foi su iciente, especialmente depois de o grupo de Painter solicitar licenças ao serviço do parque nacional. Não foram mencionados nomes, mas quantas equipas de três homens, com um cão, tencionavam visitar os con ins do deserto? Foram comparadas as descrições e através dos contactos da família Saint Germaine com a comunidade cientí ica, Rafael conseguiu aceder ao satélite geo ísico e supervisionar o deserto à volta do pueblo Fenda-na-Rocha.
Levantaram voo e, a cerca de dois quilómetros da mesa, o grupo de Bern descarregara o equipamento e atravessara o deserto a pé.
Rafe aproximou o rosto do ecrã.
— Onde é que esse chato do seu tio se encontra agora? — sussurrou para o monitor.
Viu Bern subir com a elegância de um verdadeiro atleta, saltando de pedra em pedra com uma pesada mochila às costas e uma espingarda a tiracolo. Rafe reparou que a sua mão esquerda esfregava a coxa, com inveja. Fechou a mão. A única coisa com que podia contar era viver indiretamente através dos outros. Como o fazia neste momento.
Concentrando-se e bloqueando outros estímulos, podia ser Bern durante breves períodos.
Bern não era um indivíduo que deixasse um subordinado correr um risco que ele recusaria enfrentar. Por isso, tomou a dianteira e, aproximando-se de um monte de tijolos partidos, parte de uma antiga muralha, alcançou a passagem escondida. Antes de entrar, fez uma série de sinais aos seus homens que Rafe entendeu sem dificuldade.
Movam-se depressa ao meu sinal. Vão.
Pelo canto do olho, viu o re lexo de Kai num dos monitores desligados quando ela se mexeu para ver melhor o que se passava no ecrã. Podia agir como sobrinha desinteressada, mas Rafe notou que ela icava ansiosa sempre que o ouvia falar do tio.
Ou quando mencionava o outro prisioneiro.
O rapaz — Jordan Appawora — encontrava-se no outro helicóptero, estacionado a vinte metros, para assegurar a cooperação de Kai.
No ecrã, Rafe viu Bern deslizar pela passagem abaixo, pronto para qualquer eventualidade. Imaginou o calor no seu rosto, a pressão no peito ao suster a respiração e a tensão nas costas e nos braços quando manipulava a pesada espingarda.
Bern chegou a uma curva e lançou um rápido olhar para a fenda. Uma fração de segundo foi o su iciente para avaliar a situação. Ter uma câmara montada no ombro de Bern era uma vantagem. Rafe recuperou a imagem e paralisou-a no ecrã para a examinar mais de perto.
As paredes estavam profusamente decoradas com petróglifos, mas apenas encontrou uma única igura viva naquele espaço reduzido. Uma mulher, provavelmente a guarda-lorestal que servia de guia ao grupo de Painter. Estava de costas para a câmara, segurava uma trela e olhava para um buraco aberto no chão.
Ah, quer dizer que foram por aí...
Rafe suspirou.
— Não vais facilitar isto, pois não, mon ami?
Levou o rádio aos lábios.
— Bern, parece que temos de fazer isto à força. Vamos ter de tornar isto pessoal para atrair a nossa presa.
Rafe voltou a surpreender o reflexo de Kai ao dar esta ordem.
— Abate a guarda. Vamos entrar.
Bern surgiu no ecrã com a arma levantada.
A guarda-lorestal deve ter ouvido qualquer coisa porque se virou. A espingarda de Bern disparou silenciosamente e a mulher tombou no chão.
Kai ofegou.
Rafe estendeu o braço e encontrou a mão de Ashanda, sentada ao seu lado em silêncio — estátua negra, quase esquecida, mas nunca longe do seu coração.
— Vou precisar da tua ajuda — disse-lhe Rafael, apertando-lhe ligeiramente os dedos.
16h20
Da entrada da gruta, Hank observou o túmulo gelado dos Anasazi preservado há séculos debaixo da terra. Tentou compreender o que via.
Não pode ser...
Uma camada espessa de gelo azul cobria as paredes e o chão e estalactites escorriam do teto abobado. Do outro lado, meio embutida no gelo via-se uma aldeia congelada no tempo. Os blocos das antigas casas do pueblo caídos uns sobre os outros atingiam a altura de quatro andares. Era Wupatki renascido, mas maior. Os residentes daqui não tiveram melhor sorte. Corpos enegrecidos e mumi icados atolados no gelo como se tivessem sido arrastados das suas casas. Escadas de madeira e potes de barro partidos e enterrados, sobretudo num dos lados da gruta, juntamente com montes de cestos e cobertores tecidos à mão.
— Deve ter havido uma inundação — disse Painter, apontando para outros túneis. — Afogou toda a gente e, depois, congelou.
Hank abanou a cabeça.
— Primeiro, o seu povo morreu pelo fogo... e, depois, pelo gelo.
— Talvez tivessem sido amaldiçoados — comentou Kowalski.
Talvez...
— Tem a certeza de que são Anasazi? — perguntou Painter.
— Pela roupa que vestem, a arquitetura dos edi ícios e as invulgares marcas brancas e pretas da cerâmica, esta pobre gente pertencia a um clã dos Anasazi.
Hank avançou uns passos.
— Estes devem ter sido os últimos sobreviventes, aqueles que escaparam à erupção vulcânica e ao massacre. Devem ter fugido de Wupatki e tentado recomeçar aqui, escondidos debaixo de terra com a entrada protegida pela pequena cidadela no alto.
— Mas quem selou a entrada? — indagou Painter. — Porque a marcaram com o símbolo da lua e da estrela dos Tawtsee’untsaw Pootseev?
— Talvez uma tribo vizinha que quisesse ajudar este último bastião do clã. Selaram-na com uma pedra tumular gravada com a marca daqueles que, segundo acreditavam, eram responsáveis pelo castigo in ligido a esta gente. Um aviso para que outros não entrassem.
Painter consultou o relógio.
— A propósito, devíamos examinar o que pudermos e regressar.
Hank notou o desapontamento na sua voz. Devia estar à espera de descobrir mais do que um cemitério gelado. Espalharam-se, vendo onde punham os pés. Hank não estava preparado para examinar os corpos.
Pegou na lanterna e inspecionou os níveis mais baixos do pueblo.
Teve de quebrar o gelo que bloqueava a porta para entrar. Encontrou o corpo de uma criança que fora arrastado para um canto como tantos outros detritos. Uma pequenina mão esquelética saía do gelo como se estivesse a pedir para ser salva.
— Desculpa... — sussurrou e continuou a avançar.
A geada e o gelo cobriam tudo, re letindo o feixe de luz da lanterna com uma beleza macabra. Mas por baixo daquela cintilante luminosidade só havia morte.
A sua busca tinha um vago objetivo em mente, o coração do pueblo, um lugar onde prestar as suas homenagens. Baixando a cabeça para passar por outra porta, chegou a uma espécie de átrio no meio de uma confusão de salas. Sucediam-se terraços enfeitados por regatos de gelo. Imaginou crianças a brincar, chamando-se umas às outras, repreendidas pelas mães enquanto amassavam pão.
Mas só teve de olhar para mais longe para pôr termo às suas re lexões.
Estalactites pendiam do teto e apontavam ameaçadoramente para ele.
Podiam cair a qualquer momento e trespassá-lo, punindo-o por ter invadido este espaço assombrado.
Mas os deuses deste povo tinham outros planos para este intruso.
De olhar ixo nas estalactites, só viu o buraco quando já era demasiado tarde. A perna direita en iou-se por ali abaixo, e soltou um grito ao cair.
Tentou segurar-se, perdeu a lanterna e deslizou pela ina camada de gelo como um patinador sem conseguir agarrar-se a nada.
Mergulhou com os pés para a frente, pensando que ia morrer.
Mas as botas embateram rapidamente contra gelo sólido — o buraco era da sua altura. O que o livrou de ter partido o pescoço ou, pelo menos, uma perna, foi a câmara onde caiu estar meio cheia de gelo. Recuperou a lanterna e olhou para o buraco.
Ouviu a voz de Painter chamá-lo.
— Hank!
— Estou bem! — gritou. — Mas preciso de ajuda. Caí num buraco!
Enquanto esperava que o socorressem, examinou a câmara com a ajuda da lanterna. Era circular e revestida de tijolos. Percebeu que caíra exatamente no lugar que procurara.
Tinha a certeza de que algum deus estava a rir-se, divertido.
Havia pequenos nichos na parede mais ou menos ao nível do gelo.
Normalmente, os nichos encontravam-se a meio da altura das câmaras. Um brilho atraiu a sua atenção para o nicho maior.
Não... como podia ser?
Viu sombras a mexer no chão de gelo. Levantou a lanterna e viu Painter e Kowalski a olharem para ele.
— Magoou-se? — perguntou Painter sem fôlego e visivelmente inquieto.
— Não, mas talvez queira saltar para aqui. Não sei se deva tocar neste objeto.
Painter franziu o sobrolho, mas Hank acenou, incitando-o a descer.
— OK — Painter acabou por concordar. — Kowalski, amarra uma corda a um lugar seguro e atira-a para baixo.
Painter virou-se e deixou-se cair na câmara.
— O que encontrou, professor?
Hank fez um gesto que incluía toda a câmara.
— Isto é um kiva, o centro espiritual de uma povoação Anasazi. A igreja deles, basicamente.
Apontou a lanterna para cima.
— Construíam-nos no interior de poços como este. O buraco no alto chama-se sipapa e representa o local mítico onde os primeiros Anasazi apareceram no mundo.
— OK, mas porquê esta aula de religião?
— Para que compreenda o que eles veneravam aqui ou, pelo menos, guardavam como uma espécie de oferenda aos deuses.
Apontou a lanterna na direção do nicho maior.
— Julgo que esse objeto talvez seja o que os ladrões roubaram aos Tawtsee’untsaw Pootseev, o que levou ao fim dos Anasazi.
17h06
Painter aproximou-se do nicho, apontando também a sua lanterna. Não que o objeto necessitasse de mais iluminação pois brilhava com nitidez, apenas envolto numa fina camada de gelo.
Espantoso...
No interior do nicho encontrava-se um vaso de ouro com cerca de quarenta e cinco centímetros de altura e uma cabeça esculpida de um lobo no alto. O minúsculo busto era perfeitamente pormenorizado, das orelhas arrebitadas aos pelos hirsutos. Até os olhos pareciam prestes a piscar.
Baixando a luz, reconheceu uma escrita familiar gravada na parte da frente do vaso, com linhas precisas e regulares.
— Trata-se da mesma escrita encontrada nas placas de ouro — disse Painter.
Hank acenou a cabeça. Deve ser a prova de que este totem pertenceu aos Tawtsee’untsaw Pootseev, não acha? E que os Anasazi o roubaram.
— Talvez — murmurou Painter. — E o vaso? Ou me engano ou é parecido com as urnas usadas pelos antigos egípcios para guardar os órgãos dos mortos.
— São chamados vasos canopos — disse Hank.
— Exatamente. Só que a tampa deste é a cabeça de um lobo.
— Os egípcios decoravam as urnas com animais existentes na terra onde nasceram. Se quem moldou este vaso nasceu na América do Norte, a cabeça de lobo faz sentido. Os lobos sempre foram totens poderosos por estas bandas.
— Mas isso não dá cabo da sua teoria sobre os Tawtsee’untsaw Pootseev? Não são eles a tribo perdida de Israel conforme diz o Livro de Mórmon?
— Não, não arruína de modo algum a minha teoria.
A excitação elevava o tom de voz do professor.
— Pelo contrário, suporta-a.
— Como assim?
Hank levou as mãos aos lábios, tentando controlar o regozijo. Parecia pronto a ajoelhar-se ali mesmo.
— Segundo as nossas escrituras, as placas de ouro que John Smith traduziu para compor o Livro de Mórmon estavam escritas numa língua descrita como sendo egípcio reformado. Citando o capítulo nove, versículo trinta e dois: E, agora, eis que escrevemos esta crónica de acordo com o nosso conhecimento, nos carateres chamados entre nós egípcio reformado, sendo escritos e alterados por nós, de acordo com a nossa maneira de falar.
Hank virou-se para encarar Painter.
— Mas ninguém viu essa escrita — realçou. — Depois de John Smith as ter traduzido, as placas de ouro originais desapareceram. Consta que foram devolvidas ao anjo Moroni, e tudo o que sabemos dessa língua é que parecia derivar do hebreu. Uma variante que evoluiu desde o tempo que a tribo saiu da Terra Santa.
— Nesse caso, porque chamar-lhe egípcia? Reformada ou não.
— Creio que as respostas se encontram aqui — assinalou Hank. — Sabemos que as tribos de Israel tinham relações complexas com os egípcios, uma mistura de antepassados. Como lhe disse antes, a primeira representação do símbolo da lua e da estrela data dos antigos moabitas que, naquela época, partilhavam laços de sangue tanto com os israelitas como com os egípcios. Assim, quando a tribo perdida veio para as Américas devia ter uma herança comum com cada um desses mundos. E aqui está a prova, uma combinação da cultura dos egípcios com a dos antigos hebreus.
Que tem de ser preservada.
Painter estendeu a mão para o vaso.
— Quanto a isso, podemos concordar.
— Cuidado — preveniu Hank.
A base do vaso estava enterrada uns centímetros no gelo, mas não era isso que inquietava o professor. Ambos sabiam o que acontecia quando alguém manipulava sem precaução objetos deixados pelos Tawtsee’untsaw Pootseev.
— Creio que não deve fazer mal — disse Painter. — Há séculos que está congelado.
Painter lembrava-se de que Ronald Chin dissera que a mistura explosiva precisava de calor para se manter estável ou de calor extremo para ser destruída. Só se desestabilizava quando icava fria. Susteve a respiração ao pousar a mão na tampa. Levantou-a, abrindo uma ligeira fenda no gelo, e apontou a lanterna para o interior.
Expeliu o ar contido.
— Está vazio. Exatamente como eu pensava.
Passou a tampa a Hank e começou a puxar o vaso do gelo. Após uns fortes puxões, conseguiu.
— É pesado — disse, voltando a colocar a tampa. — Aposto que este ouro é feito de metal com a mesma densidade do das placas. Os antigos devem tê-lo usado para isolar a mistura instável.
— Porque julga isso?
— Quanto mais denso o metal, melhor retém o calor. Pode levar mais tempo a aquecer, mas, logo que este ouro aquece, guarda o calor durante mais tempo. No caso de haver repentinas variações de temperatura, este isolamento seria uma segurança. E também lhes concederia tempo adicional para transferirem a substância de uma fonte de calor para outra.
Hank abanou a cabeça perante tal engenho.
— Quer dizer que o ouro ajudou este povo antigo a estabilizar a mistura.
— Creio que este vaso não foi usado. Mas, considerando o que aconteceu em Sunset Crater, os Anasazi também devem ter roubado um que estava cheio.
Painter virou o vaso na mão.
— E olhe para isto. No outro lado do vaso.
Hank aproximou-se, ficando ombro a ombro com Painter.
Havia o desenho pormenorizado de uma paisagem: um riacho sinuoso, uma montanha escarpada com árvores e, no meio, algo que parecia um pequeno vulcão em erupção.
— O que acha que é? — perguntou Painter.
— Não sei.
Antes de terem tempo para re letir, uma corda caiu pesadamente e quase atirou ao chão o vaso que Painter segurava.
— Tem cuidado, Kowalski — gritou-lhe Painter.
— Desculpem.
Painter colocou-se debaixo da abertura e, estendendo ambos os braços, ergueu o vaso.
— Vem buscar isto.
Kowalski pegou na peça e soltou um assobio apreciador.
— Pelo menos encontrámos um tesouro! O meu rabo ferido sente-se menos magoado.
Com esforço, Painter e Hank conseguiram sair do kiva e os três homens acabaram por encontrar um caminho que os conduziu para fora do pueblo congelado. Aceitando carregar aquele fardo na viagem de regresso, Painter embrulhou o vaso juntamente com as placas que Kai roubara. O peso total devia ser de vinte e cinco a trinta quilos.
— Vamos voltar antes que Nancy chame a cavalaria.
Ao encaminhar-se para o túnel, um vulto saiu a correr e passou-lhe por entre as pernas, quase o fazendo cair. Atemorizado, Hank recuou, mas reconheceu quem era.
— Kawtch! — balbuciou, surpreendido.
O cão encostou-se às pernas do dono, às voltas e a ganir. A trela pendia da coleira, emaranhando-se nos pés do velho. Ele ajoelhou-se para acalmar o cão.
— Deve ter escapado à Nancy — disse.
— Julgo que aconteceu algo pior — acrescentou Painter, apontando a lanterna para o gelo. A trela a arrastar deixara um traço carmesim-escuro ao longo da superfície.
Sangue.
26
31 DE MAIO, 20H07
LOUISVILLE, KENTUCKY
Apressem-se e esperem...
Monk esquecia-se constantemente de que este era o lema dos militares.
Detestava refrear o andamento. Os três estavam sentados na cabina de um Learjet 55 num terminal privado do aeroporto de Louisville. Era um modelo antigo, mas trouxera-os sãos e salvos ao Kentucky e ele apreciava estes velhos aparelhos com um pouco de ar debaixo da cauda. Olhou pela janela ao longo do comprimento das asas brancas à procura da pista alcatroada.
O trio esperava a chegada de um destacamento da guarnição do exército dos EUA em Fort Knox para os escoltar até ao Bullion Depository.
Encontravam-se ali há mais de dez minutos. O joelho de Monk começou a tremelicar. Detestara deixar Kat na Sigma. Ela começava a ter cólicas e, porque ela já estava grávida de oito meses, deixava-o nervoso. Ela dizia que eram apenas espasmos por icar sentada muito tempo, mas ele estava suficientemente nervoso para interpretar uma simples indigestão como um aborto espontâneo ou dores de parto iminentes.
Kat empurrara-o praticamente porta fora para o obrigar a partir, depois de um longo abraço. Ele pousara a mão no ventre dela — como pai orgulhoso, marido afetuoso e até médico do exército para se certi icar de que Kat estava bem. Apesar de ela ter mantido a expressão de jogadora de póquer ao longo de todo o relatório a seguir aos acontecimentos na Islândia, ele sabia que se assustara.
Sabia sempre melhor do que ninguém.
E, agora, este salto noturno ao Kentucky. Queria acabar com isto e voltar para junto dela tão depressa quanto possível. Adorava missões, odiava estar inativo, mas, com um bebé para breve, desejava apenas estar ao seu lado a esfregar-lhe os pés.
Ele era assim.
Monk encostou a testa ao vidro.
— Onde estão?
— Hão de vir — disse Gray.
Monk voltou a reclinar-se no banco a olhar ixamente para Gray.
Precisava de alguém a quem culpar. O interior do jato tinha quatro bancos de cabedal: dois virados para a frente e dois virados para a cauda. Estava sentado em frente de Gray e Seichan estava ao lado deste com a perna má sobre o banco da frente.
— Fazemos ideia do que vamos procurar? — perguntou Monk, não porque esperasse resposta, mas apenas para se distrair.
Gray continuou a olhar pela janela.
— Talvez eu faça.
O joelho de Monk parou de saltitar. Até Seichan olhou para Gray. Antes de levantarem voo, o plano era simplesmente aparecer em Fort Knox e dar uma vista de olhos ao lugar. Não era necessariamente a estratégia mais brilhante, mas ninguém sabia qual era a misteriosa origem por detrás desses neutrinos radioativos. As leituras anómalas captadas pelos cientistas japoneses podiam, ou talvez não, ser signi icativas. Os três vinham à pesca, mas deixaram as canas em casa.
— Qual é a tua ideia? — perguntou Monk.
Gray pegou num dossiê en iado ao lado da almofada do banco. Lera todos os relatórios referentes a esta missão. Se alguém podia destrinçar todos os pormenores e obter um resultado, era Gray. Por vezes, Monk desejava que a sua mente funcionasse assim, mas talvez fosse melhor não.
Estava a par dos fardos que, com frequência, eram colocados sobre os ombros do amigo. Contentava-se em representar o papel secundário.
Alguém tinha de carregar o lixo e dar de comer ao cão.
— Reli a avaliação do ísico — disse Gray, levantando a cabeça. — Sabiam que ele tem a síndrome de Asperger?
Monk encolheu os ombros e abanou a cabeça.
— O tipo é um génio e, provavelmente, também possui uma intuição fantástica. Acredita que as pequenas explosões de neutrinos que detetou, aqui no Oeste e na Europa, se devem a algo intimamente relacionado, embora diferente, com a substância que desestabilizou e explodiu no Utah e na Islândia. E declara que a nova substância pode ser um isótopo ou talvez até um subproduto da fabricação de material explosivo. Em qualquer dos casos, está convencido de que estão relacionadas.
— Onde queres chegar? — perguntou Seichan, reprimindo um bocejo com o punho.
— Escutem-me até ao im. Os outros artefactos nanológicos antigos encontrados no interior da gruta índia eram o punhal de aço e as placas de ouro.
Gray fitou insistentemente Monk.
— Painter levou duas dessas placas com ele para o Oeste.
— Onde as outras leituras foram registadas — disse Monk, acompanhando o raciocínio de Gray.
— Também foi captada uma leitura em Bruxelas, de onde vieram os comandos da Confraria que enfrentámos na Islândia. Julgo que a Confraria possui uma dessas placas. Reparem no modo violento como foram atrás da sobrinha de Painter. Talvez a placa deles se encontre em segurança na Bélgica.
Seichan baixou a perna ferida e endireitou-se no banco.
— E, agora, todos nos dirigimos para um depósito de ouro.
Monk pensou que entendia.
— Acham que alguma dessas placas de ouro pode estar escondida em Fort Knox.
— Não — corrigiu-o Gray, dando umas palmadinhas no dossiê. — Tenho andado a fazer pesquisas sobre a história de Fort Knox e as primeiras casas da moeda dos Estados Unidos. Sabiam que Thomas Jefferson ajudou a fundar a primeira casa da moeda, localizada em Filadél ia? Até mandou cunhar um conjunto de moedas de prata com o seu rosto, que foi levado na expedição de Lewis e Clark. E também mandou cunhar moedas de ouro.
Monk tentou seguir a linha de pensamento de Gray, mas em vão.
— O primeiro diretor da Casa da Moeda de Filadélfia chamava-se David Rittenhouse. Como Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, era um homem da Renascença: relojoeiro, inventor, matemático e político. E também era membro da Sociedade Filosófica Americana.
Monk reconheceu o nome.
— Como esse francês. Fortescue não fazia parte desse grupo?
Gray acenou a cabeça.
— Com efeito. Assim como todas as principais iguras envolvidas neste caso, Rittenhouse era um grande amigo de Jefferson. Pertencia certamente ao seu círculo mais íntimo e era um companheiro de confiança.
— OK... — disse hesitantemente Monk.
— Segundo o diário de Fortescue, o mapa índio foi escondido por Jefferson. Gray citou de cor o diário.
— Sempre astucioso, Jefferson concebeu uma maneira de preservar o mapa índio, de o proteger e manter para sempre fora do alcance do inimigo sem rosto. Usaria o ouro para o ocultar à vista de todos. Ninguém suspeitaria que o tesouro estivesse escondido no coração do Selo.
Seichan percebeu antes de Monk.
— Pensas que Rittenhouse ajudou Jefferson a esconder o mapa na casa da moeda? Ocultá-lo à vista de todos.
— Penso, sim. Mais tarde, em 1937, o ouro da Casa da Moeda de Filadél ia foi transportado para Fort Knox e, nessa altura, constou igualmente que tinham sido encontrados lingotes de ouro que datavam da época colonial.
— O que signi ica que o mapa também pode ter mudado de sítio — interveio Monk. — Mas como podemos ter a certeza? Ninguém teria reparado num mapa feito de ouro, en iado em bocados de osso de mastodonte?
— Não sei — admitiu Gray. — Temos de ir à procura. Mais uma coisa.
Fortescue a irma que o mapa índio foi feito com o mesmo ouro que não fundia, igual ao das placas escritas.
Monk compreendeu.
— Quer dizer que, se as placas irradiam neutrinos, o mapa também.
Gray acenou a cabeça.
Monk recostou-se, apreciando egoisticamente como a mente única do amigo funcionava. Com esta explicação, talvez pudessem voltar para DC
antes da meia-noite.
Um guinchar de travões chamou a atenção de Monk. Um grande Humvee cor de areia parou ao lado do jato.
Monk levantou-se.
— Finalmente, parece que a nossa boleia chegou.
20h37
Podia o mapa estar realmente escondido em Fort Knox?
Preocupado, Gray sentou-se no banco de trás do Humvee, a olhar pela janela enquanto o pesado veículo descia a Dixie Highway e virava para o Bullion Depository. O blindado também transportava a escolta: quatro soldados da brigada de combate da guarnição do exército dos Estados Unidos em Fort Knox. Ao chegar aos portões principais da base, tiveram de mostrar os passes e a identi icação, e o guarda fez-lhes sinal para seguirem. A partir dali, o veículo acelerou na noite quente, dirigindo-se para o edifício mais bem guardado: Fort Knox Bullion Depository.
Gray avistou a fortaleza em frente numa clareira, rodeada por cercas e iluminada como uma prisão de granito. Os portões estavam protegidos por guaritas enquanto quatro torreões se elevavam em cada canto do depósito como as torres de um castelo. Sabia que logo que estivessem no interior, haveria um número infindável de medidas para defender o local contra um ataque: alarmes, câmaras, guardas armados e tecnologia esotérica, como analisadores biométricos, programas de reconhecimento facial e até mesmo sensores sísmicos. Isto para referir apenas os sistemas de defesa geralmente conhecidos. Os restantes eram con idenciais. Constava que as instalações podiam ser inundadas num abrir e fechar de olhos — quer por água, como sucedia no Banco de França, ou até por gases tóxicos.
É evidente que para chegar ao círculo dos portões da fortaleza, tinha primeiro de se passar pela base militar com quarenta mil hectares que rodeava o depósito — tarefa intimidante se considerarmos os numerosos helicópteros de combate, os tanques blindados, a artilharia e os trinta mil soldados.
Gray olhou para o colo.
A não ser que se tivesse o bilhete dourado, a entrada era bastante difícil.
A ordem presidencial, dobrada e pousada nos seus joelhos, ostentava um selo de cera, ao mesmo tempo o icial e arcaico, que fora recentemente brasonado pela assinatura do presidente James T. Gant. O depósito não oferecia itinerários guiados, as visitas eram proibidas, e só dois presidentes americanos ali tinham entrado. A única maneira de entrar no Bullion Depository era por ordem do presidente. Gray sabia que os documentos necessários já tinham sido enviados ao agente de serviço e que iam encontrar-se com ele na entrada principal.
Gray pôs-se a mexer no selo com um dedo, perguntando-se o que aconteceria se o quebrasse antes de o agente de serviço o ver. Seria uma ação insensata. A Sigma usara todos os recursos para conseguir este documento em tão pouco tempo. Mas o presidente Gant estava em dívida para com a Sigma por lhe ter salvo a vida na Ucrânia e, por isso, o chefe do estado-maior atendera o telefonema de Kat.
As ordens presidenciais eram especí icas e válidas apenas para esta noite. Olhou para Seichan e para Monk. Era-lhes permitida uma única visita ao cofre para procurarem qualquer ameaça à segurança nacional e removê-la do local. Era toda a amplitude da sua autorização. Qualquer ação que a ultrapassasse seria considerada um ato hostil.
O Humvee fez uma curva e entrou na Gold Vault Road. Mesmo com as ordens na mão, foram necessárias licenças adicionais para atravessar os portões ladeados por guaritas. Acabaram por passar e percorreram uma longa estrada até à entrada principal da fortaleza.
— Chegámos a casa, minha querida — resmungou Monk em voz baixa.
O amigo de Gray reajustou a mão protética ao pulso e mexeu os dedos.
No itinerário de quarenta e cinco quilómetros para chegar ao depósito, Monk, ainda ansioso e para se manter ocupado, passara o tempo a fazer um diagnóstico rápido à nova mão. Apesar de usar a prótese há anos, continuava a achar desconcertante vê-la mexer-se, como um apêndice decepado saído de um ilme de terror. Um transmissor sem ios enxertado no pulso de Monk podia controlar a mão. Por sorte, os guardas não assistiram àquele espetáculo anormal.
Por im, o Humvee parou e um homem alto de fato azul aproximou-se do veículo.
Devia ser o agente de serviço. Era mais novo do que Gray esperava — trinta e poucos anos, o cabelo louro cortado à escovinha e um modo de andar tipicamente texano. Apertou irmemente a mão de Gray sem demonstrar agressividade.
— Mitchell Waldorf — apresentou-se em voz ligeiramente arrastada.
— Bem-vindo ao Depository. Não é frequente recebermos visitas, sobretudo a esta hora.
Um brilho de divertimento cintilou nos seus olhos verde-acinzentados.
Gray fez as devidas apresentações e mostrou as ordens presidenciais.
O homem mal olhou para elas e conduziu-os prontamente à entrada, deixando a escolta militar lá fora. Ao entrarem numa sala de mármore, Waldorf entregou as ordens a um homem fardado. Nada havia de acolhedor na atitude do enorme militar negro. Sem proferir palavra, retirou-se e entrou com as ordens na mão por uma porta marcada CAPITÃO
DA GUARDA. Gray suspeitou que os documentos iriam ser meticulosamente inspecionados e veri icados. Kat fabricara uma cobertura a toda a prova e fornecera identi icações falsas e insígnias — como agentes da Agência de Segurança Nacional. Gray esperava que tudo estivesse em ordem.
Entretanto, eles também tinham de ser examinados.
— É o exame mais recente do protocolo de segurança — explicou Waldorf. — Foi imposto há dois meses. Scanners de corpo inteiro. Hoje em dia, temos de ser muito cuidadosos.
Ao entrar na máquina, Gray foi sujeito ao scan corporal com ondas milimétricas enquanto um técnico com a farda da polícia de Fort Knox examinava o pequeno ecrã. Outros guardas davam-lhe apoio, mas, a esta hora, não havia muita gente. A maior parte das medidas de segurança eram eletrónicas e não se viam.
Concluído o scan, o técnico fez sinal a Gray para o seguir até à sala de espera. Enquanto esperava pelos outros, examinou um conjunto de balanças gigantescas encostadas a uma parede. Tinham três metros e meio de altura e pratos com um metro e vinte de largura. Um pouco mais longe, erguiam-se as portas de aço maciças do cofre. Por cima, via-se o selo de ouro do Departamento de Tesouro.
— Não pode trazer isso para aqui — ouviu o técnico dizer atrás dele.
Gray virou-se, supondo que fosse Seichan a provocar um incidente.
Ter-se-ia esquecido do punhal escondido no corpo? Mas o motivo da observação do técnico era Monk.
O seu amigo ainda estava no scanner com a mão protética levantada.
— Isto está ligado ao meu corpo — queixava-se.
— Desculpe. Se o scanner não a pode analisar, não pode entrar. Pode esperar junto à porta ou deixar a prótese connosco.
— São as nossas regras — disse uma voz grossa.
O capitão da guarda voltara.
O rosto de Monk estava vermelho.
— Pronto.
Desligou as conexões magnéticas que ligavam a mão ao implante e passou a prótese a outro técnico que a guardou numa caixa de plástico.
Monk fez novo scan e juntou-se aos outros.
— Fiquem a saber que as vossas regras — disse — não respeitam as disposições da ADA.
O capitão da guarda ignorou-o e apresentou-se.
— Sou o capitão Lyndell. Vou acompanhá-los enquanto aqui estiverem.
O agente de serviço responderá às vossas perguntas, mas, antes de abrirmos o cofre, quero perguntar-vos uma coisa: Qual é exatamente o âmbito da ameaça à segurança nacional que estão a investigar?
— Receio que não o possamos divulgar — respondeu Gray.
O homem não apreciou a resposta.
Gray entendeu a sua frustração. Se estivesse no seu lugar, também não ficaria contente.
— Para ser franco, a ameaça é provavelmente pequena e talvez tenhamos di iculdade em identi icá-la. Toda a ajuda que o senhor ou o agente Waldorf nos possam dar, será bem-vinda.
Este apelo à cooperação pareceu apaziguá-lo.
De certo modo.
— Então, vamos a isto.
Lyndell encaminhou-se para a porta do cofre e marcou uma longa combinação. Mais duas pessoas ficaram à espera para fazer a mesma coisa.
Não havia um único indivíduo que soubesse a combinação completa.
Depois dos dois terem terminado, o capitão da guarda adicionou uma última sequência.
Uma luz vermelha por cima do mostrador passou a verde e a porta de aço com vinte toneladas começou a abrir-se. Levou um minuto a abrir o suficiente para o grupo entrar.
— Queiram seguir-me — convidou Waldorf.
Era óbvio que seria ele a guiá-los.
Lyndell seguiu atrás deles para os vigiar.
— Neste momento — disse Waldorf —, temos cerca de cento e cinquenta milhões de onças de ouro aqui armazenadas. É o su iciente para fazer um cubo de ouro maciço com seis metros de lado. Claro que não é um método muito conveniente para o guardar. É por isso que temos o depósito com dois andares e cada andar está subdividido em compartimentos mais pequenos. Vamos entrar no primeiro andar.
Waldorf afastou-se para os deixar passar e virou-se para Gray.
— Tem muito espaço onde procurar. Se há uma maneira de limitar a busca, agora é o momento de a revelar. De outro modo, icaremos aqui muito tempo.
Gray passou através da espessa porta de aço para um corredor com cofres mais pequenos. Pilhas de lingotes de ouro até ao teto brilhavam no interior. O volume intimidava.
Desviou o olhar e dirigiu-se a Waldorf.
— Creio que a primeira pergunta a fazer é se tem armazenada qualquer coisa de invulgar, além do ouro.
— O quê? Frascos com gás que ataca os nervos, narcóticos, agentes biológicos? Já ouvi uma data de coisas. Até mesmo que tínhamos o corpo de Jimmy Hoffa e extraterrestres. No passado, o depósito armazenou peças de grande valor histórico. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, guardámos os originais da Declaração de Independência e da Constituição, juntamente com a Magna Carta inglesa e as joias da coroa de várias nações europeias. Mas há décadas que aqui nada mudou. Para dizer a verdade, há muitos anos que não entra nem sai ouro do depósito.
— Então fale-me do ouro propriamente dito — insistiu Gray. — Vejo uma data de lingotes, mas não outras formas.
— Sim, claro. Também guardamos moedas de ouro e barras de ouro feitas com moedas fundidas. Além das barras-padrão, também possuímos uma série de peças mais antigas.
— Barras de ouro mais antigas? — perguntou Monk, apontando direito ao alvo.
— Sim, senhor. Barras de ouro de todas as épocas da história americana.
Gray acenou a cabeça.
— É isso que gostaríamos de ver. Especi icamente o que foi tirado da Casa da Moeda de Filadélfia e que data da época colonial.
A atitude descontraída de Waldorf crispou-se ligeiramente.
— Porque é que isso interessaria à segurança nacional?
— Não temos bem a certeza — respondeu Gray, o que era basicamente verdade. — Mas podemos começar por aí.
— OK, esta expedição é por vossa conta. Teremos de descer à cave onde a maior parte do ouro não foi mexida desde que foi transportada para o Kentucky de comboio.
Waldorf dirigiu-se para a escada e conduziu-os à secção subterrânea do cofre. Gray perguntou-se novamente se este lugar fora construído para ser inundado no caso de haver uma falha na segurança. Imaginou o cofre cheio de água e a afogar-se no meio de toda aquela fortuna.
— Por aqui — disse o guia, avançando com passos decididos ao longo do corredor.
As barras aqui em baixo não estavam tão bem empilhadas como no andar de cima por causa dos seus diversos tamanhos.
Waldorf acenou com a mão para seguirem em frente.
— Toda esta secção veio de Filadél ia. Aqui, temos ouro armazenado do tempo em que essa casa fez as primeiras cunhagens. Está no compartimento ali ao fundo. Sigam-me.
Ao chegarem ao seu destino, Lyndell usou uma chave para abrir a porta gradeada de um compartimento com um metro quadrado. Parecia arrumado ao acaso — mas, infelizmente, cheio. Uma secção do compartimento continha blocos irregulares com o feito de pequenas bigornas; outra, pilhas de varas quadrangulares; e uma terceira, placas planas do tamanho de pequenas bandejas.
Desanimado, Gray olhou para aquilo, imaginando ondas de partículas subatómicas a inundar aquele espaço. Se este era o cofre certo, como iriam encontrar a agulha neste palheiro de ouro?
Não sendo pessoa para se furtar ao trabalho, Monk introduziu-se no pequeno espaço e iniciou a busca. Era um homem mais dado à ação do que à introspeção — e, por vezes, esse temperamento recompensava.
— Ei, vem ver isto — chamou, apontando para um das placas largas num monte mais pequeno. — Está marcada com o Grande Selo.
Gray juntou-se a ele. Uma águia-careca de asas estendidas com um ramo de oliveira e um feixe de lechas nas garras estava grosseiramente gravada na placa de ouro.
— Lembra-te do que Fortescue escreveu acerca do Selo — disse Monk.
Gray
lembrava-se: Ninguém suspeitaria que o tesouro estivesse escondido no coração do Selo.
— Talvez ele se referisse ao Grande Selo — acrescentou Monk.
Gray examinou a placa de cima. Tinha trinta e cinco centímetros por vinte e cinco de super ície e dois centímetros e meio de espessura. Embora não houvesse medidas precisas quanto às suas dimensões, o antigo mapa índio fora encontrado servindo de revestimento ao crânio de um mastodonte e, por isso, deveria ser razoavelmente grande — como estas placas planas.
Observou o espaço. Deve haver mais de uma centena destas placas. Qual delas poderia ser? Teria uma dessas placas — no meio de tantas — o desenho rudimentar de um mapa? Só havia uma maneira de o saber.
Seguiria o exemplo de Monk. Chegara a altura de usar a força bruta.
— Vamos começar tirando-as para fora — disse Gray.
21h10
Seichan afastou-se para o lado enquanto Gray e Monk tiravam as placas de ouro do pequeno compartimento e empilhavam-nas no exterior. A perna ferida impedia-a de ajudar. Mas, mesmo em forma, teria de fazer um esforço. Cada uma pesava mais de trinta quilos.
Não entendia como Monk conseguia levantá-las só com uma mão. Os dois homens tiraram o casaco e arregaçaram as mangas da camisa. Gray examinava ambas as super ícies à procura dos traços de um mapa. Pedira a Lyndell e a Waldorf para os deixarem sozinhos. Eles afastaram-se discretamente. Falavam em voz baixa um com o outro, mas mantinham-nos debaixo de olho.
O capitão da guarda parecia ter as suas dúvidas.
E com toda a razão.
Gray e Monk já iam a meio do trabalho sem terem descoberto nada.
Gray pegou em mais uma placa e Seichan notou que os seus lábios estavam crispados. Não se devia ao esforço, mas à frustração. Com o suor a escorrer-lhe da testa, pousou um joelho no chão e equilibrando a placa verificava ambas as superfícies.
Ela aproximou-se dele a coxear.
— Eu procuro deste lado e tu, do outro.
— Obrigado — agradeceu Gray, olhando-a por cima da placa. — Parece que andamos à caça de gambozinos.
— O teu raciocínio pareceu-me válido — disse Seichan, passando ao de leve as pontas dos dedos por cima da super ície de ouro. — Tudo o que podemos fazer é continuar à procura.
— Encontraste alguma coisa do teu lado?
— Não.
Gray colocou-a sobre as outras.
— Há uma coisa que me está a importunar — disse, baixando a voz. — Se Jefferson gravou o mapa antigo numa destas placas, como é possível que ninguém o tenha visto? Algum comentário?
— Talvez o mapa não tenha sido gravado à superfície, mas no interior.
— O que queres dizer com isso?
— Segundo o francês, o mapa foi feito com nano-ouro, um ouro muito mais denso que não funde a temperaturas normais. Para preservar e esconder o mapa, porque não verter ouro vulgar por cima para o tapar completamente? Sem correr riscos. E para recuperar o mapa, basta fundir o ouro vulgar pois o nano-ouro requer temperaturas muito mais elevadas.
Gray levou a mão à testa húmida.
— Tens razão. Devia ter pensado nisso.
— Não podes pensar em tudo.
E tu não podes tomar conta de toda a gente.
Seichan reparara que ele consultava regularmente o relógio. O Sol tinha-se posto em Washington e ela sabia que Gray estava preocupado com o estado mental do pai.
— Foi o que Fortescue escreveu no diário — disse Gray, irritado consigo mesmo. — O tesouro está escondido no coração do Selo.
Monk chamou-os.
— Olhem para isto.
Gray e Seichan juntaram-se a ele no compartimento, mas mal podiam mexer-se.
— Olhem para o selo desta — disse Monk, mostrando-lhes uma placa.
Seichan espreitou por cima do ombro de Gray, sentindo a humidade do corpo dele através da camisa suada. Não percebia porque estava Monk tão excitado, mas notou que os músculos dos ombros de Gray se tornaram tensos.
— Tem de ser essa — murmurou Gray.
— Porém, não há nenhum mapa — protestou Monk. — Veri iquei ambos os lados.
— Não veri icaste lá dentro... — disse Gray, lançando um olhar a Seichan e quase lhe tocando a face com os lábios.
Ela afastou ligeiramente a cabeça para falar.
— Onde é que vocês os dois querem chegar? O que é que esta placa tem de tão importante?
Gray puxou-a contra ele e, pegando-lhe nos dedos, fê-los passar por cima do feixe de flechas nas garras da águia.
— Há catorze flechas.
Seichan voltou-se para ele. Lembrou-se do esboço de uma das primeiras versões do Grande Selo feito quando Jefferson e os seus aliados contemplavam a criação de uma colónia índia. Também tinha catorze flechas.
— Tem de ser esta — repetiu entusiasticamente Gray.
— Mas como podemos ter a certeza? — perguntou Monk. — Não devíamos verificar primeiro as restantes placas?
Gray abanou a cabeça.
— Há uma maneira de tirarmos isto a limpo. Se esta placa oculta um mapa no seu coração, podemos descobri-lo comparando meramente o seu peso com o das outras desta série. O mapa, caso esteja alojado no interior, é feito de um material mais denso e a placa que o contiver pesará ligeiramente mais.
— Que tal aquelas balanças gigantescas que vimos na entrada?
— São provavelmente demasiado rudimentares, mas podemos pedir ao Waldorf que nos ajude. Com todo este ouro, devem ter balanças mais precisas.
Gray levantou a placa enquanto Seichan e Monk procuravam outra para as comparar. Depois, foram ter com Waldorf e Lyndell.
Gray explicou o que precisavam, mas sem justi icar o pedido, o que obviamente irritou o capitão da guarda.
Lyndell avançou para Seichan e Monk e tiroulhes as placas como se fossem feitas de madeira.
— Vamos. Há um departamento de pesos e medidas no exterior do cofre. Quanto mais depressa fizermos isto, mais cedo sairão daqui.
Seguiram-no. Tinham dado apenas uns passos no corredor quando foram rodeados por um grupo de soldados de armas em riste.
— O que é isto? — indagou Lyndell.
Um oficial avançou e entregou-lhe uma folha de papel, apontando com a outra mão para Seichan.
— Acabámos de saber que esta mulher é uma terrorista conhecida procurada pela CIA e vários governos estrangeiros.
Seichan icou gelada. A sua cobertura fora exposta. Não fazia sentido.
As suas credenciais eram perfeitas. Olhou para o posto de segurança na sala de receção. Segundo Waldorf, fora recentemente instalado. Teria desencadeado algum sinal de alarme, transmitindo uma reprodução tridimensional dela que correspondia aos elementos de um base de dados existente algures? Independentemente das causas, o resultado era o mesmo.
Todos os olhos — e armas — se viraram para ela.
— Deram-nos ordem para a prender e quem estivesse com ela — continuou o oficial. — E de disparar se resistissem.
Lyndell virou-se, vermelho, para eles.
— Eu sabia que havia algo de errado convosco.
Apontou para a placa de ouro que Gray segurava e ordenou aos soldados.
— Levem imediatamente todo o ouro para o cofre.
Seichan virou-se para Gray, desculpando-se em silêncio.
Com ar desapontado, Waldorf tirou uma pistola do coldre debaixo do casaco e, dando um passo em frente, disparou um tiro na nuca de Lyndell.
A detonação fê-los dar um pulo e baixarem-se.
A placa que Lyndell segurava caiu com estrondo, fendendo o chão de mármore.
Isto foi apenas o começo. A um sinal de Waldorf, quatro soldados — os mesmos que os tinham escoltado do aeroporto — abriram fogo sobre os outros, que tombaram e tudo acabou em segundos.
Um massacre a sangue frio.
— Filhos da mãe — gritou Gray.
Monk veri icou o pulso de Lyndell. Baixou depois a mão e olhou para os soldados mortos com igual desânimo.
— Agarrem nessa placa de ouro — ordenou Waldorf aos seus cúmplices. — E levem os presos para o ponto de encontro.
A seguir, apontou para a sua própria perna e disse: — Disparem.
Um dos soldados apontou a arma e disparou, ferindo-o na coxa.
Waldorf cambaleou e caiu, soltando apenas um pequeno gemido.
Seichan compreendeu o esquema. Estavam a tentar dar a impressão de que o grupo de Gray é que os atacara e fugira. A demora no aeroporto fazia agora sentido. A escolta autêntica fora morta e jazia numa vala, tendo sido substituída por estes impostores. Olhou para Waldorf. Sabia que a Confraria tinha agentes por toda a parte. Quanto tempo é que Waldorf teria demorado para alcançar esta posição de poder? Estaria a Confraria a usar Fort Knox como o seu próprio banco?
Ou as suas ações eram ainda mais diabólicas? A Confraria sempre suspeitara de que havia algo importante aqui escondido? Mas só conseguiram encontrá-lo quando a Sigma farejou a pista e fez todo o trabalho por eles.
Fomos usados, constatou Seichan.
A Confraria aproveitara-se do talento único de Gray e da sua capacidade para resolver quebra-cabeças.
E preparava-se para fugir com o prémio.
Desarmados, tanto ela como os seus companheiros não puderam resistir quando um dos soldados tirou a placa a Gray.
Seichan não tinha ilusões. Atraiçoara a Confraria.
E, agora, vingavam-se.
27
31 DE MAIO, 18H11
DESERTO DO ARIZONA
Kai agarrou-se à corda com as mãos enquanto o cesto por baixo dela descia do helicóptero. Turbilhões de poeira envolviam-nos e o vento provocado pelos rotores fustigava tudo à volta. Ao olhar para baixo, viu o alto da mesa erguer-se na sua direção, uma visão estonteante que as rajadas térmicas do deserto tornavam pior.
— Estamos quase — disse Jordan.
Tinha os olhos inchados pela coronhada que recebera no rosto, mas parecia aguentar a dor. Segurava a corda com uma mão e tinha a outra por cima do ombro de Kai. Ela nunca gostara de alturas — e agora ainda menos.
Alcançaram inalmente o chão e os soldados obrigaram-nos a sair. Com as pernas a tremer, Kai sentiu-se grata por o braço de Jordan ainda estar à volta dela. Foram levados, sob a ameaça das armas, até ao declive que ela tinha visto no ecrã do vídeo. Era uma descida íngreme, mas não tinham escolha.
Ao chegarem ao fundo, viram mais soldados. Equipamento e contentores, alguns abertos, cobriam o chão. Algures, um perfurador furava a pedra. Ela não percebia o que se passava. Avistou, no meio daquela confusão, uma figura familiar.
Rafael Saint Germaine, encostado à bengala, debruçava-se sobre um buraco. Empurraram-na e ele reparou na sua presença.
— Ah, é você. Parece que estamos todos.
Um homem, com um colete preto à prova de bala e um volumoso capacete, emergiu do buraco. Até mesmo sem lhe ver o rosto, ela sabia que era o gigante louro chamado Bern. Notou que o suor lhe escorria das pestanas e ao longo do nariz.
— Temos o local da emboscada preparado — anunciou ele a Rafe. — Só nos falta o isco.
Os seus olhos verde-acinzentados viraram-se na direção de Kai.
— Très bien, Bern. Vamos levar os dois para baixo. Não há razão para não jogarmos todas as cartas.
Kai virou-se para Jordan. Estivera a olhar para um corpo caído, meio coberto por um oleado e com as botas a aparecer. Lembrando-se novamente da guarda-lorestal abatida a tiro, começou a tremer. Notando a sua emoção, Jordan veio colocar-se de modo a bloquear-lhe a vista e abraçou-a.
Impaciente, Bern tentou afastá-los um do outro, mas Jordan empurrou-o e, surpreendentemente, o lugar-tenente de Saint Germaine desistiu.
— Podemos andar sozinhos — disse friamente Jordan, ajudando Kai.
Ambos sabiam para onde se dirigiam.
Para o buraco escuro.
Mas que destino os esperava lá em baixo?
18h22
Painter subiu sozinho a passagem que ia dar à gruta com a fonte de lama a escaldar. Deixara Hank em baixo no túmulo dos Anasazi. Kowalski tinha a pistola de Painter na mão e encontrava-se uns metros atrás dele, protegido por uma rocha.
Painter re letia sobre várias possibilidades, tentando o melhor que podia antecipar-se a qualquer contratempo e à estratégia do seu adversário. Qual era a utilidade de uma arma? Ele e os companheiros não tinham su iciente poder de fogo para fugir deste buraco sem serem mortos. Em vez disso, tinha de empregar a esperteza.
Chegou ao im do túnel e entrou na gruta as ixiante. Ao ver a lama a borbulhar que jorrava da parede e atravessava a gruta, sentiu novamente uma mistura de assombro e horror. O calor parecia ainda pior, mas talvez fosse por causa do frio que envolvia a sepultura lá em baixo.
Encheu-se de coragem e avançou. Avistou um grupo de soldados do outro lado da ponte. Não tentavam esconder-se pois deviam ter percebido que a fuga do cão alertara a presa.
De ambos os lados, ergueram-se vultos por detrás dos penhascos, com espingardas apontadas. Painter ergueu os braços com as mãos abertas para mostrar que não tinha armas e continuou a avançar. Tinha apenas com ele a mochila de onde pendia a lanterna. Não queria que confundissem qualquer coisa que trouxesse nas mãos com uma arma.
Um dos soldados tentou entrar no túnel por trás dele, mas a detonação de uma pistola desencorajou-o.
— Tenho um homem na parte mais estreita da passagem! — avisou Painter sem se virar. — Tem munições su icientes e pode abater um de cada vez. Sei o que querem e podemos resolver a questão rapidamente!
E Painter prosseguiu o seu caminho na direção da ponte.
Do outro lado, um homem magro destacou-se do resto dos soldados e começou a avançar igualmente para a ponte.
Um dos mercenários acompanhava-o e Painter reconheceu-o como sendo o comando que matara o professor Denton no laboratório da universidade. A mancha vermelha que tinha nas calças lembrou-lhe a trela ensanguentada de Kawtch. Era mais uma morte no seu currículo.
Desculpa, Nancy... Não devia ter-te envolvido nisto.
A escuridão estreitou a sua visão enquanto observava o indivíduo gigantesco de capacete.
Mas, agora, não é o momento da vingança.
Era bastante claro. O comando arrastava um jovem amarrado e amordaçado: Jordan Appawora. Painter não icou muito surpreendido por o ver aqui. Chegara à conclusão de que alguém devia ter avisado a Confraria do seu paradeiro no Arizona. E as hipóteses não eram muitas.
Em menor número, tinha de atrair a sua atenção e ganhar um pouco de controlo.
— Não vou sacar de nenhuma arma — disse, metendo lentamente a mão dentro da mochila.
Tirou duas placas de ouro e mostrou-as.
— Creio que é isto que desejam, não é?
Do outro lado da ponte, o homem magro olhou descon iado para Painter, tentando perceber o objetivo da sua atitude. Após um longo momento, encolheu os ombros, decidindo talvez que dominava a situação.
— Monsieur Crowe, o meu nome é Rafael Saint Germaine.
O seu sotaque era francês com uma leve entoação provençal, o que denunciava o sul de França como o local de origem. Apontou com a bengala. O seu braço abanava com um ligeiro tremor que se prolongava ao longo da bengala. Esta incapacidade era invulgar para alguém tão jovem.
Provavelmente, nascera assim e o seu estado piorara com a descida e o calor.
— Aceito com o maior prazer.
— Claro — retorquiu Painter. — Como sinal de boa-fé, pode icar com elas sem contrapartida.
Um soldado surgiu por detrás dele e arrancou-lhas da mão.
O francês fez sinal ao soldado para se apressar, mas continuava atento aos movimentos de Painter. Apesar do seu aspeto frágil, os seus olhos tinham um brilho tenebroso. Painter não ousava subestimá-lo. Um animal encurralado era mais perigoso quando ferido e este homem fora ferido desde que nascera. Apesar disso, contudo, sobrevivera no meio de gente que não tolerava qualquer fraqueza — e não só sobrevivera como fora bem-sucedido.
Rafael examinou as placas.
— Uma tal generosidade confunde-me. Esperava mais resistência. O
que me impede de o matar agora mesmo?
Painter ouviu espingardas a serem armadas atrás dele.
Deu outro passo em frente e deteve-se à beira da ponte. Queria ter a certeza de que Kowalski compreendia.
— Dei-lhe provas de que pode contar com a minha cooperação — disse. — Comparadas com o que encontrámos lá em baixo, essas duas placas nada valem.
Rafael inclinou a cabeça, prestando toda a atenção ao que Painter dizia.
Excelente.
— Permite-me? — perguntou, levando a mão ao outro lado aberto da mochila.
— Faça favor.
Painter tirou a tampa do vaso de ouro que tinham encontrado e mostrou o totem com a cabeça de lobo.
Rafael vacilou ao ver aquele objeto, mal se equilibrando com a bengala e, com a surpresa, começar a falar em francês.
— Non, ce n’est pas possible...
— Pela sua reação, deve saber o que descobrimos.
— Oui. Sim — balbuciou Rafael com os olhos a brilhar, tentando recompor-se.
— Neste momento, outro companheiro meu está lá em baixo. Se eu não voltar, lançará o vaso de ouro num poço de lama a escaldar onde será arrastado pela corrente.
Frustrado, Rafael estremeceu, mas um brilho de desa io animou os seus olhos.
— É bastante razoável. Quais são as suas condições?
— Os seus homens irão retirar-se deste lado da ponte e eu ico com o rapaz em sinal de boa fé. A seguir, irei buscar o vaso e faremos a troca final.
— Que troca é essa?
— Sabe muito bem o que quero.
E Painter deixou transparecer parte da fúria que recalcava.
— Quero a minha sobrinha.
18h28
Très intéressant...
Parecia que as negociações se tinham de repente tornado muito mais estimulantes e interessantes. Sem fôlego, Rafe itou a tampa de ouro.
Estava realmente a par do seu signi icado. Aqueles vasos podiam ser o Santo Graal da nanotecnologia, a chave de uma ciência alquímica perdida que prometia uma vasta e nova indústria e uma fonte de riqueza incalculável. Mas, mais do que isso, permitiria à sua família subir na hierarquia e elevar-se talvez tão alto como a que sobrevivera à Verdadeira Estirpe.
E seria o ilho de ossos frágeis que traria essa glória à linhagem dos Saint Germaine. Nada devia impedir que tal acontecesse.
Rafe virou-se para Bern.
— Faz o que ele diz. Manda retirar os teus homens e liberta o rapaz.
Bern pareceu querer discutir as ordens, mas achou por bem calar-se.
Desamarraram Jordan e tiraram-lhe a mordaça.
— Vai — ordenou Bern, empurrando-o.
O jovem atravessou a ponte a correr, desviando-se dos soldados que voltavam para trás. Ao chegar ao pé de Painter, ambos baixaram a cabeça por um momento e, depois, Jordan dirigiu-se para o túnel.
Só faltava satisfazer o último pedido.
Rafe ergueu um braço e outro soldado avançou com Kai Quocheets.
Amordaçada e com os pulsos amarrados, ela debatia-se. Ao ver o tio, os seus olhos arregalaram-se.
Painter precipitou-se para ela, pronto a ajudá-la. Avançou a cambalear alguns passos na ponte, meio desvairado por querer defender a sobrinha a todo o custo. A mochila escorregou-lhe do ombro, icando pendurada no pulso... e Rafe apercebeu-se do erro que estava a cometer.
Oh, não...
18h30
Painter leu nos olhos do francês que descobrira o bluff. Tentou desviar a sua atenção de Kai pois não queria que ele se vingasse na sobrinha. Vira os ferimentos no rosto de Jordan, o que lhe pusera o sangue a latejar nos ouvidos. Tê-la-iam igualmente maltratado?
Tais perguntas teriam de esperar.
Parou na ponte. Encontrava-se por cima do abismo, mas ainda su icientemente afastado dos adversários no outro lado. A pesada mochila pendia das pontas dos dedos. O vapor queimava-lhe a pele e pintava-lhe o braço de tons amarelados. A corrente lá em baixo silvava e borbulhava.
— O vaso de ouro já está em seu poder — disse Rafe em tom consternado e simultaneamente respeitoso. — A inal, teve-o sempre consigo.
Painter estendeu a mão sobre o abismo e abriu a bolsa da mochila onde estava alojado o vaso para Rafe ver o ouro brilhar.
— Se me matar, cairá lá em baixo. Se quiser este tesouro, solte primeiro a minha sobrinha. Logo que ela estiver a salvo no túnel atrás de mim, eu atiro-lhe a mochila.
— E que garantia me dá de que vai fazer o que está a dizer?
— A minha palavra de honra.
Painter não queria perder o contacto visual com Rafe, não para o intimidar, mas para reforçar a sua intenção. Tencionava proceder honestamente. Não havia subterfúgios nem esquemas. Tinha de arriscar tudo para salvar Kai. Kowalski estava em boa posição para os defender. E, provavelmente, Rafael fugiria com o tesouro em vez de tentar apanhar os outros. Kai teria a possibilidade de viver.
Mas isso não signi icava que Rafe não daria ordens aos seus homens para matar Painter depois de lhe ser entregue a mochila. Antecipando-se a isso, Painter faria o possível para se refugiar atrás dos rochedos e, depois, arranjar maneira de regressar ao túnel.
Não era um grande plano, mas era tudo o que lhe restava.
Rafe continuava a itá-lo para conhecer as suas intenções. Acenou, finalmente, a cabeça.
— Acredito em si, Monsieur Crowe. Tem razão. Podemos fazer isto de forma civilizada.
Fez uma ligeira vénia a Painter.
— Até ao nosso próximo encontro.
A seguir, o francês deu ordem para Kai ser libertada. Desamarraram-na. Ainda amordaçada, tinha os olhos arregalados — mas não olhava para ele.
Olhava para trás dele.
Por causa do barulho do rio lamacento, ele só ouviu alguém aproximar-se quando já era demasiado tarde. Ao virar-se, sentiu a pedra de arenito estremecer sob o impacte de pés a correr pela ponte e viu um vulto alto precipitar-se na sua direção. Um ombro embateu-lhe no peito, arremessando-o ao chão e deixando-o sem fôlego. Dedos fortes arrancaram-lhe a mochila das mãos e a figura fugiu.
Teve tempo de ver uma mulher a correr para o outro lado. Como prometera, Rafael mandara retirar os seus homens. Painter deveria ter sido mais específico .
A negra alta — uma autêntica amazona — entregou a mochila a Rafael.
— Merci, Ashanda — agradeceu Rafe.
Derrotado, Painter ajoelhou-se na ponte de pedra.
Voltaram a apontar armas contra ele, mas Rafe, em vez de dar ordens para o matar, fez sinal aos comandos para se retirarem. Ele e Painter trocaram um olhar.
— O melhor é sair dessa ponte, mon ami.
Um dos soldados pegou num transmissor e premiu um botão. Uma sonora explosão ecoou por baixo da ponte e o outro lado desintegrou-se em pedaços de rocha e argamassa. Meio cego e ensurdecido, Painter rolou da ponte e agarrou-se a terra firme.
Levantou-se de gatas e viu Rafael e os seus homens retirarem. O que restava da ponte soltou-se e despenhou-se no rio de lama, libertando mais enxofre e calor.
Ao chegar ao túnel, Rafael agarrou Kai pelo ombro. Tiroulhe a mordaça e gritou a Painter.
— É para ela poder dizer-lhe adeus!
Kai debatia-se e Bern teve de a segurar. A sua voz era um lamento de medo e pesar.
— Tio Crowe... Desculpa...
E levaram-na. Ainda de joelhos, Painter ouviu os soluços dela cada vez mais distantes.
De repente, Kowalski e Jordan surgiram a correr.
— O que aconteceu à ponte?
— Minaram-na — respondeu Painter em voz cavernosa.
— E Kai? — perguntou Jordan, horrorizado.
Painter abanou a cabeça.
— O que vamos fazer? — indagou Kowalski. — Não conseguimos atravessar isto.
Painter recompôs-se lentamente, pôs-se em pé e aproximou-se da beira da garganta fumegante. Tinham de a atravessar. Era a única maneira de salvar Kai. Como já não lhe era útil, Rafe acabaria por a matar. Painter tinha de se manter vivo para que ela também vivesse. No entanto, o desespero invadia-o. Mesmo que conseguissem atravessar, o que possuíam para dar em troca? Agora, Rafael tinha as placas de ouro e o vaso canopo.
Olhou para as mãos vazias.
O chão estremeceu e o eco de uma explosão chegou-lhes aos ouvidos.
Uma onda de poeira e fumo saiu do túnel, acompanhada pelo longínquo rolar de rochas.
— Parece que os ilhos da mãe minaram mais do que a ponte — disse Kowalski.
Painter imaginou as escarpas do abismo a desabarem e a encerrá-los ali. Quando a poeira pousou, o ar icou estranhamento imóvel, o odor a enxofre piorou e o calor aumentou rapidamente. Com a conduta de ventilação por cima deles fechada, o ar já não circulava.
Jordan tapou a boca e o nariz.
— O que vamos fazer?
Como resposta, uma enorme detonação ecoou no espaço fechado. Mas não se tratava de uma explosão.
Painter virou-se no momento em que a issura na parede alargou, fragmentando-se. O abalo das cargas devia ter entrado profundamente na terra até esta bolha na pedra calcária, enfraquecendo a sua estrutura já fraturada.
Lama a escaldar jorrou da fenda e grandes pedregulhos começaram a soltar-se da parede e a cair no rio.
Enquanto Painter e os companheiros fugiam da lama, a parede cada vez se desmoronava mais, a queda de lama transformou-se numa torrente transbordando das margens do rio e do tanque borbulhante.
Por fim, Painter encontrou uma resposta à pergunta de Jordan.
O que vamos fazer?
Apontou para o túnel quando a muralha de lama rolou em direção deles.
— Fugir!
28
31 DE MAIO, 21H33
FORT KNOX, KENTUCKY
O plano falhara...
Gray pôs as mãos acima da cabeça. E Seichan e Monk imitaram-no quando lhes apontaram armas às costas. Os soldados obrigaram-nos a passar por entre os corpos dos guardas, o mármore ainda escorregadio do sangue.
Waldorf seguiu-os a arrastar a perna ferida, deixando pegadas sangrentas.
— Levem-nos daqui — ordenou ao homem que transportava a placa de ouro. — Vou para o meu gabinete e, dentro de cinco minutos, darei o alarme. Nessa altura, espero que já tenham desaparecido.
— Sim, senhor.
Ao passarem pelo posto de segurança na sala de entrada, Gray viu o Humvee à porta com o motor a trabalhar, e o tubo de escape a fumegar na noite cada vez mais fria. Tinham uma oportunidade.
Um dos soldados precipitou-se para a porta, andando de lado e mantendo-os debaixo de olho. Era uma altura tão boa como qualquer outra. Gray olhou para Monk que percebeu imediatamente o que tinha de fazer e acenou impercetivelmente com a cabeça, um sinal que Gray entendeu. Por cima da cabeça, os dedos de Monk bateram ao de leve um código no coto, preparando-se para enviar uma mensagem sem fios.
— Olhos fechados, mãos nos ouvidos — sussurrou Gray a Seichan.
Ela pareceu momentaneamente confusa, mas, depois, o seu olhar concentrou-se na caixa de plástico onde se encontrava a mão protética de Monk.
— Agora — disse Gray, ofegante.
Monk deu o sinal, ativando uma pequena carga incorporada na prótese.
Gray tapou os ouvidos e cerrou os olhos. Quando a mão explodiu, o flash da carga delineou-lhe o contorno dos dedos nas pálpebras e o ruído estourou-lhe dentro da cabeça.
Temporariamente cegos e desorientados, os guardas gritaram.
E as armas dispararam à toa.
Gray tinha apenas uns segundos até recuperarem a visão. Virou-se e tirou a placa de ouro das mãos do chefe do grupo e, rodopiando sobre si mesmo, bateu-lhe nas pernas com a placa. Ouviram-se os ossos a estalar e o homem soltou um grito estridente.
Ao mesmo tempo, Seichan apoderou-se da espingarda de um soldado e disparou à queima-roupa no peito dele. O seu corpo foi lançado contra outro soldado e Seichan continuou a disparar, abatendo-o também.
A coberto da linha de tiro, Monk aproximara-se da porta. Partiu o nariz do guarda com um soco e tiroulhe a arma.
Entretanto, Seichan mantinha fogo cerrado, avançando pela sala de entrada.
Gray avistou o alvo dela. Waldorf, a coxear, atirou-se para dentro do gabinete, mas conseguiu fechar a porta atrás de si. Seichan continuou a disparar, mas as balas batiam no aço. A porta, como toda a fortaleza, devia ser blindada.
— Maldição! — exclamou ela, frustrada.
Segundos mais tarde, o alarme ecoou nos corredores. Waldorf devia ter premido o botão de segurança no gabinete. Monk estava ao pé da saída quando uma chapa de aço antiexplosivos começou a descer para selar o edifício.
— Temos de sair! — gritou Monk, mantendo a porta aberta.
Gray e Seichan começaram a correr na sua direção. Mesmo com a perna em mau estado, Seichan chegou primeiro. Mais lento por causa do peso da placa de ouro, Gray teve de se baixar para passar por baixo da chapa de aço.
Monk seguiu-os a ofegar. As sirenes tocavam por toda a base, alertando toda a guarnição.
— Pensei que era di ícil entrar em Fort Knox — disse Monk. — Mas sair ainda é mais difícil!
— Vamos para o Humvee! — ordenou Gray.
Gray saltou para trás do volante e Monk sentou-se ao seu lado. Seichan mergulhou no banco de trás. As três portas fecharam-se ao mesmo tempo.
Gray meteu a mudança e, dando meia volta, arrancou. Acelerou a toda a velocidade ao longo da estrada, fazendo roncar o poderoso motor. Pelo retrovisor, viu Seichan abrir uma fresta na janela lateral para passar o cano da arma.
— Nada de tiros — avisou Gray. — Estes homens são soldados americanos a fazer o seu trabalho.
— Oh, isto está a tornar-se cada vez mais fácil! — queixou-se. Monk.
Restava-lhes uma esperança.
Gray reparara que o Humvee possuía equipamento superblindado, que incluía portas reforçadas, vidro à prova de bala, placas na retaguarda e para-brisas capaz de resistir a explosivos. Não era invulgar encontrar um destes veículos por aqui, pois era em Fort Knox que estava localizado o centro para guerra blindada do exército dos EUA. Era um terreno de treino para tanques, artilharia e toda a espécie de viaturas blindadas.
Tinham de abrir caminho, evitando matar alguém. De momento, tinham a vantagem da surpresa — e do caos. Não estavam a entrar ou a sair de Fort Knox como mandavam as regras.
Gray apontou para os portões, que já estavam fechados. As sentinelas hesitavam entre o falso alarme e um exercício de treino. Mas o Humvee a avançar sobre eles dissipou a confusão.
Apontaram as espingardas e as balas ricochetearam no para-brisas.
Alguém lançou da torre uma granada, mas, com a pressa, falhou a pontaria, rebentando com uma parte da vedação.
— Segurem-se! — gritou Gray.
Não abrandou a velocidade, con iando que os soldados saltariam a tempo do caminho.
E saltaram.
O para-choques blindado do Humvee bateu contra os portões e passou como uma bala pela vedação retorcida. E, a seguir, voaram pela Gold Vault Road perseguidos por saraivadas de balas.
— Vão pôr «pássaros» no ar em menos de cinco minutos — disse Monk, referindo-se aos helicópteros de combate Apache. — Devem demorar mais tempo a mobilizar uma ameaça mais perigosa. Mas podemos ser alvo de...
Um silvo estridente interrompeu o ronco do motor.
— Morteiros — concluiu Monk.
A granada passou por cima do capô e rebentou num terreno vizinho, levantando uma explosão de erva, terra e pedras. O fumo cobriu a estrada.
Gray atravessou-o e depressa chegou ao im do caminho, mas, em vez de virar em Bullion Boulevard, saltou por cima de uma vala, derrubou outra vedação e atravessou um campo pontilhado de árvores. Os pneus largos do Humvee deixavam sulcos profundos. Dirigia-se para sul, tentando encontrar a autoestrada Dixie que passava ao lado da base.
Outro morteiro explodiu num carvalho, incendiando-o. O veículo passou por cima do que restava e o fogo e o fumo cegaram-nos temporariamente.
— Aquele passou perto — comentou Monk.
— Achas que sim? — perguntou sarcasticamente Seichan.
— Talvez não estejam a tentar acertar-nos. Querem apenas que abrandemos.
Gray deu uma guinada ao volante e seguiu um novo trajeto para, no caso de estar enganado, se tornarem um alvo mais difícil.
— Estou a ver luzes a elevarem-se no aeroporto — preveniu Seichan.
— Provavelmente é por isso que querem atrasar-nos — alvitrou Monk.
— Vão enviar os helicópteros.
Gray acelerou. Tinha de se afastar da base e chegar a território civil antes de começaram a metralhá-los a sério. Se conseguissem escapar, os militares só os poderiam seguir do ar e seriam obrigados a usar polícia civil em terra.
Uma linha de luzes a mover-se lentamente surgiu entre as árvores.
Estavam próximo da autoestrada Dixie. Gray pisou a fundo no acelerador.
— Cá vêm os helicópteros! — gritou Seichan.
O Humvee partiu como um bólide na direção da autoestrada, revolvendo lama e ervas. Chegaram ao talude do aterro da estrada e saltaram por cima do cascalho e do cimento. Gray procurou um espaço vazio na ila de carros que avançava e, quando o encontrou, fez derrapar o pesado veículo de lado e ocupou o lugar.
Ouviram-se buzinas em protesto e pneus a guinchar, queimando borracha no asfalto.
Um pequeno SUV chocou contra a traseira do Humvee.
Mas Gray não abrandou. Acelerou e lançou-se pela estrada fora, buzinando para abrir caminho. Em frente, a pequena cidade de Radcliff parecia um mar de luzes. Correu para lá, ao dobro do limite de velocidade quando a autoestrada se tornou uma estrada na orla da cidade.
— Temos companhia! — avisou Seichan.
Uma luz brilhante cortou a escuridão atrás deles, re letindo-se nos espelhos do veículo. Vinha de um helicóptero que descia sobre a autoestrada.
— Vira no próximo desvio! — gritou-lhe Monk.
Gray con iou no amigo e, virando, entrou numa rua estreita sem se dar ao trabalho de reduzir a velocidade. Seichan deslizou de um lado para o outro no banco de trás.
Prédios de quatro andares e edi ícios de apartamentos mais altos ladeavam ambos os lados da rua; eram provavelmente alojamentos reservados ao pessoal militar que não vivia na base. As ilas cerradas dos edi ícios proporcionavam-lhes um refúgio temporário pois não eram visíveis do helicóptero.
Mas a situação não duraria muito tempo.
— Ali! — disse Monk apontando. — Vi o letreiro da estrada.
Em frente, um anúncio em néon girava lentamente no alto de um poste.
Aquilo resolveria a questão.
Tratava-se de um serviço necessário nas áreas residenciais fora da base.
Gray entrou no parque de estacionamento de um serviço de lavagem automática de carros, aberto toda a noite. Compartimentos individuais com mangueiras e aspiradores que funcionavam com moedas estavam alinhados num dos lados. En iou o Humvee num dos recintos, onde não podiam ser vistos do ar.
— Levem tudo — ordenou Gray.
Pegou na placa de ouro enquanto Monk e Seichan pegavam nas armas e em munições encontradas no veículo. Ouviram o ruído dos rotores dos helicópteros e olharam para o céu. Três aparelhos patrulhavam a cidade, varrendo as ruas com holofotes. Gray e os companheiros tinham de sair dali antes que fossem colocadas barreiras nas estradas.
Havia outro cliente no parque de estacionamento que também seguia o espetáculo aéreo.
Monk aproximou-se dele. Era um miúdo com tatuagens, calças de ganga rotas e uma t-shirt suja com o emblema da Harley Davidson.
Apontou-lhe a espingarda.
De olhos arregalados, o rapaz olhou primeiro para a arma e, depois, para o rosto de Monk e murmurou: — Porra!
A seguir, apontou para um velho Pontiac Firebird enferrujado e recuou.
— Escute lá, homem. As chaves estão no carro.
Monk acenou com a cabeça para o Humvee.
— As do nosso carro também. Podes levá-lo.
O miúdo não pareceu entusiasmado. Não era parvo. Tinha topado a situação.
Gray dirigiu-se apressadamente para o Pontiac, atirou a valiosa placa para dentro do porta-bagagens e sentou-se ao volante. As chaves pendiam da ignição juntamente com um berloque prateado em forma de crânio.
Esperava que não fosse um mau presságio.
Os outros entraram, mas, desta vez, Seichan sentou-se ao lado dele.
Monk foi para trás. Um minuto mais tarde, atravessavam os limites da cidade. Gray obrigou-os a tirar as baterias dos telemóveis ara impedir que alguém lhes seguisse a pista. Com aquele tesouro no porta-bagagens, não podia correr riscos.
Antes de tirar a bateria do seu telemóvel, reparou numa mensagem por abrir com o número de telefone dos pais. Não tinha tempo para tratar disso naquele momento. E também não queria chamar a atenção sobre si e os companheiros, telefonando aos pais. Além disso, dera à mãe uma lista de números de emergência, o que devia resolver a questão por uns tempos.
Sabia que os três teriam de comprar telemóveis descartáveis, que não podiam ser associados a eles, para contactar com a Sigma e decidir qual seria o melhor rumo a tomar. Mas, por enquanto, tinham de continuar a movimentar-se sem serem detetados pelo radar.
Com todas as pontas eletrónicas cortadas, Gray dirigiu-se para sul, usando um mapa comprado numa estação de serviço. Evitando as estradas principais, tirou o máximo que podia do velho motor V-8 acelerando nas estradas secundárias. A única pista que deixava era o fumo oleoso que saía do tubo de escape por causa de um cilindro em mau estado.
Esperava, pelo menos, que fosse a única pista.
Enquanto conduzia, o pequeno crânio prateado batia contra a direção como se o quisesse avisar.
Mas de quê?
29
31 DE MAIO, 18H43
POR BAIXO DO DESERTO DO ARIZONA
Vou ficar bem...
Com um joelho em terra, Hank Kanosh acariciava os lancos de Kawtch, tentando acalmá-lo. As explosões de há pouco tinham-nos posto a tremer.
Isso e o frio gelado do túmulo. Com apenas uma lanterna, estava sentado numa solitária poça de luz. A escuridão do túmulo pairava sobre os seus ombros enquanto fitava a abertura do túmulo.
O que estará a suceder lá em cima?
Não devia ter concordado em ficar ali em baixo.
Kawtch agachou-se com os pelos eriçados, soltando um grunhido de aviso. Hank também ouviu. Vozes abafadas, ecoavam cada vez mais distintas ao aproximarem-se da saída do túnel.
Quem vinha aí? Amigo ou inimigo?
Ouviram-se botas a arrastar — e um pequeno vulto deslizou de costas para fora da passagem gelada e pôs-se em pé. Kawtch latiu uma saudação, mas Hank recuou cautelosamente até reconhecer quem era.
— Jordan?
— Afaste-se! — gritou o jovem, agarrando no braço de Hank e empurrando-o.
— O que é...
A seguir, Painter e Monk saíram da abertura.
E cada um correu em direções opostas, atirando-se para o chão.
E surgiu uma visão impossível.
Um verme preto maciço foi expelido para a gruta e avançou velozmente para as ruínas incrustadas no gelo. A forma tubular depressa derreteu exalando um vapor sulfuroso. Uma enorme bolha rebentou espalhando uma substância fundida pelo calor.
Lama.
Aquela substância espessa continuava a sair do túnel em vagas e ejaculações de lama meio fundida que se ia acumulando na gruta.
Painter juntou-se a Jordan e Hank, mas Kowalski teve de dar a volta.
— Os nossos inimigos selaram a saída — explicou Painter, um pouco ofegante.
Fez-lhes sinal para se afastarem ainda mais.
— A explosão rachou a parede da gruta e provocou a formação de um lago de lama em chamas.
Jordan esfregou os braços para se proteger do frio.
— Temos de continuar a andar.
Painter observou a montanha de lama que se acumulava atrás deles.
— O frio aqui em baixo salvou-nos. Arrefeceu a lama e criou uma espécie de tampão no túnel. Mas não vai aguentar. O lago por cima acabará por derretê-lo ou empurrá-lo com o aumento da pressão e chegará até aqui. Em qualquer dos casos, não vamos querer estar aqui quando isso acontecer.
Hank concordou. Olhou para o túmulo Anasazi. As almas mortas teriam inalmente um enterro adequado e icariam soterradas em algo mais do que gelo.
A seguir, Jordan fez a pergunta que se impunha. Tentou parecer tão corajoso como os outros, mas a voz esganiçada traiu o seu terror.
— Onde poderemos refugiar-nos?
— Este sistema de grutas deve ser enorme — disse Painter. — Portanto, o melhor é avançar.
Para que não houvesse dúvidas, nesse momento, uma grande quantidade de lama saiu do túnel, espalhando-se por toda a gruta.
Enquanto se afastavam, mais lama começou a inundar rapidamente o espaço onde se encontravam.
Painter apontou para um dos túneis — o maior — que dava para a gruta.
— Vamos por ali!
Fugiram em debandada com Painter à frente para iluminar o caminho; Kowalski seguiu atrás de todos com outra lanterna. O túnel era fundo e o gelo tornava-o traiçoeiramente escorregadio. Hank imaginou a enxurrada que no passado inundara a povoação escondida dos Anasazi e que, mais tarde, acabara por gelar.
Jordan correu com uma mão a tocar no teto baixo.
— Julgo que estamos num túnel formado por lava antiga. Isto pode continuar a descer sem parar.
— Não é bom — disse Painter. — Temos de encontrar um caminho que suba. A lama vai escorrer para o fundo. Temos de sair da sua trajetória.
— E quanto mais depressa, melhor — comentou Kowalski.
Hank espreitou por cima do ombro, mas Kowalski baixou a luz da lanterna. Foi o su iciente para veri icar que a água caía de cima e já corria pelo chão. As patas de Kawtch chapinhavam nas poças. A lama devia ter alcançado a abertura do túnel e derretido o gelo que os perseguia.
Painter acelerou o passo.
Dez minutos depois — que pareceram mais de uma hora — chegaram ao fim do túnel.
— Oh, não! — gemeu Hank, aproximando-se de Painter.
O túnel terminava no alto de uma falésia. Painter apontou a lanterna para a borda. Não se via o fundo do precipício, mas ouvia-se o eco da água a gorgolejar. Em frente, a cerca de dois metros e meio, erguia-se a falésia oposta por onde continuava o túnel de lava. Era como se um deus poderoso tivesse dividido o túnel em dois com um cutelo.
— Vamos ter de saltar — disse Painter. — Não é muito distante.
Tomando balanço, conseguiremos alcançar a outra metade do túnel.
— Enlouqueceu? — perguntou Hank.
— Parece pior do que é na realidade — insistiu Painter.
Kowalski concordou com Hank.
— Tretas. A minha vista não é assim tão má.
— Eu consigo — disse Jordan, fazendo sinal para que todos recuassem.
— Sou o primeiro.
— Jordan... — acautelou-o Hank.
— Não temos escolha — lembrou-lhe o jovem.
Ninguém o contrariou.
Recuaram e deram-lhe espaço suficiente para tomar balanço.
— Cuidado — disse Hank, dando uma palmada no ombro de Jordan.
Fez sinal de que estava preparado, correu e saltou. Lançou-se no ar como uma lecha e aterrou, deslizando de barriga no chão gelado da outra metade do túnel. Desapareceu, mas, passados uns instantes, voltou a aparecer.
— Não é muito difícil — disse a arquejar e com um largo sorriso.
Era fácil para ele dizer.
— A seguir, vou eu — disse Painter. — E, depois, o Kowalski atira-me o cão.
Kowalski olhou para Kawtch e o cão olhou para aquele homem enorme.
Nenhum deles pareceu muito satisfeito com a ideia.
Após alguns preparativos, Painter saltou de maneira tão impecável como Jordan.
Kowalski pegou em Kawtch, balançando-o entre as pernas. O cão contorceu-se e Hank teve de o acalmar, dando-lhe uma palmadinha e sussurrando-lhe palavras encorajadoras.
— Credo, professor! O que anda a dar de comer a este animal?
— Por favor, tenha cuidado com ele — pediu Hank, levando a mão à garganta.
Kowalski aproximou-se da beira do precipício, curvou-se para a frente e atirou o cão para o ar. Kawtch soltou um ganido de surpresa, esticando as patas como um esquilo voador. Painter estendeu os braços e apanhou-o facilmente. Ambos caíram para trás no meio de latidos de protesto.
Hank suspirou de alívio — até Kowalski se virar para ele.
— Isto quer dizer que é você a seguir.
Hank engoliu em seco e abanou a cabeça.
— Não sei se consigo.
— Nesse caso, terei de o atirar para o outro lado, como iz com o cão. A escolha é sua, professor.
Hank não sabia o que seria pior.
— Se precisarem de mim, estou aqui — gritou-lhes Painter do outro lado.
— OK, lá vou eu — acabou por se decidir Hank, tentando encorajar-se.
Recuou no túnel ao lado de Kowalski.
— Se ajudar, posso empurrá-lo — propôs este último.
Antes de ele ter tempo para responder, um suspiro ligeiro fez ambos os homens virarem-se. Kowalski apontou a lanterna para o túnel de lava, iluminando uma parede de lama a seis metros de distância. Aproximara-se em silêncio, como um assassino pro issional. Perante os seus olhos, aquela massa abriu-se e começou a verter lama quente.
— É agora ou nunca, professor.
Um estrondo avisou-os de que iam ter problemas. De repente, a lama explodiu e salpicou-lhes o corpo, queimando-lhes a pele. O fedor a enxofre pairou no ar.
— Fuja! — gritou Kowalski.
Hank começou a correr com Kowalski atrás.
Agachando-se, Hank correu tão depressa quanto podia, mas, ao chegar à beira do precipício, o chão escorregadio traiu-o. Tropeçou desajeitadamente.
— Apanhei-o, professor!
Um braço robusto agarrou-o pela cintura e transportou-o num salto sobre o abismo.
Hank tinha vontade de fechar os olhos, mas isso assustava-o ainda mais.
Não alcançaram o túnel de modo tão impecável como os outros.
Kowalski bateu com o ombro à entrada e foram projetados às cambalhotas e numa confusão de braços e pernas pelo túnel gelado.
Contudo, acabaram por parar e, depois de passarem algum tempo a tentar perceber que membros pertenciam a quem, puseram-se em pé.
Cheio de mazelas em lugares esquisitos, Hank veio juntar-se a Jordan à beira do abismo para ver o que estava a acontecer do outro lado.
Nascera uma nova cascata de lama. A massa de lama escorria como um rio de enxofre e Hank vislumbrou uma perna enegrecida no meio da corrente. Devia ter pertencido a um Anasazi que era arrastado do túmulo gelado pela enxurrada.
O cadáver, enterrado na lama, acabou por desaparecer.
Hank murmurou uma oração em silêncio por aquela alma perdida, por todas, e penetrou no túnel.
Kowalski exprimiu o que todos pensavam: — E, agora, o que vamos fazer?
19h28
Todos necessitavam desesperadamente de descansar.
— Vamos ficar aqui — disse Painter, deixando-se cair, exausto.
Depois de escaparem à lama, guiara-os até ao im do túnel de lava onde desembocaram num labirinto de outros túneis, declives, amontoados de rochas caídas e becos sem saída. Na última meia hora, Painter tentara encontrar um caminho que subisse, mas todos pareciam descer.
Precisando de recompor-se e re letir, propusera uma paragem nesta pequena gruta. Procurou à volta. O túnel rami icava-se em três direções diferentes.
Por onde iriam?
Painter itou os companheiros cobertos de lama. Hank deixou que os outros bebessem do seu cantil. Kowalski já acabara com o seu e a mochila de Painter fora roubada por aquela mulher amazona na ponte. Ouviam constantemente água a correr, mas não conseguiam localizá-la. A desidratação ameaçava-os. Se o frio não os matasse, a sede encarregar-se-ia disso.
Quanto tempo poderiam continuar assim?
Quase a desfalecer, Hank sentou-se junto de Kawtch. Kowalski não se sentia melhor. Suava como um cavalo de corrida, perdendo centilitros de água todos os minutos. Até mesmo Jordan tinha os olhos encovados e parecia perdido.
Painter sabia que o que os estava a abater e a di icultar a marcha era a futilidade da situação. Sentia-se duplamente deprimido. Se fechava os olhos, via o rosto de Kai arrastada por Saint Germaine e ouvia-a chorar.
Estaria ainda viva?
Jordan partilhava o mesmo receio e formulara perguntas semelhantes enquanto avançavam. Aparentemente, os dois homens tinham-se tornado amigos.
Jordan inclinou a cabeça para trás contra a parede, demasiado fatigado para se mexer. Painter examinou-o, apercebendo-se de como era realmente jovem. Resistira tão bem como qualquer homem, mas mal saíra da adolescência.
Reparou na pequena mecha de cabelo de Jordan — eram apenas alguns cabelos ondulados em pé, a estremecer ligeiramente. Jordan coçou a cabeça, talvez sentindo também a aragem.
Painter levou uns instantes a aperceber-se.
É isso...
Levantou-se de um pulo, livrando-se do cansaço como se fosse pele seca.
— Há uma brisa a passar por aqui — disse. — Muito ao de leve.
Kowalski abriu um olho.
— E depois?
— Isto é um sistema de respiração de grutas. Que ainda respira.
Os olhos de Hank arregalaram-se, ganhando vida. Levantou uma mão húmida, tentando sentir essa leve respiração.
Painter explicou.
— Só por uma abertura de ar estar entupida, não signi ica que todas o estejam. Se seguirmos a direção desta brisa, deveremos encontrar uma saída.
Kowalski deu uma palmada na coxa e levantou-se.
— De que estamos à espera? Logo que sairmos daqui, vou procurar o sítio mais próximo onde se beba. E, pela primeira vez na vida, estou a falar de água.
Com renovada esperança, puseram-se de novo a caminho.
Todavia, antes de partirem, Kowalski insistiu em acrescentar uma frase à sua última declaração.
— Para que iquemos entendidos, isto não signi ica que recusaria uma cerveja bem fresca se alguém ma oferecesse.
O percurso a partir dali não foi menos árduo ou frustrante do que os anteriores, mas a esperança que animava o seu espírito fazia-os avançar.
Utilizaram os fósforos de Hank em todas as encruzilhadas para veri icar a direção que o fumo tomava. A brisa tornou-se cada vez mais forte ao longo das duas horas seguintes, encorajando-os a caminhar mais depressa.
— Devemos estar perto da super ície — constatou Hank, chupando o tubo de plástico do cantil. Pelo barulho, depreendeu que estava vazio.
Precisavam urgentemente de encontrar a saída.
Painter consultou o relógio.
21h45.
Uma hora depois, nada indicava que estivessem mais próximo da super ície. Sem água e reduzidos a uma lanterna com baterias, estavam a ficar sem tempo.
Hank ouviu um ruído estranho que vinha de baixo dos pés. Pisara qualquer coisa. Apontou a lanterna. Bocados pretos e brancos de cerâmica estavam espalhados por cima do calcário. Baixou-se e pegou num caco.
— Isto é trabalho dos Anasazi.
Painter iluminou o declive que subiam há dez minutos. Viu mais tigelas e recipientes de barro em nichos nas rochas.
— Olhem para isto — disse Jordan. — Arte rupestre.
Hank aproximou-se dele. Por excesso de fadiga, Painter não reparara naquilo ao passar há uns instantes.
— Petróglifos — repetiu Hank. — Não se importa de apagar a lanterna, Painter?
Painter achou que o professor descobrira qualquer coisa e obedeceu.
Foram envolvidos por total escuridão.
Não, não era total.
Painter levantou a cabeça. Uma luz ténue, pouco mais do que um tom pardo, cintilava no alto.
— Julgo saber onde estou — disse Hank.
Painter voltou a acender a lanterna.
De olhos desmedidamente abertos, Hank fez sinal a Painter para avançar.
— Não deve estar muito longe.
Painter acreditou. Apressaram o passo, quando viram degraus rudimentares esculpidos na rocha. Por cima das suas cabeças, a claridade do luar surgia recortada aos quadrados por uma grade de aço. Painter já tinha visto aquela grade — mas do outro lado.
— É a conduta de ar em Wupatki, murmurou. — Lembrou-se do que a guarda-florestal dissera acerca do sistema de grutas.
Duzentos milhões de metros cúbicos... que se estendem ao longo de quilómetros.
Estava provado que era verdade — e podia até estar subestimado.
Hank não conseguia conter a excitação.
— Deve ter sido assim que os Anasazi sobreviventes escaparam ao massacre. Fugiram por aqui, passaram por baixo de terra através do sistema de grutas e fundaram uma nova povoação por baixo da outra abertura de ar onde viveram até à inundação.
Com um enigma solucionado, Painter tinha outro pela frente.
Sacudiu a grade.
— Está fechada a cadeado.
— Não se preocupe — disse Kowalski de pistola na mão. — Eu tenho a chave.
30
1 DE JUNHO, 02H08
NASHVILLE, TENNESSEE
— Ainda andam à vossa procura — disse Kat, mal se ouvindo a sua voz no telemóvel descartável. — E vão procurar-vos toda a noite.
Gray estava sentado no banco do passageiro de uma Ford branca vulgar — quanto mais vulgar, melhor, na opinião de Kat. Tinham deixado o outro carro num parque arborizado à saída de Bowling Green e roubado o novo veículo de um parque de automóveis usados. O vendedor só deveria dar por falta da carrinha na manhã seguinte.
Contudo, sabendo que o cerco aos terroristas que tinham escapado de Fort Knox não cessaria de se apertar, continuaram a avançar. Viajaram por estradas secundárias, evitando as autoestradas principais, e prosseguiram para sul até chegarem a Nashville.
— Toda a gente anda atrás de vocês — continuou Kat. — O FBI, os serviços de informação militares e a polícia civil. Ainda reina a maior confusão aqui em DC, sobretudo, porque tudo isto está a acontecer a meio da noite. Agora que a bandeira terrorista foi içada, toda a gente entrou em pânico.
Enquanto Monk conduzia lentamente através de um complexo industrial suburbano nos arredores de Nashville, Gray virou a cabeça para o banco de trás. Seichan estava sentada de braços cruzados a olhar para o sombrio conjunto de armazéns, lojas de material e o icinas. Por causa dos crimes cometidos no passado, ela não era o icialmente um membro da Sigma. Nem nunca poderia vir a sê-lo. O seu recrutamento como espia era conhecido apenas por um pequeno grupo de con iança que pertencia à organização. Para o resto dos serviços de informação mundiais, continuava a ser uma terrorista procurada pela polícia, uma assassina contratada para matar.
— Como é que foi dado o alarme em Fort Knox? — perguntou Gray. — Toda a nossa identi icação era impecável. Quem os avisou? Fomos fotografados e revistados. Teria a fotogra ia da Seichan sido detetada por um banco de dados?
— Ainda estou a investigar — retorquiu Kat. — Mas posso dizer-te que o alerta não partiu de Fort Knox. Veio de uma fonte exterior, mas não consigo seguir-lhe o rasto. Pelo menos, por agora. É cedo de mais. Nesta altura, toda a gente ainda está a tentar arranjar cobertura. Devem estar a ser destruídos ficheiros em todo o DC.
— Quer dizer que fomos incriminados. Desde o início que foi uma emboscada.
Pensando no agente responsável em Fort Knox, podia adivinhar quem preparara tudo aquilo.
— Não há mais notícias acerca de Waldorf?
Uma hora depois de ter comprado o telemóvel descartável, Gray falara com Kat. A conversa fora breve pois ela tentava apagar uma centena de fogos enquanto, ao mesmo tempo, atiçava as brasas para manter secreto o envolvimento da Sigma e dava informações erradas aos vários serviços secretos do país para impedir que Gray e os seus companheiros fossem apanhados.
— Não — respondeu ela. — Tudo o que sei é que Waldorf desapareceu logo após ser dado o alarme. Mas deve andar a tentar caçar-te tão desesperadamente como os outros.
— Porque dizes isso?
— Foi um dos motivos por que tornei a ligar-te. Para te avisar. O Learjet que apanhaste em DC foi abatido em pleno ar há um quarto de hora, pouco depois de ter levantado voo do aeroporto de Louisville. Uma explosão rebentou com a cauda. Pensa-se que havia uma bomba ligada ao altímetro.
O avião alcançou uma determinada altura e foi pelos ares.
Gray lembrou-se do jovem piloto e uma raiva em brasa instalou-se-lhe no fundo da barriga.
— Waldorf andava à nossa procura, mas devia saber que não nos encontrávamos nesse avião.
Cerrou a mão ao aperceber-se do que isto signi icava. A bomba fora um ato de pura vingança por parte de Waldorf, cólera assassina por saber que fora enganado.
— Achei que devia dizer-te — preveniu-o Kat. — É mais um motivo para te pores a milhas.
— Compreendido.
Ouviu-a suspirar ruidosamente e pressentiu que ela tinha mais coisas para lhe dizer.
— O que é?
— Tive notícias da doutora Janice Cooper.
Gray levou uns instantes a perceber de quem se tratava.
— A que trabalha com o físico japonês.
— Ainda estão ambos sob custódia policial, mas o colega que sobreviveu ao massacre continua a consultar outros laboratórios. A nosso pedido, tem estado a investigar as vagas de neutrinos vindas do Oeste.
— E já conseguiu localizá-las?
— Não, mas conseguiu extrapolar a magnitude da próxima explosão.
Diz que será cem vezes maior do que a da Islândia.
Gray imaginou a ilha Ellioaey a desintegrar-se em ruínas fumegantes.
Cem vezes maior?
A destruição seria maciça e a escala inimaginável.
Kat prosseguiu.
— O que me faz lembrar porque te telefonei realmente. A exemplo da estimativa que fez com a Islândia, o ísico japonês calculou aproximadamente quando poderá explodir.
— Quando? — perguntou Gray, endurecendo o estômago como se antecipasse a força do soco.
— Dentro de mais ou menos cinco horas.
Foi invadido pelo desespero. O que poderiam fazer em cinco horas?
Mesmo que não estivessem a ser perseguidos, não conseguiriam voar para a Costa Oeste a tempo de efetuar o que quer que fosse. Mas a Sigma já lá tinha outros operacionais.
— Tens notícias do chefe Crowe?
A voz dela ficou mais tensa.
— Não. Sabemos que entrou num sistema de grutas por baixo de umas ruínas, mas os guardas locais informaram que houve uma explosão. A maior parte do local icou debaixo de escombros. A Lisa está a coordenar as equipas que esquadrinham o deserto onde ele foi visto pela última vez.
Até agora, não encontraram nada. Já falei com Ronald Chin pelo menos uma dezena de vezes e ele também nada sabe do Painter.
Gray esperava que o diretor estivesse bem, mas continuavam a precisar de alguém que enfrentasse os problemas que se intensi icavam nessa região.
— Falaste ao Chin do cronómetro geológico?
— Falei, mas sem uma localização, o que pode ele fazer? É por isso que preciso que arranjes maneira de recuperar o velho mapa índio da placa de ouro. Necessitamos urgentemente de saber onde está escondida essa nanotecnologia instável.
— Vou fazer o que puder, mas preciso de uma fundição onde possa liquefazer a placa de ouro para expor o mapa.
— Previ isso.
É evidente que ela previa tudo.
— Tenho a morada de uma pequena ourivesaria perto do lugar onde estás. O dono vai lá estar dentro de quinze minutos.
Ela deu-lhe a morada. Ficava apenas a uns quarteirões de distância, no mesmo complexo industrial por onde estavam a passar. Kat conseguia antecipar-se a todas as variantes.
Mas havia uma última variante.
— Posso falar com o Monk? — pediu em tom severo.
— Espera um instante.
Gray passou o telefone ao amigo.
— Parece que estás metido num sarilho.
Monk segurou o volante com o coto e pegou no telefone. Colocou-o entre o ombro e o queixo e voltou a segurar normalmente no volante.
— Olá, minha linda.
A voz de Kat cochichou ao telefone, mas não se conseguia distinguir o que ela dizia.
— Não, não perdi nada outra mão — disse Monk. — Perdi a prótese. É
uma grande diferença, minha querida.
Gray imaginou Kat a ralhar com o marido num dueto operático que há milénios era encenado entre maridos e mulheres, essa eterna combinação de irritação e amor.
Um lento sorriso estampou-se no rosto de Monk. Sussurrou palavras mundanas e vulgares — mas que, na verdade, eram tão apaixonadas como a letra de qualquer ária.
— Uh-huh... está bem... pois... assim farei...
Numa tentativa para lhes dar privacidade, Gray virou-se de costas para observar a rua escura, mas os seus olhos re letiram-se no espelho retrovisor. Surpreendeu a expressão meiga e perdida de Seichan a itar a nuca de Monk, sem saber que estava a ser observada.
Mas ela ainda era uma caçadora.
E, sentindo a atenção dele, encurralou-o no re lexo do espelho. O seu rosto endureceu novamente ao desviar o olhar.
De repente, a voz de Monk tornou-se estridente.
— O quê? Neste momento?
Gray prestou atenção.
Monk levantou o queixo para se dirigir aos companheiros.
— A Kat acabou de ouvir que encontraram o Painter. A Lisa está a falar com ele.
31
31 DE MAIO, 23H32
FLAGSTAFF, ARIZONA
Faltam menos de cinco horas para a nova explosão?
Depois de falar com Lisa, Painter foi pormenorizadamente informado sobre a situação por Kat. Consultou o relógio. Coincidiria com o nascer do Sol. Todavia, a questão mais importante mantinha-se: Onde explodiria exatamente?
Kat prosseguiu.
— O Gray está a tentar circunscrever a área da busca. A nossa esperança é que encontre realmente o velho mapa índio e possa localizar a cidade perdida.
Desde que recuperara a liberdade, Painter sentia-se como se tivesse as mãos atadas. Há cerca de uma hora que ele e os companheiros tinham escapado das grutas por baixo de Wupatki. O grupo que os procurava no local das ruínas icara surpreendido quando Painter e os outros surgiram subitamente a pedir água e comida. Foram imediatamente levados para um posto da guarda-lorestal onde Painter fora posto ao corrente do que acontecera durante a sua ausência.
Pelos vistos, acontecera muita coisa.
Mas, na sua mente, uma questão continuava a ser a mais importante.
Voltou a repeti-la: — Sabes alguma coisa da Kai, Kat?
— Não — acrescentou hesitante. — Estamos a esquadrinhar todos os condados do Arizona e do Utah. Não foi descoberto nenhum cadáver que corresponda à descrição da tua sobrinha.
Ele dominou o tom da sua voz.
— O Jordan Appawora disse que os comandos que nos atacaram tinham helicópteros. Podiam ter ido para mais longe.
— Vou mandar alargar a busca — prometeu Kat.
— O que achas de divulgar a notícia de que sobrevivi, através dos meios de comunicação locais e canais clandestinos?
— Já foi feito. Enviei a notícia do salvamento e fotos do vosso grupo a todas as estações importantes. Se o Rafael Saint Germaine ou alguém do seu bando ligar o televisor ou o rádio, ficará a saber.
— Ótimo.
A melhor probabilidade de a sobrinha sobreviver — caso ainda estivesse viva — era atraindo a atenção desse francês. Desse modo, Rafael mantê-la-ia em segurança, quanto mais não fosse para a utilizar novamente como moeda de troca. Agora, Painter tinha de pensar no que possuía que servisse para a libertar.
Kat passou os dez minutos seguintes a rever notas adicionais: sobre Fort Knox, a perseguição a Gray e companhia, e os relatórios dos neutrinos.
Ao terminar, ele desligou.
— Senhor...
Virou-se e viu Jordan no limiar da porta. Os outros tinham-se alojado num quarto do fundo com beliches. Jordan tinha ar de não ter dormido.
— Há alguma notícia?
— Ainda não.
Reparando na expressão tristonha do rapaz, acrescentou: — O que é uma boa notícia. Até ouvirmos o contrário, assumimos que está viva, certo?
Jordan acenou lugubremente a cabeça.
— OK, mas enquanto estava deitado lá atrás no escuro, pus-me a pensar. Quando me apanharam, tiraram-me tudo. Incluindo o meu telemóvel. E se ainda o tiverem? E se tentássemos ligar para o meu número?
A ideia fez Painter sentir as cordas que lhe amarravam os pulsos soltarem-se um pouco. Era possível que o telemóvel do miúdo ainda estivesse em poder deles? Valia a pena investigar. E, além do mais, detestava estar ali sentado sem fazer nada.
Jordan continuou a defender a sua causa sem perceber que já tinha ganho.
— Talvez alguém responda. Poderíamos ameaçá-los e assustá-los a tal ponto que deixassem a Kai ir-se embora.
Também podíamos localizar o telefone, pensou Painter, examinando várias possibilidades. Ou ativar o seu microfone à distância e transformá-lo num aparelho de escuta.
Claro que isto envolvia riscos e tinha poucas probabilidades de ser bem-sucedido. O francês não era parvo e já se devia ter livrado do telemóvel. Painter bateu com um dedo no tampo da mesa. Rafael julgava, porém, que eles estavam mortos e talvez os seus homens ainda não tivessem eliminado tudo o que os comprometia.
Painter sabia que levaria tempo a localizar o telemóvel, sobretudo, a partir deste deserto isolado — e que Kai talvez não tivesse esse tempo.
— Qual é o número do teu telemóvel? — perguntou a Jordan.
Deu-lho.
Painter memorizou-o e pediu a um guarda-lorestal um telefone ixo e um pouco de privacidade. Sozinho num gabinete, marcou o número. Tocou inúmeras vezes enquanto ele rezava para que alguém atendesse.
Finalmente, ouviu um clique. Uma voz com forte sotaque falou lentamente em tom despreocupado.
— Ah, Monsieur Crowe, estou a ver que a nossa conversa ainda não acabou.
1 de junho, 00h41
Salt Lake City, Utah
Rafael alojou-se mais uma vez na suíte presidencial do Grand America Hotel no centro de Salt Lake City. Tinham-no acordado há meia hora para lhe mostrar a fotogra ia de um grupo de pessoas cobertas de lama por baixo de um buraco gradeado.
Painter Crowe estava vivo.
Remarquable.
Chocado, permanecera ali de roupão durante um minuto, incapaz de reagir. Várias emoções debatiam-se no seu peito: raiva, espanto e, sim, uma ponta de medo — não por causa do indivíduo, mas pelos caprichos da fortuna.
Na fotografia, Painter olhava diretamente para a câmara.
E Rafe apercebeu-se da expressão de desa io re letida naquele olhar duro como o aço. Sabia que o chefe da Sigma orquestrara esta campanha dos meios de comunicação. Tratava-se de uma mensagem enviada pessoalmente a Rafael.
Estou vivo e quero a minha sobrinha.
Ao levar o telefone ao ouvido, ignorando o molho de cabos e ios que pendiam do telemóvel, Rafe lançou um olhar à porta fechada. Parecia que a fortuna sorria tão calorosamente à sobrinha como sorrira ao tio. Quisera interrogar Kai antes de se desembaraçar dela. A rapariga estivera na gruta do Utah, vira as múmias e os tesouros, e ele queria saber todos os pormenores. Potencialmente, ela também teria mais informações sobre a Sigma, os seus operacionais e outros mexericos apanhados durante o pouco tempo que passara com o tio.
Mas estes interrogatórios eram demasiado cansativos após um longo dia.
A manhã estava a chegar, por isso, deixara-a viver para ver mais uma vez o nascer do Sol.
E agora estava satisfeito por ter sido tão generoso.
— Não se dê ao trabalho de localizar este telemóvel — preveniu o seu adversário. — Tenho uma excelente equipa de peritos em encriptação e este sinal está a ser transmitido através de todo o mundo.
— Nunca me ocorreria tal coisa. É evidente que estava à espera desta chamada e suponho, por isso, que tenha tomado as devidas previdências.
Exactement.
Depois de ver a fotogra ia, Rafe previra que Painter haveria de descobrir maneira de contactar com ele. Ficara surpreendido por ter demorado tanto tempo. Ashanda — com a assistência de T.J. — montara a sua magia tecnológica no aparelho para que ninguém conseguisse localizar o telemóvel ou seguisse o sinal.
— Telefonei para recomeçar as nossas negociações — disse Painter. — Para continuar a conversa interrompida.
— É bastante razoável.
— Quero, primeiro, uma garantia de que Kai está viva.
— Não, não creio que o faça.
— Rafael apreciou a longa pausa, sabendo que Painter estava a sofrer.
— Pelo menos até perceber o que me quer propor.
A pausa estendeu-se, aumentando a desconfiança.
Está a preparar-se para fazer bluff ?
Para dizer a verdade, o que é que aquele homem podia oferecer de interessante?
Rafael contemplou o vaso de ouro em cima da mesa de jantar.
Examinara-o longamente, assimilando todos os pormenores e guardando-o para sempre na memória. Até mesmo agora, fazia-o girar mentalmente, passando um dedo sobre as letras gravadas numa língua perdida e sentindo de novo a paisagem gravada na superfície dourada.
Este tesouro prometia muito mais do que riqueza. Garantia glória eterna, a ele e à sua família. Que mais podia desejar?
Painter disse-lhe.
— Em troca do regresso de Kai sã e salva, revelar-lhe-ei a localização da décima quarta colónia.
Rafe sorriu lentamente.
O homem não parava de o espantar.
Remarquable.
00h44
— Tio Crowe, está vivo!
Painter afundou-se na cadeira ao ouvir a voz dela, desejando ser ele mesmo a manifestar essa alegria.
Kai estava viva!
Todavia, em vez disso, fez-lhe perguntas práticas pois sabia que tinha pouco tempo.
— Estás bem? Não te fizeram mal?
— Não — respondeu ela, alongando essa pequena palavra de modo a incluir muito mais.
Painter tinha consciência do trauma a que ela devia estar sujeita: as mortes, o sangue derramado, o horror do desconhecido. Mas a expressão também lhe transmitiu a coragem com que ela enfrentava a situação. Havia nela sangue de guerreiro.
— Hei de ir buscar-te. Prometo.
— Eu sei.
A resposta continha lágrimas e esperança.
— Sei que há de vir.
Rafael tiroulhe o telefone das mãos.
— Quer dizer que temos um acordo, n’est-ce pas?
— Telefonarei para lhe dar a hora e o local da troca.
— E também quero provas do que me disse, Monsieur Crowe.
— Desde que não lhe façam mal e ela permaneça em segurança, há de recebê-las.
— De acordo. Au revoir.
Depois de ele desligar, Painter continuou agarrado ao telefone, com os dedos crispados como se tentasse manter-se ligado a Kai. Sentia um alívio na cabeça.
Uma voz soou atrás dele.
— Pelos visto a Kai ainda está viva?
Virou-se na cadeira. O rosto ferido de Jordan manifestava inquietação.
Concentrado na chamada, Painter não ouvira o rapaz entrar no gabinete.
Ou o jovem era extremamente ágil, característica bem conhecida do clã dos Ute, ou Painter estava demasiado exausto para se manter atento, como era habitual.
Talvez fosse a combinação de ambas as coisas.
Painter encarou o rapaz, sabendo que tinha de lhe dizer a verdade.
Jordan merecia-o.
— Não a maltrataram — disse. — Mas ela ainda está em perigo.
Jordan deu um passo em frente.
— Quer dizer que vai revelar o que eles querem para que a libertem?
Embora se tratasse de uma pergunta, Painter também notou um certo tom perentório.
— Vou tentar.
Era o melhor que podia propor. Tinha feito bluff com Rafael ao telefone para ganhar tempo. Mas qual era a margem de manobra que tinha?
Durante quanto tempo poderia continuar a enganar o francês?
Na verdade, Painter não fazia ideia do local onde se encontrava a décima quarta colónia perdida. Só havia uma pessoa que tinha a possibilidade de adquirir esse conhecimento — mas esse indivíduo andava a monte, perseguido por toda a polícia e serviços de informação do país.
O medo voltara ao rosto de Jordan.
Painter levantou-se e pousou-lhe uma mão tranquilizadora sobre o ombro.
— Fazes bem em estar preocupado, mas não desanimes. Tenho um dos meus melhores homens a trabalhar no caso.
Jordan acenou a cabeça, respirou fundo e deixou o ar sair lentamente.
Painter olhou para o telefone que continuava na sua mão. Só dentro de uma hora é que Rafael esperava receber outra chamada, mas, por essa altura, já Painter necessitava de ter algumas respostas. Virou-se para a janela do gabinete, percorrendo o espaço com o olhar.
Não me desapontes, Gray.
32
1 DE JUNHO, 02H50
NASHVILLE, TENNESSEE
Gray, ao lado de Seichan, aproximou o rosto da abertura do forno. O calor banhou-lhe as faces. No interior, a placa de ouro, ligeiramente inclinada, assentava numa grelha de cerâmica e via-se o Grande Selo com as catorze flechas.
Chamas azuis agitavam-se no fundo do forno, fazendo subir lentamente a temperatura no interior. Por cima da porta, o mostrador do termómetro digital ultrapassava os seiscentos graus centígrados.
— Não deve demorar muito mais tempo — disse o dono da ourivesaria.
Era russo, tinha cerca de cinquenta anos e cabelo grisalho. A sua altura não era superior a um metro e meio, mas tinha ísico de jogador de linebacker e um pouco de barriga caía sobre o cinto. Levou a mão a uma corrente de ouro por baixo da t-shirt. O nome da empresa era GoldXChange e estava localizada no meio de uma confusão de complexos industriais nos arredores de Nashville. Comprava ouro antigo e também fundia anéis, moedas, colares e outras joias dos clientes para fazer lingotes.
E também tivera sarilhos com os impostos. Kat obrigara-o a cooperar, ameaçando prendê-lo se não guardasse silêncio
quanto ao empreendimento desta noite.
O homem estava evidentemente nervoso e tinha a camisa encharcada de suor.
— O ouro funde a mil graus centígrados — acrescentou o russo. — Vejam como já está a cintilar.
No interior do forno, a super ície avermelhada da placa começava a brilhar numa cor dourada. Enquanto observava, uma gota surgiu em cima do selo dos EUA, onde as penas da águia estavam gravadas no ouro, e rolou para dentro de um contentor de cerâmica por baixo da grelha. Em breve apareceram mais gotas incandescentes, que, como lágrimas, se derramaram formando sulcos que apagaram lentamente os pormenores do selo. As bordas da placa amoleceram, liquefazendo-se num rio de ouro.
— Já deve estar su icientemente quente — disse Gray ao ourives. — Mantenha essa temperatura.
Se o mapa estivesse escondido no interior da placa, Gray não queria correr o risco de o dani icar. O nano-ouro mais denso fundia a uma temperatura mais elevada do que o resto da placa, mas isso não signi icava que não amoleceria se ficasse demasiado quente.
Uma vez a temperatura estabelecida, Gray indicou a porta ao russo.
— Agora tem de sair. Vá fazer companhia ao meu colega lá fora.
O ourives não hesitou e, com um aceno de cabeça, dirigiu-se apressadamente para a saída. Monk estava no exterior a vigiar a rua. Não desejavam ser emboscados outra vez.
Gay esperou que o dono da loja saísse para voltar a prestar atenção ao forno, onde o ouro fundido escorria como sol líquido. A placa desintegrava-se lentamente perante os seus olhos, perdendo cada vez mais a sua massa.
— Olha para a super ície de cima — disse Seichan, agarrando-lhe no pulso.
— Estou a ver.
Viram uma aresta escura irregular sobressair da orla da placa, uma sombra projetada sobre o ouro fundido. Ao longo dos minutos seguintes, o metal incandescente continuou a jorrar, pondo a descoberto uma larga parte do que estava escondido. Esse novo metal era menos brilhante e tinha um tom rosado-vivo em oposição ao ouro amarelo.
— É o mapa — sussurrou Seichan.
Tornou-se claro quando o ouro que restava se escoou, correndo ao longo da super ície de metal rosada e expondo outro segredo há muito oculto.
Esta obra de cartografia não era uma gravura plana.
— É um mapa topográfico! — exclamou Gray, impressionado por tal talento.
Surgiram minúsculas montanhas esculpidas juntamente com vales profundamente sulcados por rios e cavidades a indicar lagos. O ouro fundido revelava um modelo à escala da metade superior do continente norte-americano.
Enquanto Gray seguia atentamente aquela transformação, uma das últimas gotas fundidas deslizou como um barco à vela por um largo rio que dividia o continente ao meio.
É certamente o Mississippi.
Continuou a identi icar outros pontos de referência: uma série de depressões que marcavam os Grandes Lagos, uma pequena fenda que só podia ser o Grand Canyon, uma cadeia de montanhas que indicava os Apalaches. Até mesmo a linha da costa parecia assombrosamente precisa.
A seguir, a nordeste do continente, em pleno oceano, erguiam-se umas ilhotas à volta de uma ilha maior.
A Islândia.
Dentro de pouco tempo só se via o mapa na grelha de cerâmica. As suas margens eram rugosas e deformadas, ligeiramente enroladas nos cantos. Uma ina dobra reta dividia o meio e as duas metades ajustavam-se uma à outra perfeitamente. Gray imaginou o mapa a forrar a cavidade craniana do mastodonte. A gente de Jefferson devia ter queimado os ossos para preservar o mapa.
— Aquilo ali é alguma escrita? — perguntou Seichan.
— Onde?
— Ao longo das margens do mapa.
Gray aproximou-se do forno, sentindo o calor a queimar-lhe o rosto. A vista de Seichan era melhor do que a dele. Viam-se de facto garatujas quase indistintas ao longo do mapa, a oeste do continente, como anotações de um cartógrafo.
Semicerrando os olhos, examinou-as.
— Parece a mesma escrita que vimos reproduzida no diário de Fortescue, as letras que ele copiou de uma das placas de ouro.
Virou-se para Seichan.
— Vai buscar papel ao escritório. Tens melhores olhos do que eu.
Quero copiar tudo isto.
Seichan obedeceu sem fazer perguntas. Conhecia o desa io que tinha pela frente e estava feliz por deixar Gray resolvê-lo.
Gray tornou a concentrar-se no mapa. A sul da Islândia, pequenos pontos indicavam o arquipélago de Vestmannaeyjar. Por cima de um deles viu que um minúsculo cristal escuro — provavelmente um diamante negro — fora incrustado no metal. Brilhava no meio da dança de fogo que ocorria no interior do forno.
A ilha Ellioaey.
Olhou para oeste, onde outro diamante brilhava no metal rosado. Era muito maior do que o da Islândia e talvez indicasse o tamanho relativo do depósito ocidental. Era uma inquietante lembrança do perigo que lá fermentava.
Gray franziu a testa, tentando orientar-se. O facto de não haver linhas divisórias entre estados nem o nome das cidades tornava di ícil veri icar para onde esta marca apontava. Devia ser algures nas Montanhas Rochosas, bem a norte, mas no interior do que acabaria por vir a ser os Estados Unidos.
Dada esta falta de precisão, não era de admirar que Fortescue tivesse decidido ir primeiro à Islândia.
Seichan voltou com papel e uma caneta e copiou as anotações nas margens do mapa.
Enquanto ela trabalhava, Gray seguiu as Montanhas Rochosas mais para sul onde encontrou o que procurava, um ín imo estilhaço de cristal fácil de passar despercebido se não se estivesse à procura dele.
Deve ser o local no Utah.
Comparado com o cristal de diamante a norte, era insigni icante. Tão pequeno que Jefferson e Fortescue não o tinham visto ou julgaram que não valia a pena mencioná-lo. Gray examinou o espaço entre os três cristais, cada vez mais convencido de que a diferença de tamanho re letia a relativa importância desses sítios — e igualmente o perigo relativo de cada um deles.
Consultou o relógio, consciente da passagem do tempo.
Seichan terminou o trabalho e apontou a caneta para o diamante maior.
— Sabes onde fica?
— Penso que talvez saiba — respondeu ele, encaixando as peças na sua cabeça.
Tudo fazia um sentido atroz e aterrador, mas, antes de partilhar a sua teoria, tinha de estar seguro.
— Tenho de verificar o mapa da parte ocidental dos EUA.
Seichan apontou para o forno.
— Entretanto, o que fazemos com este mapa?
Gray mostrou-lhe. Rodou o botão do termóstato digital até a temperatura subir acima dos três mil graus centígrados, três vezes superior ao ponto de fusão do ouro vulgar. As chamas azuis subiram no interior do forno, contorcendo-se mais vigorosamente.
Seichan fitou-o com uma sobrancelha levantada.
— Não podemos correr o risco de o mapa ir parar às mãos de Waldorf — explicou.
— Quer dizer que vais destruí-lo?
— Vou tentar. No entanto, o metal do mapa é mais denso e não funde à temperatura do ouro vulgar. Mas deve fundir a uma dada temperatura.
E, para se certi icar de que isso aconteceria, Gray continuou a rodar o botão do termóstato até o indicador da temperatura mudar para apenas três letras MAX.
Isso deveria resolver a questão.
Gray e Seichan icaram a ver a temperatura do forno aumentar cada vez mais. O calor que de lá irradiava obrigou-os a recuar uns passos. No interior da câmara, o brilho rosado do mapa tornou-se ofuscante e cintilava como um sol em miniatura.
Talvez não se funda... nem sequer a esta temperatura.
Mais um minuto e Gray teve de proteger os olhos.
— Estás a sentir? — perguntou Seichan.
— Sentir o quê? — começou ele a dizer e, então, sentiu.
Um formigueiro na pele, uma ligeira vibração, como se todas as moléculas da sala tivessem icado excitadas. Um segundo depois, o pesado forno começou a trepidar e a bater contra o chão de cimento.
Gray agarrou Seichan pelo cotovelo e empurrou-a.
— Foge!
Fugiu atrás dela. Imaginou os átomos intensamente comprimidos uns contra os outros no nano-ouro, contendo quantidades maciças de energia potencial em estado de tensão, como um elástico fortemente esticado.
Olhou para trás. Se esse elástico fosse de repente cortado, se, aquecendo excessivamente o metal, toda essa energia fosse libertada ao mesmo tempo...
Não ia fundir.
A explosão lançou-os aos trambolhões, a ele e a Seichan, pela porta da loja para a noite. Estilhaços de vidro e de madeira choveram à volta deles.
A porta chamuscada do forno voou e esmagou o para-brisas do Chevy do ourives, estacionado na rua.
Gray levantou-se a cambalear e, passando um braço pela cintura de Seichan, arrastou-a com ele. Lembrou-se dos reservatórios de gás sob pressão da loja e a explosão seguinte, acompanhada por uma onda ardente de calor, atirou-os novamente ao chão. Atrás deles, uma enorme bola de fogo saiu pelo que restava da vitrina da loja e subiu no céu.
Puseram-se outra vez em pé, ajudando-se um ao outro.
Monk, do outro lado de um pequeno parque de estacionamento em frente da loja, itou-os. Estava ao lado do russo que olhava em redor espantado. Quando eles se levantaram, o russo caiu de joelhos.
— O que fizeram à minha loja? — perguntou aos berros.
— Será reembolsado — prometeu Gray, afastando-o e apontando para a carrinha branca roubada. — Desde que se mantenha calado.
Meteram-se na carrinha e Monk sentou-se ao volante.
— Segurem-se — disse Monk.
Meteu a marcha-atrás e acelerou, atravessando o parque de estacionamento. Saltaram por cima do passeio e aterraram no asfalto com os dentes a ranger e, a seguir, voltou a meter a primeira tão depressa que se arriscaram a ficar com um torcicolo no pescoço.
Gray percebeu a necessidade de tanta velocidade. Todos perceberam.
Tinham de sair daquela área antes de as equipas de socorro chegarem.
Olhou para a loja a arder. As chamas dançavam à sua volta o fumo subia no céu como um sinal luminoso. A pista deles, que se perdera, fora reencontrada. Não con iava no silêncio do russo. A notícia haveria de se espalhar — e, provavelmente, chegar aos ouvidos de Waldorf.
— O que sucedeu? — perguntou, finalmente, Monk.
Gray contou-lhe.
— Pelo menos, encontrámos o mapa índio — comentou Monk. — E a localização da décima quarta colónia? Sabes onde é?
Gray acenou a cabeça.
— Tenho uma ideia.
— Onde fica?
— No pior lugar que podia haver.
33
1 DE JUNHO, 00H22
FLAGSTAFF, ARIZONA
Painter encostou-se a uma mesa da cabina principal do posto da guarda-florestal.
— Se o Gray tem razão, até que ponto estamos metidos num sarilho?
Do outro lado de resmas de mapas topográ icos e relatórios do Departamento Geológico dos EUA, Ronald Chin abanou a cabeça.
— Eu diria até ao pescoço.
Esta maneira desbocada de falar do geólogo, indivíduo normalmente reservado, dizia muita coisa. Chin chegara há meia hora acompanhado por um o icial da Guarda, o major Ashley Ryan. Os dois tinham partido do Utah para o Arizona com a intenção de ajudar na busca do grupo de Painter, mas, ao saberem do seu aparecimento quando aterraram em Flagstaff, vieram ter com Painter ao posto da guarda-lorestal, que entretanto se transformara numa sala de campanha improvisada.
— Não se importa de ser mais especí ico? — perguntou Painter, olhando para um mapa de Montana e Wyoming. Gray acreditava ser aqui que a cidade perdida dos antigos estava escondida, o lugar do repouso inal dos Tawtsee’untsaw Pootseev e onde guardavam os seus maiores tesouros. E onde os ponteiros de um relógio do dia do juízo inal estavam a avançar, um neutrino de cada vez.
Examinou os limites do parque nacional traçados no mapa.
Yellowstone.
O primeiro parque do país e o avozinho de todas as áreas geotérmicas deste continente. Se os Tawtsee’untsaw Pootseev quisessem um lugar quente e permanente para preservar e proteger o seu frágil tesouro, este seria o sítio ideal. Possuía dez mil fontes térmicas, duzentos géiseres e outros inúmeros ori ícios de vapor, fumarolas borbulhantes e vulcões de lama.
Mas também era um parque demasiado vasto para proceder a uma busca.
Quase um milhão de hectares.
Antes de decidir concentrar todos os esforços nesse local, Painter queria ter a certeza. Num dos gabinetes do fundo, Hank Kanosh mobilizava os seus recursos nativos americanos para reforçar a teoria de Gray. Por esta altura, ainda se tratava de uma teoria e até mesmo Gray reconhecia que a sua estimativa do local era, no melhor dos casos, apenas uma intuição e que havia uma larga margem de erro. E, entretanto, iria procurar mais provas investigando a fundo a faceta histórica.
Enquanto tudo estava a ser feito, Painter queria ter uma ideia do que poderia esperar e, para isso, necessitava de um geólogo.
Chin contornou a mesa, arrastando um mapa topográ ico de Yellowstone ao longo do tampo. Via-se um círculo de montanhas à volta de um imenso planalto, o coração geotérmico do parque. O vale fumegante estendia-se ao longo de quatro mil quilómetros quadrados, área su icientemente grande para conter toda a cidade de Los Angeles — mas não era um vale vulgar. Era uma caldeira, a cratera de um supervulcão a ferver por baixo do parque.
— O problema é isto — explicou Chin, batendo com um dedo no centro da cratera ocupada por um vasto lago. — A caldeira de Yellowstone marca um sítio geológico, um a loramento contínuo da rocha fundida do manto proveniente do âmago da Terra que se alimenta de uma enorme câmara de magma a apenas seis a oito quilómetros da super ície. A partir dos dados reunidos pelo observatório do vulcão de Yellowstone, também sabemos que existem bolsas de magma muito mais perto da super ície que se in iltram na crosta e conduzem toda a atividade hidrotérmica na área.
Com a chuva local, o calor ativa um enorme e antigo sistema hidráulico, o maior motor a vapor do mundo. Só essa força tem provocado inúmeras explosões hidrotérmicas no vale. O próprio lago de Yellowstone foi formado por uma dessas explosões, quando a chuva e a água das fontes encheram a cratera.
O dedo de Chin pousou nesse lago e os seus olhos itaram o rosto de Painter.
— Mas, mais no fundo, por baixo da terra, a pressão continua lentamente a subir à medida que a rocha fundida do manto sobe, acumulando-se no interior dessa colossal câmara de magma.
— Até acabar por explodir.
— O que já aconteceu três vezes nos dois últimos milhões de anos. A primeira explosão abriu um buraco na crosta do tamanho de Rhode Island e a última erupção deixou a maior parte do continente coberta de cinzas.
Essas explosões ocorrem regularmente e são tão constantes como as do géiser Old Faithful. Todos os seiscentos mil anos.
— Quando foi a última? — perguntou Painter.
— Há seiscentos e quarenta mil anos.
O geólogo lançou um olhar significativo a Painter.
— Portanto, já está atrasada. Não é uma questão de saber se o vulcão irá entrar em erupção, mas sim quando. A erupção é inevitável e as provas geológicas indicam que está para breve.
— Que provas?
Chin estendeu um braço e puxou um molho de estudos do Departamento Geológico dos EUA e relatórios sísmicos do observatório de vulcões. Sacudiu as folhas na mão.
— Temos estado a reunir dados desde 1923. O terreno aqui à volta tem vindo a elevar-se à medida que a pressão aumenta por baixo, mas, a partir de 2004, triplicou a média anual, a subida mais alta que alguma vez foi registada. O fundo de uma extremidade do lago Yellowstone, que se encontra por cima da caldeira, subiu o su iciente para derramar água do outro lado, exterminando uma série de árvores. E outras secções da loresta estão a morrer porque as raízes estão a ser cozidas pelo calor subterrâneo. As fontes quentes ao longo de trilhos começaram a ferver, queimando com gravidade alguns turistas e obrigando a encerrar algumas dessas passagens. Segundo observações feitas por aviões que sobrevoam o parque, estão a abrir-se fumarolas mais profundas cujos vapores tóxicos matam bisontes.
Chin bateu com os papéis sobre a mesa.
— Isto é um autêntico barril de pólvora prestes a explodir.
— E alguém acabou de acender o fósforo — comentou Painter.
Imaginou vagas de neutrinos vindas de algures no interior do parque, uma delas cem vezes maior do que a que ocorrera na Islândia.
— O que podemos esperar se não conseguirmos parar com isto? — perguntou Painter. — O que acontece se a caldeira realmente explodir?
— Um cataclismo.
Chin continuou a olhar para os relatórios e bases de dados espalhados sobre a mesa.
— Primeiro, deverá ser a explosão mais ensurdecedora ouvida pela humanidade em setenta mil anos. Em minutos, cem mil pessoas icarão enterradas em cinzas, incineradas por luxos piroclásticos superaquecidos ou mortas simplesmente pela força da explosão. O magma será lançado a quarenta quilómetros de altura. A câmara expelirá um volume de lava su iciente para cobrir o país inteiro por baixo de uma camada de dez centímetros, mas a maior parte cairá nos estados do Oeste, dando cabo de todo o Noroeste. Para o resto dos EUA e do mundo, o verdadeiro assassino será a cinza. Os cálculos dizem que cobriria dois terços do país sob, pelo menos, um metro de cinza, tornando a terra estéril e inabitável. Mas o pior de tudo é que a cinza na atmosfera ofuscará o Sol e baixará vinte graus a temperatura da terra, causando um inverno vulcânico que poderá durar décadas, senão séculos.
Painter imaginou a fome a nível mundial, o caos e a morte. Lembrou-se da descrição feita por Gray da erupção do Laki na Islândia pouco depois da fundação da América. Esse acontecimento vulcânico, pequeno por comparação, aniquilara seis milhões de pessoas.
Olhou para o rosto acinzentado de Chin.
— Está a falar de extinção a nível mundial, não está?
— Já sucedeu antes. Há apenas setenta mil anos. A erupção de um supervulcão na Sumatra. O inverno vulcânico que se seguiu liquidou a maior parte da população humana, reduzindo o nosso número para apenas uns milhares de casais capazes de se reproduzirem em todo o mundo. A espécie humana sobreviveu a essa erupção por um cabelo.
Chin fitou Painter com um olhar moribundo.
— Desta vez, não teremos tanta sorte.
00h28
Sentado no gabinete do fundo, Hank escutou a sinistra predição de Chin.
Tinha as mãos pousadas no teclado do computador, os olhos alheios ao ecrã. Pensou em toda a civilização destruída e lembrou-se da profecia do ancião Ute a respeito da derrocada das montanhas no Utah — como o grande espírito haveria de se erguer e destruir o mundo se alguém entrasse na gruta.
Estava a tornar-se realidade.
Uma sombra estendeu-se sobre os seus dedos longos e nodosos. Uma mão quente e lisa apertou a sua.
— Está tudo bem, professor — disse Jordan, sentado ao seu lado a compilar páginas saídas de uma impressora laser. — Provavelmente, o Yellowstone nem é o local certo.
— É, sim.
Hank não conseguia livrar-se do desespero que a recordação de Maggie e de todos os outros que tinham morrido tornava ainda mais di ícil de suportar.
Todas estas mortes.
Sentiu-se subitamente ressentido pela juventude do seu companheiro, o seu inesgotável otimismo e a irme crença na sua própria imortalidade.
Lançou-lhe um olhar de lado — mas o que viu no rosto do jovem contava uma história diferente. Os olhos negros, as feições feridas, o medo que todos os seus músculos exprimiam — não era a falta de maturidade que engendrava tal esperança em Jordan, mas simplesmente quem ele era.
Hank respirou fundo, rejeitando as mortalhas dos mortos. Ainda estava vivo. E este resoluto jovem também. Uma cauda abanou debaixo da mesa.
E tu também, Kawtch.
Hank retribuiu o caloroso apoio de Jordan, apertando-lhe igualmente a mão antes de voltar a concentrar-se nos seus pensamentos. Ainda não mudara de opinião quanto ao local inal de repouso dos Tawtsee’untsaw Pootseev. O colega de Painter no Leste izera uma leitura correta do mapa de ouro.
Pelo menos, Hank assim acreditava.
— O que descobriu? — perguntou Jordan.
— Tenho andado a estudar o que dizem as tradições nativas americanas a respeito de Yellowstone para tentar discernir correlações entre os vários mitos e lendas que concordam na existência de um cidade perdida nesse vale. Tem sido frustrante. Os índios americanos há mais de dez mil anos que vivem nessa região. Cheyenne, Kiowa, Shoshone, Blackfeet e, mais recentemente, os Crow. Mas todas essas tribos falam pouco desse vale. É um silêncio retumbante e forte, portanto, suspeito.
— Se calhar, não sabiam nada sobre isso.
— De modo algum. Deram-lhe nomes. Os Crow chamavam-lhe «terra de chão ardente» ou, por vezes, «terra de vapores». Os Blackfeet descreviam-no como tendo «muitos fumos». Os Flatheads usavam a expressão «fumo do chão». Não se pode ser mais preciso, pois não? Essas primeiras tribos sabiam sem dúvida da existência de tal lugar.
— Então, talvez não falassem dele por medo.
— Foi isso que se julgou durante muito tempo. Pensou-se que os índios acreditavam que os assobios e bramidos dos géiseres eram vozes de espíritos malé icos. Essa teoria ainda é discutida em certos círculos, mas é pura aldrabice. Os estudos antropológicos mais recentes revelaram que os índios não temiam essas regiões. Essas histórias falsas foram divulgadas por colonos brancos, talvez para fazer deles selvagens, loucos ou pobres de espírito... ou, para justi icar o facto de lhes roubarem as terras. Se os pioneiros pudessem provar que os índios tinham medo de entrar em Yellowstone, todo o território ficaria à mercê de qualquer branco.
— Então qual é a história verdadeira?
Hank apontou para o ecrã.
— A evidência confundiu os estudiosos daquela época. Isso é o que o historiador Hiram Chittenden escreveu sobre a questão em 1895. É
bastante estranho que, no parque nacional de Yellowstone, nenhum conhecimento da região pareça provir dos índios... O seu profundo silêncio é, por isso, tão notável como misterioso.
— Não parece que eles estivessem assustados — comentou Jordan. — É mais provável que estivessem a ocultar algo.
Hank tocou no nariz — absolutamente certo, meu rapaz — e, a seguir, voltou a apontar para o ecrã.
— Olha para isto. Encontrei esta passagem num estudo recente. É um excerto do diário de um dos primeiros colonos, John Hamilcar Hollister.
Não encontrei nada como isto em lado algum, mas diz muito acerca desse profundo silêncio por parte dos índios.
Jordan aproximou-se.
Hank leu calmamente o que dizia.
Há apenas algumas lendas que se referem a esta terra deliberadamente desconhecida. Só encontrei uma e diz que nunca se deveria falar deste inferno a um branco pois ele poderia penetrar nessa região e associar-se com os diabos, e, com o seu auxílio, destruir todos os índios.
Jordan recostou-se na cadeira, atónito.
— Estavam a esconder realmente qualquer coisa.
— Algo que os nossos antepassados, temendo que fosse usado contra eles, não queriam que caísse em mãos erradas.
— Essa cidade perdida tem de estar aí.
Mas onde?
Hank consultou o relógio, debatendo-se para que o paralisante desespero que se apoderara dele há momentos não voltasse. Seguiria o exemplo de Jordan e não desistiria de ter esperança. Surpreendeu o jovem a olhar pela janela para as luzes de Flagstaff à distância. Mas Hank sabia que, em pensamento, Jordan estava muito mais longe, preocupado com coisas que nada tinham que ver com vulcões nem cidades perdidas.
Desta vez, foi Hank quem estendeu o braço e lhe apertou a mão para o tranquilizar.
— Havemos de a reaver.
01h38
Salt Lake City, Utah Há quase uma hora que Kai tinha falado com o tio Crowe. Estava sentada na sala de jantar, desamarrada, mas não havia nada que pudesse fazer exceto mordiscar a unha do polegar.
A atividade reinava na suíte de vários quartos. Os comandos tinham trocado as fardas por roupa civil que se ajustava mal ao seu aspeto rude.
Faziam as malas, armazenando o equipamento e desmontando as armas.
Preparavam-se para mudar de sítio.
Até mesmo os computadores foram guardados num contentor com rodas, um baú Louis Vuitton modi icado. Vários ios elétricos continuavam ligados ao telemóvel de Jordan.
Rafael andava à volta do telefone, esperando a chamada do tio de Kai.
Tão ansiosa como o homem que a mantinha prisioneira, ela pôs as mãos no colo e, com as palmas unidas, meteu-as entre as pernas, balançando-se numa navalha de terror.
Antes de Painter telefonar, Kai fora fechada num dos quartos da suíte convencida de que ele estava morto. Nessa altura, tinha a certeza de que esta gente iria matá-la, mas não se importava. Reduzida a uma casca oca de si mesma, sentara-se à beira da cama. Ainda estava consciente de sentir o medo enrolado à volta da base da coluna, mas, comparado com a desolação que a envolvia, não era nada. Vira demasiado sangue, demasiadas mortes.
A sua vida tinha pouco signi icado. Pensou quebrar o espelho da casa de banho e cortar as veias com um pedaço, como se assim pudesse recuperar um mínimo de controlo.
Mas, mesmo isso, era um esforço demasiado grande.
Não tinha força.
Mas o telefonema chegara. O tio estava vivo e o professor e Jordan e até mesmo o frigorí ico ambulante chamado Kowalski. Vira o retrato deles no ecrã do computador de Rafael, uma imagem congelada de uma emissão sobre o salvamento do grupo.
Depois da chamada, a alegria preenchera os espaços ocos dentro dela, iluminando de luz cálida o escuro vazio. As últimas palavras do tio permaneceram com ela.
Irei buscar-te. Prometo.
Dissera-lhe que não a abandonaria — e ela acreditou nele, o que causou o intenso terror que sentia agora. De repente, desejava viver e, ao permitir-se sentir esse desejo, apercebia-se de que, mais uma vez, tinha tudo a perder.
Mas não havia fuga.
Lançou um olhar à única pessoa que lhe fazia companhia à mesa de jantar. Era a musculosa africana Ashanda. Ao princípio, aquela mulher aterrorizara-a. Nessa altura, Ashanda obedecia às ordens de Rafael e estava a torturar o casal índio. Ao longo do tempo, contudo, esse medo transformara-se em algo que parecia desconforto misturado com uma espécie de curiosidade.
Quem era ela?
Era tão pouco parecida com os outros. Embora lutasse por Rafael, não era soldado. Reviu-a a sair das sombras da gruta e a correr com uma agilidade que desa iava o seu tamanho. E também vira os seus dedos escuros percorrerem velozmente o teclado do computador. Era certamente mais do que uma simples técnica.
À luz brilhante da sala, Kai notou que ligeiras cicatrizes engrossavam a pele de Ashanda e formavam linhas de pequenos pontos que lhe davam o aspeto de pele de crocodilo. O seu rosto também estava coberto de cicatrizes, mas de modo mais decorativo e realçando os seus olhos escuros.
Tinha o cabelo penteado em tranças que lhe caíam do alto da cabeça e lhe envolviam graciosamente a testa e os ombros.
Kai observou-a. Antes vira apenas vazio nos seus olhos, mas, agora, já não. Sabia que no fundo daqueles espelhos escuros se agitava um poço de tristeza. Ashanda permanecia tão imóvel como se tivesse medo de ser vista.
Havia devoção e fadiga no modo como itava Rafael. Sentava-se como um cão à espera que o dono lhe izesse uma festa, sabendo que era tudo que alguma vez obteria.
O toque do telefone pôs termo às divagações de Kai.
Virou-se na cadeira.
Finalmente.
01h44
Rafael apreciava a pontualidade. E o chefe da Sigma telefonara precisamente à hora prometida. Não foi a chamada em si, mas o que o homem propôs que, surgindo de modo tão inesperado, o desconcertou.
— Tréguas? — repetiu Rafael. — Entre nós? Que utilidade tem isso para mim?
A voz de Painter era insistente.
— Como prometi, indicar-lhe-ei a localização da décima quarta colónia.
Mas não lhe servirá de nada. O local onde se encontra vai explodir dentro de aproximadamente quatro horas e meia.
— Então, Monsieur Crowe, se quer que a sua sobrinha se mantenha viva, o melhor será fazermos a troca o mais rapidamente possível.
— Escute, Rafael. Vou dizer-lhe agora. A décima quarta colónia está escondida algures no parque nacional de Yellowstone. Tenho a certeza de que um tal sítio faz sentido para si, não acha?
Rafe tentou perceber a razão de uma mudança tão drástica de planos.
Trata-se de uma cilada? Com que finalidade?
Painter continuou a falar rapidamente.
— Dê-me a morada de um e-mail e eu enviar-lhe-ei todos os dados relevantes. Mas dentro de poucas horas, a situação vai tornar-se crítica e haverá uma explosão cem vezes mais potente do que a que ocorreu na Islândia. E esse não é o verdadeiro perigo. A explosão fará de lagrar nanorrobôs que começarão a desintegrar toda a matéria que encontrem e se espalharão, aumentando de tamanho. E o nanoninho irá corroer tudo à sua volta até chegar à câmara de magma por baixo de Yellowstone incendiando o vulcão aí enterrado. O resultado será um cataclismo equivalente ao choque de um asteroide com cerca de dois quilómetros de largura contra a Terra, o que signi icará o im da maior parte da vida no planeta e, certamente, de toda a vida humana.
Rafe deu por si a respirar com dificuldade. Estaria ele a dizer a verdade?
— Duvido que tal destruição sirva os seus planos — continuou Painter.
— Ou de alguém com quem trabalhe. Ou nós trabalhamos em equipa e partilhamos o que sabemos para impedir que isto aconteça ou será o im de tudo.
— Vou... precisar de tempo para pensar no assunto.
Rafe detestou ouvir a sua voz hesitar.
— Não demore muito — avisou-o Painter. — Se quiser, envio-lhe toda a informação em nosso poder. A área ocupada por Yellowstone é de oitocentos mil hectares, o que, para nós, constitui um enorme desa io.
Ainda temos de descobrir a localização exata da cidade perdida e não há tempo a perder.
Rafe consultou o relógio de pulso. Se o chefe estivesse a dizer a verdade, tinham de encontrar a cidade perdida e neutralizar o material lá escondido antes das seis e um quarto da manhã.
— Envie-me o que tiver — disse Rafe, dando-lhe um e-mail.
— Se precisar de me contactar, tem o meu número de telefone — acrescentou Painter, desligando.
Após o telefonema, Rafael ficou a refletir de cabeça baixa.
Devo acreditar em si, Monsieur Crowe? Está a dizer-me a verdade?
Rafe levantou ligeiramente a cabeça para lançar um olhar a Kai Quocheets.
O chefe não perguntara nem sequer uma vez pela sobrinha. Isso, mais do que tudo, provava a sua honestidade. O que interessava negociar uma vida se a vida de toda humanidade corria risco?
O telefone voltou a tocar, sobressaltando Rafe. Olhou para o telemóvel encriptado que ainda segurava na mão. O toque não provinha de lá. Virou-se para o aparador da sala de jantar onde o seu computador portátil e telemóvel se encontravam. Viu o telemóvel a vibrar e ouviu-o novamente tocar.
Aproximou-se, apoiando-se mais pesadamente na bengala do que era habitual. O seu telemóvel pessoal destinava-se apenas a comunicar com a família e alguns associados da empresa de investigação nos Alpes franceses. Mas o mostrador apenas indicava que a identidade de quem chamava fora bloqueada. Não fazia sentido. O seu telemóvel não aceitava chamadas bloqueadas.
A sua intenção era não responder, mas, como precisava de se distrair enquanto esperava a informação que Painter Crowe icara de lhe enviar e já tinha o telemóvel na mão, acabou irrefletidamente por atender.
Irritado, levou o aparelho ao ouvido.
— Quem fala?
A voz era doce e americana, talvez com um ligeiro sotaque do Sul, mas demasiado fraca para Rafe depreender mais do que isso. O homem disse-lhe o nome.
A bengala escorregou-lhe da mão e caiu no chão de mármore. Rafe agarrou-se ao aparador para se equilibrar. Viu Ashanda levantar-se para o ajudar, mas abanou energicamente a cabeça.
A pessoa falava agora calma e distintamente numa voz que não era ameaçadora, apenas decidida.
— Ouvimos as notícias. Irá cooperar totalmente com a Sigma. É urgente impedir o que nos ameaça a todos. Temos plena con iança nas suas capacidades.
— Je vous en prie — balbuciou Rafe, ofegante, sem notar que, por inadvertência, estava a falar francês.
— Assim que cumprir o seu objetivo, quem não izer parte do seu grupo e esteja a par do que foi descoberto deve ser eliminado. Mas aviso-o que, no passado, o chefe Crowe foi por vezes subestimado.
O olhar de Rafe caiu em Kai.
— Talvez arranje maneira de neutralizar as suas ameaças, mas tenho de agir com cautela.
— Com ossos tão frágeis, tenho a certeza de que a cautela é uma das suas melhores qualidades.
Embora isto pudesse ser tomado como um vago insulto, o tom amável e divertido como foi dito — até mesmo nestes momentos di íceis — tornava claro que a intenção não era ofensiva.
— Adieu — disse o homem em francês e de maneira igualmente conciliadora. — Tenho assuntos a tratar no Leste.
Ouviu-se o sinal de desligar.
Rafe virou-se prontamente para T.J. que estava a arrumar o que restava do equipamento informático.
— Ligue-me ao Painter Crowe.
E ordenou a Bern: — Quero os homens prontos a partir dentro de um quarto de hora.
— Para onde vamos? — perguntou Bern.
Não estava a ser indiscreto; era apenas para saber como melhor equipar os seus homens.
— Para Yellowstone.
T.J. interrompeu.
— O telefone está a tocar, senhor.
Rafe pegou no telefone, pronto a fechar o negócio.
Sabia que era perigoso desobedecer. A honra daquele momento endurecia a sua determinação, se não os seus ossos. Era o primeiro membro da sua família a falar com um membro da Verdadeira Estirpe.
34
1 DE JUNHO, 04H34
ARREDORES DE NASHVILLE, TENNESSEE
O dia ficaria em breve mais claro.
Gray não tinha a certeza se era um desenvolvimento positivo. Ainda mal tinham saído de Nashville, obrigados a seguir por ruas discretas e estradas secundárias e a obedecer aos limites de velocidade. Era Monk quem conduzia enquanto Gray coordenava os planos com Painter Crowe.
Com um objetivo cumprido, o chefe encarregara-o de outro: tentar localizar a décima quarta colónia através dos indícios históricos. Tinham percorrido o caminho de ida e volta à Islândia de Archard Fortescue e, agora, tinham de ver se conseguiam seguir os passos posteriores do francês.
O que significava que não eram os únicos a não dormir.
— Telefonar tão cedo está a tornar-se um hábito, senhor Pierce — disse Eric Heisman ao telefone, mais excitado do que irritado.
Kat izera a chamada através da central da Sigma para baralhar a ligação.
— Tenho-o no altifalante — disse Gray.
Precisava da colaboração de todos. Não era altura de falhar uma observação crítica ou deixar escapar um pormenor importante. Gray queria as impressões digitais de toda agente neste caso.
Seichan endireitou-se no banco de trás, preparando-se para escutar a conversa.
Monk descia lentamente a autoestrada Shelbyville a sul da cidade. A esta hora, a estrada estava deserta, o que lhe permitia concentrar toda a atenção no telefonema. Do outro lado da linha, no comando da Sigma, Kat também escutava.
Heisman completou o que faltava da sua investigação.
— A Sharyn e eu consultámos tudo o que podíamos sobre a expedição de Lewis e Clark e a sua relação com Yellowstone. Há poucos minutos também falei com o professor Henry Kanosh. Ele poupou-me muito tempo e esforço investigando a faceta nativa americana da questão.
Sentindo a pressão do tempo, Gray apressou-o. Kat já o informara de que Painter, juntamente com uma equipa francesa de operacionais da Confraria, estava a caminho de Yellowstone, onde os dois grupos trabalhariam juntos sobre o enigma a partir do ponto zero. Gray estava decidido a prestar a sua ajuda à distância.
— E encontrou alguma prova de que Lewis e Clark entraram em Yellowstone? — perguntou Gray.
— Não. Mas acho estranho, quase incompreensível, que não tenham lá ido. A expedição passou apenas a sessenta quilómetros do parque. Na opinião do professor Kanosh, as tribos nativas americanas mostraram-se reservadas acerca do vale geotérmico, mas a expedição transportava bugigangas e moedas para convencer os índios a darem-lhes informações sobre curiosidades naturais únicas: plantas, animais ou geologia. O mais provável é que alguém acabasse por falar de um vale tão invulgar.
— Acha, portanto, que o encontraram? — inquiriu Seichan.
— Se assim foi, apagaram muito bem os vestígios. Até agora, a única prova que temos quanto a essa possibilidade é muito fraca. Não há mais anotações de Archard Fortescue depois de ter partido com a expedição conduzida por Meriwether Lewis. Sabemos que Lewis foi morto uns anos após o seu regresso, mas isso é muito diferente de dizer que um deles encontrou essa cidade índia perdida, o coração da décima quarta colónia.
— Nesse caso, vamos rever o caso ao contrário — sugeriu Gray, revirando o enigma na sua cabeça. — E começar pela morte de Meriwether Lewis. Vamos supor que expedição descobriu a verdade e quea morte de Lewis está relacionada, de certo modo, com essa descoberta. Não se importa de relatar novamente como morreu?
— Foi abatido em outubro de 1809, numa estalagem à beira de uma estrada, chamada Grinder’s Stand, no Tennessee, não muito longe de Nashville.
Gray lançou um olhar aos companheiros.
Nashville?
Monk resmungou.
— Ah, pois, parece que ainda andamos atrás desses tipos. Primeiro, a Islândia e, agora, o Tennessee.
Heisman não o ouviu e continuou: — Não existe uma explicação consistente para a morte de Lewis.
Apesar dos dois ferimentos de bala, um no estômago e outro na cabeça, a sua morte foi considerada suicídio. E essa crença manteve-se até recentemente. Hoje, acredita-se que ele foi de facto assassinado, ou por tentativa de roubo ou puro homicídio ou por ambos os motivos.
— Que pormenores temos da noite em que morreu? — perguntou Gray.
— Existem numerosos relatos, mas o mais iável foi feito pela própria mulher do estalajadeiro, a senhora Grinder, que se encontrava sozinha nessa noite. Ouviu tiros, ruídos de luta e os gritos de Lewis a pedir socorro, mas teve demasiado medo e só foi ver o que acontecera de madrugada.
Encontrou-o a morrer no quarto, estendido em cima de um roupão de pele de búfalo encharcado de sangue. Conta-se que as suas últimas palavras foram muito misteriosas. « Fiz o que tinha de fazer. » Como se tivesse contrariado a intenção dos assassinos.
Gray sentiu o pulso acelerar. Pressentia que isso era importante. Mas havia outra coisa que Heisman mencionara...
O curador ainda não acabara.
— Correm muitos boatos sobre os últimos dias de vida de Lewis e acerca de quem o podia ter morto. A prova mais concludente aponta para o general de brigada James Wilkinson, conhecido conspirador a soldo do traidor Aaron Burr, e julga-se que foi ele quem planeou o homicídio. Lewis era espião de Thomas Jefferson e tinha em seu poder uma informação vital para o presidente.
Gray pensou que pudesse ser uma das placas de ouro. Não fora em Grinder’s Stand que a Confraria roubara uma dessas placas? Lewis lembrava-lhe a versão colonial de um operacional da Sigma: espião, militar e cientista. Era Wilkinson um dos grandes inimigos mencionados por Jefferson e Benjamin Franklin e predecessor da moderna Confraria? E
assassinara Lewis para se apoderar da placa?
Gray sentiu que a história se repetia.
É a mesma batalha que, dois séculos mais tarde, continua a ser travada?
Contudo, tinha a impressão de que lhe faltava um elemento-chave, algo encafuado na sua mente, mas de que não conseguia lembrar-se.
— O senhor mencionou que Lewis jazia a sangrar em cima do seu roupão de pele de búfalo — antecipou-se Seichan.
— Isso mesmo.
Gray lançou um olhar de agradecimento a Seichan, mas esta encolheu simplesmente os ombros.
— Doutor Heisman, o diário de Fortescue não menciona que o crânio do mastodonte estava envolto numa pele de búfalo? — perguntou.
— Deixe-me ver.
Heisman assobiava baixinho enquanto remexia os papéis.
— Ah, cá está! Diz simplesmente « uma pele de búfalo pintada» .
— Onde é que essa pele foi parar?
— Não diz.
— Há alguma referência quanto ao facto de Jefferson possuir uma pele de búfalo pintada? — prosseguiu Gray.
— Agora que me fala disso, sim. O presidente tinha uma grande coleção privada de artefactos índios que guardava na sua residência em Monticello. Uma pele profusamente decorada que constituía uma das peças mais exibidas. Diz-se que fora Lewis que lha enviara no decorrer da expedição. Era espetacular e muito antiga. Mas, depois da sua morte, a maior parte da sua coleção, incluindo a pele, desapareceu.
Estranho...
Gray re letiu uns momentos. Podia essa pele de búfalo, que igurava em todas essas histórias, ser a mesma? Tê-la-ia Lewis levado consigo para o ajudar a encontrar a cidade perdida? Levara o mapa e a pele de búfalo para resolver o enigma da décima quarta colónia? E, a seguir, devolvera a pele a Jefferson como prova do seu sucesso?
Gray sabia que não tinha nada de concreto para continuar a investigação: havia demasiadas suposições e lacunas. Por exemplo, porque estava a pele em poder de Lewis na altura em que fora assassinado? Fora a sua presença o motivo por que pronunciara aquelas palavras crípticas nos últimos momentos da sua vida — Fiz o que tinha de fazer? Teria sido roubado por Wilkinson, ou qualquer outro ladrão, mas conseguira reter a pele de búfalo, que era o mais importante?
Um novo interlocutor interveio.
— Doutor Heisman, pode dizer-nos alguma coisa acerca do que aconteceu ao corpo de Lewis? — perguntou Kat ao telefone.
— Nada de especial. Na medida em que ele era um herói nacional, o sucedido foi uma tragédia. E, como a sua morte foi considerada suicídio, enterraram-no imediatamente no terreno dessa mesma estalagem no Tennessee.
— E podemos supor que foi enterrado com todas as suas posses? — insistiu Kat.
— Era o que habitualmente se fazia — respondeu o curador. — Mas, por vezes, as autoridades enviavam o dinheiro encontrado nos cadáveres ou objetos com valor sentimental aos seus herdeiros.
— Mas não é muito provável que o izessem com uma pele de búfalo encharcada de sangue — notou Gray.
Monk agitou-se, desviando os olhos da estrada.
— Achas que o enterraram com ela?
— Só há uma maneira de saber — disse Gray. — Temos de desenterrar Meriwether Lewis.
35
1 DE JUNHO, 04H15
PARQUE NACIONAL DE YELLOWSTONE
O helicóptero baixou na direção do fumegante coração geotérmico de Yellowstone. A noite ainda reclamava a primitiva paisagem de lagos a borbulhar, cones cinzentos esbranquiçados e riachos e rios envoltos em neblina que atravessavam a bacia superior do géiser. Mais longe, prados escuros e pinheiros estendiam-se na direção dos distantes planaltos e montanhas.
Mas o homem gravara a sua marca neste tesouro nacional, esta mistura contrastante de tranquila beleza natural e infernal atividade geológica. Na escuridão antes do romper do dia, a sinalização das ruas e a luz dos candeeiros públicos iluminavam as raras estradas que atravessam o parque. A evacuação que Painter ordenara em plena estação alta do parque estava a decorrer, provocando um caótico engarrafamento. As intermitentes luzes azuis dos veículos de serviço pontilhavam as estradas enquanto os guardas-florestais retiravam toda a gente do parque.
Consultou o relógio.
Faltavam duas horas.
Nem toda a gente sairia a tempo, mas tinha de fazer o melhor que podia. A evacuação começara há duas horas, quando partira de Flagstaff num jato privado para um pequeno aeroporto a oeste de Montana, a poucos quilómetros do parque. E o helicóptero levara-o para o local do encontro.
Avistaram um parque de estacionamento onde dois outros helicópteros já estavam pousados. Tudo indicava que a equipa de Rafael chegara primeiro pois voara diretamente de Salt Lake City. As duas equipas deveriam encontrar-se no interior de Old Faithful Inn, um colossal ponto de referência do parque construído no princípio dos anos de 1900. Este hotel rústico de sete andares, com teto inclinado e pesadas vigas, era a maior estrutura do mundo feita com madeira e pedra extraídas localmente.
Era o local perfeito para se ver o géiser com o mesmo nome e, quando o helicóptero aterrou, o Old Faithful mostrou-se à altura da sua reputação, lançando um jato de água a escaldar e de vapor com quase sessenta metros de altura. Tais erupções ocorriam mais ou menos todos os noventa minutos. E Painter rezou para que o vale ainda existisse à hora marcada para o próximo espetáculo.
Além do géiser, o rio Firehole serpenteava ao longo da bacia superior ladeado por mais géiseres com nomes estranhos — Beehive, Spasmodic, Castle, Slurper, Little Squirt, Giantess e muitos mais — juntamente com numerosas fumarolas e fontes térmicas.
A porta do helicóptero entreabriu-se para deixar os homens de Painter sair, mas eles não estavam aqui em visita turística.
— Cheira pessimamente — comentou Kowalski, mas Painter não percebeu se ele se referia ao ar sulfuroso ou à situação desesperada em que se encontravam.
O seu parceiro olhou com azedume à volta, aconchegando o casaco comprido com maior firmeza à volta dos ombros.
Hank saiu a seguir e Kawtch correu logo à frente dele para ir urinar num lampião. Jordan ajudou o professor a sair. Painter tentara convencer o jovem a ficar em Flagstaff, mas o rapaz dera-lhe um bom argumento.
Se você falhar, eu morro. Prefiro morrer a combater.
Mas Painter também sabia o que trazia Jordan ao Norte. Os olhos do jovem itavam o imponente hotel. Não para apreciar a arquitetura, mas para detetar qualquer vestígio de Kai. Painter sentia-se igualmente ansioso. O destino do mundo inteiro era uma noção demasiado grande para ser levada a sério e um conceito incómodo de mais para entender totalmente.
Em vez disso, reduzia-se àqueles a quem amávamos.
O medo de Jordan era fácil de interpretar — a inquietação pela segurança de uma rapariga aterrorizada despedaçava-lhe o coração. Do mesmo modo, Painter rezava para voltar a ver Lisa. A sua última conversa ao telefone fora necessariamente breve pois o destino do mundo pendia na balança. Lisa mostrara-se forte, mas ele ouvira as lágrimas por detrás de cada uma das suas palavras.
— Vamos — disse Painter, fazendo sinal aos últimos membros do grupo.
Ronald Chin e o major Ashley Ryan avançaram, acompanhados por três soldados da Guarda Nacional que transportavam grandes caixotes. Ryan solicitara os seus serviços no aeroporto de Montana enquanto Painter ordenara o envio dos caixotes de equipamento por avião.
De acordo com as negociações entre Painter e Rafael, antes de partirem de Flagstaff, ambos os grupos teriam o mesmo número de homens. Painter não queria que isto fosse um concurso. Tinham trabalho para fazer — e tinha de ser feito depressa com o mínimo de situações dramáticas.
Ao chegar à entrada principal do hotel, Painter empurrou uns enormes portões de madeira pintados de vermelho-vivo e cravados com decorativos pregos pretos de ferro. O que viu ao entrar cortou-lhe a respiração. Era como estar dentro de uma gruta feita de troncos de árvore, iluminada por uma lâmpada. O volume daquele espaço aberto de quatro andares fê-lo olhar para o alto. Escadarias com corrimões feitos de troncos de pinheiro sem casca contorcidos subiam até ao teto. No meio e dominando tudo o que se encontrava à volta, erguia-se uma imponente e maciça lareira de pedra.
Este espaço cavernoso parecia particularmente grande porque estava vazio. Assim como o parque, o hotel também fora evacuado — só restava um grupo de empregados esqueléticos que se tinham oferecido como voluntários para proteger o lugar. Era um gesto fútil. Ninguém podia proteger nada contra o que vinha aí — podiam apenas tentar detê-lo.
E, ao avistar o grupo de Rafael, Painter aproximou-se deles com essa inalidade. Tinham-se estabelecido no meio de cadeiras e mesas. Uma mesa de jantar, comprida, proveniente do restaurante da sala vizinha, fora transformada num centro informático improvisado. Minicomputadores, ecrãs LCD e outro equipamento digital estavam a ser rapidamente montados, supervisionados por um técnico escanzelado de olhar nervoso e uma mulher escura de aparência familiar.
À sombra dessa mulher, surgiu outra figura familiar.
— Tio Crowe... — murmurou Kai.
Jordan precipitou-se para ela.
— Kai!
O rosto dela iluminou-se ao vê-lo. Deu uns passos em frente de braços erguidos para o abraçar, mas, de repente, foi impedida de avançar — a mulher escura segurava-lhe o pulso. Um ruído metálico atraiu o olhar de Painter e chamou-o à realidade. A africana não agarrava Kai — as duas mulheres estavam algemadas uma à outra.
Jordan apercebeu-se igualmente da situação e parou.
— Qual é o significado de tudo isto? — perguntou Painter, avançando.
— Mera segurança, Monsieur Crowe — respondeu Rafael, levantando-se com a ajuda da bengala.
Pequenas rugas de dor marcavam-lhe os cantos dos olhos. A vinda aqui, aparentemente, fatigara o seu frágil corpo.
— O que quer dizer com segurança? Tínhamos um acordo.
— De facto. E eu sou um homem de palavra. O acordo era que eu entregava a sua sobrinha sã e salva quando você me revelasse a localização da cidade perdida.
— O que eu fiz.
— O que você não fez.
E Rafael levantou um braço para englobar mais do que apenas o hotel.
— Onde é que está essa cidade perdida?
Painter aceitou que o francês tinha razão. Fitou os olhos assustados e tristes de Kai. A mão dela encontrara a de Jordan no decorrer desta troca de palavras com Rafe. Também notou a grossura do bracelete à volta do outro pulso. Uma minúscula luz vermelha piscava.
Vendo a sua expressão, Rafael interveio.
— Infelizmente, é uma medida necessária. As algemas estão ligadas e formam um circuito fechado. Se o circuito for quebrado, explode uma carga com força su iciente para arrancar o braço à sua sobrinha e até, muito provavelmente, uma parte do tronco.
Kai olhou aterrorizada para Rafe. O seu captor, pelos vistos, ainda não lhe revelara tal pormenor.
— Acho por bem informá-lo quanto a isto para que não tente libertá-la sem o meu consentimento — explicou Rafael. — Sabendo que só será entregue quando inalizarmos as nossas negociações, poderemos concentrar-nos à vontade sobre o que temos de fazer.
A tensão entre os dois adversários parecia aumentar.
Encontravam-se num beco sem saída e o tempo era cada vez mais escasso.
Painter tinha de pôr imediatamente cobro a esta situação.
Lançou um olhar irme a Kai para a tranquilizar — haveria de conseguir libertá-la. Depois, virou-se para Rafael.
— Trouxe o vaso de ouro?
— Claro — disse Rafe, virando-se para Bern. — Vai buscar a mala e coloca-a em cima da mesa. O guarda-costas obedeceu e aproximou-se de uma caixa de tamanho médio que se encontrava no chão. Pousou-a sobre uma mesa e abriu a tampa. O vaso canopo de ouro estava alojado no meio de uma camada de espuma preta. As duas placas de ouro, roubadas por Kai, também estavam lá dentro.
Hank reparou nelas e aproximou-se, mas Bern tirou o vaso e voltou a fechar a caixa. E, a seguir, foi colocar o vaso na mesa junto dos computadores.
A sua beleza voltou a impressionar Painter, desde a cabeça de lobo perfeitamente esculpida até à paisagem montanhosa requintadamente traçada. Não tinha todavia tempo para apreciar a sua faceta artística e, assim, examinou-a como se fosse a peça de um puzzle.
Sem se virar, fez sinal com um braço para trás.
— Kowalski, vai buscar o nosso material.
Rafe veio colocar-se ao lado de Painter. O seu movimento foi acompanhado por uma forte lufada de água-de-colónia. Encostou-se à bengala com ambas as mãos.
— Pensa realmente que isto ajuda a limitar a nossa busca numa área com oitocentos mil hectares?
— Deve ajudar. A busca por satélite não serve para grande coisa.
A caminho de Yellowstone, Painter alertara quem pôde, até gente com acesso à Sala Oval. Com a assinatura do Presidente Gant e a aprovação do Estado-Maior Conjunto, solicitara a participação de todos os satélites em órbita disponíveis. O parque inteiro fora pormenorizadamente examinado através de todos os espetros: radar, potencial geomagnético, gradiente térmico... tudo o que oferecesse indícios do local onde a cidade perdida pudesse estar soterrada.
Mas nada fora encontrado.
— O problema é que este terreno está cheio de grutas, cavernas, fumarolas, tubos de lava e fontes térmicas — explicou Painter. — Parece haver cavidades por baixo de qualquer sítio no parque. A cidade podia estar em qualquer lugar.
— E o que dizem os físicos? — perguntou Rafael.
— Temos especialistas em partículas subatómicas a tentar calibrar e localizar a fonte do luxo de neutrinos desta região. Mas o seu volume é tão prodigioso que só conseguiram limitar o alcance num raio de trezentos quilómetros.
— O que é inútil — comentou Rafael.
Painter concordou. Só havia uma esperança. A paisagem gravada no vaso canopo. Um artista antigo levara imenso tempo a desenhá-la com precisão.
O primeiro plano da paisagem indicava a con luência de dois riachos que se viam, ao longe, a correr ao longo de um vale arborizado. Ao fundo erguia-se uma imponente cadeia de montanhas, orlada por pinheiros traçados com tanta minúcia que se viam as agulhas. E, no meio, por entre os riachos, elevava-se um alto cone a fumegar como um pequeno vulcão. À
volta, havia cones mais pequenos que pareciam formigueiros.
Os pormenores eram tão realistas que parecia impossível acreditar que o local descrito não existia. As estruturas geotérmicas fumegantes no meio sugeriam certamente que tal sítio se encontrava no interior deste parque.
Painter imaginou o artista sentado num campo, trabalhando meticulosamente o metal para preservar a imagem deste lugar. E se era su icientemente importante para ser gravado neste vaso, deveria representar um local sagrado para os Tawtsee’untsaw Pootseev. Talvez fosse uma vista do seu novo refúgio aqui em Yellowstone.
Era isso que Painter esperava.
Entretanto, Kowalski trouxera o equipamento conforme Painter lhe ordenara e estava a montar as peças do scanner laser digital na mesa junto de todo o outro material computadorizado.
Painter olhou para Rafael e, depois, para o técnico de informática escanzelado.
— Têm todas as ligações do satélite e parâmetros no vosso terminal?
— Temos.
— O seu empregado pode ajudar-me a montá-lo e a ligá-lo adequadamente?
Em vez de se dirigir ao técnico, Rafael virou-se para a africana alta.
— Talvez devesses supervisionar o trabalho do T.J., Ashanda. Não queremos correr o risco de cometer erros.
Chamou Painter à parte.
— Deixe-os fazer a sua magia.
Apesar de utilizar apenas uma mão e de não dizer uma só palavra, Ashanda supervisionou a montagem e calibragem do scanner e a sua integração na estação de trabalho. E até Kai ajudou — embora icasse assustada sempre que as algemas chocavam uma na outra.
Uma janela pronta a receber dados abriu-se num dos monitores em poucos minutos. Lia-se LASER TECHNIQUES COMPANY, LLC. Era uma companhia em Bellevue, Washington, que trabalhava com a NASA no desenvolvimento de ferramentas patenteadas para detetar erosão, cavidades ou fendas em super ícies metálicas e cobria uma gama de utilizações que incluía propulsores de vaivéns espaciais, equipamento informático militar, tubos geradores de vapor nucleares e pipelines subaquáticos. O aparelho laser podia captar e digitalizar ín imas alterações no metal que a visão humana podia não detetar.
E Painter precisava dessa precisão.
Ashanda virou-se e anunciou com uma ligeira inclinação da cabeça a finalização do seu trabalho.
Ela é muda?, interrogou-se Painter. Mas não podia dar mais atenção a esse pormenor pois, de momento, tinha um puzzle mais importante para resolver.
— Creio que é a minha vez — disse.
Aproximou-se da mesa e ligou o sistema cartográ ico laser. Um cone holográ ico azulado cintilou no scanner. Painter posicionou-o até uma série de miras se ixarem no centro da paisagem dourada e, a seguir, ativou o scanner.
Linhas azul-escuras passaram por cima e por baixo da super ície dourada, absorvendo todos os pormenores do vaso, desde a mais pequena voluta de fumo à minúscula pinha que pendia de um ramo de pinheiro no fundo.
Uma imagem formava-se no ecrã do monitor — ao princípio plana e estática, e, depois, em três dimensões. Uma secção quadrada da paisagem, topograficamente precisa, girou lentamente no ecrã.
— Espantoso — murmurou Rafael.
— Vamos ver se ajuda — disse Painter.
Aproximou-se do teclado do computador e enviou a imagem para um técnico da NASA em Houston. Uma vez recebida, a equipa de Houston utilizaria os dados recolhidos por satélite na última hora e compararia o terreno de Yellowstone com o holograma. Com um pouco de sorte, encontrariam uma correspondência.
— Pode levar alguns minutos — informou Painter.
Rafael fitou o vaso de ouro e resmungou.
— Esperemos que não demore demasiados minutos.
04h34
Hank agachou-se ao lado da mesa sem tirar os olhos do vaso canopo.
Como fora ele quem o encontrara no kiva dos Anasazi, tinha um sentimento de posse em relação àquele objeto. Imaginou um dos Tawtsee’untsaw Pootseev a gravar devotadamente o vaso sagrado. Painter tinha razão. Era certamente importante e podia indicar-lhes a localização da cidade perdida.
Hank também achava que a paisagem era um indício signi icativo. Na realidade, importunava-o. Havia algo de vagamente familiar na imagem, em particular, aquele pequeno vulcão no meio; tinha a impressão de o ter visto antes e, contudo, nunca visitara Yellowstone.
Como é que podia ser? De que me estou a esquecer?
Depois de passar algum tempo a puxar pela memória, acabou por desistir e virou a sua atenção para outro enigma do vaso.
Debruçou-se e examinou mais uma vez a escrita traçada no lado oposto, perguntando-se se estava a olhar para as letras da língua que o Livro de Mórmon descrevia como sendo egípcia reformada. O seu colega linguista da universidade que ajudara a identi icar a escrita nas placas de ouro também lhe dava um nome igualmente bizarro: o alfabeto dos Magos.
Hank estudou a escrita e pensou no escriba que traçara as letras no vaso há muitos anos. Seriam os Tawtsee’untsaw Pootseev uma seita erudita, mestres de uma tecnologia perdida que fugiram da Terra Santa séculos antes do nascimento de Cristo? Teriam esses israelitas fugitivos — esses ne itas — vindo para a América do Norte a im de preservar e proteger o seu conhecimento, uma mistura de misticismo judeu e ciência egípcia?
Oh, se eu pudesse falar com um deles...
Mas talvez um deles estivesse a falar com ele naquele momento através destas linhas proto-hebraicas. No entanto, Hank sabia que precisaria de ajuda para entender a mensagem que estava a receber.
Endireitou-se e interrompeu a conversa entre Painter e o francês.
Parecia que estes inimigos se tinham tornado colegas. Hank reparou, contudo, na atitude nervosa de Painter, nas mãos que se abriam e fechavam, na raiva que lhe transparecia nos olhos, no modo entrecortado de falar. Era como se ele se controlasse para não arrancar a cabeça de Rafael dos ombros. E também notou a expressão ferida dos seus olhos, causada pela culpa e pela dor, sempre que olhava para Kai.
Tudo aquilo piorava devido à espera e à tensão.
Hank propôs-lhe uma coisa.
— Painter, podemos utilizar o seu equipamento para fotografar a escrita neste lado do vaso? Para enviar uma fotogra ia ao meu colega, o linguista especializado em línguas antigas. Da última vez que falámos, disse que talvez pudesse ajudar-nos a traduzi-la. Não completamente, claro. Mas poderia traduzir algumas palavras aqui e ali, aquelas que ainda parecem ter alguma relação com o hebreu moderno.
— Estou pronto a aceitar qualquer ajuda. Uma só palavra pode ser a chave deste enigma.
Hank estava a retirar-se enquanto Painter e o francês preparavam a transferência de uma cópia para a universidade quando chocou acidentalmente com o contentor usado para transportar o vaso canopo.
Hum.
De repente, Painter soltou um grito, chamando a atenção de toda a gente.
— A NASA acabou de enviar uma mensagem. Fomos bem-sucedidos!
36
1 DE JUNHO, 07H06
HOHENWALD, TENNESSEE
O Sol acabara de nascer quando conseguiram tirar a retroescavadora.
Gray conduzia-a ao longo do parque de estacionamento vazio do Meriwether Lewis State Park. A área de diversão icava a cerca de cento e trinta quilómetros a sul de Nashville ao longo da Natchez Trace Parkway. A esta hora, o parque ainda estava fechado e a sepultura que procuravam encontrava-se rodeada por uma densa floresta longe da estrada.
Se agissem depressa, ninguém os incomodaria.
Horas antes, Kat facilitara esta pequena intrusão numa sepultura, arranjando licenças falsas para consertar os esgotos e alugando a escavadora numa cidade próxima, Hohenwald.
Monk e Seichan, vestidos com fatos-macaco azuis e com uma pá na mão, saíram do parque de estacionamento seguidos por Gray que manipulava os travões para contornar as curvas, espreitando por cima do balde de carga. Tinha conduzido tratores e escavadoras no Texas, quando era rapaz.
Estava um pouco enferrujado, mas o que aprendera vinha-lhe aos poucos à memória.
Ao entrar no centro da cidade, passaram por vários sinais informativos de tráfego e pela estalagem, Grinder’s Stand, entretanto restaurada, onde Lewis falecera. A estrutura de madeira encontrava-se num dos lados do parque e a sepultura estava mais à frente, no meio de um terreno relvado.
Era um monumento simples com uma base de pedra que ostentava um plinto partido, símbolo de uma vida curta.
Gray atravessou lentamente o relvado.
Quando já estavam suficientemente perto, Monk agitou um braço no ar.
— Volta-a!
Gray obedeceu, fazendo a escavadora icar ao contrário. Meteu a mudança em ponto morto e travou, girando depois o banco para icar de frente para os comandos da escavadora e baixou as pernas estabilizadoras.
Antes de começar a escavar, tinha de limpar um pouco o terreno à volta.
Intimidado pela violação que estava prestes a cometer e murmurando um silencioso pedido de desculpa ao pioneiro morto, Gray estendeu o braço hidráulico e lançou a escavadora como se fosse um aríete contra o topo do pilar. O sistema hidráulico gemeu, o plinto foi arrancado da base de pedra e caiu enterrando-se na relva do outro lado.
Levaram mais um quarto de hora para remover a base e, depois, Gray cravou os dentes da escavadora no chão e começou a escavar a sério.
Monk e Seichan ajudaram-no a coordenar as manobras, veri icando o terreno à volta com as pás, após cada carga do balde. Finalmente, Monk emergiu do buraco aberto e, soltando um estridente assobio, apontou para baixo.
— Chegou o momento de acordar o morto!
Monk e Gray usaram as pás para limpar a cova. Monk tinha uma certa di iculdade em trabalhar só com uma mão, mas há muito que aprendera a desembaraçar-se com o coto do braço.
Seichan, à beira da sepultura aberta, ficou a vê-los.
Segundo a informação fornecida por Eric Heisman, eles não eram os primeiros a violar o local de repouso de Lewis. Antes de permitir a construção do monumento em sua memória, o plinto quebrado, um comité desenterrara o corpo em 1847 para con irmar que se tratava realmente do famoso pioneiro. E o relatório desse comité à legislatura estatal também declarava acreditar que Lewis não se suicidara, mas encontrara «a morte às mãos de um assassino».
O caixão datava provavelmente dessa época.
Um pormenor importunava Gray. Teria o comité, perguntava-se, cometido outra violação, como, por exemplo, tirado tudo o que lá encontraram?
Em breve o saberiam.
No interior da sepultura, Gray partiu a fechadura ferrugenta do caixão de madeira com a espada e, com a ajuda de Monk, levantou a tampa. Viram ossos com bocados de carne seca entre os farrapos de um fato velho.
Monk recuou um passo, erguendo um polegar para cima.
— Creio que vou fazer companhia à Seichan.
— Vai — concordou Gray.
A pele de búfalo encontrava-se impecavelmente dobrada por cima das pernas esqueléticas de Lewis. Estava em mau estado; quase não tinha pelos, mas a pele parecia intacta.
Quando Gray se debruçou para ver melhor, a detonação de uma espingarda quebrou subitamente o sossego da manhã. Monk caiu na sepultura, estatelando-se ao comprido sobre os ossos.
Gray tocou-lhe com a mão e sentiu os dedos molhados de sangue.
Ouviram-se mais tiros e Seichan juntou-se-lhes.
— Onde estão as nossas armas? — perguntou.
— Na cabina da escavadora — respondeu Gray.
Fora um descuido insensato.
Monk gemeu.
— Pelos visto, cavámos a nossa própria sepultura.
37
1 DE JUNHO, 05H05
PARQUE NACIONAL DE YELLOWSTONE
Meia hora depois de receber a mensagem da NASA, Painter chegou à paisagem gravada no vaso canopo. No decorrer do trajeto de avião que o trouxera até aqui, a madrugada rompera em Yellowstone, embora o Sol ainda não se tivesse completamente erguido sobre a linha do horizonte. O
doce clarão de um novo dia conferia uma qualidade mágica ao pequeno vale.
Na opinião do guarda-lorestal com quem falara, esta área era uma das mais remotas do parque. Menos de vinte e cinco pessoas tinham posto o pé nesta pequena bacia geotérmica. Para usar as palavras do guarda-florestal, «Mais gente subiu ao alto do Evereste do que veio ao Reino das Fadas».
Apesar do nome, o motivo por que havia tão poucos visitantes era fácil de ver. A bacia icava a vinte e sete quilómetros do caminho principal e era rodeada por penhascos traiçoeiros com quatrocentos metros de altura. Só as pessoas mais temerárias ousavam vir aqui.
Felizmente, eles tinham helicópteros.
Depois do grupo aterrar, o helicóptero levantou voo.
Baixando-se por causa das pás do rotor, Painter teve de gritar para ser ouvido.
— Temos um pouco mais de uma hora para encontrar a cidade perdida!
Outros helicópteros que transportavam caixas isoladoras normalmente usadas para explodir pacotes suspeitos, faziam círculos por cima das suas cabeças. O plano era encontrar o sítio onde se encontrava a composição química instável. Se conseguissem neutralizá-lo aqui, o nanomaterial seria levado para fora do vale e largado longe da caldeira. O principal objetivo era proteger o supervulcão.
Lidariam depois com a força destruidora desencadeada pela explosão.
A pedido de Kat, os ísicos japoneses estudavam várias possibilidades sem pôr de parte uma opção nuclear caso fosse necessária.
Mas era algo que só decidiriam mais tarde.
Primeiro, tinham de encontrar o túmulo dos Tawtsee’untsaw Pootseev — o que não seria fácil. Painter icou boquiaberto perante os penhascos imponentes, os altos pinheiros e os prados verdes que se estendiam a partir da confluência dos dois riachos prateados.
Era um belo sítio, mas talvez não fosse o certo. O artista podia ter gravado o vale em ouro unicamente para seu bel-prazer, sem ter nada que ver com a cidade perdida.
Alguém discordou.
— É este o lugar! — exclamou o professor Kanosh a alguns metros de distância e levando uma mão à testa. — Porque não me lembrei disto antes?
Painter aproximou-se dele. Hank estava de pé no meio da estrutura geotérmica que dera o nome ao vale. «Reino das Fadas» provinha das estruturas de cré cinzento que se erguiam entre as margens dos dois rios.
Na opinião de Chin, eram cones de geiserite formados pela agregação de depósitos minerais deixados por pequenos géiseres. Devia haver mais de quarenta espalhados numa área com o tamanho de meio campo de futebol.
Alguns davam pelos joelhos e outros tinham três metros de altura, lembrando a Painter as gigantescas termiteiras africanas. A maioria estava em repouso, mas uma mancheia continuava a fumegar. Segundo informação do guarda-lorestal, muitos dos cones maiores tinham nomes específicos: Cogumelo Mágico, Cone Fálico, Monte do Lançador...
Hank encontrava-se diante do último. O vapor saía do cone maior, um minivulcão no meio de outros mais importantes. A água escorria dos lados para o chão de cré.
Painter veio colocar-se ao lado do professor enquanto Kawtch chapinhava no riacho vizinho, olhando frequentemente para Kai. O grupo de Rafael estava reunido no lado mais distante do campo geotérmico.
Levantando a bengala, Rafael deu ordens a Bern para iniciar uma busca sistemática, concentrando-se nos penhascos. O que era inteligente da sua parte, pois, se houvesse uma entrada para uma cidade subterrânea, encontrar-se-ia muito provavelmente aí.
— Major Ryan — chamou Painter. — Mande os seus homens veri icar os penhascos deste lado do vale. Fique comigo, Chin. Quero que me dê o seu parecer acerca deste ponto de vapor quente.
Kowalski seguiu-os, olhando desconfiado para a equipa do francês.
— Confio tanto nesse tipo como numa serpente dentro de uma bota.
Painter achou que era uma opinião razoável, mas, por agora, tinham de trabalhar juntos.
— O que é que encontrou, Hank? — perguntou ao professor.
Kanosh apontou para os lados ondulados do cone do Monte do Lançador. O nome derivava certamente das saliências em forma de dedo que lembravam a luva aberta de um lançador.
— Olhe para isto — disse Hank, agachando-se e apontando. — Ao longo dos séculos, a lenta agregação de minerais deve ter modi icado este cone, mas a semelhança ainda é assombrosa. Examine a silhueta.
— Semelhança com quê?
— Com uma das referências judaicas mais veneradas do Êxodo, a montanha de onde Moisés desceu com os Dez Mandamentos.
— Está a falar do monte Sinai? — indagou Painter, curvando-se para examinar o cone e tentando vê-lo como um modelo em miniatura dessa famosa montanha.
Acho que sim, pensou, sem saber ao certo. Era como olhar para as nuvens e ver o que se queria. Para Painter, o grande cone parecia-se tanto com o monte Sinai como as outras torres cinzentas pareciam gnomos.
Kowalski abanou a cabeça, pouco convencido. Olhou para as outras rochas cinzentas à volta.
— Todas me parecem pénis.
— Que diferença faz se parece o monte Sinai ou não? — insistiu Painter.
— Se os Tawtsee’untsaw Pootseev eram realmente descendentes de uma tribo perdida de Israel, a descoberta de um cone com a forma do Sinai constituiria um sinal providencial para eles. E este vale tornar-se-ia su icientemente importante e sagrado para o transformarem na sua residência secreta.
— Espero que tenha razão — disse Painter.
A opinião de Ronald Chin era diferente. O geólogo ajoelhou-se no meio do campo de minerais e rochas formado pela evaporação da água das fontes quentes onde se encontrava a maioria dos cones.
— Bem, do ponto de vista geológico, este local é o pior que podiam escolher.
— Porque diz isso? — perguntou Painter. — Para além de estarmos em cima de um supervulcão?
— Chin remexeu o chão.
— Sinta isto.
Painter encostou a palma da mão contra a pedra de cré.
— O que estão a fazer? — inquiriu Rafael, juntando-se-lhes com Ashanda e Kai.
— Está a vibrar — respondeu Painter.
Chin explicou.
— Esta zona geotérmica encontra-se por cima de uma fumarola hidrotérmica, uma espécie de chaleira a ferver que recicla continuamente a água que escorre através da rocha porosa e volta a expeli-la como vapor.
A vibração é causada pela pressão subterrânea, a pulsação do motor a vapor por baixo de nós.
Antes de alguém poder fazer qualquer comentário, o telemóvel de Hank tocou.
— É o meu colega da universidade — disse, após ter veri icado quem telefonava. — Aquele que nos está a ajudar a decifrar a língua perdida.
— Responda — aconselhou-o Painter, esperando que fossem boas notícias.
Hank afastou-se e encostou o telemóvel a uma orelha, tapando a outra com a mão. No decorrer da conversa, Painter reparou que a expressão do professor passou por várias mudanças: de esperança a desalento e, inalmente, confusão. Acabou por desligar e voltou para junto deles, incapaz de falar.
— Professor? — incitou-o Painter.
— O meu colega conseguiu decifrar apenas umas partes da escrita.
Palavras e frases relacionadas com morte e destruição, e mais nada.
— Quer dizer que, basicamente, se trata de um aviso — comentou Painter.
Kowalski franziu o sobrolho.
— Porque não puseram simplesmente um rótulo com uma caveira e duas tíbias cruzadas? Pouparia sarilhos a toda a gente.
— Julgo que foi o que izeram — interveio Hank. — Os primeiros Tawtsee’untsaw Pootseev guardavam o seu elixir em recipientes feitos para preservar os órgãos dos mortos. Vasos canopos egípcios modi icados. Mas logo que se instalaram aqui, escolheram outro totem dos meus antepassados, os ossos de animais há muito extintos. Talvez fosse para se ter cuidado com essa composição química, que podia destruir a raça humana. Era, portanto, uma espécie de aviso quanto à nossa extinção.
Painter notou que os olhos do professor exprimiam uma certa hesitação, como se quisesse dizer mais qualquer coisa. Expressão que foi acompanhada por um discreto olhar na direção de Rafael. Mas o francês há muito que sobrevivia numa organização que não recompensava a falta de atenção aos pormenores.
— O que não nos está a dizer, monsieur le professeur? — perguntou Rafael.
Painter fez um ligeiro aceno de cabeça a Hank. Há muito que não guardavam segredos, pelo menos os mais secretos.
— Diga-lhe.
Hank pareceu consternado.
— O meu colega também conseguiu traduzir a passagem que o seu amigo lhe enviou. As palavras escritas encontradas nas margens do mapa antigo.
Rafael virou-se para Painter.
— Porque estou a ouvir isto pela primeira vez? Disseme que a marca no mapa indicava Yellowstone, mas não me falou disto.
— Porque até agora essa informação era insignificante.
— Talvez ainda seja — acrescentou Hank. — O meu colega só conseguiu traduzir uma pequena secção que diz « para onde o lobo e a águia olham».
— O que significa? — perguntou Rafael.
Hank encolheu os ombros e abanou a cabeça.
Mais um quebra-cabeças.
Painter consultou o relógio e contemplou o vale. Gray enviara-lhe esta indicação e, segundo Kat, andava à procura de outra, algo que tinha que ver com uma pele de búfalo. Talvez viessem a ter mais sorte com essa...
Mas pelo modo como as coisas estavam a correr-lhes...
38
1 DE JUNHO, 07H06
HOHENWALD, TENNESSEE
Isto terá de servir...
Gray levantou a pá, a única arma que tinha à mão.
— Vamos dar-lhes cabo do canastro? — perguntou Monk com um esgar de dor, encostando-se à parede da sepultura recentemente aberta.
Olhou para a mancha de sangue que alastrava no fato-macaco.
— A bala entrou e saiu mas, com a roupa neste estado, não me devolverão o dinheiro da caução.
— Consegues andar? — perguntou Gray.
— A coxear, sim. Mas a correr, não.
— Ficas aqui.
— Para falar com franqueza, não planeava ir a sítio algum.
Seichan, que estivera a vigiar o parque de estacionamento, baixou-se.
— São oito ou dez. Estão atrás da barraca do outro lado do relvado.
— Devem julgar que estamos armados — disse Gray. — Caso contrário, já nos teriam caído em cima.
— Qual é o plano? — perguntou Seichan.
Ela e Monk olharam para Gray.
— Vamos continuar a fazê-los pensar que temos armas, pelo menos até recuperarmos as nossas espingardas. A escavadora está apenas a alguns metros de distância e, se conseguirmos chegar até lá, icaremos protegidos.
O problema é sair deste buraco.
Gray passou a pá a Monk e agarrou noutra.
— Precisamos de efeitos sonoros. Os atacantes estão nervosos e mostram-se prudentes. Movem-se com cautela. Vamos assustá-los um pouco. Bater as pás uma contra a outra com força e rapidamente.
Monk percebeu.
— Para que julguem que estamos a disparar contra eles.
— Só resultará uns segundos, mas talvez tenhamos tempo para chegar à cabina da escavadora e apoderar-nos das espingardas.
— Entendido.
— Quando eu der sinal.
Gray agachou-se ao lado de Seichan. Os seus olhos brilhavam na sombra e o seu pulso acelerou quando espreitou por cima da berma da sepultura, pronta a agir.
— Agora! — gritou Gray.
Monk bateu repetidas vezes contra uma pá encostada à parede com toda a força. Pelo barulho pareciam tiros de metralhadora. Gray saltou da sepultura e começou a correr em direção à escavadora.
Seichan manteve-se perto dele.
Ao alcançarem o objetivo, Gray virou-se para ela. O seu rosto estava corado e os lábios ligeiramente entreabertos.
Ela levantou interrogativamente uma sobrancelha.
Estava bem...
Sem trocar palavra, separaram-se para contornar os lados da escavadora. Ouviram-se tiros, mas nenhum acertou no alvo. Monk continuava a bater com as pás e os atacantes pareciam confusos.
Gray entrou na cabina. Deixara o motor em ponto morto. Sentou-se, destravou e levantou os estabilizadores hidráulicos para a retroescavadora poder andar.
Deixando a condução para ele, Seichan agarrou nas duas espingardas.
Não podiam utilizar um veículo destes para fugir e, além disso, não podiam abandonar Monk.
Gray levantou o balde de carga diante do para-brisas como se fosse um escudo. Estava a guiar às cegas, mas, naquele momento, não se importava de abalroar um carro. Conduzia vagarosamente para fora do relvado. As balas embatiam contra o balde. Gray virou na direção da parte de trás da estalagem enquanto Seichan, inclinada fora da porta, disparava por baixo do balde, mantendo os atacantes imobilizados.
Logo que chegaram junto da cabina, Seichan saltou a rolar da escavadora.
Era a parte mais fácil.
07h07
Monk sentou-se no interior da sepultura com a pá na mão.
Após ouvir o verdadeiro tiroteio, percebeu que o seu trabalho terminara. Usou a pá como uma muleta para se levantar. Queria ver o que se passava. Pôs-se em pé com algum esforço e espreitou — e a sua cabeça quase foi decepada por gigantescos dentes metálicos.
Gray estava de volta com a escavadora, mas o ruído dos tiros abafara a sua aproximação.
Monk recuou.
— Sobe! — gritou-lhe Gray.
Monk subiu arrastando-se pela terra e refugiou-se no interior do balde para escapar aos tiros enquanto Gray virava a escavadora. Sentiu algo a bater-lhe no ombro.
Estendeu a mão e encontrou uma espingarda de assalto.
E, hoje, nem sequer é o meu dia de anos, pensou.
07h08
Depois de atirar a espingarda para o balde, Seichan correra na direção da barraca, mantendo a estalagem entre ela e os assaltantes. Mas não podia contar com essa proteção durante muito tempo pois eles acabariam por atacá-la de ambos os lados.
Coisa que não podia deixar que acontecesse.
Além disso, tinha de atrair a atenção deles enquanto Gray ajudava Monk a entrar na cabina da escavadora. Por isso, correu para uma das janelas da barraca e disparou três tiros, quebrando o vidro num triângulo perfeito. Deu um salto e, dando um pontapé com a bota, entrou pela janela adentro. Aterrou no interior, de pé.
Encontrava-se na sala principal e via a janela do fundo. Um dos comandos olhou para ela, momentaneamente paralisado. Ela disparou — bang, bang, bang — e ele caiu.
Seichan mergulhou para um lado, procurando o abrigo de um fogão de ferro fundido.
O cano de uma espingarda en iou-se pela janela partida e disparou à queima-roupa. Seichan ignorou-o e limitou-se a esperar, fazendo pontaria.
Uma cabeça espreitou para veri icar os estragos. Ela disparou apenas uma vez e o corpo estatelou-se do lado de lá da janela.
De costas para a parede e protegida pelo fogão, Seichan preparou-se para o ataque, esperando ter dado a Gray o tempo que necessitava.
Uma granada foi lançada para dentro da sala e rolou no chão.
Pelos vistos, já é tempo de ela se ir embora.
07h09
Dobrado para espreitar por baixo do balde levantado da escavadora, Gray passava pela barraca quando uma explosão rebentou com as janelas e arrancou a porta das dobradiças. Espirais de fumo rolaram para o exterior. Estremeceu de surpresa e inquietação.
Seichan...
O silêncio pairou uma fração de segundo sobre o campo de batalha — e, a seguir, o barulho recomeçou. Dois homens apareceram na esquina da barraca. Monk metralhou-os apontando a arma entre os dentes do balde.
Um terceiro lançou uma granada de onde os comandos estavam escondidos, por cima do telhado, na direção da escavadora.
Mas não sabiam que Monk era um atirador de elite — nem até que ponto icava irritado com esse género de coisas. Monk virou a arma e acertou na granada como se estivesse a atirar aos pratos, enviando-a para além da barraca. Deu-se outra explosão e viu-se rolar um capacete. Não estava vazio. Seguiu-se uma enorme gritaria.
E, a seguir, mais tiros.
Um tiroteio breve — só de um lado.
Passado um momento, distinguiu-se uma figura através do fumo.
E Seichan apareceu coberta de sangue e com a roupa ainda a fumegar.
Devia ter saído por uma janela do fundo quando a granada explodiu no interior. Apontou para o parque de estacionamento. Não estava a querer dizer que chegara o momento de partirem. Restava uma única pessoa, de pé, junto a um Humvee.
Mitchell Waldorf.
O traidor virou-se para o veículo, mas Monk antecipou-se. Do seu poleiro, rebentou com os pneus do camião, obrigando Waldorf a recuar. Se conseguissem capturá-lo vivo — um operacional da Confraria in iltrado no governo —, seria uma testemunha de grande valor e poderia expor as engrenagens da organização.
E Waldorf também o sabia.
Apontou a pistola ao queixo.
Gray praguejou, esforçando-se para acelerar a escavadora, enquanto Seichan se precipitava na direção de Mitchell. Waldorf sorriu e gritou-lhes cripticamente.
— Isto ainda não acabou!
O tiro da pistola ressoou com estrondo.
A cabeça dele explodiu em pedaços de crânio e miolos. E o corpo caiu inerte na calçada.
A olhar certamente para mim.
A visão do seu último sorriso permaneceu na memória de Gray. Um temor frio instalou-se-lhe nas entranhas. O que é que o ilho da mãe queria dizer com aquelas palavras?
07h19
Dez minutos mais tarde, Gray e os outros percorriam velozmente a Natchez Trace Parkway no segundo Humvee que tinham roubado naquele dia. Roubaram um dos veículos dos assaltantes convencidos de que, assim, seriam menos importunados. E, além disso, fazia-lhes falta mais espaço.
Monk estava estendido no banco de trás com o tronco nu e a barriga envolta numa ligadura que Gray encontrara no veículo do exército, dentro de um estojo médico de emergência. Os assaltantes esperavam, aparentemente, que houvesse feridos. E também encontrou uma dose de morfina que injetou na coxa de Monk.
Os olhos do amigo brilhavam de felicidade.
Seichan, com os seus ferimentos tratados, conduzia, enquanto Gray examinava a pele de búfalo que tirara da sepultura. A pele estava quebradiça, mas ele conseguiu desdobrá-la. Mostrava a cena de uma batalha entre índios. Milhares de lechas, delicadamente desenhadas e indelevelmente tatuadas na pele, voavam pelos ares. Por toda a parte, despenhavam-se Pueblos do alto de falésias e rostos pintados com penas na cabeça gritavam.
Gray lembrou-se do relato de Painter sobre a destruição dos Anasazi a seguir ao roubo dos totens sagrados dos Tawtsee’untsaw Pootseev. Era esse massacre — esse genocídio — que estava perpetuado nesta pele de búfalo?
Isto levantava uma questão mais importante.
Gray segurava a pele de búfalo aberta sobre os joelhos. Faltava uma grande parte do desenho. A lorou a super ície com os dedos. A sua textura era muito mais grosseira.
— Lewis raspou esta secção da pele — murmurou.
— Porquê? — perguntou Seichan.
— Escreveu qualquer coisa aqui no espaço em branco.
Gray examinou a meticulosa caligra ia da escrita. Limpara com uma esponja o sangue de Lewis que ainda cobria a pele. O ferro existente na hemoglobina manchara-a, mas as palavras ainda eram legíveis.
— Mas não faz sentido — prosseguiu. — É uma confusão de letras. Ou se trata de um código ou Lewis enlouqueceu.
Seichan olhou para a pele.
— Heisman não disse que Lewis e Jefferson costumavam comunicar entre si através de um código?
— É verdade.
Gray imaginou a morte de Lewis nessa noite. A sua longa espera até que a senhora Grinder o encontrou. Tivera muito tempo para escrever uma última mensagem. Mas o que dizia? Nomeava o assassino?
Os dedos de Gray passaram novamente pela parte da pele que fora raspada. O que é que Lewis apagara? Ao longo das margens, havia bocados que pareciam pertencer a um mapa: um rio a descer uma montanha, um des iladeiro, o pormenor de um lago. Tratar-se-ia de um mapa mais pormenorizado do terreno à volta da cidade perdida dos Tawtsee’untsaw Pootseev? O mapa dourado apontava para uma posição em geral enquanto esta versão pintada indicava uma localização mais precisa? Fora assim que Fortescue conseguira encontrá-la no Oeste — caso a tenha realmente encontrado?
Gray juntou mentalmente os pedaços de informação.
— Penso que o traidor, o general Wilkinson, matou Lewis para lhe roubar as placas de ouro, mas não se apercebeu do signi icado da pele de búfalo. Mortalmente ferido, Lewis tentou impedir que o mapa fosse parar a mãos erradas e raspou a parte essencial deixando uma mensagem em código e usando o seu próprio sangue para a ocultar.
— Porquê ocultá-la?
— Talvez para que o assassino não soubesse que ele conhecia a sua identidade. Ou porque esperava que a pele fosse entregue a Jefferson juntamente com as outras posses. Caso contrário, deixaria um testamento inal. Talvez nunca venhamos a saber o que sucedeu. Tudo o que sabemos é que não há nenhum mapa aqui que possa ajudar Painter.
O telemóvel descartável de Gray tocou. Atendeu.
— Kat?
— Como está o Monk? — perguntou ela, tentando mostrar-se forte, mas em tom inquieto.
— A dormir como um bebé — tranquilizou-a.
Gray já lhe tinha telefonado quando se meteram à estrada para fazer o ponto da situação e colocara-a rapidamente ao corrente do mapa.
— Um avião estará à vossa espera num aeroporto privado perto de Columbia — disse ela.
— Ótimo. Estaremos lá dentro de uns minutos. E a Seichan? Não está toda a gente à procura dela?
— Com o que se está a passar em Yellowstone, já ninguém se interessa por vocês. Sobretudo, porque enviei informação a implicar Waldorf e a explicar que os acontecimentos em Fort Knox foram orquestrados por ele.
Foi ele quem inventou a história de terroristas para cobrir as suas ações.
Podem regressar sem problemas.
— Chegaremos o mais depressa que pudermos.
Todavia, Gray tinha outra preocupação.
— Já sabes como é que Waldorf conseguiu armar a emboscada? E como soube que iríamos desenterrar o corpo de Lewis? Tanto quanto sei, só tu e Eric Heisman estavam a par disso. E possivelmente Sharyn, a assistente do curador.
— Que eu saiba, estão ambos inocentes. Para ser franca, com tudo o que está a acontecer, é bem provável que alguma dica tenha chegado a ouvidos errados. Sabes que a Confraria tem ouvidos por toda a parte — suspirou Kat. — E vocês? Descobriram mais alguma coisa acerca da pele de búfalo?
— Não. Nada que possa ajudar Painter. Receio bem que, a partir de agora, ele só possa contar consigo mesmo.
39
1 DE JUNHO, 05H20
PARQUE NACIONAL DE YELLOWSTONE
Kai atravessava a loresta de cones com a sua sombra acorrentada a ela. Ashanda seguia-a tão silenciosamente que as algemas nem sequer faziam barulho. Apesar da minúscula bomba presa ao pulso de Kai, a presença daquela mulher era estranhamente tranquilizadora.
Talvez seja uma espécie de síndrome de Estocolmo, pensou Kai.
Mas ela sentia que era mais do que isso. Sabia que aquela mulher obedecia às ordens de Rafael, mas que não existia inimizade nela. De certo modo, também era cativa. Não usavam ambas algemas? E, além disso, Kai tinha de admitir que havia simplicidade e beleza na maneira tranquila como ela agia e nos sons suaves que murmurava — sempre repletos de tristeza.
No entanto, Kai não conseguia desembaraçar-se da ideia da bomba no seu pulso. A cada passo, pesava-lhe cada vez mais e era uma constante lembrança do perigo em que se encontrava.
Procurando distrair-se, vagueava com Ashanda pela loresta. O mundo tinha menos de uma hora. Os soldados de ambos os lados começavam a voltar, desanimados, sem nada terem encontrado nos penhascos.
As palavras do professor Hank Kanosh permaneciam na sua memória.
Para onde a águia e o lobo olham.
Ao caminhar pela loresta com o Sol a nascer e estas palavras na cabeça, apercebeu-se de uma coisa. Estacou de repente, fazendo Ashanda tropeçar.
— Professor! Tio Crowe! — gritou.
Os dois homens levantaram a cabeça.
— Venham cá! — continuou a gritar e a agitar o braço, esquecendo-se momentaneamente de que estava algemada.
A sua excitação acabou por atrair os dois homens e Rafael.
— O que é? — perguntou Hank.
Kai apontou para o cone de geiserite com dois metros de altura que se erguia diante dela como uma coluna.
— Olhem para o topo, está dividido em duas partes aguçadas... parecem orelhas... e, por baixo, aquela pedra saliente ali... não lembra um focinho?
— Ela tem razão — con irmou Hank, aproximando-se do cone. — O
lobo e a águia são totens índios comuns. E estas colunas naturais são totens de pedra. Toquem-lhes.
Painter esticou um braço.
— Foi esculpida! — exclamou, espantado.
Hank passou um dedo pela coluna abaixo.
— Mas, ao longo do tempo, a deposição de minerais cobriu a super ície, esbatendo as imagens.
Rafael virou-se, apoiando-se na bengala.
— Temos de encontrar a águia.
Durante dez minutos, ambos os grupos esquadrinharam a loresta de pedra, mas nenhuma das colunas se assemelhava a um pássaro. O
entusiasmo esmoreceu e acabou com toda a gente a coçar a cabeça e a arrastar os pés.
— Estamos a perder tempo — disse Rafael. — Talvez devêssemos procurar na direção do olhar do lobo, non?
Entretanto, Kai andara à volta dos cones geotérmicos e acabara onde começara. Aproximou-se da coluna do lobo, virou-lhe as costas e olhou para o vale. O lobo tinha uma vista extensa. Atravessava todo o comprimento da bacia e alcançava uma falésia distante.
Apontou para ela.
— Alguém procurou...
— Aqui! — ouviu-se subitamente a voz de Jordan.
Todos se viraram. Jordan encontrava-se diante de uma coluna de pedra vulgar. Não se parecia com uma águia. Mas ele inclinou-se no meio da erva do prado e pegou num pedaço de rocha. Ajustou-o a um dos lados da coluna, de onde devia ter caído. E, uma vez lá, formava um par de asas com a rocha do outro lado.
Jordan fez sinal para cima.
— Aquela outra rocha no alto, a apontar para baixo, podia ser o bico de uma ave, disse, encostando o queixo ao peito e olhando ao longo do nariz para ilustrar o seu ponto de vista.
— É o segundo totem! — exclamou Hank.
Jordan itou Kai com um largo sorriso, comunicando-lhe em silêncio uma mensagem: Ambos encontrámos um totem.
Kai voltou a colocar-se de costas diante do lobo e fez sinal a Jordan para fazer o mesmo. E começou a andar na direção do olhar do lobo enquanto Jordan seguia o olhar da águia. Atravessaram o terreno que os separava passo a passo, aproximando-se lentamente um do outro para tentar determinar o sítio onde os olhares dos dois totens se encontrariam.
Toda a gente os seguiu.
Percorridos quarenta metros, Kai estendeu o braço livre e deu a mão a Jordan. Estavam inalmente juntos. Chegaram diante de outro cone com cerca de um metro e vinte de altura e noventa centímetros de largura. Era atarracado e não tinha nada de especial. Lembrava um grande cogumelo.
— Não entendo — murmurou Rafael.
O geólogo asiático aproximou-se e examinou os lados da estrutura.
— É igual a qualquer um dos outros.
Colocou as mãos em cima e assim permaneceu durante uns instantes.
— Mas não vibra. E, até mesmo os que estão em repouso, em geral tremem.
— E o que quer isso dizer? — inquiriu Kai.
— Que é falso — respondeu o geólogo.
05h38
O sol nascente iluminou o dia, mas não a disposição dos presentes.
— Porque é que não rebentamos com ele? — perguntou Kowalski.
— Podemos ter de o fazer, mas vamos dar a Hank e a Chin pelo menos um minuto para o examinarem.
No entanto, Painter tinha de considerar a proposta de Kowalski.
Faltavam cerca de quarenta minutos para que o vale explodisse.
— Tens alguns explosivos C-4 contigo? — perguntou-lhe Painter.
Pedira a Kowalski para trazer explosivos caso precisassem de abrir caminho através de um túnel ou uma passagem, mas ele viera sem mochila.
— Tenho um pouco — admitiu Kowalski, recuando e abrindo o casacão comprido para mostrar o forro revestido de cubos de C-4.
— Chamas a isso um pouco?
Kowalski baixou os olhos.
— Sim. Devia ter trazido mais?
Hank e Chin estavam à volta da rocha em forma de cogumelo.
Hank comunicou a conclusão a que ambos chegaram.
— Pensamos que a função disto é servir como tampão, porventura simbólico, de um cordão umbilical. De qualquer modo, vamos precisar de quatro homens fortes para, unindo os braços à volta da borda, o levantarem verticalmente do chão.
Kowalski, o major Ryan, Bern e Chin ofereceram-se como voluntários.
Dobrando os joelhos, os homens cingiram a pedra juntando os braços.
— A rocha é porosa — preveniu Chin. — Vamos ver se a conseguimos soltar.
À contagem de três, tentaram erguê-la, mas, pelo esforço que se via nos seus rostos, a avaliação do geólogo parecia duvidosa. Mas um som metálico dissonante ecoou da terra e o tampão de pedra elevou-se entre os braços dos homens. Com o tampão inalmente solto, foi fácil levantar a rocha, desviá-la e colocá-la no chão.
Painter, Hank e Rafael aproximaram-se.
— Isso é ouro? — perguntou Jordan por detrás deles.
Se era, tinham definitivamente encontrado o lugar certo.
Painter examinou a parte inferior da rocha em forma de cogumelo.
Estava revestida de ouro.
— Devem ter colocado o ouro para impedir que o tampão corroesse — observou Chin.
Hank examinou o buraco.
— Lembra-me a abertura de um kiva. A entrada para o outro mundo.
Kowalski olhou para o fundo do poço.
— Lembrem-se como tudo correu bem da última vez.
05h45
Hank desceu o poço atrás de Painter. O declive inicial era apenas de um metro e vinte, mas o túnel a partir daí tornava-se mais íngreme e descia para o fundo da bacia geotérmica e dos seus estranhos cones. O ar era quente, mas seco, e cheirava fortemente a enxofre.
Painter ia à frente com uma lanterna e uma pequena procissão seguia atrás dele. Chin e Kowalski atrás de Hank, depois, vinha Rafael ajudado por dois homens de Bern e Ashanda que, por sua vez, puxava Kai. Os demais ficaram à entrada do poço.
Jordan concordara permanecer aí para tomar conta de Kawtch — embora isso lhe lembrasse Nancy Tso, a última pessoa a ocupar-se do cão, e lhe causasse arrepios.
Os restantes homens armados mantinham-se separados e agrupados nos lados opostos da abertura.
O túnel afundava-se cada vez mais e tornava-se mais quente. Hank tocou numa das paredes com as palmas das mãos. Não queimava, mas estava quente, levando-o a pensar nas chamas infernais que ardiam por baixo — tanto literal como figurativamente.
Era assim que o mundo acabava?
Passado pouco tempo, Hank, com os pulmões a arder, pensou que talvez tivesse de voltar para trás. Quanto mais fundo teriam de descer?
Pareciam estar a quatrocentos metros da super ície, mas talvez estivessem apenas a duzentos.
— Chegámos — anunciou finalmente Painter.
Tinham chegado a um ponto onde as paredes se aproximavam, obrigando-os a passar os últimos metros de lado.
Painter foi o primeiro.
Hank seguiu-o e ouviu-o ofegar ruidosamente depois de passar, parecendo espantado e horrorizado. Painter afastou-se para o lado para deixar passar os outros.
Hank passou a seguir e tropeçou, surpreendido, e teve de se apoiar à parede para não cair. Cobriu a boca com a outra mão.
— Mon Dieu! — suspirou Rafael.
Kowalski praguejou.
Quando o resto do grupo entrou, a luz das lanternas afastou a escuridão, iluminando uma gruta ampla com pelo menos sete andares de altura.
Milhares de múmias ocupavam todo o espaço e as iguras dissecadas, dispostas em ilas, irradiavam de um enorme templo no meio como os raios de uma roda.
Hank tentou concentrar-se nas pobres almas que tinham perecido neste lugar. Como aquelas que viram no Utah, pareciam vestidos com trajes nativos americanos: penas, ossos, saias largas, mocassins de pele e tangas. Tinham o cabelo comprido, em geral entrançado e enfeitado, pintado de todas as cores: preto, mas também louro, castanho e até vermelho-vivo.
Eram os Tawtsee’untsaw Pootseev.
Punhais com lâminas de aço, mas também de osso, juncavam o chão ou eram empunhadas por mãos esqueléticas.
Tanta morte.
Tudo para guardar um segredo, para proteger um mundo de uma alquimia perdida.
Fitando tudo aquilo, Hank entendeu a origem potencial daquela ciência.
Um templo construído com lajes nativas juntas com argamassa elevava-se diante dele. Tinha seis andares de altura e parecia chegar ao teto e encher aquela gruta.
Ele sabia que lugar era este.
Ou, antes, a construção original que tinham copiado.
Até mesmo as dimensões da fachada pareciam corretas.
Vinte côvados de largura por trinta e cinco côvados de altura.
Saído diretamente da Bíblia.
Mas não eram as dimensões que lhe davam tanta certeza. Era o templo no seu todo. Degraus de pedra conduziam a um átrio, com a entrada emoldurada por duas possantes colunas — as famosas Boaz e Jachin —, mas, em vez de cobre, estas duas colunas, assim como o recipiente maciço diante do templo, eram feitos de ouro.
Sobre o dorso de doze bois, o cálice de ouro tinha três metros de altura e seis metros de largura. O original era chamado Mar de Cobre ou Mar Fundido. Era um nome adequado para esta cópia. O cálice estava colocado no meio de uma fonte quente cujo repuxo se elevava do chão e caía na taça. A água elevava-se e caía dentro da taça para voltar a elevar-se e a cair num ciclo sem fim.
— Que lugar é este? — perguntou Kai. — Parece uma construção Pueblo , mas a forma está errada.
Hank abanou a cabeça.
— A forma é perfeita.
Painter olhava aterrorizado.
Como pode negar a verdade agora?, perguntou-se Hank.
— Isto é o que penso? — exclamou Painter, reconhecendo também o templo de forma unívoca. — Ou é uma versão Pueblo?
Exultante, Hank acenou a cabeça.
— É o templo de Salomão.
40
1 DE JUNHO, 05H50
PARQUE NACIONAL DE YELLOWSTONE
O major Ashley Ryan não gostava de tomar conta de crianças.
— Afasta-te do nosso caminho — disse Ryan ao miúdo Ute.
Apontou para um rochedo na orla de um pinhal.
— Senta-te ali. E não deixes que o cão levante a pata sobre a minha mochila.
Jordan franziu o sobrolho, mas obedeceu.
No Utah, a Guarda Nacional e os índios não se davam bem — ou, pelo menos, no que dizia respeito a este guarda nacional. Ryan ainda se lembrava do banzé antes da explosão nas montanhas. Se os índios se portassem como os demais, toda a gente se entenderia às mil maravilhas.
Ryan olhou para o sítio que Bern e os seus mercenários tinham reivindicado a trinta metros do buraco. O gigante louro tinha três homens e Ryan também. Estavam em igualdade numérica se não contassem com o miúdo e o cão.
E Ryan não contava com eles.
Bern, com as mãos nas ancas, olhou para onde Ryan se encontrava, observando a situação com a mesma seriedade. O grande ariano olhou depois para o céu e, um momento mais tarde, Ryan também o ouviu.
Outro helicóptero.
O constante ruído dos rotores já ecoava na sua cabeça e fazia-lhe doer os caninos. Um trio de helicópteros andava aos círculos por cima da sua cabeça com as caixas de explosivos prontas. Os pilotos já tinham colocado quatro caixotes no chão para preparar a operação.
Ryan consultou o relógio. Vinte minutos. Não deixava muita margem de erro. O som de um segundo helicóptero juntou-se ao primeiro. Passou a rasar por cima da cordilheira e mergulhou.
Que raio aconteceu?
De repente, começaram a cair cabos da retaguarda do helicóptero de transporte por onde desciam rapidamente soldados com a mesma farda preta que os mercenários de Bern.
Foda-se.
Movendo-se instintivamente, Ryan virou-se e agachou-se. Ouviu a detonação da pistola ao mesmo tempo que uma bala zumbia por cima da sua cabeça. Estirado ao comprido no chão, itou Bern que lhe apontava a pistola.
Segundo tiro.
Um dos homens de Ryan caiu de costas com um buraco no lugar dos olhos.
Ryan começou a correr na direção dos rochedos para onde mandara o miúdo. O seu instinto era proteger os civis, mas também tinha dois soldados sob o seu comando.
— Protejam-se! Agora!
Tinham de encontrar um lugar para se defender. O grupo de rochedos resolveria provisoriamente a situação até poder pensar noutro sítio melhor. As balas caíam no chão à volta dele. Jordan já se escondera por detrás das rochas.
Os outros dois homens — Marshall e Boydson — juntaram-se ao major e correram, curvados, ao lado dele.
Os três chegaram aos rochedos e abrigaram-se.
Ryan en iou o cano da espingarda numa fenda entre dois rochedos para lhe servir de apoio. Viu oito homens saírem do primeiro helicóptero.
Momentos mais tarde, o segundo aparelho baixou como um beija-lor luminoso e descarregou o mesmo número de soldados.
O que fazia vinte contra três.
As probabilidades não eram muito boas.
05h51
Rafael consultou o relógio.
A esta hora Bern já devia controlar o terreno.
Tentou escutar o som de tiros, mas estavam demasiado fundo debaixo do chão e, além do mais, a grande fonte de ouro por onde tinham passado a caminho do templo fazia muito barulho.
Rafael apressou-se, sustendo a respiração, seguido por Ashanda e a rapariga. Os seus dois guarda-costas mantinham-se vários passos à frente, formando um escudo entre ele e os outros.
O geólogo da Sigma deteve-se a olhar para a água borbulhante na taça dourada.
— Devem ter perfurado até às correntes geotérmicas que passam por aqui. Todo este sítio deve encontrar-se à beira desse autêntico motor a vapor que põe em movimento o sistema hidráulico natural da bacia.
Mas até mesmo o geólogo acabou por avançar para contemplar o gigantesco templo. Sustido por colunas de ouro ornamentadas com molhos de trigo e pés de milho, esculpidos, envolvidos por trepadeiras loridas, o templo parecia mais alto à medida que se aproximavam dele.
Será realmente uma réplica do templo de Salomão?, perguntou-se Rafael.
Uma parte dele extasiava-se com tal ideia, mas outra parte pressentia o perigo que os ameaçava.
O professor falava enquanto subiam os degraus que conduziam ao átrio.
— O tempo de Salomão, frequentemente chamado o primeiro templo de Jerusalém, foi a primeiro edi ício religioso a ser construído no alto do monte Sião. Os eruditos rabinos dizem que durou quatrocentos anos até ser destruído no século VI a.C. Existiu durante o tempo em que os assírios dispersaram as dez tribos de Israel.
O velho agitou um braço na direção da estrutura diante deles.
— Era o seu local de culto, mas também uma cidadela de conhecimento e ciência. Conta-se que o rei Salomão era mágico e possuía poderes sobrenaturais. Mas o que para muitos é magia, é ciência para outros.
Kanosh conduziu-os em frente através do espaço, enquanto, na sua mente, voltava atrás no tempo.
— Possivelmente, estes Tawtsee’untsaw Pootseev foram outrora magos ao serviço de Salomão que souberam combinar o misticismo judaico com a ciência egípcia. Até serem escorraçados pelos invasores assírios. Após a sua chegada ao Novo Mundo, tentaram preservar a memória desse grande templo à religião e à ciência, usando as técnicas do antigo povo Pueblo para o construir.
Ao chegar ao átrio, o professor Kanosh atravessou as portas abertas.
— A primeira câmara deve ser o Hekhal ou Lugar Sagrado, disse.
Todos entraram. Estava vazia. Ao longo das paredes estavam alinhados troncos de pinheiro elaboradamente esculpidos como totens de animais: ursos, alces, lobos, carneiros e águias.
— No templo de Salomão, esta câmara estava decorada com palmeiras, lores e querubins. Mas estes construtores antigos incluíram nos seus motivos as características físicas da sua nova terra.
— Mas está vazia — constatou Painter, consultando o relógio.
— Eu sei — disse Kanosh, apontando para outro lance de escadas que conduzia ao vão de uma porta com uma cortina de correntes de ouro. — Se andamos à procura dos objetos mais sagrados do templo, devem estar ali.
Numa sala denominada Kodesh Hakodashim, o Santo dos Santos, o santuário interior do templo de Salomão. Era ali que Salomão guardava a Arca da Aliança.
Pressionado pelo tempo, Painter abriu apressadamente o caminho e os outros subiram os degraus atrás dele. Um dos guarda-costas ofereceu o braço a Rafael para o ajudar.
Ouvindo as exclamações de entusiasmo dos que iam à frente, Rafe tentou avançar mais depressa, batendo com a bengala no chão de pedra, furioso pela sua incapacidade. Ashanda precipitou-se para abrir a cortina a im de lhe facilitar a passagem. Ele baixou a cabeça e largou o braço do guarda.
Rafe entrou na sala e começou a tremer de admiração. Do chão ao teto, era toda revestida de ouro. Placas maciças — com três andares de altura — formavam as paredes. Eram versões gigantescas das placas de ouro descobertas no Utah e, como elas, cobertas com milhares de linhas escritas.
Hank caíra de joelhos entre duas esculturas de águias-carecas com as asas abertas e cinco metros de altura.
— No templo de Salomão, eram querubins enormes, anjos alados.
Até mesmo Painter se detivera para contemplar aquelas peças.
— Parecem as águias do Grande Selo. Terão mostrado a Jefferson um desenho deste espaço?
Hank, demasiado comovido para falar, abanou a cabeça.
Rafe sentia uma emoção semelhante — como podia não sentir? —, mas tinha um dever a cumprir.
— Tomem nota disto tudo — ordenou a um dos seus homens. — Não se pode perder uma coisa tão valiosa.
— Mas onde está guardado o nanomaterial? — perguntou Painter.
— Isso é um enigma que deixo ao seu cuidado, Monsieur Crowe.
Como o esconderijo ia explodir de qualquer modo, Rafe não via necessidade de seguir essa pista. O verdadeiro tesouro encontrava-se aqui: o conhecimento acumulado dos antigos. Passou a palma da mão pela parede, tentando assimilar tudo, desde o chão até ao teto, com a sua memória eidética única, para o preservar no seu disco duro orgânico.
Percorreu a sala passo a passo, perdido naquele mar de escritos antigos.
Toda a sua história, as suas ciências antigas e a sua arte antiga deviam estar aqui, registadas a ouro.
Tinha de se apoderar de tudo.
Podia significar a admissão da família na Verdadeira Estirpe.
Um grito ecoou na gruta, mas ele nem sequer se virou.
Era o geólogo.
— Chefe, há uma porta aqui no fundo... e um corpo.
05h55
Ensurdecido pelo constante tiroteio, o major Ashley Ryan não ouviu o inimigo lanquear os rochedos que os protegiam. Apanhados de surpresa, ele e os seus dois homens defendiam-se como podiam.
Os comandos de Bern controlavam o vale e ocupavam a entrada do túnel. Ryan nem sequer conseguia arranjar mais munições.
De repente, um latido agudo chamou a sua atenção para o lanco esquerdo.
O que lhe salvou a vida — a vida de todos.
Ryan lançou um olhar nessa direção e avistou três comandos que corriam furtivamente para o lado onde se encontravam os seus homens.
O cão saltou para cima do rochedo e ladrou sem parar.
Ryan rolou e tirou a espingarda da fenda. Aproveitou a distração provocada pelo cão para abater o comando que vinha à frente. Os seus dois companheiros dispararam. O cão ganiu e caiu do alto do rochedo com uma das patas da frente ferida.
Filhos da mãe...
Ryan ergueu-se, expondo-se, e, mudando a arma para o modo automático, premiu o gatilho. Por esta altura, os seus dois soldados também participavam no combate. Os dois comandos tombaram perto do refúgio de rochedos. Não tinham causado baixas, mas fora por pouco.
— Estou esgotado — disse Boydson, tirando o carregador a fumegar da arma.
Marshall verificou a espingarda e abanou a cabeça.
— Mais uma rajada e ficava sem munições.
Ryan sabia que não estava em melhores condições.
Bern gritou umas palavras de ordem em alemão, com a voz sedenta de sangue. Devia saber que os seus homens foram derrotados e que eles não tinham muitas escolhas nem munições. Ryan espreitou por detrás dos rochedos.
A força inimiga — ainda com quinze homens — preparava-se para a carga inal. Bern ia comandá-la, expondo-se a cinquenta metros, sentindo-se invencível na sua armadura de combate e con iante na sua potência de fogo.
Estendeu o braço na direção da posição de Ryan enquanto o major fazia pontaria.
Cá vamos nós outra vez.
21h56
Tóquio, Japão
Riku Tanaka sentou-se à frente do computador no interior da labiríntica estrutura eufemisticamente denominada Agência de Informação e Segurança Pública, a primeira organização de espionagem do Japão. Riku nem sequer sabia em que andar — ou edi ício — se encontrava — provavelmente na cave, por causa do irritante zumbido do ar condicionado.
E também não se importava.
A sua mão estava pousada na de Janice Cooper.
Desde que foram salvos das profundidades geladas do tanque do detetor Super-Kamiokande, que raramente não estava em contacto ísico com ela. A sua presença, como uma âncora que mantinha um navio seguro em mares revoltos, ajudava-o a manter o equilíbrio no mundo enquanto a sua psique se reconstruía.
Aguardavam os últimos dados provenientes dos vários laboratórios que estudavam partículas subatómicas para os integrar no so isticado programa informático. Com a aproximação do ponto de massa crítica, as variáveis desconhecidas estavam a diminuir, permitindo uma estimativa mais exata da hora a que a explosão deveria ocorrer.
Os cálculos estavam finalmente completos.
E a resposta cintilava no ecrã.
A mão de Riku apertou a de Janice com força.
Necessitando tanto como ele de uma âncora, Janice retribuiu a pressão.
— Estamos perdidos.
05h56
Parque Nacional de Yellowstone
Painter agachou-se ao lado do corpo.
O homem jazia de costas em cima de uma pele de búfalo com as mãos sobre o peito.
O traje nativo americano do homem mumi icado era mais rico do que o dos corpos no exterior. Um colar cor de pérola com penas brancas de águia rodeava o pescoço magro e nu do homem. Uma longa trança de cabelo grisalho ainda continha pedaços de lores secas que alguém colocara com amor. Uma capa com pérolas — a fazer de xaile — envolvia-lhe os ombros.
Este homem não se suicidara. Alguém o enterrara aqui no Santo dos Santos, uma grande honra.
Painter percebia porquê.
Havia dois objetos por baixo das suas mãos pálidas e mirradas.
Uma bengala de madeira branca com o símbolo da lor-de-lis francesa gravada no cabo de prata.
Um diário escrito em papel feito com folhas de bétula e encadernado em pele.
Era o corpo de Archard Fortescue.
Painter não teve de ler o diário para saber que Fortescue devia ter icado aqui depois do grupo de Lewis e Clark ter partido. A sua intenção era ser o guarda e protetor deste grande segredo. Vivera com os índios, fora aceite por eles e, pelo cuidado como o seu corpo fora disposto, também amado.
— Repousa em paz, meu amigo — disse Painter. — A tua longa vigília terminou.
— Chefe, chamou-o Chin. — Tem de ver isto.
O geólogo estava junto de uma porta aberta no fundo da sala e o tom das suas palavras era de terror. Painter, seguido de Hank e Kowalski, aproximou-se dele.
Chin apontou a lanterna para uns degraus que desciam para uma sala ampla que se estendia para cada um dos lados e para trás do santuário.
— É a sala do tesouro do templo — informou Hank.
Painter, boquiaberto, não conseguia dizer palavra.
E foi Kowalski quem resumiu a situação do modo mais sucinto.
— Estamos fodidos.
05h57
Com a face encostada à coronha da espingarda, o major Ashley Ryan olhou através da mira. A cinquenta metros de distância, Bern, excitado com a ideia da matança inal, baixou o braço. Os comandos surgiram dos seus esconderijos por todo o vale e prepararam-se para o ataque.
— Major?... — murmurou Marshall.
Ryan não tinha palavras de consolação para o rapaz. Nem para Boydson, que, encostado a um dos rochedos, tinha na mão um punhal, a única arma que lhe restava. Os seus dois homens mal tinham vinte anos.
Boydson acabara de ter um ilho e Marshall fazia tenção de pedir a namorada em casamento na próxima semana e até já tinha comprado a aliança.
Ryan manteve-se concentrado.
Tencionava matar tantos adversários quantos pudesse para os fazer pagar com sangue a vida de cada um dos seus homens.
Examinou Bern através da mira telescópica. Necessitava de que ele se aproximasse para não desperdiçar munições. A partir de agora, cada bala contava.
Mas a honra desta morte não caberia a Ryan.
Através da mira, viu Bern levar subitamente as mãos ao pescoço enquanto o sangue lhe jorrava da boca. Uma lecha atravessara-lhe o pescoço. O homem gigantesco caiu de joelhos quando um grito selvagem se elevou por todo o vale e ecoou lugubremente ao longo das ravinas, arrepiando os cabelos de Ryan.
Um ruído atrás dele, fê-lo virar-se com a arma em riste e quase disparar contra o peito de Jordan. Ryan julgava que ele estava escondido mais longe — onde lhe ordenara que permanecesse.
Mas o rapaz estava sem fôlego e com a roupa encharcada de suor.
Tinha obviamente desobedecido às ordens do major.
Os gritos aumentaram de intensidade e Jordan veio sentar-se junto de Ryan.
— Há movimentação nos bosques! — avisou Marshall. — Vejo vultos por toda a parte a correr em todas as direções.
— Desculpe termos demorado tanto — balbuciou Jordan. — Mas não queríamos que nos vissem até termos cercado completamente o vale.
O jovem olhou para lá dos rochedos.
Ao virar-se na mesma direção, o major reparou que Jordan parecia evitar o seu olhar. No vale, o que restava do bando de Bern, agora sem chefe, dispersava sem qualquer disciplina. Alguns procuravam refugiar-se em qualquer parte.
Mas já não havia refúgio possível.
Um grito ainda mais estridente atravessou o vale e uma chuva de lechas caiu em cima da posição dos comandos. Gemidos de dor e surpresa juntaram-se aos gritos de guerra.
As armas disparavam sobre sombras.
E, em resposta, ecoavam tiros vindos da floresta.
Os comandos iam sendo abatidos um a um e Ryan distinguia vultos a avançar. Não vestiam fardas reconhecíveis, mas simplesmente calças de ganga, botas e tshirts e, alguns, apenas tangas e mocassins.
Todavia, tinham todos uma coisa em comum.
Eram nativos americanos.
Com a batalha vencida, mas sem querer correr riscos, Ryan fez sinal aos seus homens.
— Tragam as armas e as munições para aqui.
Queria estar preparado para o caso de a situação tornar a virar-se contra eles.
Ofegante, Jordan começou a explicar o que se passara: — Antes de embarcar num avião para aqui, Painter pediu a Hank e a mim para reunirmos homens das nossas tribos em quem con iássemos e arranjou transporte e helicópteros. E, logo que soube para que lugar em Yellowstone íamos, colocou-os em posição antes de alguém chegar pois desconfiou que o francês faria algo deste género.
E com toda a razão...
— Os nossos homens esconderam-se no fundo do vale. Houve momentos em que quase os apanharam, mas, quando queremos, sabemos como nos mover através dos bosques sem nos verem. No início da batalha, fui investigar no terreno o número de combatentes inimigos e as suas posições para coordenar o ataque.
Ryan itou Jordan de modo diferente. Quem era este miúdo? Mas ainda estava irritado.
— Porque é que Crowe não me preveniu? E, para começar, porque é que não recrutou a Guarda Nacional?
Jordan abanou a cabeça.
— Parece que havia uma certa preocupação com in iltrações. Não sei realmente. Uns problemas no Leste com traidores no governo. Painter queria aplicar as regras antigas neste caso e não abandonar aqueles que tinham o seu sangue.
Ryan suspirou. Talvez fosse a melhor solução.
Jordan olhou em redor.
— Onde está o Kawtch?
O major apercebeu-se de que não vira o cachorro desde que levara um tiro. Sentiu-se culpado. O cão salvara-lhe a vida.
Jordan avistou o corpo inerte no meio dos arbustos.
Precipitou-se para ele.
— Oh, Kawtch!
Antes de Ryan ter tempo para manifestar a sua solidariedade, ou desculpar-se, Boydson surgiu a correr e passou-lhe a rádio.
— É para si. Washington tem estado a tentar contactar consigo.
Washington?
— Daqui fala o major Ryan.
— Sou o capitão Kat Bryant.
Ryan reconheceu o tom urgente. Era como se vertesse aço líquido na sua coluna vertebral. Passava-se algo de errado.
— Pode comunicar com Painter Crowe?
Ryan olhou para o túnel. Sem poder comunicar pelo rádio através das paredes rochosas, alguém teria de descer lá abaixo.
— Posso contactar, mas vai demorar uns minutos.
— Não temos tempo. Preciso de comunicar imediatamente com ele.
Diga-lhe que, baseando-se em dados mais recentes, os ísicos reviram a hora da explosão. Será às seis e quatro minutos e não às seis e quinze.
Entendido?
Ryan consultou o relógio.
— Dentro de quatro minutos!
Baixou o rádio e apontou para Jordan. Precisava de enviar alguém em quem Painter confiasse.
— És veloz a correr, miúdo?
06h00
Painter apontou a lanterna para o tesouro que se encontrava por detrás do Santo dos Santos.
Centenas de plintos de pedra suportavam caveiras douradas de todos os feitios e tamanhos: gatos com presas, mastodontes com presas de mar im, ursos e até mesmo o que parecia a volumosa caveira de um alossauro ou qualquer outro sáurio. No meio também havia dezenas de vasos canopos, alguns gravados com motivos egípcios antigos, possivelmente originais. Mas havia outros com gravuras de animais locais: lobos, diferentes tipos de pássaros, leões-da-montanha e demais felinos, ursos-pardos e até mesmo uma cascavel enrolada.
— Nunca conseguiremos tirar tudo daqui a tempo — disse Chin. — Temos só um quarto de hora.
Kowalski acenou a cabeça.
— É altura do plano B, chefe — disse, olhando para Painter. — Tem um plano B, não tem?
Painter voltou ao templo principal.
— Vamos tentar transportar o que pudermos. Talvez reduza a possibilidade de a caldeira de Yellowstone explodir.
Kowalski seguiu-o com outras ideias na cabeça.
— Que tal trazermos maçaricos? O calor não destrói este material?
— Demora demasiado tempo — disse Chin. — E não creio que a chama seja suficientemente quente.
— E se largarmos uma bomba de profundidade lá de cima?
Painter refletiu sobre a proposta.
— Estamos demasiado fundo.
— E a solução nuclear?
— Só em último recurso — disse Painter. — E ainda somos capazes de causar o que estamos a tentar impedir.
Kowalski agitou os braços no ar.
— Tem de haver alguma coisa que possamos fazer.
Ao entrarem na câmara sagrada, uma igura atravessou a cortina de correntes de ouro. Deteve-se, olhando com espanto para todo aquele ouro.
Kai deu um passo na sua direção.
— Jordan?...
Ele estendeu-lhe a mão, tentando recuperar o fôlego.
— Washington telefonou... a hora mudou... isto vai rebentar às seis horas e quatro minutos.
Painter não teve de consultar o relógio. O seu relógio orgânico estivera a fazer a contagem. Dois minutos. Todos olharam para ele à espera de uma solução, uma ideia qualquer.
Já não havia nada a fazer. Só tinham uma escolha.
Painter apontou para a porta.
— Fujam!
41
1 DE JUNHO, 06H02
PARQUE NACIONAL DE YELLOWSTONE
Dois minutos...
Kai correu com os outros através do imponente templo. Jordan manteve-se ao lado dela, o que lhe deu alento. Uma parte de si mesma queria deixar-se cair e desistir. Mas Jordan olhava para ela, incitando-a silenciosamente a continuar — e era o que Kai fazia.
Além disso, tinha outro incentivo de peso.
Ashanda corria ao lado dela como uma juggernaut. Se Kai caísse, ela nem sequer abrandaria e limitar-se-ia a arrastá-la. Um pouco atrás, dois soldados transportavam Rafael suspenso nos seus ombros.
O grupo chegou, finalmente, à saída do templo.
O tio de Kai e o geólogo iam à frente, saltando dois degraus de cada vez.
Corriam o mais depressa que podiam, mas, mesmo assim, pareciam estar a discutir. O geólogo apontava para a fonte em ebulição, mas o tio Crowe abanava a cabeça.
Atrás de todos, vinha Kowalski. A sua enorme envergadura não era feita para correr. De rosto vermelho e suando por todos os poros, respirava com dificuldade.
— Nunca chegaremos à super ície — murmurou Kai, enquanto ela e Ashanda desciam os degraus.
Jordan combatia o desespero.
— A abertura do túnel é apertada. Se conseguirmos atravessar a passagem estreita, estamos salvos.
Kai não sabia se essas palavras se baseavam em algo mais do que esperança, mas deixou-se convencer. Temos de alcançar o túnel.
Aquele objetivo fazia-a sentir-se melhor e correr mais depressa.
Um grito ecoou atrás dela e Ashanda deteve-se. Os re lexos de Kai não foram su icientemente rápidos e foi puxada brutalmente pelas algemas que as uniam. Jordan veio ter com elas.
Rafael e os dois soldados tinham caído pelas escadas abaixo e aterrado num emaranhado de pernas e braços.
Ashanda acudiu para lhes prestar assistência e Kai não teve outro remédio senão segui-la.
Os dois soldados levantaram-se. Um deles afastou-se uns passos a coxear e o outro pôs-se em pé de um salto. Olhou à volta com ar desvairado e fugiu em direção ao túnel.
O outro soldado icou a vê-lo, pareceu reconsiderar a sua opção e correu atrás do companheiro.
Jordan chamou-os: — O que estão a fazer? Venham ajudar-nos!
Painter e o geólogo pararam quando os soldados passaram por eles a correr.
Kowalski fez-lhes sinal para continuarem.
— Vão! Eu trato deste gajo!
Levantou Rafael que soltou um grito. Tinha ambas as pernas torcidas de modo esquisito. Estavam partidas. Não esperando este desfecho por causa de um simples trambolhão, Kowalski quase o deixou cair novamente.
— Obrigado — agradeceu Rafael, apoiando-se nele com a testa a suar de dor.
Apalpou as costelas com uma mão, provavelmente também partidas.
Olhou com ar contrito para Ashanda, pois sabia que ela não o abandonaria.
— Vão — disse a Kowalski e Ashanda, apontando com o outro braço.
Recomeçaram a andar.
Painter e Chin abrandaram o passo para esperar pelos outros. Aquela pequena demora podia tê-los condenado a todos.
Faltava menos de um minuto.
— Vai à frente! — disse Kai a Jordan.
— Não. Vou esperar por ti.
Receava por ele.
— Vai, senão vamos icar todos encurralados na passagem estreita.
Passa primeiro. Prometo que já lá vou ter.
Jordan queria ficar, mas viu a determinação nos olhos de Kai.
— É melhor que não faltes à tua promessa! — disse-lhe ao partir.
Kai olhou por cima do ombro. Sobrecarregado pelo peso de Rafael — que tentava em vão não gemer mordendo a língua —, Kowalski estava a ficar cada vez mais para trás.
Ashanda também reparou.
E parou à espera deles, obrigando Kai a fazer o mesmo.
Oh, não...
Ashanda pegou em Rafael e fez sinal a Kowalski para continuar.
Este hesitou, mas Kai empurrou-o com o braço livre. Continuaram a ritmo mais rápido, mas Ashanda, apesar de transportar Rafael, conseguia acompanhá-los.
Painter aguardava à entrada do túnel e acenou-lhes para se apressarem.
— Doze segundos!
Kowalski conseguiu que as suas pesadas pernas se movessem mais depressa e alcançou o túnel.
— Entra! E avança até onde puderes!
O tio Crowe precipitou-se depois para Kai e para os outros. E, para que os outros caminhassem mais rapidamente, agarrou Rafael como se fosse um boneco de trapos. Ouviu-se o estalido de um osso, mas o homem apenas deixou escapar um pequeno gemido.
— Sete segundos!
Painter empurrou Rafael através da fenda como se estivesse a deitar lixo fora e, depois, virou-se para Kai.
— Vá! — gritou-lhe ela, chocalhando as algemas. — Está a bloquear o caminho. Tenho de passar juntamente com a Ashanda.
Ele percebeu e enfiou-se pelo túnel, mal roçando nas paredes.
— Cinco! — berrou ele do outro lado.
De repente, Kai foi levantada no ar por Ashanda que se lançou através da passagem.
— Quatro!
Kai contorceu-se de lado quando a africana a empurrou através da fenda. As rochas arranharam-lhe as costas e o rosto.
— Três!
Kai caiu de joelhos no outro lado.
Rafael, encolhido ao seu lado, estendeu-lhe um braço.
— Dois!
Ashanda empurrou as suas amplas formas para a estreita abertura — e parou.
Rafael fitou-a com uma expressão de compreensão nos olhos.
— Não, mon chaton noir.
Kai não percebeu.
— Um!
Ashanda sorriu docemente enquanto o mundo explodia atrás dela.
06h04
Painter mergulhou para proteger Kai com o corpo. A explosão soou como o im do mundo, uma supernova a desintegrar-se no interior da gruta. A intensidade do brilho iluminou o túnel, penetrando como a luz de um laser pelos pequenos intervalos à volta da silhueta da mulher entalada na fenda.
Imaginou uma erupção nanotecnológica abrindo um buraco no universo e, a seguir, lembrou-se igualmente que a força da explosão nas montanhas do Utah, embora fosse menor, matara apenas a antropóloga e nenhuma das testemunhas mais próximas.
O verdadeiro perigo não era esse.
Largou Kai quando o som da explosão ecoou mais longe e a intensidade da luz diminuiu, deixando-lhe ligeiros traços luminosos na retina. Piscou os olhos.
— Ashanda... — murmurou Kai, levantando-se.
A mulher pendia, inerte, na fenda, mas ainda respirava.
— Ajudem-na, por favor... — suplicou Rafael.
Painter passou por Kai, que continuava algemada à mulher, e a seguir, com muito cuidado, conseguiu soltar Ashanda da fenda, deixando que o seu próprio peso a arrastasse para o chão. Encostou-a depois à parede perto de Rafe.
Recuando, espreitou através da fenda para a câmara distante. Chin apontou a lanterna, mas a luz não conseguiu penetrar a escuridão. Uma neblina escura, composta de poeira, fumo e algo que, como Painter temia, não devia existir neste mundo, parecia encher todo o espaço. Um nanoninho. Quando uma parte da neblina assentou, avistou uma sombra mais escura no fundo, a forma do antigo tempo. Mas, em vez de se tornar mais nítida à medida que a neblina se dissipava, a sombra dissolvia-se, como se fosse uma ilusão.
Um gemido fê-lo virar-se para o túnel.
Os olhos de Ashanda abriram-se e a cabeça rolou de um lado para o outro enquanto se debatia para recuperar a consciência.
— Tentou proteger-nos — disse Kai.
Painter suspeitou que aquela manifestação de altruísmo se devia mais a Rafael do que aos outros — mas talvez não. De qualquer modo, todos beneficiaram.
— E protegeu-nos — concordou.
Reparou que parte da roupa dela, a do lado da explosão, começava a perder a cor e a reduzir-se a cinzas. Pintas brancas surgiam na pele escura, como se tivesse sido polvilhada com pó de giz — depois, essas pintas aumentavam de tamanho e alastravam, largando sangue.
Fora contaminada, ou pelos nanorrobôs de Chin ou por qualquer outro processo corrosivo. Usando o próprio corpo como escudo, ela impedira que as partículas corruptoras os atingissem.
Mas o túnel não seria seguro durante muito tempo.
A passagem estreita ao fundo começara a esboroar e a rocha a desintegrar-se em areia.
— Está a deteriorar-se muito mais depressa do que no Utah — disse Chin. — É provável que um nanoninho deste tamanho aumente exponencialmente.
Painter apontou para o túnel.
— Leve o Kowalski. Sabe o que tem de fazer.
— Sim, chefe.
No entanto, os olhos de Chin continuaram a observar com curiosidade o avanço do processo corrosivo que devorava toda a matéria. A sua expressão era simultaneamente de fascínio e de terror. Mas, a seguir, acabou por reagir e apressou-se a reunir os outros diante dele.
Só Jordan recusou obedecer e, escapando à atenção do geólogo, voltou para trás.
— Estás bem? — perguntou a Kai.
Como resposta, ela levantou o braço algemado.
Painter dirigiu-se a Rafael.
— Dê-nos o código para abrir as algemas.
Mas o francês parecia ausente e o seu olhar permanecia ixo no corpo da africana. Embora meio atordoada, recuperara um pouco de consciência e, com a cabeça torcida contra a parede, também o itava. Respirava com di iculdade e o sangue escorria do lado contaminado. A pele soltava-se, expondo os músculos.
— O que fizeste, Ashanda? — murmurou ele.
— Precisamos do código para as algemas, Rafael — insistiu Painter.
O ilho da mãe mantinha-se alheio às suas súplicas, mas Ashanda ergueu o braço durante uma trémula fração de segundo, manifestando claramente o seu desejo.
Painter permaneceu calado, sabendo que não tinha melhor argumento.
E esperou, vendo o mundo dissolver-se lentamente à sua volta.
06h07
Caído no chão de pedra, Rafael itava os olhos de Ashanda. Ela sacri icara tudo por ele. Ele lutara toda a vida para provar o seu valor perante os outros, perante a sua família e até perante si mesmo — e elevar-se acima da vergonha de que não era culpado. Mas naqueles olhos escuros esse esforço nunca foi necessário. Ela via-o, olhando-o nos seus silêncios, sempre ali, sempre forte.
Neste momento, ele via-a finalmente de verdade.
E isso magoava-o mais do que qualquer queda.
— O que te fiz? — sussurrou-lhe em francês.
Estendeu a mão para a face dela.
— Cuidado — avisou-o Painter numa voz que parecia distante.
Tais inquietações não afetavam Rafael. Sabia que os seus ferimentos eram graves e estava acima dessas inquietações. Sentia o frio a envolvê-lo e o sabor a sangue na língua sempre que respirava. Tinha várias fraturas em ambas as pernas e, provavelmente, também na anca.
Estava acabado, mas duraria o tempo suficiente.
Por ela.
A lorou-lhe as maçãs do rosto com as pontas dos dedos e, depois, desceu pela linha do maxilar até lhe tocar na garganta.
Os olhos dela semicerraram-se ligeiramente.
Os lábios esboçaram um vago sorriso.
Oh, meu amor...
Ele puxou-a docemente contra o peito, sentiu o sangue quente que lhe escorria pelas costas, o tremor da agonia. Ela tentou afastá-lo para o proteger.
Não, deixa-me ser o mais forte... só desta vez.
Quer por ter ouvido o seu pedido ou simplesmente por estar demasiado fraca, Ashanda caiu nos seus braços com um suspiro. A cabeça encostou-se ao ombro de Rafael e os seus olhos itaram-no com uma alegria que ele nunca vira. Amaldiçoou-se por rejeitar uma felicidade tão simples — a ela e a si mesmo.
Ouviu uma voz a importuná-lo.
Para pôr termo àquilo, disse os cinco números do código para abrir as algemas.
Seguiu-se o ruído de passos e ouviu duas vozes jovens cheias de esperança e afeto. E, depois, toda essa animação desapareceu.
Quando se sentiu sozinho, beijou ternamente aqueles lábios trémulos.
Abraçou-se a ela durante uma eternidade, sentindo nas faces a sua respiração... cada vez mais lenta... e, por fim, nada.
Agora, a mesma contaminação corroía-o através do braço que a enlaçava, do ombro que a sustinha e dos lábios que a beijaram. Mas era uma dor maravilhosa. Provinha dela e era assim que desejava.
Apertou-a ainda mais contra si.
Ouviu uma voz e virou-se. Painter permanecia ali ao seu lado. Pensara que ele se fora embora. O que lhe parecera uma eternidade deve ter sido apenas minutos.
— O que deseja, Monsieur Crowe? — sussurrou em voz rouca, sentindo partes dele partir à deriva.
— Quem é você? — perguntou Painter, agachado a uns centímetros como um abutre.
Rafael inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos, sabendo o que o homem queria realmente. Embora o seu corpo estivesse cansado, a sua mente permanecia alerta.
— Sei quem procura, mas eles não são eu. Não são a minha família.
Abriu os olhos para itar Painter. Doía-lhe falar, mas sabia que tinha de o fazer.
— O que procura não tem nome. Formalmente.
— Então o que sabe?
— Sei que as famílias mais antigas, na América, têm raízes que datam dos tempos do Mayflower. Isso não é nada, meros soluços na marcha da história. Na Europa, existem famílias que são duas, três e quatro vezes mais antigas. Mas é um punhado de gente, a eleita, cuja herança vai ainda mais longe. Alguns clamam que a sua linhagem data de antes de Cristo, mas quem sabe? Sei que têm andado a acumular riqueza, poder e conhecimento enquanto manipulam a história, escondendo-se por detrás de vários rostos, constantemente em mudança. São as mais secretas no meio de todas as sociedades secretas.
Embora lhe custasse, isto provocou-lhe um pequeno riso.
— Estas linhagens são chamadas les familles de l’étoile, as famílias da estrela. Ouvi dizer que, antigamente, eram mais numerosas, mas, agora, só existe uma, a Verdadeira Estirpe. Para se manterem fortes, unem-se com famílias mais jovens do escalão mais alto, como a minha.
— Escalão?
— Um sistema de classes entre as famílias mais jovens que desejam juntar-se à Estirpe. Os símbolos do primeiro nível são a estrela e a lua do mystère mais antigo. E os do segundo, o esquadro e o compasso dos pedreiros-livres. Outra ordem énigmatique, non? E pelos serviços do clã Saint Germaine na América, foi-nos concedida a entrada no terceiro nível.
Fomos escolhidos. Fui escolhido por causa do nosso conhecimento em nanotecnologia. Uma honra.
Tossiu, cuspindo sangue.
— Veja.
Rafael virou a cabeça e ergueu debilmente a mão para afastar a mecha de cabelo que escondia a sua marca. O terceiro símbolo fora acrescentado há apenas uns dias a tinta carmesim à volta dos outros dois.
No centro da tatuagem, a estrela e a lua... rodeadas pelo esquadro e pelo compasso... e, à volta...
— O escudo dos Templários — murmurou Painter. — Outra ordem secreta.
— E há mais, ou assim ouvi.
Rafael deixou cair pesadamente o braço.
— Como lhe disse, no meio de todas as sociedades secretas, somos a mais secreta. A terceira marca coloca a minha família a um passo da Verdadeira Estirpe. Ou tê-la-ia colocado.
Soltou mais uma vez um riso doloroso.
— Os reveses são severamente punidos.
Depois de um prolongado silêncio, Painter falou.
— Mas com que fim? Qual é o objetivo de tudo isto?
— Ah! Nem sequer eu sei tudo. Há coisas que terá de descobrir sozinho. Não lhe conto mais nada, porque mais nada sei.
Fechou os olhos e desviou o rosto.
Painter levantou-se passados uns instantes e voltou para o túnel.
Rafael Saint Germaine inclinou-se e deu um último beijo ao seu amor até sentir os lábios de Ashanda dissolverem-se — e levarem-no com ela.
42
1 DE JUNHO, 06H22
PARQUE NACIONAL DE YELLOWSTONE
Painter saiu bruscamente da escuridão para a luz.
Não sabia o que pensar das pretensões de Rafael: megalomania, mentiras, loucura ou verdade. Tudo o que sabia era que o perigo que se aproximava tinha de ser detido.
Observara a gruta enquanto falava com o francês. Desaparecera tudo: corpos e templo. A rocha tornara-se areia e a areia, poeira. O que viu atingiu-o na sua essência, intimidou-o no âmago do seu ser. A uns passos dele, dera-se uma tempestade de pura entropia em que a ordem se transformou em caos e o estado sólido deixou de ter significado.
Era urgente destruir o nanoninho.
No curto tempo que passara lá em baixo, a bacia do Reino das Fadas entrara em atividade frenética e os helicópteros sobrevoavam o vale para socorrer as pessoas. Tinham uma última oportunidade para evitar que a caldeira vulcânica fosse destruída, mas deviam atacar o nanoninho enquanto era relativamente pequeno e estava confinado.
Painter atravessou o vale na direção do local onde Chin e Kowalski trabalhavam. Pareciam estar prontos.
Ao passar por um dos helicópteros, avistou Kai e Jordan sentados ao lado de Hank. Kai virou-se e acenou-lhe com a mão, mas Jordan estava tão concentrado nela que nem reagiu. O professor baixou-se para aceitar o cobertor enrolado que o major Ryan lhe entregou. E, depois, pôs o cão ao colo para proteger a sua pata partida. Apesar de ferido, Ryan insistira para que Kawtch fosse tratado primeiro do que ele.
Quando Painter se afastou para se juntar a Chin e a Kowalski, o helicóptero levantou voo com um rugido, provocando um remoinho de areia.
— Estão prontos? — perguntou Painter.
— Por aqui está tudo terminado — respondeu Kowalski sentado de pernas cruzadas no chão.
Um cordão detonador com cubos de explosivos C-4 estava enrolado a seus pés.
— É como fazer grinaldas de pipocas.
— Lembra-me para não ir a tua casa no Natal.
Ele encolheu os ombros.
— O Natal é OK. É o 4 de Julho que assusta toda a gente.
Painter podia imaginar o que seria.
Kowalski e fogo de artifício não combinavam muito bem.
Chin estava de pé ao lado do cone de geiserite chamado Monte do Lançador. Mapas topográ icos e digitalizações do vale feitos com radar que penetrava o solo estavam espalhados no chão.
— Este cone é o melhor sítio — disse Chin. — As digitalizações mostram que é o ponto de acesso mais próximo do tampão que bloqueia a conduta geotérmica lá em baixo. Se esse tampão for solto, o caldeirão superaquecido pressionado no fundo da terra acordará com um rugido como um dragão adormecido.
A ideia fora de Painter, mas a execução estava a cargo de Chin e de Kowalski. O geólogo explicara como duas forças tinham dado forma a Yellowstone: as erupções vulcânicas do fundo e as explosões hidrotérmicas mais à super ície. Embora precisassem de calor intenso para dar cabo do cancro em baixo, uma erupção vulcânica não era de initivamente uma boa escolha neste caso. A melhor coisa a fazer era tentar uma explosão hidrotérmica.
Painter propôs provocar uma explosão super icial superquente para dar cabo do nanoninho antes que tivesse a possibilidade de abrir caminho até à câmara de magma vulcânica a nove quilómetros de profundidade.
Apesar de haver o risco da explosão hidrotérmica perturbar igualmente a câmara de magma, era menos arriscado do que não fazerem nada e deixarem o nanoninho chegar lá sem obstáculos.
Mas como se provoca uma explosão hidrotérmica?
— OK, vamos fazer isso.
Kowalski levantou-se, pegou na volumosa bobina de C-4 e aproximou-se de Chin.
O geólogo encostara duas escadas aos lados íngremes do minivulcão.
Ele e Kowalski subiram até ao alto onde saía fumo de uma pequena abertura, su iciente para caber uma carga de C-4. Apoiados com a barriga nas escadas, os dois homens en iaram um cubo de explosivos de cada vez — cem no total — pela abertura do cone, deixando-os cair tão perto da rocha que bloqueava a conduta hidrotérmica quanto possível. Chin calculara a quantidade de explosivos necessária para rebentar com a rocha.
E Kowalski duplicou-a.
Por uma vez, Painter concordou com Kowalski.
Meter todas... ou ir para casa.
— Está bem assim — disse Chin do alto do cone.
Os dois homens desceram.
Antecipadamente satisfeito, Kowalski esfregou as mãos.
— Vamos ver se este clister de C-4 dá resultado.
Painter olhou para ele. Não era uma má descrição para desentupir aquele bloqueio. O trio encaminhou-se apressadamente para o último helicóptero que, com o motor já quente e os rotores a girar, aguardava no vale. Subiram para bordo, afivelaram os cintos e levantaram voo.
O piloto não poupou combustível e, lá em baixo, o vale diminuiu rapidamente de dimensões.
— Excelente! — disse Painter através do rádio.
Com o helicóptero a pairar em círculos lentos, Painter fez sinal a Kowalski, que tinha o transmissor na mão. Sorrindo resolutamente, Kowalski premiu o botão.
Desta altura e com as cargas enterradas sob a terra, a explosão soou como um trovão distante.
Painter olhou para baixo. O Monte do Lançador continuava intacto. A única alteração era um pouco mais de fumo a sair do cone.
— Que chatice! — exclamou Kowalski. — Estava à espera...
Toda a bacia detonou por baixo deles. Abriu uma fenda como um prato rachado e rebentou em bocados do tamanho de autocarros que se elevaram acima das ravinas e se despenharam, desnudando colinas arborizadas. Ao mesmo tempo, começou a brotar água a escaldar que formou um géiser com vinte metros de largura e subiu dezenas de metros no ar.
— É isto que eu chamo um verdadeiro clister! — exclamou Kowalski.
O helicóptero elevou-se no ar pois o piloto receava ser apanhado naquele turbilhão de rochas, água e vapor.
— Uma tal quantidade de calor deve ter destruído o nanoninho — observou Chin.
No então, havia outra questão: Tinha a enorme explosão desencadeado o que eles temiam? Todos sustinham a respiração enquanto o helicóptero andava às voltas, subindo cada vez mais alto. O géiser continuava a borbulhar, mas o jato começou lentamente a diminuir. Não havia indícios de que o magma ou a lava estivessem a subir.
Passado outro minuto, Chin soltou um suspiro de alívio.
— Parece que está tudo bem.
O helicóptero continuou a subir.
Ao virarem, Painter teve uma perspetiva de toda a caldeira de Yellowstone. Em toda a bacia, a água brotava largando espirais de vapor.
— Meu Deus, todos os géiseres estão em erupção! — murmurou Chin, espantado.
Quando o helicóptero atravessou aquela cena estonteante, Painter olhou, deslumbrado, para a dança das águas, o cintilar de arco-íris vaporosos, subitamente deleitado pela maravilha deste mundo, este dom para a humanidade em toda a sua resplandecente beleza natural.
Com o rosto encostado à janela, Kowalski parecia igualmente impressionado.
— Da próxima vez, devíamos usar mais C-4.
43
1 DE JUNHO, 11H02
WASHINGTON, DC
Gray apanhou um táxi do aeroporto para os Arquivos Nacionais.
Dormira um pouco durante o voo de Columbia, Tennessee, após descobrir que tudo correra lindamente em Yellowstone. Sentia-se muito melhor.
Painter passaria lá mais um dia ou dois para se certi icar de que tudo estava bem e de que a sobrinha regressava às aulas na Universidade Brigham Young.
À chegada, quisera acompanhar Monk ao hospital para ser tratado como devia ser, mas Kat telefonara ao aterrarem. O doutor Heisman, disse ela, conseguira decifrar a mensagem de Meriwether Lewis e queria comunicá-la imediatamente. Kat propôs mandar alguém ao museu, mas, considerando todos os sarilhos e o sangue derramado para obter a pele de búfalo, Gray queria ser o primeiro a ouvir o que dizia.
Devia isso a Monk.
E a Meriwether Lewis.
Por isso, despediu-se de Monk no aeroporto. O amigo estava bem-disposto, e com toda a razão, pois o jato particular em que viajaram tinha uma excelente seleção de uísques single malt.
Kat substituiria Gray no hospital, provavelmente melhor, impedindo que Monk aborrecesse demasiado as enfermeiras.
O táxi parou diante dos arquivos e Seichan espreguiçou-se, ao lado dele, no banco de trás.
— Já chegámos — constatou, meio ensonada.
Ao pagar a corrida, Gray surpreendeu o motorista a contemplá-la no retrovisor. Não o podia censurar. Seichan trocara o fato-macaco pelo seu habitual blusão de cabedal, calças de ganga pretas e uma t-shirt cinzenta.
Saíram do táxi e ambos subiram os degraus a coxear. Os ferimentos, nódoas negras e arranhões entorpeciam-nos. Seichan encostou-se ao ombro de Gray sem lhe pedir e a mão dele rodeou-lhe a cintura sem ela necessitar realmente de apoio.
— Chegaram! — disse à maneira de saudação.
Heisman esperava-os à porta.
— Entrem. Está tudo na sala de conferências. Por acaso não trouxeram a pele de búfalo? Adoraria vê-la com os meus olhos.
— Tenho a certeza de que poderemos resolver isso — disse Gray.
Entraram na sala onde já tinham estado, mas, agora, estava de novo arrumada. Apenas se viam alguns livros em cima da mesa. Aparentemente, bastava duas horas e o mesmo número de livros para decifrar uma mensagem que datava de há séculos.
Ao instalarem-se, Gray perguntou.
— Como é que conseguiu tão depressa?
— O quê? As últimas palavras de Meriwether? Não foi di ícil. O código que ele usava com Jefferson é bastante conhecido. Tenho a certeza de que, ocasionalmente, utilizavam uns mais so isticados, mas na maior parte da correspondência usavam um código simples. E, como Meriwether escreveu isto quando estava a morrer, penso que escolheu o que lhe era mais familiar.
Gray imaginou o esforço do homem com duas balas alojadas no corpo — uma na barriga e outra na cabeça — para escrever a última mensagem.
Heisman empurrou a cadeira com rodas ao longo da mesa para deitar a mão a um livro.
— Posso mostrar-lhes. Trata-se de um sistema baseado no código de Vigenère. Era utilizado na Europa nessa época e considerado indecifrável.
A chave é uma palavra secreta conhecida apenas pelas pessoas implicadas.
Jefferson e Lewis usavam sempre a palavra «alcachofras».
— Alcachofras?
— Exatamente. O código em si envolve uma tabela alfanumérica com vinte e oito colunas...
O telemóvel de Gray tocou a anunciar a entrada de uma mensagem.
Salvo pelo gongo.
— Desculpem-me um momento.
Levantou-se e aproximou-se da porta, apontando para Seichan.
— Doutor Heisman, porque não explica tudo isso à minha colega? Volto já.
— Com todo o prazer.
Seichan fitou Gray e revirou os olhos, desesperada.
No corredor, o sorriso de Gray desapareceu ao ver o número de mensagens no mostrador do telemóvel. Nas últimas vinte e quatro horas, utilizara o aparelho descartável e só se lembrara de repor a bateria no seu telemóvel pessoal ao chegar a Washington. No entanto, depois de o ter carregado, levara pelos vistos mais de quarenta e cinco minutos para encaminhar as chamadas.
Olhou para o mostrador.
Talvez seja uma das razões por que demorou tanto tempo.
Recebera vinte e duas mensagens nas últimas doze horas, todas do mesmo número. Censurou-se por não ter tratado disso mais cedo.
Lembrou-se de que recebera a primeira mensagem da mãe quando fugiam de Fort Knox. Não tivera tempo para o ouvir nessa altura e esquecera-se.
Começou pelo princípio, sentindo aquela tensão familiar na base das costas.
«Gray, é a tua mãe.» Começava todas as chamadas assim. Como se eu não reconhecesse a tua voz, mãe. «São dez e meia e queria avisar-te de que o teu pai está a passar uma noite má. Não tens de vir, mas achei que devias saber.»
Uh-oh.
Em vez de escutar todas as mensagens, premiu chamar. Mais valia saber o que se tinha passado de fonte segura. O telefone tocou e tocou e foi para o voice-mail. A tensão nas costas aumentou um pouco mais. Como queria saber o que acontecera, acabou por ouvir o resto das mensagens.
«Gray, é novamente a tua mãe. Está a icar pior e vou telefonar para aquele número da assistente do centro médico-social que deixaste.»
Muito bem, mãe...
As mensagens seguintes eram cada vez mais aflitas. A assistente achara que o pai estava suficientemente mal para ser conduzido ao hospital.
«Gray, querem internar o teu pai durante dois dias. Fazer-lhe outra ressonância magnética... é isso, Luis?» Ouviu, vindo do fundo, um ténue: «É, sim, Harriet.» E de novo a voz da mãe. «De qualquer modo, está tudo bem.
Não quero inquietar-te.»
Mas havia mais cinco chamadas. Continuou, apercebendo-se de que a mãe estava a ficar cada vez mais confusa com os testes, seguros e papelada burocrática.
«Porque não respondes às minhas chamadas? Estás fora da cidade?...
talvez estejas. Não consigo lembrar-me se me disseste. Talvez seja melhor ir regar as tuas plantas. Esqueces-te sempre.»
A última mensagem fora deixada há uma hora. Nessa altura, Gray ainda estava no avião.
«Gray, tenho hora marcada num cabeleireiro perto de tua casa.
Continuas ausente? Vou regar as tuas plantas. Creio que tenho as tuas chaves. Dissete que tinha hora marcada no cabeleireiro, não disse? É uma hora. Se estiveres em casa, talvez possamos almoçar juntos.»
OK, mãe.
Consultou o relógio. Deveria conseguir terminar o que tinha para fazer nos arquivos e ir encontrar-se com ela em casa por volta do meio-dia.
Respirou fundo e voltou à sala de conferências.
Seichan deve ter notado algo no seu rosto.
— Estás bem?
Ele abanou o telemóvel.
— Assuntos de família. Tratarei disso quando sair daqui.
Ela dirigiu-lhe um sorriso.
— Bem-vindo a casa.
— Pois.
Virou-se para o doutor Heisman.
— O que é que Meriwether tinha para dizer que fosse tão importante?
— É uma carta estranha, paranoica.
— Bem, acabara de levar dois tiros — disse Gray. — Isso põe qualquer indivíduo um pouco paranoico.
— É verdade. Mas quero que saiba o que ele escreveu no im. Penso que tem que ver com questões especí icas acerca do grande inimigo que perseguia os Pais Fundadores.
— O que é que diz deles? — perguntou Gray com curiosidade.
Heisman leu o texto que estava repleto de anotações. « Aqueles que estão ao serviço do Inimigo encontraram-me na estrada. Deixo esta mensagem, coberta com o meu próprio sangue, como um aviso aos que vêm depois. Com grande esforço, eliminámos a maior parte do temível Inimigo das nossas costas através de purgas no nosso grande exército e em casas nobres. »
Gray interrompeu-o.
— Não nos tinha já dito que Meriwether era espião de Jefferson para descobrir quem era desleal nas forças armadas?
— Já. Mas parece que não foram completamente bem-sucedidos e que não conseguiram apanhar todos.
Heisman prosseguiu a leitura.
« No entanto, continua a existir uma família fortemente enraizada no Sul que, como uma erva daninha, nos resiste. Para a arrancar, corremos o risco de destruir a nossa jovem nação. É uma família antiga relacionada com esclavagistas e imensamente rica. Nem mesmo neste momento ouso escrever o nome dessa família e, por esse meio, alertá-la. Mas será deixado um documento, se souberem onde procurar, para os que virão depois de nós.
Jefferson deixará o nome deles em tinta e eis como procurar: Ao virar o boi, encontrem os cinco que não pertencem. Deixem os seus nomes próprios ser ordenados e revelados pelas letras G, C, R, J e T, e os seus números 1, 2, 4, 4, 1. »
— O que significa essa última parte? — perguntou Seichan.
— Não faço a mínima ideia — respondeu o curador. — Não é invulgar ocultar um código no interior de outro código, em especial no que diz respeito a algo que tão claramente os assusta.
O telemóvel de Gray tocou dentro do bolso. Preocupado por causa da mãe, veri icou o número e icou aliviado ao ver que era Kat. Devia querer dar-lhe informações sobre o estado de Monk.
— Kat, é o Gray.
Ao dizer estas palavras, percebeu que se parecia com a mãe: Gray, é a tua mãe.
O tom de voz de Kat era inquieto, mas, ao mesmo tempo, aliviado.
— Pelos vistos estás bem.
— Ainda estou nos arquivos. O que se passa?
A voz de Kat tornou-se mais calma, mas notava-se que ela ainda estava abalada.
— Vim a casa mudar de roupa antes de ir ao hospital. Felizmente, fui bem treinada e reparei que a porta fora forçada. Descobri uma bomba armadilhada, do mesmo género da que destruiu o jato, obra de Mitchell Waldorf.
Gray lembrou-se do ilho da mãe a estourar os miolos e das suas últimas palavras: Isto ainda não acabou.
A respiração no seu peito gelou.
Kat continuou: — A equipa para desativar bombas está aqui e vou enviá-la para a tua...
— Kat! — interrompeu-a. — A minha mãe vai a caminho de minha casa e tem a chave.
— Vai já para lá! — gritou-lhe Kat. — Vou sair imediatamente com a equipa e alertar as autoridades locais pelo caminho.
Ele desligou e precipitou-se para a porta. Seichan, que devia ter ouvido o im da conversa para saber o que se passava, pulou da cadeira e seguiu-o. Saíram a correr para a rua à procura de um táxi. Àquela hora, o trânsito mal andava. Ela dirigiu-se a um motociclista parado e apontou-lhe a pistola.
— Pira-te.
O jovem saltou da moto e recuou.
Seichan agarrou-a com uma mão e virou-se para Gray.
— Estás pronto a conduzir?
Que ele soubesse, estava alerta e concentrado.
Saltou para o banco.
Ela sentou-se atrás dele e agarrou-se à sua cintura, dizendo-lhe ao ouvido:
— Faz as transgressões que precisares.
Ele arrancou e fez exatamente isso.
Durante a corrida pela cidade nem viam por onde iam, com o vento a bater-lhes no rosto, descrevendo curvas, desviando-se dos peões. Ao virar na Sixteenth Street, viu uma espiral de fumo no ar. Piney Branch Road ficava nessa direção. Acelerou e seguiu a toda a velocidade.
Os veículos de emergência já lá se encontravam com as luzes a cintilar e as sirenes a soar.
Travou bruscamente, derrapando, e saltou da moto. Uma ambulância estava estacionada na curva.
Correu na sua direção.
Monk surgiu de repente ainda vestido com a bata do hospital.
Devia ter roubado a ambulância e usado as sirenes para chegar primeiro. Gray viu a resposta à pergunta que não fez estampada no rosto do amigo. Monk abriu os braços para o deter, mas não disse palavra, abanando apenas ligeiramente a cabeça.
Gray caiu de joelhos no meio da rua.
— Não...
44
8 DE JUNHO, 07H22
WASHINGTON, DC
— Onde estão as minhas meninas? — chamou Monk no apartamento.
— As tuas meninas ainda estão a dormir — respondeu Kat do divã. — E se as acordares vais passar toda a noite acordado como me aconteceu.
Há três dias que ela repousava, com as costas ainda a doer do parto.
Dera à luz duas semanas mais cedo do que o previsto, mas correra tudo bem com a sua segunda ilha. Agora, Monk estava rodeado de mulheres no apartamento, o que, na sua opinião, era OK. Tinha testosterona su iciente para toda a família e havia certamente testosterona suficiente no trabalho.
Estendeu-se no divã ao lado de Kat e colocou o saco das compras entre eles.
— Bagels e creme de queijo do Feldman.
Ela pôs uma mão em cima da barriga.
— Estou tão gorda.
— Acabaste de ter uma menina com quatro quilos. Não admira que ela quisesse sair mais cedo. Não tinha espaço.
Kat emitiu um som neutro vindo do fundo da garganta.
Ele afastou o saco, aproximou-se dela e passou o braço à volta da mulher que se encostou a ele, pousando-lhe a cabeça no ombro.
— Estás muito bonita — disse, beijando-lhe o cabelo. — Mas cheiras um bocado mal — acrescentou.
Ela deu-lhe um murro no ombro.
— E que tal se eu aquecer a água do chuveiro... para os dois?
Ela murmurou no seu peito.
— Seria simpático.
Monk começou a levantar-se, mas ela puxou-o.
— Fica aqui. Estou a gostar disto.
— Bem, hás de ter muito mais disto comigo em casa.
Kat olhou para ele.
— O que disse Painter?
— Compreendeu e aceitou a minha carta de demissão, mas quer pensar no assunto enquanto estou de licença.
Ela encostou-se a ele, fazendo novamente aquele som neutro.
Tiveram uma longa conversa acerca da sua demissão. Tinha mulher e duas ilhas que necessitavam dele. Depois de ter levado um tiro, lhe terem metido uma bomba em casa e testemunhado o ataque à família de Gray, Monk achou que era a altura de se despedir. E já recebera propostas de várias companhias biotécnicas em Washington.
O casal permaneceu aninhado nos braços um do outro, desfrutando simplesmente o seu bem-estar. Ele recusava correr mais riscos.
Por im, Kat virou-se e, com um pouco de esforço, pôs os pés no seu colo.
— Como já não trabalhas...
Ele começou a massajar-lhe os pés com uma só mão. A sua nova prótese só estaria pronta dentro de quatro dias, mas, aparentemente, uma mão bastava.
Ela estendeu-se para trás, espreguiçando-se, e fez um som que era definitivamente neutro.
— E eu também podia habituar-me a isto.
Mas tal estado de graça não podia durar.
O pequeno lamento veio do quarto ao lado, começando baixinho e subindo numa fração de segundo para um guincho estridente. Como é que tanto som podia sair de uma coisa tão pequenina?
— Ela tem de initivamente os teus pulmões — disse Kat, levantando-se com a ajuda do cotovelo. — Parece que está com fome.
— Eu vou buscá-la — disse Monk, pondo-se de pé.
Tanto pior para aquele chuveiro quente.
Entrou no quarto e deparou com a nova alegria da sua vida com o rosto vermelho e os olhos fechados com toda a força. Tirou-a do berço e encostou-a ao ombro.
Ela acalmou-se — ligeiramente — enquanto ele a embalava.
Nascera no dia do funeral da mãe de Gray. Kat dera à luz durante o velório. Ele sabia como aquele dia fora duro para Gray e como ele se sentia culpado pela morte da mãe. Monk não tinha palavras para consolar o pesar do amigo, mas Gray era um homem forte.
Monk vislumbrara essa força e a recuperação que ela prometia quando, mais tarde, Gray viera visitar Kat ao hospital para ver a bebé.
Nunca lhe contara o que ele e Kat tinham decidido, mas, ao revelá-la, os lábios de Gray esboçaram um sorriso triste, mas autêntico.
Monk levantou a menina para fixar o seu rosto.
— Estás com fome, Harriet?
08h04
Gray sentou-se na cadeira do hospital ao lado da cama com o rosto entre as mãos.
O pai, deitado por baixo de um lençol e um cobertor, ressonava docemente. Parecia a sombra frágil do seu eu outrora robusto. Gray arranjara um quarto particular para permitir ao pai alguma privacidade na sua dor. A mãe levara o pai para o hospital há uma semana.
E ele ainda lá estava.
A ressonância magnética revelou que ele sofrera uma pequena apoplexia, mas que estava a recuperar bem. Foi mais uma descoberta fortuita do que outra coisa. O verdadeiro motivo para a sua demência ter repentinamente piorado — as alucinações, os ataques de pânico à noite, a síndrome do pôr do Sol — tinha sobretudo que ver com um desequilíbrio na dosagem da medicação. O pai acidentalmente tomara medicamentos em excesso e icara intoxicado e desidratado, o que resultou na apoplexia. Os médicos corrigiam atualmente a medicação e acreditavam que, dentro de uma semana, estaria su icientemente bem para ser levado para uma residência assistida.
Seria essa a próxima batalha.
Depois do enterro da mãe, Gray teve de decidir o que fazer da casa dos pais. O irmão, Kenny, viera da Califórnia para o funeral e, hoje, ia falar com um advogado e uns agentes imobiliários. Ainda reinava um certo desacordo entre os irmãos sobre uma série de coisas e uma data de culpas, ressentimentos e censuras. Kenny desconhecia os pormenores da morte da mãe, sabia apenas que fora um dano colateral num ato de vingança contra Gray.
Uma voz falou docemente atrás dele: — Vamos servir o pequeno-almoço em breve. É servido?
Gray virou-se.
— Não, obrigado, Mary.
Mary Benning era enfermeira naquele andar. Era uma mulher encantadora com cabelo castanho grisalho cortado curto e bata azul. A mãe dela sofria de demência corpuscular de Lewy e, por isso, ela compreendia o que Gray e o pai estavam a passar. Gray apreciava essa experiência pessoal pois permitia que as suas conversas fossem mais sucintas.
— Como é que ele passou a noite? — perguntou Gray.
Mary aproximou-se.
— Bem. A dose mais fraca de Sinemet parece fazer efeito e acalmá-lo mais durante a noite.
— Trouxe hoje o Cutie ou o Shiner?
Ela sorriu.
— Os dois.
Eram os assistentes de reabilitação de Mary, dois dachshunds. Os doentes de Alzheimer interagiam muito bem com animais. Gray nunca tinha pensado que resultaria com o pai, mas quando no último domingo viera ao hospital encontrara Shiner a dormir na cama com o pai enquanto via um jogo de futebol no televisor.
Todavia, até mesmo esse dia fora duro.
Todos eram.
Virou-se para o pai quando Mary saiu do quarto.
Gray procurava visitá-lo todas as manhãs, estar ao seu lado quando acordasse. Era sempre a pior altura. Já por duas vezes se apercebera de que o pai não se lembrava da morte da mulher, mas os neurologistas achavam que levaria tempo para as coisas assentarem completamente.
E, assim, Gray tinha de explicar a trágica perda vezes sem conta. O pai sempre se zangara com facilidade e a doença tornava as coisas piores.
Gray tivera de enfrentar três vezes aquela ira, as lágrimas e as acusações.
Sem protestar e até sem o querer.
Um arrastar de pés fê-lo olhar novamente para a porta.
Mary enfiou a cabeça no quarto.
— Pode entrar outra visita?
Seichan apareceu no umbral da porta, inquieta e pronta a ir-se embora.
Vestia calças de ganga e uma blusa ina, e trazia o blusão da moto num braço.
Gray fez-lhe sinal para entrar e pediu a Mary para fechar a porta.
Seichan aproximou-se, arrastando outra cadeira, e sentou-se ao lado dele.
— Sabia que te encontraria aqui. Quero rever o que descobri antes de ir a Nova Iorque para veri icar uma pista. Pensei que talvez também quisesses vir.
— O que descobriste?
— O Heisman e a assistente dele...
— A Sharyn.
— Estão ambos limpos. Não estão envolvidos no atentado à bomba.
Waldorf parece ter organizado tudo sozinho através de contactos pessoais.
Duvido que tenha sido autorizado pelos seus superiores da Confraria. Acho que agiu sozinho e que tentou matar-te a ti e ao Monk por vingança.
Porque as bombas foram armadas para explodir horas antes de se suicidar, penso que eram uma segurança para o caso de não os conseguir eliminar no Tennessee.
Gray lembrou-se das últimas palavras do filho da mãe.
Isto ainda não acabou.
A voz dele e de Seichan deviam ter acordado o pai de Gray. Levantou um braço, espreguiçou-se e abriu os olhos, pestanejando umas quantas vezes para focar a vista. A seguir, pigarreou. Levou um certo tempo a orientar-se, olhando à volta do quarto e itando demoradamente Seichan de alto a baixo.
— Seichan, não é? — perguntou com voz rouca.
— É, sim — disse ela, levantando-se, pronta a partir.
Gray icava sempre surpreendido pelas coisas de que o seu pai se lembrava e das que esquecia.
O olhar vago virou-se para Gray.
— Onde está a tua mãe?
Gray respirou fundo, observando a confusão e ansiedade estampadas no rosto do pai. A pequena bolha de esperança dentro do seu peito rebentou.
— Pai... A mãe...
Em vez de partir, Seichan inclinou-se entre Gray e o pai, apertando a mão do velho.
— Virá mais tarde. Precisou de descansar um pouco e de ir ao cabeleireiro.
O velhote acenou a cabeça e recostou-se na cama. A ansiedade desapareceu-lhe do rosto.
— Ótimo. Essa mulher trabalha de mais.
Seichan deu-lhe umas palmadinhas na mão e virou-se para Gray, acenando com a cabeça na direção da porta. A seguir, endireitou-se, despediu-se e arrastou Gray para fora do quarto.
— Onde está o pequeno-almoço? — perguntou-lhes o pai, da cama.
— Já vem aí — disse Gray, deixando a porta fechar-se atrás deles.
Seichan levou-o para uma sala sossegada que ficava ao lado.
— O que estás fazer? — perguntou Gray, zangado, fazendo um gesto pouco convicto para o quarto do pai.
— A poupá-los, a ti e a ele — disse ela, empurrando-o contra a parede.
— Estás a castigar-te e a torturá-lo. E ele merece melhor do que isso. E tu também, Gray. Tenho lido artigos sobre situações com esta. Ele há de entender o que se passa. Não o obrigues a lembrar-se.
Gray abriu a boca para discutir.
— Não estás a perceber, Gray. Ele sabe. A lembrança está enterrada nele, num sítio onde, neste instante, não o magoa tanto.
Gray reviu a expressão ansiosa no rosto do pai. Estava lá todas as manhãs. Até mesmo o alívio que ele manifestara há momentos não a tinha apagado completamente. Um io de medo permanecia enterrado no fundo dos seus olhos.
Inseguro, esfregou o rosto com a mão, sentindo os pelos duros da barba.
Seichan baixou-lhe o braço.
— Às vezes, as ilusões são uma coisa boa, são necessárias.
Gray engoliu em seco com di iculdade, tentando aceitar essas palavras.
Saía su icientemente ao pai para querer lutar, rejeitar o que não era sólido e não se podia agarrar com a mão. Nesse momento o seu telemóvel retiniu no bolso dando-lhe tempo para se recompor.
Pegou nele, com os dedos a tremer juntamente com tudo o que havia nele. Abriu com gestos desajeitados o telemóvel e viu que tinha uma mensagem. A identidade de quem telefonara estava bloqueada, mas o texto indicava claramente quem o enviara.
NÃO FOI ESSA A NOSSA INTENÇÃO
Estas palavras explodiram com uma bomba nas suas entranhas. O
tremor que sentia dentro dele aumentou. Escorregou pela parede abaixo e o mundo tornou-se mais estreito à sua volta. Todos os con litos ansiavam por respirar, mas, depois, desintegraram-se como uma estrela moribunda numa intensa brasa a arder. Todo o seu corpo ficou frio e oco.
Seichan seguiu-o na queda, agarrando-lhe as faces entre as mãos quentes, segurando-o e itando-o a poucos centímetros do seu rosto.
Também lera a mensagem.
As palavras dela deram voz ao que estava no interior dele.
— Ajudar-te-ei. Farei o que for preciso para os capturar.
Ele itou os seus olhos cor de esmeralda com re lexos dourados. As mãos dela queimavam-lhe as faces. O calor de ambos alastrou através do seu corpo frio e vazio. Ele puxou-a para si, reduzindo a distância entre eles até os seus lábios se tocarem.
Ele beijou-a com sofreguidão, necessitando dela.
Ao princípio, ela resistiu, com os lábios tensos, duros, inseguros.
Mas, a seguir, tornaram-se lentamente macios, entreabrindo-se.
Cada um deles precisava do outro.
Mas era verdadeiro — ou apenas uma ilusão necessária naquele momento?
Gray não se importava.
Era suficientemente verdadeiro por agora.
11h45
San Rafael Swell
Era bom estar de volta... desembaraçar-se dos fantasmas que a assombravam.
Kai Quocheets estava de pé no alpendre enquanto o sol martelava os des iladeiros e as terras áridas de San Rafael Swell. Torvelinhos de poeira dançavam nas ravinas. Ela sentiu o cheiro do zimbro e da areia quente ao contemplar a imensidão de elevações, rochedos e falésias estriadas em tons dourados e carmesins.
Embora só aqui estivesse há uma semana, já começava a sentir-se novamente em casa.
Ia passar o verão em pueblos para valorizar o seu currículo universitário. Estava a fazer um curso sobre os antigos povos Pueblo. Fazia parte do seu trabalho assinalar gravuras rupestres, ajudar a restaurar as ruínas e aprender os velhos costumes Hopi.
Como, por exemplo, torrar pinhões.
— Quem é que queimou a minha melhor fornada? — gritou uma voz do interior.
Kai estremeceu, sabendo que teria de encarar as consequências do seu crime como uma mulher. Coisa que, ultimamente, lhe acontecera muitas vezes. Há dois dias, fora o icialmente perdoada por qualquer delito no Utah. Parecia que o seu papel na salvação do mundo compensara o seu diferendo com o Ministério da Justiça. Além de ente como o tio Crowe e o professor Hank Kanosh terem sido suas testemunhas de defesa também ter ajudado.
Mas isto era um crime de que não podia escapar com tanta facilidade.
Kai atravessou o limiar da porta e entrou na sala escura. Iris Humetewa segurava um tabuleiro queimado.
— Tens de esperar que o carvão arda.
— Eu sei, mas o Kawtch estava a mordiscar os pontos e tive de repor o cone de plástico no seu lugar...
Suspirou, cansada de desculpas.
Kawtch erguera a cabeça ao ouvir o seu nome. Tinham-lhe amputado a pata da frente e usava uma proteção à volta do pescoço. O tiro deixara pouco osso e poucos nervos, mas ele estava a recuperar bem.
Todos estavam.
As queimaduras de Alvin Humetewa eram apenas manchas vermelhas na sua pele acobreada e curtida. O casal de índios Hopi sobrevivera ao seu encontro com Rafael Saint Germaine graças a pura determinação e ao seu conhecimento do terreno.
A tribo Hopi tinha um ditado: Nunca tentem caçar um índio à solta na sua terra. Era uma dura lição que os primeiros pioneiros tiveram de aprender — e que Rafael Saint Germaine nunca soubera.
Iris suspeitara que os homens do francês viriam atrás deles e, quando fugiu com o marido no veículo todo-o-terreno, dirigiu-se para a área mais próxima com areia e levantou uma nuvem de poeira. Ao ouvir os tiros, escondeu-se numa velha mina pois sabia que Rafael não icaria por ali muito tempo à sua procura por estar ansioso por encontrar Painter Crowe.
Havia muita coisa que Kai podia aprender com aquela velha mulher.
— Desculpa, tia Iris — disse. — Vou limpar o tabuleiro e, para a compensar, prometo que, das próximas duas vezes, serei eu a cozinhar.
Satisfeita, Iris acenou a cabeça e piscou-lhe o olho.
O ruído de motores levou-as a aproximarem-se da porta.
— Parece que os rapazes já voltaram do passeio — comentou Iris.
Ambas saíram para os receber. Duas iguras cobertas de poeira saltaram dos veículos que mais pareciam de pedra fossilizada do que de fibra de vidro.
Jordan tirou o capacete e limpou o rosto com um lenço aos quadrados.
Kai sentiu o coração vacilar quando o seu sorriso luminoso se alargou ao vê-la.
O companheiro de Jordan tinha o rosto vermelho e sorria.
— Podia muito bem habituar-me a isto — disse Ash.
Ashley Ryan e Jordan tornaram-se bons amigos após os acontecimentos de Yellowstone. O major manifestava um novo respeito pelos nativos americanos.
Jordan estendeu o braço e sacudiu a poeira da t-shirt do major. Dizia GOSTO DE INJUNS1 e tinha o desenho de um motor V8 com um cocar de penas na cabeça.
— Piroso e ofensivo — disse Jordan. — Ambas as coisas ao mesmo tempo. Um dia destes, ainda apanhamos uma sova.
— Isso faz desta t-shirt a minha favorita, miúdo.
Com o peito orgulhosamente inchado, Ash subiu para a varanda.
Jordan sorriu para Kai.
— Oh, a propósito, penso que bati o teu recorde no percurso de Deadman’s Gulch.
Iris deu uma ligeira cotovelada a Kai.
— Vais aceitar isso?
Nem pensar...
Kai tirou o capacete de Ash e, com os cabelos a esvoaçar, saltou da varanda.
— Vamos lá ver isso!
14h17
Salt Lake City
De um templo para outro...
O professor Henry Kanosh, membro do Bando Noroeste dos Shoshone, era o primeiro índio mórmon a chegar ao limiar do Kodesh Hakodashim deste templo, a câmara sagrada no coração do templo mórmon de Salt Lake City.
Preparara-se desde a madrugada: jejuando e rezando. Encontrava-se agora num vestíbulo de pedra polida diante de uma porta cuja existência poucos conheciam. De prata martelada, o portal, com quatro metros e meio de altura e dois e meio de largura, estava dividido ao meio.
Hank segurava nas mãos uma oferenda, a chave do santuário do templo.
As portas abriram-se e surgiu uma figura.
Hank ajoelhou-se, baixando a cabeça.
Passos ligeiros e calmos aproximaram-se.
Ao pararem diante dele, Hank levantou os braços e estendeu a oferenda. A placa de ouro deslizou dos seus dedos e desapareceu.
Recuperara a placa na estalagem Old Faithful. No momento em que toda a gente estava distraída por causa de um telefonema da NASA a anunciar que tinham encontrado um local semelhante ao descrito no vaso canopo, Hank encontrava-se junto do estojo do francês. Não se atreveu a tirar as duas placas porque Rafael teria reparado que fora roubado.
Refreou a sua cobiça e meteu uma no bolso de trás das calças.
Depois de ter visto o templo de Salomão reconstruído, soubera com toda a certeza que a placa de ouro pertencia à igreja.
Os passos afastaram-se calmamente e sem pressa.
Hank arriscou-se a lançar um olhar quando as portas começaram a fechar-se.
Luz brilhante jorrava do santuário. Vislumbrou um imponente altar de pedra branca. E, ao fundo, em prateleiras que se estendiam a perder de vista, o ouro cintilava.
Seriam as placas originais de John Smith?
Um arrepio percorreu-lhe os pelos do corpo. As portas fecharam-se e o mundo pareceu mais escuro e vulgar.
Hank ergueu-se e afastou-se.
Levando um pouco desse brilho dourado com ele.
17h45
Washington, DC
Painter atravessou sozinho National Mall, pois, além de necessitar de ar fresco, também queria meditar sobre uma preocupação crescente.
A nível global, tudo acalmara — pelo menos, geologicamente falando. As erupções tinham parado na Islândia, duplicando a massa terrestre da ilha Ellioaey e dando origem a um novo pequeno atol. E após uma série de tremores de terra a seguir à explosão hidrotérmica, Yellowstone também permanecia tranquilo. Por motivos de segurança, Ronald Chin ainda lá se encontrava com um equipa de vulcanólogos para supervisionar a atividade sísmica. No Japão, o doutor Riku Tanaka não registara qualquer manifestação de neutrinos.
No entanto, e apesar de terem evitado uma catástrofe, ainda se esperava, conforme Chin avisara, que o supervulcão entrasse em erupção, o que constituía um pensamento terrível.
Quanto a isso, contudo, não havia nada a fazer.
Yellowstone tinha um novo lago na cratera, mas, de momento, nada indicava que algo de pior estivesse a preparar-se mais fundo. Kowalski pediu que o lago tivesse o nome dele: Kowalski Krater Lake.
Mas, por uma razão qualquer, o pedido não foi aceite.
Painter tentou investigar o que restava do clã Saint Germaine em França, mas, vinte e quatro horas depois da morte de Rafael, catorze dos seus membros mais in luentes foram assassinados. Ninguém da família parecia estar a par da existência da Confraria. Tudo levava a crer que a Verdadeira Estirpe decidira apagar as suas ligações com essa família.
Veio a veri icar-se que até mesmo o local na Bélgica onde foram captados vestígios do outro pico neutrino era apenas uma mansão meio destruída por uma bomba, que fora alugada por uma corporação falsa. A Confraria estava claramente interessada em não deixar provas — impressões digitais, documentos ou ADN.
Essa pista acabou por ser igualmente abandonada.
O que deixou apenas um caminho a seguir.
Painter chegou ao seu destino na extremidade leste do Mall — o Capitólio dos EUA — e subiu os degraus.
Apesar de só faltarem quinze minutos para fechar, o edi ício fervilhava de animação e barulho: miúdos subiam e desciam as escadas a correr; turistas posavam para fotogra ias; gente protestava com cartazes na mão.
Depois de passar o dia fechado nos escritórios por baixo do castelo Smithsonian, Painter apreciava ver tanta confusão e exuberância.
Era a imagem da vida americana em toda a sua glória e não a aceitaria de outra maneira. Representava mais a democracia do que todas as leis parlamentares e jogos políticos que ocorriam sob aquela cúpula neoclássica.
Apesar da humidade sufocante do dia, gostou do passeio.
Tencionava jantar com Lisa, mas, agora, precisava de desanuviar.
Primeiro, tinha de ver o quadro sozinho antes de tomar qualquer decisão.
Além disso, não sabia por onde começar. Não falara com ninguém acerca da sua descoberta, nem sequer com o seu círculo mais íntimo na Sigma.
Não se tratava de uma questão de con iança, mas a verdade é que, de momento, eles estavam ocupados com outras coisas. Monk tinha a ilha recém-nascida, Harriet, e apresentara a sua demissão esta manhã. Painter convencera-o a pedir uma licença para pensar no assunto, mas não acreditava que ele mudasse de opinião depois de passar uns tempos a aturar crianças a chorar e a mudar fraldas. No fundo, Monk adorava a vida de família. E, há semanas, todos tinham visto as consequências de tentar levar uma vida dupla.
Depois, havia Gray. Afundara-se num poço de desespero e qual seria o resultado: um homem mais forte ou completamente acabado?
Só com o tempo se saberia.
Assim, Painter calou-se para os salvaguardar. Até mesmo vir aqui era perigoso, mas tinha de arriscar.
Ao chegar ao cimo das escadas, atravessou a Rotunda por baixo da cúpula. Ecoavam vozes no enorme espaço abobadado. Dirigiu-se à galeria no segundo andar, onde doze gigantescas telas rodeavam as paredes da cúpula. Encontrou facilmente o que procurava no lado sul. Era o quadro aqui instalado mais famoso: A Declaração de Independência, de John Turnbull.
De pé, em frente da tela, sentiu a aragem da história que soprava através deste espaço. Contemplou as pinceladas feitas pela mão do pintor há séculos. Mas outras mãos também tinham participado neste trabalho e foram igualmente in luentes. Imaginou Jefferson a guiar Turnbull na preparação desta obra de arte.
Painter estudou cada centímetro, relacionando-o com o passado.
A enorme tela descrevia a apresentação da Declaração de Independência ao Congresso. Através desta pintura única, Turnbull tentou retratar todos os que assinaram a declaração para celebrar um acontecimento fundamental. Mas não conseguiu incluir toda a gente. No entanto, curiosamente, pintou cinco pessoas que nunca assinaram a versão final.
Porque os incluíra?
Os historiadores sempre se interrogaram quanto a isso.
Ao longo da sua investigação, Painter lera que John Turnbull dera umas explicações desconcertantes, mas nenhuma satisfatória, e que fora realmente Thomas Jefferson, especialista em códigos, que supervisionara a finalização deste quadro.
Haveria outro motivo?
Pelo menos Meriwether acreditava que sim.
Ao examinar as pinceladas de óleo na tela, as palavras decifradas da pele de búfalo vieram ao espírito de Painter: Jefferson deixará os seus nomes em tinta e eis como procurar: Ao virar o boi, encontrem os cinco que não pertencem. Deixem os seus nomes próprios ser ordenados e revelados pelas letras G, C, R, J, T e os seus números 1, 2, 4, 4, 1.
Não era um código difícil de decifrar.
«Ao virar o boi» referia-se certamente a Turnbull a quem foram encomendados muitos quadros públicos.
«Encontrem os cinco que não pertencem» indicava os cinco que não tinham assinado a declaração, mas figuravam na tela:
O último dessa lista, Thomson, assinou efetivamente uma primeira versão, mas não foi convidado para a famosa versão com cinquenta e seis assinantes.
A passagem seguinte — «Deixem os seus nomes próprios ser ordenados e revelados pelas letras G, C, R, J, T» — signi icava simplesmente colocar os seus nomes próprios segundo a ordem das iniciais.
A seguir, bastava escolher a letra correspondente em cada nome aos números 1, 2, 4, 4, 1
O nome do inimigo de Meriwether Lewis, a misteriosa e traiçoeira família que desconcertara os Pais Fundadores, era Ghent.
Ao princípio, parecia não fazer sentido — mas, depois de conversar com Rafael Saint Germaine, Painter refletiu mais sobre o assunto. O francês mencionara que a Confraria consistia, em boa verdade, num grupo de famílias antigas que há séculos — possivelmente milhares de anos — acumulara riqueza, poder e conhecimento. Nos tempos modernos, só uma dessas famílias subsistia. A história contada por Rafael assemelhava-se ao relato de Lewis acerca das purgas ocorridas na América — uma dessas famílias imensamente rica e relacionada com esclavagistas estava tão profundamente enraizada na sociedade que foi impossível removê-la.
Diziam essas duas histórias respeito à mesma família?
Ghent.
Painter não teria dado grande importância a isto se não fosse uma coincidência. Ghent era o nome de uma cidade belga e, nos últimos tempos, esse país aparecia com uma certa frequência: os comandos que atacaram Gray na Islândia e as explosões de neutrinos semelhantes às de Fort Knox vinham de lá.
Por isso, Painter continuara a investigar. Ghent era um nome de família comum das pessoas dessa cidade — como, por exemplo, Jean de Ghent ou Paul de Ghent — que, nos tempos mais modernos, eram simplesmente Jean Ghent ou Paul Ghent.
Afastou-se do quadro para ter uma perspetiva mais ampla e examinou as iguras de Jefferson e Franklin, imaginando-os perante esta mesma pintura a enfrentar o mesmo desa io e ameaça. Sentiu-se tão impotente como os Pais Fundadores se tinham certamente sentido.
No decorrer da sua investigação sobre a família suspeita, descobrira que as suas raízes provinham de Ghent e que tinham adotado esse nome antes mesmo de chegar à América. Ao princípio da sua estada nas colónias, envolveram-se a tal ponto no trá ico de escravos que qualquer tentativa para os expulsar à força teria destroçado a nova nação.
Eram a erva daninha que não podia ser arrancada.
E continuavam a sê-lo ainda hoje.
Desenvolveram-se a par da América, criando raízes, fundando múltiplas indústrias e corporações e instalando-se em postos governamentais. Teceram um fio através do tecido deste país.
Não admirava, portanto, que a Sigma nada conseguisse contra eles.
Rafael dissera que este antigo grupo de famílias — o segredo nas sociedades secretas — era conhecido por vários nomes, sussurros que eram apenas sombras: a Confraria, Escalão, familles de l’étoile, famílias da estrela.
Mas Painter conhecia o verdadeiro nome do inimigo anglicizado — então e agora.
Eram os Kennedy do Sul.
Mas já não se chamavam Ghent.
Agora, chamavam-se Gant.
Como o presidente James T. Gant.
James Rollins
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















