



Biblio VT




A manhã da última segunda-feira de Março começou promissora na histórica cidade de Richmond, Virgínia, onde os nomes das famílias proeminentes não tinham mudado desde a guerra que ninguém esquecera. O tráfico era escasso nas ruas do centro e na Internet. Os traficantes de droga estavam a dormir, as prostitutas cansadas, os condutores embriagados já sóbrios, os pedófilos regressavam ao trabalho, os alarmes anti-roubo quedavam-se silenciosos e as brigas domésticas tinham sido suspensas. Na morgue não se passava nada de especial.
Richmond, construída sobre sete ou oito colinas, dependendo de quem as conta, é uma metrópole de um orgulho indomável, cujas raízes datam de 1607, quando um pequeno bando de exploradores ingleses em busca de fortuna se perdeu e reclamou a região, colocando aí uma cruz em nome do rei Jaime A inevitável colónia nas quedas do Rio James, naturalmente chamada “The Falis”, sofreu as esperadas atribulações nos entrepostos comerciais e nos fortes, experimentou sentimentos antibritânicos, passou por uma revolução, privações e açoitamentos, foi vítima de escalpelamentos, não cumpriu tratados e viu morrer os seus jovens.
Os índios da região descobriram o uísque e as ressacas e trocaram ervas medicinais, minerais e peles por machados, munições, tecidos, chaleiras e mais uísque. Chegaram barcos de África com escravos. Thomas Jefferson construiu Monticello, o Capitólio e a penitenciária estadual. Fundou a Universidade de Virgínia, escreveu a Declaração de Independência e foi acusado de conceber crianças mulatas. Construíram-se caminhos-de-ferro. A indústria do tabaco floresceu e ninguém lhe levantou processos.
De um modo geral, a vida nesta distinta cidade correu razoavelmente bem até 1861, quando a Virgínia decidiu separar-se da União e a União não concordou. Richmond não teve lá muita sorte na Guerra Civil. Depois, a antiga capital da Confederação’ continuou da melhor forma que pôde, sem escravos e com dinheiro desonesto. Permaneceu ferozmente leal à causa derrotada, continuando a ostentar o seu estandarte de batalha, a Cruz do Sul, enquanto marchava para o século seguinte e sobrevivia a outras guerras terríveis que não eram problema seu, porque se travavam noutros locais.
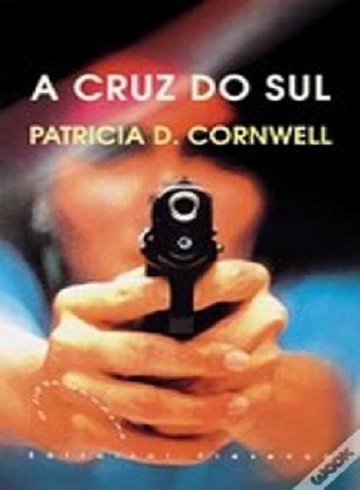
Nos finais do século XX, as coisas corriam bastante mal na capital. A taxa de homicídios atingira o segundo lugar a nível nacional e o turismo sofria com isso. As crianças levavam armas e facas para a escola e lutavam nos autocarros. Os residentes e os grandes armazéns tinham abandonado o centro, fugindo para os condados vizinhos. A base tributária encolhia. Os funcionários públicos e os autarcas não se davam bem. A mansão do governador, anterior à guerra, necessitava de substituir os canos e de uma nova instalação eléctrica.
Os delegados da Assembleia Geral continuavam a bater com a tampa dos computadores portáteis e a insultarem-se uns aos outros sempre que vinham à cidade e o presidente do Comité de Transportes levava uma arma escondida para as reuniões. No decorrer das suas migrações para norte e para sul, os ciganos, sempre desonestos, começaram a ficar por lá e Richmond transformou-se num lar de recurso para os traficantes de droga que viajavam pela 1-95.
Era a altura certa para chegar uma mulher que arrumasse a casa. Ou talvez ninguém estivesse com atenção quando a Câmara contratou a sua primeira chefe de polícia que, neste momento, passeava o seu cão. Os narcisos e os crocos estavam em flor e a primeira luz da manhã espalhava-se pelo horizonte; a temperatura, de vinte e um graus, era alta para a época. Os pássaros pipilavam nos ramos das árvores em flor e a chefe-adjunta Judy Hammer sentia-se animada e momentaneamente em sossego.
— Linda menina, Popeye — disse ela em tom encorajador para a Boston terrier.
Não era um nome lá muito amável para uma cadela cujos olhos eram enormes, afastados e salientes. Mas quando a Sociedade Protectora dos Animais mostrara a cachorra na TV e Hammer correra para o telefone para a adoptar, Popeye já tinha esse nome e não respondia por outro.
Hammer e Popeye caminhavam a bom ritmo pelo bairro restaurado de Church Hill, onde a cidade nascera, muito próximo do local onde os ingleses tinham colocado a cruz. A dona e a cadela passavam rapidamente por casas anteriores à guerra, com gradeamentos de ferro e alpendres, telhados de ardósia com mansardas falsas, torreões, lintéis de pedra, madeira entalhada, vitrais, varandas com volutas, empenas, pitorescas caves elevadas, pretensamente inglesas, e grossas chaminés.
Seguiram pela East Grace Street até ao final, junto de um ponto elevado que era o miradouro mais popular da cidade. Num dos lados do precipício ficava a estação de rádio WRVA e, do outro, a casa de Hammer, em estilo grego, que datava do século XIX. Fora construída por um industrial do tabaco por volta dos finais da Guerra Civil. Hammer adorava o tijolo antigo, as cornijas entalhadas e o telhado plano, a varanda de granito. Era louca por locais antigos e preferia sempre viver no coração da zona que servia.
Destrancou a porta da frente, desligou o alarme, tirou a trela a Popeye e obrigou-a a fazer os exercícios de sentar, dar a pata e deitar, em troca de carícias. Entrou na cozinha para fazer café, seguindo o mesmo ritual de todas as manhãs. Depois do passeio e dos exercícios de obediência de Popeye, Hammer costumava sentar-se na sala, passar os olhos pelo jornal e olhar pelas grandes janelas, para os altos edifícios de escritórios, o Capitólio, a Faculdade de Medicina da Virgínia e a imensidão do Parque de Investigação de Biotecnologia da Universidade da Virgínia. Dizia-se que Richmond se estava a transformar na “Cidade da Ciência”, um local de esclarecimento e saúde vigorosa.
Mas, enquanto observava os edifícios e as ruas do centro, a chefe da polícia estava bem consciente da existência de chaminés de tijolo em ruínas, carris e viadutos ferrugentos e fábricas e armazéns de tabaco abandonados, com as vidraças pintadas e entaipadas. Sabia que junto do centro, não muito longe do local onde vivia, havia cinco bairros sociais e mais dois no Southside. Dizendo uma verdade politicamente incorrecta, eram todos focos de caos social e violência, uma prova clara de que o Sul continuava a perder a Guerra Civil.
Hammer contemplava uma cidade que a convidara a resolver os seus problemas aparentemente insolúveis. A manhã clareava e receou irem enfrentar uma onda de frio como despedida do Inverno. Seria, como tudo o mais hoje em dia, o derradeiro acto mesquinho, a erradicação da pouca beleza que ainda restava na sua vida cheia de stress. Foi assaltada por inúmeras dúvidas.
Quando forjara o destino que a trouxera a Richmond, recusara-se a admitir a possibilidade de se ter tornado uma fugitiva da sua própria vida. Os seus dois filhos tinham crescido, distanciando-se dela muito antes de o pai, Seth, ter adoecido e morrido, na Primavera anterior. Judy Hammer continuara corajosamente, agarrando-se à missão da sua vida como se fosse o manto de um cruzado.
Demitira-se do Departamento da Polícia de Charlotte, onde lhe tinham resistido, sendo, mais tarde, homenageada pelos milagres que operara como chefe. Decidiu que a sua vocação era mudar-se para outras cidades sulistas, para as ocupar, arrasar e reconstruir. Fez uma proposta ao Instituto Nacional de Justiça que lhe permitiria escolher departamentos de polícia do Sul com problemas graves, passar um ano em cada um e conseguir formar entre eles uma união sob o mote “um por todos, todos por um”.
A filosofia de Hammer era simples. Não acreditava que os polícias tivessem direitos. Sabia por experiência que, quando os polícias, os oficiais, as esquadras e até os chefes do departamento não se entendiam e agiam cada qual à sua maneira, o resultado era catastrófico. A taxa de crime subia. A segurança descia. Ninguém se entendia. Os cidadãos, que a polícia devia proteger e servir, trancavam as portas, carregavam as armas, não se interessavam pelos vizinhos, faziam manguitos aos polícias e culpavam-nos de tudo. Para Hammer, o exemplo de inspiração e mudança era o Modelo de Controlo de Crime de Nova Iorque, conhecido por COMSTAT, ou estatística assistida por computador.
O acrónimo era uma forma fácil de definir um conceito bem mais complexo do que a noção de usar a tecnologia para definir padrões de crime e localizar os pontos quentes da cidade. O COMSTAT responsabilizava todos os polícias por tudo. Os soldados rasos e os seus chefes já não podiam passar a batata quente, desviar o olhar, ficar indiferentes, desconhecer a resposta, dizer que não podiam fazer nada, que iam mesmo tratar disso, que ninguém lhes dissera nada, que se tinham esquecido, que não se sentiam bem, que estavam ao telefone ou fora de serviço porque, às segundas e sextas, a chefe-adjunta Hammer reunia representantes de todas as esquadras e divisões e fazia-lhes a vida negra.
Era evidente que o seu plano de batalha era nortista, mas quis o destino que, quando ela apresentou a sua proposta à Câmara de Richmond, esta se debatesse com lutas internas, revoltas e usurpações.
Nessa altura, não pareceu lá muito mau deixar outra pessoa resolver os problemas da cidade. E foi assim que Hammer foi contratada como chefe interina por um ano e autorizada a trazer dois jovens talentos com quem trabalhara em Charlotte.
Começou a sua ocupação de Richmond e a resistência não demorou muito a instalar-se. Seguiu-se-lhe o ódio. Os patriarcas da cidade queriam que Hammer e a sua equipa do INJ1 se fossem embora. A cidade não precisava de aprender nada com Nova Iorque e macacos os mordessem se os habitantes de Richmond iam seguir o exemplo dado pelos vira-casacas e oportunistas de Charlotte, que tinham o hábito de roubar a Richmond os bancos e as empresas listadas na Fortune.
A chefe-adjunta Virgínia West queixava-se amargamente por meio de expressões de dor e caretas exasperadas, enquanto corria à volta da pista da Universidade de Richmond. Os telhados de ardósia dos belos edifícios góticos da universidade começavam agora a materializar-se, com o sol a pensar erguer-se. Os estudantes ainda não se tinham aventurado a sair, à excepção de duas jovens que faziam sprints.
— Não consigo correr muito mais — disse West abruptamente para o agente Andy Brazil.
Brazil olhou para o relógio.
— Mais sete minutos — disse ele. — Depois podes andar.
Era a única altura em que ela aceitava receber ordens dele. Virgínia West fora chefe-adjunta em Charlotte, quando Brazil ainda andava na academia de polícia e escrevia artigos para o Charlotte Qbserver. Depois, Hammer trouxera-os com ela para Richmond, para West poder chefiar as investigações e Brazil fazer as pesquisas, tratar da informação ao público e conceber uma página na Internet.
Embora na realidade se pudesse afirmar que West e Brazil estavam em igualdade na equipa de Hammer, no seu espírito West estava acima de Brazil e sempre o estaria. Tinha mais poder. Ele nunca teria a sua experiência. Ela era melhor na carreira de tiro e em luta. Matara uma vez um suspeito, embora não se orgulhasse disso. O seu caso amoroso com Brazil, nos tempos de Charlotte, ficara a dever-se à normal intensidade do mentorado. Portanto, ele tivera um fraquinho por ela e ela aceitara a coisa, antes de lhe passar. E depois?
INJ — Instituto Nacional de Justiça. (NT)
Vês mais alguém por aí a matar-se? Excepto aquelas duas raparigas, que, ou pertencem à equipa de atletismo, ou têm um problema com a comida. — West continuou a queixar-se, ofegante. — Não! E sabes porquê? Porque isto é uma merda de uma estupidez! Neste momento, devia estar a beber café e a ler o jornal.
— Se parasses de falar, conseguias entrar no ritmo — disse Brazil, que corria sem esforço com as suas calças de treino azuis da polícia de Charlotte e uns sapatos Saucony azuis que gemiam quando tocavam a pista de tartan vermelho.
— Devias deixar de usar essas merdas de Charlotte — continuou ela. — Já é suficientemente mau. Para quê fazer com que os chuis daqui ainda nos odeiem mais?
— Não acho que nos odeiem. — Brazil tentou ser positivo em relação à falta de amabilidade e de reconhecimento dos polícias de Richmond.
— Odeiam, sim.
— Ninguém gosta de mudanças — lembrou-lhe Brazil.
— Tu pareces gostar — disse ela.
Era uma referência velada ao rumor que West ouvira, mal passara ainda uma semana de se terem mudado, segundo o qual Brazil tinha um caso qualquer com a senhoria, uma mulher rica e solteira que vivia em Church Hill. West não pedira mais informações. Não fora verificar nada. Não queria saber. Recusava-se a passar em frente da casa de Brazil e, muito mais, a visitá-lo.
— Acho que gosto de mudanças, quando são boas — dizia Brazil.
— Exactamente.
— Preferias ter ficado em Charlotte?
— Certamente.
Brazil aumentou um bocadinho o ritmo, o suficiente para lhe mostrar as costas. Ela nunca lhe perdoaria por lhe ter dito como desejava que viesse com ele para Richmond, por a ter convencido com aquele seu dom, que o fazia usar as palavras com clareza e convicção. Trouxera-a com ele numa onda de sentimentos que claramente já não existiam. Dera forma ao seu amor em poesias e, depois, acabara por as ler a outra.
— Aqui não há nada para mim — disse West, que utilizava as palavras da mesma forma que montava portas e portadas e construía vedações. — Quero dizer, vamos lá ser honestos. — Estava prestes a
pintar um objecto sem o lixar primeiro. — É uma trampa. — Continuou a demolir. — Graças a Deus que é só por um ano. — Acentuou bem o seu argumento.
Ele respondeu-lhe aumentando o ritmo.
— É como se fôssemos uma equipa do MASH dos departamentos de polícia — acrescentou ela. — Quem é que andamos a enganar? Que perda de tempo! Não me lembro de jamais ter desperdiçado tanto tempo.
Brazil olhou para o relógio. Parecia não estar a escutá-la e ela desejava poder ultrapassar aqueles ombros espadaúdos e o belo perfil. O sol matutino enchia de ouro o cabelo dele. As duas universitárias passaram por eles, suadas e magras, com as pernas musculosas em esforço, enquanto se exibiam para Brazil. West sentiu-se deprimida. Sentiu-se velha. Parou e curvou-se, com as mãos nos joelhos.
— Chega! — exclamou ela, respirando pesadamente.
— Mais quarenta e seis segundos. — Brazil parara e fazia movimentos de corrida, como se estivesse a pisar água, olhando para trás, para ela.
— Continua.
— Tens a certeza?
— Voa como o vento. — Indelicadamente, fez-lhe sinal que avançasse. — Porra — soltou ela, quando o seu telemóvel vibrou no cinto dos calções de treino.
Saiu da pista, passando para a bancada, fora do caminho dos que, com os seus músculos perfeitos, a faziam sentir-se insegura.
— Virgínia? É a ... — A voz de Hammer tentava atravessar a estática.
— Chefe-adjunta Hammer? — perguntou West em voz alta. — Está?
— Virgínia... estás a ouvir? — a voz de Hammer tornou-se mais difusa.
West tapou o outro ouvido com a palma da mão, tentando ouvir.
— ... Isso é uma merda... — interrompeu subitamente uma voz masculina.
West começou a andar, tentando encontrar uma frequência melhor.
— Virgínia ...? — A voz de Hammer mal se ouvia.
— ... posso fazê-lo em qualquer altura... valem as regras do costume... — A voz masculina regressara.
Tinha um sotaque sulista e era obviamente um bronco racista. West sentiu uma hostilidade imediata.
— ... Altura de... matar... Temos de... ou marcar... — O racista falava em arranques distorcidos.
— ... Uma rafeira sem valor... a pedir que a matem... — Um segundo racista respondeu subitamente ao primeiro. — Quanto...?
— Depende de... Talvez duzentos...
— ... Só entre nós...
— ... Se... alguém... descobrir...
— ... não foi convidado...
— O quê? — A voz de Hammer apareceu e desapareceu.
— ... Usa um... um fuga fria... O teu não... merda...! Azul...
— Chefe-adjunta Hammer... — West ia dizer mais qualquer coisa, mas calou-se a tempo, percebendo que os racistas talvez a pudessem ouvir também.
— ... pretos... — O primeiro racista voltou. — ... não nasceu lá muito esperta... no Pântano...
— Percebi, Bubba... Cobrimos... um cobertor...
— Está bem, Smudge... amigo... de manhã cedo?
West ficou num silêncio chocado, enquanto ouvia dois homens a planear um homicídio cujos motivos eram claramente racistas, um crime de ódio, um ajuste de contas que envolvia roubo. Parecia que o crime ia ser cometido de manhã cedo. Pensou se um fuga fria seria calão para um revólver de cano curto e se azul se referiria a uma arma em aço azul, em vez de uma de aço inoxidável ou niquelada. Era evidente que os tarados planeavam embrulhar o corpo num cobertor e largá-lo no Pântano.
Estática.
— ... Loraine... — Ouviu-se novamente a voz em soluços de Bubba. — ... Na bomba velha... desliga o motor... desliga as luzes para não acordar...
Estática e a linha ficou nítida.
— Chefe-adjunta Hammer? — disse West. — Chefe-adjunta Hammer? Ainda aí está?
— Bubba... — o segundo estranho falou outra vez, por entre estalidos. — Está alguém na linha...
Estática, estalidos, ruídos, sinal de interrompido.
— Bolas — murmurou West quando o seu telemóvel ficou mudo.
O verdadeiro nome de Bubba era Butner Fluck IV. Ao contrário de tantos valentões que adoravam pick-ups, armas, bares de topless e a
Cruz do Sul, não nascera no clã dos Bubbas; era filho de um teólogo e crescera no bairro de Ginter Park, em Northside, onde as velhas mansões estavam em ruínas e era moda ter canhões da Guerra Civil nas varandas. Butner descendia de uma longa linhagem de Butners que tinham tido sempre a alcunha de “But” e o seu erudito pai, Dr. But Fluck III, não percebera que, hoje em dia, chamar But ao seu filho seria criar problemas à criança2.
Quando o pequeno But entrara para a primeira classe, as injúrias, as calúnias e as piadas começaram a andar de boca em boca. Eram murmuradas na aula, gritadas no autocarro e nos campos de jogos e desenhadas em folhas de bloco e passadas de carteira em carteira, ou deixadas no cacifo do pequeno But. Quando escrevia o nome, era But Fluck. Nos relatórios de avaliação dos professores era Fluck, But.
De todas as formas, estava verdadeiramente tramado e é evidente que os companheiros inventaram inúmeras outras versões. Mother-But-Flucker, Butter-Flucker, But-Flucking-Boy, Buttock-Fluck e por aí fora. Quando se aplicou nos estudos e chegou a primeiro da turma, acrescentaram novas alcunhas à lista. But-Head, Fluck-Head, Mother-Flucking-But-Head, Head-But-Head, etc.
No seu nono aniversário, pediu de presente camuflados e uma série de armas de brincar. Passou a comer de forma compulsiva. Passava muito tempo nas matas, a caçar presas imaginárias. Mergulhou numa pilha crescente de revistas de mercenários, anarquistas, camiões, armas de guerra, campos de batalha da Guerra Civil e mulheres em fato de banho. Coleccionava manuais de manutenção e reparação de automóveis, de ferramentas e transmissões eléctricas, de sobrevivência na natureza, de pesca e caminhadas em regiões de ursos. Roubava cigarros e era mal-educado. Quando fez dez anos, mudou o nome para Bubba e passou a ser temido por todos.
Naquela manhã de segunda-feira, Bubba regressava a casa do seu turno na Philip Morris, com o CB e dois transmissores-receptores ligados, o telemóvel ligado ao isqueiro e Eric Clapton a tocar no leitor de CDs. O seu Colt Anaconda 44, de aço inoxidável, com um cano de vinte centímetros e uma mira Busbnell Holo montada numa base especial, estava enfiado debaixo do assento, ao alcance da mão.
Inúmeras antenas oscilavam no seu jipe Cherokee vermelho de 1990, que Bubba desconhecia ter sido incluído no Guia de Carros Usados “Butt” significa “idiota” e também “rabo”, daí o trocadilho. (A/T) como veículo a evitar. Desconhecia também que era acidentado e tinha cento e cinquenta mil quilómetros a mais do que constava do conta-quilómetros. Bubba não tinha razões para duvidar do seu bom amigo, Joe “Smudge” Bruffy, que lhe vendera o jipe no ano anterior por apenas três mil dólares a mais do que o valor aconselhado.
Na verdade, fora com Smudge que Bubba estivera a falar no telemóvel há momentos, quando tinham sido interrompidos por duas vozes. Bubba não conseguira perceber o que as duas mulheres diziam, mas o nome “chefe-adjunta Hammer” fora muito claro. Sabia que tinha um significado qualquer.
Fora educado numa atmosfera presbiteriana de predestinação, vontade divina, linguagem bíblica, interpretações e estolas coloridas. Revoltara-se. Na universidade, estudara religiões do Extremo Oriente para contrariar o pai, mas nenhum dos seus comportamentos conseguiu apagar a essência da doutrinação que recebera. Bubba acreditava que existia um propósito na vida. Apesar de todos os contratempos e falhas pessoais, tinha fé que, se acumulasse suficiente karma positivo, ou talvez se o yin e o yang se viessem a entender, acabaria por descobrir a razão da sua existência.
Portanto, ao ouvir o nome da chefe-adjunta Hammer no telemóvel, a sensação de tristeza e de perseguição desaparecera, dando lugar a uma alegria estonteante. Cheio de energia, transformou-se no guerreiro a caminho da missão que sempre lhe estivera destinada, enquanto seguia pela via-rápida Midlothian, em direcção à Oficina de Desempanagem de Muskrat, desta vez por causa de outra infiltração no pára-brisas. Agarrou no microfone do seu transmissor-receptor Kenwood e mudou para o canal seguro.
— Unidade 1 a Unidade 2. — Tentou alcançar Honey, a sua mulher, enquanto seguia pela via de quatro faixas de Southside, saindo do condado de Chesterfield e dirigindo-se aos limites da cidade.
Não obteve resposta. Os olhos de Bubba esquadrinharam os espelhos. Um carro-patrulha da polícia de Richmond enfiou-se atrás dele. Bubba abrandou.
— Unidade 1 a Unidade 2 — tentou ele novamente.
Nada de resposta. Um merdoso de um miúdo qualquer num Ford Explorer branco estava a tentar meter-se à sua frente. Bubba acelerou.
— Unidade 1 a Unidade 2! — Detestava que a mulher não lhe respondesse imediatamente.
O chui continuou na sua retaguarda, os óculos de sol a fitarem o seu retrovisor. Bubba abrandou novamente. O punk do Explorer tentou enfiar-se à frente dele, com o pisca direito ligado. Bubba acelerou. Pensou qual a forma de comunicação que devia usar a seguir e pegou no telemóvel. Mudou de ideias. Pensou em tentar novamente a mulher pelo rádio e decidiu que não valia a pena. Ela devia ter-lhe respondido da primeira ou da segunda vez. Que fosse para o diabo. Pegou bruscamente no microfone do CB, olhando para o chui pelo retrovisor e mantendo o Explorer debaixo de olho.
— Ói, Smudge — chamou Bubba pelo CB. — Se estiveres ligado, responde.
— Unidade 2! — A voz ofegante da mulher fez-se ouvir no rádio. O telemóvel tocou.
— Desculpa... oh, bolas... — disse Honey docemente, arquejando. — Andava... oh, deixa-me respirar fundo... ufa... atrás de Half Shell... não queria vir... Aquela cadela!
Bubba ignorou-a e atendeu o telemóvel.
— Bubba? — disse Gig Dan, o seu supervisor na Philip Morris.
— À escuta, pá — respondeu Smudge pelo CB.
— Unidade 2 a Unidade 1 ? — Honey insistia ansiosamente no transmissor-receptor.
— Ói, Gig — disse Bubba para o telemóvel. — Que se passa?
— Preciso que venhas fazer a segunda parte do segundo turno — disse-lhe Gig. — Tiller deu parte de doente.
Merda, pensou Bubba. Logo naquele dia, quando tinha tanto para fazer e tão pouco tempo. Ficou completamente deprimido, só de pensar que tinha de entrar às oito da noite e trabalhar doze horas seguidas.
— Entendido — respondeu ele a Gig.
— Quando é que queres ir encandear o olho amarelo? — Smudge não desistira.
Para dizer a verdade, Bubba não gostava lá muito de ir à caça de guaxinins. O seu cão de caça tinha problemas e ele tinha medo de cobras. Para além disso, Smudge conseguia sempre uma pontuação mais alta. Parecia que Bubba passava a vida a perder dinheiro para ele.
— Antes das cobras acordarem, acho eu. — Bubba tentou falar num tom descontraído. — Portanto, avança com um plano.
— Entendido, amigo — respondeu Smudge. — Tenho tudo controlado.
Smoke fora uma criança com necessidades educativas especiais. Este facto tornara-se evidente na segunda classe, depois de ter roubado a carteira do professor, de ter esmurrado uma colega, de ter levado um revólver para a escola, de ter pegado fogo a vários gatos e amachucado a carrinha do director com um cano.
Desde esses primeiros anos de mau comportamento na sua terra natal, Durham, na Carolina do Norte, o nome de Smoke foi registado cinquenta e duas vezes por assalto, fraude, plágio, extorsão, assédio, jogo ilegal, vadiagem, desonestidade, roubo, traje provocante, literatura indecente e má conduta nos transportes públicos.
Foi preso seis vezes por vários crimes, desde agressão sexual a assassínio e esteve em liberdade condicional, supervisionada sob condições especiais, num Programa de Alternativa à Detenção; esteve igualmente detido, inserido num programa terapêutico num centro situado numa área deserta, uma clínica comunitária de aconselhamento, onde foi avaliado psicologicamente, e fez parte de um grupo para aprender a lidar com o ódio.
Ao contrário da maior parte dos pais de filhos menores que são delinquentes, os pais de Smoke estiveram presentes em todas as sessões no tribunal. Visitaram-no na prisão. Pagaram a advogados e despediram um após o outro quando Smoke se queixava deles e lhes encontrava defeitos. Inscreveram-no em quatro escolas particulares diferentes e culparam-nas a todas por não resolverem o problema.
Para o pai de Smoke, um banqueiro trabalhador, era evidente que o seu filho era invulgarmente inteligente e mal compreendido. A mãe de Smoke era-lhe devotada e tomava sempre o partido dele, nunca acreditando que o filho fosse culpado. Ambos os pais criam que o filho fora incriminado porque a polícia era corrupta, não gostava de Smoke e necessitava de resolver casos. Ambos escreveram cartas com críticas mordazes ao procurador, ao presidente da Câmara, ao procurador-geral, ao governador e ao senador quando Smoke foi finalmente recolhido na Escola de Reinserção C. A. Dillon, em Butner.
É evidente que Smoke não ficou lá muito tempo porque, ao fazer dezasseis anos, deixou de ser menor segundo a lei da Carolina do Norte e foi libertado. O seu registo criminal foi eliminado. As suas impressões digitais e fotografias foram destruídas. Deixou de ter passado. Os pais consideraram sensato mudarem-se para uma cidade onde a polícia, cuja memória não fora apagada, não o conhecesse nem o assediasse mais. E foi assim que Smoke se mudou para Richmond, na Virgínia, onde naquela manhã se sentia particularmente cruel e com vontade de causar sarilhos.
— Temos vinte minutos — disse ele para Divinity.
Ela estava encostada a ele, enquanto Smoke conduzia o Ford Escort que o pai lhe comprara depois de ter obtido a carta de condução da Virgínia. Divinity começou a beijar o queixo de Smoke e a esfregar a mão no meio das pernas dele para ver se havia vida.
— Temos todo o tempo que quiseres, querido — murmurou-lhe ao ouvido. — A escola que se foda. E que se foda aquele miúdo que arranjaste.
— Temos um plano, lembras-te? — disse Smoke.
Trazia sapatos de treino, uma sweat larga, uma bandana em volta da cabeça e óculos espelhados. Circulava pelas ruas que rodeavam o quarteirão do Banco Crestar, na Patterson Avenue, no West End, quando avistou uma pequena casa de tijolo em Kensington onde não se via nenhum carro na rampa nem nenhum jornal — ninguém em casa, pelos vistos. Estacionou na rampa.
— Se alguém abrir, andamos à procura da escola de Community High — lembrou-lhe Smoke.
— Perdidos no espaço, querido — disse Divinity, saindo.
Tocou duas vezes à campainha e respondeu-lhe o silêncio. Smoke passou para o banco do passageiro e Divinity levou-o novamente até ao Banco Crestar. O céu estava pálido e limpo e o movimento começava a aumentar, à medida que as pessoas iniciavam uma nova semana de trabalho e viam que precisavam de dinheiro para estacionamentos e almoços. O multibanco não tinha ninguém de momento, o que era bom. Smoke saiu do carro.
— Sabes o que tens a fazer — disse para Divinity.
Dirigiu-se ao banco, enquanto ela seguia com o carro. Deu a volta para o acesso de automóveis, onde ninguém o podia ver. Não demorou muito até um jovem num Honda Civic estacionar em frente do multibanco. Smoke saiu das traseiras do banco, com toda a calma. O jovem estava ocupado com a transacção e não reparou na forma como ele se aproximou, de lado, fora do alcance da câmara.
Era tão rápido que as suas vítimas ficavam sempre de tal forma chocadas que nem se mexiam. Aplicou fita isoladora sobre a lente da câmara e nos olhos do homem e espetou-lhe o cano da sua Glock nos rins.
— Não te mexas — disse Smoke baixinho. O homem assim fez.
— Passa o dinheiro para trás, bem devagarinho.
O homem obedeceu. Smoke olhou em volta. Viu outro carro a sair de Patterson e a dirigir-se ao multibanco. Arrancou a fita da lente da câmara e correu para as traseiras do banco. Começou a correr mais lentamente, virou na Libbie Avenue e depois em Kensington. Abrandou para passo na rampa da pequena casa de tijolo, onde Divinity esperava no Escort.
— Quanto arranjaste, querido? — perguntou ela, enquanto Smoke entrava descontraidamente.
— Vinte, quarenta, sessenta, oitenta, cem — contou ele. — Vamos pirar-nos daqui.
Judy Hammer não conseguia acreditar. Era, sem dúvida, uma das coisas mais estranhas que jamais lhe tinham acontecido. Dois racistas brancos, de nome Bubba e Smudge, iam assassinar uma mulher negra chamada Loraine, que vivia perto de umas velhas bombas, onde os assassinos iam estacionar e esperar, com os motores e as luzes desligados. Havia dinheiro em jogo, talvez várias centenas de dólares. Hammer pôs-se a andar de um lado para o outro, com Popeye, toda ansiosa, a imitá-la. O telefone tocou.
— Chefe-adjunta Hammer? — Era West.
— Virgínia, que diabo era aquilo? — perguntou Hammer. — Há alguma forma de localizar a chamada?
— Não — respondeu a voz de West —, não vejo como.
— Parto do princípio de que ouvimos ambas a mesma coisa.
— Continuo a falar de um telemóvel — avisou West. — Acho que não devo entrar em pormenores, mas penso que é algo que devemos levar muito a sério.
— Concordo absolutamente. Falamos disso depois da reunião. Obrigada, Virgínia. — Hammer ia mesmo a desligar.
— Chefe? Por que é que me telefonou quando eu andava a correr?
— recordou-lhe West rapidamente.
— Oh, pois é.
Hammer pôs-se a pensar, tentando recordar-se do motivo por que telefonara a West quando os racistas tinham entrado na linha. Continuou a andar de um lado para o outro, com Popeye sempre atrás.
— Ah, já sei. Já estamos a ter reacções ao nosso novo site da weh — disse Hammer, satisfeita. — Desde que apareceu o artigo que Andy escreveu.
— Estou um pouco preocupada — retorquiu West. — Acho que devíamos ter resolvido alguns dos problemas, Chefe.
— Vai dar resultado.
— O que é que têm dito?
— Têm-se queixado — respondeu Hammer.
— Fico chocada.
— Não sejas cínica, Virgínia.
— Alguma reacção ao que ele disse sobre o aumento do crime juvenil? E sobre a mentalidade de Richmond, ao afirmarem que não têm gangs, ou lá como é que ele disse? Sobre a necessidade premente de o país reformar radicalmente a justiça juvenil?
Hammer percebia muito bem que, sempre que West falava de Brazil, o seu tom era extremamente cortante. Percebia quando ela se sentia ferida e também via em Brazil uma certa tristeza, um olhar com menos brilho, um abrandamento da energia criativa que o distinguia tão bem dos outros. Hammer só desejava que os dois se voltassem a entender.
— O telefone começou a tocar assim que os jornais foram entregues — retorquiu Hammer. — Estamos a mexer com as pessoas e foi exactamente para isso que viemos para cá.
Hammer desligou. Foi buscar o artigo de Brazil à mesinha de café e deu-lhe mais uma vista de olhos.
... Na semana passada, as crianças da nossa cidade cometeram, pelo menos, dezassete delitos graves, que incluem violação, assalto à mão
armada e ferimentos intencionais. Em onze destes actos violentos, aparentemente aleatórios, a criança, ainda nem tinha feito quinze anos. Onde aprendem as crianças a odiar e a magoar? Não só nos filmes e jogos de vídeo, mas uns com os outros. Temos realmente um problema com gangs e, quer queiramos quer não, os miúdos que cometem crimes de adultos deixaram de ser miúdos... — Acho que a minha popularidade sofreu nova queda — disse Hammer para Popeye. — Precisas de um banho. Que tal uma esfregadela com aquele óptimo creme?
O belo pêlo branco e preto de Popeye fazia, lembrar um smoking, mas, como era muito curto, a pele rosada e sardenta era muito sensível e com tendência a secar e a ficar irritada.
Popeye adorava que, de três em três semanas, a sua dona a enfiasse numa tina de água quente e a ensaboasse com champô terapêutico anti-seborreico Nusalt, seguido de um tratamento com um creme à base de farinha de aveia e pramoxina, contra a comichão, com que a dona massajava o seu pêlo durante exactamente sete minutos, seguindo as instruções. Popeye adorava a sua dona. Pôs-se de pé nas patas traseiras e esfregou o focinho contra o joelho dela.
— Mas acho que o banho vai ter de esperar, senão atraso-me. — Hammer suspirou e pôs-se ao nível de Popeye. — Nem sequer devia ter falado nisso, pois não?
Popeye lambeu-lhe a cara e sentiu pena dela. Sabia que ela se recusava a admitir o desgosto e a culpa que sentia em relação à morte súbita do marido. Popeye não conhecera Seth, mas ouvira conversas sobre ele e vira fotografias. Não conseguia imaginar a dona casada com um porco preguiçoso, com fortuna própria, gordo, sempre a lamentar-se e que não fazia mais nada para além de comer, trabalhar no jardim e ver televisão.
Popeye alegrava-se com o facto de Seth já não existir. Adorava a dona e desejava poder fazer mais para confortar aquela senhora, tão amável e corajosa, que a salvara de ser órfã ou de ter sido adoptada por uma família infeliz com filhos cruéis.
— Muito bem. — A dona levantou-se. — Tenho de ir andando. Hammer tomou um duche rápido. Enfiou um robe e entrou no quarto de vestir forrado a cedro, pensando no que havia de levar. Compreendia o poder subliminar do vestuário, dos carros, da decoração do escritório, das jóias e do que escolhia para comer em almoços e jantares oficiais. Alguns dias exigiam pérolas e saias, outros pediam fatos severos. Cores, estilos, tecidos, ausência ou presença de gola, tecidos lisos ou com padrões, bolsos ou pregas, relógios, brincos e perfumes, peixe ou carne, tudo era importante.
Afastou cabides aqui e ali, reflectindo, imaginando, intuindo e decidindo-se, por fim, por um fato de casaco e calça azul-escuro, com bolsos e punhos. Escolheu sapatos pretos de pele, de salto baixo, com atacadores e um cinto a condizer e uma camisa de algodão às riscas azuis e brancas com punhos franceses. Procurou na caixa de jóias até encontrar uns brincos de ouro simples e o seu relógio Breitling de aço inoxidável.
Escolheu um par de botões de punho em ouro e lápis-lazúli que tinham pertencido a Seth. Pô-los com alguma dificuldade, recordando-se das vezes em que Seth a seguia pela casa como Popeye, incapaz de lidar com botões, lapelas, meias que condissessem ou outras combinações, nas raras ocasiões em que se vestia a rigor.
Fazia sentido dividir as jóias do seu falecido marido, as pastas de pele, as carteiras e outros objectos masculinos pelos filhos, mas Hammer continuava a adiar esse momento. Quando usava uma coisa de Seth, tinha a estranha sensação de que ele queria que ela fosse o homem que ele nunca fora. Queria-a forte. Talvez a quisesse ajudar, pois agora podia fazê-lo. Seth sempre tivera bom coração, mas passara a vida em guerra contra as suas compulsões e o seu passado privilegiado, espalhando a infelicidade como se fosse gripe. Deixara uma fortuna a Hammer, que ficara simultaneamente aliviada, magoada, aborrecida e tão vergada ao peso da ansiedade como ele estivera ao da sua gordura.
— Popeye, anda cá — chamou Hammer.
A cadela preguiçava numa faixa de sol no chão da cozinha e não tinha intenção de mudar de local.
— Vamos entrar na casota, Popeye.
Popeye olhou para ela com os olhos semicerrados. Bocejou e pensou que era uma idiotice o facto de a dona usar sempre nós, como se ela fosse estúpida e não compreendesse logo. Sabia que a dona tinha tanta intenção de entrar naquele pequeno caixote de plástico com ela, como de engolir um comprimido para desparasitar, ou de levar uma vacina no veterinário, altura em que usava igualmente o nós.
— Popeye! — O tom da dona endureceu. — Estou com pressa. Vá lá. Para a casota. Tens aqui o teu esquilo.
Atirou o seu esquilo de pelúcia preferido para dentro da casota. Popeye não ligou nenhuma.
— Muito bem, aqui está o teu fofinho.
Atirou lá para dentro o nojento pinto de lã a que Popeye arrancara os olhos e que costumava enfiar na sanita. Popeye ficou indiferente. A dona atravessou a cozinha com determinação e pegou nela. Popeye resistiu. A dona instalou-a na casota e trancou a porta de arame.
— Temos de nos portar melhor — disse ela, dando-lhe vários pedacinhos de delícia de bofe. — Volto daqui a nada.
Hammer ligou o alarme e dirigiu-se ao seu Crown Victoria azul-escuro sem identificação. Desceu East Grace, passando pelas traseiras de St. John’s Church e virou na 25th, onde Tobacco Row era agora um conjunto de apartamentos de luxo e a firma Pohlig Bros. continuava a fabricar “caixas de papel de todos os tamanhos”. Um artista de graffiti pintara a spray “A carne é homicídio”, “Comam milho” e “Foi Anita Hill que começou” num armazém de tabaco abandonado; escadas de incêndio ferrugentas e trepadeiras mortas agarravam-se a velhas paredes de tijolo. Podia comprar-se pneus usados por uma pechincha no Cowboy Tire e a Fundição Strickland, assim como a Machine Company se tinham recusado a fechar.
Do outro lado de Broad Street, depois do Coliseu, ficava o departamento da polícia de Richmond, onde Hammer passava agora os dias, um feio edifício prefabricado com uma barra de azulejos azuis com muitas falhas. As instalações eram escuras e demasiado pequenas, com corredores sem janelas, revestimento de amianto e estavam impregnadas com cheiro estagnado de gente e acções sórdidas.
Disse bom-dia aos polícias por quem passava, que lhe devolviam o cumprimento por medo. Hammer compreendia o trauma da mudança. Compreendia a desconfiança em relação a qualquer influência que viesse do exterior, especialmente se trouxesse uma sanção federal. O ressentimento e a hostilidade não eram nada de novo, mas nunca os sentira com tanta intensidade.
Entrou na sala de conferências às sete horas em ponto. Estava apinhada, com cerca de trinta comandantes, capitães, detectives e agentes pouco motivados que a seguiam com o olhar. Um mapa electrónico da cidade projectado num grande ecrã mostrava estatísticas dos assassínios, violações, roubos, crimes de estupro, assaltos a residências, furtos e roubos de automóveis, ou seja, os sete grandes, durante o último período de vinte e oito dias de operação do COMSTAT e também do último ano. Havia gráficos que mostravam incidências horárias e probabilidades e os dias da semana em que os crimes ocorriam, em que área policial e em que turnos.
Hammer sentou-se à cabeceira da mesa, entre West e Brazil.
— Outro multibanco — disse West em voz baixa ao ouvido de Hammer, que olhou bruscamente para ela.
— Acabámos de receber a chamada, ainda estão no local.
— Bolas! — exclamou Hammer, sentindo a raiva a crescer. — Quero os pormenores o mais depressa possível.
West levantou-se e saiu da sala e Hammer olhou em volta da mesa.
— É bom vê-los todos aqui — começou ela. — Esta manhã temos muito para discutir. — Olhou em volta e sorriu, sem perder tempo. — Vamos começar pela 1.ª esquadra. Major Hanger? Sei que é cedo.
— É sempre cedo — resmungou Hanger. — Mas sei que é assim que fazem as coisas em Nova Iorque.
Fez um gesto de cabeça ao agente Wally Fling, o seu assistente administrativo, que começara há pouco tempo a trabalhar com o software de mapas que todos detestavam. Fling carregou em várias teclas e um sectograma encheu o ecrã.
— Ainda não quero esse gráfico, Fling — disse Hammer.
Fling carregou em mais teclas e apareceu outro sectograma, desta vez relativo à 4.ª esquadra.
— Desculpe — disse Fling, enquanto tentava novamente, cheio de nervos. — Acho que quer o da 1.” esquadra.
— Seria óptimo. E não quero sectogramas.
Teve que gramar outro, desta vez da 2.a esquadra. Afogueado, Fling carregou em mais teclas e o distintivo do departamento brilhou no ecrã, com o seu lema, Cortesia, Profissionalismo e Respeito, que Hammer também aproveitara do Departamento da Polícia de Nova Iorque.
Várias pessoas resmungaram e vaiaram. Brazil lançou a Hammer um olhar que dizia bem tentei avisá-la.
— Por que motivo não podemos ter o nosso próprio lema? — perguntou o capitão Cloud, que era comandante-de-dia e achava que tinha direito a falar.
— Pois — juntaram-se outras vozes descontentes.
— Aquele faz-nos parecer uma segunda escolha.
— Talvez também possamos ficar com os uniformes velhos deles.
— Essa é uma das coisas que nos anda a chatear. No ecrã apareceram mais dois sectogramas.
— Agente Fling — disse Hammer —, volte ao distintivo, por favor. Vamos discutir isto.
Um mapa com marcadores relativos a apreensão de armas encheu o ecrã, com pequenos revólveres amarelos assinalando as várias áreas-problema da cidade.
— Continua, Fling!
— Procura Estúpido.
— Merda — disse Flint, ao dar consigo novamente no menu principal.
— Volta para a papelada, Fling.
Carregou quatro vezes no enter e uma mensagem de erro disse-lhe para parar.
— Está bem, está bem. — Hammer tentou acalmar a sala. — Capitão Cloud? Quero ouvir o que tem a dizer.
— Bem — Cloud continuou onde tinha sido interrompido —, é como o emblema da cidade, George Washington a cavalo. Tenho que lhe perguntar, o que é que George Washington tem a ver com Richmond? Por outras palavras, acho que, provavelmente, usámos o emblema de D.C., ou de outra grande cidade qualquer.
— Amen.
— Concordo totalmente.
— Aposto que nem sequer cá dormiu nenhuma vez.
— É uma vergonha.
— Primeiro D.C. e agora andamos a fanar ideias a Nova Iorque. Com que imagem é que ficamos? — perguntou Cloud.
— Muito bem — Hammer ergueu a voz. — Receio que, nesta altura, não possamos fazer nada quanto ao emblema da cidade. Portanto, voltemos ao nosso lema. Capitão Cloud, lembre-se que parte da ideia de responsabilidade é sugerir uma solução quando apontamos um problema. Tem alguma sugestão para um lema novo?
— Bem, ontem à noite entretive-me a pensar num.
Cloud tinha a tensão alta. A camisa branca do uniforme estava muito apertada em volta do pescoço e tinha o rosto arroxeado. Era o centro das atenções e suava.
— Pensei em algo que fosse simples mas directo; não estejam à espera que seja lá muito criativo, poético ou coisa assim, mas se perguntarmos “quem somos nós”, acho que a resposta pode ser resumida em três palavras: Tough On Crime — Cloud olhou em volta da mesa.
— TOC, por outras palavras, que é muito fácil de recordar e não ocupa mais espaço do que CPR, se o quisermos pintar ou acrescentar aos nossos distintivos.
— A mim não me diz nada.
— A mim também não.
— Na.
— Tudo bem, tudo bem — apressou-se Cloud a dizer. — Tenho outra sugestão. E que tal Tough in Court and Tough On Crime2? TIC TOC.
— Não gosto.
— Ditto.
— Esperem um momento — continuou Cloud, cheio de convicção.
— Toda a gente se queixa sempre imenso da nossa lentidão em chegar ao local, às casas, depois de o alarme tocar, não é? E quantas vezes ouvimos o público a queixar-se do tempo que levamos a resolver um caso? Acho que TIC TOC tem uma mensagem positiva sobre uma nova atitude, sobre o facto de estarmos a tentar melhorar.
— E parece também que estamos com os olhos postos no relógio, como se mal pudéssemos esperar pela mudança de turno.
— Ou como se algo de mau estivesse prestes a acontecer.
— Para além disso, teria que ser TOC TIC, porque ser duro contra o crime vem antes de irmos a tribunal.
— Não resulta, Cloud.
— Esquece.
Cloud ficou arrasado.
— Não tem importância — disse ele.
Hammer ficara em silêncio durante toda a discussão, porque queria dar às suas tropas a oportunidade de se fazerem ouvir, mas já não aguentava mais.
1 “Duros Contra o Crime” — optou-se por não se traduzir devido à necessidade de manter a sigla. (NT)
2 “Duros no Tribunal e Duros Contra o Crime”. (NT)
— Vamos todos pensar no assunto — disse ela abruptamente. — Estou sempre aberta a novidades. Obrigada,-capitão Cloud.
— Na verdade, reflecti sobre este assunto — disse Andy Brazil. Ninguém falou. Os polícias começaram a remexer os papéis e a mudar de posição. Levantaram-se para ir buscar mais café. Cloud abriu um saquinho de pastilhas para a garganta Fisherman ’s Friend, rasgando o papel com ruído. Fling reiniciou o computador, que apitou ao tentar arrancar.
Hammer teve pena de Brazil. Sentia-se indignada com o facto de ele ser discriminado por razões fora do seu controlo. Não tinha culpa de que as mulheres e os homossexuais de todas as idades não conseguissem tirar os olhos dele. Não tinha culpa de ter apenas vinte e cinco anos, de ter talento e de ser sensível. E não tinha feito nem insinuado nada que tornasse credível o boato perverso de que ela o trouxera para Richmond para seu prazer sexual e que ele a largara para ter um caso com a senhoria.
— Continue, agente Brazil. — Hammer tinha tendência a ser brusca com ele. — Mas temos que nos despachar.
— Penso que ficávamos muito melhor sem um lema — disse Brazil. Silêncio.
— CPR3 faz com que pareça que precisamos de ser ressuscitados — acrescentou.
Ninguém olhava para ele. Ouvia-se o ruído de papéis. Os cinturões rangiam.
— Que estamos às portas da morte — disse ele. Silêncio.
Depois Cloud falou:
— Sempre pensei isso. Já era tempo de alguém o dizer, antes que o desatem a pintar em todos os carros.
— É mais uma coisa para as pessoas gozarem — realçou Brazil. — Principalmente devido ao facto de o conceito básico do COMSTAT ser responsabilidade. E que acontece, se alguém se lembrar de acrescentar responsabilidade ao nosso lema?
Mais silêncio, enquanto todos se interrogavam. Alguns escreveram palavras e letras em papéis e baralharam acrónimos, como no Scrabble. Hammer percebeu instantaneamente a intenção de Brazil.
“CPR” são igualmente as iniciais de Ressuscitação Cardiopulmonar. (NT)
— CARP — leu Fling do seu bloco.
— PARC? — sugeriu o capitão Cloud.
— Ficamos com CRAP4 — disse-lhes Brazil.
— Interessante — disse Hammer em voz alta, restabelecendo a ordem. — Contribuíram todos para que eu visse isto sob uma nova luz. Talvez não devêssemos ter um lema. Quem é a favor, levante o braço.
Todos o fizeram, excepto Cloud. Beberricava o seu café, com os olhos baixos postos no donut que não acabara de comer e uma expressão amarga no rosto.
— Portanto, acho que posso apagar o lema do computador — disse Fling, carregando novamente nas teclas.
— Não quero que apague o que quer que seja — disse-lhe Hammer.
4 “CRAP” significa, “trampa”, “disparate”, em calão. (NT)
No Escort de Smoke, o leitor de CDs passava um rap de Puff Daddy & The Family e o ar soprava por uma janela traseira emperrada. Ele mudara de roupa no carro e Divinity fora-se embora, sentindo-se ainda o seu perfume enjoativo, enquanto Smoke e Weed Gardener, de catorze anos, se dirigiam para oeste, para a Escola Secundária Mills E. Godwin.
Smoke tinha dinheiro no bolso. A pistola Glock de nove milímetros, que trocara na rua por vinte pedras de crack, estava enfiada debaixo do assento. Estava pedrado e revivia continuamente o assalto, a cena preferida do filme que era a sua vida. Estava a melhorar, a ficar mais ousado.
Pensou como seria fixe entrar na sala da banda e limpar doze, treze, talvez quinze alunos e o cabrão do maestro, Mr. Curry, que pensava que sabia tudo e não o deixava tocar na banda por ele não ter ouvido musical e não conseguir marcar o ritmo na bateria. No entanto, Weed ficara com os pratos, mas não os distinguia de uma tampa de caixote de lixo e porquê? Porque Weed era bom em desenho e nunca se metia em sarilhos. Bem, tudo isso estava prestes a mudar.
— ...Quem tu sabes fá-lo melhor... — Smoke acompanhava o rap, fora de ritmo e desafinado, com o sangue a começar a ferver. — Não faças figura de parvo... Vou fazer com que me ames, querida...
Weed pôs-se a acompanhar o ritmo, batendo com as mãos nas coxas e no tablier e saltando no banco, como se tivesse um sintetizador no lugar do sistema nervoso e uma bateria a rufar no sangue. Smoke detestava isso. Detestava que Weed visse as cores do arco-íris e imagens para desenhar em todo o lado. Estava farto de ver as pinturas dele em exposição na biblioteca. Pelo menos, Weed era estúpido. Era tão estúpido que não fazia a mínima ideia de que a única razão pela qual Smoke se aproximara dele e lhe começara a dar boleia para a escola era que tencionava usá-lo.
— Ri-dícu-u-lo... ’tás na zona de perigo, não devias ’tar sozinho... .— a voz monótona de Smoke subiu de tom.
Aumentou o volume do leitor de CDs e pôs os baixos ao máximo. Voltou a carregar no botão da janela esquerda de trás, praguejando quando o vidro continuou emperrado a meia altura. O ar soprava e a música vibrava, enquanto Weed continuava a tocar.
— Eh, atrasado, corta — disse Smoke, agarrando numa das mãos de Weed para o obrigar a parar com o solo.
Weed ficou imóvel. Smoke pensou que conseguia sentir o cheiro do medo dele.
— Escuta-me, atrasado — continuou Smoke. — Talvez já não falte muito para te dar aquilo com que tens andado a sonhar, a maior oferta da tua vida insignificante.
— Oh! — Weed estava apavorado com o que Smoke ia dizer.
— Queres ser fixe, certo? Queres ser igualzinho a mim, certo?
— Acho que sim.
— Achas? — disse Smoke com brusquidão.
Deu uma pancada tão forte no nariz de Weed que este começou a sangrar e os olhos encheram-se-lhe de lágrimas.
— Então, como é que disseste, atrasado? — O ódio na voz de Smoke tornava-a monocórdica.
O sangue escorria pelo rosto de Weed e pingava nos seus jeans deslavados de corte largo.
— Sujas o meu carro de sangue e corro-te daqui para fora. Aposto que não gostavas de raspar com o lombo na estrada — disse-lhe Smoke.
— Pois não — respondeu Weed baixinho.
— Sei como desejas ser um Pike e tens estado à espera da minha resposta — continuou Smoke. — Depois de pensar muito, decidi deixar-te tentar, apesar de não estares à altura.
Weed não queria ser um Pike. Não queria fazer parte do gang de Smoke. Os Pikes espancavam pessoas, roubavam coisas, assaltavam carros, abriam buracos nos tectos dos restaurantes e levavam caixas de garrafas. Faziam todo o tipo de coisas de que ele nem sequer queria ouvir falar.
— Portanto, o que é que me dizes? — Smoke erguera a mão, com os dedos a postos para esbofetear Weed novamente.
— Sim, meu.
— Primeiro dizes obrigado, atrasado. Dizes: “Sinto-me tão honrado que estou quase a borrar-me todo.” * — Seria fixe como o caralho, meu. — Weed disfarçou o medo em palavras arrogantes que começaram a sair-lhe da boca. — Pensa só na merda que podíamos fazer, meu. E posso usar as cores?
— As dos Chicago Bulis, como se fosses o cabrão do Michael Jordan. Talvez te façam mais alto. Talvez façam inchar esse tubo furado que tens entre as pernas e comeces a espremer o sumo a umas miúdas.
— Quem é que disse que não espremo já? — Weed falava como se fosse o maior.
— Ainda não espremeste nada nessa tua vida de merda, nem sequer fruta.
— Não sabes.
Smoke riu-se com o seu jeito cruel e trocista.
— Nem fazes ideia — continuou Weed, tentando parecer um duro, pois sabia o que acontecia se não o fizesse. A fraqueza tornava Smoke ainda mais cruel.
— Não saberias o que fazer com uma rata, nem que ela se esfregasse contra a tua perna — troçou Smoke. — Já vi a tua ferramenta. Já te vi a bater uma.
— Bater punhetas e foder não são a mesma coisa — informou-o Weed.
Smoke virou para o parque de estacionamento da Escola Secundária Mills E. Godwin, o nome de um antigo governador da Virgínia e sede dos Eagles. Parou e esperou que Weed saísse.
— Não vens? — perguntou Weed.
— Neste momento, tenho que fazer — respondeu Smoke.
— Mas vais chegar atrasado.
— Oh, que meeeedo! — Smoke riu-se. — Pisga-te, atrasado. Weed assim fez. Abriu a porta de trás e pegou na mochila barata com os seus livros, papéis e a sanduíche de salsicha com mostarda que arranjara antes de Smoke o ir buscar.
— Depois da escola, voltas para aqui — disse Smoke. — Exactamente para este lugar. Vou levar-te ao clube para seres iniciado e tornares o teu sonho realidade.
Weed sabia do clube. Smoke contara-lhe tudo.
— Tenho ensaio da banda — disse Weed, a tremer por dentro.
— Não, não tens.
— Tenho, pois. Todas as segundas, quartas e sextas temos o ensaio da marcha, Smoke. — O seu sangue arrefeceu e sentiu o estômago a encolher.
— Hoje estás ocupado, atrasado. É melhor que estejas aqui às três. Os olhos de Weed encheram-se novamente de lágrimas enquanto
Smoke se afastava a toda a velocidade. Weed adorava a banda. Adorava ir lá para fora, para o campo de treinos de basebol, e marchar com os pratos de bronze, sonhando com o uniforme vermelho e branco de soldadinho de chumbo e o chapéu negro com uma pluma que ia usar no Desfile das Azáleas, no sábado. Mr. Curry dizia que os dele eram muito bons e Weed era responsável por os manter limpos e brilhantes, com as alças de couro correctamente atadas com nós entrançados.
As bandeiras esvoaçavam defronte da asseada escola de tijolo castanho, onde mil e novecentos alunos da classe média se acotovelavam, turbulentos, arrastando-se para as aulas. A disposição de Weed melhorou. Pelo menos o pai vivia naquela zona escolar. Weed tinha roupas e outras coisas em casa do pai e fingia que lá vivia. Se não pudesse frequentar Godwin, não haveria arte nem música na sua vida.
O segundo toque, das 8h35, fez-se ouvir no momento em que Weed batia com a porta do seu cacifo cor de laranja vivo e desatava a correr pelos corredores vazios, pintados de cores diferentes. As salas por que passava enchiam-se de conversas e risos e ouvia-se o som mudo de livros que se abriam nas carteiras. Weed sempre tivera a fobia de chegar atrasado.
A mãe estava sempre a trabalhar e raramente parava em casa, ou, então, não acordava para o chamar para ir para a escola. Por vezes, deixava-se dormir, o que o fazia correr como um louco até à paragem do autocarro, em pânico, sem livros nem almoço e vestido à pressa. No seu espírito, perder o autocarro significava perder a vida e ficar abandonado numa casa vazia, onde ecoavam brigas passadas entre os pais, agora separados, e os sons ruidosos e alegres do seu irmão mais velho, Twister, que morrera.
Weed dobrou a esquina do departamento de ciências a toda a velocidade, exactamente quando Mr. Pretty estava a começar a vigilância, na secretária em frente da sala de Biologia de Mrs. Fan, onde Weed devia estar naquele preciso momento, a preparar-se para responder a um teste.
— Ei! — chamou Mr. Pretty quando Weed passou por ele a correr. O segundo toque parara, e ouvia-se portas a ”fechar.
— Vou para a aula de Mrs. Fan — disse Weed, ofegante.
— Sabes onde é?
— Sim, senhor, Mr. Pretty. É mesmo ali. — Weed apontou para a porta vermelha a menos de vinte passos e pensou que pergunta estúpida seria aquela.
— Estás atrasado — disse-lhe Mr. Pretty.
— Tocou agora mesmo — respondeu Weed. — Quase que ainda se pode ouvir a campainha.
— Atrasado é atrasado, Weed.
— Não foi de propósito.
— E acho que não tens passe — disse Mr. Pretty, que ensinava Civilizações Ocidentais ao nono ano.
— Não tenho passe — retorquiu Weed, sentindo a indignação a crescer — porque não tencionava chegar atrasado. Mas a minha boleia só chegou agora e não pude fazer nada e corri imenso para não chegar atrasado. E agora o senhor ainda me está a atrasar mais, Mr. Pretty.
Mr. Pretty tinha a mania de reter os miúdos, mas não os castigava. Era jovem e bem-parecido e tinha uma necessidade insaciável de falar e ser ouvido. Era famoso por manter os miúdos no corredor durante o maior período de tempo possível, enquanto eles se remexiam e olhavam para as salas onde deviam estar, nas quais prosseguiam, na sua ausência, as lições e os testes.
— Não me culpes a mim, nem à tua boleia, por vires atrasado — disse Mr. Pretty por detrás da sua pequena mesa, na intersecção dos corredores vazios e lustrosos.
— Não estou a culpar ninguém. Estou só a constatar um facto.
— No teu lugar, tinha cuidado com a língua, Weed.
— Que quer que eu faça, que a guarde numa gaveta? — perguntou Weed insolentemente.
Talvez Mr. Pretty tivesse deixado Weed ir para a aula, mas estava chateado e decidiu arrastar as coisas.
— Vamos lá a ver, acho que te tenho ao terceiro tempo — disse ele. — Lembras-te do que falámos na sexta-feira?
Weed não se lembrava de nada relativo a sexta-feira, a não ser que não lhe apetecia nada passar o fim-de-semana com o pai.
— Ah, talvez isto te espevite a memória — disse Mr. Pretty secamente. — Que aconteceu em 1556?
Weed tinha os nervos em franja. Ouvia a voz de Mrs. Fan através da porta fechada, a distribuir o teste e a dar as instruções.
— Vá lá, sei que tu sabes. — Mr. Pretty continuou a implicar com ele. — Que aconteceu?
— Uma guerra. — Weed atirou com a primeira coisa que lhe passou pela cabeça.
— Uma hipótese bastante segura, já que houve tantas. Mas estás enganado. Em 1556 Akbar tornou-se imperador da índia.
— Posso ir agora para a aula de Mrs. Fan?
— E a seguir? — exigiu Mr. Pretty. — Que aconteceu a seguir?
— O quê?
— Perguntei primeiro.
— O quê? — Weed estava a ficar furioso.
— O que aconteceu a seguir? — perguntou Mr. Pretty.
— Depende do que entender por a seguir — disse Weed, todo espertalhão.
— A seguir, como o que vem a seguir na cronologia de acontecimentos que eu distribuí a todos os alunos da minha aula — respondeu Mr. Pretty, agastado. — É claro que tu nem deves ter olhado para ela.
— Olhei, sim senhor. E diz lá que só temos de decorar o que está sublinhado e essa coisa da índia e o que aconteceu a seguir não estão sublinhados.
— Ah sim? — Mr. Pretty tornou-se arrogante. — E como é que te lembras se uma coisa estava ou não sublinhada, se não te lembras de nada?
— Lembro-me do que está sublinhado! — Weed ergueu a voz, como se quisesse sublinhar as suas palavras.
— Não te lembras nada!
— Lembro-me, sim!
Irado, Mr. Pretty tirou uma esferográfica do bolso da camisa. Começou a escrevinhar palavras na folha de autorizações do Serviço de Vigilância.
— Muito bem, espertalhão — disse Mr. Pretty, quase totalmente descontrolado. — Escrevi aqui dez palavras, algumas sublinhadas, outras não. Tens um minuto para olhares para elas.
Entregou a lista a Weed: preservar, efígie, massacre, Versalhes, mulso. Fabergé, Fabian, Waterloo, edital, pacto. Nem uma lhe era familiar. Mr. Pretty arrancou-lhe a lista das mãos.
— Que palavras estavam sublinhadas? — exigiu Mr. Pretty.
— Não as consigo pronunciar.
— Versalhes — incitou-o Mr. Pretty.
Weed viu a lista mentalmente e localizou a única palavra que começava com V.
— A quarta, não sublinhada — respondeu ele.
— Massacre!
— Terceira, não sublinhada.
— Fabian! — ripostou Mr. Pretty.
— E a quarta antes da última. Também não está sublinhada.
— Efígie! — atirou Mr. Pretty, com o atraente rosto distorcido pela fúria.
— Está sublinhada — disse Weed. — Assim como a quinta e a décima.
— Ah sim? — Mr. Pretty perdera completamente a cabeça. — E quais são a quinta e a última, já que achas que sabes tanto?
Weed viu mulso e pacto e pronunciou-as à sua maneira.
— Mulzu e pato.
— E que significam?
Mr. Pretty falava tão alto que Mrs. Fan, preocupada, abriu uma nesga da porta para ver se se passava alguma coisa.
— Chiu! — fez ela.
— Que significam, Weed? — Mr. Pretty baixara a sua voz desdenhosa.
Weed fez o melhor que sabia.
— Pato é um animal que se come e mulzu é uma coisa que usamos em desenho — concluiu ele.
O agente Fling também estava a tentar hipóteses. Fora para o controlo do nível seguinte, depois carregara, na função 3 para painel temático e seleccionara remover para se livrar do último sectograma, fazendo aparecer chamadas prioritárias um, dois e três da quarta esquadra, algo em que ninguém estava interessado de momento.
Hammer acendeu as luzes do tecto. A apresentação não devia ter excedido uma hora e já passava muito do limite. Sentia-se desanimada e frustrada, mas recusava-se a mostrá-lo.
— Sei que somos todos novos nisto — disse ela sensatamente. — Sei que as coisas não acontecem da noite para o dia. Vamos deixar os mapas para sexta-feira de manhã, às sete horas, altura em que, estou certa, já dominaremos o assunto.
Ninguém reagiu.
— Agente Fling? — inquiriu ela.
As mãos dele estavam como mortas sobre o teclado. Parecia abatido e derrotado.
— Acha que conseguimos pôr isto a funcionar até à reunião de sexta do COMSTAT? — insistiu Hammer.
— Não, minha senhora. — Fling foi honesto. A porta abriu-se e West regressou e sentou-se.
— Muito bem, agente Fling, aprecio a sua honestidade — disse Hammer num tom positivo. — Há mais alguém que queira aprender a trabalhar com este programa? É verdadeiramente fácil de utilizar. A ideia não foi concebê-lo para programadores e engenheiros, mas sim para a polícia.
Ninguém falou.
— Agente Brazil, dê-me aqui uma ajuda — disse Hammer.
— Com certeza — respondeu ele dubiamente.
— Talvez seja melhor participar — disse Hammer. — Chefe-adjunta West? Também tem muita prática com este software. Vejam se os dois conseguem pôr esta coisa a correr. Espero uma navegação calma na próxima reunião do COMSTAT.
— Alguém quer aprender? — perguntou West, olhando em volta da mesa. — Então, rapazes, mostrem a vossa coragem!
A tenente Audrey Ponzi levantou a mão. A mão do capitão Cloud ergueu-se a seguir e o agente Fling resolveu tentar mais uma vez.
— Excelente — comentou Hammer. — Major Hanger? Se não se importa, continue a sua apresentação. Passaremos sem o computador. Temos mesmo de concluir isto.
Hanger olhou apressadamente para as suas notas e deu um gole nervoso no café.
— Não houve grandes mudanças desde a última reunião — começou ele. — Tivemos a mesma série de furtos simples em automóveis, na sua maioria jipes, assaltados por causa dos airbags.
— CABBAGES — interpôs Fling.
Todos os olhares se voltaram para o capitão Cloud, que inventara a denominação Car Air Bag Breaking And Entering e o respectivo acrónimo CABBAE, que a imprensa imediatamente passara a CABBAGE ou CABBAGES1, não desistindo, apesar das inúmeras correcções do departamento da polícia. — De qualquer modo — continuou Hanger —, suspeitamos que a maior parte dos airbags roubados acabam em duas oficinas recentemente abertas por russos. Possivelmente, pertencem ao mesmo clã que abriu o quiosque no mercado dos agricultores no Verão passado, na Seventeenth Street, em frente de Havana 59. Vendiam couves, das que servem para fazer salada de repolho, o que só contribuiu para aumentar a confusão. — Olhou irritadamente para Cloud.
— Mas os CABBAGES podem estar relacionados porque os russos possivelmente o estão — concluiu Fling.
— Acreditamos nisso — disse Hanger.
— Voltemos aos airbags — pediu Hammer.
— Bem, nestes últimos furtos simples o modus operandi continua o mesmo. — Hanger evitou usar o termo CABBAGE. — O dono regressa ao seu veículo, encontra uma janela partida e falta o airbag. Estes mesmos carros dão entrada numa das oficinas dos russos para substituir os airbags e, ironicamente, os airbags roubados que são instalados em substituição dos que desapareceram podem ser exactamente os que foram roubados do veículo em questão. Portanto, paga-se duas vezes pelo mesmo airbag, pensando-se que se estão a instalar novos, a trezentos dólares cada um, quando, na verdade, se fica com o roubado. É bestial!
— Mas se as pessoas ficam com os mesmos airbags, não são em segunda mão, pois nunca pertenceram a outra pessoa — disse Fling. — Será que isso...?
— Que estamos a fazer em relação a esta situação? — Hammer ergueu a voz.
— Estamos em coordenação com a secção de investigações para pôr um tipo à paisana em, pelo menos, uma das oficinas — retorquiu Hanger.
— É possível identificar os airbags’? — perguntou Hammer.
1 Couve. Trocadilho com o significado, em calão, de “cabbage” • “vegetal”. (NT)
“atrasado mental”.
— Só se começarem a pôr-lhes NIVS — disse Hanger, referindo-se ao Número de Identificação do Veículo, gravado na porta do condutor de todos os veículos. — Pensei que talvez conseguíssemos arranjar um subsídio qualquer para ajudar. Talvez o INJ esteja interessado.
— Ajudar como? — Hammer franziu o sobrolho.
— Fazendo um estudo sobre a utilidade dos NIAs.
— NIAs?
— Chamar-lhes-íamos assim — explicou Hanger. — Número de Identificação do Airbag. E que se os airbags roubados são postos novamente no mesmo veículo, então é mais que certo que os NIAs batem certo.
— É verdade.
— Isso tornava a coisa muito fácil. Hanger anuiu com a cabeça.
— Não só podíamos começar a registar casos aqui, como tenho a certeza de que muitos destes airbags roubados vão para o estrangeiro. Portanto, se desenvolvermos um sistema de NIAs, podíamos envolver a Interpol. Talvez nos traga algum reconhecimento.
— Estou a ver. — Hammer lutou contra uma crescente sensação de desespero. — Mais alguma coisa?
— Mais dois Saturnos roubados. Conseguimos identificar um padrão.
— Quantos até agora?
— Doze carros da General Motors roubados no último mês.
— Alguma pista? — perguntou Hammer.
— Parece que estão envolvidos vários miúdos. Pensamos que compraram chaves de Saturnos a um miúdo chamado Beeper, supostamente na zona da Escola Básica de Swansboro, na via rápida Midlothian.
— Pertencem a um gang? — perguntou Hammer.
— Não temos a certeza — respondeu Hanger.
— O que quer dizer com isso?
— Bem, só nos podemos basear num informador que já nos mentiu anteriormente.
Hammer passou para outro caso.
— Lamento dizer que acabou de haver outro assalto num multibanco. Vou pedir à chefe-adjunta West que dê os pormenores.
— A vítima é um homem asiático, de vinte e dois anos. — West olhou para as notas. — Encostou no multibanco do Crestar, no 5802 de Patterson. Não havia lá mais ninguém e parecia tudo normal. Diz que subitamente lhe aplicaram fita isoladora sobre os olhos e lhe espetaram uma arma nas costas. Um homem, não sabe dizer de que raça, exigiu-lhe dinheiro. Quando a vítima tirou a fita, o patife já tinha desaparecido há muito.
— A fita isoladora é diferente — notou Hammer. „ — Sem dúvida — disse West.
— Isto perfaz seis assaltos em multibancos — disse Hammer. — Quatro em Southside, dois no West End. Uma média de um por semana desde o princípio de Fevereiro.
— Quero dizer que estou extremamente preocupada com este último, partindo do princípio de que está relacionado com os outros — informou West. — Vamos lá revê-los. Temos os primeiros quatro multibancos à noite ou de madrugada, quando está escuro. Há uma equipa homem-mulher. Ela distrai a vítima, perguntando-lhe onde são os correios mais próximos, ou a cabina telefónica ou coisa assim. Aparece o homem, abre o casaco o suficiente para mostrar a coronha de uma arma e diz “Quero o dinheiro que tirou da máquina”. Talvez a arma seja verdadeira, talvez não. O patife pega no dinheiro e foge. Depois, temos um quinto multibanco em Church Hill. Novamente quando está escuro, mas desta vez o tipo mostra mesmo a arma. Entra no carro da vítima e desliga a luz interior para não lhe verem a cara. Ameaça-a de que, se tentar ajudar os chuis a identificá-lo, ele sabe a matrícula dele, vai à sua procura e mata-o. Depois, obriga a vítima a guiar vários quarteirões e sai com o dinheiro. Agora temos um multibanco no West End, desta vez durante o dia. Vejo aqui uma possível escalada, uma escalada que pode acabar em violência.
— Sabemos mais alguma coisa sobre estes casos? — perguntou Cloud.
— Nada que ajude. Umas vítimas pensam que a cúmplice é negra, outras pensam que é ele e vice-versa. Idade desconhecida, parte-se do princípio de que são menores. Não há sinal de veículo, se é que usam algum — retorquiu West. — A verdade é que não sabemos.
— E as gravações dos bancos?
— Inúteis.
— Porquê? — perguntou Hammer.
— No primeiro, só se vêem as costas dela e estava escuro — disse West. — Nos outros quatro, não se vê absolutamente nada.
— E as câmaras estavam a funcionar?
— Em perfeitas condições. .— E a desta manhã?
— Parece em ordem.
— Alguém sabe de algo remotamente semelhante que tenha acontecido noutras zonas da cidade? — perguntou então Hammer.
Ninguém sabia.
— E a terceira esquadra? Ainda não ouvimos nada, capitão Webber — insistiu Hammer.
— Uns russos abriram uma loja de antiguidades em Chamberlayne, perto do Centro Comercial Azálea — disse Webber. — Ainda não fizeram nada de ilegal.
— Alguma razão para pensar que o farão? — inquiriu Hammer.
— Bem, é só esta coisa contra os russos que anda por aí.
— Como é que sabemos que não são ciganos? — perguntou o detective Linton Bean.
— Os ciganos podem ser russos?
— A mim parece-me que podem ser tudo, desde que andem de um lado para o outro a enganar as pessoas.
— Sim, mas os que têm passado por aqui são principalmente romenos, irlandeses, ingleses e escoceses. Os Viajantes. Bem, é assim que chamam a si próprios. Ficam bem chateados se lhes chamamos ciganos.
— E que tal chamarmo-lhes só vadios e ladrões?
— Nunca ouvi falar de ciganos russos.
— A minha irmã foi a Itália no ano passado e diz que lá há ciganos.
— Sei de certeza que há ciganos espanhóis na Florida.
— Estão a ver, é por todo o lado — disse o detective Bean. — Não, há país nenhum chamado “Cigano”. Pode ser-se de um sítio qualquer e ser-se cigano, incluindo da Rússia...
— Que estamos a fazer em relação a este problema? — interrompeu Hammer.
— Estamos a pôr patrulhas em bairros como Windsor Farms, onde vivem principalmente idosos com dinheiro — disse Bean. — Talvez formemos uma equipa de intervenção.
— Façam-no — disse Hammer, olhando para o relógio, consciente das horas. — O tenente Noble é comandante-de-dia na segunda esquadra. Que tem a comunicar?
— Esta semana prendemos um reincidente em violência doméstica — disse Noble, que usava a linguagem correcta da polícia e a quem todos guardavam rancor.
— Muito bem — disse Hammer.
— Estamos também a passar mandatos de captura alargados, mas até agora ainda não apanhámos o suspeito das violações nas escadas — acrescentou Noble. — E, se não se importa, chefe Hammer, gostaria de fazer um comentário.
— Faça favor — disse Hammer.
— Penso que não foi lá grande ideia chatear os cidadãos com esta treta dos gangs que Brazil publicou no jornal de domingo.
— Não era uma treta — disse Brazil.
— Identifica um só gang — desafiou-o Noble.
— É tudo uma questão de semântica — respondeu Brazil. — Depende da forma como se rotular gang.
Hammer concordou.
— Os piores crimes são cometidos por menores. Aprendem uns com os outros, influenciam-se mutuamente, formam bandos, gangs. Temo-los cá e é preciso identificá-los.
— A maior parte dos miúdos que entra nas escolas e rebenta com as pessoas não pertence a gangs. Actuam sozinhos — argumentou Noble.
— Vejamos Jonesboro — contrariou West. — Um miúdo de catorze anos recrutou um de onze para puxar o alarme de incêndio, não foi? Que aconteceria se tivéssemos quatro, cinco, seis miúdos envolvidos? Talvez vinte miúdos e professores tivessem morrido.
— Ela tem razão.
— Tenho de admitir que nos faz pensar.
— Teríamos de chamar a maldita Guarda Nacional.
— Os miúdos são assustadores. Não têm limites. Pensam que matar é um jogo — acrescentou West.
— E verdade. Não têm noção das consequências.
— Que acontece se houver um líder carismático que organize realmente as coisas? Imaginem só — disse Brazil.
Choviam interpretações e argumentos de todas as direcções, enquanto Hammer pensava como introduzir o assunto seguinte.
— Informações recentes — começou ela — sugerem que dois homens brancos podem estar a planear um crime racial, o assalto e assassínio de uma mulher negra, possivelmente de nome Loraine. Os homens podem dar pelos nomes ou alcunhas de Bubba e Smudge.
Por um momento ninguém falou, com os rostos perplexos.
Depois, ouviu-se:
— Se não se importa que pergunte, chefe, de onde veio essa informação?
Hammer olhou para West, pedindo ajuda.
— Na verdade, neste momento não podemos revelar a fonte — disse West. — Só precisam de estar atentos, de manter os olhos e os ouvidos abertos.
— Se não houver mais nada... — concluiu Hammer. Não havia.
— Então, tenho dois louvores para apresentar e penso que ambas as pessoas estão aqui. — Hammer sorriu. — A agente de Comunicações, Patty Passman e o agente Rhoad.
Avançaram ambos. Hammer entregou a cada um deles um certificado e apertou-lhes a mão. Os aplausos foram fracos.
— A agente de Comunicações Passman, como sabem, tratou de um
112 no mês passado que salvou um homem de morrer engasgado com um cachorro-quente — disse Hammer. — E o agente Otis Rhoad passou trezentas e oitenta e oito multas de estacionamento no mês passado. Um recorde do departamento.
— Buuuuuuu!
— Pois, uma data delas aos nossos carros! Passman olhou irritadamente para Rhoad.
— Ele ganha o prémio de falar pelo rádio!
— Rhoad Hog!2
Passman mordeu o lábio, com o rosto vermelho de raiva.
— Rodeol — atirou Fling, embora o insulto não fizesse sentido.
— Já chega — disse Hammer. — Voltamos a encontrar-nos aqui, na sexta-feira.
O pisca do Ford Explorer pulsava como um coração em pânico, quando o condutor, que já falhara a sua saída, tentou mais uma vez enfiar-se à frente de Bubba. Bubba acelerou e o Explorer voltou para
1 Trocadilho com “Road Hog” que significa “condutor perigoso”. (NT)
a sua faixa. O chui continuava colado ao pára-choques de Bubba, que abrandou para enviar a mensagem de que não tolerava encostos, fossem de quem fosse.
— Unidade 2 a Unidade 1. — A voz de Honey no intercomunicador parecia cada vez mais preocupada.
Bubba estava demasiado ocupado para responder à mulher.
— Smudge — disse, voltando a falar com o amigalhaço —, a Abelha Mestra está a zumbir, tenho um gato vadio à cauda e um espigão num desportivo a tentar assoar-me. — Bubba falava em código, informando Smudge que a mulher estava a tentar contactá-lo, que tinha um chui da brigada colado atrás e que um 4x4 conduzido por umpunk estava a tentar enfiar-se à sua frente.
— Vou deixar-te em paz. — Smudge acabou a emissão.
— Falamos mais tarde, pá. — Bubba desligou também.
Por esta altura, o miúdo do Explorer parecia picado e talvez se tivesse tornado violento se não fosse o polícia na outra faixa. Decidiu desistir, mas teve a última palavra, tocando a buzina, esticando o dedo a Bubba e chamando-lhe cabrão. O Explorer desapareceu na corrente de tráfego. Bubba abrandou para comunicar novamente ao chui que se afastasse do seu pára-choques. O chui respondeu-lhe, acendendo as luzes de emergência vermelhas e azuis e tocando a sirene. Bubba encostou num parque de estacionamento do Kmart.
O agente Jack Budget levou o seu tempo a pegar na pasta prateada de alumínio anodizado com as intimações judiciais e na prancheta de mola. Saiu do seu reluzente carro-patrulha branco com riscas azuis e vermelhas, ajeitou o equipamento e aproximou-se do jipe vermelho com o autocolante da bandeira da Confederação no pára-choques traseiro e a matrícula personalizada BUB-AH, que tivera debaixo do nariz durante vários quilómetros. O condutor, um bronco racista, abriu a janela.
— Devo presumir que dá pelo nome de Bub-ah? — perguntou Budget.
— Não, é Bubba — respondeu Bubba com rudeza.
— Mostre-me a carta de condução e o registo de propriedade. — O agente Budget falou igualmente com rudeza, embora talvez o não fizesse se Bubba não tivesse começado.
Bubba tirou a carteira de nylon do bolso traseiro. Ao abri-la para tirar a carta, ouviu-se o ruído do velcro. Procurou o registo no porta-luvas e entregou ambos os documentos ao chui, que os estudou longamente.
— Faz alguma ideia do motivo por que o mandei parar, Mr. Fluck?
— Provavelmente por causa do meu autocolante — afirmou Bubba. Budget recuou para olhar para o pára-choques traseiro do jipe, como se só agora reparasse na bandeira da Confederação.
— Muito bem — disse ele, enquanto imagens de capuzes brancos bicudos e cruzes a arder lhe violavam o espírito. — Continuam a tentar ganhar aquela guerra e a arregimentar negros para lhes apanharem o algodão.
— A Cruz do Sul não tem nada a ver com isso — respondeu Bubba, indignado.
— K quê?
— A Cruz do Sul.
Os músculos do queixo de Budget contraíram-se. Ainda não passara assim tanto tempo desde que apanhava o autocarro para uma das escolas secundárias públicas da cidade, e vira os lugares esvaziarem-se um a um, enquanto outros miúdos negros eram presos ou mortos nas ruas. Chamavam-lhe Sarraceno, Sambo, molengas, macaco, Pai Tomás. Crescera no bairro dos pretos. Mesmo agora, quando o chamavam a casa, certos brancos pediam-lhe que entrasse pelas traseiras.
— Acho que a conhece como a bandeira da Confederação — explicava-lhe o estupor do racista —, embora, na verdade, fosse o estandarte de batalha, também conhecida como Estrelas e Riscas, Bandeira Imaculada, Naval Jack ou Galhardete.
Budget não sabia nada das várias bandeiras oficiais da Confederação que tinham estado em vigor, por várias razões, durante a guerra. Só sabia que odiava os autocolantes e as tatuagens, as T-shirts e as toalhas de praia que via no sul por toda a parte. As bandeiras da Confederação que esvoaçavam de varandas e campas enraiveciam-no.
— Trata-se apenas de racismo, Mr. Fluck — disse Budget friamente.
— Trata-se de direitos estaduais.
— Tretas.
— Pode contar as estrelas. Uma por cada estado da Confederação, mais o Kentucky e o Missouri. Onze estrelas — informou-o Bubba. — Não há um único escravo na Cruz do Sul. Verifique.
— O Sul queria sair porque queria manter os escravos.
— Isso é só uma parte.
— Então, admite que, pelo menos, é uma parte.
— Não admito coisa nenhuma — informou-o Bubba.
— Conduzia de forma irregular — disse o agente Budget, que tinha vontade de arrancar Bubba do jipe e dar-lhe uns murros.
— Não conduzia nada. — Bubba recusou-se a admiti-lo.
— Conduzia, sim.
— Eu, não.
— Eu vinha mesmo atrás de si. Tenho obrigação de saber.
— O puto do Explorer estava a tentar meter-se à minha frente — disse Bubba.
— Tinha o pisca ligado.
— E depois?
— Esteve a beber? — quis saber Budget.
— Ainda não.
— Toma alguma medicação?
— Neste momento, não.
— Mas por vezes toma? — perguntou Budget, pois sabia que algumas drogas e venenos, como a marijuana e o arsénico, permaneciam no sangue por algum tempo.
— Nada que precise de saber.
— Serei eu a julgar isso, Mr. Fluck.
O agente Budget encostou-se mais à janela, na esperança de sentir o cheiro a álcool. Não lhe cheirou a nada.
Bubba tirou um cigarro. Fumava Merit Ultima em vez de outra marca, porque os Merits, assim como os Marlboro e os Virgínia Slims, para só referir algumas, eram fabricados pela Philip Morris. Bubba era muito leal ao seu patrão e a todos os produtos fabricados na América.
Não tinha qualquer intenção de dizer ao agente Budget que tomava Librax para a síndrome do cólon irritado e que, de vez em quando, precisava de Sudafed para controlar as reacções alérgicas aos ácaros do pó, ao bolor e aos gatos. O agente Budget não tinha nada a ver com isso.
— Advil — respondeu ele ao chui.
— Só isso? — perguntou o agente Budget severamente.
— Talvez Tylenol.
— Parece não saber muito bem...
— Veja lá como é que fala — interrompeu-o Bubba.
— ... tem a certeza de que não anda a tomar mais nada? — Budget acabou a frase.
— Não gosto do seu tom e vou dar parte de si ao seu chefe! — exclamou Bubba, enraivecido.
— Dê, Mr. Fluck. Na...
— Está a ver!
— Na verdade, eu marco-lhe uma hora. Pode vê-la, Mr. Fluck, pessoalmente — continuou Budget, incapaz de controlar o rancor que sentia.
— Basta!
Uma multidão de criancinhas cruéis invadiu em tropel o cérebro de Bubba. Cantavam aqueles nomes horríveis em gargalhadas estridentes. Bubba viu-se a si próprio, gordo e de camuflado. Era de mais, já não aguentava.
— Basta o quê? — Budget ergueu igualmente a voz.
— Não sou obrigado a ouvir isto!
— Pode dizer isso à chefe pessoalmente! — exclamou Budget. — Estou-me nas...
— Pare!
— Homem, você tem um problema qualquer — concluiu Budget.
Weed também tinha. Entrou na aula de Biologia a tempo de ver os testes a serem entregues e de ouvir Mrs. Fan corrigir o trabalho de casa que ele não tinha feito.
O seu olhar infeliz vagueou pela sala, pousando em vermes, embriões de veados, escaravelhos, ovos de térmitas e intestinos de cão suspensos em formol e borboletas e peles de cobras pregadas em pranchas. Sentia-se encurralado por Smoke.
Mais tarde, em Civilizações Ocidentais, Mr. Pretty implicou três vezes com ele, pois não soube nenhuma das respostas. Os seus medos avolumaram-se.
A sua fuga foi a aula de Mrs. Grannis. Ensinava Desenho IV e V ao quinto tempo e era muito jovem e bonita, com caracóis louros macios e olhos tão verdes como a erva no Verão. Dissera mais de uma vez a Weed que ele era o primeiro caloiro da história da escola a frequentar a aula dela. Normalmente, só os do décimo primeiro ano podiam ter Desenho IV, e Desenho V só podia ser frequentada pelos do décimo segundo e pelos candidatos à Universidade. Mas Weed era especial. Tinha um talento raro.
Discutira-se muito a questão de colocar de imediato Weed num nível tão avançado, especialmente porque era óbvio que, nas outras áreas, estava atrasadíssimo. Os professores e os conselheiros tinham discutido detalhadamente a questão da sua maturidade e da sua adaptação social. Até Mrs. Lilly, a directora, acabara por ser chamada e propusera que Weed frequentasse uma aula da Universidade da Virgínia ou talvez aulas especializadas no Centro de Artes. Mas a câmara não tinha outros transportes para além dos autocarros da manhã e da tarde, que ele receava perder. Não tinha forma de voltar a meio do dia. Godwin decidiu-se a arriscar.
Weed tinha um tempo livre e a hora de almoço, entre as 11h40 e as 12h30 e precisava de se esconder, pois não queria dar de caras com Smoke num lado qualquer. Estava desesperado e esgalhara um plano
secreto, descarado e esquisito. Às 11h39 entrou na sala de Mrs. Grannis. A sua auto-estima estava em baixo. Tinha medo do que o esperava e viu, pela forma como Mrs. Grannis o olhou, que percebera que alguma coisa se passava.
— Como estás hoje, Weed? — perguntou ela com um sorriso inseguro.
— Gostava de saber se não fazia mal eu ficar aqui a trabalhar no meu tempo livre? — perguntou ele.
— Com certeza. Em que é que queres trabalhar?
Weed olhou para os computadores da bancada do fundo.
— Arte gráfica — disse ele. — Estou a trabalhar num projecto.
— Agrada-me muito saber isso. Há imensas oportunidades de empregos nessa área. Sabes onde estão os CDs — disse ela. — Volto a ver-te ao quinto tempo.
— Sim, minha senhora — respondeu Weed, puxando uma cadeira e sentando-se em frente de um computador.
Abriu uma gaveta onde o software gráfico estava muito bem arrumado em pilhas e tirou o que queria. Inseriu o CorelDRAW na drive do CD e esperou até Mrs. Grannis sair da sala antes de se ligar à America Online.
A seguir ao tempo livre, veio a hora de almoço, mas Weed não tinha intenções de comer. Atravessou apressadamente o átrio em direcção à sala da banda, vazia à excepção de Jimbo “Sticks” Sleeth, que tocava na bateria vermelha.
— Ói, Sticks — disse Weed.
Sticks fazia rufar o bombo, mantendo o ritmo com os pedais. Tinha os olhos fechados e o suor escorria-lhe pela cara abaixo. Weed foi até um armário, de onde tirou a caixa de plástico duro dos pratos. Abriu-a e pegou ternamente no pesado instrumento de bronze. Verificou as alças de couro para se certificar de que os nós estavam bem apertados. Agarrou nas alças, com os indicadores e os polegares a tocarem-se, e inclinou os pratos, mantendo a borda do direito mais baixa que a do esquerdo.
Stick abriu os olhos e acenou com a cabeça. Weed fez soar o prato esquerdo, raspando-o pelo direito, pontuando com o seu som eufórico e animado.
— Força, meu! — gritou Sticks e ele entrou.
Parecia uma batalha musical, com Sticks a marcar o compasso, vibrando e ressoando num ritmo de enlouquecer e Weed a marchar em volta da sala, batendo os pratos, que cintilavam e rodopiavam.
— Vai! Vai! Oh, sim! — Sticks estava frenético.
Weed caminhava num sonho, os sons claros saindo dos pratos, primeiro staccato e alongando-se depois. Não ouviu a campainha tocar, mas acabou por reparar no relógio da parede. Arrumou os pratos e conseguiu chegar à sala de Desenho de Mrs. Grannis quando faltavam ainda dois minutos. Foi o primeiro. Ela estava a escrever num quadro branco e voltou-se para ver quem entrara.
— Adiantaste muito durante o tempo livre? — perguntou-lhe ela.
— Sim, senhora. — Weed desviou o olhar.
— Quem me dera que todos gostassem do computador como tu. — Recomeçou a escrever. — Tens algum software preferido?
— O Quark XPress, o Adobe Illustrator e o Photoshop.
— Bem, tens uma verdadeira aptidão — disse ela, enquanto ele escolhia um lugar a uma das mesas e enfiava a mochila por baixo da cadeira.
— Não custa nada — murmurou Weed.
— Escreveste a história acerca do poder que o teu peixe encerra? — perguntou Mrs. Grannis, continuando a escrever o projecto dessa semana no quadro branco, na sua letra alongada em espiral.
— Escrevi, sim — respondeu Weed, meio amuado, abrindo o caderno.
— Estou ansiosa por ouvi-la — continuou ela a encorajá-lo. — Foste o único da turma a escolher um peixe.
— Eu sei — respondeu ele.
O trabalho das duas últimas semanas fora construir uma figura em papier mâché que fosse simbólica para o aluno. A maior parte escolhera um símbolo da mitologia ou do folclore, como um dragão, um tigre, um corvo ou uma serpente. Mas Weed construíra um peixe azul e cruel. A boca escancarada revelava filas de dentes sangrentos e Weed talhara olhos brilhantes com pequenos espelhos sobrepostos que piscavam a quem passava.
— Tenho a certeza de que os outros alunos também estão ansiosos por saber do teu peixe — continuou Mrs. Grannis, enquanto escrevia.
— A seguir vamos fazer aguarela? — perguntou Weed, interessado, decifrando o que ela estava a escrever.
— Sim. Uma natureza-morta que inclua objectos reflectores, textura. — Escrevia com floreados. — E um objecto a duas dimensões que dê a ilusão de três dimensões.
— O meu peixe é tridimensional — disse Weed —, porque ocupa um espaço real.
— Exactamente. E que palavras usamos nós?
— Por cima, por baixo, por trás e à volta — recitou ele.
Em arte, Weed conseguia lembrar-se das palavras, que não precisavam de estar sublinhadas.
— Isolado ou rodeado por áreas negativas — acrescentou ele. Mrs. Grannis pousou o marcador do quadro branco.
— E como é que achas que tornavas o teu peixe tridimensional, se ele fosse bidimensional?
— Luz e sombras — disse ele com à-vontade.
— Claroscuro.
— Só que eu nunca consigo pronunciar isso — disse-lhe Weed. — É o que fazemos para conseguir que um desenho de um copo de vinho pareça tridimensional em vez de plano. O mesmo para uma lâmpada, um gelado ou até as nuvens no ar.
Weed olhou em redor, para as caixas com pastéis e o papel Grumbacher de 140 g que só recebia para os esboços finais. Havia prateleiras cheias de cola Elmer e lápis de cores e cargas de tintas de têmpera Crayola, que ele usara no peixe. Numa bancada ao fundo da sala, os terminais de computadores para gráficos recordaram-no do que fizera em segredo.
Nesta altura, os outros alunos entraram na sala e puxaram as cadeiras. Cumprimentaram Weed no seu jeito terno, mas simultaneamente bruto.
— Ói, Weed Garden, tudo bem?
— Como é que chegas aqui sempre antes de nós? Estás a fazer o trabalho de casa mais cedo?
— Já acabaste o Mono Lisa?
— Tens tinta nos jeans.
— Eh, a mim não me parece tinta. Estiveste a sangrar, meu?
— Não — mentiu Weed.
O olhar de Mrs. Grannis escureceu quando olhou para ele e para os jeans. Weed podia ver um ponto de interrogação dentro dum balão sobre a cabeça dela, mas não disse nada.
— Todos prontos para ler o que escreveram sobre os vossos símbolos? — Voltou a sua atenção para a turma.
— Gemido.
— Não consigo perceber o significado do meu.
— Ninguém disse que tínhamos de escrever. — Vamos falar de símbolos durante um minuto. — Mrs. Grannis acalmou-os. — O que é um símbolo? Matthew?
— Algo que significa outra coisa.
— E onde os encontramos? Joan?
— Em pirâmides. E em jóias.
— Annie?
— Nas catacumbas, para que os cristãos se pudessem exprimir em segredo.
— Weed? Onde mais podemos encontrar símbolos? — O rosto de Mrs. Grannis contorceu-se de ansiedade quando olhou para ele.
— Em rabiscos e naquilo que eu toco na banda.
Brazil estava à secretária, a fazer desenhos num bloco, tentando inventar um logotipo para o boletim informativo, enquanto a presidente da Comissão Estadual Contra o Crime o punha doido, falando sem parar pelo altifalante do telefone.
— Penso que é um erro de cálculo apavorado1 — proclamava a voz altiva e enfática de Lelia Ehrhart.
Brazil baixou o som.
— Sugerir e até dar a entender que podemos ter gangs aqui é criar um — afirmava ela.
O logotipo era para a página da Web e tinha que chamar a atenção e, uma vez que se decidira que CPR estava ultrapassado, Brazil tinha de começar do nada. Odiava boletins informativos, mas Hammer fora muito insistente.
— E nem todas as crianças são pequenos gangsters. Muitas delas são mal orientadas, mal desencaminhadas, maltratadas e insultadas e necessitam da nossa ajuda, agente Brazil. Fixarmo-nos sobre os poucos maus, especialmente os que se juntam em pequenos grupos a que chamamos gangs, é dar ao público uma visão muito errada, inexacta e
1 Esta personagem comete muitos erros de vocabulário e sintaxe, pelo facto de o inglês não ser a sua língua materna. Tentou-se obter o mesmo efeito na tradução. (NT)
falsa. A minha comissão é completamente toda pela prevenção e fazer isso antes do resto. Foi o que o governador ordenou para nos dizerem para fazer.
— O governador anterior — lembrou-a educadamente Brazil.
— O que é relevante nisso e o que é que importa? — contestou Ehrhart, que fora criada em Viena e na Jugoslávia e não falava inglês correctamente.
— Importa, porque o Governador Feuer ainda não nomeou a nova comissão. Penso que não é boa ideia estarmos a fazer suposições sobre as suas políticas e nomeações, Mrs. Ehrhart.
Houve uma pausa ultrajada.
— Está a insinuar que ele talvez desintegre a minha comissão e a desfaça? Que ele e eu possamos ter um problema na minha relação? — interpôs Ehrhart.
Brazil sabia que um logotipo bem pensado devia atrair a atenção sem exagerar. Talvez por estarem a falar de gangs, Brazil escrevinhou de repente Richmond D.P. em estilo de graffiti.
— Uau! — murmurou ele, excitado.
— Uau o quê? — A voz irada de Ehrhart enchia o escritório.
— Desculpe. — Brazil recompôs-se. — Estava a dizer...?
— Exijo que diga a mim quando disse nau agora há bocado — exigiu ela.
A figura da chefe Hammer apareceu à porta. Brazil fez uma expressão de desespero e levou o dedo aos lábios.
— Penso que está a ficar impertinente! — continuou Ehrhart.
— Não, minha senhora. Não disse uau em relação a nada que tenha a ver consigo — respondeu Brazil honestamente.
— Ah sim? E isso queria dizer hipoteticamente o quê?
— Estou a trabalhar numa coisa e foi por isso que disse aquilo.
— Oh, estou a ver. Aqui estou eu a gastar o meu caro tempo a chamar o seu telefone e o senhor está a trabalhar noutra coisa para além da nossa conversação enquanto falo consigo?
— Sim, senhora, mas estou a ouvi-la. — Brazil tentou não se rir ao olhar para Hammer, que nunca achava graça a Ehrhart.
West entrou na sala.
— O que... — começou ela a dizer.
Hammer fez-lhe sinal para ficar calada. Brazil enfiou o lápis entre os dentes e entortou os olhos.
— O resultado, agente Brazil, é que eu simplesmente não aprovo a permissão de afirmações da comissão na sua próxima coluna, seja sobre o que vai ser, em termos dos chamados gangs. Nesta matéria, está suspenso sozinho de um ramo por um fio.
Brazil arrancou o lápis da boca e anotou a frase. West lançou-lhe um olhar ameaçador e Hammer abanou a cabeça, descontente.
— Nós, membros da Comissão Estadual Contra o Crime, somos pró-defensores das crianças, não caçadores de prémios — continuou ela a pregar. — Mesmo que as crianças formulem pequenos grupos, o que quando agora é perfeito e normal, certamente todos nós tivemos os nossos chavões onde estávamos na escola e colar etiquetas neles de gangs é como todos estes milhões de factos mal falados sobre homens bem-intencionados que fazem de Pai Natal serem todos abusadores de crianças, ou que os palhaços são, ou que a Internet se torna nisso. E é assim que estas coisas têm o seu início. Por causa do poder de sugestão que os media têm. Não olha como abriu uma comporta inundada? Portanto, peço-lhe com razoável que enfie uma estaca nesse buraco redondo imediatamente.
Brazil mordia a mão. Pigarreou várias vezes.
— Compreendo o que está... — A voz dele subiu de tom e falhou. Pigarreou novamente, com lágrimas nos olhos e o rosto vermelho, enquanto tentava controlar o riso que rapidamente se tornava histérico. Como sempre, Hammer parecia querer torcer o pescoço a Lelia Ehrhart e a expressão de West era muito semelhante à da chefe.
— Então, devo felizmente fazer o supor que não vamos ouvir mais nada sobre essa parafernália de gangs? — perguntou Ehrhart, que era famosa pela sua criatividade linguística.
Brazil não conseguia falar, pura e simplesmente.
— Está aonde?
Brazil carregou em vários botões ao mesmo tempo para dar a impressão de que havia problemas na linha. Devagarinho, pressionou o botão de desligar e colocou o auscultador no descanso.
— Parafernália de gangs! — Ria tanto que perdera as forças.
— Maravilhoso — disse West. — Agora vai telefonar-nos. Que modos, Andy. Sempre que falas ao telefone com ela, é isto. Depois, ela telefona-me a mim ou à chefe. Obrigadinha!
— Temos que discutir umas coisas — anunciou Hammer, entrando na sala.— Deixamos Lelia para depois. Mesmo assim, ela já nos fez desperdiçar demasiado tempo.
— Por que é que não diz qualquer coisa ao Governador Feuer? — perguntou Brazil, enquanto respirava fundo e limpava os olhos.
— Digo, se ele me perguntar — retorquiu Hammer. — Precisamos de um manual do utilizador muito simples para o COMSTAT. Temos de resolver esta coisa do computador. Há quanto tempo é que andamos nisto? Três meses? Um quarto do ano já se foi e eles nem sequer conseguem ainda usar o programa. Não vêem como isto é sério?
— Sim. vejo — Brazil estava novamente sério. — Se não lhes deixarmos ao menos isso, acho que falhámos.
— Lamento ter que vos dar mais que fazer, mas precisamos do manual o mais depressa possível.
— O que é para si o mais depressa possível? — perguntou West cheia de suspeitas.
— Daqui a duas semanas, no máximo.
— Meu Deus! — West sentou-se no sofá mais pequeno. —Já estou a trabalhar de dia e faço rondas com a patrulha, os detectives, os inspectores, eu sei lá.
— Eu também — disse Brazil. — E ainda tenho esta coisa da página da Web.
— Eu sei, eu sei. — Hammer interrompeu-se e olhou pela janela para os contornos da cidade. — Tenho o meu computador em casa. Vou dar uma ajuda. Estamos juntos nisto e, portanto, o que é preciso é distribuir as tarefas. Andy, tu percebes mais de programação, comandos e coisas dessas. Podes tratar da parte técnica, de como proceder e tu, Virgínia, podes ajudar a pôr isso em termos simples e práticos, só o essencial, de forma a que os polícias entendam.
West não sabia muito bem se fora insultada ou não.
— Eu vou tentar incorporar os conceitos, a filosofia, pôr tudo no devido contexto — disse Hammer. — Depois, Andy, tu é que és o escritor, podes compilar tudo.
— Concordo que isto tem de ser feito — disse West —, mas se quer saber, a única coisa que vai fazer com que os tipos confiem no COMSTAT é vê-lo a funcionar.
— Não podem ver se funciona se não souberem trabalhar com ele — retorquiu Hammer com toda a lógica.
A chefe saiu do escritório e Brazil e West olharam um para o outro.
— Merda — disse West. — Vê só no que nos meteste!
— Eu! — exclamou Brazil.
— Sim, tu.
— Foi ela que sugeriu o manual do utilizador, não eu.
— Ela não o teria feito se não fosses escritor. — West via a fraqueza do seu argumento, mas não recuava.
— Oh, estou a ver. Então, agora a culpa de tudo é minha, só porque sei fazer uma coisa de forma geral e me pediram que a usasse em algo específico e te pediram, a ti, que desses uma ajuda ou coisa assim.
West demorou um momento a decifrar isto.
— O que é que queres dizer com coisa assim? — perguntou ela. — A mim, parece-me que o meu envolvimento é mais do que uma coisa assim.
O telefone de Brazil tocou.
— Brazil. Oh, olá. — A voz dele suavizou-se e calou-se enquanto a outra pessoa falava. — É tão atenciosa — disse Brazil, escutando novamente. — O lugar do costume está óptimo — disse ele, enquanto a voz continuava a pairar. — Fico à espera — disse Brazil. — Tenho de desligar. — Desculpa — disse ele a West.
— Fazes alguma ideia de como vou detestar ter de escrever instruções para computador? — perguntou ela numa voz incerta e tensa, imaginando a bela e rica senhoria de Brazil. — E não deves fazer chamadas pessoais no trabalho!
— Não fiz. Foi ela quem me telefonou. E não és tu que tens de escrever, sou eu — retorquiu Brazil.
— Bem, depois de tudo pronto, escrever é a parte mais fácil. A ira de Brazil aumentou.
— Não tens o direito de dizer que é fácil — insistiu ele.
— Tenho o direito de dizer o que quiser — respondeu ela.
— Não, não tens.
— Tenho, sim senhor — manteve ela.
— Então escreve tu.
— Foda-se, não — respondeu ela. — Já tenho bastante que fazer.
— Por favor — disse uma voz por detrás deles.
Fling segurava a sua agenda de reuniões, do lado de fora da porta, com receio de entrar. West e Brazil pararam de se picar e olharam para ele.
— Vou pôr-me a andar. — West saiu.
— Agente Brazil — disse Fling —, só queria recordar-lhe a sua palestra na Escola Secundária Godwin, à Ih56. Penso que vai falar aos alunos no auditório?
— Bolas — murmurou Brazil, olhando para as horas. — Sabe o caminho para lá?
— Não — disse Fling. — Não andei nessa escola.
— Quê? — Os pensamentos de Brazil voavam.
— Andei na Hermitage — disse Fling.
— Espere aí. — Brazil deu um salto da secretária. — Virgínia, anda cá!
— Na Hungary Springs Road. — Fling enterneceu-se com as recordações. —- Sabe, Godwin não é a única boa escola cá do burgo.
West voltou a entrar no escritório, provocadora no seu fato de caqui, que condizia com a cor escura dos olhos e o ruivo do seu cabelo. Tinha o corpo em muito melhor forma do que merecia, dado o pouco que fazia para ajudar.
— O que é? — perguntou ela impacientemente.
— Também tem de ir à Hermitage. Sabe, falar com os alunos. — Fling não se calava. — É o problema de ir falar a uma das escolas. E depois as outras?
— Caso te tenhas esquecido — disse Brazil a West, atando os atacadores das suas botas Rocky —, tens de vir comigo a Godwin.
— Merda — respondeu ela.
A Oficina de Desempanagem Muskrat era a segunda casa de Bubba e, naquele dia em especial, sentia-se grato por isso. Não tinha importância que o agente Budget o tivesse deixado ir-se embora só com uma advertência. Bubba ficara traumatizado. O chui fora mal-educado. Recordara-o de velhas injúrias e humilhações e depois fora injusto e desagradável, afirmando que ele é que tinha preconceitos.
A oficina de Muskrat ficava por trás da sua casa de tijolo, num terreno cheio de ferro-velho junto de Clopton Street, entre Midlothian e Hull. A vedação que rodeava a garagem e as restantes instalações era feita de velhas travessas de caminho-de-ferro, empilhadas como troncos. Viam-se transmissões espalhadas pelo chão de terra e protecções de escapes cobertas com garrafas de óleo de plástico para as proteger da chuva. Carros, carrinhas e pickups, um reboque e um velho carro de bombeiros usado todos os anos no Desfile das Azáleas estavam parados onde Muskrat os deixara da última vez. Bubba encostou junto da porta aberta da oficina, desligou o motor e saiu.
Por um momento, o reino automóvel de Muskrat, que podia muito bem passar por uma oficina de personalização se a maioria das peças não estivesse enferrujada e pertencesse à fase anterior da evolução mecânica, animou-o um pouco. Bubba contornou um velho macaco pneumático e uma prensa de rolamentos. Serpenteou por entre vários vasos, rolos de mangueiras, guarda-lamas, faróis, capotas, pára-choques, bancos de automóvel, pilhas de lenha cortada e barris de duzentos e cinquenta litros, cheios a deitar por fora com peças velhas.
Embora raramente falasse disso, estava convencido de que existia um Triângulo das Bermudas dos automóveis. Acreditava que os carros e camiões levados pelas inundações e pelos tornados, ou que tinham simplesmente desaparecido e sido dados como roubados, acabavam em locais como a oficina de Muskrat, onde seriam reparados e utilizados para ajudar os homens a continuar a sua viagem por esta vida. Bubba tencionava mandar a sua opinião para o Click and Clack’s Car Talk na Internet, ou talvez para a sua preferida, Miss Lonely Parts, uma colunista associada que, na verdade, era um homem.
— Ói, Scrat — chamou Bubba.
Entrou na garagem, onde uma mistura de óleo de motor usado e lenha ardia numa velha fornalha.
— Scrat? Onde diabo estás? — chamou novamente Bubba.
Nem sempre era fácil localizar Muskrat por entre o amontoado de radiadores, baterias, vasilhas de óleo, pistolas de lubrificação, serras, cabos de reboque, correias, condutas de gás, mangueiras de aspiração, cabos de ligação artesanais, bancadas feitas com velhas rodas de Foras, embraiagens. Havia placas de pressão empilhadas como donuts em pedaços de tubos de escape. Havia trituradores, uma grua para tirar motores e centenas de chaves-inglesas métricas e imperiais, cremalheiras, pinças, formões, sovelas, tornos, prensas, molas, pontas de brocas, velas, marretas e martelos.
— Por que raio tens o aquecimento ligado, Scrat?
— Para não me doerem as articulações. O que é que tentaste arranjar desta vez? — A voz de Muskrat soava abafada, vinda da parte de baixo de um Mercury Cougar.
— Qwew é que tentou? — acusou-o Bubba.
Muskrat estava deitado de costas num tapete rolante. Rolou de debaixo do carro, aparecendo subitamente, um feiticeiro num fato-macaco azul, com um boné da N AP A Auto Parts.
— Que queres dizer com tentei? — perguntou Muskrat, que tinha pelo menos setenta anos e umas mãos ásperas e rijas como cornos.
— O pára-brisas está outra vez a meter água — informou-o Bubba. — Foste tu o último a arranjá-lo.
— Pois, pois — disse Muskrat ironicamente, enquanto arrancava uma toalha de papel de um rolo industrial por cima dele e começava a limpar os óculos. — Bem, mete-o aqui dentro, Bubba. Vou dar uma olhadela, mas já te tenho dito que tens de mandar os tipos do Harding Glass porem um pára-brisas novo. Ou, então, deita fora aquela merda e arranja um carro que não se avarie constantemente.
Bubba saiu da garagem sem escutar. Entrou no jipe e ligou o motor, sentindo a raiva picá-lo. Não podia acreditar que o seu amigalhaço Srnudge o tivesse enganado. Smudge não lhe podia ter vendido um carro de merda. Essa possibilidade ressuscitava outras injustiças, enquanto estacionava dentro da garagem, no lugar ao lado do Cougar e descia.
— Vou dizer-te, Scrat, há cada vez mais brutalidade policial nesta cidade — anunciou Bubba.
— Ah, sim? — murmurou Muskrat, começando a observar o pára-brisas.
— Algo me diz que tenho de fazer alguma coisa.
— Bubba, há sempre algo a dizer-te qualquer coisa.
— Há indícios, demasiado complexos para analisar, de que a nova chefe, aquela mulher que acabou de chegar, precisa da minha ajuda, Scrat.
— E os teus indícios são sempre complexos, Bubba. Se fosse a ti, não me metia.
Bubba não conseguia deixar de pensar na chefe Hammer. De manhã ouvira o nome dela no seu telemóvel. Havia uma razão para isso, não fora por acaso.
— É altura de nos mobilizarmos, Scrat.
— A quem te referes?
— Aos cidadãos como nós — disse Bubba. — Temos que nos envolver.
— Não consigo encontrar nenhuma infiltração — disse Muskrat.
— É aqui mesmo. — Bubba apontou para a parte de cima do pára-brisas, junto do espelho retrovisor. — A água pinga deste sítio aqui. Queres um cigarro?
Bubba puxou de um maço.
— Tens de reduzir, pá — disse Muskrat. — Usa pastilha elástica. É o que eu faço para matar o vício quando estou ao pé de gasolina e dessas coisas.
— Esqueces-te que não posso por causa dos maxilares. Põem-me doido. — Bubba mexeu-os de um lado para o outro.
— Disse-te para não pores essas malditas coroas — disse Muskrat, enquanto ia buscar um spray cheio de água e desenrolava um tubo pneumático. — Provavelmente, ficavas mais bem servido se ele tos arrancasse todos e te pusesse um par de placas como eu tenho.
Muskrat sorriu, exibindo as dentaduras.
— Vou lá para dentro com o tubo e, quando te disser, começas a deitar água — explicou Muskrat.
— É o mesmo que fizemos da última vez — disse Bubba — e não valeu de nada.
— É como arranjar esses teus dentes — insistia Muskrat, enquanto se sentava no lugar do condutor. — Só precisas de ir ao dentista. No teu lugar, arranjava uns que não parecessem teclas de piano. E é mais que certo que tens de substituir este pára-brisas. O carro teve um acidente. — Muskrat já lhe tinha dito isso. — É por isso que nada corre bem, por isso e por estares sempre a tentar arranjá-lo sozinho, Bubba.
— Não teve nenhum acidente, pá — disse Bubba.
— Ai isso é que teve. De onde pensas que veio todo aquele Bondo, da fábrica?
— Não admito que fales assim de Smudge — declarou Bubba.
— Não mencionei Smudge.
— Smudge é meu amigo desde que andámos juntos na catequese, há séculos.
— Quando ias à igreja e ouvias o teu pai — recordou-lhe Muskrat. — Não te esqueças que eras filho do pastor.
Bubba ficou em choque ao recordar-se de um certo nome insultuoso de que já se esquecera. Por um momento, não conseguiu falar e sentiu a barriga dar sinal.
— Só estou a realçar, para teu próprio bem, Bubba, que Smudge não ficou nada prejudicado por ser bem visto pelo pastor. Nem toda a gente tem tão boa opinião de Smudge como tu.
Muskrat conhecia todas as histórias sobre donos de automóveis que necessitavam de reparações, incluindo o Dodge Dart que pertencia a Miss Prum, a directora de educação cristã da histórica Segunda Igreja Presbiteriana do centro da cidade, onde o Dr. But Fluck fora pastor principal.
— Olha, já são seis e meia e hoje à noite entro de turno mais cedo, como se o meu dia não tivesse sido suficientemente mau. Portanto, acho melhor tratarmos desta infiltração — disse Bubba, no momento em que chegou um Escort que parou fora da oficina.
— Estou a ir o mais depressa possível — disse Muskrat.
Tirou o forro do tecto juntamente com a cobertura de papelão e examinou a borracha de poliuretano negro que vedava o conjunto.
— Pelo menos, não tentaste arranjar isto sozinho — observou Muskrat.
— Não tive tempo — respondeu Bubba.
— Ainda bem, porque normalmente só pioras as coisas — disse Muskrat com sinceridade.
Não viram entrar o miúdo com bom aspecto até ele estar tão perto que os assustou.
— Boa tarde — disse ele. — Não queria assustá-los.
— Não se aproxime assim das pessoas, filho — avisou-o Muskrat.
— Tenho uma janela encravada — informou-o o miúdo.
— Bem, vá ali para trás e aguente — disse Muskrat. — Vou ter consigo assim que me despachar disto.
A Bubba apetecia-lhe discutir mais um pouco.
— Fui eu quem fez a instalação eléctrica do engate do meu reboque — disse ele.
— E puseste as luzes dos piscas ao contrário — retaliou Muskrat.
— E depois, grande coisa!
— Bem, eu vou recordar-te uma coisa grande. Lembras-te da correia de serpentina? — continuou Muskrat.
— As instruções não eram claras — respondeu Bubba.
— Bem, andaste numa guerra com ela aí umas cinco-horas e conseguiste montá-la mal — a parte estriada com a lisa, em vez de estriada com estriada e lisa com lisa e, evidentemente, ficaste sem alternador, direcção mecânica e bomba de água. Tiveste sorte em não gripar o motor e teres de comprar um novo. Bubba, podes começar a pulverizar.
— Desculpe — disse o miúdo educadamente —, sabe se vai demorar muito?
— Tem de aguentar um minuto — disse-lhe Muskrat.
Bubba fez deslizar o spray pela parte superior do pára-brisas, borrifando junto do espelho retrovisor, enquanto Muskrat soprava ar comprimido no vedante pelo lado de dentro.
— Antes disso — Muskrat continuou onde parara —, substituíste o interruptor a mercúrio da mala e também fizeste mal. A luz da mala ficava sempre acesa e a bateria andava sempre em baixo. Antes disso, foi a substituição dos travões; puseste o calço ao contrário e, na vez anterior, esqueceste-te de pôr a mola antivibração, o gancho em ferradura do travão de emergência, e a alavanca caiu no tambor.
Bubba piscou um olho ao miúdo, dando a entender que Muskrat estava a exagerar. Este dirigiu-se a uma bancada, onde um radiador estava a aquecer vários tubos de poliuretano SikaTack Ultra-rápido. Pegou numa pistola de calafetagem e enfiou-lhe um dos tubos.
— Lembras-te daquela vez em que te esqueceste da porca de fixação e o eixo do pneu caiu, seguido de ambas as rodas? — Muskrat não desistia.
— Não há ninguém como ele para uma boa história — disse Bubba ao miúdo.
A água pingava do lado de dentro do vidro. Muskrat espalhou um bom bocado de poliuretano preto, lambendo o dedo e carregando com força. Saiu do carro e fez o mesmo do lado de fora.
— Temos de esperar cerca de quinze minutos para testar — disse ele — A verdade é que nenhum dos vedantes deste carro está em condições. Aposto que sentes muito barulho do vento.
Bubba não ia admiti-lo. Muskrat dirigiu-se à lata de solvente e mergulhou as mãos no fluido turvo.
— De que precisa? — perguntou ele por fim ao miúdo.
— O elevador da janela esquerda de trás não funciona. — O jovem foi educado, mas tinha um olhar duro.
— Provavelmente, foi o motor que se avariou — disse logo Bubba, o ás da mecânica. — Mas vai ter de esperar. Eu cheguei primeiro.
— Temos uns minutos — disse Muskrat a Bubba. — Deixa-me lá ir tratar dele.
Secou as mãos e saiu, dirigindo-se ao Escort. Abriu a porta de trás e fez saltar o forro, enquanto o jovem observava o que o rodeava.
— Bubba, e que tal dares-me o alicate de electricista — pediu Muskrat. — Está com sorte — disse ao jovem cliente. — Não é o interruptor nem o motor. Tem um fio desligado entre a porta e o batente. Só tenho de o unir. A propósito, como é que se chama?
— Smoke.
— Esse, nunca ouvi — comentou Muskrat.
— É como toda a gente me chama. — Smoke encolheu os ombros. — Espero que consiga resolver o seu problema — disse ele então para Bubba. — Sou novo por aqui, mas as pessoas parecem muito simpáticas.
— O Sul é assim — gabou-se Bubba.
— O senhor deve ser daqui.
— Não podia ser de mais lado nenhum. Na verdade, ainda sou mais sulista do que dantes.
— Como assim? — perguntou Smoke, com um sorriso que podia ter sido interpretado como ligeiramente desdenhoso, se Bubba tivesse prestado atenção.
— Nasci na zona norte e mudei-me para a zona sul.
— Ah sim? Para onde?
— Forest Hills. Em Clarence — disse Bubba, lisonjeado pelo interesse do rapaz e pela forma atenciosa com que se lhe dirigia. — A minha casa não tem que enganar. É a que tem a cadela de caça na casota. Half Shell. Ladra sem parar e não faz mal a uma mosca.
— Se ladra sem parar, não é lá grande guarda — disse Smoke.
— Lá nisso tem razão. .
— Vai à caça com ela?
— Não falho uma ida — respondeu Bubba.
— Parece que todos nós, sulistas, adoramos armas.
— Pode crer.
Muskrat torceu os fios que tinha escarnado e terminou.
— Quando eu tinha a sua idade — disse Bubba a Smoke — comecei a arranjar coisas destas sozinho.
— Não tenho muita inclinação para a mecânica — respondeu Smoke.
— Pode desenvolvê-la, filho. — Bubba sorria. — Saia e compre as ferramentas certas, alguns livros e depois é por tentativa e erro. O mesmo com as coisas em casa. Podemos construir o nosso próprio telheiro, arranjar o telhado — que diabo, há pouco tempo comprei uma porta de garagem no Sears e instalei-a sozinho.
— A sério? — admirou-se Smoke. — Com controlo remoto-e tudo?
— Pode crer. Dá uma satisfação que o dinheiro não paga — explicou Bubba.
— Deve ter cá uma oficina! — exclamou Smoke.
— Tive que alargar a garagem. Tudo, desde alicates de juntas até um compressor de ar DeVilbiss de nível 7.6 CFM a 40 PSI e 5.6 CFM a 90, passando por ferramentas de diagnóstico como o Sensor Snnpro Probe para poder testar a pressão ibsoluta múltipla, o fluxo de massa de ar e ainda sensores de palheta de fluxo de ar.
— Não preciso de merdas dessas e tu também não, Bubba — informou-o Muskrat. — Pelo menos, sei usar aquilo que tenho.
Muskrat voltou a fixar o painel da porta e levantou-se. Sentou-se no banco do condutor, ligou o motor e experimentou a janela, que subiu com um ligeiro zumbido.
— Suave como a seda — anunciou ele com orgulho, limpando as mãos às calças.
— Ena, obrigado — disse Smoke. — Quanto lhe devo?
— A primeira vez é por conta da casa — respondeu Muskrat.
— Ena, muitíssimo obrigado — disse Smoke.
É verdade, a Feira de Armas e Facas é daqui a duas semanas — lembrou-se Bubba subitamente. — Ando à procura de dois pentes de vinte cartuchos para a minha 92FS M9 Edição Especial, a melhor pistola militar do mundo. Tenho que ta mostrar, Muskrat. Vem com cinturão, coldre e estojo para cartuchos. É a mesma que foi usada na Causa Justa, na Tempestade no Deserto, no Escudo do Deserto, na Devolver a Esperança, no Defesa Conjunta.
— Conta lá -— disse Muskrat.
— Estou a pensar se não devia ter comprado o estojo de luxo. Nogueira, com tampa de vidro gravada. E pegas de nogueira — lamentava-se Bubba.
— Não seria tão prático, se pensas usá-la.
— É claro que penso. Uma Winchester de alta potência, grão 115 Silvertip.
— Por que é que não está na escola? — perguntou Muskrat a Smoke.
— Tive um tempo livre. Na verdade, tenho de voltar para lá. Muskrat esperou até Smoke entrar para o carro e arrancar.
— Reparaste nos olhos daquele rapaz? — perguntou Muskrat. — Parecia que tinha estado a beber.
— Como se eu e tu não o fizéssemos naquela idade — respondeu Bubba. — Então, o que é que achas? O uretano já estará suficientemente duro?
— Deve estar. Mas não alimentes muitas esperanças.
Usaram novamente o compressor e o spray. A infiltração continuava lá. Muskrat levou o seu tempo a estudar o problema até ter percebido.
— Tens uma fenda muito fina na junta do tejadilho — concluiu ele.
Weed recusou-se a ler a sua história, fazendo com que Mrs. Grannis duvidasse que a tivesse escrito. Ficou muito desapontada e os outros alunos da turma não sabiam o que pensar. Weed mostrara-se sempre tão disponível, o menino-prodígio da aula de desenho. Agora, subitamente, deixava de cooperar e mostrava-se pouco comunicativo. Quanto mais Mrs. Grannis o pressionava, mais obstinado ficava, chegando até a ser mal-educado.
— A razão por que fiz o peixe é cá comigo — disse ele, tirando a mochila de debaixo da mesa.
— Tinhas um trabalho, como todos os outros — disse Mrs. Grannis com firmeza.
— Mais ninguém fez um peixe. — Weed ergueu o olhar para o relógio.
— Mais uma razão para querermos ouvir a tua história — respondeu Mrs. Grannis.
— Então, Weed...
— Lê lá...
— Assim não é justo. Ouviste a nossa.
Era 1h48. O quinto tempo terminava daí a três minutos. Mrs. Grannis parecia zangada. Weed estava impossível, sentado muito direito na cadeira, com a cabeça curvada, como se estivesse à espera de que lhe batessem. Incomodados, os colegas mexiam-se nas cadeiras, à espera do toque.
— Bem — Mrs. Grannis quebrou o silêncio —, amanhã iniciamos as aguarelas e não se esqueçam de que, a seguir, temos uma actividade importante.
Henry Hamilton era lançador da equipa de basebol, a estrela da escola, e detestava qualquer actividade que o obrigasse a ficar sentado depois das duas da tarde. Fez uma careta, afundou-se na cadeira e suspirou alto. Eva Grecci fez o mesmo porque estava apaixonada por Hamilton. Randy Weispfenning também não ficou contente.
Temos dois agentes policiais muito importantes que foram colocados em Richmond pelo Instituto Nacional da Justiça — explicou Mrs. Grannis. — Concordaram amavelmente em vir cá hoje falar connosco.
— Sobre quê?
— Sobre o crime, suponho eu — disse Mrs. Grannis.
— Estou farto de ouvir falar disso.
— Eu também. A minha mãe até já deixou de ler o jornal.
— O meu pai acha que eu devia começar a trazer um colete à prova de bala para a escola — riu-se Hamilton, baixando-se quando Weispfenning lhe tentou dar uma palmada.
— Isso não tem graça — disse Mrs. Grannis.
A campainha tocou. Deram todos um salto, como se houvesse fogo.
— Vamos lá ver o feiiiiticeeeiiiroo... — cantou Hamilton e começou a dar pulinhos por uma Yellow Brick Road1 imaginária.
Eva Grecci riu-se demasiado alto.
— Weed — chamou Mrs. Grannis. — Quero falar contigo.
Ele arrastou-se de mau humor até à secretária da professora. A sala esvaziou-se, deixando-os sozinhos.
— Foi a primeira vez que não entregaste um trabalho — disse ela suavemente.
Ele encolheu os ombros.
— Queres dizer-me porquê?
— Porque sim. — Encolheu novamente os ombros, enquanto as lágrimas espreitavam.
— Isso não é resposta, Weed.
Ele piscou os olhos, desviando o olhar. Dentro de si, fervilhavam vários sentimentos. Daí a uma hora tinha de ir ter com Smoke ao parque de estacionamento.
— Não consegui começar — disse ele, pensando na história com cinco páginas escondida na sua mochila.
— Isso surpreende-me muito — disse ela, medindo as palavras. Weed não disse nada. Passara metade de sábado a escrever quatro versões da história, antes de passar a cópia final com todo o esmero, a marcador negro e com as letras muito bem desenhadas, na caligrafia
Referência ao filme O Feiticeiro de Oz. (NT)
que aprendera num kit e que modificara para o seu estilo ousado e intenso, totalmente original. Ouviu-se o segundo toque.
— Temos de ir para o auditório — disse Mrs. Grannis. Sentiu-a perscrutar-lhe o rosto, procurando uma resposta. Weed sabia que ela tinha esperança de que a escola não tivesse cometido um erro ao colocá-lo no nível mais avançado de Desenho.
— Não quero ir ouvir os tais polícias — disse-lhe Weed.
— Weed! — Não havia negociação possível. — Vais sentar-te ao pé de mim.
Brazil estacionou o carro de serviço na zona exterior à entrada principal da escola e, apesar das suas constantes queixas durante a viagem, sentiu-se feliz por estar ali, ao sair do carro e ver os alunos aglomerando-se à volta deles, a olhar. Não lhe ocorreu que a sua figura alta e bem-feita, de uniforme, era impressionante e que talvez tivesse alguma coisa a ver com a atenção de que era tantas vezes alvo.
Na verdade, nunca aceitara o seu aspecto físico. Em parte, isso devia-se ao facto de ser filho único, entregue à mercê de uma mãe que fora sempre demasiado infeliz e que acabara totalmente alcoolizada, incapaz de o ver como alguém independente dela própria. Quando olhava para ele, via uma projecção indistinta do marido, que morrera quando Brazil tinha dez anos. Durante os seus ataques de fúria, era com o falecido pai de Brazil que berrava, era a ele que batia e implorava que não a deixasse.
— Fazes alguma ideia para onde diabo vamos? — perguntou West, fechando a porta do carro.
Brazil olhou para as notas que Fling lhe dera.
— Entrar e virar à esquerda — leu ele.
— Entrar por onde?
— Hum — Brazil olhou outra vez. — Não diz. Temos de passar por uma porta, continuar por um átrio verde, passar outra porta até encontrar uma azul e vermos um placar com fotografias.
— Foda-se! — exclamou West, começando a andar.
— Depois — disse Brazil —, não há que enganar.
— é uma conspiração. Estou a dizer-te, Andy. Fizeram de propósito para Hammer ficar com Fling, para a lixarem.
— Não sei — disse Brazil, abrindo uma das portas principais para ela, entrando ambos no átrio. — Ele trabalhou com o chefe anterior durante três anos.
— Esse chefe também foi despedido por incompetência.
Ah! — Brazil descobriu uma bonita professora, ainda nova, acompanhada por um dos alunos. — Desculpe — disse-lhe Brazil, sorrindo —, estamos a tentar encontrar o auditório. Sou o agente Brazil e esta é a chefe-adjunta West.
. Evidentemente — respondeu Mrs. Grannis entusiasticamente. íamos agora mesmo a caminho de lá para o ouvir. Sou Mrs. Grannis e este é o Weed. Podem seguir-nos, é mesmo aqui em frente. Tenho a certeza de que já estão todos sentados e cheios de expectativa.
— O que é que achas? — perguntou Brazil a Weed.
— Nada — respondeu ele.
— Ah, vá lá — disse Brazil. — Ouvi dizer que aqui ensinam muito mais do que nada.
— Weed é o nosso melhor artista — explicou orgulhosamente Mrs. Grannis, dando-lhe palmadinhas no ombro.
Ele afastou-se dela, fazendo um esgar que era uma combinação de hostilidade e vontade de chorar.
— Isso é fixe — disse Brazil, encurtando o passo largo. — Que tipo de arte, meu?
— Aquilo que quiser — disse Weed.
— Ah sim? — admirou-se Brazil. — Fazes escultura?
— Faço.
— E tinta-da-china?
— Também.
— Aguarela?
— Vou começar.
— Papier-mâché?
— Fácil.
— E Impressionismo, gostas de Cézanne? Do Lê Château Noir?
— Ha? — Weed ergueu o olhar para Brazil. — O quê?
Cézanne. éum dos meus preferidos. Vai procurá-lo.
— Onde é que ele vive?
— Já não vive.
Weed franziu o sobrolho, seguindo os dois chuis e Mrs. Grannis até ao auditório. Já estava cheio e os alunos viraram as cabeças, interrogando-se sobre o que Mrs. Grannis e Weed fariam na companhia dos dois convidados importantes. Weed ergueu a cabeça, caminhando com indiferença nas roupas folgadas da moda. Juntamente com Mrs. Granis, enfiou-se na segunda fila, perto de outros professores. Brazil e West dirigiram-se ao palco e sentaram-se nas cadeiras colocadas no estrado, com os holofotes virados para eles. West bateu no microfone, que ressoou.
— Conseguem todos ouvir? — perguntou ela.
— Sim — confirmaram as vozes.
— Mesmo lá atrás?
— Sim.
— Onde está a sua arma?
As bancadas encheram-se de gargalhadas.
— Comecemos por aí — disse West, numa voz retumbante. — Que treta é essa acerca de armas? Sim, é claro que tenho uma.
— De que tipo?
— Do tipo que não gosto — respondeu ela. — E que não gosto de arma nenhuma. Nem sequer gosto de ser polícia, e sabem porquê? Porque queria que as armas e os polícias não fossem precisos.
Brazil e ela falaram durante cerca de vinte minutos. A seguir, a directora, Mrs. Lilly, dirigiu-se à parte da frente do auditório, enquanto os aplausos continuavam. Brazil curvou-se e passou-lhe o microfone. Ela piscou os olhos sob as luzes ofuscantes e anunciou que havia tempo para algumas perguntas.
Smoke regressara à escola após uma curta paragem no Sears, onde gamara dez controlos remotos de garagens. Levantou-se de um lugar na coxia da sétima fila.
— Gostava de saber — falou alto e num tom sincero — se acham que alguns miúdos já nascem maus.
— Acho que sim, em alguns casos — respondeu a mulher-polícia sem rodeios.
— Gostaria de pensar que isso não é verdade — interpôs Mrs. Lilly.
— Todos nós gostaríamos de acreditar nisso — disse o polícia louro. — Mas acho que o importante é que, tomando tudo em consideração, as pessoas fazem escolhas. Ninguém vos obriga a copiar num teste, ou a roubar um carro, ou a bater em pessoas.
Smoke continuava de pé na escuridão, escutando atentamente, com uma expressão inocente e pensativa. Ainda não tinha acabado.
— Mas o que é que fazem quando alguém é realmente mau e nada o fará mudar? — perguntou numa voz sonora e confiante.
— Encarceramo-lo. — A mulher-polícia falava a sério. Risos.
— Praticamente tudo o que podemos fazer é proteger a sociedade de pessoas desse tipo — acrescentou o polícia louro.
No entanto, não é verdade que pessoas geneticamente más são normalmente mais inteligentes e mais difíceis de apanhar? — perguntou Smoke.
— Depende de quem tenta apanhá-las. — O chui louro era um pouco convencido.
As gargalhadas rebentaram quando a campainha tocou. Smoke foi o primeiro a sair do auditório, escapulindo-se por uma porta lateral e dirigiu-se logo para o parque de estacionamento. Tinha um sorriso frio nos lábios, enquanto imaginava o chui louro e a camarada das mamas grandes e se via a si próprio em combate directo com eles. Este pensamento excitou-o.
O poder que sentia animou-o e percorreu-lhe o sangue, enquanto se apressava em direcção ao Escort e abria a porta. Sentou-se atrás do volante e alimentou a excitação ao máximo, olhando para o círculo de autocarros escolares e para as centenas de miúdos que subitamente começaram a sair das portas, alegres, brincalhões e apressados.
Ligou o motor e levou o carro para o sítio combinado do parque de estacionamento, obrigando os alunos a desviarem-se dele ou a tomarem outro caminho. Não ia desviar-se de ninguém. Ouvia-se o ruído do tráfego e das vozes, enquanto esperava por Weed, que ia sofrer como o diabo e torná-lo famoso.
Teve vontade de se tocar outra vez, mas resistiu. Quando se abstinha, ninguém o conseguia deter. Podia fazer tudo. Quando a energia subia do meio das pernas e lhe fazia erguer a cabeça, sentia um leve sabor metálico na boca. Ficava num tal estado que era capaz de tudo.
Bastava-lhe rever, em pensamento, a sua velha fantasia. Estava num telhado do centro da cidade, suado e sujo, com uma ARMA15, abatendo metade dos cabrões dos chuis da cidade, enfiando pentes atrás de pentes na sua espingarda de assalto, abatendo helicópteros e massacrando a Guarda Nacional.
Smoke nunca levava a fantasia muito para além deste ponto. Uma parte racional do seu espírito compreendia que o último cenário seria, provavelmente, a sua morte ou detenção, mas isso não era suficiente para o reprimir; quando se deixava consumir por aquela luxúria intensa e ardente, pouco mais podia fazer do que alimentar os seus planos.
Passavam cinco minutos das três quando Weed chegou ao carro, com a mochila pendurada na mão. Smoke manteve-se em silêncio enquanto ele entrava, fechava a porta e punha o cinto de segurança. Arrancou, saindo lentamente do parque de estacionamento. Virou para Pump Road e seguiu-a para sul, para Patterson Avenue, enquanto Weed ficava cada vez mais nervoso; lambia os lábios e olhava pela janela.
— Por que é que fizeste todas aquelas perguntas aos chuis? — Weed lá arranjou coragem de perguntar.
Smoke não disse nada.
— Achei que foram boas.
Smoke continuava calado e virou para leste, na Patterson Avenue. Começou a guiar mais depressa. Sentia o medo de Weed e o calor da raiva comprimia-se contra ele como uma barreira de fogo.
— Achei que os chuis eram uns estúpidos de merda. — Weed tentou dar-se ares. — Tens fome, Smoke? Não comi a minha sanduíche ao almoço. Queres?
Seguiu-se um longo silêncio. Smoke virou para sul em Parham Road.
— Ei, Smoke, por que é que não falas comigo? — A voz de Weed tremia. — Fiz alguma coisa?
A mão direita de Smoke voou como se tivesse vida própria e caiu como um raio, atingindo Weed entre as pernas.
— A que horas é que te disse para vires ter comigo ao parque de estacionamento? — gritava Smoke, enquanto Weed guinchava, todo dobrado, com os braços à volta das pernas cruzadas e a cabeça praticamente no colo. — A que horas, seu monte de merda?
— Às três! — chorava Weed, com as lágrimas a correrem-lhe pela cara abaixo. — Por que é que fizeste isto? Eu não fiz nada. — Soluçava. — Smoke, não fiz nada!
— E que horas eram quando chegaste ao carro, seu cabrão? — Smoke agarrou a parte de trás das costas de Weed. — Eram três e cinco. — Deu-lhe um puxão. Weed voltou a gritar.
— Quando digo às três, isso significa o quê, atrasado?
— Não consegui escapar a Mrs. Grannis! — Weed sufocou, tentando respirar, com uma expressão horrível no rosto, enquanto Smoke lhe agarrava os cabelos, arrancando uns quantos pelas raízes. — Desculpa, Smoke! Desculpa! Oh, não me magoes mais.
Smoke deu-lhe um empurrão e começou a rir-se. Aumentou o volume de 2 Pac no CD, onde palavra sim, palavra não, se ouvia foder e preto. Meteu a mão debaixo do banco, tirou a Glock e espetou-a entre as costelas de Weed, todo excitado por pôr aquele merdoso a tremer tanto. Weed cobriu o rosto com as mãos. Peidou-se e arrotou.
— Se te mijas ou te cagas aqui, rebento-te a gaita — disse-lhe Smoke.
— Por favor, Smoke — implorou Weed numa vozinha lastimosa. — Não, por favor, Smoke.
— A partir de agora, fazes o que eu te mandar?
— Sim, faço tudo o que quiseres, Smoke. Prometo.
Smoke voltou a enfiar a pistola debaixo do banco. Aumentou ainda mais o som de 2 Pac e começou a acompanhar o ritmo. Não houve mais conversa, enquanto atravessava o rio, em direcção a Huguenot Road, virando ali e acolá, cortando por Forest Hill e evitando portagens sempre que possível. Weed ficara muito calado. Secou as lágrimas e cruzou as pernas com força. O miúdo era tão pequeno que os Nike mal tocavam no chão. Smoke sabia escolher os momentos certos, sabia exactamente como obrigar as pessoas a fazerem aquilo que queria.
— ’Tás melhor? — perguntou Smoke, baixando o som de 2 Pac.
— Sim — respondeu Weed educadamente.
Estavam na via-rápida Midlothian, a passar pela German School Road.
— Sabes o que é um juramento? — perguntou Smoke.
Agora estava todo simpático, descontraído e sem pressa, como se fossem comer um hambúrguer ou dar uma volta.
— Não — respondeu Weed baixinho.
— Tens de falar mais alto — disse Smoke. — Mal te ouço.
— Não sei o que é — disse Weed mais alto.
— Nunca estiveste nos escuteiros?
— Não.
— Bem, para seres escuteiro, tens de fazer um juramento. Prometo, por minha honra, dar o meu melhor e por aí fora. Um juramento é isso. Uma coisa que juramos e, se o quebrarmos, acontece qualquer coisa muito má.
Nesta parte da via-rápida, os negócios giravam à volta de carros e camiões e tudo o que estivesse relacionado com isso. Um restaurante Cheers falira e uma livraria para adultos só tinha um carro no parque. Smoke virou para uma lateral não pavimentada e passou pelo centro de um parque de atrelados, onde se viam cadeiras de metal, floreiras e ornamentos de jardim em cerâmica espalhados pela terra lamacenta. Gatos escanzelados fugiam do caminho. Ouvia-se espanta-espíritos e a luz do sol brilhava nos camiões ali estacionados.
Viraram para o parque de estacionamento do Southside Motel, cheio de fendas e ervas daninhas, que estava fechado e entaipado há anos. Via-se uma corrente esticada de um lado ao outro da entrada e os aparelhos de ar condicionado no exterior dos quartos estavam enferrujados, enquanto a brisa fazia esvoaçar as cortinas brancas e sujas para dentro e para fora das janelas partidas. Os zimbros tinham crescido de mais, formando maciços selvagens que tapavam completamente as paredes dos quartos. As ervas mortas cheias de pedaços de vidro eram um perigo. Smoke deu a volta para as traseiras do motel e estacionou ao lado de um contentor de lixo.
— Lembras-te de quando te trouxe aqui, a semana passada? — perguntou Smoke. — Não te esqueças, a primeira regra é que ninguém estaciona aqui atrás. Vês os avisos de Proibido Passar?
— Vejo — respondeu Weed, olhando assustado em seu redor.
— Bem, os chuis não vêm aqui, mas não me posso arriscar. Se virem o carro, estamos fodidos.
Meteu a primeira e voltou a dar a volta para a frente. Weed estava calado, enquanto Smoke recuava de novo e estacionava numa rua lamacenta e esburacada, na periferia do parque de atrelados.
— É por aqui que eu venho — disse Smoke, desligando o motor e esticando o braço para tirar a Glock. — Tu tens de arranjar outro caminho, porque aqui só há gente lixada e podes chamar a atenção. Até podem avisar os chuis.
— Então, como é que faço? — perguntou Weed, saindo do carro e olhando furtivamente em redor.
— Cortas pela via-rápida, passas por Jiffy Tune, onde há aquelas lojas de peças de automóveis e coisas assim, atravessas a mata e vens sair por trás do motel — explicou Smoke, enfiando a pistola na frente dos jeans e tapando-os com a sweatshirt dos Chicago Bulis.
Caminhava depressa pela estrada de terra, com Weed a segui-lo o mais depressa que podia, obviamente cheio de dores. Smoke sabia que o seu último recrutado estava a pensar se lhe iam estoirar os miolos nas traseiras de um motel abandonado no meio de nenhures e Smoke deixou-o atormentar-se. Compreendia o medo. Assim que causava sofrimento, sentia uma gratificação instantânea. Aprendera isto em criança, quando via o pânico nos olhos e sentia o terror no coração palpitante das criaturas mais fracas que torturava até à morte.
Smoke era oriundo de um lar melhor que os da maioria. Os seus pais viviam confortavelmente, tinham um espírito aberto e nunca se metiam na vida dele, nem tentavam controlá-lo, recusando-se a acreditar que o filho era mau. Preferiram dar autorização, em vez de forçar os filhos a comportamentos clandestinos. Acreditavam que, se confiassem neles e fossem justos, os seus três filhos fariam as escolhas acertadas. Aparentemente, os irmãos mais velhos, um rapaz e uma rapariga, confirmaram essa filosofia. Tinham boas notas na faculdade, davam-se com gente decente e tinham ambições normais.
Smoke fora sempre diferente. Durante as intermináveis avaliações e sessões de aconselhamento em Durham e na escola de reinserção, em Butner, nunca se queixara da família, nem mencionara uma única coisa que o pudesse ter marcado. Não culpara ninguém por aquilo que era e até assumira toda a responsabilidade. Diagnosticara-se a si próprio como psicopata e esforçou-se muito por atingir um bom nível. Não duvidava de que, um dia, o mundo iria ouvir falar de si.
Naquele momento, não estava a implicar com Weed, que se mostrava agradecido e cooperante. Os seus pés faziam tinir pedaços de vidro e levantavam pedras. As traseiras do motel estavam protegidas por uma vasta mata, que o escondia das auto-estradas movimentadas e das ruas não muito distantes. Smoke dirigiu-se a uma grande prancha de contraplacado encostada a uma parede, por trás de um maciço de zimbros. Semicerrou os olhos, enquanto olhava em volta e escutava. Fez deslizar o contraplacado para o lado e passou pela estrutura vazia de alumínio torcido do que fora uma porta de correr em vidro.
— Quem é que está a servir? — perguntou ele à rapariga e aos três rapazes que estavam na sala encharcada e que cheirava a mofo. — Temos que comemorar. Weed, eis a tua nova família. Esta é a Divinity e os três idiotas ali são o Dog, o Sick e o Beeper.
— Esses são mesmo os nomes deles? — Weed não pode deixar de perguntar.
— São os nomes de escravo — retorquiu Smoke.
Os Pikes beberricavam vodca por copos de plástico e fumavam cigarros. Deitados em colchões manchados e malcheirosos, olharam para Weed, aparentemente divertidos, sorrindo-lhe com o olhar.
Divinity tinha pele escura, mas Weed achou que não era negra, talvez hispânica ou uma mistura de raças. Não usava soutien e a camisola interior preta, apertadíssima, revelava mais do que jamais vira ao vivo. Trazia jeans deslavados e tinha as esbeltas pernas abertas. Era mesmo bonita.
Dog era grande e tinha um ar estúpido e mau. Sick tinha acne, o cabelo cortado à escovinha e cinco brincos na orelha direita. Beeper parecia um pouco mais simpático, ou talvez fosse só por ser pequeno, como Weed. Tinham todos um número tatuado no indicador direito e pareciam ignorar os colchões nojentos e a alcatifa podre que se estendia debaixo deles.
Espalhados pela sala, via-se cadeiras de carvalho que Weed associava à escola, tabuleiros de refeições congeladas, caixas de guardanapos de papel e copos de plástico. Velas de diversos feitios repousavam nos parapeitos, em poças de cera endurecida, e a mobília do motel estava tão deformada que a fórmica começara a encaracolar. Nos cantos, via-se pilhas de caixas de giz, apagadores, um projector de diapositivos, livros da biblioteca, um quadro de cortiça, almofadas e, pelo menos, uma dúzia de carteiras vazias e malas de senhora e outros tantos pares de ténis de diferentes números. Havia pilhas de caixas de garrafas amontoadas até ao tecto manchado de humidade. Smoke acendeu uma das velas, enquanto Divinity deitava Smirnoff num copo e lho passava.
— Vais mudar o meu nome? — perguntou Weed.
— Dá-lhe um pouco — ordenou Smoke a Divinity.
Ela serviu um copo de vodca a Weed e riu-se quando ele lhe pegou hesitantemente.
— Vá lá. — Smoke fez um movimento de cabeça para Weed.
O pai de Weed passava a vida a tomar bebidas puras, mas ele nunca o fizera. Sabia que tornavam o pai cruel e o faziam sair para a rua, sem destino, acabando por não regressar, por vezes durante todo o fim-de-semana em que o filho o visitava. O vodca queimava e quase o fez engasgar-se. Sentiu instantaneamente o rosto corar e o cérebro mais leve.
— Na — disse Smoke, estendendo o copo para lhe deitarem mais e indicando a Divinity, com um gesto, que fizesse o mesmo ao de Weed. — Vou deixá-lo assim. Não arranjávamos melhor que Weed ’, mesmo que tentássemos, pois não? — perguntou ele ao gang.
— Pois não, querido. — Divinity suspirou e estendeu-se no colchão, com as mãos debaixo da cabeça e os seios espetados.
Smoke apanhou Weed a olhar.
— Nunca tinhas visto mamas, atrasado? — perguntou ele.
Weed emborcou o segundo copo de vodca e achou que ia vomitar.
— Claro que vi — gaguejou ele.
— Aposto que não viste, atrasado. — Smoke riu-se. — Talvez só nos filmes, quando bates punhetas nessa tua bela verga.
Todos o acompanharam nas gargalhadas, incluindo Weed, que tentava mostrar-se arrogante e destemido.
— Foda-se — gaguejou ele. —Já vi tetas maiores que as dela.
— Mostra-lhe. — Smoke estalou os dedos para Divinity.
Ela puxou a camisola para cima e sorriu a Weed. Ele olhou embasbacado, com a boca aberta e o rosto tão corado que até pensou se não teria febre. Viu tatuagens de alvos e pétalas de flores em lugares incríveis.
— Podes olhar, mas se lhes tocares arranco-te os tomates — disse Smoke num tom ameaçador. — Todos conhecem a regra, não é assim?
Beeper, Sick e Dog acenaram vagamente que sim. Não pareciam absolutamente nada interessados em Divinity, nem no seu material. Smoke deixou-se cair no colchão, junto dela. Começou a apalpá-la e a beijá-la, quase lhe arrancando a língua da boca. Weed nunca vira ninguém a agir assim em frente de outras pessoas. Não fazia sentido nenhum e teve vontade de sair dali a correr e acordar noutra cidade.
— Muito bem, querida, estás pronta para cozinhar? — perguntou Smoke, com a língua enfiada no ouvido dela.
“Weed” significa “erva daninha”. (NT)
— Claro, docinho.
Estendeu languidamente o braço para trás e pegou numa caixa de seringas e numa caneta Bic. Weed observou-a; cada vez mais aterrorizado, enquanto Smoke começou a aquecer uma agulha na chama da vela e Divinity esmagava a caneta com o fundo da garrafa de vodca. Tirou o fino tubo da tinta e deitou uma gota preta no pulso, como se estivesse a experimentar a temperatura do leite para um bebé.
— ’Tá pronto, querido — disse ela.
— Chega o coirão para aqui — ordenou Smoke a Weed. Weed estava paralisado.
— Que é que vais fazer, Smoke? — A sua voz sumira-se novamente.
— Vou pôr-te o teu número de escravo, atrasado.
— Não preciso de nenhum. É verdade, não preciso.
— Precisas, pois. E se não chegares aqui imediatamente... — deu umas palmadinhas no colchão onde ele e Divinity estavam sentados — ...tenho de pedir aqui aos rapazes para te convencerem.
Weed aproximou-se e sentou-se no colchão e as suas narinas foram invadidas por um cheiro a bolor e a azedo. Manteve as pernas bem apertadas e cruzou os braços em volta dos joelhos, com os punhos cerrados para esconder os dedos o melhor possível. Smoke girava lentamente a agulha na chama.
— Estende a mão direita — ordenou ele.
— Não preciso de nenhum número. — Weed tentou dar a impressão de não estar a implorar, mas sabia que assim era.
— Se não a estenderes imediatamente, corto-ta. Divinity encheu outro copo de vodca e passou-o a Weed.
— Toma, querido, isto vai ajudar. Sei que não é lá muito fácil, mas todos o fizemos, sabes? — disse ela, estendendo um dedo elegante com uma tatuagem caseira do número 2.
Weed bebeu o vodca e entrou em erupção. O seu cérebro fugiu para outro lugar e, ao estender a mão, admirou-se de conseguir suportar as picadas e os arranhões profundos da agulha incandescente. Não gritou. Activou um interruptor que desligava a dor. Não olhou quando Divinity fez pingar a tinta para as feridas e as esfregou para que penetrasse bem. Cambaleou e Smoke teve de lhe dizer duas vezes para estar quieto.
— O teu número de escravo é o cinco, merdoso — dizia Smoke. — Nada mau, ha? Fazes parte dos dez mais, que diabo, até fazes parte dos cinco mais, não é? Isto faz de ti um Pike de primeira. E de um Pike de primeira espera-se muito, não é verdade, malta?
— Uma grande verdade.
— Uma verdade do caraças.
— Querido, não te aflijas. Vais ficar óptimo — sossegava-o Divinity.
— Vamos iniciar-te, atrasado — disse Smoke, enfiando novamente a agulha no indicador direito de Weed, logo acima do primeiro nó. — Vais fazer-nos um trabalhinho de pintura.
Weed quase tombou e Divinity teve que o segurar, enquanto se ria e lhe massajava as costas.
— Vamos mostrar a esta cidade quem somos de uma vez por todas — continuou Smoke, cheio de álcool e de si próprio. — Tens tintas, não tens, meu taradinho da arte?
As palavras de Smoke giravam na cabeça de Weed como a Via Láctea.
— Ele foi-se, meu — disse Beeper. — Que vamos fazer?
— Por agora, nada — disse Smoke. — Tenho uma coisa mais importante.
Eram quase oito da noite e Virgínia West estava contente. Trabalhar muito significava não ter energia suficiente para se irritar com os pratos por lavar no lava-loiças, a roupa suja espalhada pelo chão e as outras peças de vestuário dobradas sobre cadeiras ou caindo de cabides.
Não tinha de esperar que Brazil lhe telefonasse para sugerir uma piza ou apenas um passeio, como costumava fazer em Charlotte. Sabia pelo gravador de mensagens que ele nem tentara, e por que diabo o deveria fazer? Ela certificava-se de que ele soubesse que nunca estava em casa. Se lhe passasse pela cabeça telefonar-lhe, não o faria, pois não valia a pena. Ela estaria ocupada, na rua, sem pensar nele, desinteressada.
Na verdade, oito horas era mais cedo do que o habitual. West preferia chegar por volta das dez ou onze, quando até já era demasiado tarde para telefonar à família lá da quinta, onde já raramente ia, pois vivia tão longe. O tempo transformara-se num inimigo. Uma pausa ressoava a um vazio e a uma solidão tão insuportáveis que a faziam precipitar-se para fora da casa do século XIX que alugara em Park Avenue, em tempos conhecida por Scuffletown, no bairro Fan de Richmond.
Embora a designação “Fan”2 não significasse nada para os estranhos, nem para a maioria dos habitantes de Richmond que não se interessava pela história da sua cidade, um olhar rápido ao mapa esclarecia grandemente o assunto. O bairro espalhava-se em leque para oeste da baixa, estendendo longos dedos de ruas pitorescas com nomes como Strawberry, Plum e Grove. As casas e palacetes de uma arquitectura elegante eram de tijolo e pedra, com telhados de ardósia e ripas, clarabóias em vitral, varandas e parapeitos intrincados, remates e até medalhões e cúpulas. Os estilos variavam de Queen Anne a neojorgiano, passando pelo italiano.
A casa de West tinha três andares, com uma fachada de granito cinzento e castanho no rés-do-chão e tijolo vermelho nos dois andares superiores. Os caixilhos das janelas do segundo andar estavam rodeados por vitrais e à entrada havia um alpendre com uma vedação branca. Embora Park Avenue tivesse sido, em tempos, uma das ruas mais importantes da cidade, grande parte da zona tornara-se mais acessível, à medida que a Universidade da Commonwealth de Virgínia se fora expandindo. Para dizer a verdade, West começara a detestar o Fan, achando que o ruído incessante lhe causava alterações de humor o que, por sua vez, parecia ter o mesmo efeito em Niles, o seu gato abissínio.
O problema era que West escolhera inadvertidamente um sítio que ficava a poucas casas do local de nascimento do Governador Jim Gilmore, e que os turistas visitavam com crescente assiduidade. Ficava em frente da concorrida Robin Inn, um paradeiro popular entre os estudantes e os polícias, que gostavam das grandes doses de lasanha e espaguete e dos cestos cheios de pão de alho. Quanto a arranjar lugar de estacionamento, isso era uma crónica lotaria de hipóteses quase nulas e West acabara por desprezar os estudantes e os automóveis. Até odiava as bicicletas.
Poisou a pasta no vestíbulo e Niles deslizou para fora do estúdio e olhou para a dona com os seus olhos azuis estrábicos. West atirou com o casaco para o sofá da sala de estar e descalçou-se.
— Que estavas a fazer no meu escritório? — perguntou-lhe ela. — Sabes que não deves entrar aí. E como é que conseguiste? Tenho a certeza de que fechei a porta, seu saco de pulgas.
“Fan” significa “leque”. (AT)
Niles não se sentiu insultado. Sabia tão bem como a dona que não tinha pulgas.
— O meu escritório é a pior divisão da casa — disse a dona ao entrar na cozinha, seguida por Niles. — Por que é que foste para lá, ha?
Abriu o frigorífico, agarrou numa Miller Genuine Draft e tirou-lhe a tampa. Niles saltou para o parapeito da janela e ficou a olhar para ela. A sua dona estava sempre com tanta pressa que apenas pensava que fechara portas, armários e gavetas e guardara coisas em que Niles pudesse gostar de mexer na sua ausência, como pregos e parafusos soltos, novelos de fio e restos de sanduíches de ovo e salsicha deixados no lava-loiças.
A dona deu um grande golo na cerveja e olhou para o seu Centro de Informação Pessoal, um telefone cinzento muito caro, com ecrã de vídeo, duas linhas, identificação da chamada e espaço de memória para armazenar tantos números de telefone quantos quisesse. Verificou se havia mensagens, mas não havia. Correu a lista de identificação de chamadas para ver se alguém telefonara sem deixar mensagem. Ninguém o fizera. Deu mais um grande gole na cerveja e suspirou.
Niles deixou-se ficar no parapeito e olhou para a sua tigela vazia.
— Já percebi — disse a dona, dando mais um gole. Entrou na despensa e trouxe o saco de lams Less Active.
— Vou já dizer-te uma coisa — disse-lhe, enquanto enchia de comida a taça de cerâmica artesanal —, se andaste outra vez por cima do meu teclado ou a fazer asneiras debaixo da minha secretária e desligaste alguma coisa, estás feito.
Niles saltou silenciosamente para o chão e começou a mastigar a sua insípida comida, sem carne e sem gordura.
West passou da cozinha ao escritório, com receio do que ia encontrar. Os gatos abissínios eram invulgarmente inteligentes e Niles ultrapassava em muito o normal, o que era um problema, devido a ser curioso por natureza e não ter em que se ocupar.
— Porra! — exclamou West. — Como diabo é que fizeste aquilo? Brilhando no ecrã do seu computador, via-se um mapa da cidade com informações sobre crimes, o que, pura e simplesmente, era impossível. Tinha a certeza de que o computador ficara desligado quando saíra de casa de manhã.
— C’um caraças! — murmurou ela, sentando-se em frente do terminal. — Niles! Vem cá imediatamente!
Também não se recordava de que a cor do mapa fosse laranja, azul, verde e roxo. Que acontecera ao amarelo-pálido e aos espaços brancos? E que seriam aqueles ícones em forma de pequenos peixes azuis e cintilantes, amontoados na zona 219 da segunda esquadra? West olhou para os ícones em que se podia carregar, ao fundo do ecrã. Os homicídios eram representados por sinais de mais, os roubos por pontos, os delitos graves por estrelas, os assaltos a casas por triângulos, os roubos de veículos por pequenos carros. Mas não havia peixes, nem azuis nem de qualquer outra cor.
Na verdade, não havia qualquer ícone em forma de peixe em toda a rede de computadores do COMSTAT, absolutamente nenhum, e não conseguia encontrar qualquer explicação para o facto de a zona 219 estar repleta de peixes e de se encontrar contornada a vermelho-sangue cintilante. West estendeu a mão para o telefone.
Andy Brazil vivia igualmente no Fan, mas em Plum Street, numa fileira de casas estreitas com telhados planos e cornijas de tijolo liso. A canalização e os electrodomésticos eram antigos e os soalhos de madeira, cobertos de tapetes já gastos, rangiam.
A casa mobilada pertencia à solteirona Ruby Sink, uma mulher de negócios astuta e intrometida, uma das primeiras pessoas a saber que a equipa do INJ vinha para a cidade e podia vir a precisar de alojamento. Acontece que tinha uma casa vaga que andava a tentar alugar há meses e Brazil ficou com ela sem a ver.
Tal como West, arrependeu-se da sua escolha de alojamento. Caíra numa ratoeira óbvia. Miss Sink era uma mulher rica, só, excêntrica e falava sem parar. Aparecia sempre que lhe apetecia, aparentemente para inspeccionar o minúsculo jardim da frente, para se certificar de que não eram necessárias quaisquer reparações ou arranjos ou para trazer a Brazil pão de banana caseiro e bolinhos e para saber coisas do seu trabalho e da sua vida pessoal.
Brazil subiu os degraus que levavam à varanda da frente, onde se via um pacote, encostado à porta de rede. Reconheceu a caligrafia espalhafatosa de Miss Sink no papel de embrulho castanho e ficou deprimido. Já era tarde e estava exausto. Não comera nada. Há dias que não ia às compras. Não lhe apetecia nada um dos bolinhos de Miss Sink, nem uma das suas latas de bolachas, que seriam certamente seguidos de mais uma visita ou de um telefonema.
— Cheguei — anunciou ele, numa voz irritada e sarcástica, para ninguém, atirando as chaves para cima de uma cadeira. — O que é o jantar?
Respondeu-lhe o pingar de uma torneira na casa de banho das visitas, ao fundo do vestíbulo, almofadado a madeira escura. Brazil começou a desabotoar a camisa do uniforme, dirigindo-se ao quarto, no rés-do-chão, onde mal cabiam a cama de casal e duas cómodas.
Soltou o coldre e pôs a arma, uma Sig Sauer de nove milímetros, na mesinha-de-cabeceira. Tirou o cinturão, descalçou as botas, despiu as calças e tirou o colete à prova de bala. Massajou o fundo das costas enquanto se dirigia para a cozinha em meias, cuecas e camisola interior suada. Montara o escritório na casa de jantar e, ao passar por lá, ficou chocado com o que viu no ecrã do computador.
— Meu Deus! — exclamou, puxando por uma cadeira e pondo as mãos no teclado.
Brilhando no ecrã via-se o mapa de crimes da cidade. A zona 219 estava contornada a vermelho cintilante e repleta de peixinhos azuis. Aquela zona específica da segunda esquadra era limitada por Chippenham Parkway a oeste, por Jahnke Road a norte, por linhas de caminho-de-ferro a este e pela via-rápida Midlothian a sul. Brazil começou por pensar que acontecera um desastre horrível naquela área desde que saíra de serviço, há vinte minutos. Talvez tivesse havido um motim, uma ameaça de bomba, um alarme de tufão ou talvez se tivesse voltado um camião de produtos químicos.
Pegou no telefone e ligou para o serviço de rádio. Respondeu-lhe a agente de Comunicações Patty Passman.
— Aqui Unidade 11 — anunciou Brazil abruptamente. — Passa-se alguma coisa em Southside, especificamente na zona 219?
— Saiu de serviço às 19h24 — respondeu-lhe Passman.
— Eu sei — confirmou Brazil.
— Então, por que quer informações sobre a 219? Está a monitorizar o scanner?
— Negativo — respondeu Brazil. — O scanner mostra alguma coisa sobre a 219?
— Negativo — disse Passman. Ao fundo, ouvia-se o ruído dos rádios.
— Oh, quando perguntou se eu estava a monitorizar a 219, pensei que dera a entender que se passava alguma coisa — explicou Brazil, percebendo que, ao telefone, não era preciso usar o código.
— Negativo, unidade 11 — disse Passman, que já não sabia falar sem ser em código. — Em espera, unidade 11 — continuou ela. — Negativo. Nenhuma urgência.
— Passar-se-á outra coisa qualquer? — Brazil não desistia.
— Quantas vezes tenho de repetir? — Estava a ficar cada vez mais impaciente.
— Poderá ter-se voltado um camião de peixe, por exemplo?
— O quê?
— Qualquer coisa relacionada com peixes. Peixes azuis, talvez?
— Em espera, unidade 11 — disse-lhe ela novamente. — Pssst, Mabie!
Passman deixara o rádio ligado inadvertidamente. Todos os que escutavam, incluindo criminosos e amadores com scanners, podiam ouvir tudo.
— Chegou alguma coisa sobre peixes? — perguntava Passman em voz alta ao estafeta Johnnie Mabie.
— Peixes? Quem pergunta?
— O onze.
— Que tipo de peixes?
— Peixes azuis. Talvez um camião voltado ou um problema com um dos mercados de peixe ou coisa assim.
— Tenho de apanhar um inspector. Unidade 709. Horrorizado, Brazil ligou o seu scanner.
— Sete-zero-nove. — A voz abrupta do inspector invadiu a casa de jantar de Brazil.
— Passa-se alguma coisa com peixes na segunda, especificamente na 219? — ouviu-se novamente a voz do estafeta Mabie.
— Quem é Peixe? — perguntou o 709.
— O quê?
— Quero dizer, Peixe é uma pessoa? — explicou 709. — Ou está a referir-se a peixes?
— A peixes. — Sem-cerimónias, Passman tomou o lugar de Mabie. — Um acidente com peixes, por exemplo.
— Negativo — respondeu 709 após uma longa pausa. — Peixe pode ser uma alcunha de um suspeito?
Passman entrou novamente no ar, sem na verdade ter chegado a sair. Pôs a questão a Brazil, que não conseguiu lembrar-se de nenhum suspeito que desse pela alcunha de Peixe ou Peixe Azul. Agradeceu-lhe e desligou, no momento em que outras unidades começavam a ligar, com perguntas cretinas e pistas trocistas sobre peixes e gente duvidosa, incidentes, casos, alarmes falsos, suspeitos perturbados, prostitutas e chulos com nomes semelhantes e matrículas “Fishy people”, no original. Trocadilho intraduzível em português. (NT)
personalizadas. Brazil desligou abruptamente o scanner, furioso pelo facto de os polícias de Richmond.-terem agora mais um motivo para o ridicularizar.
Nessa noite, os repórteres e as equipas de filmagem estavam em força na rua, vigiando La Petite France, à espera que o Governador Mike Feuer e a esposa, Ginny, saíssem de um jantar oficial, repleto de cozinha francesa e conversas íntimas com o chefe.
Os media não estavam particularmente interessados no banquete de lançamento da Secção de Desenvolvimento Económico da Virgínia da revista Forbes, oferecido pelo presidente e que se realizava no interior. E que o governador aparecera nos Encontros com a Imprensa durante o fim-de-semana. Fizera afirmações controversas sobre crime e tabaco, e o repórter de polícia Artis Roop, do Richmond Times-Dispatch, estava descontente pelo facto de o governador não lhe ter entregue as citações com antecedência.
Há semanas que Roop trabalhava numa importante série de artigos sobre o impacte dos cigarros do mercado negro no crime e na vida em geral. Roop acreditava que, se, eventualmente, o preço dos Marlboro subisse, no mínimo, para treze dólares e vinte e seis cêntimos por maço, de acordo com a recente previsão dos analistas financeiros no fecho do mercado, os cidadãos começariam a cultivar tabaco às escondidas, por exemplo, em milharais, jardins frondosos ou rodeados por muros altos, estufas, pistas de madeireiros, clubes privados e onde quer que o ATF não pudesse investigar. Os cidadãos começariam a fabricar ilegalmente os seus próprios cigarros e ninguém os poderia culpar.
O país regressaria aos dias das destilarias, ou fumos, como Roop chamava à geringonça imaginária necessária para fabricar produtos clandestinos com tabaco. Defendia ainda a teoria de que, especialmente na Virgínia, as pessoas se iam safar no respeitante à manutenção dos fumos, uma vez que não se passava um único dia sem queimadas, fogos florestais, incêndios em aterros ou em fornalhas. Fumo a sair de áreas arborizadas ou de lixeiras, ou até das chaminés de casas históricas, não levantaria necessariamente suspeitas.
Roop era suficientemente esperto para saber que, se se juntasse aos vinte ou trinta agressivos membros dos media aglomerados junto da porta do restaurante, não iria receber tratamento especial. Sensatamente, decidira sentar-se no carro, controlando o scanner, como habitualmente. Ficara perplexo e excitado ao apanhar qualquer
coisa sobre um acidente envolvendo peixes na zona 219 da segunda esquadra. Roop era um investigador que sabia da vida da rua. Tinha a certeza de que aquilo encerrava um código de qualquer coisa importante e contava sacar o furo assim que se despachasse do governador.
Brazil dizia mentalmente merda e olhava para o ecrã do computador quando subitamente lhe ocorreu que não estava a olhar para o mapa do COMSTAT, mas sim para um protector de ecrã inteligente e imaginativo que alguém descarregara no novo site do departamento da polícia.
— Macacos me mordam. — Não conseguia acreditar.
Reparou na luz que piscava no seu atendedor de chamadas. Passou as mensagens. Havia três. A primeira era da mãe, que estava tão bêbeda que mal conseguia falar e exigia que lhe dissesse por que é que nunca lhe telefonava. A segunda era de Miss Sink, a perguntar se recebera a tarte de batata-doce que lá deixara e a terceira era de West, pedindo-lhe que lhe telefonasse imediatamente.
Brazil sabia o número dela, embora nunca o ligasse. Mudou para conferência, com a pulsação acelerada e as mãos a martelar o teclado, sem efeito. Não conseguia livrar-se do protector de ecrã, nem alterá-lo de forma nenhuma.
— Virgínia? — Passou os dedos pelo cabelo e controlou os nervos para não se trair. — Estou a responder à tua chamada — disse ele com à-vontade.
— Passa-se algo de estranho com o computador. — Ela falava num tom prático.
— O teu também? — Nem podia acreditar. — Peixes?
— Sim! E escuta esta. Hoje de manhã, saio de casa e deixo o computador desligado, não é? Regresso a casa e, não só está ligado, como tem este mapa da 219 com todos estes peixinhos azuis a nadar lá dentro.
— Hoje esteve alguém em tua casa?
— Não.
— Tinhas o alarme ligado?
— Como sempre.
— Tens a certeza de que não estás apenas convencida de que desligaste o computador?
— Bem, não sei. Não tem importância. Que porra são estes peixes todos? Talvez devesses cá vir.
— Acho que tens razão. — Brazil hesitou, sentindo o coração a bater com mais força para se fazer ouvir.
Temos de chegar ao fundo disto — disse West.
A chefe-adjunta Hammer tinha passado a última hora a lutar com o computador, tentando perceber como é que lá aparecera o mapa de crimes da cidade e por que razão continha peixes. Carregou em várias teclas e reiniciou-o duas vezes, enquanto Popeye andava impacientemente de um lado para o outro, entrando e saindo da caixa dos brinquedos, coçando-se, erguendo-se nas patas traseiras, empoleirando-se na mobília e acabando por saltar para o seu colo.
— Como é que me hei-de concentrar? — perguntou Hammer pela décima vez.
Popeye olhou para ela, enquanto a dona apontava o rato para um X e tentava novamente sair do mapa do ecrã. Era uma loucura. O computador estava pendurado. Talvez Fling tivesse lixado o software. Corria-se esse risco quando todos os PCs tinham de se ligar ao microprocessador central. Se Fling tivesse introduzido um vírus no sistema, toda a gente da rede de Richmond ficaria infectada. Popeye olhava para o ecrã e tocou-lhe com uma pata.
— Pára com isso — ordenou Hammer.
Popeye pôs a pata em várias teclas o que, inexplicavelmente, fez desaparecer o mapa e abriu uma imagem desconhecida com um cabeçalho que dizia RDP PIKE PUNT. Por baixo, viam-se linhas de programação que não faziam sentido: IM to $im_on e available e AOL% findwindow(“AOL Frame2.5” , O&) e por aí fora.
— Popeye/ Olha o que fizeste. Vim parar ao sistema operativo, onde não tenho nada que bisbilhotar. Ouve lá uma coisa, não sou neurocirurgiã, o meu lugar não é aqui. Posso tocar numa coisa qualquer e causar danos cerebrais à rede inteira. Onde diabo é que carregaste e como é que saio daqui?
Popeye carregou em mais algumas teclas e o mapa com os peixes regressou. Saltou para o chão, espreguiçou-se e saiu da sala. Voltou com o seu esquilo de pelúcia e começou a despedaçá-lo. Hammer fez girar a cadeira e olhou para a cadela.
— Escuta-me, Popeye — disse-lhe. — Estiveste em casa todo o dia. Quando saí, hoje de manhã, o meu computador estava no menu principal. Então, como é possível que, ao regressar há bocadinho, encontre este mapa com todos estes peixinhos? Fizeste alguma coisa? Talvez o computador tenha feito barulho e tenham começado a acontecer coisas? Tanto quanto sei, não temos peixes em nenhum dos programas do COMSTAT.
Esticou a mão para o telefone e ligou para Brazil, apanhando-o quando ia mesmo a sair.
— Andy? Temos um problema — disse ela imediatamente.
— Peixes? — perguntou ele.
— Oh, santo Deus! Tu também! — exclamou ela.
— E Virgínia a mesma coisa.
— Isto é terrível.
— Ia mesmo a caminho da casa dela.
— Eu vou lá ter — respondeu Hammer.
Às oito e vinte da noite, quando Smoke estacionou entre um Chevrolet Blazer com um kit de elevação de vinte centímetros e pneus personalizados 39 x 18.5 e um Silverado 2500 rebaixado, a livraria para adultos estava cheia de clientes. Desligou o motor e esperou por uma abertura na torrente de homens que saía da sex-shop, com o ar esgotado e pasmado de quem receia ser descoberto pela mulher ou pela mãe.
Um velhote de fato-macaco apareceu à porta, olhando em todas as direcções, o efeito do Viagra já passado e o rosto abatido, exausto e paranóico, sob o brilho doentio das luzes de néon. Enfiou um lenço no bolso de trás, verificou a braguilha e tocou no pescoço para medir a pulsação. Cambaleava um pouco ao correr para o seu El Camino. Smoke esperou até o carro se precipitar na Midlothian, cuspindo cascalho. Conhecia o caminho pelos bosques tão bem que só ligou a lanterna ao chegar à entrada de contraplacado do seu clube.
Há muito que as velas tinham sido apagadas e o gang se fora embora, à excepção do membro mais recente. Weed estava sentado num colchão, no meio do seu próprio vomitado, as mãos e os tornozelos atados com cintos. Tremia e gemia.
— Cala-te — disse Smoke, iluminando o seu rosto aterrorizado com a lanterna.
— Não fiz nada — murmurava Weed incessantemente.
Smoke desatou rapidamente os cintos, mantendo-se à distância e sustendo a respiração.
— Se calhar, o melhor era ver-me livre de ti — disse ele, enojado. — Não passas de um coninhas. A vomitar por todo o lado e a chorar como um maricas! Bem, deixa-me que te diga, Mr. Picasso. Vais limpar isto tudo antes de saíres.
West corria de um lado para o outro, apanhando objectos, endireitando isto e aquilo, deitando fora embalagens de piza e de galinha frita, enfiando pratos na máquina de lavar loiça, com Niles agarrado aos seus pés como uma bola de futebol.
— Sai-me do caminho — disse-lhe ela. — Onde está o teu rato? Vai buscá-lo.
Niles não foi. West entrou apressadamente no quarto. Sentou-se do lado esquerdo da cama, onde não dormia, e pôs-se aos saltos. Deu um murro na almofada e amarrotou a colcha. Voltou a correr para a cozinha e tirou dois copos de vinho de um armário. Limpou-lhes o pó, fez girar uma pequena quantidade de Mountain Dew em cada um, correu novamente para o quarto e colocou-os nas mesinhas-de-cabeceira. Atirou para o chão um par de meias de desporto que podiam passar por pertencerem a um homem.
Entrou no escritório, já sem fôlego, e começou à procura de um cartão nas gavetas, talvez uma coisa com um ar pessoal que não fosse de Brazil, que lhe escrevera muitas vezes num passado que já não significava nada para ela. Encontrou um cartão de uma florista, ainda dentro do envelope, com o nome dela. Dirigiu-se rapidamente para o vestíbulo e pôs o cartão numa mesa, bem à vista de quem quer que entrasse pela porta da frente.
Bubba estava atrasado e a noite, sem luar nem estrelas, não tinha possibilidade de salvação. Só lhe restava exceder o limite de velocidade em Commerce Road. Não tinha tempo de se entregar a recordações ao passar a grande velocidade pela Spaghetti Warehouse, onde levara Honey no último Dia da Mãe, apesar de não terem filhos. Bubba não os queria, pois acreditava que os Flucks, especialmente os de apelido Butner, se tinham reproduzido de mais e haviam chegado ao fim da linha.
Fumava, passando velozmente por Sieberts Towing, pelo Quartel dos Bombeiros n.” 13, por Cardinal Rubber & Seal, pelo Estes Express, por Crenshaw Truck Equipment Specialists, pelo Gene’s Supermarket, pelo John’s Seafood & Chicken e todos os outros estabelecimentos ao longo da 1-95. Começara a chover e pela fenda do tecto do jipe escorriam leves gotas que pingavam por detrás do espelho retrovisor,
passando por cima do poliuretano, antes de atingir o tabelier num tempo recorde. O depósito de água da Lucky Strike e a ponta do anúncio da Marlboro pairavam no horizonte, independentemente da direcção que tomasse, lembrando-lhe que, à semelhança da vida, o fabrico de cigarros continuava.
Naquele momento, odiava Muskrat profundamente, porque este se recusara a reparar de novo o seu jipe, que continuava a meter água. Estava zangado com Honey, que não se portara à altura quando ele chegara finalmente a casa. Não pedira desculpa pela massa com queijo Kraft pegajosa e pela piza Tombstone esturricada, ambas temperadas com demasiado Parm Plus Seasonal Blend. Honey não ligou ao facto de o seu copo habitual de Capri Sun estar morno, o bolo de queijo Jell-O quente e o pedaço de Maxwell House que sobrara do pequeno-almoço pudesse servir para pavimentar a entrada.
Honey começara por ridiculizar o Cheez Whiz e o Miracle Wbip que a Philip Morris espalhara pela Terra e lançara-se depois numa litania choramingona, a que Bubba não podia escapar, pois ela escondera-lhe as chaves do carro. Não percebia o que se passava com ela. Antes daquela noite, nunca fizera com que ele se atrasasse para o emprego, embora não tivesse forma de saber que ele não estava realmente atrasado, pois ia entrar mais cedo para cobrir a segunda parte do turno de Tiller.
A Philip Morris cintilava como uma jóia, tão perfeitamente posicionada como um diapasão por entre a mancha deprimente e a insuportável desarmonia do trânsito medonho e as intermináveis reparações da 1-95. As instalações dos escritórios e da fábrica, uma área de 400 hectares, eram imaculadas, e o luxuoso relvado era frequentemente utilizado como heliporto pelos que pertenciam a uma ordem mais elevada, que Bubba venerava e raramente via. Os arbustos estavam esculpidos na perfeição. Bordos japoneses, macieiras-bravas, pereiras Bradford e carvalhos mostravam-se viçosos e espaçados com precisão.
Ao longo dos anos, Bubba convencera-se de que a Philip Morris fora enviada à Terra numa missão que, à semelhança da vontade divina, não fora inteiramente revelada, apenas sugerida, incluindo aos seus empregados, cuidadosamente escolhidos e bem pagos. Nunca estivera dentro de um edifício com tantos soalhos envernizados e vidros resplandecentes, rodeado de jardins tão esplêndidos que até tinham sido dedicados a Lady Bird Johnson.
Em todos os cantos, grandes ecrãs de vídeo comunicavam com os trabalhadores e a tecnologia industrial era tão secreta que nem Bubba compreendia metade do que fazia diariamente. Sabia que era tudo demasiado esclarecido para pertencer a este mundo e inventara uma teoria que apenas discutia com os que, a pouco e pouco, tinham entrado na sociedade secreta dos Ajudantes da Nave Alienígena, ou ANA.
Os membros desta sociedade acreditavam que os catorze mil cigarros produzidos por minuto, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, eram, na realidade, cargas de combustível, necessário à enorme e vibrante sala das máquinas, que propulsionava a nave espacial através de uma dimensão apenas aceite pela fé. Estas cargas de combustível ficavam inertes se não fossem queimadas, o que exigia a ajuda de milhões de seres humanos, que as acendiam, causando a combustão colectiva necessária para manter a nave em movimento, em velocidade de cruzeiro, através da sua dimensão secreta.
Para ele, fazia todo o sentido que a boa e dedicada Consciência tivesse compreendido há muito que o planeta não ia conseguir sobreviver a não ser pela Sua intervenção. Logicamente, e de acordo com a Terceira Lei de Newton, seguia-se que, se todas as acções causam uma reacção igual e oposta, teria que existir uma Força do Mal que gostasse das coisas exactamente como estavam e fizesse os possíveis para as piorar.
Assim, à medida que se produziam e acendiam mais cargas de combustível por todo o planeta, a Força do Mal ficava cada vez mais desesperada e irritável. Estudara história para perceber o que tivera êxito no passado, e aparecera com uma campanha de direitos dos não-fumadores, destrutiva e divisionista, que tivera como resultado imediato a discriminação, o ódio, a censura e a fama do Secretário de Estado da Saúde. Campanhas antitabágicas generalizadas, processos em tribunal, impostos horrendos e lutas sangrentas no Senado desfraldaram-se como a Cruz do Sul e assistiu-se ao envio de tropas para uma guerra insensata, num litígio ganancioso, que podia ser visto por todos na CSPAN ou na CNN.
Só os membros da seita sabiam que, se a agressiva campanha do Mal conseguisse que as pessoas deixassem de fumar, em breve deixaria de haver combustão, à excepção da produzida pelos carros, que não contava. A produção das cargas de combustível cessaria. A sala das máquinas seria silenciada. À nave alienígena só restaria mudar de rumo para não ficar à deriva, sem energia.
Bubba ia a pensar em tudo isto e estava já bastante enervado quando parou na guarita do guarda e Fred abriu a janela.
— Como vais, Bubba? — perguntou Fred.
— Estou atrasado — respondeu ele.
— A mim parece-me que vens cedo. Tens ar de quem não está lá muito bem-disposto.
— Hoje não li o jornal, Fred. Não tive tempo. Como é que estão as coisas?
O rosto de Fred ensombrou-se. Era um membro não assumido da seita e conspirava muitas vezes com Bubba, quando este encostava na porcaria do seu jipe para lhe mostrar a autorização de estacionar.
— Viste o painel da Baixa, a informação do Dow Jones em frente do Scott and Stringfellow?
— Não passei por lá.
— Bubba, está a piorar. — Fred disse a verdade numa voz sumida. — Subiu para onze dólares e noventa e três cêntimos a embalagem. Deus nos ajude.
— Não, não pode ser — respondeu Bubba.
— Pode, pode. Deixa-me que te diga, falam de impostos e de acordos que vão fazer subir o preço ainda mais, até aos doze dólares, Bubba.
— E depois, como é? — perguntou Bubba numa voz abrupta e irada. — Mercado negro. Contrabando. Despedimentos. E, então, a causa?
— Isto não vai ajudar nada a causa, lá isso não — concordou Fred, abanando a cabeça, enquanto Bubba entupia o trânsito.
— é isso mesmo. A maior parte das cargas, especialmente os Marlboro, vão acabar no ultramar, o que quer dizer que a nave se vai dirigir para aí, seguindo o fumo até ao Extremo Oriente. E como é que isso deixa a América?
— Ainda mais tramada, Bubba. Felizmente já passei dos sessenta e cinco; posso reformar-me amanhã, se quiser. Arranjo uma gaveta no novo mausoléu do Cemitério Hollywood e sei que, se bater a bota esta noite, passei a vida do lado certo.
Fred acendeu um Parliament e abanou novamente a cabeça, enquanto a fila de carros atrás de Bubba aumentava.
— Hoje em dia, as pessoas só vêem o que lhes interessa e safam-se muito melhor do que nós, Bubba. é só gente a pôr processos e a enriquecer, 98 fingindo ter tosse e pondo as culpas em doenças obscuras. Gostava de saber se lhes enfiámos a maldita coisa na boca e os mandámos inalar! Vendámo-lhes os olhos, alinhámo-los contra uma parede e dissemo-lhes que os matávamos se não fumassem? Obrigámo-los a sair da auto-estrada e a entrar nas áreas de serviço a toda e qualquer hora? Obrigámos o Bogart a fumar nos filmes?
A injustiça e a pura criminalidade de tudo aquilo enfureceu Fred. A fila de carros chegava quase a Commerce Road, com dúzias de outros empregados da Philip Morris a atrasarem-se por causa de Bubba.
— Nem mais, irmão. — Bubba concordava plenamente. — Por que é que não processamos as estações de tratamento de águas residuais, uma vez que é por causa delas que cagamos?
— Ámen.
— Por que é que não arrastamos as companhias de comida rápida para tribunal porque vamos morrer de enfarte? — Bubba estava inspirado.
— A propósito, Bubba, como é que vai o teu colesterol?
— Honey passa a vida a chatear-me para fazer um checkup, mas quem é que tem tempo?
— Bem, tenho uma nova maneira de ver a coisa — disse Fred. — Decidi que se o nosso corpo diz “Come ovos” ou “Deita um bocadinho de sal”, está a falar connosco, a dizer-nos do que precisa. — Fred esmagou o cigarro. — Claro, se ficar com tensão alta, basta-me processar o fabricante de sal.
Bubba deu uma gargalhada grosseira. Fred riu-se tanto que ficou com os olhos cheios de lágrimas. Começou a fazer sinais aos carros, para passarem em volta. Os condutores passaram rapidamente pela guarita, numa corrida espavorida pelos lugares de estacionamento.
Brazil estava quase a entrar em pânico. Ocorreu-lhe que nem ele nem mais ninguém seria capaz de reparar o novo site na rede que, a seu pedido, fora adiado até o departamento ter arranjado quem substituísse Fling no teclado.
Brazil percebia de computadores e era até bastante bom a seguir instruções e a compreender as ajudas, ao contrário de West, que não tinha paciência para materiais ou ferramentas em que não pudesse mexer com as mãos ou serrar ao meio. Mas Brazil não conseguia curar vírus
informáticos e estava convencido de que os peixes azuis eram uma erupção fulminante, causada por uma nova variedade fatal que entrara sorrateiramente, talvez por todos partirem do princípio de que, se se evitassem disquetes não seguras, não haveria motivo para preocupações. Como é que podia ter sido tão ingénuo? Como é que podia ter sido tão imprevidente, quando sabia muito bem que os vírus podiam ser transmitidos pela Internet e, portanto, o seu site pusera todo o COMSTAT em perigo?
O coração esmagava-lhe as costelas enquanto conduzia o seu Cosmos V6 BMW Z3. O couro ainda cheirava a novo, a pintura estava impecável e, no entanto, não gostava daquele carro da mesma forma que gostara do BMW 2002 clássico que pertencera ao pai. Quando Brazil o tapara e o deixara na casa da sua infância, em Davidson, pensara que seria o mais correcto. Era altura de começar de novo, de esquecer o passado. Talvez fosse altura de se afastar finalmente da sua mãe alcoólica.
Atravessou os inúmeros cruzamentos e ruas de sentido único do Fan, desviando-se de bicicletas e peões e das multidões que tentavam entrar e sair do Helen’s, do Joe’s Inn, do Soble’s, do Konsta’s, da Commercial Tap House, do Southern Culture e de vários mercados e lavandarias. Estava aterrado por ter de dizer a Hammer a verdade sobre o COMSTAT e, ainda pior, era impossível estacionar na zona onde West morava. Sem sorte, gemeu ao ver Hammer a subir e a descer as ruas estreitas, impaciente, aumentando de velocidade, pois, quando precisava de ir a qualquer sítio, fazia-o velozmente.
Estacionou em frente de uma boca de incêndio, no momento em que um Mercedes V12 se afastava, roncando, de uma curva e um jipe Cherokee tentava à força enfiar-se no espaço. Brazil saltou do carro, correu para o jipe e ergueu a mão para o mandar parar. Ao volante estava Shari Moody, que franziu o sobrolho ao baixar a janela.
— Olhe, eu cheguei primeiro — disse ela.
— A questão não é essa — respondeu-lhe Brazil.
— Ai isso é que é.
— Sou da Polícia de Richmond.
— Do Departamento inteiro? — zombou ela.
— Sou um agente.
— Um agente? Só um? — perguntou ela sarcasticamente.
— Não vale a pena ser mal-educada, minha senhora.
— Os agentes da polícia não conduzem BMWs e você está de jeans retorquiu ela. — Estou fartíssima de que me tentem roubar lugares de estacionamento só por ser mulher.
Brazil tirou as credenciais e mostrou-lhas, vendo Hammer a passar novamente a toda a velocidade.
— Conduzimos todo o tipo de carros e nem sempre usamos uniforme — explicou ele a Shari Moody, de cujo lugar de estacionamento se ia apropriar. — Depende do que estamos a fazer, minha senhora, e o sexo não tem nada a ver com isso.
— Tretas — disse ela, mastigando pastilha elástica enquanto falava. — Se eu fosse um homem, não estava aí.
— Estava, sim.
— E, afinal, o que é que vai fazer? Passar-me uma multa por algo que não fiz, como de costume! Sabe quantas multas me passam, só por ser uma mulher ao volante de um 4x4?
Brazil não fazia ideia.
— Montes — disse ela. — Se eu tivesse um Suburban ou, Deus me livre, um Ford F-350 Crew Cab, com um motor de sete mil e quinhentos centímetros cúbicos, protecções frontais e guincho, já tinha provavelmente sido condenada à morte.
— Não lhe vou passar uma multa — disse-lhe Brazil. — Mas receio bem que esteja numa zona perigosa e tenho de lhe pedir que se vá embora, para sua própria protecção.
— Uma zona perigosa? — Ficou subitamente assustada e trancou as portas. — Quer dizer que neste bairro também há traficantes de drogas com metralhadoras?
— Esta zona é considerada perigosa — explicou Brazil no seu tom mais oficial. — Temos tido aqui uma epidemia de assaltos a jipes.
— Ohhhhh — disse ela, recordando-se vagamente. — Li alguma coisa sobre isso. é aquilo dos airbags.
— O melhor é não estacionar o seu jipe aqui, minha senhora — disse-lhe Brazil, enquanto Hammer passava novamente por ele, do outro lado, a voar.
— Bem — disse por fim Mrs. Moody, acabando por ceder e vendo como o polícia era bonito e atencioso. — Ainda bem que me disse. é novo por cá? Há alguma forma de entrar em contacto consigo, se necessitar de mais informações sobre zonas perigosas e sobre o problema dos airbags ?
Brazil deu o seu cartão a Mrs. Moody e ajudou-a a sair. Conseguiu fazer sinal a Hammer, quando ela passou novamente pelo cruzamento. Ajudou-a a enfiar o carro no espaço junto ao passeio, voltou a entrar no seu carro e teve de estacionar a cinco quarteirões de distância, numa parte degradada de West Cary, onde os cidadãos olhavam para ele dos seus alpendres e calculavam quanto valeria o seu carro numa oficina clandestina.
Bubba apressou-se. Com o uniforme azul, as botas de segurança e os tampões nos ouvidos, já suava ao atravessar rapidamente as duas salas de filtros. Passou sob o posto de observação, que não era usado desde que Philip Morris começara a fazer visitas organizadas em pequenos comboios.
Corria e caminhava, atravessando salas com soalhos brilhantes, cheias de Hauni Protos II imaculadamente beges e máquinas de fabricar G. D. Balogna, computadores e unidades OSCAR, instaladas em compartimentos onde o ruído e o martelar da produção nunca paravam e onde não existia sujidade, nem se perdia tempo.
Carros sem condutor de um amarelo vivo, carregados de embalagens de cigarros zumbiam para cá e para lá, parando para recarregar em magnetes computadorizados, que nunca se cansavam, não perdiam tempo, nem formavam sindicatos. Trabalhadores da manutenção com uniformes cinzentos moviam-se energicamente para trás e para a frente em carrinhos de abastecimento, virando as esquinas e passando pelos cruzamentos com todo o cuidado.
Enormes bobinas faziam girar a celulose tão depressa que não se via, enquanto milhares de cigarros imaculados deslizavam por tapetes e entravam em veios que os arrumavam em filas de 7-6-7, para os maços sem tampa, e de 6-7-7 para os maços com tampa. Seguidamente, um êmbolo empurrava-os para uma bolsa onde eram embrulhados em folha larga de alumínio, à qual se juntavam etiquetas em branco, que eram depois preenchidas e coladas dos lados; depois de entrarem em grandes tambores de secagem, os maços eram envoltos em celofane e marchavam em fila indiana para as empilhadoras, onde as embalagens de dez eram enfiadas em caixas e transportadas por elevadores até aos postos de saída, munidos de correias de transporte que os levavam, por fim, para fora do edifício, para os camiões que os aguardavam.
Bubba estava sem fôlego quando chegou ao Posto 8, onde trabalhava como operador de fabrico, ou mais formalmente, como técnico de terceira, o posto com salário mais alto. Tinha uma responsabilidade enorme. Era o único capitão de um módulo que fora programado para produzir exactamente 12 842 508 cigarros até ao fim de cada período de vinte e quatro horas, ou seja, 4 280 836 cigarros durante o seu turno de oito horas.
Na Philip Morris, nenhum posto ficava sem vigilância e o supervisor de Bubba, Gig Dan, fora obrigado a tomar conta daquele durante a segunda metade do segundo turno e os primeiros dezasseis minutos do terceiro. Dan ficou aliviado, mas pouco satisfeito, quando Bubba apareceu, ofegante e a pingar suor.
— Que diabo é que te deu, Bubba? — Dan falou suficientemente alto para ambos se conseguirem ouvir através dos protectores de ouvidos.
— A polícia mandou-me encostar — Bubba mascarou a verdade.
— E passar uma multa levou quatro horas e meia? — Dan não engoliu aquela.
— O chui passou uma data de tempo a avisar-me e depois o rádio pifou, ou coisa assim. Digo-te, fiquei lixado. Há montes de brutalidade policial, Gig. É altura de alguns de nós nos envolvermos e...
— Neste momento, quero apenas que te envolvas com o teu módulo, Bubba! — gritou Gig Dan sobre o ruído das máquinas. — O nosso objectivo de hoje era de quinze milhões e estávamos para aí
719 164 abaixo disso, mesmo antes de teres decidido andar para aí a passear!
— Não andei... — Bubba tentou protestar.
— E sabes que mais? A última estimativa deu-nos 3 822 563 11 neste turno, o que é exactamente 458 272 O abaixo do que íamos fazer quando já estávamos abaixo do que era suposto fazermos. E porquê? O papel de filtro já se partiu hoje duas vezes e a rejeição é mais de três vezes o habitual porque a circunferência baixou dos 24 5. O peso nem sequer chegou perto dos novecentos e a diluição era de menos oito por cento, e depois a cola ficou com uma bolha por haver ar na linha, e porquê? Por não estarmos aqui para colocar cinco miseráveis cigarros à mão no Sodimat. Não inspeccionaste a qualidade. Não verificaste as máquinas porque estavas demasiado ocupado a ser mandado encostar pela polícia, ou lá que diabo é que disseste!
— Não te preocupes — disse-lhe Bubba em voz alta. — Eu compenso essa falha.
Brazil também estava atrasado, mas não por sua culpa. Atravessara a escuridão a correr, desde o seu carro, em risco de ser assaltado, até Park Avenue e, quando chegou ao apartamento de West, precisou de um momento para recuperar. Tocou à campainha e ela não se mostrou nada acolhedora ao mandá-lo entrar.
— Onde é que te meteste? — perguntou, mantendo-se de pé em frente da mesa do vestíbulo.
— Andei a tentar encontrar uma charcutaria — respondeu-lhe Brazil secamente.
— Para quê?
— Uma charcutaria, um restaurante, um banco. Um sítio qualquer onde conseguisse estacionar.
— é óbvio que tiveste êxito — disse ela.
— Isso depende de o meu carro ainda lá estar quando tivermos acabado.
Ela continuou peculiarmente parada em frente da mesa e ele percebeu que havia lá qualquer coisa que ela não queria que ele visse.
— Estamos no escritório. À esquerda, logo a seguir ao quarto. — Ela esperou que ele passasse, continuando parada em frente da mesa.
Brazil estava já a ficar maldisposto. Não queria ver o que estava em cima da mesa. Passou pelo quarto, negando-se a olhar lá para dentro. Entrou no escritório de West e não olhou em volta. Hammer estava sentada junto da secretária, com os óculos de ler e o olhar fixo no estranho mapa visível no ecrã do computador.
— O que é que estavas a dizer àquela mulher do jipe? — perguntou-lhe logo ela. — Aquela a quem eu tirei o lugar de estacionamento.
— Disse-lhe que estava numa zona de lixo.
— Numa quê? — perguntou West ao entrar.
— Onde os camiões encostam de noite ao fazer a volta pelos restaurantes para recolher o lixo. Mostrei-lhe o meu distintivo e ela obedeceu.
— Provavelmente, não devias ter feito isso — disse-lhe Hammer. — Tens alguma coisa que se beba nesta casa, Virgínia?
— De boa qualidade?
— Trouxe o carro da polícia.
Brazil arranjou uma cadeira e colocou-a ao lado de Hammer.
— Água e Sprite — disse West.
— Que tal Perrierf — perguntou Hammer.
— Não compro Perrier desde o susto com o benzeno.
— Isso é ridículo, Virgínia. Sempre que as galinhas apanham gripe, nunca mais as comes?
— Isso aconteceu há pouco tempo? Tenho Diet Coke.
— Água da torneira está óptimo — disse Hammer. — Andy, temos estado aqui sentadas a falar, sem chegar a nenhuma conclusão. Tens alguma pista sobre o que se passa? Por favor, explica-me como é que estes peixes entraram no COMSTAT.
— Bem, não entraram, não directamente, chefe Hammer — respondeu Brazil. — Também gostava de um pouco de água — disse ele para West. — Mas posso ir buscá-la. Também posso trazer a da chefe, se quiseres. Tenho todo o gosto.
— Eu vou. E não sejas tão bem-educado. Enoja-me.
— Desculpa. — Brazil foi novamente educado.
Era horrível estar em casa de West e ser recordado de que, desde que se tinham mudado para Richmond, ela nunca o convidara uma única vez. Nunca a tinha visto com uma roupa que não fosse de trabalho ou de treino e, nessa noite, ela trazia os jeans deslavados que o enlouqueciam. A T-shirt cinzenta era de um algodão muito macio que se agarrava ao contorno dos seios fartos, que ele já não tinha autorização de ver e, muito menos, de tocar. Estava a sofrer terrivelmente.
— Se olhar para o topo do ecrã — passou o dedo pelo monitor, falando para Hammer como se West tivesse passado a outra dimensão e nunca mais viesse a ser vista — vê que isto nos diz que estamos a olhar para o nosso site, pois está aqui a morada.
— Não — disse Hammer, sem querer acreditar.
— Receio bem que sim — respondeu Brazil.
Hammer e West curvaram-se, aproximando-se do ecrã e olharam, chocadas, para:
http://www.sen orrin hatch r utah.gov/sen bill IO/sen judie com mit/dept justice/nij/nypd I pol plaza/comstat/comp map center de/ /interpol/scot yrd/fbi/atf/ss/dea/cia/va nat guard/va state pol/va cor r dept/va crim just serv/juv just serv/va att gen/va gov off/va dept health/va dept safety/city mang/gsa/city hall/city counc/rich pol dept/off pub infoíqa/rich times disp/ap/upi/link ntwk/all rights resrv /classfyd/asneed/othrwyz/pub domain.html
Andy, nunca vi uma merda assim! — exclamou Hammer. — Por favor, não me digas que é assim que o público tem acesso ao nosso site.
Receio bem que sim — disse-lhe Brazil.
Como diabo esperas que alguém se recorde de uma coisa destas?
perguntou West, franzindo o sobrolho para o ecrã.
Brazil ignorou-a.
Pelo menos, funciona — disse ele. — Sabemos isso porque já tivemos algumas respostas.
— Mas por que diabo é o nosso endereço tão complicado? — quis saber Hammer. — Quantos contactos vamos ter com um endereço destes? — Interrompeu-se um minuto, com o rosto ensombrado. — Não me digas que Fling tem alguma coisa a ver com isto.
Silêncio.
— Oh, meu Deus — murmurou Hammer.
— Bem — respondeu Brazil —, a chefe queria isto o mais depressa possível. Era uma questão de encontrar portais de acesso para chegar ao nosso site; é semelhante à forma como o correio anda por vários sítios antes de nos chegar às mãos, ou como temos de mudar de avião em quatro aeroportos diferentes antes de chegarmos onde precisamos...
— Bestial — disse West. — Portanto, Fling pôs as pessoas a passar por cinquenta aeroportos diferentes só para ir de uma ponta da cidade à outra. Pôs o correio a fazer circular uma carta por vinte estados diferentes, só para ir de um quarteirão a outro.
— Para dar alguma razão a Fling, quanto mais portas de acesso, mais seguro fica o sistema — disse Brazil com objectividade.
— Ah! — Desta vez, West bufou. — Estamos seguros, não há dúvida! O maldito site está em funcionamento há poucos dias e já temos uns sacanas de uns peixes por todo o lado e não podemos entrar no COMSTAT.
— A mim, também me parece — Hammer seguiu as migalhas de pão da lógica quase inexistente desta floresta negra — que a situação de segurança é exactamente o oposto do que acabaste de dizer, Andy. A mim, parece-me que, quanto mais passagens, mais hipóteses de entrarem estranhos. É como as portas numa casa. Quanto menos, melhor.
— Também se pode ver assim — concordou Brazil. — Olhe, para ser honesto, não fazia ideia de que Fling arranjara um endereço assim até ser demasiado tarde.
Hammer ficou a olhar outra vez para o ecrã. Sentia-se cada vez mais descontente.
— Deixa-me certificar-me de que entendi bem — disse ela. — A primeira passagem para a nossa pequena página de Richmond é o Senador Orrin Hatch, o presidente da comissão judicial, o patrono da Lei 10 do Senado?
— Sim — respondeu calmamente Brazil, enquanto se via a deitar gás de pimenta a Fling e a atirá-lo de um viaduto.
— O que é que a Lei de Criminosos Violentos Juvenis Reincidentes tem a ver com o nosso site, Andy? — Hammer exigia uma resposta.
Brazil não fazia a mínima ideia.
— E daí vamos para a Interpol e para a Scotland Yard? E para o FBI, o ATF, o DEA, os Serviços Secretos e a CIA?
Hammer levantou-se de repente e começou a andar de um lado para o outro.
— E o Departamento da Polícia de Nova Iorque, em One Police Plaza? E o escritório do governador da Virgínia? E a maldita Câmara?
Ergueu os braços, desesperada.
— Haverá algum sítio na Terra onde as perguntas dos habitantes de Richmond não vão parar, antes de chegarem ao nosso site? — A voz de Hammer subiu perigosamente de tom.
Niles fugiu de debaixo da mesa, onde estivera a dormir em cima do pé de West.
— Olhe — Brazil já não aguentava mais —, não tive nada a ver com o endereço da Internet, está bem? A programação importante foi toda feita pelo Centro de Cartografia Informática do INJ. Fling devia apenas arranjar um endereço muito simples.
— E, agora, temos peixes — exclamou Hammer.
— Não sabemos se o endereço tem alguma coisa a ver com o aparecimento dos peixes. — Brazil não acreditava no que estava a dizer. — Podiam ter entrado de qualquer forma, independentemente do tamanho do endereço.
West levantou-se para ir buscar outra Miller.
— Esqueçamos a merda do endereço por um minuto — disse ela da cozinha. — Esta coisa da web é nova.
— Tão nova como sapatos com sola de pele — disse Brazil para Hammer, em vez de responder a West.
Esta olhou para ele irritadamente ao voltar para a secretária. Odiava quando ele fazia analogias. Ainda odiava mais que ele fingisse que ela era um candeeiro, uma cadeira, um objecto qualquer em que não se repara.
— Sim, é exactamente isso — disse Hammer, que já escorregara muitas vezes em soalhos de mármore e de madeira, sempre que calçava sapatos novos com sola de pele, que precisava de ser lixada por tijolos, passeios ou até por uma faca de serrilha.
— Portanto, como é que alguém sabe o suficiente sobre o nosso site novinho em folha para descarregar lá peixes? — perguntou West. — Quero dizer, vamos lá a ver. Sabemos muito bem que foi pela porra do endereço do Fling que os peixes entraram.
— Está muito bem visto — disse Hammer.
— O artigo que saiu no domingo, faz agora uma semana. Lembram-se? Eu disse que estávamos a começar uma página na web, para os cidadãos poderem mandar as suas perguntas, preocupações, queixas, fosse o que fosse. Disseram-lhes que o novo endereço estaria pronto daí a pouco tempo e que podiam telefonar para o quartel-general para saberem. É óbvio que Fling a deu.
— Então, foi assim que os peixes entraram — disse novamente West, bebendo a sua Miller. — Só pode ter sido, a não ser que isto tenha sido feito por alguém dentro do departamento.
— Sabotagem, um vírus. — Brazil pensava em voz alta.
— Receio que isso seja possível — comentou Hammer. — Mas, partindo do princípio de que não é um vírus ou uma tentativa deliberada para rebentar com o sistema, então há a hipótese de os peixes serem um símbolo, talvez um código qualquer.
— Provavelmente, a gozar connosco, como é costume — disse West. — Primeiro, somos os Ninjas, depois os Ni-Jays, depois os Nee-gees. Agora somos peixes. Talvez peixes fora de água, subentendendo que todos querem que nos vamos embora.
— Acho que isto não tem nada a ver com sermos peixes fora de água, ou peixes, ponto final — afirmou Hammer.
— Então, talvez andemos à pesca de alguma coisa. — West não desistia.
— Como, por exemplo? — perguntou Brazil. — E, sabe, se não se importa, chefe, acho que me apetecia uma cerveja.
— Quero lá saber.
Brazil levantou-se e foi até à cozinha.
— À pesca de pistas? De padrões de crimes? De zonas quentes? — West insistia.
— Isto é um disparate. — Hammer andava de um lado para o outro. Niles esgueirou-se de novo para a sala de jantar. Brazil estava mesmo atrás dele, a beber uma Heineken.
— Tirei uma das boas — disse ele para West educadamente. — Espero que não te importes.
— São do Jim, não são minhas.
Brazil sentou-se e esvaziou metade da garrafa de um só gole.
— Andy! — Hammer estava a pensar. — Há alguma forma de seguir a pista destes peixes?
Ele pigarreou, com as faces a arder e o coração a bater em surdina.
— Duvido — respondeu.
— Vamos analisar isto por um momento. — Hammer parou de andar e aproximou-se mais do mapa de cores brilhantes do ecrã. — A zona 219 está delineada a vermelho vivo e há um, dois, três, quatro... onze peixes cintilantes lá dentro. Nos outros sítios vêem-se apenas os ícones habituais.
Olhou para ambos.
— é possível que isto seja um aviso qualquer? — sugeriu ela.
— Peixes? — Brazil pensou no assunto. — Na 219 existem poucos mercados de peixe. Não há lagos, nem represas, nem sequer muitos restaurantes de peixe, excepto o Red Lobster e o Captain. Que usos ilegais podem existir para os peixes? — tentava Hammer descobrir. — Não consigo imaginar mercado negro, a não ser que exista uma proposta de lei de que ainda não saibamos nada, um imposto altíssimo sobre o peixe e os processos que inevitavelmente se seguiriam.
— Hmmm. — Por esta altura, Brazil já aceitava tudo. — Vamos por esse caminho, a ver. Digamos que algo se passa no Senado e ainda ninguém sabe nada da coisa. Bem, uma vez que um dos portais principais é a Comissão Judiciária do Senado e que a pesca é um assunto importante, poderemos, de alguma forma, ter apanhado um dos códigos deles quando os nossos dados passaram por lá?
— Estou a ficar com dores de cabeça — disse Hammer. — E, Virgínia, fazes o favor de tirar o teu gato de cima do meu pé? Não quer mexer-se. Estará morto?
— Niles, anda cá.
Weed tentou pôr-se de pé, mas caiu pesadamente. Rastejou pelo chão, sentindo dores nas tatuagens novas. Smoke acendeu meia dúzia de velas grossas e foi buscar vários jarros de água e um rolo de toalhas de papel. Weed começou a limpar a porcaria que fizera e teria vomitado outra vez, se tivesse alguma coisa para deitar fora.
— Agora, vai lá fora e tira a camisa e as calças — ordenou Smoke.
— Para quê? — perguntou Weed em surdina, com o estômago às voltas como um barquinho num mar revolto.
— Não entras no meu carro com esse cheiro, atrasado. Portanto, despeja uns baldes de água por ti abaixo até estares limpo, a não ser que queiras ir a pé.
Weed caminhou cuidadosamente à luz oscilante da vela e passou pela estrutura das portas de correr. Tirou a camisola e osjeans. Lá fora já não estava tão quente como nos dias anteriores e tremeu descontroladamente ao despejar quinze litros de água por si abaixo, o corpo franzino envergando apenas umas boxers encharcadas e uns Nikes que chapinhavam quando andava.
— Tens alguma coisa para eu vestir? — perguntou Weed a Smoke, que estava novamente a emborcar vodca.
— Há alguma coisa de errado com o que tens vestido?
— Não posso ir a lado nenhum assim! — implorou Weed. — Oh, meu, dói-me tanto a cabeça! Sinto-me mesmo mal e estou gelado, Smoke.
Smoke passou-lhe um copo de vodca, mas Weed ficou a olhar para ele.
— Bebe, vais sentir-te melhor — disse Smoke.
Procurou atrás de umas caixas de bebidas e voltou com um par de jeans Gottcha, uma T-shirt preta, uma camisola dos Chicago Bulis, um impermeável e um boné.
— As tuas cores — disse ele com orgulho.
Por um momento, Weed ficou feliz e esqueceu a dor de cabeça lancinante. Enquanto puxava os jeans por cima das boxers encharcadas e enfiava a T-shirt e a camisola pela cabeça, sentiu-se importante. Não lhe apetecia mais vodca, mas Smoke obrigou-o a beber.
Não estava lá muito consciente do que se passava, enquanto tentava ver o caminho, tropeçando atrás de Smoke pelos bosques escuros; acabaram por ir dar à livraria para adultos. Esconderam-se atrás dos carros até a costa estar livre e depois saltaram para dentro do Escort e afastaram-se velozmente. Weed começava a pensar que as coisas não estavam assim tão más, quando Smoke parou na esquina de uma rua escura em Westover Hills. Esticou o braço para trás e trouxe duas fronhas azuis-escuras. Uma estava vazia, a outra cheia de coisas que batiam umas nas outras.
— Sai e mantém a merda da boca fechada — disse Smoke. — Nem te atrevas a piar.
Mal se atrevia a respirar, ao seguir Smoke por Clarence Street até uma casa vulgar de madeira branca, cercada por uma vedação irregular, com espaços desiguais entre as tábuas. O alpendre de pau-brasil estava inclinado, como se tivesse resistido a uma ventania, e a grande garagem, construída posteriormente, era desproporcionada em relação ao resto da casa. Na entrada, estava estacionada uma velha carrinha Chevy Cavalier, viam-se luzes em diversas divisões e um cão ladrava na casota.
— Faz exactamente o mesmo que eu — sussurrou Smoke.
— E o cão? — perguntou Weed.
— Cala-te.
Smoke observou a rua vazia, agachou-se e atravessou o jardim rapidamente, escondendo-se atrás das árvores; por fim, acocorou-se na esquina da garagem, que estava fechada. Weed ia mesmo atrás dele, o coração a martelar, quando Smoke meteu a mão na fronha e tirou de lá uma mão-cheia de controlos remotos. Tentou um atrás do outro.
— Foda-se — murmurava ele, quando nada acontecia.
À oitava tentativa, foi recompensado. A porta da garagem, comprada no Sears e instalada pelo próprio dono, ergueu-se lentamente com um som hostil. Não se acenderam quaisquer luzes e o cão continuou a ladrar. Weed pensou em fugir e Smoke pareceu percebê-lo, pois agarrou-o pelo colarinho.
— Não me fodas — rosnou ele ao ouvido de Weed.
Smoke tirou do bolso uma pequena lanterna. Olhou em volta. Na casa, continuavam iluminadas as mesmas janelas e não havia sinal de movimento.
— Segue-me — sussurrou ele.
O cérebro de Weed bamboleava no interior do seu crânio como a gema de um ovo. Tinha a vista turva. Agarrou na fralda da camisa de Smoke e arrastou-se atrás dele, batendo com os dedos dos pés no cimento, enquanto deambulavam pela garagem. Smoke parou. Perscrutou, respirando fundo, à escuta. Acendeu a lanterna e o feixe luminoso esquadrinhou centenas de serras cintilantes, berbequins, martelos e outras ferramentas que Weed desconhecia.
— Inacreditável! — sussurrou Smoke. — O cretino nem sequer é capaz de pregar um prego direito e olha para esta merda toda!
Apontou a luz para um armário alto fechado a cadeado, que prometia conter um tesouro. Nem foi buscar o alicate que tinha no saco porque havia um melhor, pendurado no quadro. Smoke tirou-o do gancho e abriu e fechou as afiadas pontas de aço. Pareceu satisfeito. Cortou o cadeado como se fosse macio como o chumbo e aquele retiniu na escuridão, batendo no chão.
Abriu silenciosamente as portas. Seguidamente, passou a luz sobre prateleiras de camuflados, alvos, caixas de munições, revólveres, pistolas, espingardas e pressões de ar. As mãos voavam-lhe ao enfiar tudo o que podia nas fronhas que Weed mantinha abertas. Encheu os bolsos dos jeans e enfiou pistolas no cós das calças. Abriu rapidamente um grande saco de plástico preto, encheu-o e passou-o a Weed. Atirou os sacos repletos por cima do ombro, qual Pai Natal a fazer as entregas da Associação Nacional de Armas de Fogo.
— Foge! — sussurrou ele para Weed.
Atravessaram o jardim e seguiram pela rua o mais depressa possível, com os objectos a baterem e a retinirem. Suavam desconfortavelmente. Começaram a abrandar quando Smoke viu uma espessa sebe de buxo e escondeu aí os sacos. Mais leves, correram para o Escort.
Saltaram lá para dentro e levaram o carro até Clarence Street, estacionando junto à sebe. O saque estava onde o tinham deixado. Smoke esvaziou os bolsos e fechou tudo o que roubara na mala. Não passou um único carro. Nada mexia. O cão de Bubba ladrava como habitualmente.
Enquanto se afastava dali, Smoke começou a rir histericamente. Weed não fazia ideia nenhuma para onde iam. Nunca infringira a lei, excepto daquela vez em que fizera, um desenho desrespeitoso de um professor de quem não gostava e fora suspenso por dois dias, com permanência na escola.
— Eu só segurei no saco, portanto não cheguei a roubar nada, pois não, Smoke? — perguntou Weed. — Quero dizer, não vou ficar com nada. É tudo teu, não é?
Smoke riu-se ainda mais.
— Onde vamos? — atreveu-se Weed a perguntar. Smoke começou a procurar no meio dos CDs.
— Posso ir para casa? — perguntou Weed.
— Claro — respondeu Smoke. Começou a cantar rap, ao som de Master P.
— Parece que não estamos a ir pelo caminho certo. — Weed erguera a voz, mas Smoke disse-lhe para se calar. Acabaram por ir dar a West Cary Street, que era muito longe do bairro de Weed. Smoke parou o carro no meio da rua.
— Sai — disse ele.
— Para quê? — Weed protestou. — Não posso sair aqui!
— Vais um bocado a pé. Para termos a certeza de que estás bem acordado quando te formos buscar mais tarde.
Weed não sabia de nenhuns planos para mais tarde, mas nem se atreveu a perguntar. A crueldade de Smoke despertava, pronta a atacar.
— Sai, atrasado — avisou-o Smoke.
— Não sei onde estou.
— Continua a andar naquela direcção e são para aí três quilómetros até à tua rua.
Weed não se mexeu, olhando estarrecido para a escuridão, com a cabeça a martelar. Smoke observava os espelhos.
— Apanho-te a dois quarteirões da tua casa, às três da manhã. Na esquina da Schaaf com Broadmoor — disse Smoke.
Weed não compreendia. O estômago estava novamente às voltas.
— Traz as tuas tintas, atrasado. O que der melhor numa estátua de metal em tamanho natural, num cemitério.
Weed abriu a porta e cuspiu bílis para o passeio. Saiu do carro e quase tombou.
— Lembra-te do que aconteceu da última vez que te atrasaste — recordou-lhe Smoke. — E se alguém descobrir o que andamos a fazer, vou magoar-te a sério.
Weed cambaleou para o lado, agarrou-se a um sinal de limite de velocidade para se aguentar e ficou a ver os faróis traseiros do carro de Smoke a desaparecerem pela rua abaixo. Deixou-se cair no chão e implorou a Deus que o ajudasse. Levantou-se e não conseguiu lembrar-se da direcção, nem do sítio onde estava. Foi-se escondendo atrás de muros e árvores sempre que apareciam luzes, chegando a deitar-se de bruços e a fingir-se morto.
Niles também estava a fingir-se de morto. Desistira de tentar dar a entender que estava sentado em cima da secretária da dona no momento em que os peixes tinham aparecido no ecrã do computador, o que acontecera exactamente às 12h47 dessa tarde.
Niles não fizera nada que causasse esse invulgar incidente e, para falar a verdade, pensara que a dona arranjara um novo protector de ecrã em seu benefício, pelo facto de gostar tanto de peixe e de a dona estar sempre a procurar agradar-lhe e a arranjar-lhe ocupações para que não fizesse asneiras.
Hammer mexeu outra vez os pés debaixo da secretária. Niles aguentou-se, com as patas bem seguras em volta dos tornozelos dela e as unhas encolhidas para não lhe fazer malhas nas meias.
— E que tal usar peixes para esconder cocaína? — sugeriu West.
— Virgínia, que bem pensado — disse Hammer, sacudindo novamente os pés.
— A droga podia entrar sem ser detectada, vinda do Maine, de Miami, de quase todo o lado — continuou West.
— Quero os Narcóticos a investigar isto imediatamente — disse Hammer. — E, Andy, telefona ao Centro de Cartografia Criminal do INJ logo de manhã e vê o que nos podem dizer. Esperemos que este problema dos peixes não se tenha espalhado, que não seja sinal de vírus.
— Com um endereço destes — disse Brazil com franqueza —, estou preocupado com o número de sites da web que possam ter sido infectados.
— Diz ao INJ que a nossa situação é urgente, que não podemos entrar no COMSTAT até resolvermos isto — ordenou Hammer. — Tenho mesmo de me ir embora para levar Popeye à rua. Virgínia, por favor, pega no teu gato para eu me poder mexer.
— Niles, já chega!
Niles enroscou-se no sapato de Brazil. Este inclinou-se e passou os dedos pelas costelas do gato como se fossem teclas de piano. Niles ronronou. Gostava muito de Brazil e pusera-lhe a alcunha de Homem-Piano quando viviam em Charlotte e o Homem-Piano e a sua dona se davam bem, jogavam ténis, iam à carreira de tiro, viam filmes e falavam da hipótese de ele sair do Charlotte Observer e de ir para a polícia, a fim de poder escrever histórias sobre crimes que mudassem a forma de pensar das pessoas.
Niles queria que a dona e o Homem-Piano se voltassem a dar bem, mesmo que isso significasse ser posto fora da cama todas as noites. Andava irritado com a dona, que não era nada simpática para o Homem-Piano e estava aborrecida com as atenções que Niles lhe dava. Saltou para o colo do Homem-Piano.
— Desculpa, tenho de ir — disse-lhe ele. — Obrigado pela cerveja. — Brazil agradeceu a West e levantou-se da mesa. — Chefe Hammer, vou consigo até ao seu carro.
West acompanhou-os à porta. Pôs-se novamente em frente da mesa do vestíbulo, mas não foi a tempo e Brazil viu o cartão da florista com o nome de West.
— Boa noite — disse ela a ambos.
Enquanto caminhava pela Mulberry, sob as luzes dos candeeiros, Brazil sentia-se nervoso e irritado, pensando se o seu BMW teria desaparecido ou sido vandalizado. Esteve tentado a dar meia volta e regressar a casa de West, a exigir uma explicação.
Era verdade que a relação deles em Charlotte fora um tanto complicada, devido às diferenças existentes entre ambos. Ela era mais velha e talentosa, tinha um cargo mais importante e a sua personalidade era o oposto da dele. Mas fora sua mentora quando Brazil fazia a ronda para o jornal e vigiava as ruas à noite, como polícia voluntário. Fora então que escrevera as suas melhores histórias. Tinha ganho prémios e mudara a forma de pensar das pessoas. Mudara também a sua.
Decidira ser um polícia a sério, como o pai, e fora West quem lhe dera coragem para o fazer. Ajudara-o e amara-o, mesmo por entre lutas de uma violência tempestuosa. Quando faziam as pazes, era sempre inacreditável. Brazil não conseguia pensar nela sem reviver o seu sabor e o seu toque. Não sabia por que motivo mudara tão abruptamente pois, quando perguntara, ela recusara-se a responder. Era como se nunca tivessem sido amantes ou amigos íntimos. Não insistiu, talvez por recear que o seu maior medo se revelasse verdadeiro: não estar à altura dela. Na sua vida, ninguém o fizera sentir-se à altura. O pai morrera quando Brazil era ainda garoto e a mãe, que não gostava de si própria, era incapaz de amar os outros. Durante algum tempo, West preenchera um terrível vazio na vida de Brazil. Odiava Jim. Como é que Jim se atrevia a enviar-lhe flores?
Smoke mandou Sick, Beeper, Dog e Divinity vigiarem Weed para se certificar de que ele não tentava nenhum truque que lixasse os planos para essa noite.
Assim, os Pikes partiram no Pontiac Lemans de 69 de Dog, percorrendo as zonas escuras de West Cary e procurando, sem êxito, qualquer sinal do filho da mãe do bêbedozito.
— Tenho sede — disse Divinity.
— Eu também — acrescentou Beeper.
— Vá lá, Dog. Faz lá o teu truque — pediu Divinity.
Dog não gostava que o considerassem um cão amestrado. No entanto, nunca dizia nada. De uma forma geral, ia na onda e fazia o que lhe mandavam.
— Que sabor queres desta vez? — perguntou.
— Deixa-me ver — pensou Divinity. — Que tal qualquer coisa com gelo, querido? Talvez Michelob Ice? Estou mais que farta de Bud e de toda a outra merda que costumas trazer e que sabe a mijo. Além disso, querido, gelada dá mais gozo. Sabes, faz-nos andar a cabeça à roda.
Pensava que era muito engraçada e adorava rir das próprias piadas. Dog parou num 7-Eleven e usou a sua identidade falsa para comprar uma segunda embalagem de Michelob Ice, enquanto Beeper e Sick distraíam o dono, com Beeper a fingir que escorregara e Sick a ajudá-lo a levantar-se, e Divinity percorria as prateleiras e enfiava no saco de ganga tudo o que queria.
— Acho que, se o encontrarmos, nos podemos divertir um bocado — disse Dog ao sair do parque de estacionamento, voltando a pensar em Weed. — Não gosto dele.
— Isso é por ele saber pintar, querido, e tu não saberes fazer merda nenhuma — disse Divinity.
Dog sentiu a maldade vir à tona.
— Ele tem de aprender a viver — disse Dog. — Tem de aprender a mostrar respeito.
— Metes-te nisso e Smoke arranca-te o eu e dá-o a um pit buli — disse Divinity, beberricando a cerveja.
— Smoke que se foda. — Dog voltou para West Cary Street. — Não tenho medo nenhum dele.
Não era verdade. Dog só se transformara em Dog no Natal anterior, ao fazer quinze anos. Andava à procura de um pouco de crack e encontrou Divinity e Smoke no centro comercial de Chimborazo Boulevard. Smoke vendeu-lhe duas pedras e depois puxou de uma pistola, roubou-lhas e ficou com o dinheiro.
— Ei, ou me dás o dinheiro ou as pedras — disse-lhe Dog.
— Só se as ganhares — respondeu-lhe Smoke.
Smoke convenceu-o a roubar uma mulher qualquer à mão armada, na Baixa, perto do Edifício Monroe. Dog entregou a Smoke quarenta e sete dólares e nunca se esqueceria do que este lhe disse a seguir.
— Agora pertences-me. Possuo-te. — Encostou a Glock entre os olhos de Dog. — és meu escravo. Sabes porquê?
Dog disse que não sabia.
— Porque não tens merda nenhuma. Não passas de um merdas. Os teus miolos são merda. És tão estúpido que vieste p’ra ’qui p’ra comprar crack e foste roubar uma pobre velhota qualquer e quase lhe causaste um ataque de coração. Se morrer, pode ser considerado assassínio. Talvez eu tenha de contar à polícia.
— Não podes. — Dog estava totalmente confuso. — Mas é que não podes fazer isso.
Smoke começou a rir-se dele e Divinity acompanhou-o. Dog recebeu o nome de Dog e tornou-se um Pike. Começou a baldar-se tanto às aulas que estava sempre a ser suspenso, o que lhe dava a possibilidade de continuar a baldar-se, situação demasiado confusa para ele. Havia tantas coisas confusas, mas sempre que punha questões e dizia que talvez não quisesse continuar a assaltar pessoas ou a roubar mais carros e restaurantes, Smoke ficava na pior.
Sabia como magoá-lo e fazê-lo recear pela vida. Smoke não se importava de matar. Já o vira atropelar animais de propósito, como um gato no outro dia, e um cachorrinho que estava fora da estrada, na entrada de uma casa qualquer. Smoke tinha um jogo a que chamava “Esmagar o esquilo” e que era exactamente o que parecia. Guinava como um doido para apanhar os esquilos e atropelá-los e ia contando. Gabava-se de já ter morto uma pessoa numa cidade da Carolina do Norte, onde vivera.
Contara-lhes que entrara na casa de uma velha inválida e a apunhalara cinquenta vezes, só para poder levar a carrinha dela para dar um passeio, e que voltara lá mais tarde, depois de se livrar da carrinha e de ter roubado tudo o que queria. Fizera uma sanduíche e comera-a, a olhar para o corpo morto e ensanguentado, tendo-lhe depois arrancado a roupa. Parecera-lhe tão feia que a esfaqueara ainda mais, em lugares para onde nem sequer devia olhar. Contara também que a avó vivera com a família até ele a ter esmurrado na cara, altura em que ela decidira mudar-se. Explicou que ela o chateara pela última vez e pronto.
Smoke revelara-lhes ainda que fora preso por ter matado a velha inválida, mas que o tinham posto em liberdade assim que fizera dezasseis anos e que ninguém, para além da família, soubera o que ele tinha feito e nunca haveriam de saber, pois era assim que funcionava a lei. Dog sabia que não faltava muito até Smoke matar alguém outra vez. Tinha essa necessidade e ele não queria ser escolhido para a satisfazer.
— Meu, oh, meu — disse Divinity subitamente, tirando a tampa a outra cerveja. — Olha para aquele carro. Ummmmm.
— Temos de continuar à procura de Weed — recordou-lhe Beeper.
— Oh, não, meu — disse-lhe Divinity. — Pára imediatamente que eu vou sair.
Em West Cary Street, o alarme que soou na cabeça de Brazil parecia tão estridente como o de um carro de bombeiros a abrir caminho por entre o trânsito. Três rapazes e uma rapariga com ar de prostituta acariciavam o seu carro como se o quisessem violar. Os rapazes riam, mexendo-se com um ar desprendido, com as calças larguíssimas, quase a cair, uma perna enrolada, a outra para baixo, boxers subidos e camisolas e bonés dos Chicago Bulis. A rapariga trazia uma saia preta curta e justa e uma T-shirt também preta, com um grande decote. Olharam para Brazil com ar de desafio e este retribuiu-lhes o olhar.
Dirigiu-se ao carro com as chaves na mão, um Colt Mustang preso ao tornozelo direito, sob a perna dos jeans já gastos. Já estava maldisposto antes de ali chegar; agora estava a ficar perigoso.
— Este carro é teu, querido? — perguntou a rapariga.
— é — retorquiu ele.
— Onde é que o arranjaste?
— Na Crown BMW em West Broad — disse Brazil com um sorriso espertalhão. — Têm muitos modelos.
— Ai é? — retorquiu a rapariga. — Bem, Bonitão, isso não interessa porque eu acabei de o escolher para mim.
Divinity decidira que seria a porta-voz do gang. Por um lado, não estava tão bêbeda como os outros, por outro, o tipo do carro era tão bonito que, já agora, ia divertir-se um bocadinho.
— Escuta, querido. — Aproximou-se dele. — Por que é que não levas aqui a Divinity a dar uma voltinha neste teu carrão?
Aproximou-se mais. O Bonitão deu um passo atrás. Os outros três avançaram. O Bonitão estava ao pé da porta do condutor, rodeado de punks.
— Que se passa, doçura? — Divinity passou os dedos pelo peito do Bonitão. — Ena! Que homem! Ummmm.
Fez pressão com ambas as mãos no peito musculoso e gostou do que sentiu.
— Não me toques — avisou o Bonitão. Beeper chegou-se ao Bonitão.
— O que é que lhe disseste, cabrão?
— Disse-lhe para não me tocar. E afasta-te de mim, estupor — disse o Bonitão sem levantar a voz.
— Sai daqui — disse Divinity a Beeper. — Este é meu.
Beeper afastou-se para o lado. Divinity queria tocar outra vez no Bonitão. Desejava muito que ele também a tocasse. Encostou um seio ao braço de Brazil.
— Sabe bem, querido? — arrulhou ela. — A mim, sabe-me muito bem.
— Que porra é que estás a fazer? — perguntou Dog, agarrando-a pelo cotovelo e puxando-a para trás.
— Bem! — Sick começou a andar de um lado para o outro com ar arrogante. — Se Smoke te vir, dá-nos cabo do canastro! — exclamou ele, quase a gritar.
Só Beeper não dizia nada. Parecia cansado de ver Divinity a exibir-se, como se fosse um Viper VIO que toda a gente queria guiar.
— Deixa lá esse deslavado — sugeriu-lhe Beeper.
— Pegamos é no carro dele e piramo-nos daqui — disse Dog, enervado, olhando em volta e passando a língua pelos lábios.
— Não vos vou dar o carro — disse-lhes o Bonitão. — Ainda não está pago.
Divinity riu-se e aproximou-se novamente dele.
— Ainda não está pago! — gritou ela. — Oh, meu, é bom saber disso, pois não queremos roubar nenhum carro que ainda não esteja pago!
Sick, Dog e Beeper entraram na dela. Começaram a rir e a troçar, andando de um lado para o outro como umas galinhas doidas, as calças quase a cair e os boxers de fora.
Divinity voltou a tocar em Brazil. Cheirava a incenso e tinha mau hálito. Os dedos dela percorreram-lhe o peito e, quando se encostou a ele, esfregando a pélvis na dele, ele empurrou-a.
— Não me tocas, a não ser que eu te dê autorização — disse-lhe Brazil num tom autoritário.
— Filho da puta — sibilou ela. — Ninguém empurra a Divinity. Enfiou a mão debaixo da mini-saia e tirou uma navalha de ponta e mola, que se abriu, com a longa lâmina de aço a brilhar à luz incerta da rua.
— São horas de nos pormos a andar, meus — disse o tipo com ar de mau e cabelo à escovinha.
— Guarda a faca — disse o que tinha ar de estúpido a Divinity.
— Pisga-te! — cuspiu Divinity. — Vão-se embora, seus caralhos, já! Tenho um assunto a tratar e um lindo carro novo para dar um passeio.
— Se te deixarmos, Smoke mata-nos — afirmou o estúpido num tom prosaico.
— Se não deixarem, sou eu que vos mato — prometeu Divinity. Fugiram os três. Desapareceram na esquina, em direcção a Robinson Street. Divinity apontou a faca à garganta de Brazil, aproximando-se.
— Pensei que querias ficar sozinha comigo — disse Brazil, como se nada no mundo o pudesse assustar. — Que raio de começo é esse?
— Não me fodas — disse Divinity numa voz baixa e ameaçadora.
— Pensei que era isso que querias, que eu te fodesse.
— Quando acabar, querido, ficas incapaz de voltar a foder. Brazil apontou a chave com controlo remoto à porta do BMW e a fechadura abriu-se.
— Já andaste num carro destes? — perguntou-lhe ele, vendo a faca a brilhar.
Sabia que a conseguia agarrar antes de ela o esfaquear, mas provavelmente ia feri-lo, talvez com gravidade. Estava a pensar noutra coisa. Abriu a porta do carro.
— O que é que te parece? — perguntou ele.
Divinity não conseguiu impedir o olhar de vaguear pelo interior, apreciando os estofos de pele macia e os espessos tapetes.
— Entra — disse Brazil. Ela parecia hesitante.
— O que é que se passa? Tás com medo de ser vista comigo? — perguntou Brazil. — Tens medo que o teu namorado faça alguma coisa?
— Não tenho medo de nada — retorquiu ela asperamente.
— Talvez precise de arranjar outro estilo, hem? — disse Brazil. — Talvez não esteja vestido como deve ser?
Sentou-se de lado no lugar do condutor. Puxou o pólo por cima da cabeça e atirou-o para trás. Divinity ficou a olhar para o seu peito nu, por onde escorria suor. Brazil tirou um boné de basebol dos Braves do tabelier e pô-lo de trás para a frente.
Divinity sorriu e baixou a faca.
— Já tenho Nikes. — Brazil ergueu o pé direito. — Portanto, só me falta enrolar a perna das calças. Depois tu entras, querida, e temos toda a noite para passear.
Divinity começou a dar gargalhadinhas. Riu ainda mais quando Brazil se inclinou e começou a enrolar a perna direita das calças, mas arquejou quando ele lhe apontou subitamente o Colt Mustang entre os olhos. A navalha caiu no passeio com um som retumbante. Divinity começou a correr. Um velho Lemans cinzento-rato roncou vindo da esquina e meteu travões a fundo. A porta de trás abriu-se de repente e Divinity mergulhou lá para dentro. Brazil ficou no meio de West Cary Street, com a arma ao lado e o coração a martelar.
Pensou em persegui-los mas o bom senso disse-lhe para os deixar em paz. O Lemans desapareceu tão rapidamente que Brazil só viu de relance uma matrícula da Virgínia. Voltou para o seu BMW e seguiu pela West Cary, em direcção a casa.
A primeira vez que o Lemans passou lentamente, o amortecedor rasava o passeio, fazendo um barulho terrível e lançando faíscas, como se o carro fosse um fósforo a tentar incendiar a rua.
O som dos baixos estava tão alto que a noite pulsava mais do que a cabeça de Weed, que esfolara ambas as palmas das mãos ao atirar-se para uma vala, mesmo a tempo. Espreitara por entre as ervas e conseguira ver quatro pessoas dentro do carro, acompanhando aos saltos um tema de rap. Uma delas voltou-se para olhar para trás, enquanto bebia por uma garrafa. Weed percebeu, horrorizado, que Divinity, Beeper, Sick e Dog estavam naquele carro, provavelmente à sua procura.
Da segunda vez, já passava das dez quando Weed ouviu, ao longe, o tremendo barulho do motor modificado, o som estridente do amortecedor e o trovejar do baixo. Saltou por cima de um muro e acocorou-se junto de um abeto, na propriedade de um ricaço qualquer que vivia numa mansão de tijolo com grandes pilares brancos.
Os Pikes desapareceram ao fundo da rua. Weed esperou uns bons cinco minutos antes de sair do esconderijo. Estava a saltar novamente o muro quando um carro de desporto, com os máximos acesos, fez suavemente a curva. As luzes imobilizaram Weed na escuridão, qual traça numa vidraça.
Bubba estava tão ocupado que nem conseguia dar um gole no Tang, que já estava morno quando Honey enchera vingativamente o seu termos e que, portanto, continuaria morno mesmo que viesse a ter tempo de o beber. Não havia a mínima hipótese de conseguir dar uma escapadela à sala de estar para aquecer no microondas o seu Taco Bell Lunchable, que Honey não estragara porque era impossível.
Bubba não teve um instante para pensar na Icehouse, ou na Molson Golden ou na Foster’s Lager que enchiam o frigorífico da sala das lamas, à sua espera quando ele finalmente lá entrasse, exausto, por volta das sete e meia, como acontecia todas as manhãs excepto terças e quartas, os seus dias livres. Bubba não comia, bebia ou fumava nada que não fosse Philip Morris. E só compraria acções da Philip Morris se não gastasse tanto nos produtos deles, no jipe e em ferramentas.
Os sentimentos de Bubba Fluck estavam tão feridos que atingiam a raiva. Ao tentar acelerar as coisas ao máximo no Posto 8, era tratado como merda. É certo que houvera uma série de rejeições a voar para os caixotes, destinadas à sala de desfibração, onde dariam entrada numa máquina que separaria o precioso tabaco do papel, recuperando-o. Bubba recusava-se a aceitar a derrota. Calculava que, se três turnos podiam dar trinta milhões de maços de cigarros cada vinte e quatro horas, então, por amor de Deus, ele havia de conseguir sacar meio milhão de cigarros extra, ou vinte e cinco mil maços, antes da mudança de turno.
Trabalhava como um possesso, correndo do computador para a máquina. Quando a resistência à extracção se aproximava demasiado do vermelho, Bubba estava a postos para fazer o ajustamento. Sabia intuitivamente quando ia ficar sem cola e certificava-se de que o assistente chegava a tempo com o carro. Quando o papel de filtro se voltou a romper, Bubba enrolou-o de novo pelo canal de ar até aos rolos de alimentação, enfiou-o no guarnecedor e carregou no reset em apenas trinta segundos.
Quando o papel se rompeu novamente, percebeu que as lâminas da cabeça de corte estavam rombas e chamou um operário para tratar do problema. Bubba suou durante aqueles minutos perdidos e trabalhou ainda mais depressa para recuperar o tempo. Passaram três horas sem mais acidentes, sem pausas e, pelas quatro horas, o relatório de produção no ecrã do computador mostrava que Bubba estava apenas a 21 350 varas duplas, ou menos de dois minutos, atrás do Posto 5.
A supervisora da produção, Betty Council, controlava a qualidade, inspeccionava técnicos e electricistas e coordenava os turnos. Há semanas que mantinha Bubba debaixo de olho porque parecia que ele tinha mais problemas técnicos do que qualquer dos outros operadores. Gig Dan dissera-lhe que estava a ficar farto dele.
— Como é que vamos? — perguntou-lhe ela, enquanto o aspirador da máquina chupava a mistura de tabaco para baixo e as varas se formavam tão depressa que mal se viam.
Bubba estava demasiado ocupado para responder.
— Não é preciso matar-se — disse Council, que estava a caminho de outra promoção pelo facto de ser esperta, trabalhadora e de, há alguns meses, ter aumentado a produção em três por cento ao encorajar a competição entre os postos.
— Estou óptimo — disse Bubba, enquanto as varas eram coladas, cortadas, puxadas para o tambor de transferência, levadas até outra lâmina e outra barbatana e ainda outro tambor. Do funil de carga saíam porções de tabaco que eram cortadas e unidas às varas.
— Estou completamente espantada — gritou ela por cima do barulho e do matraquear das máquinas. — Você e Smudge estão quase empatados.
Brazil pisou a fundo, em perseguição do miúdo que, cambaleando, ziguezagueava ao longo da estrada. Na polícia, era ponto assente que, se um sujeito ia a correr, havia normalmente uma razão. Brazil abriu a janela.
— Que se passa? — gritou ele, sem parar de guiar, enquanto o miúdo continuava a correr.
Nada — arfou o miúdo, deixando ver o branco dos olhos, com o medo a emprestar velocidade aos Nikes.
— Passa-se alguma coisa ou não estarias a correr — retorquiu Brazil. — Pára para podermos falar.
— Não posso.
— Podes, sim.
— Não posso, não.
Brazil encostou à frente dele e saltou para fora do carro. O miúdo estava exausto e cheio de álcool. Vestia uma camisola dos Bulis e pareceu-lhe vagamente familiar, mesmo na escuridão.
— Deixe-me em paz! — gritou ele quando Brazil o agarrou pela camisola. — Não fiz nada!
— Ei! — disse Brazil. — Acalma-te. Espera um pouco, já nos encontrámos. és aquele miúdo de Godwin, o artista. Tens um nome diferente, como é...? Week? Wheeze?
— Não lhe digo coisa nenhuma! — O miúdo respirava ruidosamente, com o rosto brilhante de suor que lhe pingava do queixo.
Brazil olhou em volta, a pensar e a escutar. Não viu mais ninguém. Não se ouvia nenhum sinal de alarme a apitar, a estrada estava escura, a noite silenciosa.
— Weed! — recordou-se ele subitamente. — Exactamente, é isso mesmo.
— Não é nada — disse Weed.
— é, pois. Tenho a certeza. E o meu é Andy Brazil.
— Você é aquele chui que foi lá à escola — acusou-o Weed.
— E que mal tem isso? — perguntou Brazil.
— Então, por que é que anda por aqui num BMW? — queria saber Weed.
— Uma pergunta melhor é por que é que estás bêbedo e a correr como um maníaco.
Weed olhou para o céu, para onde devia estar a Lua se não estivesse tapada pelas nuvens.
— Vou levar-te a casa — disse Brazil.
— Não me pode obrigar — desafiou-o Weed, as palavras indistintas atropelando-se umas às outras.
— Claro que posso. — Brazil riu-se. — Estás bêbedo em público. És menor. Podes vir para a esquadra ou então levo-te a casa e, no teu lugar, escolhia a segunda hipótese, tomava uma aspirina e ia para a cama.
weed pôs-se a pensar. Passou um grande camião, seguido de uma carrinha. Weed continuava a pensar, limpando a cara à manga. Um Volkswagen passou velozmente, seguido de um jipe, o que fez Brazil pensar no CABBAGES. Encolheu os ombros, dirigiu-se ao carro e abriu a porta.
— Vou chamar um carro para te levar para a esquadra — disse ele. — Não tenciono arrastar prisioneiros no meu carro particular.
— Disse que me levava a casa nele — retorquiu Weed. — Agora diz que não leva.
— Disse que não te vou arrastar para a esquadra. — Fechou a porta. Weed escancarou a porta do passageiro e deslizou para o assento de pele. Pôs o cinto sem dizer uma palavra. Brazil retrocedeu para West Cary.
— Qual é o teu nome verdadeiro? — perguntou-lhe Brazil.
— Weed.
— Como é que arranjaste um nome desses?
— Não sei. — Weed ficou a olhar para os seus boxers nada limpos.
— Claro que sabes. O meu pai trabalha para a câmara.
— E? — encorajou-o Brazil.
— Corta relva e coisas assim. Tira ervas. Chamou-me Weed porque disse que eu havia de crescer como uma erva daninha.
Sentiu-se imediatamente humilhado e alarmado. Era óbvio que não crescera lá muito e já contara demasiado ao chui. Viu-o a assentar Weed num pequeno bloco. Merda! Se o chui percebesse que era um Pike, matavam-no. Smoke trataria disso.
— Qual é o teu apelido? — perguntou então Brazil.
— Jones — mentiu Weed. Brazil assentou-o igualmente.
— Para que é esse cinco?
— Ha?
— O cinco tatuado no teu dedo.
O medo deu lugar ao pânico e a mente de Weed ficou em branco.
— Não tenho nenhuma tatuagem — disse, estupidamente.
— Ai não? Então, que é isso que eu estou a ver?
Weed examinou primeiro uma mão, depois a outra, como se nunca tivesse olhado bem para si próprio antes daquele momento. Olhou para o 5 e esfregou-o com o polegar.
— Não quer dizer nada — respondeu ele. — Fi-lo e pronto, percebe?
— Mas porquê o número cinco? — insistiu Brazil. — Escolheste-o por algum motivo.
Weed começou a tremer. Se o chui percebesse que o 5 era o seu número de escravo, uma coisa podia levar a outra.
— É o meu número da sorte — disse Weed, com o suor a escorrer-lhe das axilas pelo corpo abaixo, sob as roupas dos Bulis.
Brazil pôs-se a mexer no leitor de CDs, saltando de Mike & The Mechanics para Elton John, antes de se decidir por Enya.
— Como é que consegue ouvir isso, meu? — perguntou finalmente Weed.
— O que é que tem?
— Não tem nada. Não tem boa percussão, nem pratos, nem uma letra que faça sentido.
— Talvez a letra faça sentido para mim — respondeu-lhe Brazil. — Talvez eu não ligue à percussão, nem aos pratos.
— Ai é? — Weed irritou-se. — Está só a dizer isso por eu tocar pratos e em breve ir aprender percussão.
— Importas-te de me dizer o caminho? — pediu Brazil. — Ou é segredo?
— Aposto que não percebe nada de pratos. — A capacidade de raciocínio de Weed ia e vinha e a viagem confortável e a escuridão agiam como um sedativo. — E até vamos ao Desfile das Azáleas.
— Sei que tens de viver algures perto de Godwin, senão não podias frequentar a escola. — Brazil sentia-se cada vez mais frustrado.
Weed estava quase a dormir. Cheirava mal e Brazil continuava sem saber por que motivo o miúdo andava na rua, bêbedo e a correr como se Jack, o Estripador, o perseguisse. Inclinou-se e sacudiu-o suavemente. Weed deu um salto enorme.
— Não! — berrou ele.
Brazil acendeu a luz do tejadilho e olhou com atenção para ele. Reparou que o número 5 no indicador direito tinha um aspecto inchado e tosco.
— Diz-me onde vives — disse Brazil com firmeza. — Acorda, Weed, e diz-me.
— Henrico Doctor.
— O hospital?
— Sim.
— Vives perto do Hospital Henrico Doctor?
— Vivo. Dói-me tanto a cabeça.
— Não fica na zona de Godwin.
— O meu pai é que vive lá. A minha mãe, não.
— Bem, vais para casa de quem, Weed? Da tua mãe ou do teu pai?
— Quase nunca vou para ao pé dele. Só de vez em quando, talvez um fim-de-semana de dois em dois meses, para ele poder sair e deixar-me sozinho, o que é óptimo.
— Em que rua vive a tua mãe?
— Entre a Forest e a Skipwith. Eu mostro-lhe. — A língua de Weed estava colada ao céu-da-boca.
Brazil pegou na mão que Weed mantinha em cima do colo.
— Por que é que fizeste uma tatuagem? — perguntou ele novamente. — Alguém te meteu isso na cabeça?
— Há muita gente que as tem. — Weed desprendeu a mão.
— A mim, parece-me que a tens há pouco tempo — disse Brazil. — Talvez até tenha sido feita hoje.
Aparentemente, o Governador Feuer e o seu grupo tinham passado a outros pratos e outros temas. Ainda não tinham saído do La Petite France e Roop estava cansado de esperar. Decidiu que valia a pena procurar algumas informações sobre o problema dos peixes e ligou o número da casa de Hammer, graças a Fling que, estupidamente, lho dera.
— Hammer — respondeu ela.
— Aqui Artis Roop.
— Como tem passado, Artis?
— Deve estar a pensar como é que consegui o seu número de casa...
— Vem na lista telefónica — respondeu Hammer.
— É verdade. Escute, chefe, estou a investigar esta questão do derramamento de peixe...
— Derramamento de peixe? — A voz dela parecia alarmada. — Quem lhe falou de um derramamento de peixe?
— Não posso revelar as minhas fontes, mas se há um, acho que o público precisa de saber para sua própria protecção, nem que seja só para as pessoas escolherem um caminho alternativo para o trabalho, amanhã de manhã.
— Não tenho conhecimento de nenhum derramamento de peixe — respondeu Hammer com firmeza.
— Então, de que é que as pessoas andam a falar?
— De uma simples questão de administração interna, Artis.
— Não compreendo.
Roop estava a ficar ansioso, pois a porta do restaurante permanecia fechada, sem sinais de movimento. Ocorreu-lhe subitamente que talvez o governador tentasse escapar pela entrada de serviço e talvez já tivesse saído. Roop desligou o telefone do isqueiro e saiu apressadamente do carro, sem parar de falar.
— Como é que algo relativo a peixes ou a um derramamento de peixe pode ser um assunto interno? — insistiu-ele.
— Um problema de computadores — retorquiu ela.
— Oh! — exclamou ele, perplexo. — Continuo sem perceber. O peixe é algum vírus?
— Esperamos que não — disse Hammer, que era sempre directa, a não ser que se recusasse a comentar.
— Então, o sistema de telecomunicações COMSTAT foi abaixo? — Roop apanhara o ponto vital da questão.
Hammer hesitou e depois disse:
— De momento.
— Em todo o lado?
— Não tenho mais nada a dizer — respondeu ela redondamente. Roop tinha a certeza de que o problema do peixe era importante, mas tinha outros peixes para pescar. Os agentes da Unidade de Protecção de Executivos da polícia estadual vinham a sair do La Petite France, seguidos de perto pelo governador. Luzes de máquinas e de flashes disparavam de todos os lados, mas o governador mantinha-se amável e sereno, assim como a mulher, pois estavam habituados àquela merda. Roop ouvia governador isto e governador aquilo e ficou satisfeito pelo facto de não haver comentários. Calmamente, aproximou-se de Jed, o motorista do governador, que pertencia à UPE.
— Não quero incomodá-lo — disse Roop. — Tenho uma certa pena de ele ser assim abordado a toda a hora. Nem sequer pode ir jantar sem ter toda a gente atrás dele.
— Quem me dera que todos pensassem assim — disse Jed.
— Como é que consegue estacionar essa coisa? — perguntou Roop, mirando a enorme limusina Lincoln, de um negro reluzente, de uma ponta à outra.
Jed riu-se, como se isso não fosse nada.
— A sério — continuou Roop, enquanto o governador e a esposa eram rapidamente acompanhados até ao carro. — Eu nem sequer podia ser motorista, ando sempre a perder-me. Sabe bem como é difícil encontrar o local de um crime quando não fazemos ideia de onde estamos, não é?
Roop reunira informações sobre Jed, que toda a gente, excepto o governador, sabia ter grandes dificuldades em encontrar o caminho, mas ocultava esse facto.
— Está a gozar? — disse Jed, abrindo a porta de trás para o casal, que entrou.
— Boa noite, Governador e Mrs. Feuer — disse Roop, curvando-se com cortesia.
— Boa noite — retorquiu o governador, que era um homem muito amável quando se conseguia chegar até ele.
— Vi-o em Encontros com a Imprensa — disse Roop.
— A sério?
— Sim, governador. Esteve óptimo. Graças a Deus, há alguém a defender a indústria do tabaco — disse Roop efusivamente.
— É uma questão de bom senso — respondeu Feuer. — Eu não fumo, mas acho que é uma escolha pessoal. Ninguém obriga ninguém a fazê-lo e o desemprego e cigarros de mercado negro não são uma perspectiva agradável.
— A seguir, é o álcool — continuou Roop num tom de indignação virtuosa.
— Não, se eu tiver alguma coisa a dizer.
— Haverá tabaqueiras clandestinas em vez de destilarias, governador. — Roop enfiou a frase que esperava vir a conseguir-lhe um Prémio Pulitzer.
— Gosto dessa — disse Feuer.
— Eu também — comentou a primeira dama.
— Tabaqueiras clandestinas. — O governador Feuer sorriu ironicamente. — Como se o ATF não tivesse já bastante que fazer. A propósito — disse ele a Roop —, acho que não nos conhecemos.
A pequena casa na esquina junto do Hospital Henrico Doctor era de tijolo, com persianas azuis recentemente pintadas e um jardim bem cuidado. Na entrada, de saibro, não se via nenhum carro. Brazil entrou, as pedrinhas brancas a ranger sob o BMW. Considerou o que havia de fazer.
— Quando é que a tua mãe vem para casa? — perguntou ele a Weed.
— Ela está em casa. — Weed estava um pouco mais vivo.
— Não tem carro?
— Tem.
— Não está aqui — disse Brazil. — A mim, parece-me que ela não está em casa.
— Oh! — Weed endireitou-se e olhou pelo pára-brisas, com os dedos no fecho da porta. — Quero ir para a cama, estou cansado. Deixe-me lá sair, ’tá bem?
— Weed, onde é que trabalha a tua mãe? — insistiu Brazil.
Ele também estava ansioso por ir para casa descansar, mas receava deixar sozinho aquele miúdo tão evasivo.
— Trabalha no hospital — disse Weed, abrindo a porta. — Faz serviço no bloco operatório.
— É enfermeira?
— Acho que não. Mas é capaz de chegar por volta da meia-noite.
— É capaz?
— Por vezes, vem mais tarde. Trabalha muito, porque só temos o que ela ganha e o meu pai joga muito e arranjou-nos muitas dívidas. Quero ir para a cama. Obrigado pela boleia. Nunca tinha andado num carro tão bom.
O agente Brazil arrancou assim que Weed fechou a porta da entrada. Olhou em volta, para a sala vazia, desejando que a mãe estivesse em casa, mas aliviado por assim não ser. Havia um resto de rolo de carne e carnes frias, mas Weed não sabia se comer iria melhorar ou piorar as coisas. Experimentou uma sanduíche de queijo e fiambre, que ajudou a acalmar-lhe o estômago.
Atravessou o vestíbulo, parando para abrir a porta do quarto de Twister. Ficou a olhar para as taças e posters de basquetebol, para a cama por fazer, o tapete enrugado, a T-shirt da Universidade de Richmond no chão, o computador em cima da secretária com o protector de ecrã dos Bad Dog. Estava tudo exactamente como Twister deixara da última vez que estivera no quarto, em 23 de Agosto, um domingo, a última vez que o vira vivo.
Weed entrou e pensou que lhe cheirava a Obsession, a água-de-colónia de Twister, e que conseguia ouvir o riso e as observações chatas do irmão. Imaginou-o sentado no meio do chão, as longas pernas dobradas, a calçar-se e a chamar a Weed o seu “minutozinho”.
— ’Tás a ver, são precisos sessenta minutos para fazer uma hora — dizia ele. — E eu sei que tu não consegues fazer uma soma direita, mas acredita em mim. Em breve, passas a uma hora, depois a um dia, a uma semana, um mês. E serás tão alto como eu.
— Não serei nada — respondia Weed. — Tu tinhas o dobro do meu tamanho quando tinhas a minha idade.
Depois, Twister endireitou-se e começou a driblar uma bola de basquete invisível. Enganava Weed, fingindo ir para a esquerda e para a direita, mantendo a bola junto ao corpo, com os cotovelos abertos.
O tempo está a fugir e eu só tenho um minutozinho! — ria-se ele, agarrando Weed e atirando-o para cima da cama. Fazia-o saltar para cima e para baixo, até ele se sentir deliciosamente tonto.
Weed aproximou-se da secretária e sentou-se. Ligou o computador, a única coisa em que tocava no quarto do irmão, porque Twister ensinara-o a usá-lo e sabia que o irmão queria que continuasse a fazê-lo. Ligou-se à AOL. Mandou um e-mail para a caixa de correio de Twister e viu se lá havia mais algum.
Para além das mensagens que Twister recebia diariamente de Weed, não havia mais nada.
Olá, Twister
Tens lido as minhas cartas? Não foram abertas, mas aposto que não precisas de as abrir como fazem os outros. Não mudei nada no teu quarto. A mamã não entra cá. Mantém sempre a porta fechada.
Weed esperou uma resposta instantânea. Não sabia porquê, mas acreditava que, um dia, Twister ia contactá-lo através do computador. Ia dizer Como é, minutozinho? Fico muito contente por me escreveres. Vejo tudo o que fazes, portanto o melhor é andares na linha.
Fartou-se de esperar. Desligou o computador e apagou a luz. Ficou ali à porta durante um momento, demasiado deprimido para dar um passo. Foi até ao seu quarto e pôs o despertador para as 2h45 da manhã.
— Por que é que não estás aqui? — perguntou ele a Twister. A escuridão não lhe trouxe resposta.
— Por que é que não estás aqui, Twister? Já não sei o que hei-de fazer, Twister. A mamã quase não vem a casa, trabalha tanto que até parece que levou uma pancada na cabeça ou coisa assim. Só dorme, levanta-se e sai. Desde que te foste, quase não diz nada. O papá faz-lhe a vida negra e agora tenho o Smoke à perna. Talvez ele me mate, Twister. Se aqui estivesses, não o faria.
Weed continuou a falar com Twister durante o sono. Dormiu profundamente, com a cabeça cheia de sonhos tenebrosos. Estava a ser perseguido por um camião do lixo que fazia um som horrível, de raspagem, ao precipitar-se por uma estrada escura, à procura dele. Não o largava, fosse ele para onde fosse. Quando o despertador tocou, Weed suava, com o coração a martelar. Tirou-o rapidamente da mesinha-de-cabeceira e desligou-o. Pôs-se à escuta, mal respirando, na esperança de que a mãe continuasse a dormir.
Acendeu a luz e vestiu-se depressa. Foi até à mesinha de jogo por baixo da janela e sentou-se para pensar no que ia precisar para pintar a estátua de metal. Desejava ter sido honesto e ter contado ao agente Brazil o que se passava e por que motivo tinha a tatuagem. Mas sabia que Smoke o apanharia. Acabaria por fazê-lo.
A grande questão era saber se havia de usar óleos ou acrílicos. Procurou nas prateleiras dos seus preciosos materiais, olhando com ternura para o estojo de pintura Bob Ross que a mãe lhe oferecera no último Natal e para o qual tivera de fazer horas extraordinárias. Custara quase oitenta dólares e incluía oito tubos de óleo, quatro pincéis e uma cassete de vídeo com instruções, que Mrs. Granis o autorizara a ver na escola, uma vez que ele não tinha videogravador.
Weed abriu as tampas do verde seiva, do amarelo cádmio e do vermelho alizarina. Procurou no seu estojo Demco Collegiate e pensou no tempo que o óleo levaria a secar e se teria muito que limpar. Não queria ficar a cheirar a terebintina.
Estudou os tubos das tintas acrílicas, de esmalte brilhante, da Apple Barrei. Tinha quarenta e seis cores à escolha, mas para conseguir um efeito mesmo bom precisava de lixar primeiro a estátua e aplicar duas demãos. Isso iria levar séculos e, na verdade, a última coisa que Weed queria era estragar uma estátua. Se não fosse por mais nada, Deus haveria de o castigar. Estragar a estátua de uma pessoa famosa era tão mau como pintar graffitis numa igreja ou pôr um bigode a Jesus.
Acabou por arranjar um plano ousado. Talvez pudesse usar tinta de posters. Tinha sacos cheios de frascos. Era barata e não fazia porcaria. De facto, podia lavar-se com água e sabão, mas Smoke não tinha forma de saber isso quando Weed estivesse a pintar.
Nunca usara têmpera à base de água em metal e experimentou um pouco de verde no caixote do lixo de metal do seu quarto. Ficou excitado e até um pouco surpreendido quando a tinta se espalhou suavemente e agarrou. Juntou todos os frascos que tinha e enfiou-os na mochila e num saco de compras. Procurou na caixa dos pincéis, todos impecavelmente limpos, e decidiu-se por dois de aguarelas para as linhas finas e dois grossos para os fundos. Juntou mais um Academy de tamanho 14, redondo, para o caso de ser preciso.
O Departamento de Polícia de Nova Iorque estava fora do campo de acção habitual de Artis Roops. Começara com a assistência telefónica e fora sucessivamente passando da esquadra de Midtown North para a Linha Directa de Violações, a Linha Directa do Crack e o Serviço de Encontros da Universidade chegando, por fim, a um funcionário imobiliário de Queens que lhe deu o número do posto de comunicações. Daí, conseguiu, por meio de uma mentira, que o Sargento Mazzonelli falasse com ele.
— Sim, sei o que é o COMSTAT. Quem é que pensa que o introduziu? — perguntava Mazzonelli.
— Claro, sei muito bem que foram vocês — disse Roop da sua secretária atafulhada na sala de imprensa do Richmond Times-Dispatch.
— Pode ter a certeza.
— Temos um problema no centro cartográfico — disse Roop.
— Qual centro cartográfico? Não ouvi nada sobre centro nenhum.
— No INJ.
— Em Nova Jersey?
— INJ e não NJ. — Roop corrigiu Mazzonelli.
— Bem, de onde raio é que está a falar? — perguntou Mazzonelli. Tapou o bocal com a mão e gritou:
— Hei, Landsberger! Vais ao Hop Shing’s?
— Quem quer saber?
— A tua mãe.
— Ai é? O que é que ela quer? Peixe? Roop ficou alerta.
— Bem, essa nem sequer tem piada — disse outro chui.
— Stromboli. Com provoloni, muita cebola, o costume — disse Mazzonelli.
Tirou a mão do bocal e voltou a falar.
— Bem, estava a dizer... — disse ele para Roop.
— Nós temos um problema com a rede de computadores do COMSTAT.
— Quem é nós?
— Escute, falo de Washington e temos um problema. — Roop falou da forma como ouvira nos filmes. — É possível que um vírus tenha infectado a rede e queremos saber a sua dimensão.
Silêncio.
— Pode aparecer sob a forma de peixes — acrescentou Roop.
— Merda — disse Mazzonelli muito baixo. — Então, vocês aí em Washington também têm a mesma coisa? Todos estes malditos peixinhos azuis a nadar em círculos na 219, seja lá isso onde for?
— É em Richmond, na Virgínia — informou-o Roop. — Pensamos que foi por aí que o vírus entrou. O hospedeiro, por outras palavras.
— Richmond?
— Achamos que sim, sargento. Isto é pior do que eu pensava. Se também não conseguem entrar no vosso sistema de telecomunicações do COMSTAT — continuou Roop, escrevendo furiosamente —, então ninguém consegue.
— Merda. É a coisa mais esquisita que já vi. Neste momento, temos cá três especialistas, a tentar tirar a maldita coisa do ecrã, mas estamos pendurados. Bom, eu não mexo pessoalmente na merda do computador, sabe, mas sei ver e ouvir e percebo quando uma coisa é mesmo séria. Pelo que eles dizem, não se conseguem encontrar pistas nem padrões.
— Exactamente. — Roop virou uma página. — Aparentemente, ninguém consegue.
A chefe de redacção de Roop, Clara Outlaw, parou junto da secretária dele para ver o que se passava e se ele estava a pensar cumprir a hora-limite da última edição. Ele fez-lhe um sinal afirmativo com o polegar e ela começou a dizer qualquer coisa, mas Roop levou o dedo aos lábios com uma expressão carregada. Ela bateu no relógio com o dedo. Ele anuiu e fez-lhe um sinal afirmativo, em que ela não acreditou. Voltou a bater no relógio. Roop abanou a cabeça e fez-lhe sinal que aguentasse.
— Ouvi dizer que foi ao princípio da tarde. De repente, este mapa com os peixes apareceu no ecrã e não conseguimos tirá-lo. Apareceu vindo do nada. — Mazzonelli não se calava.
Roop escrevinhou Peixes Histéricos num pedaço de papel. Rasgou-o e passou-o a Outlaw. Ela franziu as sobrancelhas e escreveu Peixes Histémicos? Roop abanou a cabeça. Isto não era mesma coisa que o micróbio responsável pela morte de milhares de peixes na Costa Leste, pensava ele. Naquele momento, ninguém sabia de nada. Roop tirou-lhe o papel e sublinhou Peixes Histéricos quatro vezes.
Às dez para as três da manhã, Weed saiu silenciosamente do quarto, parou à porta do quarto da mãe, que estava fechada, na esperança de a ouvir ressonar. Assim era, tão alto como sempre. Saiu de casa e esperou na esquina que Smoke lhe indicara.
Passados uns minutos, ouviu-se o Lemans à distância e Weed lembrou-se do pesadelo do camião do lixo. As mãos começaram a tremer-lhe de tal modo que ficou com medo de não ser capaz de pintar. Sentiu-se novamente agoniado e teve vontade de fugir para dentro de casa e chamar a polícia ou, pelo menos, de ir buscar os acrílicos, para o caso de Smoke perceber que fora enganado.
A porta de trás do Lemans abriu-se. Weed entrou e pôs a mochila e o saco das tintas no colo, para se proteger, ficando a olhar para a cabeça de Smoke. Divinity ia no banco da frente, encostada ao ombro dele.
— Então os outros não vêm! — disse Weed, fazendo um grande esforço para manter a voz calma.
— Não precisamos deles — respondeu Smoke.
— Por que é que não trouxeste o teu carro? — perguntou Weed, com o terror a crescer como uma onda prestes a rebentar.
— Porque não quero o meu carro estacionado onde alguém o possa encontrar — disse Smoke.
— O Dog não se importa se alguém vir o carro dele? — perguntou Weed.
— Isso não interessa — disse Smoke friamente. — E é melhor calares a boca, atrasado. Aqui, quem faz as perguntas sou eu. Percebeste bem?
Divinity riu-se e enfiou a língua no ouvido de Smoke.
— Sim — disse Weed muito baixinho, enquanto os olhos se lhe enchiam de lágrimas. Limpou-as tão depressa que nem tiveram tempo de escorrer.
Não disse mais nada, enquanto Smoke se dirigia ao centro, passando por um bairro em Oregon Hills, onde deixaram o carro num pequeno parque junto ao rio. A vedação do cemitério estava coberta de hera e tinha cerca de três metros de altura e Weed não via forma de treparem por ela, mas Smoke sabia o que fazer. Weed nunca ouvira falar de uma empresa que fizesse publicidade na vedação de um cemitério, mas parece que Victory Rug Cleaning pensara ser uma boa ideia. A grande placa de metal estava presa à vedação junto do cruzamento de South Cherry com Spring Street.
Smoke mostrou-lhes como era fácil agarrar as bordas da placa e elevarem-se o suficiente para agarrar os ramos grossos de um velho carvalho, do outro lado da vedação. Em menos de nada, os três tinham saltado para o chão e estavam dentro do cemitério escuro e silencioso. Para Weed, era uma cidade fantasma, com ruelas que serpenteavam por todo o lado, lápides e monumentos assustadores a perder de vista. Ocorreu-lhe subitamente que talvez Smoke e Divinity achassem engraçado deixá-lo ali.
Provavelmente, era esse o plano deles, o que lhe provocou calafrios dos pés à cabeça. Weed ouvira histórias de chulos que castigavam as prostitutas, atando-as a árvores dentro de cemitérios, deixando-as lá até ao outro dia. Algumas das mulheres perdiam o juízo. Outras morriam com ataques de coração, ao tentarem fugir. Uma puta arrancara a mão à dentada para escapar, enquanto outra se suicidara, sustendo a respiração. Weed fez um esforço tremendo para os dentes não baterem, pois sabia que não podia mostrar medo.
— Fixe — disse ele, olhando em seu redor. — Podia ficar aqui a pintar durante semanas, meu!
Ele e Divinity seguiam Smoke, que parecia saber para onde ia.
— Sabem, todas estas pedras são como autênticas telas e papel de desenho. Ummm. Podia pintar até morrer — continuava Weed. — Depois dessa estátua, posso pintar mais algumas?
— Cala-te — disse-lhe Smoke.
Weed obedeceu. Parecia que tinha uma data de bichinhos a percorrer-lhe o corpo e suava e tinha frio ao mesmo tempo. Perguntou a si próprio quantos mortos haveria ali. Mais do que conseguiria contar, certamente, uma vez que tinha normalmente 1 a Matemática. Ficou espantado com o número de pessoas de apelido PAX ali sepultadas. Na escola, não havia nenhum PAX, embora existissem bastantes Paxtons e um Paxinos, que viera de Nova Iorque e pensava ser o único que sabia falar correctamente.
Mas os que mais incomodavam Weed eram os mortos abastados, todos enfiados dentro de pequenas casas de mármore, com imensas esculturas e nomes gravados por cima de enormes e pesadas portas de ferro. Também havia janelas e a ideia de espreitar por elas fez-lhe ficar com os cabelos em pé. O seu espírito foi assaltado por imagens que o começaram a atormentar. Viu uma cara bolorenta com olhos encovados e mãos esverdeadas e podres que seguravam uma Bíblia branca e iam, a qualquer momento, virar para uma página onde se lia uma maldição que dizia que Weed ia para o inferno. Viu um esqueleto sorridente com um longo vestido de cetim, as mãos ossudas fechadas em volta de uma rosa seca, que estava prestes a erguer-se e a voar atrás dele, a chocalhar.
Quase se foi abaixo das pernas. Deixou cair a mochila e as alças enrolaram-se-lhe nos pés. Tropeçou e ficou ainda mais embrulhado, caindo sobre um arbusto esculpido. Estava quase a equilibrar-se quando tropeçou numa urna e acabou por se estatelar, escapando por pouco a bater com a cabeça numa lápide em pedra com o formato de uma árvore. Weed não sabia quem fora o Tenente-Coronel Peachy Boswell, mas acabara de espezinhar completamente o seu túmulo.
Smoke e Divinity riam-se a bandeiras despregadas, com as mãos sobre a boca, tentando não fazer barulho; sem ar e curvados para a frente, pulavam de um lado para o outro como se o chão estivesse a escaldar. Weed levantou-se lentamente, fazendo o inventário das partes do corpo para se certificar de que não lhe faltava nenhuma, nem estava magoado; no entanto, doía-lhe o cotovelo e viu que lhe escorria sangue pelo braço abaixo. Ajoelhou-se e colocou no sítio os torrões que levantara. Pegou na mochila e no saco das tintas e encolheu os ombros, como se não se importasse nada de ter acabado de profanar um túmulo, acto que, normalmente, merecia uma maldição semelhante à que imaginara na Bíblia branca.
Divinity meteu a mão no seu saco de ganga e tirou uma garrafa de meio litro de Wild Turkey. Ela e Smoke começaram a emborcar e Smoke passou-lhe a garrafa, que ele recusou. O outro insistiu, mas Weed nem se mexeu.
— Fico confuso — sussurrou ele. — Queres que vá pintar, não queres?
— Claro que quero. — Smoke começou a rir. — A estátua é aquela ali, atrasado. E sabes que mais? Estás por conta própria. Nós não vamos ficar aqui.
Weed tentou manter-se calmo.
— OK — disse ele. — Mas como é que volto para casa?
— Desenrasca-te! — Smoke agarrou na mão de Divinity e ambos fugiram dali aos tropeções, a rir, sem se importarem onde punham os pés.
Weed olhou em volta, tentando perceber onde estava. Era uma parte do cemitério muito perto do rio, ocupada por gente rica, alguns tão importantes que tinham áreas relvadas suficientemente grandes para toda a família. Weed viu a silhueta da estátua duas ruas mais à frente e o coração bateu-lhe de temor. Recortada na escuridão, era alta e direita, um homem orgulhoso com um belo perfil bem marcado.
Ao aproximar-se, viu que havia seis caminhos que levavam à estátua, o que queria dizer que o homem devia ter sido uma espécie de herói, talvez a pessoa mais famosa do seu tempo. Trajava um casaco comprido, botas altas e segurava na mão um chapéu, tendo a outra assente na anca. Estava colocado numa base de mármore rodeada de azáleas e hera. Aos seus pés viam-se duas bandeiras sulistas.
Weed não reconheceu o nome Jefferson Davis. Não sabia nada sobre o homem cuja estátua ia pintar, excepto que Davis fora “um soldado americano e um defensor da Constituição” que nascera em 1808 e morrera em 1889. Weed precisou de alguns minutos para fazer as contas. Abriu a mochila e começou a tirar tintas, pincéis e garrafas de água.
Oitenta e nove menos zero-oito, calculava ele, mexendo os lábios. Não chegou a resultado nenhum e tentou outra vez. Nove menos oito era um. E oito menos zero continuava a ser oito. Portanto, Jefferson Davis tinha apenas dezoito anos quando morrera. Weed ficou cheio de tristeza.
Olhou em volta, para a escultura em mármore de uma mulher pesarosa que segurava uma Bíblia aberta. Perto, estava sentado um anjo com grandes asas. Observavam-no e pareciam estar à espera. Subitamente, Weed soube por que motivo o tinham trazido ali. Não tinha nada a ver com Smoke, não no grande esquema das coisas. Não havia qualquer maldição, mas sim uma dádiva inesperada. O seu coração encheu-se de alegria e soube o que devia fazer. Não se sentia sozinho e não tinha medo.
Jefferson Davis foi presidente da Confederação (estados sulistas) durante a Guerra Civil. (NT)
O sono era como um estranho que, de momento, se recusava a entrar na vida de Brazil. Deu mais um pontapé nos lençóis, levantou-se para ir beber água, andou às voltas no escuro por uns momentos, sentou-se defronte do ecrã do computador e ficou a olhar para o mapa com os seus peixes azuis. Bebeu mais água e imaginou West a sentir-se igualmente atormentada.
Tinha esperança de que estivesse agitada e cheia de pesadelos, e que sofresse ao pensar nele. Depois, o seu devaneio foi invadido pelo rosto desconhecido de alguém de nome Jim. Brazil pensou em todos os chuis que sabia serem conhecidos de West e não conseguiu lembrar-se de ninguém chamado Jim por quem West pudesse remotamente interessar-se. Ela gostava de homens altos e bem constituídos que fossem inteligentes, divertidos e sensíveis, homens com quem pudesse ver um filme, tomar uma bebida ou praticar tiro. Estava cansada de ser magoada e necessitava de paciência e de ternura. Por vezes, a indiferença também funcionava.
Brazil voltou para o quarto em grandes passadas. Eram quase cinco horas. West deixara claro que não tencionava correr com ele nessa manhã, porque detestava correr e precisava de um dia de folga. Brazil vestiu um fato de treino e saiu. Correu velozmente através do Fan, aumentando de velocidade à medida que ficava mais obcecado por Jim. Tudo o que sabia sobre ele era que bebia Heineken ou que, pelo menos, trouxera uma embalagem de seis garrafas para casa de West; portanto, também era possível que pensasse que ela gostava de Heineken. Até podia acontecer que Jim nem bebesse cerveja. Podia preferir scotch ou um bom vinho, embora Brazil não tivesse visto nem um nem outro na cozinha dela. É evidente que não abrira os armários.
Ao passar pelo quarto, não olhara lá para dentro porque sabia que não aguentaria ver roupas de homem amontoadas no chão ou a cama
desfeita. Correu sete quilómetros. Depois fez pesos e abdominais até sentir o torso em fogo. Tomou um duche longo ,e quente, sentindo-se infeliz e furioso.
Barbeou-se e lavou os dentes no duche, decidindo que não podia deixar West levar a dela avante por mais tempo. Raios a partissem! Viu e reviu na sua mente a última vez que se tinham tocado, na noite de Natal, quando fora a casa dela entregar-lhe o seu presente. Andara a poupar durante meses para lhe comprar uma pulseira de ouro e platina que ela deixara de usar poucos dias depois de se terem mudado para Richmond.
Sentia-se usado e menosprezado. Sentia que lhe tinham mentido. Se ela realmente o amava tanto como costumava dizer, então como é que podia envolver-se subitamente com alguém de nome Jim? Há quanto tempo duraria aquilo? Talvez tivesse enganado Brazil desde o início e já andasse com um Jim qualquer em Charlotte; talvez tivesse homens por todo o lado. Brazil ia telefonar-lhe e exigir-lhe uma explicação. Secou o cabelo com uma toalha, ensaiando o que ia dizer. Vestiu o uniforme com calma, reflectindo.
O Cemitério Hollywood acordava normalmente ao amanhecer. Clay Kitchen tratava da manutenção e levava o seu trabalho muito a sério. Também gostava de fazer horas extraordinárias e descobrira que, se aparecesse por volta das sete, todas as manhãs, conseguia acrescentar para aí umas dez horas, ou seja, duzentos e oitenta e cinco dólares e oitenta cêntimos, ao salário que recebia de quinze em quinze dias.
Kitchen conduziu o seu Ford Ranger azul lentamente pela secção dos soldados da Confederação, onde estavam sepultados dezoito mil homens corajosos e a esposa do General Pickett. As lápides de mármore, iriuito simples, estavam colocadas bastante perto umas das outras, em fileiras perfeitas, o que tornava difícil o corte da relva. Kitchen estacionou junto da pirâmide com o Monumento à Confederação, de vinte e sete metros de altura, construído em granito acarretado do Rio James em 1868, quando a única maquinaria era constituída por corpos fortes, audácia e um guindaste.
Kitchen ouvira as histórias. Houvera acidentes e os trabalhadores tinham ficado muito nervosos. O projecto arrastara-se durante um ano e todos se mostravam cansados. Quando só faltava trepar até ao cimo e colocar a pedra de topo no seu lugar, os homens tinham-se recusado.
Nem pensar, deviam estar a brincar. Ninguém o fizera, portanto, e um preso da penitenciária estadual vizinha oferecera-se, alegadamente como voluntário, e levara a cabo a perigosa tarefa sem incidentes, a
6 de Novembro de 1869, aplaudido por uma multidão entusiasmada.
A relva estava a ficar um pouco crescida em volta da base da pirâmide e necessitava de ser aparada. No entanto, isso teria de esperar até Kitchen ter terminado a sua inspecção dos cento e trinta e cinco acres que o mantinham tão ocupado. Avançou, seguindo pela Avenida dos Confederados, passando por Eastvale e Riverside, o que o levou a Hillside, junto do Círculo dos Presidentes, a Jeter e a Ginter, acabando por se aproximar do Círculo de Davis. Mesmo de longe, viu imediatamente o problema.
Jefferson Davis trajava um equipamento de basquetebol vermelho e branco. O chapéu que segurava na mão fora transformado numa bola de basquete, embora com uma forma esquisita. A pele fora pintada de negro e a base de mármore onde se erguia fora transformada num soalho de ginásio.
Kitchen acelerou, chocado, furioso e descontrolado. Travou a fundo para ver melhor. O número da camisola era o 12. Kitchen era fã de desporto e reconheceu logo o equipamento dos Spiders, da Universidade de Richmond. O número 12 da camisola pertencia a Bobby Feeley, um dos jogadores mais patéticos que Kitchen já vira. Arrancou o rádio-portátil do cinto e chamou o seu supervisor.
— Alguém transformou Jefferson Davis num jogador de basquetebol negro! — declarou ele.
Niles não deixava West em paz. O gato nunca fora fácil, mas havia um pecado que não tinha permissão de cometer: nenhum gato, nem ninguém, impedia West de dormir, a não ser que ela decidisse ficar acordada, e não fora isso que acontecera.
— Que diabo se passa contigo? — queixou-se West, virando-se e dando um murro na almofada.
Niles não estava a dormir, mas manteve-se imóvel. Estava na mesma posição desde a meia-noite, quando a dona decidira finalmente pôr de lado um livro idiota com o título Canja para a Alma, que prometia mil e uma histórias comoventes que não significavam nada para ele.
— Cala-te! — disse a dona, dando pontapés nos lençóis.
As costelas de Niles subiam e desciam ao ritmo da respiração. Perguntava a si próprio quando é que a dona iria perceber que ficava irritadíssima sempre que o Homem-Piano era avistado na zona.
— Não consigo aguentar mais — anunciou ela.
Sentou-se. Pegou em Niles e largou-o no chão. O gato, que já aturara bastante nas últimas horas, decidiu que já chegava. Voltou a saltar para a cama e começou a bater-lhe no queixo com a pata, mantendo as garras encolhidas.
— Seu estupor! — Fez-lhe uma festa na cabeça.
Niles pôs-se aos saltos em cima da barriga dela, sabendo como ela detestava que lhe fizesse isso de manhã, quando tinha vontade de fazer chichi. A dona atirou-o para fora da cama outra vez; ele voltou a saltar para lá, bufando e mordiscando-lhe o dedo mindinho, antes de dar um salto e fugir como um raio. Ela foi em sua perseguição.
— Anda cá, grande sacana! — gritava ela.
Niles correu mais depressa, virou para o escritório e saltou para a prateleira de cima da estante, onde ficou à espera, a abanar a cauda e a observá-la com os seus olhos estrábicos. A dona virou a esquina com bastante menos elegância, batendo com a anca na porta e praguejando. Apontou um dedo a Niles, que não se deixou intimidar. Nem sequer estava cansado. Ela aproximou-se e estendeu a mão, tentando agarrá-lo. Niles saltou-lhe por cima da cabeça e aterrou na secretária. Bateu na tecla da Lista do Centro de Informação Pessoal do telefone até encontrar o número que queria. Depois, carregou em Altifalante e Ligar. Esperou até a dona estar quase a agarrá-lo pelo pescoço, deu-lhe uma pancadinha no nariz e desapareceu, enquanto se ouvia pelo altifalante um incessante sinal de chamar.
— Está? — respondeu o Homem-Piano.
West ficou imóvel.
— Está? — perguntou novamente Brazil. Ela pegou bruscamente no telefone.
— Como é que estou a falar contigo, se não te liguei? — quis ela saber, ao ler o número de Brazil no ecrã de vídeo.
— Quem fala? — perguntou Brazil.
— Não fui eu, foi o Niles — explicou West.
— Virgínia?
— Não fui eu — repetiu ela, olhando furiosa para o gato, que se espreguiçava a uma distância segura.
— Telefonar-me não é bem um crime — disse Brazil.
— A questão não é essa.
— Queres ir tomar o pequeno-almoço ou tens compromissos? — convidou Brazil de forma hesitante, como se o fizesse por simpatia e não tivesse qualquer interesse em vê-la.
— Meu Deus, não sei — retorquiu ela, pensando noutras respostas feitas. — Que horas são? Passei a noite acordada por causa do Niles.
— São quase sete.
— Não vou correr contigo, se é isso que, na verdade, queres — atirou-lhe West, sentindo o coração a falhar.
— Já fui correr — disse Brazil. — Já foste ao River City Diner?
— Não consigo lembrar-me dos nomes de todos os sítios.
— é muito bom. Importas-te de me vir buscar, uma vez que tens de levar o carro e eu não?
— Com que então conheces todos os sítios cá do burgo... — comentou West.
Naquela manhã, Popeye também não deu sossego a Hammer, saltando para cima dela. Correu descaradamente para o escritório da dona, saltou para a cadeira da secretária e ficou a olhar para o ecrã do computador e para os peixes. Não deixou Hammer sentar-se para beber o café da manhã e dar uma olhada ao jornal. Durante o passeio, mostrou-se muito teimosa e não cedeu a recompensas. Não se sentava, não se deitava, não vinha nem ficava onde a dona lhe mandava.
— Para que me serve ler todos aqueles livros e seguir a opinião de um especialista em comportamento animal? — perguntou Hammer exasperada. — Detesto isto, Popeye. Já tentei argumentar contigo. Já falei muito sobre a importância de cooperares, para que a tua companhia seja um prazer. Perguntei-te muitas vezes se tiveste alguma experiência traumática antes de te ter ido buscar à SPA, algo que explique por que motivo começas a mordiscar as pessoas e a saltares para cima delas. Seja lá o que for, não me dizes nada, o que não é justo, Popeye. Sabes como gosto de ti, sabes como a minha vida é difícil, não preciso de mais stress. Sabes que serei processada se morderes alguém e que as pessoas fingem sofrimentos psicológicos, desfiguramentos e disfunções sexuais, porque sabem que tenho dinheiro e a publicidade negativa me prejudica. Agora senta-te, e olha que estou a falar a sério.
Hammer agachou-se com um biscoito na mão.
Popeye pôs o seu olhar de desafio e ficou a olhar para ela.
— Sentada. Popeye recusou-se.
— Deitada. Popeye não o fez.
— Que se passa contigo? — perguntou Hammer.
A onda de choque espalhou-se rapidamente e com repercussões alarmantes. O supervisor da manutenção do Cemitério Hollywood alertou imediatamente a presidente da associação do cemitério, Lelia Ehrhart, que telefonou logo a todos os membros da direcção, incluindo Ruby Sink, a secretária da associação e a pessoa que mais provavelmente espalharia a notícia.
Miss Sink decidiu sair para ir buscar o jornal no exacto momento em que a chefe-adjunta Hammer passava no seu passeio com Popeye.
Hammer ultrapassou rapidamente a casa de tijolo de dois andares, com o seu alpendre dórico e as cornijas e janelas originais. Miss Sink apressou o passo, arrastando os pés pelas escadas e pela calçada.
— Venha cá — chamou Miss Sink. Hammer não gostava que lhe dessem ordens.
— Bom dia, Miss Sink — disse educadamente, sem abrandar.
— Preciso de falar consigo.
Hammer parou, enquanto Popeye tentou por todos os meios continuar.
— Ainda bem que apareceu — continuou Miss Sink.
— Porta-te bem, Popeye. — Hammer puxou a trela. Popeye fez força.
— Popeye! — avisou Hammer.
— Que nome horrível para um cão — disse Miss Sink. — Que se passa com os olhos dela?
— A raça é mesmo assim.
— Mandou cortar-lhe a cauda?
— Não — retorquiu Hammer.
Miss Sink inclinou-se para a frente para ver melhor o absurdo coto que não servia para tapar nada. Popeye começou a lamber-se num sítio maroto e, subitamente, deu um salto para o ar, com a língua direita à boca de Miss Sink. Esta saltou para trás, aos gritos. Esfregou os lábios e ficou enojadíssima ao pensar onde aquela língua estivera. Popeye agarrou a bainha do robe cor-de-rosa de Miss Sink e quase fez cair a frágil velhota.
— Porta-te bem, Popeye. Sentada — disse Hammer enfaticamente.
Popeye sentou-se. Hammer deu-lhe um Lung Chop. Miss Sink sentiu-se humilhada e ficou momentaneamente sem palavras. Esfregou a boca e examinou a bainha do robe, à procura de estragos.
— Sobre o que é que me queria falar? — perguntou Hammer.
— Quer dizer que não sabe? — Miss Sink ergueu a voz. Curvou-se para pegar no jornal, olhando odiosamente para Popeye.
— Não sei o quê? — perguntou Hammer, irritada por poder haver qualquer coisa de que Miss Sink tomasse conhecimento antes dela.
— Alguém vandalizou o Cemitério Hollywood! — a fúria de Miss Sink crescia. — A estátua de Jefferson Davis está coberta de graffitis!
— Quando é que soube disso? — perguntou Hammer, imaginando as tropas da Confederação a erguerem-se e a marcharem.
— Quero saber o que a polícia está a fazer — exigiu Miss Sink.
— Já nos chamaram? — inquiriu Hammer. Miss Sink pensou um pouco.
— Ainda não tinha ouvido nada sobre isto — continuou Hammer, enquanto Popeye demonstrava interesse pelos tornozelos de Miss Sink.
— Não sei se os chamaram — respondeu Miss Sink. — Isso não é da minha responsabilidade. Parto do princípio de que, quem quer que tenha descoberto o crime, deve ter chamado a polícia. É claro que só me telefonaram há uns minutos. Eles pensam que foi um jogador qualquer da Universidade de Richmond que fez aquilo.
— Quem são eles?
— Pode perguntar isso a Lelia Ehrhart. Foi ela quem me telefonou. O ressentimento de Hammer medrou e desabrochou.
— E como é que Lelia descobriu? — perguntou Hammer.
— Ela é a presidente de Hollywood — retorquiu Miss Sink, como se houvesse apenas um Hollywood. — A cidade está uma desgraça. Se tivéssemos mais polícias na rua a cumprir o seu dever, este tipo de coisas não acontecia. Para já não falar da crescente deterioração deste bairro. Logo aqui.
Hammer receava acabar por mandar aquela chata com cara de cavalo para o diabo.
— As pessoas que para aqui vêm — continuou Miss Sink. — Como se isto fosse um bairro qualquer, com McDonald’s e casas com isolamento de alumínio.
Miss Sink costumava sentir-se perfeitamente segura e resguardada na sua famosa rua de árvores bem alinhadas, onde, em 1775, no interior da Igreja Episcopal de St. John, Patrick Henry declarara do terceiro banco da esquerda: “... dêem-me a liberdade ou a morte!” Fora ali, apenas umas casas mais abaixo, que Elmira Royster Shelton e Edgar Allan Põe se tinham reencontrado, começando um segundo romance, pouco antes de ele morrer.
Embora Miss Sink não pertencesse à Igreja Episcopal e não lesse histórias assustadoras, reverenciava a história e as pessoas famosas. Mais exactamente, sentia uma indignação justificada quando qualquer forasteiro violava a santidade do seu bairro restaurado, o que incluía Judy Hammer, que não era de Richmond, mas sim do Arkansas, que, para Miss Sink, não pertencia ao verdadeiro Sul.
Popeye esvaziou a bexiga num arbusto de forsítias amarelas eComeçou a cheirar as túlipas e o candeeiro, pronta a reclamar outros territórios.
— Na verdade, o crime baixou seis por cento no nosso bairro, Miss Sink — recordou-lhe Hammer, sem acrescentar que estava a subir vertiginosamente em todos os outros. — Em parte, graças ao esforço da nossa comunidade, graças às pessoas que, como a senhora, estão sempre alerta, que são os olhos e os ouvidos da rua.
— Seis por cento, uma ova! — Miss Sink bateu com o chinelo corde-rosa e arrancou a bolsa de plástico do jornal. — Diga-me, por que motivo alguém roubou a fonte do Libby Hill Park?
— Foi recuperada e está de volta ao local de sempre, Miss Sink.
— Isso não interessa. Foi roubada. Mesmo debaixo do nosso nariz. Uma fonte de ferro e ninguém viu nada. Eis o que valem esses olhos e esses ouvidos. — Meteu a mão num bolso e tirou um lenço. — Para já não falar das pedras que atiram aos candeeiros a gás e aos carros. A maior parte da minha família e dos meus amigos está no cemitério Hollywood.
Miss Sink passou o lenço pelo nariz e lançou um olhar maldoso ao feio cão de Hammer. Abriu o jornal para ver que mais se passava na cidade. Por cima do vinco, o título, em grandes letras negras, sobressaía:
PEIXES HISTÉRICOS!
Vírus misterioso ataca rede informática da polícia
Hammer arrancou o jornal das mãos de Miss Sink.
— Olhe lá — disse Miss Sink indignada —, foi muito mal-educada. Hammer esteve-se nas tintas. Incrédula, leu a história. Até incluía uma versão artística dos peixinhos azuis que, segundo o artigo, eram os suspeitos de terem transmitido o vírus.
— Oh, meu Deus! Então, já chegou a Nova Iorque — dizia Hammer, enquanto ia lendo. — Está em todo o lado. Aquele maldito Roop! A imprensa está-se nas tintas e isto só vai piorar as coisas, recompensando um pirata qualquer com a notícia na primeira página. Óptimo, óptimo! Por que é que as pessoas já não conseguem trabalhar em conjunto? Quando eu comecei, podíamos dar uma história aos jornais, que eles tratavam-na de forma a ajudar, de facto, a polícia. Consegue imaginar 150 uma coisa dessas hoje em dia? — continuou Hammer. — Será que passa pela cabeça de gente interesseira como Roop que, quando não conseguimos fazer o nosso trabalho, eles também sofrem? O que é que acontece quando o airbag dele for roubado?
— Li qualquer coisa sobre isso. Por que é que lhe chamam CABBAGES?
— O que é que acontece quando ele for assaltado num multibanco? — insistia Hammer.
— Isso é horrível — disse Miss Sink, estremecendo. — Soube que houve outro assalto ontem. É claro, ainda não era de manhã. As pessoas não têm nada que ir tirar dinheiro de uma máquina à noite, sem ninguém à vista.
Popeye tentou outra vez. Ergueu-se nas patas traseiras, a dançar, com as patas da frente estendidas como se quisesse abraçar Miss Sink. Não fazia sentido.
— O que é que se passa com esse cão? — perguntou Miss Sink. — Parece que me quer dizer qualquer coisa.
— Popeye é muito inteligente. É intuitiva. Francamente, sabe tanta coisa que me assusta — confessou Hammer.
— E, para que saiba — continuou Miss Sink —, acho que os multibancos e a Internet são o 666 da Revelação. A besta que conduz ao Juízo Final.
Popeye voltou a saltar em direcção a Miss Sink. Rosnou. Aproximou-se dela aos saltinhos e tentou abraçá-la. Miss Sink bateu com o jornal na mão, em jeito de aviso. Popeye enfiou-se atrás das pernas da dona, enrolando a trela em volta delas. Tremia toda.
— Não é nada, não é nada. — Hammer estava aflita e furiosa. Agachou-se e passou os braços em volta da cadela, abraçando-a.
Deu-lhe outro biscoito.
— Por favor, não faça isso outra vez — disse em tom sério a Miss Sink.
— Da próxima vez, leva uma palmada no rabo — prometeu Miss Sink.
— É melhor não tentar — retorquiu Hammer no seu tom mais ameaçador.
— Esse cão ainda vai morder alguém — insistia Miss Sink. — Espere só e, depois, fica metida em trabalhos. Hoje em dia, as pessoas põem processos por tudo e por nada. — Tentou dar estalinhos com os dedos, mas não conseguiu.
Popeye rosnou.
— Bem, tenho que ir telefonar aos outros membros da direcção. Acho que dizer-lhe a si é o mesmo que chamar a polícia — disse Miss Sink.
Regressou a casa, batendo com os pés no chão do alpendre. O seu gato surgiu repentinamente de trás de uma sebe.
Apesar dos incríveis esforços de Bubba e do facto de ter trabalhado oito horas seguidas, sem parar, no Posto 8, a sua produtividade ficara
3 901 cigarros abaixo do objectivo. Estava arrasado. Era a última noite da competição desse mês e o segundo mês seguido que o Posto 5 clamava vitória.
— Não leves isto tão a sério — disse Smudge.
— Não consigo evitá-lo — retorquiu Bubba, desmoralizado. Pararam à porta da cafetaria e Bubba inseriu o seu B. I. na máquina de cigarros, seleccionando o maço grátis a que todos os trabalhadores tinham direito diariamente. Bubba escolheu o seu habitual Ment Ultima. Smudge fez o mesmo e vendeu o seu maço a Bubba ao preço ligeiramente reduzido de oito dólares e vinte e cinco cêntimos. Smudge fumava Wmston, que não eram fabricados pela Philip Morris. Pela primeira vez, Bubba ficou incomodado com o facto de o amigo não lhe oferecer o seu maço, uma vez que não lhe custava nada. Também o incomodava o facto de Smudge e Gig Dan jogarem golfe juntos.
— Acho que Gig teve um dia cansativo — comentou Bubba quando iam a sair do edifício.
— Quando se foi embora, parecia bastante cansado — concordou Smudge. — Foi pena teres-te atrasado.
— Isso não teria acontecido se o parvalhão do Tiller não estivesse supostamente doente.
Smudge não fez comentários.
— É engraçado como ele adoece sempre na noite em que termina a competição. — Bubba atirou outro reparo fortuito.
— Talvez não consiga enfrentar a derrota — sugeriu Smudge.
— Também é engraçado que, no meu posto, nada funcione bem na última noite da competição. Sabes quantas vezes se partiu o papel do filtro? Ou quantas bolhas de cola tive? A lâmina também estava cega.
Pois é, limpo tudo mesmo antes da mudança de turno e, depois, vou encontrar a máquina cheia de pó e bolas de cola no rolo — disse Bubba.
Smudge parou junto do seu cintilante Suburban vermelho e tirou as chaves.
Tás a ver, acho que anda alguém do primeiro turno a falar com o Kennedy, a metê-lo na conspiração. Portanto, o Kennedy faz a primeira metade do segundo turno porque Tiller avisou que estava doente, porque lhe mandaram. Então, o Kennedy fode aquilo o mais que pode e quando eu venho fazer um turno e meio, tenho aquele pó todo, as bolas de cola, aquela merda toda à minha espera.
— Isso parece muito complicado, tal e qual um romance de espionagem. Não sejas paranóico, Bubba. — Smudge deu umas palmadinhas no ombro de Bubba.
Mas não era só paranóia. Bubba não era estúpido. Sabia que Gig Dan estava também envolvido na trama, senão teria dito alguma coisa sobre o estado de sujidade da máquina. Tinha que saber, uma vez que fora obrigado a substituir Bubba, que se atrasara a conversar com Fred. Guardou para si a sua opinião, pois começava a ver a verdadeira natureza de Smudge. Fosse qual fosse, começava a feder.
— Deves-me a mim e ao resto do pessoal do Posto 5 duas caixas de cerveja, amigalhaço — disse Smudge, pondo o Suburban a trabalhar.
— Pois, eu sei — respondeu Bubba. — Qual é que há-de ser?
— Bem, deixa-me ver. — Smudge abusava de Bubba. — Acho que pode ser Corona.
Aquilo era de mais. Corona não era um produto da Philip Morris e Smudge sabia que Bubba preferia comer veneno a gastar um tostão em algo que não fosse da Philip Morris.
— OK, mas tens de me dar oportunidade de desempatar — disse Bubba.
Smudge riu-se.
— Tá descansado.
— Amanhã à noite. O resultado mais alto. Vamos aumentar a aposta, mais de duzentos dólares — disse Bubba.
O rosto de Smudge iluminou-se, enquanto acendia um Winston.
— Tá combinado, faça sol ou faça chuva — respondeu Smudge. Bubba pensou na infiltração do seu jipe e em tudo o que Muskrat dissera e experimentou Smudge mais uma vez.
— Queres que eu conduza?
— Vamos melhor na minha carrinha da caça.’— Smudge disse exactamente o que Bubba pensara. — Eu guio, tu pagas a gasolina. Vai ter a minha casa.
Brazil estava a à janela, à espera de ver o Caprice descaracterizado de West, mas corria constantemente à casa de banho, molhava os dedos e passava-os pelo cabelo, onde espalhara um pouco de gel, para lhe dar aquele aspecto molhado, certificando-se de que a madeixa caía sobre a testa. Lavara quatro vezes os dentes e não conseguia ficar quieto.
Quando West estacionou defronte da sua casa, não se apressou. Esperou que ela chegasse à porta e batesse cinco vezes.
— Andy? Estás aí? — perguntou ela em voz alta.
Ele correu para a porta e abriu-a, enfiando a camisa do uniforme para dentro e ajustando o cinto, como se tivesse imenso que fazer e já estivesse atrasado.
— Bolas, desculpa — disse ele educadamente. — Estava ao telefone. Não era bem uma mentira, uma vez que estivera mesmo ao telefone;
só não dissera quando.
— Não tenho muito tempo. — West devolveu-lhe a bola. — É melhor irmos. Provavelmente foi má ideia — continuou ela, descendo as escadas. — Espera-me um dia horrível e nem sequer tenho fome.
Brazil trancou a porta e seguiu-a até ao carro, com os sentimentos novamente feridos.
— A mim não me faz diferença — disse ele. — Se precisas de ir para a sede, podes ir. Nem sequer tens de me dar boleia, não faz mal.
— Já aqui estou — retorquiu ela.
— Também não tenho lá muita fome — anunciou Brazil. West meteu a primeira e afastou-se do passeio.
— Devias apertar o cinto de segurança — disse-lhe Brazil.
— Nem penses.
— Olha, eu também quero ser capaz de sair rapidamente do carro se acontecer alguma coisa, mas não quero ser projectado pelo pára-brisas. Para além disso, sê honesta e diz lá quanto tempo é que levas a tirar o cinto?
— Quem trabalha nas ruas há tanto tempo como eu não precisa de ser honesta. — Ela recordou-lhe a sua inexperiência e o alto posto que ocupava.
— Já alguma vez foste à Floresta? — perguntou Brazil.
— Que floresta?
— O novo sítio de Forest Hill.
— Isso fica do outro lado do rio.
— Lá há mais lugares de estacionamento do que no centro, onde fica o River City Diner.
— Desde quando é que voltámos a tomar o pequeno-almoço juntos? Pensava que já tínhamos resolvido esse assunto — disse West.
Ela ligou o rádio e sintonizou a WRVA. Enquanto pensava no que havia de dizer, Brazil sentia a adrenalina dar-lhe cabo do sistema nervoso. Tinha direito a saber por que motivo ela o tratava assim. Tinha o direito de saber quem era.
— Acho que, se não comer nada agora, não sei quando o farei — disse Brazil, certificando-se de que ela percebia como ele também estava ocupado.
— River City fica mais perto da sede.
— Tenta lá estacionar em Main Street à hora de ponta. West decidiu dirigir-se a Southside.
— Como é que descobriste a Floresta? — perguntou ela, enquanto a rádio transmitia a notícia sobre o vírus dos peixes.
— Fui lá umas duas vezes. — As ideias de Brazil estavam tão emaranhadas como uma linha de pesca.
— ... pensa-se que é uma variante de um vírus informático que não pode ser detectado pelos antivírus que a maioria das pessoas tem — continuava Johnny, do popular Johnny in the Morning Show.
— Eu não costumo sair muito do Fan — disse West. — Há lá tantos restaurantes bons, tantos bares, como o Strawberry Street Vineyard. Para quê ir para outro sítio?
— O Strawberry Street Vineyard é uma loja de vinhos — corrigiu -a Brazil.
— Não disse o contrário — atirou-lhe ela.
— Tem o melhor vinho da cidade. Conseguem arranjar tudo. No outro dia, comprei lá um Pinot Noir Ken Wright Cellars. Espantoso! — Brazil não resistiu a enfiar esta.
— ... hiberna nos sedimentos do fundo — explicava o convidado especial de Johnny in the Morning, a Dr.a Edith Sandal-Viverette, uma bióloga do Instituto de Ciências Marítimas da Virgínia. — E liberta toxinas que deixam os peixes aturdidos e os matam. Os caranguejos também estão a morrer. O curioso, Johnny, é que os micróbios gostam da temperatura da água bem quente e é um pouco cedo para isso.
— Mas os Peixes Histéricos não estão relacionados com esta infestação, pois não? —Johnny parecia preocupado.
— De momento, não tenho a certeza de poder afirmar isso. Brazil sentiu a teimosia a ganhar. Não gostava assim tanto dela para lhe perguntar o que quer que fosse. Ela não tinha assim tanta importância.
— Estou apanhadinho pelo Borgonha francês. — Brazil continuava a picá-la.
— Cansei-me de vinho tinto — respondeu West.
— Então devias provar um Borgonha branco.
— O que te faz pensar que não provei? — West retribuía-lhe na mesma moeda.
— Bem, é assustador — dizia Johnny, enquanto Brazil e West continuavam sem ouvir.
Bubba percebeu logo o que tinha acontecido quando ainda se encontrava a meio quarteirão de casa. A porta da garagem estava escancarada e sentiu o coração apertar-se de medo. Encostou na entrada e saltou do carro, gritando o nome da mulher.
— Honey! — gritava ele, enquanto corria pelos degraus acima. — Honey! Oh, meu Deus! Honey! Estás bem?
Deixou cair as chaves três vezes antes de conseguir abrir a porta da frente. Irrompeu pelo vestíbulo no momento em que ouviu o ruído dos chinelos dela no soalho. Correu para ela e abraçou-a com força.
— Meu Deus, que diabo se passa? — perguntou Honey, afagando-lhe as costas.
Bubba começou a soluçar.
— Estava com tanto medo que te tivesse acontecido alguma coisa — chorava ele, com o rosto enfiado na permanente cor de mel.
— É claro que não me aconteceu nada, queridinho — disse ela. — Acabei de me levantar.
Bubba deu um passo atrás, mudando subitamente de disposição. Sentia-se enraivecido.
— Como raio é que pudeste dormir enquanto assaltavam a oficina?!
— gritou ele.
— O quê?! — Honey estava estupefacta. — A oficina?!
— A porta da garagem está escancarada! Deixaste-a aberta de propósito, como fizeste com aquela horrível salada e o Tang morno? É a tua última jogada para me magoares? Foi assim que eles entraram?
— Nem me aproximei daquela porta — disse Honey, que nem sequer se atrevia a entrar na oficina. — Preferia invocar o nome do Senhor em vão, ou ser Mormon, ou feminista, a atrever-me a aproximar-me da tua oficina! — exclamou Honey, que era baptista e o conhecia muito bem. — Não me aproximo das tuas ferramentas e muito menos lhes mexo. Nem sequer faço perguntas sobre elas, mesmo quando as tenho debaixo do nariz, quando estás a trabalhar naqueles teus projectos que nunca saem lá muito bem.
Bubba correu pela porta fora. Honey apertou o robe e seguiu-o. Bubba entrou na garagem, com os punhos cerrados, e susteve a respiração ao contemplar a maior desgraça da sua vida. Havia ferramentas espalhadas por todo o lado e todas as suas armas tinham desaparecido. Alguém mijara em cima do seu calibrador eléctrico, que não voltaria a converter polegadas em medidas métricas. O martelo pneumático e a lixadeira mecânica tinham sido malevolamente atirados para dentro do barril de cinquenta litros de óleo usado que ele juntava para a caldeira de Muskrat.
Bubba saiu para a rua ensolarada, cambaleando. Honey agarrou-lhe o braço para o equilibrar.
— Talvez seja melhor eu ir chamar a polícia.
West e Brazil estavam perto de A Floresta quando aconteceram várias coisas ao mesmo tempo.
O telemóvel vibrou. O rádio da polícia difundiu um possível assalto em Clarence Street e o WRVA passou um anúncio do novo Mausoléu do Cemitério Hollywood, localizado numa das suas secções mais antigas, perto de uma conveniente artéria e sem custos adicionais no respeitante ao sepulcro ou ao monumento, com um preço que cobria tudo, incluindo a inscrição.
— Está? — disse Brazil para o telefone.
— ... qualquer unidade na área — repetia o rádio da polícia — ... possível assalto em Clarence Street, número 10946.
— ... O Mausoléu do Cemitério Hollywood reflecte uma combinação de beleza e dignidade... — continuava o anúncio, comjazz como música de fundo.
— Andy? É Hammer — disse a chefe ao telefone.
— Unidade três — disse West para o rádio.
— O nosso problema informático chegou aos noticiários nacionais. Deves ter visto o jornal de hoje — disse Hammer para Brazil.
— Continue, três — disse a agente de Comunicações Patty Passman, surpreendida pelo facto de a chefe de investigações estar a responder à chamada.
— Na verdade, não sabia — confessou Brazil a Hammer, com toda a honestidade.
— Primeiras páginas — disse Hammer. — Gozam connosco e com o COMSTAT, dizendo que estamos sem rede em todo o lado por causa de um vírus chamado Peixes Histéricos.
— Peixes Histéricos? — perguntou Brazil.
— Se bem percebi, Andy.
— ... concebido para reflectir os elementos clássicos encontrados nas colinas de Hollywood ... — dizia o anúncio.
— Estamos a dois quarteirões do local — disse West à agente de Comunicações Passman. — Nós encarregamo-nos da chamada.
— E um ou vários vândalos fizeram das suas no Cemitério Hollywood, ontem à noite — continuou Hammer.
— Afirmativo, 3. O queixoso é um Mr. Butner Fluck.
— Parece que pintaram um equipamento de basquetebol dos Spiders na estátua de Jefferson Davis — explicou Hammer.
Brazil ficou estupefacto. Começou a rir sem parar.
— E receio bem que lhe tenham alterado a raça — acrescentou ela.
— Quer dizer que foi transformado num Michael Jordan? — perguntou Brazil, meio sufocado.
— Não tem graça nenhuma, Andy.
— Acho que vou vomitar. — Brazil estava todo dobrado, mal conseguindo falar.
West deu meia volta em Forest Hill e acelerou.
— Lelia Ehrhart convocou uma reunião de emergência dos responsáveis da cidade para amanhã de manhã, às oito — disse Hammer a Brazil.
— Espero que não fale! — Brazil não conseguiu controlar-se e a sua voz subiu uma oitava.
— Que se passa contigo? — West lançou-lhe uma olhadela, guiando depressa por hábito e atalhando por onde lhe era possível para chegar rapidamente ao local.
— Trata de investigar — ordenou Hammer a Brazil.
— Os peixes histéricos ou o Magic Jeff? — Doía-lhe o estômago e tinha os olhos cheios de lágrimas.
— Tudo — respondeu ela.
A casa de Clarence Street era muito peculiar, mas à primeira vista não se descortinava a razão. Era mais o tipo de coisa que, ao passar de carro ou a pé, ou ao entregar o jornal, causava uma sensação estranha, inquietante, uma sensação de desarmonia, de algo que não estava bem mas a que não se prestava atenção, como um ficheiro perdido.
No entanto, para alguém com experiência e que olhasse bem, o problema era evidente.
— Santo Deus — disse West, parando o carro no meio da rua e ficando a olhar, espantada.
— Uau — juntou-se-lhe Brazil. — Acho que andou a fazer obras quando estava bêbedo.
As persianas verde-escuras estavam tortas e a tinta da parede, do lado esquerdo da porta vermelha de entrada, não era tão branca como a do lado direito. A vedação de madeira branca era do pior que West já vira. Era óbvio que o solo era instável e o construtor não cravara os postes a suficiente profundidade, nem os assentara em cimento. Também parecia que não se preocupara em usar um fio de prumo, nem abrira estrias no topo dos postes, o que impedia a água da chuva de escorrer, fazendo com que a madeira começasse a apodrecer. De um dos lados do portão, já de si mal montado, as traves estavam inclinadas para cima e do outro lado para baixo. Os postes não estavam colocados a distâncias uniformes, fazendo lembrar dentes podres.
Aparentemente, o mesmo construtor, bem-intencionado mas malorientado, aumentara a garagem, adicionando-lhe um alpendre feito em casa, inclinado para norte, o que sugeria que os postes pressurizados não tinham sido enterrados abaixo da linha de congelação, causando a deslocação do alpendre durante o Inverno. Nada batia certo. As traves do telhado não estavam alinhadas, as floreiras das janelas eram de tamanhos diferentes, a fonte de pedra na frente do jardim estava seca, o padrão em espinha do banco exterior, junto do grelhador de tijolo, também torto, não acertava. Junto do bosque, via-se um canil comprido, feito de malha de ferro torcida, onde um cão de caça malhado se empoleirava no cimo de um barril, ladrando sem parar.
West enfiou na entrada e uma campainha como as das estações de serviço anunciou que Mr. Fluck tinha visitas. A cortina de uma janela moveu-se e um homem saiu imediatamente da casa. Era gordo, não tinha muito cabelo e o seu crânio redondo e os olhos pequenos faziam lembrar um rosto sorridente e falso. Parecia deprimido e desolado, como se a mulher tivesse acabado de o abandonar, ou tivesse regressado, dependendo dos seus sentimentos por ela.
— Bem, bem — disse Brazil, desapertando o cinto de segurança.
— Não posso crer — comentou West.
Bubba seguiu pelo caminho irregular até à entrada, onde encostara o Chevrolet Caprice branco descaracterizado. Tinha a cabeça cheia de sonhos arruinados e fora invadido por uma cruel sensação de predestinação e um karma negativo.
O seu pai, o reverendo Fluck, desaprovara sempre o interesse de Bubba pelas armas e este suspeitava que o pai rezara para que uma coisa destas acontecesse. Era demasiada coincidência que, na sua maioria, só tivessem desaparecido armas. As suas ferramentas caras tinham ficado. O ladrão não tentara assaltar a sua casa, nem a carrinha de Honey.
Do Caprice saiu um homem alto e bem constituído, de uniforme. O condutor era uma mulher à paisana, uma detective, assim pensou Bubba. Dirigiram-se a ele, com os rádios a pairar.
— O senhor é Mr. Fluck? — perguntou a mulher.
— Sou — disse ele. — Graças a Deus que vieram. Foi a pior coisa que já me aconteceu.
— Sou a chefe-adjunta Virgínia West e este é o agente Andy Brazil — disse West.
Bubba sentiu-se melhor. Suspirou. A polícia enviara uma chefe-adjunta. Tinha que ser coisa da chefe-adjunta Hammer, que andava a protegê-lo. Sentira-se certamente comovida, sabendo que os destinos de ambos estavam interligados e que uma terrível injustiça fora cometida contra ele.
— Agradeço o facto de a chefe-adjunta Hammer os ter contactado — disse Bubba.
Ambos os polícias se mostraram confusos.
— Foi ela, não foi? — A fé de Bubba vacilou. — Agora mesmo, quando liguei para o 112?
— Na realidade... — Brazil hesitou. — Bem, sim. Como é que sabe que ela acabou de me ligar?
Bubba olhou para o céu e sorriu, apesar do seu desgosto.
West começou a dirigir-se à oficina, seguida por Brazil. Pararam ambos à entrada, a olhar para a confusão. Brazil anotou o mês, o dia, o ano e o nome e morada da vítima na ficha presa à sua prancha, — Que desgraça — disse Brazil.
— É indescritível — concordou Bubba.
— Tem alguma ideia de quando ocorreu o assalto? — perguntou West.
— Entre as oito horas de ontem à noite e as sete e meia desta manhã.
— Preciso do seu número de telefone de casa e do emprego. — Brazil tomava notas.
Bubba deu-lhos.
— Regressei a casa do trabalho e dei com isto — disse Bubba, quase a chorar. — Exactamente assim. Não toquei em nada, não desloquei nada, portanto não tenho a certeza absoluta do que é que falta.
O olhar conhecedor de West passou por cima de várias ferramentas, como uma prensa perfuradora, uma lixadeira mecânica vibratória, um amolador de bancada, um ensamblador, uma plaina, uma limadora e os formões que seria de esperar, assim como as pontas, escovas circulares, brocas sem cabeça, corta-buchas, escareador, etc. Havia material de protecção de todos os tipos e provavelmente mais ferramentas do que na oficina de qualquer profissional.
— O facto de ter tantas ferramentas caras e o ladrão ou ladrões não as terem levado é interessante — observou West.
— Andava atrás de armas — disse Bubba. — Sei que desapareceram. Apontou para o armário e para o respectivo cadeado serrado, no chão.
— Tem um alicate de corte? — perguntou West.
— Um Tollsmith, de dezoito polegadas.
— Ainda cá está? — perguntou Brazil.
— Consigo vê-lo daqui — respondeu Bubba.
— Que tipo de cadeado tinha o armário? — perguntou West.
— Um cadeado simples da Master.
— À prova de roubo? Bubba pareceu envergonhado.
— Andava a pensar nisso — disse ele.
— Então, não era à prova de roubo. — Brazil queria certificar-se para assentar no relatório.
Bubba abanou a cabeça.
— É uma pena — disse West sentidamente. — Não conheço nenhum alicate de corte que consiga serrar um cadeado Master à prova de roubo. Tendo em conta o que tinha nesse armário, devia ter do melhor.
— Eu sei, eu sei — respondeu Bubba, cada vez mais envergonhado. — Sei que fui muito estúpido.
West entrou para inspeccionar mais de perto, reparando que Bubba pintara as suas iniciais, a branco, em todas as ferramentas e equipamento. Passou por cima de dúzias de manuais de canalização, melhoramentos no jardim e varandas, pintura e papéis de parede, podas e resolução de problemas em reparações caseiras.
Contornou uma resistente fita métrica de dez metros da Stanley com a respectiva caixa de couro Nicbolas, um coldre de ferramentas Makita, um cinturão largo de pele da McGuire-Nicholas, um suporte para martelos, topo de gama, em pele de vaca Longborn, uns suspensórios vermelhos resistentes, também da Nicholas, e uma joelheira em espuma de borracha com correias duplas que se separara do par.
West reconheceu qualidade de primeira. Conhecia todas as marcas e os respectivos preços. Ficou curiosa e com inveja.
— E não tem sistema de alarme — afirmava Brazil.
— Só a tabuleta com “Entrada Proibida” e a campainha na entrada do caminho. Ouço qualquer pessoa que chegue.
— Não sabia que ainda usavam disso — comentou Brazil.
— A Desempanagem de Muskrat tem uma data delas — disse Bubba.
— E o seu cão? — perguntou West.
— Half Shell ladra dia e noite. Já ninguém lhe liga nenhuma.
— Portanto, Half Shell é uma campainha de estação de serviço eram o seu único sistema de alarme? — West olhou-o com ar céptico.
Bubba via muito bem que não a impressionara. Subitamente, apercebeu-se de como era bonita. Sentiu-se gordo, sujo, feio e inferior. Sentiu-se como durante a maior parte da sua vida. A chefe-adjunta West via através das armas dele, das suas ferramentas e kits de reparação. Via Bubba como um rapazinho perseguido, com um nome horrível num mundo que o ridicularizava. Bubba via-o no olhar dela. Ocorreu-lhe subitamente que ela podia ter andado na escola com ele.
— É daqui da região? — perguntou-lhe ele.
— Não — respondeu ela.
— Tem a certeza?
— O que é que quer dizer com tem a certeza?
Ele ficou paranóico e obcecado. Precisava de ser convencido.
— Portanto, não é de Richmond — disse ele.
— Não. — Ela estava a tornar-se seca.
— É que é parecida com uma pessoa que andou comigo na escola e que se chamava Virgínia — mentiu Bubba.
— Não andámos juntos na escola — assegurou-lhe West.
— O assaltante ou assaltantes urinaram aqui dentro?
— Sim. — Bubba apontou. — Isso tem algum significado?
— É vulgar os assaltantes urinarem ou defecarem nos locais que assaltam — explicou West. — Faz parte do modus operandi e pode, ou não, ter importância.
Brazil tomou nota.
— O tipo de coisa que o computador da polícia podia descobrir, se não tivesse o vírus dos peixes — disse Bubba. — Ouvi nas notícias quando vinha a caminho de casa. Assim, não podem procurar um padrão.
— Não se preocupe com isso. — Brazil evitou o assunto. — Tem uma lista das armas e dos números de série?
— Comprei-as todas no Green Top — disse Bubba. — Nunca compro armas em mais lado nenhum.
— Isso é uma ajuda — afirmou Brazil. — Mas quero registar no relatório o que desapareceu, para o detective ter um ponto de partida.
— Por causa do problema dos peixes, não podem usar o computador para ver se alguém foi assaltado desta forma — disse Bubba, desapontado.
— Não se preocupe com o nosso método de trabalho — disse-lhe Brazil. — E agora, a lista.
— Uma Browning Buck Mark Bullseye 22 — recordou-se Bubba —, uma Taurus de oito tiros M608 357, uma Smith & Wesson Modelo 457 em liga leve 45 ACP e o respectivo coldre Bianchi Avenger, uma miniGlock de nove milímetros com visor nocturno, uma Sig P226 de nove por dezanove milímetros, igual à que é usada pelo SEAL da Marinha. Vejamos, que mais?
— Santo Deus — exclamou West. Brazil escrevia a toda a velocidade.
— Uma pistola Daisy Modelo 91 Match, uma pressão de ar, por outras palavras. Um revólver Ruger Blackhawk 357 e um par de pistolas Ruger de competição.
— Dispara em competições? — perguntou West.
— Não tenho tido tempo — respondeu Bubba.
— É tudo? — perguntou Brazil.
— Tinha acabado de comprar uma nove milímetros M9 Edição Especial, com carregador automático de quinze cartuchos, que ainda estava na caixa. Até fico doente. Nem sequer a cheguei a experimentar. E tinha uns quantos carregadores rápidos e cerca de vinte caixas de cartuchos. A maior parte Winchester Silvertips.
— Mais alguma coisa? — perguntou West.
— É difícil dizer — respondeu Bubba. — Mas a única coisa que não estou a ver é o meu cinto de ferramentas da Stanley. E muito bom, de nylon preto, acolchoado a amarelo, muito leve e mais fresco que o couro. Cabe em todo o lado menos no lava-loiças.
— Sempre quis comprar um desses — confessou West. — Custam cerca de sessenta dólares.
— Isso é se tiver desconto — disse Bubba.
— E quanto a suspeitos? — Brazil chegara a essa parte do relatório.
— Há alguém que pense ter feito isto?
— Tinha de ser alguém que sabia o que eu tinha aqui na oficina — disse Bubba. — E a porta não foi forçada, portanto a pessoa também tem um controlo remoto.
— Isso é interessante — comentou Brazil.
— Compram-se no Sears — disse West, olhando para a porta recolhida da garagem. — Mr. Fluck, vou tratar de mandar um detective passar por cá ainda hoje para procurar possíveis indícios, impressões digitais, marcas de ferramentas, qualquer coisa.
— As minhas impressões vão aparecer — disse Bubba, preocupado.
— Temos que lhas tirar, agora que fala disso, para sabermos quais são suas e quais não são — disse West.
Saíram da oficina, escolhendo com cuidado onde punham os pés. Half Shell ladrava e saltava em círculos.
— Agradeçam novamente à chefe-adjunta Hammer em meu nome — disse Bubba, seguindo West e Brazil até ao carro.
— Novamente? — Brazil parecia perplexo. — Falou com ela?
— Não directamente — respondeu Bubba.
Hammer era extremamente sensível às questões raciais e estudara cuidadosamente a área urbana de Richmond. Sabia que não passara assim tanto tempo desde que os negros não eram aceites como membros de vários clubes, nem podiam viver em certos bairros. Não podiam igualmente utilizar campos de golfe, de ténis ou piscinas públicas. A mudança fora lenta e era, até certo ponto, enganadora.
Os clubes e as associações de moradores começaram a aceitar negros e, em certos casos, mulheres, mas conseguir sair da lista de espera ou sentir-se bem-vindo era outra questão. Quando o futuro primeiro governador negro da Virgínia tentou mudar-se para um bairro chique, foi recusado. A colocação de uma estátua de Arthur Ashe em Monument Avenue quase causara outra guerra.
A chefe-adjunta Hammer estava preocupada. Ia a caminho do Cemitério Hollywood, na companhia do assistente administrativo Fling, para inspeccionar os danos e ver se as descrições eram exageradas. Não eram. Hammer estacionou no Círculo de Davis, onde a estátua de bronze pintada era claramente visível à distância, erguendo-se de um fundo de magnólias e sempre-vivas, com as pequenas bandeiras da Confederação a esvoaçar na base de mármore. A área fora isolada com a fita amarela dos locais de crimes.
— Parece que ele está a reter a bola de basquete e não a quer passar a ninguém — observou Fling. — Também parece um tanto convencido.
— E era-o — comentou Hammer.
Abafou uma gargalhada, sentindo o sangue fervilhar com uma vontade de rir quase impossível de suprimir. A estátua de Davis fora sempre descrita como tendo um ar de orgulho e superioridade. Antes de o artista clandestino transformar, com grande perícia, o casaco comprido numa camisola larga e num par de enormes calções até aos joelhos, trajara o fato típico do cavalheiro sulista da época. As calças eram agora umas pernas musculosas com meias de desporto e as botas tinham-se transformado em Nikes.
Hammer e Fling saíam do Crown Victona no momento em que o ronco de um Mercedes preto se fez ouvir por trás deles. O automóvel, com o seu tecto de abrir e o interior de pele, circundou o carro de Hammer e estacionou à frente dele.
— Merda! — exclamou esta, enquanto Lelia Ehrhart apanhava qualquer coisa do banco da frente do Mercedes e abria a porta. — Onde está o intérprete?
Embora Ehrhart tivesse nascido em Richmond, passara a maior parte da sua vida adulta na Áustria, em Viena, onde o pai, o Dr. Howell, um rico e conhecido historiador de música, trabalhara durante anos numa biografia psicológica, não autorizada, de Mozart, desvendando a sua sensibilidade e o seu medo da trompete. Mais tarde, a família mudara-se para a Jugoslávia, onde o Dr. Howell explorou a influência subliminal da música na dinastia Nemanjic. O alemão era a língua materna de Lelia Ehrhart, seguido do servo-croata e, depois, do inglês. Não falava bem nenhuma e combinara as três, numa mistura homogénea e incompreensível.
Durante um momento, Ehrhart ficou de pé, a olhar pasmada para a estátua, com os lábios ligeiramente abertos de choque. Trazia unsjeans Escada amarelos, uma blusa às riscas amarelas, com um E no bolso do peito, um cinto preto cravejado de borboletas de metal e sapatos a condizer. Embora Hammer vestisse normalmente Ralph Lauren e Donna Karen, conhecia outros estilistas e reconheceu as borboletas como datando de há várias épocas, o que lhe deu alguma satisfação, embora não muita.
— Isto vai excitar um motim — exclamou Ehrhart, aproximando-se do local vandalizado, com uma câmara Canon Sure Shot na mão. — Nada como isto nunca aconteceu antes.
— Não sei se poderei afirmar isso — retorquiu Hammer. — Não faz muito tempo que alguém pintou graffitis na estátua de Robert E. Lee.
— Isso foi diferente.
— Não o transformaram num jogador de basquetebol negro — concordou Fling. — Não quer dizer que não tivesse sido, mas está a cavalo, com uma espada, logo ali em Monument Avenue, onde alguém haveria de dar por isso, se se demorassem muito tempo. Portanto, não vejo como seria possível fazê-lo, a ele ou a outro qualquer em Monument Avenue. Arthur Ashe segura uma raqueta de ténis e os outros tipos estão a cavalo. A não ser que praticassem pólo, acho eu.
— Quero saber como está a fazer em relação a isto — exigiu Ehrhart, enquanto uma súbita rajada de vento agitava as árvores e fustigava a Cruz do Sul, aos pés de Davis. — E onde estavam os seus agentes quando um vândalo qualquer veio aqui como se era Miguel Angelo na Capela Sistina?
— O cemitério é propriedade privada — recordou-lhe Fling.
— Se uma morte em série aparece na minha propriedade privada, também me dá uma resposta dessas? — retorquiu Ehrhart, indignada.
— Não, se soubermos que é um assassino em série — contrapôs Fling.
— A verdade é que patrulhamos o cemitério — disse Hammer.
— Isso ainda é pior — respondeu Ehrhart. — Ontem à noite, deviam certamente estar em qualquer lado noutro sítio.
— O carro da ronda tem muito que fazer nesta área, Lelia. Temos a Universidade, o bairro de Oregon Hills. Recebemos muitas, muitas chamadas — explicou Hammer. — Quando as chamadas envolvem pessoas vivas, têm prioridade.
— Como se eu saberia isso! — respondeu Ehrhart, indignada.
— É um pouco confuso o que pertence à cidade e o que não pertence. — Fling tentava disfarçar a sua falta de informação. — E, Mrs. Ehrhart, há pouco o que eu queria enfatizar era que não deve levar isto tão a sério, pois pode muito bem ser uma escolha ao acaso, uma vez que é pouco provável vir-se para um local destes quando se tem más intenções.
— Isso é mais fácil de dizer — respondeu Ehrhart. Hammer tinha a sensação de estar a ouvir alienígenas.
— E quando ao Bobby Feeley? — Ehrhart assumira um tom mais acusador.
— Estamos a trabalhar a sério nisto, Lelia — retorquiu Hammer.
— Ele é o doze — insistiu ela. — Isso deve querer dizer qualquer coisa.
— Estamos a investigar isto com grande seriedade — disse Hammer, que no fundo pensava que a estátua ganhara muito com as novas roupagens.
— Provavelmente arranjou um álibi de lá até aqui e vocês aceitam-no de caras — Ehrhart não desistia.
— Acho que, ontem à noite, ele não se sentia muito bem e não saiu — adiantou Fling. — Há testemunhas.
Hammer olhou irritadamente para Fling, que acabara de divulgar informações confidenciais sobre o caso.
— Bem, vamos falar disto na minha reunião. E, a propósito, tive de a passar para mais cedo, para as sete da manhã, Judy. — Ehrhart começou a tirar fotografias ao local do crime. — Na sala particular da direcção do Commonwealth Club. Se não sabe onde é, perguntam-lhe à porta, quando pagar o casaco.
— Está demasiado calor para levar casaco — disse Fling.
Há um século que os alegados antepassados de Lelia Ehrhart repousavam em imponentes campas e túmulos familiares, recordados por obeliscos e urnas, abençoados por cruzes, guardados por pesarosos anjos em mármore de Garrara e cães em ferro fundido e embelezados com peças ornamentais em metal.
Era do conhecimento geral que a sua árvore genealógica incluía a mulher de Jefferson Davis, Varina Howell, embora os genealogistas não tivessem conseguido, até ao momento, seguir a ascendência de Ehrhart até qualquer região remotamente perto do Mississipi, de onde Mrs. Davis era originária.
Ehrhart estava traumatizada e ultrajada. Encarava o vandalismo como uma ofensa pessoal e acreditava que lhe era dirigido, o que lhe dava o direito de descobrir o monstro que o praticara e de o trancar para o resto da vida. Não precisava da polícia. Afinal de contas, para que é que eles serviam?
O mais importante e o que dava resultado eram as ligações e Ehrhart tinha mais do que a Internet. Era casada com o Dr. Cárter “Buli” Ehrhart, um dentista milionário e alegado descendente do General da Confederação Franklin “Buli” Paxton. Buli Ehrhart era um antigo aluno da Universidade de Richmond. Fazia parte da Direcção, doara centenas de milhares de dólares à Universidade e era raro faltar a um jogo de basquetebol.
Lelia Ehrhart não tivera qualquer dificuldade em ligar ao treinador principal dos Spiders, Bo Raval, e descobrir exactamente onde podia encontrar Bobby Feeley. Provavelmente no ginásio, disseram-lhe. Em
Three Chopt Road cortou para Boatwright e seguiu por aí até ao campus da Universidade de Richmond. Virou para o estacionamento privativo, onde os membros do Clube Spiders deixavam os carros durante os jogos. Enfiou o Mercedes em diagonal, ocupando dois lugares, bem longe dos carros menos caros que lhe podiam riscar as portas. Subiu com determinação os degraus da entrada principal do Centro Robins.
O átrio estava vazio e ecoava com a memória de muitos jogos ganhos e perdidos de que Ehrhart não gostara. Acabara por recusar ir assistir com o marido e também não se sujeitava ao futebol. Pura e simplesmente, recusava-se a ver desporto na TV. Buli que fosse buscar a sua cerveja e fazer as suas próprias pipocas. Podia apontar o comando as vezes que quisesse, como se fosse um Deus, controlando, concebendo, fazendo coisas acontecer, que ela não se importava.
Por detrás das portas fechadas, ouvia-se o bater de uma bola de basquete solitária e determinada. Ehrhart entrou no Ginásio MiIhouser, onde Bobby Feeley fazia lances livres. Era alto, como seria de esperar, com longos músculos bem marcados; tinha o cabelo rapado e uma argola de ouro na orelha, como todos os jogadores de basquetebol. A pele brilhava de suor, com a T-shirt encharcada à frente e atrás, os calções largos chegando aos joelhos e rodopiando, ao mexer-se. Feeley não prestou atenção a Ehrhart e fez nova tentativa, batendo no aro.
— Merda! — exclamou ele.
Ela não disse nada enquanto ele driblava e fintava, corria com os cotovelos a voarem, virava, fazia nova finta, ameaçava o lançamento, saltava e afundava, batendo novamente no aro.
— Foda-se — disse ele.
— Desculpe — disse Ehrhart, anunciando a sua presença. Feeley driblou com lentidão, olhando para ela.
— O senhor é Bobby Feeley?
Avançou pelo chão do ginásio de sapatos de salto alto com borboletas de metal.
— Isso não é lá muito conveniente — disse ele.
— Desculpe?
— Os seus sapatos.
— Quem é que não está conveniente com eles?
— Não são sapatos de ténis.
— Os seus também não trazem sapatos de ténis — disse ela.
Ele continuou a driblar, franzindo o sobrolho.
— O que chama a estes sapatos? — perguntou ele.
— Sapatos de basquetebol — respondeu ela.
— Ah, uma purista. Muito bem — disse Feeley, que era aluno do curso de Inglês. — Mas continua a não poder andar aqui com esses sapatos. Portanto, o melhor é tirá-los ou sair, acho eu.
Ehrhart tirou os sapatos e aproximou-se dele em meias de nylon até ao joelho.
— Em que posso servi-la? — perguntou Feeley, afastando a bola, com os cotovelos para fora, agressivo, como se quisesse esquivar-se a um adversário imaginário.
— Você é o número doze — disse Ehrhart.
— Outra vez, não — exclamou Feeley, enquanto driblava. — Afinal, o que é que se passa? Acham que eu não tenho mais nada que fazer? Acham que eu ia fazer uma coisa tão infantil como pintar graffiti num cemitério ?
Driblou por entre as pernas e falhou uma tampinha.
— Isto não são apenas graffiti como os que se vêem no metro. Não é “O Guincho” e os schmucks que vemos nas paredes.
Feeley parou de driblar e limpou o suor da testa, tentando compreender.
— Penso que quer dizer grito — disse ele, tentando ajudar. — Como em “O Grito” de Edvard Munch. E talvez queira dizer schmoe. Schmuck1 não é uma palavra lá muito bonita, embora quem não conheça bem o hebraico não o perceba.
— E que tal pintar a montanha Rushmore com spray? — perguntou ela, indignada.
— Quem é que pintou? — perguntou Freeley.
— Para você poder ir pintar o seu equipamento de basquetebol, incluindo o número doze, no meu antepassado!
— E da família de Jefferson Davis?
Feeley correu e lançou. A bola bateu na tabela.
— Sou da família de Vinny — afirmou Ehrhart.
— Como em Pooh?
— Varina.
Ambas as palavras significam “pessoa estúpida” em hebraico. (NT)
— Pensei que isso fosse uma profissão, ou talvez uma coisa que não se deveria mencionar.
— Você é ordinariamente mal-educado, Mr. Feeler.
— Feeley.
— Desdenha-me que as pessoas da sua geração não respeitem nem uma coisa que aconteceu antes no passado. E o importante é que aconteceu mesmo que tenha começado antes de você. Aqui estou eu, como provado.
Feeley franziu o sobrolho.
— Que tal telefonar novamente? Acho que a ligação está má.
— Não o faria — disse ela secamente. Segurou a bola debaixo do braço.
— O que é que eu fiz?
— Sabemos ambos o que fez.
Ele driblou e fez um lançamento de gancho que passou por baixo do cesto.
— Lamento — disse Feeley —, mas não fui eu a fazer o trabalhinho na estátua de Mr. Davis, embora deva dizer que já era altura de alguém o pôr no seu lugar.
— Como pode atrever-se!
Feeley lançou-lhe um sorriso rasgado. Driblou para a frente e para trás, de uma mão para a outra, batendo no pé.
— Acusado de traição, mas nunca julgado. Primeiro e último presidente da Confederação. Ah! — Falhou outro lance livre. — Se pensarmos bem, é de sentir pena dele. Maus caminhos-de-ferro, sem Marinha, sem fábricas de munições nem estaleiros, para não falar de armas e equipamento. — Uma tampinha voou por cima da tabela. — O Congresso a lutar que nem cães e gatos. — Feeley avançou e bateu novamente no pé. — Lee rende-se sem perguntar a Davis se concorda. — Correu atrás da bola. —Jeff Davis dá consigo preso e acaba como vendedor de seguros em Memphis.
— Não ser verdade. — Ehrhart sentia-se inflamada.
— Verdade, verdadinha, minha senhora.
— Onde é que estava ontem à noite? — Ela exigiu-lhe uma resposta.
— Aqui mesmo, a treinar. — Um lance súbito de meio campo foi parar às bancadas. — Não fui ao cemitério, nem nunca lá pus os pés.
Correu outra vez atrás da bola e começou a girá-la sobre o dedo médio.
Ehrhart compreendeu mal.
— Está a fazer-me um gesto de obscenidade?
A bola escorregou. Feeley tentou novamente. Lançou-a por detrás das costas e falhou.
— Bolas — disse ele.
— Considero-o com muita falta de respeito — disse Ehrhart sentidamente, em voz alta. — E pode ter um álibi a partir de então e no final, o que vem e volta.
— Olhe, minha senhora — Feeley meteu a bola debaixo do braço —, não tive nada a ver com a estátua, mas tenciono certamente ir lá dar uma olhadela.
Muitos dos habitantes de Richmond tinham tomado a mesma decisão. Clay Kitchen nunca vira uma fila de carros tão grande sem luzes. Nunca, nos seus vinte e sete anos de serviço fiel, observara um comportamento tão impróprio.
As pessoas estavam animadas. Tinham aberto as janelas e gozavam o prematuro tempo primaveril. Ouviam rock & rol!, jazz e rap.
Kitchen e West seguiam aos ziguezagues na carrinha, evitando o fluxo de trânsito e entrando no local do crime pela Lee Avenue. West olhou para fora da janela, espantada por tanto interesse. Quando a estátua apareceu, quase perdeu a compostura oficial. Quase exclamou: Foda-se, não acredito.
— Pare aqui mesmo — disse para Kitchen. — Não quero que as pessoas me vejam a sair da sua carrinha.
Kitchen compreendia muito bem. West estava à paisana e não lhe quisera dizer a razão, mas ele percebera muito bem. Sabia o que se passava. Os criminosos regressavam muitas vezes ao local do crime, especialmente se fossem pirómanos, se quisessem pedir desculpa ou se se tivessem esquecido de levar uma recordação. Kitchen falara com os polícias, quando eles patrulhavam o cemitério em dias de pouco movimento, e ouvira muitas histórias.
Lembrava-se do homem que dera quase mil punhaladas na mulher e dormira com o corpo durante dias, trazendo-lhe o pequeno-almoço à cama, vendo televisão com ela e falando dos bons velhos tempos. E claro que isso não era exactamente o mesmo que voltar ao local do crime, pois nunca o abandonara, pensava Kitchen. No entanto, sabia de fonte segura que há uns anos, lá para o norte, uma mulher triturara o marido numa máquina de lascar madeira e voltara passados uns dias para queimar os restos no quintal. Aparentemente, um vizinho suspeitou de alguma coisa.
A multidão comprimia-se, cada vez mais perto da estátua, ameaçando a qualquer momento passar por baixo ou até mesmo partir a fita amarela de delimitação. West pegou no rádio e pediu reforços. No cemitério, vivia-se uma situação que se aproximava de um motim, com centenas de pessoas aglomeradas, muitas das quais tinham estado a beber e provavelmente continuavam a fazê-lo.
— Três — respondeu a agente de comunicações Patty Passman. — É urgente?
West controlou o seu desagrado. As pessoas empurravam-na. Passman passava a vida a pôr em questão as suas chamadas e agora tivera a coragem de perguntar se a situação era urgente. Não, por que não tratas disto quando puderes?, apetecia-lhe dizer. Depois de me terem espezinhado.
— Três, negativo. De momento.
— Três, qual é a sua localização exacta?
— Estou exactamente na estátua — respondeu West abruptamente.
— Eh, quem é a miúda do rádio? — gritou um homem qualquer.
— Temos aqui chuis à paisana!
— FBI.
— CIA.
— Ena!
— Queres as minhas impressões digitais, querida?
Sentia-se um forte cheiro a álcool. Os corpos comprimiam-se cada vez mais e gente trocista metia-se à frente de West. Deixou de ter espaço para se mexer. Acotovelavam-na, tocavam-lhe, riam-se na cara dela. Voltou a pegar no rádio e, subitamente, viu o pequeno peixe azul pintado na base da estátua, mesmo por baixo do ténis esquerdo de Jefferson Davis. Um miúdo aproximou-se por trás e fingiu ir tirar-lhe a arma. Ela ergueu-o pelo cinto e atirou com ele, como se fosse um saco de lixo. Ele riu-se e fugiu.
— Três, urgente! — enviou West, olhando para o peixe, com os pensamentos num tumulto.
— Unidades na área do cemitério Hollywood, um agente precisa de auxílio — emitiu Passman calmamente.
— Para trás! — gritou West à multidão. — Imediatamente para trás! Estava encostada à fita, com a multidão cada vez mais agitada e a avançar.
West sacou do seu spray de pimenta vermelha e apontou-o. As pessoas pararam para reflectir.
— Que diabo se passa? — gritou West. — Imediatamente para trás! A multidão recuou um pouco, os rostos torcendo-se de indecisão, os punhos cerrados, o suor a escorrer, o ar a pulsar com o calor da violência prestes a rebentar.
— Alguém me explica o que é que se passa? — gritou ela novamente.
Um jovem com uma camisa e um boné Tommy Hilfiger, com uma perna das calças enrolada e a outra para baixo, falou em nome do grupo.
— Ninguém nos quer aqui dentro — explicou ele. — Talvez isso nos afecte, sabe? E depois, um dia, acontece uma coisa qualquer e nós estouramos.
— Bem, aqui não vai haver estoiros — disse West para todos, falando com brusquidão. — Como é que te chamas?
— Jerome.
— Parece que esta gente te dá ouvidos, Jerome.
— Não conheço ninguém, mas acho que sim.
— Quero que me ajudes a mantê-los calmos — disse West.
— OK.
Jerome voltou-se e enfrentou a multidão.
— QUIETOS! — gritou ele. — TODOS PARA TRÁS PARA DAREM UMA PORRA DE UM ESPAÇO A ESTA SENHORA!
Obedeceram-lhe todos.
— Agora escutem. — Jerome entrou no seu novo papel sem problemas nenhuns. — A coisa é que vocês não sabem como é — disse ele a West.
— Diz! — gritou uma mulher.
— Acham que nos querem aqui dentro? — Ele espicaçava a multidão.
— Foda-se, não! — gritavam eles.
— Acham que querem a gente a passar por aqui?
— Foda-se, não ! — cantava a multidão.
— Pensas que vais p’ra Hollywood/ não te vão deixar / vão apanhar-te / e amandar-te p’ra a rua / do cemitério cá do bairro — cantava Jerome em ritmo rap.
— Nunca!
— Os monumentos estão mortos / quantas vezes é preciso dizer. — Jerome pavoneava-se em frente da multidão. — De que vale provar e cheirar / se não vais ganhar a massa / já se vende qualquer merdaça / / excepto eu e tu / não importa o que se faça / somos os gajos do bairro / não ’tamos na merda de Hollywood.
— E AS GAJAS DO BAIRRO!
— Os gajos e as gajas do bairro não ’tão na merda de Hollywood.
— Jerome mudou para uma versão politicamente correcta.
— NÃO ’TAMOS NA MERDA DE HOLLYWOOD! — A multidão respondia também em rap.
— Obrigado, Jerome — disse West.
— NÃO ’TAMOS NA MERDA DE HOLLYWOOD!! — A multidão estava fora de controlo.
— Jerome, já chega!
— Outra vez, irmãos! —Jerome rodopiava e dava pontapés no ar.
— NÃO ’TAMOS NA MERDA DE HOLLYWOOD!!
— NÃO ’TAMOS NA MERDA DE HOLLYWOOD!! Ao longe ouviram-se as sirenes.
O Centro Robins, onde os Spiders jogavam basquetebol perante grandes multidões, ficava entre o parque privativo onde Ehrhart enfiara o seu Mercedes e o parque público, onde estacionava a população, a não mais de duas filas, ou cerca de cinquenta metros, da pista onde, neste momento, Brazil corria pela segunda vez naquele dia.
Era à tardinha. Passara horas a trabalhar na crise informática do COMSTAT, enquanto a Imprensa continuava a espalhar histórias mesquinhas sobre o vírus dos peixes e o vandalismo na estátua de Jefferson Davis. Comentários pouco inteligentes e de muito mau gosto apareciam nos e-mails e passavam de boca em boca nos escritórios, restaurantes, bares e ginásios, antes de acabarem por ir parar aos ouvidos da polícia.
Os chuis já apanharam alguma coisa, já arpoaram um vigarista.
Truz, truz. Quem é? Polícia. Quem? É melhor irem à pesca.
Jeff Davis enegreceu.
O que é que é preto, branco e vermelho? (Jeff Davis.)
Brazil estava desesperado por uma pausa. Precisava de espairecer e fazer algum exercício para diminuir o stress. Não lhe apetecia nada era ver Lelia Ehrhart a sair do Centro Robins e a dirigir-se ao seu Mercedes preto, estacionado no parque do Spiders Club. Percebeu imediatamente o que ela andava a fazer e ficou furioso.
Saiu rapidamente da pista e passou pelo portão. Apanhou-a quando ela ia a fazer marcha-atrás. Bateu na janela mas o carro continuou em movimento. Ela travou, certificou-se de que as portas estavam trancadas e que a janela só estava aberta uma nesga.
— Sou o agente Brazil — disse ele, limpando a cara com a camisola.
— Não o reconheci — disse Ehrhart, avaliando-o como se tivesse em mente uma aquisição.
— Não quero ser mal-educado — disse Brazil —, mas o que estava a fazer no ginásio?
— A tratar de uns factos.
— Falou com Bobby Feeley?
— Sim.
— Era melhor não o ter feito, Mrs. Ehrhart — disse Brazil.
— Alguém tinha de fazer e eu tenho um interesse pessoal nisto que tem a ver comigo. Vocês, os forasteiros de Charlotte, não passam a vida a dizer a nós para sermos polícias da comunidade? Bem, aqui estou. Que idade tem?
— O policiamento da comunidade não inclui interferir nas investigações — respondeu Brazil.
Ela ficou a olhar para as pernas dele.
— É muito atlético — disse ela em tom apreciador. — Tenho um treinador. Se alguma vez quiser treinar comigo, nós ambos, não era óptimo?
— A sua oferta é muito amável. — Brazil foi educado, respeitador e profissional.
— Em que ginásio vai? — Abriu a janela toda, acariciando-lhe o corpo com um olhar cheio de poder de compra.
— Tenho de ir — disse Brazil, enquanto ela lhe mirava as virilhas.
— Quantas vezes vai para aqui? — perguntou ela, continuando o seu exame físico. — Está muito com suor. Está a correr por si abaixo em pequenos rios e parece muito quente. Devia tirar as camisas e beber Gatorades. — Deu uma palmadinha no assento do lado. — Venha sentar, Andy. Saia do quente. Tenho uma piscina em minha casa. Podíamos ir lá saltar para dentro. Pense como seria bom quando está tão quente.
— Obrigado, Mrs. Ehrhart — Brazil estava ansioso por se afastar —, mas tenho que ir.
Afastou-se a correr. Ouviu-se o ruído da janela a subir. Ao arrancar, os pneus soltaram um som irado.
A dois e dois, Brazil correu para o interior do Centro Robins e entrou no ginásio, onde Bobby Feeley treinava a defesa, marcando faltas sobre adversários imaginários.
— Mr. Feeley? — disse Brazil da linha lateral. Feeley atirou-lhe a bola em drible e começou a rir.
— O que é isto? A inquisição? Ou andas à procura da pista, meu?
— Pertenço ao Departamento de Polícia de Richmond e investigo o vandalismo que teve lugar no Cemitério Hollywood ontem à noite — explicou Brazil.
— Vais sempre trabalhar vestido dessa forma? — Feeley tentou outro lance livre, mas a bola nem sequer chegou lá perto.
— Acontece que estava ali a correr, quando vi Lelia Ehrhart a afastar-se — disse Brazil.
— Aquilo é que é uma obra de arte. — Feeley foi buscar a bola. — Há quanto tempo está ela neste planeta?
— Olhe, Mr. Feeley...
— Chama-me Bobby.
— Bobby, fazes alguma ideia por que motivo alguém quis pintar uma estátua parecida contigo? — perguntou Brazil. — Partindo do princípio de que não foste tu.
— Não fui eu. — Feeley simulou alguns passes. — E embora seja muito lisonjeiro pensar que há uma estátua com a minha pessoa num cemitério branco histórico, não faço ideia nenhuma. — Falhou um lance por debaixo do cesto. — Não sou lá grande jogador de basquete e é pouco provável que seja o herói de alguém.
— Como é que entraste para a equipa? — Brazil teve de perguntar, ao ver Feeley falhar outro lançamento.
— Dantes era melhor que isto — disse Feeley. — No liceu, arrasava, fui recrutado para um milhão de sítios e decidi-me por Richmond. Chego cá e há algo que corre mal. Estou a dizer-te, meu, comecei a pensar que talvez tivesse lúpus, distrofia muscular, Parkinson.
Feeley sentou-se na bola de basquete e poisou o queixo na mão, deprimido.
— O facto de usar a camisola de Twister Gardener não ajuda — disse Feeley, desmoralizado. — Pergunto a mim próprio se, em parte, é por isso. Fico perturbado, sabes, porque olham todos para o meu número e lembram-se dele.
— Não sou daqui. — Brazil sentou-se ao lado dele. — Gosto mais de ténis do que de basquete.
— Bem, deixa-me que te diga — continuou Feeley —, Twister foi o melhor jogador que esta escola já teve. Não tenho dúvidas de que estaria a jogar nos Bulis se não tivesse sido morto.
— Que aconteceu? — perguntou Brazil, sentindo algo a despertar no fundo da mente.
— Um acidente de automóvel. Um cabrão de um condutor bêbedo, fora de mão. Em Agosto passado, mesmo antes de entrar para o segundo ano.
A história impressionou Brazil. Ficava furioso pelo facto de um grande talento poder ser completamente aniquilado num segundo por alguém que decidira beber umas quantas cervejas a mais num bar.
— Fico muito contente por o ter visto jogar. Acho que se pode dizer que era o meu herói. — Feeley levantou-se e esticou o ágil corpanzil de mais de dois metros.
— Não é fácil usar a camisola do nosso herói — comentou Brazil, levantando-se também.
Feeley encolheu os ombros.
— Faz parte da coisa.
— Talvez devesses mudar o teu número — sugeriu Brazil. Feeley ficou surpreendido. O rosto endureceu-lhe e os olhos faiscaram.
— O que é que disseste? — perguntou ele.
— Talvez devesses tirar esse número, deixar outro usá-lo — explicou Brazil.
Os olhos de Feeley brilharam e os músculos do rosto endureceram.
— Foda-se, não.
— Era só uma sugestão — disse Brazil. — Mas não percebo por que queres ficar com ele se te perturba. Muda-o, Bobby.
— Nem pensar!
— Experimenta.
— Vai-te foder!
— Faz todo o sentido — continuou Brazil sensatamente.
— Por porra nenhuma, nunca!
— Por que não?
— Porque mais ninguém se havia de importar tanto com ele como eu!
— Como é que sabes?
Feeley atirou a bola de basquete com toda a força e encestou sem tocar no aro.
— Porque ninguém havia de respeitar Twister, tratá-lo como deve ser e falar dele como eu!
Feeley correu a toda a velocidade para a bola, driblou com a mão direita, com a esquerda e afundou.
— E digo-te mais, nunca hás-de ver esta camisola suja ou atirada para um canto qualquer! — Lançou a bola por cima da cabeça e encestou, fazendo vibrar o aro. — Imaginem, vir para aqui um merdoso qualquer usar o número do Twister!
Fez um lançamento de gancho, foi ao ressalto e afundou, recuperou a bola, fez um drible, e voltou a afundar de costas, num salto poderoso, roubando a bola a mãos ávidas e imaginárias.
— Twister tem família na região? — perguntou Brazil.
— Lembro-me de ir aos jogos em casa e de o ver com um miúdo qualquer. Twister sentava-o mesmo atrás do banco — disse Feeley, fazendo lançamentos livres e falando ao mesmo tempo. — Fiquei com a impressão de que talvez fosse o irmão mais novo.
Ruby Sink fazia um pouco de investigação por conta própria no James River Monuments. O ruído dos macacos pneumáticos e outras ferramentas era terrível e alguém martelava em granito da Geórgia do Sul. O jacto de areia estava ligado e um guindaste erguia um monumento de setecentos quilos, lascado e manchado de verde no cimo, devido ao musgo.
O mármore branco de Vermont era muito difícil de trabalhar e já não se utilizava e Floyd Rumble tinha um problema entre mãos. Fosse como fosse, estava arrasado, pois tivera um dia dos diabos. Doíam-lhe as costas e tinha o filho preso no escritório, porque a secretária estava de férias.
Depois, pela quarta vez nessa semana, aparecera o Coronel Bailey, que sofria de Alzheimer para dizer que queria ser enterrado de uniforme e queria algo de muito patriótico gravado no seu monumento de mármore cinzento Saint Cloud. De cada vez que lá ia, Rumble preenchia sempre uma nova nota de encomenda, porque a última coisa que faria era humilhar as pessoas.
Rumble pegou numa faca e continuou a cortar uma folha em mármore negro de Nero, pensando em como se sentira mal quando o corretor Ben Neaton tombara subitamente morto de um ataque de coração e a esposa tivera de lá ir, tão desgostosa que nem conseguia pensar e, muito menos, escolher o que quer que fosse.
Portanto, Rumble sugerira a elegante pedra negra porque Mr. Neaton conduzira sempre luzidios Lincolns pretos e usava fatos escuros. A inscrição, Não Partiu, Apenas Reinvestiu, fora desenhada numa folha de borracha, colocada na superfície da pedra. O jacto de areia gravara as palavras numa questão de minutos, mas era sempre Rumble que gravava os trabalhos delicados, como hera ou flores, à mão.
Era comum as pessoas, desgostosas e chocadas, pedirem a Rumble que tomasse todas as decisões e contavam-lhe a história da vida do ente querido, incluindo as suas últimas palavras, o que comera e vestira ou o que tencionara fazer no dia seguinte. Havia sempre aquela pequena coisa que fazia a pessoa sentir-se mal.
Rumble escutava longas narrativas de como o marido não saíra para ir buscar o jornal como era hábito, enquanto a mulher estava a arranjar o pequeno-almoço e os almoços para a escola e tratava de levantar os miúdos e de os aprontar, certificando-se de que não perdiam o autocarro. Depois ia preparar os ovos dele da forma como ele gostava, não se esquecendo de perguntar o que queria para o jantar e a que horas chegaria.
Ruby Sink gastara a paciência de Rumble. Andava a planear o seu monumento desde que a irmã morrera, há onze anos, e era vulgar ir até ali uma vez por mês, só para ver em que é que Rumble estava a trabalhar. Primeiro queria um anjo, depois uma árvore, depois uma campa simples de granito, ao estilo africano, com lilases em relevo; seguidamente interessou-se pelos mármores e vasculhou-os como uma mulher fazia ao seu roupeiro, tentando decidir que vestido usar. Queria Lake Superior Green, depois Arco-íris, depois Wausau, depois Carnelian, seguido de Mountain Red e por aí fora.
O negócio de Rumble estava na família há três gerações. Lidara com todo o tipo de pessoas e era suficientemente esperto para ter deixado de fazer encomendas para Miss Sink, depois de ela ter mudado de opinião pela terceira vez.
— Boa tarde, Floyd. — Miss Sink entrou por ali dentro muito direita, fazendo ouvir a voz acima do ruído das máquinas, do soprar da areia carbónica, do som vibrante do exaustor e do rugir dos compressores.
— Acho que sim — disse ele.
— Não sei como é que suporta todo este pó. — Dizia sempre aquilo.
— Faz-nos bem — respondia ele invariavelmente. — É o mesmo que usam na pasta de dentes. Vai-nos limpando os dentes ao longo do dia. Alguma vez viu um Rumble com dentes estragados?
Em parte, ele enveredava por esta conversa para distrair Miss Sink. Por vezes funcionava, mas naquele dia não.
— Já deve ter ouvido. — Aproximou-se dele para lhe falar em confidência.
O monumento de setecentos quilos pendia perigosamente no meio do ar e Rumble pensava no trabalhão que a sua restauração ia dar. Todos os duplicados de peças antigas como aquela tinham que ser cinzelados à mão e não podia começar enquanto Miss Sink estivesse na oficina, mas ela decidira que descobrira finalmente aquilo que queria. Sabia, sem a mínima dúvida, que tinha de ter mármore de Vermont, branco e macio, burilado à mão.
Ele começou à procura de letras para matrizes em tabuleiros, preparando-se para gravar uma inscrição em hebraico em mármore branco Sierra, enquanto a equipa baixava o monumento danificado para uma carreta.
— Já soube o que fizeram a Jefferson Davis? — perguntou-lhe Miss Sink.
— Ouvi qualquer coisa.
Rumble começou a preparar os tipos. Tinham de ser de plástico para se poder ver à transparência, mas estavam sempre a partir-se.
— Como sabe, Floyd, faço parte da direcção.
— Sim, minha senhora.
— A questão premente a que precisamos de atender é saber a extensão dos danos da estátua, como restaurá-la e quanto isso irá custar.
Rumble ainda não fora ao cemitério dar uma olhada. E nem sequer se ia incomodar a fazê-lo, a não ser que lhe encomendassem o trabalho.
— Ele pintou também a base de mármore ou só o bronze? — perguntou Rumble.
— Principalmente o bronze. — Só de pensar nisso sentia-se doente. — Mas pintou o topo da base para se assemelhar ao chão de um campo de basquetebol. Portanto, sim, apanhou uma parte do mármore.
— Estou a ver. Portanto, ele está de pé num campo de basquetebol. Que mais?
— Bem, a parte pior. Pintou-lhe um equipamento de basquetebol, incluindo sapatos de ténis e tudo, e mudou-lhe a raça.
— Parece que temos aqui dois problemas — disse Rumble, enquanto atirava fora mais outra letra partida e a serra de diamante ao canto começava a cortar pedra. — Para arranjar o mármore, tenho que o burilar todo e dar-lhe uma nova superfície. Quanto ao bronze, se estivermos a falar de tintas à base de óleo...
— Oh, claro que estamos — disse ela. — Vi logo que não era tinta de spray. Foi tudo feito com pincel e levou várias camadas.
— Teremos que raspar tudo, talvez com terebintina, e depois dar um acabamento com poliuretano, para evitar a oxidação.
— Então, vamos estudar isto — anunciou Miss Sink.
— É melhor — disse Rumble. — Vamos acabar por ter de trazer Jeff Davis aqui para a oficina. Não posso fazer todo este trabalho no meio de um cemitério público, com gente por todo o lado. O que quer dizer que temos de o içar com um guindaste e uma eslinga e metê-lo num camião.
— Provavelmente, o melhor é fechar o cemitério enquanto fizer tudo isso — disse Miss Sink.
— Durante a remoção, certamente. Mas eu tratava disso imediatamente, para não haver ninguém a lembrar-se de fazer o mesmo a outros monumentos. E sugiro que arranjem guardas para patrulharem a área.
— Vou pedir a Lelia que trate disso.
— Entretanto, não quero que ninguém mexa na estátua. Isto, se me pedir que a arranje.
— É claro que vai ser você, Floyd.
— Vai levar-me um dia e tal para a tirar do cemitério e depois não sei quanto tempo mais.
— Acho que tudo isto vai custar um dinheirão — disse a frugal Miss Sink.
— Serei tão justo quanto possível — respondeu Rumble.
Bubba não tinha qualquer intenção de ser justo. Sofrera tantos traumas e perturbações que nem conseguia pensar em dormir e, assim que o detective se fora embora com as impressões digitais e outras provas, voltara para a oficina. Limpara tudo rapidamente, com a raiva a dar-lhe uma energia inesgotável, enquanto Half Shell ladrava sem parar e corria em círculos, saltando para cima e para baixo do barril virado.
Até aquele momento, o karma de Bubba não se mostrara favorável. Comprara um saco de grandes berlindes brancos e um frasco de tinta amarela fluorescente. As suas tentativas de fazer furos nos berlindes
foram desastrosas. Teimavam em escorregar do torno e, quando o apertava mais, os berlindes rachavam. A ponta da broca estava sempre a resvalar e depois partia-se. Isto continuou assim, sem mostras de melhorar, até que ele teve uma boa ideia.
Passava um pouco das três da tarde quando Honey meteu a cabeça na oficina com uma expressão preocupada.
— Querido, não comeste nada o dia todo — disse ela, preocupada.
— Não tenho tempo.
— Querido, costumas ter sempre tempo para comer.
— Hoje, não.
Ela viu o que restava do seu colar de pérolas preferido espalhado em cima da bancada.
— Querido, que estás a fazer?
Atreveu-se a dar um passo dentro da oficina. As pérolas estavam soltas e Bubba alargava os furos com uma broca fina.
— Bubba? Que estás a fazer às minhas pérolas? Foi o meu pai que mas deu.
— São falsas, Honey.
Bubba enfiou um fio preto numa das pérolas e deu um nó apertado. Fez o mesmo com outra pérola, pegou nos dois fios e atou-os, a cerca de dez centímetros abaixo das pérolas. Fê-las girar lentamente sobre a cabeça, como um laço. Gostou da sensação e tratou de fazer mais.
— Honey, volta para casa — disse Bubba. — é como se não tivesses visto nada e é melhor não contares nada a ninguém.
Ela hesitou no limiar da porta, com um olhar inquieto.
— Não estás a fazer nada de mal, pois não? — atreveu-se ela a perguntar.
Bubba não respondeu.
— Amorzinho, nunca te vi fazer nada de mal. Foste sempre o homem mais honesto que conheço, tão honesto que todos abusam de ti.
— Vou ter com Smudge a casa dele por volta das seis e vamos para Suffolk.
Ela sabia o significado daquilo.
— Para o Pântano Sinistro? Por favor, não me digas que vais para aí, Bubba.
— Talvez sim, talvez não.
— Pensa nas cobras. — Estremeceu.
— Há cobras em todo o lado, Honey — disse Bubba, que tinha uma fobia extrema a cobras e pensava que ninguém sabia. — Um homem não pode passar toda a vida preocupado com elas.
Smudge tinha a sua própria oficina, que estava muito mais bem organizada que a de Bubba e equipada apenas com o essencial. Tinha a mesa do costume, um gerador, serras de braço radial e de banda, uma plaina mecânica, um torno de madeira, uma bancada de trabalho e um aspirador. Smudge também não gostava de cobras, mas usava o senso comum.
O tempo estava invulgarmente quente para a época. No Pântano Sinistro, as cobras-d’água deviam estar a despertar, o que queria dizer que Smudge não tinha qualquer intenção de ir caçar guaxinins para lá. O condado de Southampton seria melhor, embora talvez não para Bubba. Smudge estava na sua bancada a colar uma roca de uma cascavel verdadeira à cauda de uma grande cobra de borracha. Utilizou um gancho simples, enfiado num monofilamento de cinco metros.
Smudge pôs o canil portátil na traseira do seu Dodge Ram, já totalmente cheio, que utilizava para a caça aos guaxinins.
— Entra, Tree Buster — ordenou Smudge.
O cão de caça, um macho malhado, saltou avidamente para a carrinha e entrou para o canil. Tree Buster nascera para descobrir guaxinins e não pensava em mais nada, só nisso e em comer. Era um campeão do Grand Show. Tinha um ladrar forte e alto, que era a melhor voz para um caçador de guaxinins, a não ser que se andasse à caça nas montanhas, onde um tom agudo se ouvia melhor.
Smudge tinha orgulho em Tree Buster e alimentava-o com ração seca Sexton, que encomendava do Kentucky. Tree Buster tinha umas patas de gato, bem compactas, pernas fortes e bons músculos; as orelhas chegavam à ponta do nariz, abocanhava bem e conseguia andar com a cauda erguida como um sabre. Não fora bem um cão desta qualidade que Smudge encorajara Bubba a encomendar através de um anúncio no American Cooner.
Bubba tinha a certeza de ter feito uma grande compra. A cadela já fora domada e era filha de Thunder Clap, que se classificara em bons lugares em várias caçadas mundiais. Comprara a cadela por três mil dólares sem a ver, ignorando que fora criada a despistar coiotes, veados, ursos e linces. Era particularmente boa a levantar tatus e ganhara o nome devido ao peculiar revestimento daquele animal.
Bubba estacionou o Cherokee na entrada de Smudge. Tirou o canil portátil da caixa e guardou-o na carrinha de Smudge. Half Shell parou de ladrar e abanou a cauda furiosamente.
— Canil — disse Bubba à cadela.
Atirou lá para dentro as galochas até ao joelho, a lâmpada de cabeça, a lanterna, as luvas, o encerado da Barbour, um telemóvel, uma bússola e uma navalha de ponta automática Spyderco. Poisou a mochila 188 no chão, em frente do banco da dianteira. Estava cheia de coisas, incluindo sanduíches Cbeez Whiz, refrigerante em pó Kool-Aid, o seu Colt Anaconda e outros objectos.
— Pareces preparado para uma tempestade — comentou Smudge ao sair de marcha atrás.
— Nunca se sabe as voltas que o tempo dá, nesta altura do ano — retorquiu Bubba.
— Está bastante quente, Bubba, mas no Pântano Sinistro, não sei. As cobras podem estar a dar sinal.
Bubba fez como se não fosse nada consigo, mas ficou com todos os cabelos em pé.
— Podemos falar disso na Loraine — respondeu ele.
Atravessaram campos de amendoim, cheios de adubo vegetal, e extensões desoladas de terras recentemente lavradas. Não houvera grandes mudanças em Wakefield nos últimos anos, à parte a instalação do novo radar Doppler WSR-88-D do Instituto Nacional de Meteorologia. Fazia lembrar um enorme depósito de água de alta tecnologia e dera origens a superstições entre os habitantes, que não queriam aquela coisa perto das suas casas.
Bubba, por exemplo, tinha sempre uma sensação esquisita quando a cúpula do radar aparecia sobre a copa das árvores. Era evidente que não tinha dúvidas de que era usado para detectar a aproximação de sinais de tempestade, a direcção do vento e para fornecer cobertura ao condado, em caso de ameaça de tornado. No entanto, acreditava que havia mais alguma coisa. Os alienígenas estavam envolvidos. Talvez usassem as instalações do radar para comunicar com a nave-mãe, fosse qual fosse a dimensão temporal ou o plano de realidade envolvido. Afinal de contas, alguém enviara os alienígenas para cá. Necessitavam de uma forma de comunicação com a pátria.
Em tempos, talvez Bubba tivesse contado esta teoria a Smudge, mas agora não. Olhou para o seu amigalhaço e só sentiu ressentimento. Ao passarem o Santuário do Menino Jesus, na Igreja de Praga, Bubba não se sentiu na disposição de oferecer a outra face. Ao ultrapassarem a Casa Funerária Purviance, a longevidade de Smudge foi posta em causa. Ao entrarem no condado de Southampton, onde a estrada estava cheia de bútios à procura de comer, Bubba pensou na forma como Smudge sempre se aproveitara dele desde os tempos em que andavam na catequese.
Logo a seguir à zona pantanosa, o Restaurante da Loraine oferecia um Serviço Rápido e Atencioso, com um letreiro de néon à frente anunciando CAMARÂO FRITO OSTRA & CARANGUEJO $13.25, com uma seta a piscar que apontava para o pequeno edifício bege com faixas vermelhas. O parque de estacionamento era uma velha paragem de camionistas com montes de cascalho e espaços onde antigamente estavam as bombas de gasolina e gasóleo. Bubba e Smudge estacionaram e passaram pelas janelas cheias de presuntos Smithfield no momento em que, nas traseiras do edifício, ribombava um comboio Norfolk-Southern.
Loraine era um ponto de paragem popular entre os caçadores de guaxinins, embora não houvesse tanto movimento na época de caça como na época de abate, o que para Myrtle, a empregada da caixa, era indiferente. Podia compreender que se abatessem guaxinins há alguns anos, quando as peles se vendiam a vinte dólares a peça. Mas ninguém queria saber daquilo depois de o preço ter baixado para oito dólares. O que os rapazes abatiam ficava normalmente nas matas.
Myrtle ficava sempre contente ao ver Smudge e Bubba. Ao que parecia, só caçavam pelo prazer de treinar os cães e só matavam quando era importante fazê-los correr, convencendo-os de que, se encurralassem um guaxinim, talvez o conseguissem matar. Myrtle já perdera a conta às vezes que os caçadores de guaxinins entravam no restaurante vestidos com camuflados Delta Wing, cobertos de sangue. Fumavam, mastigavam pastilha elástica e mandavam vir muito café, ostras e camarões fritos e rolo de carne à discrição.
As mesas tinham toalhas de plástico e estavam identificadas com números de bingo. Bubba e Smudge escolheram a B4, com a sua alegre mensagem “Volte em Breve”. Bubba começou à procura no cestinho de palha, por entre o A-1, o Worcestershire, o açúcar, o Tabasco e os pacotes de compota para ver se havia bolachinhas escondidas. No tecto, uma ventoinha girava lentamente. Smudge e Bubba olharam para os pratos do dia afixados num quadro, junto de um sinal que dizia “Reservamo-nos o direito de recusar serviço”.
— Vamos pôr as cartas na mesa, Bubba — disse Smudge, tirando o boné do Ducks Unlimited. — Quanto?
— Quanto queres? — Bubba tentou dar um tom machista e confiante à voz, mas tremia por dentro.
— Quinhentos — disse Smudge, estudando Bubba atentamente para ver a sua reacção.
— Subo para mil — respondeu Bubba, com as entranhas geladas.
— Estás a falar a sério, pá? Ou é só bluff?
— Tenho-os aqui no bolso — disse Bubba. Smudge abanou a cabeça.
— Aquela tua cadela só consegue encurralar uma galinha no cimo de um galinheiro e uma cabra no cimo de um toco. O mais perto que esteve de um guaxinim foi quando encurralou um no topo de um poste telefónico. Não atravessa ribeiros, fica para ali a ladrar, isto quando não anda metida debaixo dos teus pés. Half Shell não vale o chumbo que gastavas a matá-la, Bubba.
— Veremos — disse Bubba, enquanto Myrtle se aproximava da mesa com o bloco na mão.
— Já escolheram, rapazes?
— Chá gelado, camarão frito e ostras — disse Bubba.
— Prato simples ou comer-até-fartar?
— Põe-me à prova — disse Bubba. Myrtle riu-se, mascando pastilha.
— E Smudge?
— O mesmo.
— Vocês são fáceis de servir — disse ela, limpando as migalhas da mesa e voltando para a cozinha.
— Para onde vamos? — perguntou Bubba.
— Começamos no cruzamento da 620 com a 460, já aqui perto — apontou Smudge. — E seguimos para a esquerda, a subir, para o mato. Há só pistas de lama, floresta e ribeiros. Andei a explorar um pouco no Pântano Sinistro e tenho a certeza de que agora é má altura. Parece que, quando está calor durante o dia, as cobras se enrolam como minhocas, há milhares delas. Quando arrefece, à noite, pisamo-las como paus na estrada.
Bubba estava a ter dificuldade em respirar.
— Estás bem, pá? — perguntou Smudge.
— São as alergias. Esqueci-me de trazer o meu Sudafed.
— Para onde vamos, é provável que não haja assim tantas cobras — continuou Smudge. — E, se virmos alguma, deixamo-la em paz. Têm mais medo de nós do que nós delas.
— Como é que sabes? — atirou Bubba. — Alguma vez uma cobra disse isso a alguém? É como dizer que os cães não têm sentido do tempo. Alguém perguntou a Half Shell se é verdade? Ouvi histórias sobre cobras a subirem pelas calças das pessoas/Isso é que é ter medo?
— Bem visto — retorquiu Smudge pensativamente. — Também já ouvi isso. Tenho que admitir que também ouvi falar de serpentes que perseguem pessoas e cobras-capelo que cospem nos nossos olhos, embora não possa dizer se é verdade.
Divinity tentava acalmar Smoke e tirá-lo daquele perigoso estado de espírito. No entanto, quando ficava assim, não valia a pena falar alto e irritar-se, a não ser que quisesse comer pela medida grande.
— Querido, é que não quero que te aconteça nada de mal — tentou ela mais uma vez, enquanto ele acelerava pela Midlothian, de regresso do barracão a que chamava a sede do clube, onde tinha agora um arsenal suficiente para destruir uma esquadra de polícia.
— Se o encontro, é a morte dele — disse Smoke.
Wu-Tang tocava “Severe Punishment”. Smoke aumentou o volume.
— Que é que eu lhe disse para fazer? — Smoke olhava furioso para Divinity.
— Disseste-lhe para pintar a estátua — respondeu ela em voz baixa, olhando para as mãos dele para se certificar de que não iam atingi-la.
— Disse-lhe para pintar no sentido de destruir, de lixar. — Smoke agarrava o volante com toda a força. — Sabia que devia lá ter ficado a ver. Porra! Merda! Depois ele pinta o maldito do peixe azul e toda a gente pensa que o vírus do peixe está ligado a isto! Que é dos nossos louros, hem? Onde é que lá diz Pikes?
— Não parece que a gente vá ter louros, querido. — Ela estava gelada por dentro, à espera que o monstro escondido no interior dele saltasse cá para fora.
— Bem, vou tratar de remediar isso, e sabes como?
— Não, querido — disse Divinity, massajando-lhe o pescoço.
— Não me toques! — Smoke deu-lhe um empurrão. — O meu cérebro está a trabalhar.
Aquela hora, restava na sala de imprensa uma raça especial, os cavernícolas do jornalismo, os que dormiam de dia e orientavam a vida noite dentro. Artis Roop não obedecia a horários.
Sentia-se estimulado e meio alucinado, não desistindo de desvendar a trapalhada dos “Fumos”, dos Peixes Histéricos e daquele 192
peixinho azul pintado tão subtilmente na base do Jeff Basquetebolista. Não se descobrira nada de novo. Roop limitava-se a dar outra ordem a informações antigas e sabia-o bem. Não se passara mais nada, para além dos velhos tiroteios da droga e das lutas na assembleia municipal.
— Merda.
Recostou-se na cadeira e espreguiçou-se, virando o pescoço para um lado e para o outro.
— Tens alguma coisa para a última edição? — perguntou Outlaw, a chefe de redacção da noite.
— Estou a trabalhar nisso — respondeu Roop.
— De que tamanho?
— De que espaço disponho? — perguntou Roop.
— Depende do que ainda chegar — disse Outlaw.
Roop estava prestes a confessar que não tinha nada de jeito quando o seu telefone tocou.
— Roop — respondeu ele.
— Como é que me posso certificar? -— Quê? — perguntou Roop.
— Como é que sei que estou a falar com Roop — respondeu uma voz masculina e dura.
— O que é isto, uma chamada de um doido? — Roop ia para desligar.
— Sou o gajo do peixe azul.
Roop ficou em silêncio. Abriu o bloco de notas.
— Já ouviste falar dos Pikes, meu?
— Não — confessou Roop.
— Quem é que pensas que pintou a porra da estátua? Que diabo pensas que é a merda do peixe?
— Um lúcio?1 — Roop estava maravilhado. — O peixe é um lúcio?
— Foda-se, que já percebeste.
— Houve quem sugerisse que o peixe é, na verdade, o símbolo do estado, uma truta — informou-o Roop.
— Não é truta nenhuma e é melhor prestares atenção, pois passa-se muita coisa nesta cidade de que os Pikes se estão a encarregar.
1 “Lúcio”, em inglês, diz-se “pike”, embora esta palavra também signifique “lança de combate”. (NT)
— Então, podemos dizer que os Pikes são um gang? — perguntou Roop.
— Não, monte de merda, são um bando de escuteiras.
— Então, no meu artigo posso referir-me aos Pikes como um gang. Quem é você? — perguntou Roop cautelosamente.
— O teu pior pesadelo.
— Estou a falar a sério.
— O chefe. Sou tudo o que decidir ser e faço aquilo que quero. Esta porra desta cidade ainda não viu nada. E podes escrever isso a vermelho. Lembrem-se dos Pikes. Vão voltar a ter notícias nossas.
— Mas por que motivo pintaram um jogador de basquetebol? E aquele peixe tem alguma coisa a ver com o problema dos computadores...?
Respondeu-lhe o sinal de ligação. Telefonou para a polícia.
Por esta altura, as mesas B3, B6, B2 e B1 estavam já a ouvir a conversa entre Bubba e Smudge.
— Deixem-me contar-vos o que me aconteceu uma vez — disse um velhote de fato-macaco. — Encontrei uma na sanita. Levantei a tampa e lá estava ela, toda enroladinha, com a língua para dentro e para fora.
— Meu Deus! — exclamou uma mulher na outra mesa. — Como é que pode acontecer uma coisa dessas?
— Só posso imaginar que o Verão estava quente e que ela queria um pouco de fresco.
— As cobras são de sangue frio. Não precisam de fresco.
— Talvez tenha vindo do esgoto.
— Uma vez, de manhã cedo, ainda o sol não nascera, andava aos patos e tinha saído no meu barquito, quando me caiu dentro do barco uma maldita cobra, mesmo em cima do pé, não estou a brincar. Devia ser desta grossura. — Com os dedos, desenhou um círculo enorme.
— De cada vez que contas essa história, Ansel, a maldita coisa fica maior.
— O que é que fez? — perguntou Smudge, enquanto Bubba permanecia em silêncio, com o rosto cor de cinza.
— Dei-lhe um pontapé com toda a força. Voou-me por cima da cabeça, toda torcida e, ao passar, sentia-a a tocar-me no cabelo, antes de cair na água.
— Tivemos uma aqui, na câmara frigorífica. — Myrtle aproximou-se e juntou-se-lhes. Puxou uma cadeira, como se os jantares já não interessassem.
— Foi o maior susto da minha vida. Devia estar lá atrás, a apanhar sol na plataforma de carregamento, quando Beane entrou na câmara para ir buscar um barril de pickles. Deve ter passado mesmo ao lado da maldita cascavel e nenhuma deu pela outra. Depois, concluímos que, enquanto Beane teve a porta da câmara aberta, a cobra entrou e ficou lá fechada. Portanto, aqui a pobrezinha vai lá na manhã seguinte buscar bacon e, assim que abri a porta e dei um passo lá dentro, ouvi o chocalhar da cobra.
Parou, a tremer, e fechou os olhos. Estavam todos calados e horrorizados, suspensos das palavras dela.
— Bem — continuou Myrtle —, fiquei imóvel. Olhei em volta e, ao princípio, não vi nada, mas depois ouvi o ruído outra vez. Nessa altura, já sabia muito bem o que era. Quero dizer, o silvar de uma cascavel é muito próprio e era isso mesmo que eu estava a ouvir, vindo da direcção dos baldes de cinquenta litros da salada de batata e de repolho cru. — Calou-se novamente.
— Onde é que ela estava? — O homem de fato-macaco não aguentava mais.
— Aposto que estava a comer uma ratazana.
— Não temos ratazanas na câmara frigorífica — defendeu-se Myrtle rapidamente.
— Então, onde diabo é que estava, Myrtle? — perguntou Smudge.
— A esta distância de mim. — Ergueu os indicadores a quinze centímetros um do outro.
Todos arfaram de medo.
— Estava enrolada mesmo junto da esfregona, com a cauda esticada e a silvar como louca.
— O que é que fizeste? — perguntaram as vozes em coro.
— Fui mordida, claro — respondeu Myrtle. — Ali, na canela esquerda. Aconteceu tão depressa que parece que nem senti nada e a cobra desapareceu como um relâmpago. Fiquei uma semana no hospital e, deixem-me que lhes diga, a minha perna inchou tanto que pensaram que tinham de ma cortar.
Ninguém falou. Myrtle levantou-se.
— A vossa comida já deve estar pronta — disse ela, regressando à cozinha.
Ruby Sink esteve horas a tentar telefonar a Lelia Ehrhart, mas quando a sua chamada em espera apanhava linha, quem estava ao telefone ignorava-a, pura e simplesmente.
O nervosismo e a solidão levavam normalmente Miss Sink para a cozinha; de momento, não tinha ninguém para quem cozinhar, excepto aquele jovem agente da polícia que alugara uma das suas muitas casas. Pensara muitas vezes convidá-lo para jantar, mas não tinha tempo de cozinhar uma refeição como devia ser.
Fazer biscoitos de manteiga era uma coisa, mas carne assada e galinha frita era outra. As várias comissões e associações a que pertencia consumiam-lhe todo o tempo. Era para admirar que conseguisse arranjar um bocadinho para fazer alguma coisa ao rapaz. Marcou o número do pager dele e deixou o seu número, partindo do princípio de que ele estava ocupado com um crime em algum local.
A mensagem chegou ao beeper de Brazil quando este batia à porta de Weed. Não foram necessárias grandes investigações para procurar na lista telefónica e verificar que eram os Gardeners e não os Joneses que viviam na pequena casa nas traseiras do Hospital Henrico Doctor, onde Brazil largara Weed na noite anterior.
Quando Roop informou a polícia de que um gang de nome Pikes reivindicara a responsabilidade do vandalismo no cemitério, Brazil percebeu que Weed estava provavelmente metido em algo de sério e perigoso.
Bateu novamente, mas ninguém abriu. A noite estava escura, sem lua. Do interior da casa não chegavam quaisquer sons e não se via nenhum carro na entrada.
— Está alguém em casa? — Brazil bateu ruidosamente na porta com a sua lanterna.
West cobria a porta das traseiras e, passados vários minutos de silêncio, deu a volta para a porta da frente.
— Ele sabe que andamos à sua procura — disse West, enfiando de novo a sua Stg de nove milímetros no coldre do ombro.
— Talvez — respondeu Brazil. — Mas não podemos partir do princípio de que ele descobriu que nós sabemos quem era o irmão.
Iam a dirigir-se ao carro descaracterizado quando Brazil iluminou o pager com a luz da lanterna e leu o número. Tirou o telefone e ligou a Miss Sink, que respondeu imediatamente.
— Andy?
— Olá — disse Brazil docemente, lembrando-se do cartão da florista na mesa de entrada de West.
— Vamos fechar o cemitério ao público — disse-lhe ela imediatamente.
West abriu a porta com todos os vagares. Brazil tinha a certeza de que ela queria saber com quem estava a falar.
— Acho que é uma óptima ideia — disse Brazil.
— A estátua tem de ir para uma oficina, o que não é nada fácil, se pensarmos no peso. Portanto, até conseguirmos tirá-la do cemitério, a associação decidiu impedir a entrada de pessoas, excepto para serviços fúnebres, claro.
— A que horas? — perguntou Brazil numa voz abafada.
— O quê? — disse Miss Sink. — Não consigo ouvi-lo.
— Agora?
— Oh. — Miss Sink parecia confusa. — Quer saber se já fechou?
— Sim.
— Já. Gosta de carne estufada?
— Não esteja a brincar — sussurrou Brazil, enquanto West abria bruscamente a porta.
— A respirar? Não, não estou com problemas respiratórios — disse Miss Sink. — Mas nesta altura do ano o pólen é um horror, especialmente se passarmos muito tempo no jardim. Bem, acho que, hoje em dia, a gente jovem não come carne estufada. E também não come galinha frita.
— Oh, sim, sim — disse Brazil, dando a volta e entrando.
— Sabe qual é o segredo? — A disposição de Miss Sink melhorara consideravelmente.
— Deixe-me lá ver... é doce como mel... West arrancou abruptamente e acelerou.
— Exactamente! — exclamou Miss Sink. — Eu volto a telefonar-lhe e combinamos qualquer coisa.
— Espero bem que sim — disse Brazil. — Tenho de desligar. West guiava como se odiasse o carro e o quisesse castigar.
— Pelo menos, eu não faço chamadas pessoais durante o trabalho! — exclamou ela.
Brazil ficou em silêncio, olhando para fora da janela. Inspirou fundo e lançou um suspiro. Deu-lhe uma olhadela, os seus sentimentos numa mistura volátil de euforia e sofrimento. Ela estava com ciúmes. Portanto, ainda devia gostar dele. No entanto, custava-lhe magoá-la. Quase lhe disse a verdade sobre Miss Sink mas, ao lembrar-se do cartão da florista, pensou: deixa estar.
Bubba não estava bem-disposto. Smudge conduzia pela noite escura como breu, oscilando sobre sulcos e poças de água. Tinham nascido as estrelas, mas a sua luz era escassa. Desejava não ter vindo e sentia-se tão mal que até receou vomitar.
— Ainda não falámos bem das regras — disse Smudge alegremente.
— Pensei que tínhamos dito que eram as mesmas de sempre — retorquiu Bubba, desmoralizado.
— Não, acho que devemos incluir uma cláusula de incumprimento — propôs Smudge. — Uma vez que está tanto dinheiro em jogo e se trata de uma competição de um para um.
— Não compreendo — disse Bubba, começando a ficar cheio de suspeitas.
— Digamos que Half Shell se porta como é costume, ladrando ao acaso e começa a dar sinal a duas ou três árvores de distância daquela onde está o guaxinim, coisa que ela passa a vida a fazer. Tu podes querer desistir, em vez de ficarmos toda a noite nas matas. Vale o mesmo para mim.
— Portanto, se eu não cumprir, ficas com os mil dólares. Se tu não cumprires, fico eu. Se formos ambos, nenhum de nós leva nada — deduziu Bubba.
— é isso mesmo, pá. Fazemos cento e vinte minutos, cinco minutos de descanso entre cada parte, com as regras de competição habituais.
Bubba não fazia ideia de onde estava, quando Smudge finalmente parou a carrinha numa picada lamacenta e saiu, deixando os faróis acesos para poderem ver. Sentaram-se na porta da caixa, calçaram as botas e vestiram os casacos.
— Deixei a lanterna lá dentro — resmungou Bubba. Agachou-se no banco da frente, longe da vista de Smudge, procurou na mochila as pérolas enfiadas em fio preto e meteu-as num bolso. Tirou o seu Colt Anaconda 44, que não era a arma ideal para aquela noite, mas não lhe restava mais nada. O resto fora roubado. Enfiou o monstruoso revólver num coldre de nylon Bianchi HuSH, por baixo do casaco comprido.
— Prontos? — perguntou Smudge.
— Vamos lá começar — retorquiu Bubba corajosamente.
Deixaram os cães sair dos canis e ambos começaram a uivar e a ladrar, abanando as caudas, enquanto Bubba e Smudge os prendiam com grossas trelas de nylon.
— Linda menina — disse Bubba, afagando as longas orelhas sedosas de Half Shell.
Bubba adorava a cadela, apesar dos seus defeitos. Fazia lembrar um Beagle elegante e de pernas altas, com um pêlo surpreendentemente macio. Ela adorava lamber as mãos e a cara de Bubba, que se sentia sempre relutante em deixá-la ir às cegas por aquelas matas. Se uma cobra lhe mordesse ou um guaxinim a ferisse, não o suportaria.
Smudge tirara o cronómetro. Bubba fazia festas a Half Shell, encorajando-a a descobrir um guaxinim, para variar.
— Vamos! — disse Smudge, antes de Bubba estar pronto.
Weed corria por Cumberland Street no escuro, acabando por se aproximar do viaduto 1-195 de Cherry Street. Havia maciços de árvores e arbustos de ambos os lados, delimitados por uma vedação alta de malha de ferro.
Atravessou a margem relvada, olhando furtivamente para a direita e para a esquerda até alcançar a vedação, através da qual não se via nada, devido à densa folhagem. Estava-se quase nas tintas para o que estava do outro lado. Queria lá saber se ia cair de uma altura de cinco metros em cima dos carros! Que mais lhe reservava a vida, para além de ser apanhado por Smoke?
Trepou a vedação e foi afastando os ramos da cara, enquanto descia pelo outro lado. Susteve a respiração quando os pés tocaram no solo e abriu caminho às cegas por entre erva alta e arbustos, mantendo o braço à frente da cara para proteger os olhos. Deu consigo numa clareira, onde enxergou um pequeno acampamento com uma pessoa sentada no centro e a ponta ardente de um cigarro. O coração de Weed deu um salto.
— Quem está aí? — inquiriu uma voz desagradável. — Não tente nada. Consigo ver no escuro e sei que é fraquito e não tem arma.
Weed não sabia o que dizer. Não tinha por onde fugir, a não ser que tentasse trepar outra vez a vedação ou decidisse saltar o muro e aterrar na via rápida.
— O que é que se passa, o gato comeu-te a língua? — perguntou o homem.
— Não, senhor — respondeu Weed educadamente. — Não sabia que ’tava aqui alguém. Vou-me já embora.
— Não tens p’ra onde ir. é por isso que ’tás aqui, não é?
— É, sim senhor.
— Podes parar com essa merda do senhor. Chamo-me Pigeon2.
— Esse não é o seu nome verdadeiro. — Weed atreveu-se a aproximar-se mais um pouco.
— Já não me lembro do verdadeiro.
— Por que é que lhe chamam isso?
— Porque os como. Isto é, quando posso.
O estômago de Weed encolheu-se. — Como te chamas? Aproxima-te para te poder ver melhor. , — Weed.
— Esse não é o teu nome verdadeiro — imitou-o Pigeon.
— Ai isso é que é.
Weed tinha fome e sede e o trovejar constante do trânsito assustava-o. A noite arrefecera e tinha frio apenas com os/eans e a camisola dos Bulis. Pigeon acendeu outro cigarro e Weed teve um vislumbre do seu rosto à luz da chama.
— É bastante velho — disse ele.
— Mais velho do que tu, isso é certo. — Inalou profundamente e reteve o fumo.
Weed aproximou-se mais. Pigeon cheirava tão mal que parecia estar a apodrecer em vida.
— Depois de estares aqui um bocado, os olhos começam a ver outra vez. Não é? Acho que as luzes dos carros por baixo de nós têm alguma coisa a ver com isso — disse Pigeon. — Não pareces ter muito mais de dez anos.
— Tenho catorze — retorquiu Weed indignadamente.
Pigeon remexeu num saco do lixo e tirou um bocado de uma sanduíche. Weed ficou com água na boca mas, ao mesmo tempo, sentiu-se
“Pigeon” significa “pombo”. (NT)
um bocado enjoado. Pigeon remexeu outra vez no saco e poisou no chão uma garrafa de Pepsi de dois litros, meio vazia. Atirou a beata para a escuridão.
— Queres um bocado? — perguntou ele.
— Não vou comer nem beber nada que tenha vindo do lixo — disse Weed.
— Como é que sabes que veio do lixo?
— Porque vi pessoas como você a tirar coisas do lixo. Andam por aí com carrinhos de compras e não vivem em sítio nenhum.
— Eu vivo aqui — disse Pigeon. é um sítio, não é? Chega-te cá, que eu mostro-te uma coisa.
Weed tentou bloquear o cheiro e aproximou-se do cobertor sobre o qual se sentava Pigeon. Este meteu a mão num bolso do esfarrapado casaco militar e mostrou-lhe um saco cheio de uma coisa qualquer.
— Bolachas de manteiga de amendoim — revelou-lhe Pigeon na sua voz dura e áspera. — Não veio do lixo. Veio da sopa dos pobres, no centro da cidade.
— Jura? — perguntou Weed, sentindo o estômago a implorar-lhe. Pigeon acenou com a cabeça.
— E tenho uma garrafa de água que nunca foi aberta. Também da sopa dos pobres. Acho que posso partilhá-la com um rapazinho perdido.
— Não estou perdido — disse Weed.
Bubba estava. Assim que soltaram os cães, Half Shell enfiou pelas matas numa direcção, enquanto Smudge e Tree Buster tomaram outra. Os cães investiram ruidosamente através da vegetação. Tinham passado pelo menos dez minutos quando Half Shell ladrou três vezes.
— ÁRVORE, HALF SHELL. gritou Bubba.
Os ruídos vindos da direcção de Smudge cessaram. Bubba começou a correr o mais rapidamente que podia, quebrando galhos para poder encontrar o caminho de regresso, saltando por cima de troncos e passando ribeiros a vau, com a lâmpada de cabeça a iluminar o caminho. Batia com os pés e fazia estalar os ramos, na esperança de que, a existirem cobras na área, pensassem duas vezes antes de se aproximarem de todo aquele barulho. O seu coração batia fortemente e respirava com dificuldade, enquanto seguia o som do cão.
Quando Bubba apareceu, Half Shell tinha as patas da frente de encontro a um velho pinheiro e ladrava sem parar, abanando a cauda. Ele não teve dúvidas de que Half Shell tinha andado para trás, seguindo o rasto do guaxinim em sentido inverso em vez de descobrir para onde ia, ou descobrira mais outra árvore onde era tão provável encontrar um guaxinim como cana-de-açúcar num icebergue. Bubba iluminou os ramos do topo com a sua Super SahreLite, fazendo descer o feixe até ao fundo, desapontado mas não surpreendido.
Tirou do bolso duas pérolas cobertas de tinta iridescente enfiadas num fio e girou-as sobre a cabeça. Lançou-as tão alto quanto possível e sentiu um grande alívio quando ficaram presas a meio do pinheiro. Iluminou-as e viu que brilhavam, amarelas, dois olhos perfeitos de guaxinim. O seu coração inchou de euforia, enquanto Half Shell continuava a ladrar a nada e Tree Buster investia para eles, com Smudge logo atrás.
— ÁRVORE, HALF SHELL! — gritou Bubba.
— Impossível — disse Smudge, a suar e a tentar recuperar o fôlego.
— Vê com os teus próprios olhos.
Bubba iluminou os cintilantes olhos amarelos lá no alto, entre os ramos enegrecidos da árvore.
— Se há um guaxinim ali em cima, então por que é que Tree Buster está aqui sentada e não tenta também apanhá-lo? — perguntou Smudge, enquanto Tree Buster arfava e olhava para eles.
— Esse problema é teu, pá — disse Bubba. — E não me podes dizer que não o vês.
— Vejo, vejo. — Smudge foi forçado a admiti-lo. — O maldito está agachado num ângulo esquisito. Parece que está de lado.
Bubba sacou do cartão da pontuação.
— Cem pontos para a descoberta e mais cento e vinte para a árvore — disse ele, apontando os números na coluna árvore.
Smudge ficou amuado. Voltaram a pôr a trela aos cães e caminharam pela mata durante cinco minutos. Smudge pôs o cronómetro a trabalhar e soltaram novamente os cães. Tree Buster desapareceu aos saltos, como se soubesse alguma coisa. Half Shell percorrem não mais de cem metros pela mata dentro quando encontrou um ribeiro e ladrou três vezes.
— ÁRVORE, HALF SHELL/ — Bubba soltou o seu grito de batalha. Tree Buster ladrou três vezes, muito mais ao longe.
— ÁRVORE, TREE BUSTER — berrou Smudge.
Os dois homens largaram em perseguição dos cães. Bubba quase tropeçou numa raíz, enfiando o pé num buraco, enquanto tentava não pensar nas cobras. Passou-lhe pela cabeça que, se Smudge descobrisse o que ele estava a fazer, talvez o abandonasse ali. O seu esqueleto seria encontrado por caçadores, anos mais tarde.
Half Shell continuou a ladrar para o ribeiro pouco fundo e Bubba pegou nela e transportou-a para o outro lado, largando-a sob um espesso carvalho sem folhas.
— Ladra — disse-lhe Bubba.
Half Shell não se mostrou interessada.
— Vá lá, menina — implorou Bubba.
Half Shell ficou sentada, com a língua de fora. Bubba suspirou. Meteu a mão num bolso e tirou outro par de pérolas e uma sanduíche Cheez Whiz de pão branco. Half Shell começou a ladrar e a babar-se, enquanto Bubba agitava a sanduíche defronte do nariz dela. A cadela endoideceu. Bubba esticou o braço e enfiou a sanduíche num buraco da árvore. Half Shell começou a saltar, ladrando e uivando, enquanto Bubba lançou outro par de olhos para os ramos mais altos.
Isto continuou até só faltarem vinte minutos da competição de duas horas. Bubba conseguira novecentos pontos. Smudge não tinha nenhum. Deixara de falar há quarenta e cinco minutos e já não fazia festas ao cão.
— Bem, podemos parar — propôs Bubba. — Não consegues apanhar-me, Smudge.
— Só acaba quando chegar o fim — informou-o Smudge.
A última hipótese era Bubba não cumprir, desistir antes do fim da competição. Smudge sabia que não tinha outra saída, enquanto se embrenhavam mais nas matas, durante o intervalo de cinco minutos entre duas partes.
Discretamente, enfiou a mão na mochila e agarrou a cobra de borracha, rodeando o chocalho com a mão para abafar o som; tirou a cobra e desenrolou o fio que lhe atara. Atirou-a por sobre a cabeça de Bubba e a cobra aterrou a cerca de seis metros dos pés dele.
— Que diabo foi aquilo? — perguntou Bubba numa voz amedrontada.
— Aquilo o quê? — perguntou Smudge, começando a puxar o fio e fazendo soar o chocalho.
— Oh, meu Deus! — exclamou Bubba, ficando completamente imóvel e iluminando uma cascavel enorme que se aproximava dele a grande velocidade.
— AHHHHHHHHH! — gritou ele, correndo de um lado para o outro e abrindo o casaco, com a serpente atrás dele, aos saltos e a silvar.
— Foge! Foge! — gritava Smudge, movendo-se rapidamente para onde era preciso, de forma a manter a serpente onde queria.
Subitamente, Bubba deu meia volta e, com as mãos a tremer, agarrou o seu revólver Anaconda 44, com mira e um cano de vinte centímetros. Disparou repetidamente, espalhando pedaços da cobra pelo ar, enquanto Smudge mergulhava por trás de uma árvore morta e rebolava por entre os arbustos, até à margem do ribeiro, caindo lá dentro.
Weed estava gelado e dorido. Ficou a olhar para a cidade, do acampamento escuro e malcheiroso que partilhava com Pigeon, que adormecera.
Perguntou a si próprio o que estaria o agente Brazil a fazer e se andariam todos à sua procura. Teriam os chuis encontrado alguma coisa que lhe trouxesse problemas? Talvez pudessem obrigá-lo a falar por meio de algum detector de mentiras e acabassem por descobrir que fora ele quem pintara a estátua.
Pigeon partilhara com ele duas bolachas de manteiga de amendoim. Deixara-o beber quatro goles de água, dizendo que tinha de durar. Weed chegou à conclusão de que este esconderijo cheirava pior do que a sede do clube dos Pikes e pensou na sua bela casa, na boa comida e nos lençóis limpos.
Nunca mais voltaria para a mãe. Provavelmente nunca mais a tornaria a ver. Não passaria mais nenhum fim-de-semana com o pai, mas não se importava muito com isso. Teria de passar a viver como Pigeon, porque os Pikes não iam desistir de o procurar. Nunca mais poderia ser livre. Tinha o seu número de escravo, para o caso de se esquecer.
Pigeon voltou-se e recuperou a consciência, pois acabara o efeito da cerveja. Afofou o monte de roupa suja que fazia de almofada e lançou um bocejo que fez lembrar a boca de um caixote de lixo e cujo cheiro se fazia sentir a dois metros.
— ’Tá acordado? — perguntou Weed.
— Não por vontade minha.
— Por que razão vive desta forma, Pigeon? — perguntou Weed. — Viveu sempre assim?
— Em tempos, fui um rapazinho como tu — disse Pigeon. — Cresci, estive na guerra do Vietname, voltei e não quis integrar-me em nada.
— Como assim?
— Era assim que me sentia. Ainda sinto. — Eu também — disse Weed. — Talvez a partir de agora passe a andar consigo.
— O diabo é que andas! — disse Pigeon numa voz que assustou Weed. — Alguma vez foste mandado para a guerra, onde te arrancaram um pé e parte de uma mão com um tiro? Alguma vez estiveste em hospitais de malucos, até não te conseguirem aguentar mais e acabarem por te despejar na rua? Alguma vez dormiste na rua no pino do Inverno, apenas com um jornal a fazer de cobertor? Alguma vez comeste ratazanas?
Weed estava horrorizado.
— Arrancaram-lhe mesmo o pé?
Pigeon ergueu a perna direita e mostrou-lhe o coto. Weed não conseguia vê-lo bem porque estava embrulhado numa meia e a manhã ainda estava muito escura.
— Por que é que esteve no hospital de malucos? — Weed acabou por fazer a pergunta mais importante, enquanto pensava melhor se devia ficar com Pigeon.
— Maluuuuuco. — Pigeon abanou-se todo e fez rolar os olhos.
— Não é nada.
Pensou novamente na vedação, interrogando-se se seria capaz de a trepar rapidamente.
— Sou, pois. Às vezes, vejo coisas que não existem. Especialmente à noite. Pessoas que vêm contra mim com facas e com armas. Que cortam braços, pernas, com o sangue a espirrar por todo o lado. Dão a isto uma data de nomes, mas acaba por não ter importância, Weed. Não importa o nome que dás a uma coisa, ela continua a ser a mesma.
Pigeon tirou outra beata do bolso do casaco e, quando a acendeu, Weed viu-lhe a mão mutilada. Só restava um bocado do dedo indicador e do polegar.
— De que é que andas a fugir? — perguntou Pigeon.
— Quem diz que ando a fugir?
— Digo eu.
— E depois?
— Os chuis andam atrás de ti? — perguntou Pigeon. — Não te acanhes, rapaz. Também já andaram atrás de mím.
— E se andarem? — atacou Weed.
— Pois. — Pigeon deixou sair o fumo, ofegando na escuridão. — é mais que certo que anda alguém atrás de ti. Aposto que é outro puto qualquer. Talvez lhe tenhas roubado a droga ou qualquer coisa assim.
— Não roubei nada! Nunca toquei em drogas! Ele está furioso porque eu não fiz o que ele me mandou.
— Tá muito furioso? Assim a pontos de te tratar da saúde?
Os olhos de Weed encheram-se de lágrimas. Limpou-as, na esperança de que Pigeon não tivesse visto.
— Umm, um desses rapazes maus. Dos que matam pessoas só por matar — continuou Pigeon. — São uma raça nova. E, na sua maioria, conseguem safar-se.
Weed sentia uma fúria ardente, tão ardente como o filtro do cigarro que queimava os lábios de Pigeon, que o deitou fora e pareceu desapontado.
— Esses miúdos são pior do que aquilo que eu vi no Vietname. Todos cheios de bombas. Olá, prazer em conhecê-lo, BUM! — continuou Pigeon. — Pelo menos, lá tínhamos uma razão. Garanto-te que não era desporto nenhum.
— Ele já me magoou mais do que uma vez — confessou Weed. — Obrigou-me a fazer parte do seu gang e fez-me uma tatuagem no dedo quando eu não queria e agora não posso ir à escola e não tenho ido à aula de Desenho, nem aos dois últimos ensaios da banda! E ele sabe onde eu moro e, se eu aparecer, ele descobre-me e rebenta comigo. É pior do que o diabo!
— Parece que só há uma coisa a fazer. — Pigeon ponderou a situação. — Disseste que os chuis talvez andassem à tua procura?
— Talvez.
— O que é que fizeste?
— Pintei uma estátua no cemitério.
— Deixa-os apanharem-te. Weed ficou chocado.
— E por que havia de fazer isso? — perguntou ele.
— Porque ficas na prisa e o diabo não consegue apanhar-te.
— Não quero ir para a prisa!
— Metem-te num lar p’ra miúdos, mesmo em frente da prisão. Dão-te roupa, três refeições por dia, um quartinho só para ti, jogas basquetebol, vês TV, tens aulas. Queres um médico, um psiquiatra, arranjam-te um. Nada mau, pois não? Devias ouvir os miúdos da rua.
Chamam-lhe férias. Por onde andaste, meu? Tive de férias, meu. São cá uns safados. Desses miúdos, eu tenho medo. Já me espancaram, roubaram-me, enganaram-me, feriram-me, deram-me pontapés nos tomates. Uma vez lançaram-me fogo só por gozo. E que é que lhes acontece? Têm uma porra de umas férias durante duas ou três semanas. Voltam a sair, a rir e a pavonear-se pela rua, com grandes maços de notas nos bolsos.
— Não quero férias nenhumas — disse Weed.
— Queres morrer?
— Não, Pigeon, não quero.
— Então, arranja maneira de te trancarem num lado qualquer, antes que o diabo te apanhe — disse Pigeon. — Talvez, quando saíres, alguém já o tenha apanhado. Os da laia dele não chegam a velhos.
A três quarteirões a sul dali, em Spring Street, Brazil e West inspeccionavam um pedaço de vedação que rodeava o local do derradeiro repouso de presidentes, governadores, heróis da Guerra Civil, grandes famílias de Richmond e, mais recentemente, cidadãos de todos os tipos que desejavam ser ali sepultados, sabendo, no entanto, que todos os lotes com vista para o rio estavam ocupados.
Todas as manhãs, num local escondido do cemitério, a luz do sol era quebrada por longas sombras frescas e o terreno baixo dava lugar a silvas e ao rio. West e Brazil tinham descoberto um buraco na vedação, suficientemente grande para permitir a passagem clandestina a um adulto de tamanho médio. No entanto, a ferrugem existente sugeria que a malha de ferro não fora cortada nos últimos meses, ou até nos últimos anos.
— Não foi por aqui que ele entrou — decidiu Brazil, olhando em volta.
West irritou-se com a dedução, sobretudo por não ter lá chegado primeiro.
— Não tinha percebido que eras um detective. Pensei que eras um crítico — disse ela.
— Não sou crítico nenhum.
— Tudo bem, um relações-públicas, um repórter, um romancista. Brazil lembrou-se do artigo que tinha de entregar em breve e que ainda nem começara. Também não conseguira fazer nada com o boletim da página da web porque o sistema informático continuava encalhado no mapa dos peixes. E não dedicara nem um segundo ao manual que ficara de ajudar a fazer, como se, de momento, isso tivesse qualquer importância.
— O que me parece evidente é que ele podia entrar com toda a facilidade — disse West.
Brazil passou pelo buraco, tendo cuidado em não rasgar o uniforme nem cortar-se.
— Tens razão — disse ele. — Vens?
— Não, o palpite é teu. Cá por mim, acho que ele não vai voltar ao local do crime, como tu dizes. Que te faz ter tanta certeza?
— O facto de ter feito uma coisa tão emotiva e pessoal — disse Brazil. — Acho que não resiste a dar outra olhadela. Para ele, a estátua não é de Jeff Davis. é um monumento a Twister. Deve estar a passar-se muita coisa na cabeça de Weed e tenciono descobri-lo antes dos Pikes.
— Talvez eles já o tenham apanhado — disse West.
Brazil pensou naquilo, enquanto corria o olhar sobre lápides meio tombadas, tão velhas que as inscrições eram fantasmas de palavras impossíveis de ler. árvores que datavam do tempo da Guerra Civil lançavam sombras espessas e ouvia-se o ruído das folhas sob as lufadas de vento.
— Olha, Virgínia, vou ficar um bocado por aqui — disse Brazil. — Quando estiver despachado, chamo alguém pelo rádio para me vir buscar.
Ela hesitou. Brazil percebeu que estava aborrecida pelo facto de ele ficar ali, por não parecer importar-se que se fosse embora sem ele.
— Bem, de qualquer forma... — West hesitou novamente e depois falou num tom desagradável: — Só sei que esta merda desta cidade tem problemas incríveis e gastam uma fortuna inacreditável num cemitério de merda.
— Na realidade — disse Brazil, que fizera bastante pesquisa sobre Richmond e arredores —, Hollywood é uma corporação sem fins lucrativos, sem acções, e pertence aos utentes e não à câmara.
— Pfff! — retorquiu West, afastando-se arrogantemente. — Que importância tem isso?
Para Lelia Ehrhart, isso era importante. Ocupava o oitavo mandato como presidente da junta de directores do Cemitério Hollywood, o que, na verdade, exigia muito pouco do seu tempo. A maioria dos donos dos lotes tinha morrido, vinha muito pouca gente à reunião anual da presidência e as sugestões e queixas eram igualmente poucas.
Ehrhart nunca precisava de ninguém nas reuniões. Nunca precisara das opiniões ou sugestões dos outros. Fora sua, e apenas sua, a ideia de proibir no recinto piqueniques, lanches, bebidas alcoólicas, bicicletas, jogging, motociclos, skates, patins, veículos recreativos ou que puxassem atrelados e rádios. Ehrhart era profundamente dedicada ao cemitério e à sua importância como atracção turística e forma de comemorar vidas apagadas mas não esquecidas, especialmente as que afirmava serem da sua família.
— Isto foi muito mais que vândalos — declarou ela na sala da direcção do Commonwealth Club, para onde convocara a reunião à qual alterara a hora. — Isto é um afrontamento aos nossos direitos alienáveis, à sua liberdade e felicidade, à nossa própria civilização. Estes vândalos, estes delinquentes juvenis impenitentes, sangrentos e frios que se designam por Pikes violaram todos os que se sentam na sala deles.
A chefe Hammer não estava incluída neste número, uma vez que era originária do Arkansas. Atravessou a correr a entrada emoldurada por hera e trepou os velhos degraus de tijolo do histórico e aristocrático clube, onde as mulheres não eram aceites como membros, mas onde, como convidadas dos esposos ou dos amigos, podiam desfrutar de todos os serviços, com excepção do bar vitoriano, do Men’s Grill, da piscina, do ginásio, dos banhos turcos e da sauna, dos campos de squash e de ténis e da sala de leitura.
Tais restrições pouco incomodavam as mulheres dedicadas ao serviço público, ocupadas na formação de diversos comités para a organização do Bal du Bois, o baile das debutantes, ou para apoio das artes com leilões de vinhos, de férias, de joalharia e outros artigos de luxo. Ocupavam-se ainda do planeamento de banquetes de casamento, da montagem de exposições para o Maymont Flower & Garden Show, da organização de almoços com a Federação da Virgínia de Clubes de Jardinagem, com as Filhas da Revolução Americana ou as Filhas da Confederação, com a Liga Júnior e, obviamente, com as primeiras famílias da Virgínia e as esposas dos legisladores.
Hammer estava atrasada vinte minutos. Entrou apressadamente no foyer de mármore, indiferente ao esplêndido tapete oriental, ao lustre de cristal antigo, ao love seat de veludo, aos espelhos dourados e ao retrato de George Washington. Não parou para ajustar o casaco, nem para admirar os impressionantes retratos de Robert E. Lee e de Lighthorse Harry. Judy Hammer não estava muito interessada num clube com cento e oito anos, fundado por antigos oficiais da Confederação que, segundo o alvará original, desejavam promover as relações sociais e manter uma biblioteca.
A porta da sala da direcção, no rés-do-chão, estava fechada. Abriu-a devagar e silenciosamente, enquanto Lelia Ehrhart discursava. Hammer perscrutou os rostos do vereador, Reverendo Solomon Jackson, do Presidente da Câmara, Stuart Lamb, do Vice-Governador, June Miller, do presidente do Banco Nacional, Dick Albright, do director do Richmond-Times Dispatch, James Eaton e do presidente do Gabinete de Convenções e Visitantes da Área Metropolitana de Richmond, Fred Ross.
Os homens olharam de relance para ela. Alguns cumprimentaram-na com um aceno de cabeça. Tinham todos um ar agitado, parecendo prestes a dizer a Ehrhart que se fosse matar. Hammer arranjou um lugar.
— ... é muito mais do que a cidade dos matados — dizia Ehrhart com autoridade. — É o Paraíso dos bravos homens que carregaram a Cruz do Sul no seu seio de mortais, agitando-a por os direitos dos estados, para serem por fim sepultados, muitos não sabemos quem, em Hollywood.
Ehrhart podia ter sido uma loura magnífica, se não fossem vários pequenos defeitos que a tornavam desagradável. O cabelo não era tão louro como ela dava a entender e, à medida que envelhecia, tornava-se mais acastanhado, exigindo frequentes visitas ao salão de cabeleireiro Simon & Gregory. Também as árduas horas passadas com o seu treinador pessoal não tinham modificado o pescoço, hereditariamente longo, os ombros estreitos, os seios minúsculos e as ancas largas.
Disfarçava o melhor que podia, usando sempre exclusivos de Escada. Naquela manhã, estava espantosa numa saia e blusa laranja-vivo com brincos, sapatos e mala a condizer. Hammer, sem fôlego e a transpirar sob o seu fato cinzento às riscas, pensou que Ehrhart parecia um cone rodoviário.
— Dois presidentes e cinco governadores estão ali descansados — pregava ela. — Não esquecer, também, os Brigadeiros Generais Armistead, Gracie, Gregg, Morgan, Paxton, Stafford e Hill.
— Hill era Major General — comentou ironicamente o Vice-Governador Miller. — E todos os generais que acabou de mencionar só estiveram sepultados em Hollywood temporariamente. Por outras palavras, não estão ainda lá.
Ehrhart encontrara aqueles sete nomes na contracapa de um livrinho que indicava os generais dos Estados Confederados da América e não reparara nem compreendera a expressão entre parênteses sepultado temporariamente. Na verdade, só naquele momento percebeu que o suposto antepassado do marido, o General Buli Paxton, se contava entre os sete heróis da guerra cujos restos mortais, segundo lhe diziam, tinham sido retirados do cemitério. Recusou qualquer emenda.
— Acredito estar na razão. — Sorriu com frieza ao vice-governador.
— Não está — retorquiu ele prosaicamente, num tom de voz que raramente se elevava ou mostrava tensão. — Há vinte e cinco generais em Hollywood, mas não esses sete. Talvez devesse voltar a consultar o seu livrinho.
— Qual livrinho?
— Aquele que leu com pouca atenção — disse ele.
Bubba, Smudge, Half Shell e Tree Buster passaram a noite na floresta, mas não por sua livre escolha. Quando Bubba rebentara a cobra de borracha, fizera com que Smudge fosse projectado pelo ar, causando-lhe um galo na cabeça.
Smudge ficou confuso, desorientado e a sangrar ligeiramente, o que remeteu a orientação para as mãos de Bubba. Isso significava ter de manter os dois cães à trela para os impedir de irem atrás de guaxinins.
— Atenção a essa raiz — disse Bubba a Smudge, enquanto caminhavam aos tropeções por entre a vegetação e uma tal densidade de árvores que, para Bubba, mais parecia uma floresta tropical.
— Falta muito? — perguntou Smudge numa voz arrastada.
— Já não pode ser muito. — Bubba repetiu o mesmo que dissera nas últimas oito horas.
Smudge não ia conseguir continuar a caminhar por muito mais tempo. Ainda bem que Bubba trouxera comida, embora agora se arrependesse de ter enfiado metade da sua sanduíche Cheez Whiz no buraco da árvore. Caramba, o que não dava agora por ela, mas a água, pelo menos, não constituía problema. Havia-a por todo o lado e, sempre que se cruzavam com um ribeiro, Half Shell cravava as patas na lama e ladrava, tendo Bubba de a carregar para o lado de lá; no entanto, alguns dos ribeiros eram fundos e muito rápidos. A fúria era a única coisa que fazia com que Bubba continuasse.
— Não consigo acreditar que me tenhas feito uma malvadez daquelas — disse ele a Smudge mais uma vez.
Smudge estava demasiado desorientado e exausto para responder.
— Podia ter tido um ataque de coração. Tens imensa sorte em eu ser um tipo fixe.
Chegaram a outro ribeiro onde só corria um fio de água, mas Half Shell não quis saber.
— Estou farto — disse Bubba aos cães. — Não consigo arrastar-vos nem mais um passo. — Tirou-lhes as trelas. — Desenrasquem-se.
Tree Buster partiu, disparando como um elástico e enfiando-se no mato. Ladrou três vezes ao sentir outra peça, mas ninguém ligou nenhuma. Half Shell dirigiu-se para a esquerda. Não parava de olhar para trás, para Bubba, com o seu olhar intenso e bondoso.
— O que é? — perguntou-lhe Bubba.
Half Shell correu mais três metros e voltou a olhar para trás.
— Queres que te siga? — perguntou Bubba à cadela.
Half Shell ladrou. Bubba e Smudge seguiram-na durante mais quarenta e cinco minutos, enquanto Tree Buster descobria guaxinins e se espantava por não aparecer ninguém. Levantara-se neblina, o mundo caíra em silêncio e o sol rompia por entre a copa das árvores. Pareceu-lhes um milagre quando entraram subitamente numa clareira e viram a carrinha de Smudge à sua frente, na estrada lamacenta.
Pigeon tinha de sair de madrugada para evitar a barafunda da hora de ponta e, ainda mais importante, para vasculhar os contentores das traseiras dos restaurantes, que só abririam daí a muitas horas, antes de aqueles serem despejados.
Era frequente descobrir tesouros inesperados, como dinheiro, jóias e sacos com as sobras de comida que os bêbedos deixavam cair ao regressarem aos carros. Uma vez encontrou um relógio Rolex e recebeu o suficiente da loja de penhores para se manter durante meses. Também encontrara vários telemóveis, calculadoras e pagers e uma ou outra arma.
— Se quiseres, podes ficar aqui — disse ele a Weed.
Weed estava sentado no cobertor sem saber o que fazer. À luz do dia, o seu problema parecia ainda pior, talvez por ser mais difícil esconder-se sob o olhar atento do sol.
— O diabo não pode andar por todo o lado — disse Pigeon. Weed ficou a pensar naquilo.
— Acho que não voltava ao cemintério — decidiu Weed. Pigeon teve, então, uma ideia.
— As pessoas costumam deixar coisas boas nos túmulos? Assim como a comida preferida do morto, uísque, vinho, charutos, como costumavam fazer nas Pirâmides?
— Quando lá fui, estava escuro — disse-lhe Weed. — Não vi nada, excepto aquelas bandeirinhas que se vêm por todo o lado. Mas aquilo é muito grande.
O trânsito era tanto que parecia já não caber no mundo, o que era uma sorte para o agente Otis Rhoad. Eram quase sete e meia e começara a hora de ponta.
Em breve iriam aparecer milhares de carros particulares, conduzidos por gente solitária, indiferente ao desgaste do ozono e ciosos do seu direito de ir e vir a seu bel-prazer no veículo que podiam pagar, planeando a sua própria rota.
Otis Rhoad mantinha o carro-patrulha a direito com o joelho ossudo, enquanto acendia um Carlton Menthol, com um olho no espelho retrovisor e o outro num semáforo prestes a virar para o vermelho e no tipo do Camaro ao lado dele, que pensava que ia conseguir passar. E conseguiu. Rhoad ficou desapontado.
Era um homem alto, muito magro, estrábico e já perto dos sessenta. Enquanto crescia, do lado sul do rio, sonhara ser disco-jóquei na rádio, ou talvez cantor.
Esse sonho dera em nada e, após o liceu, alistara-se no Departamento de Polícia de Richmond. Na primeira semana na academia, aprendera as frequências de rádio e as zonas, como funcionar apropriadamente com o rádio, o procedimento correcto na transmissão de informações confidenciais, a disposição dos códigos e o alfabeto fonético.
Quando, finalmente, fora enviado para as ruas, mostrara-se implacável, fluente, exacto e sempre presente no rádio. Cavalgava as ondas de rádio como o DJ que nunca fora, e os chuis, os expedidores e os operadores do 112 receavam o número da sua unidade e a sua voz retumbante.
Tinham verdadeiro rancor ao seu hábito de expulsar os colegas do ar, baralhando-lhes as chamadas e açambarcando o sistema de comunicações em geral. Chamavam-lhe “Rhoad Hog” e “Talk in a Box”1 e todos desejavam que os chefes o tirassem do trânsito e o enviassem para o silêncio da secção de perdidos e achados, para o balcão de informações, para a divisão de manutenção ou para o serviço de reboques.
1 “Rhoad Hog” é um trocadilho com “Road Hog” que se pode traduzir por “condutor porco”. Assim, “Rhoad Hog” significará “Rhoad, o porco”; “Talk in a Box” pode ser traduzido por “fala-barato”. (NT)
Mas os chefes que antecederam Hammer davam grande importância às quotas, e Rhoad, sempre implacável, valia por uma equipa inteira na perseguição de cidadãos que ultrapassavam o limite de velocidade, seguiam em sentido proibido, passavam com o vermelho, não paravam nos stops, faziam inversão de marcha onde não era permitido, faziam corridas, conduziam embriagados e ignoravam as suas luzes e a sirene.
À medida que o tempo passava e a maturidade conduzia Rhoad por novos cruzamentos da vida, compreendeu que, ainda mais importante do que a sua guerra contra a violação sobre rodas, era a doença insidiosa que estava a transformar-se na epidemia dos tempos modernos. O mundo estava a ficar sem lugares de estacionamento.
Começou a castigar quem deixava o carro em parquímetros com o prazo expirado, em lugares para deficientes ou que estacionava em locais como relvados, bermas, entradas de casas que não lhes pertenciam, empresas ou igrejas que não frequentavam e pistas para bicicletas. Começou a andar com o seu livro de multas fora das horas de serviço, especialmente depois de a cidade ter instalado parquímetros de vinte e quatro horas.
Rhoad sacudiu a cinza e pegou no microfone. Exactamente daí a seis minutos e quarenta segundos seriam oito horas da manhã e expirava o parquímetro da agente de Comunicações Patty Passman.
Smudge tinha provavelmente um ligeiro traumatismo, mas recusou-se a ser levado ao hospital e Bubba recusou-se a deixá-lo guiar. Teve de admitir que nunca tinha conduzido uma carrinha tão boa como a de Smudge e sentiu novamente aquela amargura, aquele ressentimento que sempre lhe azedara a existência. A seu modo, Smudge não era diferente daqueles que o tinham gozado e humilhado durante toda a sua vida.
— Mas que amigo me saíste — resmungava Bubba, pois Smudge parecia ter adormecido. — Venderes-me aquela merda daquele jipe, sabotares o Posto 8 para poderes ganhar a competição todos os meses, venderes-me maços de tabaco que te saem de graça.
— Disseste alguma coisa? — murmurou Smudge quando Bubba virava para a casa dele, onde deixara a porcaria do seu jipe na noite anterior.
— Acho que me deves mil dólares — disse-lhe Bubba.
Smudge ficou subitamente alerta. Empertigou-se no banco e pestanejou várias vezes, olhando em volta.
— Onde estamos? — perguntou ele.
— Em tua casa — disse Bubba. — Não te ponhas a mudar de assunto, Smudge. Eu ganhei.
Começara a dizer “com toda a honestidade”, mas viu os olhos de guaxinim que engendrara a brilhar nas árvores.
— Ganhaste? — Smudge parecia drogado. — Ganhaste o quê?
— A nossa aposta, Smudge.
— Qual aposta?
— Sabes muito bem!
— Quê? — Smudge falava com a voz arrastada. — Acho que estou com amnésia. Nem sei onde é que estamos. Não reconheço nada. Onde é que estamos?
— Na tua luxuosa casa, em Brandermill! — Bubba tinha vontade de lhe infligir um traumatismo mais sério. — A que tem piscina e um Range Rover novinho em folha à entrada. Porque te estás nas tintas para comprar produtos americanos ou para ser leal com a Philip Morris, que não te paga o suficiente para viveres assim! Portanto, fazes ilegalidades, roubas toda a gente!
Smudge lutou com o fecho da porta e quase caiu ao sair da carrinha. Bubba tirou Half Shell e ela saltou para as traseiras do seu jipe. A mulher de Smudge saiu agitadamente pela porta da rua para o vir ajudar. Lançou a Bubba um olhar ameaçador quando ele ia a fazer marcha atrás, mas este não se importou. Atravessou velozmente o bairro chique de Smudge, com as suas grandes casas e lotes arborizados. Seguiu pela via rápida Midlothian como uma seta, ultrapassando toda a gente.
Estava a ser-lhe difícil manter-se acordado, mas isso não o impediu de guiar de forma agressiva. Não deixava ninguém entrar na sua faixa e, se alguém se aproximava demasiado do seu pára-choques, abrandava com mais brusquidão do que habitualmente.
Desligou o CB porque já não tinha amigos com quem falar. Não chamou Honey pelo intercomunicador porque ia vê-la em breve. Desligou o telemóvel para que não tocasse.
Em Cloverleaf Mall, o infortúnio ou talvez o karma negativo, começou a avolumar-se. Começou com uma mulher tatuada numa Harley-Davidson, que passou por ele como um trovão, voando entre as duas faixas, o cabelo louro pintado a esvoaçar do capacete vermeIho-vivo.
— Ei! — gritou Bubba, como se alguém o ouvisse. — Que porra pensas que estás a fazer?
A mulher continuou e Bubba aumentou a velocidade. Serpenteou por entre o trânsito, com o acelerador a fundo, guinchando ao virar para Oak Glen atrás dela, voltando depois para trás, para Carnation e Hioaks, passando pelo quartel-general do Departamento de Correcção da Virgínia e descendo a Wyck Street, em direcção a Everglades Drive.
Bubba estava demasiado exausto e com uma disposição péssima para perceber que a mulher se estava a divertir à sua custa. Quando ela voltou a entrar na via rápida, Bubba fez a curva demasiado larga e nem se incomodou a ver se vinha trânsito. As buzinas berraram e as pessoas praguejaram. Uma mulher idosa num Toyota Corolla apontou-lhe o dedo em jeito de arma e disparou.
Um carro-patrulha enfiou-se atrás dele, com as luzes vermelhas e azuis a brilhar no seu retrovisor. Desta vez, o agente Budget fez uivar a sirene, enquanto mandava Bubba encostar no mesmo Kmart onde se tinham encontrado anteriormente.
A Oficial de Comunicações Patty Passman era obesa, tinha o cabelo prematuramente grisalho e pele estragada. Era solteira, anti-social e sofria de hipoglicemia, mas não era estúpida. Também sabia que o seu parquímetro, na lOth Street estava quase a expirar.
Se não chegasse ao carro antes de Otis Rhoad, ele enfiava-lhe mais outra multa debaixo do limpa pára-brisas. Quanto perfazia já? Uma média de duas por semana a dezasseis dólares cada? É claro que era muito mais seguro estacionar no novo parque, no quarteirão de cima, mas naquele dia não havia lá lugar. Sempre que isso acontecia, ela via-se obrigada a estacionar na rua, onde Rhoad passava a vida a marcar pneus carecas e a caçar parquímetros fora de prazo.
O agente Budget reconheceu o jipe Cherokee vermelho imediatamente e nem queria acreditar que o estava a mandar encostar no mesmo parque de estacionamento outra vez. Que diabo se passava com aquele tipo? Estaria a fazer de propósito? Teria uma disfunção qualquer, como aquelas pessoas que passavam a vida a adoecer para poderem ir ao médico?
O jipe entrou no parque de estacionamento do Kmart e parou em frente do First Union Bank, como da última vez. Budget saiu e aproximou-se da porta do condutor. Bubba vestia um camuflado, tinha o olhar vítreo e estava nojento. Na caixa havia um canil com um cão. Budget bateu no vidro com o rádio-portátil e Bubba abriu a janela.
— Saia do carro — disse Budget.
— Se não se importa, vou só dar-lhe a carta e o livrete, como da última vez, agente Budget. Perdi-me na floresta, na caça aos guaxinins, e estive a pé toda a noite.
O sotaque racista era impressionante.
— Não é lá muito boa altura para dizer uma coisa dessas, Mr. Fluck — disse Budget numa voz gelada. — Quantos apanhou, hem? Enforca-os nas árvores ou abate-os a tiro?
— Apanhamo-los nas árvores, se conseguirmos — respondeu Bubba. — Agora é ilegal abatê-los a tiro.
Budget escancarou a porta e mirou Bubba. Tinha vontade de lhe bater. Ocorreu-lhe que talvez se conseguisse safar, uma vez que aquilo parecia um Rodney King ao contrário, mas não estavam na Califórnia.
— Depois de os apanharmos em cima das árvores — Bubba estava a falar de mais por ter os nervos em franja —, atiramo-lhes com luz para os olhos. É claro que são os cães que os apanham primeiro, são os cães que lhes descobrem a pista.
Budget voltou a olhar para Half Shell. O cão parecia bastante manso.
— E que tipo de cães usam? Pit bulis? Dobermans? — perguntou Budget cheio de ódio.
— Não, não, cães de caça ao guaxinim.
— Aquilo ali atrás é um cão de caça?
— Um dos melhores.
Budget continuou a mirar Half Shell, que lhe devolveu o olhar. Começou a ladrar e a tentar sair do canil.
— Fica aqui sentado e não se mexe. — Budget afastou-se do jipe.
— E se aquele cão se soltar, está metido em sarilhos.
Passman estava prestes a ir numa fugida até ao carro, quando ouviu o 218 através dos auscultadores.
— Unidade 218. Uma intercepção de viatura — informou-a Budget.
— Continue, Unidade 218. — Passman olhou para o relógio e ficou nervosa.
— Quarteirão dos 6800 em Midlothian com Boy-Union-Boy-Adam-Henry.
— Afirmativo, 218 às 07h48 — disse Passman, quase desesperada.
Bubba acendeu o isqueiro e reparou na ponta do seu Colt Magnum Anaconda 44 a aparecer debaixo do assento. Ficou gelado de medo e desatou a suar frio. Trazia uma arma escondida e não tinha licença.
Deu um pontapé no revólver, tentando fazê-lo desaparecer, mas a arma resistiu aos seus esforços, com o aço inoxidável a brilhar em plena vista. Bubba esticou lentamente a mão direita até ao chão, mas o braço não era suficientemente comprido para chegar à arma, a não ser que se dobrasse ou se pusesse de cócoras. Sabia que não era boa ideia dar a impressão de que estava a esconder ou de que tinha escondido alguma coisa debaixo do banco.
Bubba deu mais uns empurrões e percebeu que o monstro do revólver estava preso a qualquer coisa. Imaginou a alavanca do banco, ou um pino ou, talvez, uma mola solta a empurrar o gatilho. Imaginou tecido apodrecido preso no cão do revólver. A arma disparar-se-ia ao mínimo movimento.
Brazil começara da forma mais desgraçada. Tinha calor. Os mosquitos estavam a dar por ele. A necessidade urgente de ir à casa de banho sobrepôs-se ao decoro e acabou por se aliviar atrás de umas azáleas, perto de um conjunto de lápides em forma de árvore que tinham qualquer coisa a ver com os Lenhadores do Mundo.
Estava cansado de esperar que Weed aparecesse e não conseguia admitir que West tivera razão. Ainda pior, teria de dizer à equipa do rádio que precisava de transporte, uma ideia terrível.
Todos os chuis que estivessem no ar e o pessoal com scanners iriam ficar a saber que Brazil estava sozinho, a pé, no Cemitério Hollywood. Até conseguia ouvir as piadas e imaginar as bocas. O menino bonito foi transferido para a, ronda dos mortos.
— Unidade 11 — Brazil entrou no ar.
— Continue, Unidade 11 — foi a resposta rápida de Patty Passman.
— Cemitério Hollywood. Preciso que uma unidade me venha buscar aqui.
— Afirmativo, 11, 07h49. 562.
— Unidade 562 — respondeu Rhoad.
Brazil reconheceu o número da unidade do Fala-Barato e encolheu-se. Oh, por favor, não lhe peças para me vir buscar.
— Cinco-seis-dois. Preciso que vá buscar uma equipa ao Cemitério Hollywood ASSIM QUE POSSÍVEL. — A voz de Passman soava tensa.
Passman já inventara chamadas para desviar Rhoad do seu carro mal estacionado e, desta vez, ele não estava disposto a cair.
— Qual é a sua localização? — perguntou Passman a Rhoad pelo rádio.
— Unidade 562, Broad com Fourteenth — respondeu ele.
— Afirmativo, 562, 07h50.
— Unidade 562. — Ele voltou a falar.
— Cinco-seis-dois.
— Unidade 562 — repetiu ele. — Primeiro, tenho de fazer uma paragem. A unidade 11 pode esperar até às 08h30?
— Unidade onze — Brazil meteu-se no ar. — Rádio, pode mandar outra unidade? Tenho de sair daqui muito antes disso.
Passman ficou em pânico ao olhar para o relógio. Freneticamente, enfiou a outra metade do éclair de chocolate na boca.
— Onze, negativo — informou ela. — Todas as outras unidades estão ocupadas, a não ser para emergências.
— Pode repetir?
— Todas as outras unidades estão ocupadas, à excepção de emergências — repetiu ela.
Era mentira. Todos os que estavam no ar sabiam que o movimento no rádio estava leve, sem qualquer indicação de nem sequer metade das unidades estarem ocupadas.
— Aguarde — disse ela a Brazil.
— Onze. — A voz de Brazil estava a ficar irritada. — Comunique com 562 e pergunte a sua localização.
— Cinco-seis-dois. — Rhoad não esperou que a mensagem lhe fosse transmitida, pois era evidente que ouvira o pedido da Unidade 11e conseguia responder directamente. — A localização é Broad com a Ninth.
— Bem, pode vir buscar-me agora ou não?
— Negativo. Primeiro, tenho de fazer uma paragem.
— Rádio, pode, por favor, mandar-me outro carro? — pediu Brazil novamente.
— Negativo, 11. Cinco-seis-dois vai a caminho.
— Cinco-seis-dois. Não vou nada. Primeiro, tenho de fazer uma paragem.
Passman acabou o éclair.
— Preciso que alguém me venha buscar O MAIS DEPRESSA POSSÍVEL — respondeu Brazil.
— Cinco-seis-dois. Não posso, 11.
Os microfones começaram a dar estalidos, enquanto outros polícias no ar davam conta do seu divertimento, encorajando Rhoad e Brazil a continuarem.
— Unidades 562 e 11 — disse bruscamente Passman para o microfone. — Fim de transmissão.
A ordem de Passman para terminar a transmissão causou um silêncio absoluto mas temporário.
— Cinco-seis-dois. — Rhoad não conseguia parar. Estava viciado. — Pode repetir? — perguntou ele.
— Fim de transmissão. — Passman mandou-o calar-se pela última vez, na linguagem dos polícias.
— Onze? — Rhoad não era capaz. Não houve resposta.
— Onze? — repetiu Rhoad, falando mais depressa na tentativa de ganhar à agente de Comunicações Patty Passman, que tinha o hábito de o interromper e de ser desagradável sempre que podia. — Tudo bem?
— Não! — disse Passman abruptamente. — Não está nada bem, unidade 562! Negativo! — exclamou ela.
Tremiam-lhe as mãos e sentia-se fraca. Patty Passman estava furiosa com a cidade, que não tinha lugares de estacionamento para os funcionários leais como ela, que trabalhava turnos de oito horas na sala do rádio, mal iluminada e sem janelas, a falar com idiotas como Otis Rhoad. O seu nível de açúcar no sangue desceu e a insulina chegou aos mínimos.
O nível de açúcar nunca descera tanto. A visão turvou-se-lhe e quase desmaiou ao pôr-se em pé de um salto, entornando o café. Correu para fora da sala, enquanto outros operadores respondiam às chamadas.
O agente Budget estava à espera há dez minutos que a agente de Comunicações Passman lhe respondesse. Acabou por arranjar outro operador que foi verificar a carta de condução e o título de registo de propriedade do jipe vermelho de Bubba.
Budget ficou desapontado, mas não surpreendido, ao saber que a carta de condução de Butner U. Fluck IV era válida até 2003, sem restrições, e que o jipe estava registado no mesmo nome, com uma morada de Clarence Street.
— Merda — disse Budget.
Saiu do carro-patrulha e aproximou-se novamente do jipe, satisfeito por ver que Bubba parecia convenientemente assustado, para variar.
— Vou acusá-lo de condução perigosa — disse o agente Budget com severidade, fazendo os possíveis para que o estupor se sentisse ainda pior. — Mas tem sorte em não ser pior. Portanto, Mr. Fluck...
— Por favor — interrompeu Bubba, erguendo um braço como se estivesse prestes a ser atingido.
— é mais que tempo de mostrar alguma educação — disse Budget, devolvendo-lhe a carta e o registo.
Os pequenos pés de Passman ressoavam nos degraus de metal muito gastos, enquanto corria em direcção à rua, o coração em sobressalto como um veado ou um pato alvejados. O peito subia e descia ao empurrar as duplas portas de vidro.
Rhoad estava a estacionar o carro-patrulha ao lado do seu Cadillac Fleetwood branco de 1989. A ponta do ténis esquerdo da New Balance embateu numa fenda do passeio. Ela tropeçou, mas aguentou-se, com os braços abertos em desequilíbrio.
— Pare! — gritou ela a Rhoad no momento em que ele se aproximava do seu carro, com o livro de multas na mão e a caneta em riste. — Não! — gritou ela.
A leitura óptica mostrava claramente que o prazo do parquímetro tinha expirado.
— Lamento — disse-lhe Rhoad.
— Não lamenta nada, seu filho da puta! — Passman espetou-lhe um dedo, lutando para recuperar o fôlego.
Rhoad manteve-se imperturbável, enquanto ia preenchendo o número do parquímetro, a marca do veículo, a matrícula e a classe, que, neste caso, era A, de automóvel. Colocou a multa no envelope e prendeu-o sob o limpa pára-brisas. Passman aproximou-se dele, com um olhar furioso, a arfar e a suar, o sangue num tumulto. Perfurou-o com um olhar assassino.
— Teria chegado aqui mais cedo se tivesse calado essa merda dessa boca — berrou ela. — A culpa é toda sua! E sempre sua, seu idiota, seu desmiolado, seu estrábico dum raio, seu filho da puta!
Avançou para o Cadillac e arrancou a contra-fé do pára-brisas. Agitou-a violentamente em frente do nariz dele e enfiou-a pela abertura da camisa bem engomada do uniforme, arrancando-lhe a gravata presa com um dtp.
— Agora passou das marcas — disse-lhe Rhoad indignado. Ela fez-lhe um gesto feio.
— Está presa! — exclamou ele.
O trânsito abrandou e as pessoas prepararam-se para uma boa luta, naquela manhã de quarta-feira sem interesse.
— Enfia-a no cú — gritou Passman.
— Força, amiga! — gritou uma mulher de um Acura.
Rhoad atabalhoou-se com as algemas, presas à parte de trás do cinturão, enquanto Passman gritava mais obscenidades, o nível de açúcar no sangue a descer até à escura fenda da irracionalidade e da violência, enquanto se juntava mais público, pronto a encorajá-la.
Rhoad agarrou os pulsos de Passman. Ela deu-lhe pontapés nas canelas e cuspiu. Ele soltou uma série de perdigotos, enquanto lhe torcia o braço direito atrás das costas e ela lhe dava com o punho direito no pescoço. Há muitos anos que Rhoad não algemava ninguém e o aço batia nos ossos do pulso de Passman, enquanto ele tentava fechar a algema, sem o conseguir. Passman uivou de dor, enquanto ele puxava e a arrepelava, até que as mandíbulas de aço se lhe fecharam finalmente em volta do pulso, cravando-se-lhe na carne.
— Força! Força! — gritou alguém de um Corvette preto.
Com a mão livre, Passman agarrou Rhoad entre as pernas e torceu.
Loraine, a sobrinha-neta de Ruby Sink, de um ano de idade, estava com febre e mantivera a mãe acordada toda a noite.
— Pobre bebé — disse Miss Sink ao telefone. — Estás a embalá-la? Deste-lhe uma aspirina infantil?
— Sim, sim — respondeu Francis, a sobrinha. — Não sei que mais posso fazer. Se faltar mais um dia ao trabalho, há muita gente lá fora à espera de um lugar.
Miss Sink conseguia ouvir Loraine a choramingar e imaginou o rosto afogueado da criança. O centro de dia estava fora de questão. Pura e simplesmente, Miss Sink não permitia que uma criança doente fosse entregue a estranhos e também não queria que Loraine contagiasse outros com o que quer que tivesse.
— Terei muito prazer em ficar com ela, enquanto fores trabalhar — disse Miss Sink. — E aposto que estás atrapalhadíssima a tentares arranjar-te.
— Sim — disse Francis, desesperada. — Ainda nem sequer tomei duche.
— Vou para aí imediatamente — prometeu Miss Sink. — Vou buscar Loraine e vamos passar um óptimo dia.
— E se a febre não baixar, chame o Dr. Samson, está bem? Só para termos a certeza de que ela está bem.
— Claro, querida.
— Oh, obrigada, Tia Ruby.
— De qualquer forma, ia acabar por sair — disse Miss Sink. — Só tenho dois dólares na carteira e devo dinheiro ao encarregado e, provavelmente, a metade da cidade.
— Diz sempre isso, Tia Ruby. Nunca ouvi um disco tão partido. A mãe dizia que a tia era a pobre mais rica que conhecia.
Pensar na falecida irmã entristeceu-a. Miss Sink não tinha mais ninguém para além de Francis e Loraine e sentiu um peso insuportável no espírito.
— Por que é que não jantas comigo depois do trabalho? — sugeriu Miss Sink. — Quando vieres buscar o nosso anjinho.
— Depende do que for cozinhar — disse Francis.
— Até podia convidar um agente da polícia encantador que conheço — disse Miss Sink. •— O jovem mais bonito que já vi, e tão amoroso. É aquele que escreve os editoriais para o jornal. Alugou o meu apartamento de Plum Street.
— Esse? Deus me ajude, já vi a fotografia dele e é demasiado novo para mim, Tia Ruby.
— Que disparate — respondeu Miss Sink. — Hoje as coisas não são como dantes.
— Ele não ia interessar-se por mim, é tão bonito e tudo.
— E tu és bela como um botão de rosa.
— Sou mais velha do que ele e tenho uma filha, Tia Ruby. É a realidade, sabe.
— Vou fazer a minha galinha frita com mel e sésamo. Queijo ralado e tomates frescos com vinagre aromático — disse Miss Sink.
— E onde é que vai arranjar tomates frescos nesta época do ano?
— Esqueces-te de que os conservo em latas — respondeu Miss Sink.
— Agora pára de falar para eu poder pôr-me a caminho.
A namorada de Smoke, Divinity, foi a primeira a notar o jipe Cherokee vermelho abandonado no parque de estacionamento do Kmart, a cerca de trinta metros do First Union Bank.
— Bem, olha-me para aquilo — disse Divinity a Smoke. — Aquele jipe ali parado, sem ninguém lá dentro e o motor a trabalhar, à nossa espera, querido.
— Não, não está nada, porque não o queremos — informou-a Smoke. A mente de Smoke seguia a rotina habitual, concentrada num ponto.
Desligara o CD de Puff Daddy quando fora buscar Divinity ao McDonald da West Broad Street, após ela lhe ter dito por pager que o esperava lá. Ela tinha a mão na sua perna, mas, de momento, eram outras as coisas que o excitavam. Observava um velho Cbevy Celebrity, conduzido por uma velha, a estacionar em frente do multibanco em serviço 24 horas.
— Oh, não me digas que estás nessa — queixou-se Divinity. — Uma cabra de uma velha a guiar aquela merda.
— As pessoas com carros novos é que não têm dinheiro — disse Smoke, enquanto observava a velha a mexer na bolsa.
Passou por ela com o carro e estacionou o Escort fora de vista, nas traseiras do banco.
— Põe-te em fila atrás dela — ordenou ele a Divinity.
— Para quê? Provavelmente, ela só vai tirar vinte ou trinta dólares. Preferia fazer o jipe.
Olhou para trás com o desejo no rosto, perguntando a si própria como é que se podia ser tão estúpido de forma a deixar um carro assim, nos tempos que corriam. Smoke esfregou a mão por entre as pernas dela. Divinity riu-se e agarrou-o também.
— Está bem, está bem — disse ela. — Como quiseres, querido.
Miss Sink sentia-se perfeitamente segura enquanto ia remexendo na bolsa. Não tinha razão para recear levantar dinheiro daquela caixa, porque ficava mesmo em frente do parque de estacionamento do Kmart, que abria às oito. Havia já um grande número de carros a chegar para apanhar as promoções.
No banco de trás, Loraine estava incrivelmente sossegada. Estava presa à cadeira e bem agasalhada e, de momento, não chorava. Miss Sink saiu do carro , continuando a remexer na bolsa. Sentiu um aperto no coração ao tentar lembrar-se do último local onde fizera compras, interrogando-se se lá teria deixado a carteira. A sua memória já não era lá muito boa, mas ela negava esse facto, inventando todo o tipo de desculpas.
Ao princípio, não prestou muita atenção à jovem que se colocara atrás dela e começara a tirar coisas de um saco de ganga desbotada.
— Também nunca encontro nada dentro do meu — disse a jovem em voz alta, continuando à procura. — Fico doida de todo!
Miss Sink voltou-se e sentiu um choque. A jovem tinha um ar duro, usava uma saia muito curta, um top muito justo e um impermeável vermelho dos Chicago Bulis. Tinha argolas nas orelhas, no nariz e numa sobrancelha, o estilo da moda, que, na opinião de Miss Sink, não era muito diferente das mutilações que costumava ver no National Geographic.
— Não sei onde a pus — murmurou Miss Sink irritadamente.
Olhou de relance para o carro, esperando que a aspirina infantil desse resultado e Loraine estivesse a dormir. A jovem aproximou-se um pouco mais e algo despertou subitamente em Miss Sink. Ficou inquieta, mas sentiu um grande alívio ao ver um jovem com bom aspecto que apareceu das traseiras do banco.
— Guardou algum para mim? — perguntou ele num tom de voz amigável.
Estava limpo e bem vestido, com as roupas largas e desbotadas dos Chicago Bulis, a moda do momento. Miss Sink sorriu-lhe com hesitação.
— Bom dia, minha senhora — disse-lhe ele.
Miss Sink não gostou dos olhos dele. Eram muito intensos, com um olhar fixo e tinham algo que lhe dizia qualquer coisa que ela não quis escutar. A jovem colocara-se estranhamente de um dos lados da máquina, como se quisesse evitar a câmara. Miss Sink começava a ficar assustada, mas queria acreditar que o jovem a ia proteger.
— Isto é a pior coisa que já inventaram. Cospe dinheiro como se fosse o Monopólio — disse o jovem, colocando-se também fora do alcance da câmara.
— Como se eu não soubesse — respondeu a jovem. — Hoje em dia, gasta-se como manteiga. Ou assim seria, se as pessoas se despachassem.
Ele parecia ser do tipo de rapaz que vivia na sua zona da cidade e ia provavelmente levantar dinheiro a caminho da escola. Apostava que frequentava uma daquelas escolas privadas, como Saint Christopher ou a Collegiate.
— Sabe, há quem tenha pressa — disse a jovem em voz alta. Pôs-se a fazer caretas e a suspirar, olhando em volta e revirando os olhos. — Não posso ficar aqui o dia todo! — Olhou agressivamente para Miss Sink.
— Desculpe — gaguejou Miss Sink nervosa, com as mãos a tremer dentro da bolsa. — Só espero não o ter perdido. Oh, meu Deus, meu Deus.
— Se não o encontra, sua velha, saia do caminho!
— Ei, calma — disse subitamente o jovem. Aproximou-se de Miss Sink, continuando de lado.
— Ela estava aqui primeiro — disse o jovem à vagabunda.
— Bem, eu tenho o meu Visa a postos. Ninguém dá ordens a Divinity. Por que é que acha que me chamam assim? Porque sou tão divina como Jesus, é por isso.
— Que maneira de falar! — exclamou Miss Sink. — Devia rezar a pedir perdão.
— Reze você para eu não lhe arrancar a língua e atá-la em volta desse pescoço nojento.
— Já chega — disse-lhe o jovem.
— Vai-te foder, bonitão.
Quando por fim encontrou o seu cartão de crédito, Miss Sink tremia toda e deixou-o logo cair no chão. Quase se desequilibrou ao tentar apanhá-lo, com o coração em alvoroço. Atrapalhou-se e deixou-o cair outra vez, enquanto aquela jovem horrível chamada Divinity suspirava imenso e praguejava.
Miss Sink conseguiu enfiar o cartão na máquina, marcar o código e responder a todas as perguntas. Sentia o perfume enjoativo de Divinity e o seu espírito maldoso, enquanto a máquina cuspia dez notas de vinte dólares.
— Isso dá para muitos bilhetes de autocarro — disse-lhe Divinity sarcasticamente.
— Por favor, deixe-me em paz — pediu Miss Sink, com a voz a tremer.
— Não me digas o que devo fazer, grande cabra — atirou Divinity num tom capaz de abrir feridas na pele.
— Venha — disse o jovem a Miss Sink. Eu acompanho-a ao seu carro, minha senhora.
— Oh, obrigada. — Miss Sink quase lhe agarrou a mão. — Oh, é tão simpático, não sei como lhe agradecer.
Miss Sink viu, de relance, Divinity a rasgar um pedaço de fita isoladora e a colá-lo sobre a câmara do multibanco.
— Devíamos chamar a polícia! — sussurrou ela à sua escolta, quando ele lhe abriu a porta do condutor.
Não percebeu por que motivo ele deu a volta e abriu também a porta do passageiro.
— Quero ir consigo talvez aí meio quarteirão, para ter a certeza de que está bem — explicou ele, enquanto Divinity continuava perto do multibanco, à espera de incomodar o próximo desgraçado que aparecesse, pensou Miss Sink.
Virou-se para ver Loraine, que, graças a Deus, dormia. Miss Sink pôs o motor a trabalhar e trancou as portas.
— Não gosto do aspecto daquela rapariga — disse o jovem. — Por vezes, os daquela laia trabalham aos pares, como as cobras. Receio que haja mais alguém por aqui. Sabe, há qualquer coisa que não me soa bem. Acho que sabe daqueles assaltos do multibanco.
— Oh, sim! — exclamou Miss Sink. — Graças a Deus que chegou naquela altura! Deve ser o meu anjo-da-guarda. Acho que não sei o seu nome.
— Chamam-me Smoke.
— Bem, espero que já não fume. Eu fumei em tempos e nem imagina como foi difícil parar.
— Não é por isso que me chamam assim.
Miss Sink recuou, enquanto o olho cego da câmara não via nada.
— Chamam-me Smoke porque, quando era miúdo, costumava pegar fogo às coisas — disse ele por entre dentes cerrados, sacando uma arma da parte de trás das calças e encostando-a com toda a força ao peito dela.
— Oh, santo Deus! — exclamou Miss Sink. — Oh, não!
— Continue a guiar — ladrou-lhe Smoke. — Por ali. Dê a volta por trás do Kmart.
— Oh, por favor, por amor de Deus — implorou Miss Sink. — Está uma criança no carro. Leve o que quiser e deixe-nos.
— Cala-te, cabra! — disse ele.
Smoke observou Divinity a tirar o Escort das traseiras do banco, onde estivera escondido, e a entrar na compacta fila de trânsito que se arrastava para o centro, com a luz da manhã a cintilar no pára-brisas. Cheirou-lhe a merda e a mijo e, ao princípio, pensou que era a miúda no banco de trás.
— Foda-se — disse ele, quando compreendeu que a sua vítima perdera o controlo dos intestinos e da bexiga. — Era melhor não ter feito isso.
— Desculpe. Por favor, não...
— Cala essa boca, cabra. Vais guiar normalmente e, se tentares alguma coisa, espalho os miolos do querido bebé pelo carro todo, contigo a ver.
— Leve o que quiser — gritou ela —, mas não lhe faça mal! Tudo o que quiser! Oh, por favor! Tudo...!
— Cala-te! — sibilou Smoke.
Miss Sink chorava tanto que os dentes batiam. Passaram pelas traseiras do Kmart e estacionaram onde terminava o asfalto e começava uma extensão de bosque. Smoke tirou-lhe a carteira da bolsa e pegou nas dez notas novinhas que ela tirara da máquina.
Roubou-lhe ainda mais dois dólares e sessenta e dois cêntimos e fichas das portagens. O relógio e o colar não valiam a pena e as lojas de penhores eram arriscadas. Ela cheirava tão mal que ele tinha vontade de vomitar e a porra da criança estava a acordar e a começar a chorar.
— Loraine, está tudo bem, queridinha. Por favor, fica quietinha, amor. Chamo-me Miss Sink e esta é a minha sobrinha-neta, Loraine. — Miss Sink continuava a pairar. — Não nos vai fazer mal, por amor de Deus, deve ter uma mãe, uma avó...
— CALA-TE! PÁRA DE ME CHATEAR, MINHA CABRA HORROROSA!
Smoke pôs o volume do rádio ao máximo e a criança começou a berrar.
— CALA ESSA PORRA DESSA BOCA! — gritou Smoke para a miúda.
— Oh, meu Deus que estais no céu! Por favor, não nos faça mal! Santo Deus! Pense no que está a fazer! Parece um jovem inteligente. Não quer meter-se em sarilhos!
— Detesto velhas horrorosas como tu. Portanto, o melhor é calares-te e dares-te por feliz por não te fazer outras coisas. Mas cheiras demasiado mal — disse ele numa voz baixa e fria. — Portanto, vais curvar-te para a frente, para não me veres quando eu sair. Está bem?
— Está bem — choramingou Miss Sink.
Encostou a cara ao volante, fechou os olhos com força e tapou-os muito bem com as mãos. Não se mexeu. Mal respirava. No rádio, a voz de Annie Lennox evocava alguém a pisar vidros partidos, enquanto Smoke revistava o guarda-luvas e a miúda berrava. Despejou a bolsa no tapete e tirou uma caixa de pastilhas elásticas Freedent de mentol, um corta-unhas e um frasco de Atavan.
— Obrigado, Miss Sink — disse ele. — Vê se te fazes uma boa menina, Loraine. Prometes que não me esqueces, está bem? — Riu-se.
Enfiou uma tira de Freedent na boca e observou a área. Não se via ninguém.
— Sabes qual é o meu aspecto, cabra? — perguntou ele. — Quero dizer, vais reconhecer-me lá fora?
— Não, não! Não o vi! Por favor! — implorou Miss Sink.
— E aquela cabrazinha lá atrás, na cadeirinha? Será que ela sabe?
— Não! É apenas um bebé! Não nos faça mal! Miss Sink tremia como se estivesse a ter um ataque.
— Deixa-me lá pensar. Que deve um tipo fazer?
Fez um balão com a pastilha. Destravou a Glock e puxou o cano que ressaltou com um ruído seco.
Dominou-o uma sensação de poder que lhe subiu à cabeça e o deixou excitado. Enfiou três tiros de Winchester na nuca de Miss Sink.
Brazil esperava de pé, com as mãos nos bolsos, olhando impacientemente o terreno argiloso e inclinado, suturado por linhas de caminho-de-ferro e um emaranhado de silvas e árvores. O vapor erguia-se da Companhia de Papel Fort James e o rio era uma melodia suave tocada pelos dedos do vento e pelas notas brilhantes do sol.
No cinturão de Brazil, o rádio-portátil vibrava com as entradas e saídas desconexas de mensageiros e polícias falando em código. Não se passava nada. Uma carrinha para deficientes fora abandonada à beira de uma estrada, o trânsito estava engarrafado porque um semáforo não acendera, um condutor fora mandado encostar num Kmart.
Números de unidades e horas estalavam no ar, mas Passman e Rhoad estavam estranhamente silenciosos. Passman não despachava chamadas e Rhoad não respondia a nenhuma. Brazil estava furioso, certo de que os chuis se estavam a meter com ele.
— Onze — tentou ele novamente.
— Continue, 11 — respondeu um agente de comunicações, cujo nome Brazil desconhecia.
— Rádio, continuo no cemitério — disse ele, tentando não fazer transparecer a sua fúria na voz. — Preciso que alguém me recolha imediatamente.
— Refere-se a Hollywood.
— Afirmativo.
— A qualquer unidade na área do Cemitério Hollywood, necessário recolher unidade 11.
— Unidade 199.
— Continue, unidade 199.
— Estou apenas a dois quarteirões, passo pelo cemitério para recolher 11.
— Vou retransmitir, 199, 08hl2.
Ao ouvir um farfalhar, Brazil afastou-se do rio. Vislumbrou algo vermelho do outro lado da vedação do cemitério, onde se cruzavam duas ruas, Spring e South Cherry. A malha de arame estava coberta de hera e, através dela, Brazil conseguia distinguir a parte de trás da grande tabuleta de metal que anunciava Victory Rug Cleaning, com uma seta a apontar para a empresa, a um quarteirão de distância. Desligou o rádio e ficou imóvel.
A vedação começou a tremer quando alguém agarrou a berma da tabuleta e se içou. Escondido pelas espessas sombras do azevinho, Brazil observou Weed esticar o braço e agarrar um ramo, içar-se com facilidade, passar por cima da vedação e, ramo a ramo, chegar ao chão. Brazil escondeu-se por trás de um monumento.
— Vá lá, é fácil — disse Weed a alguém do outro lado.
A vedação tremeu com mais força. Brazil ficou espantado quando, a um rosto desleixado e barbudo, se seguiu um corpo esfarrapado e nojento a que faltava parte de uma mão e um pé. O sem-abrigo agarrou um ramo, ficou preso uma ou duas vezes, mas conseguiu passar.
— Nem acredito que tenha feito isto — disse o sem-abrigo. — Há anos que não me sentia tão ágil.
Olhou em volta, para as línguas petrificadas e mudas dos mortos que falavam de entre a relva, como se procurasse alguma coisa.
— Merda — disse ele. — Até agora não parece lá muito promissor, a não ser que planeie uma dieta à base de flores.
Weed limpou nervosamente o suor da cara com a fralda da sua camisola XXL dos Bulis e esfregou as mãos nos jeans larguíssimos.
— Vai lá — disse o sem-abrigo. — Vou coscuvilhar por aqui e apanho-te mais tarde.
Weed partiu rapidamente, com os ténis desapertados, como se soubesse exactamente para onde ia. Brazil foi-se escondendo por trás de monumentos, arbustos e árvores, enquanto ia seguindo Weed e mantendo um olho no sem-abrigo que o rapaz trouxera.
Weed passou a correr pelo Círculo dos Presidentes e pelos túmulos de Jeb Stuart e John Tyler, continuou para Jeter Avenue e Bellevue, direitinho ao Círculo de Davis, onde a estátua vandalizada do primeiro e último presidente da Confederação continuava vestida para o jogo, com uma rugosa bola de basquete na mão. Parou em frente dela e ficou a olhar, cheio de reverência. De vez em quando olhava em volta, o olhar furtivo varrendo o sarcófago de mármore, atrás do qual Brazil se escondia naquela altura.
Uma profusão de histaminas investiu para combater os ácaros do pó que atacavam os pulmões e os seios nasais, enquanto Bubba varria o chão do jipe com a lanterna. Começou a espirrar. Tinha comichão na garganta e nos olhos e o nariz começou a pingar-lhe.
— Porra! — disse ele.
A mira da Anaconda estava pendurada na mola de deslocação que ia de um banco a outro. Os fios da antena do CB, que estavam à mostra e que ele próprio instalara e cobrira com um tapete e um pedaço de desperdício, estavam presos no gatilho.
Ouviu-se a voz de Smudge no CB porque Bubba não fora capaz de aguentar o silêncio e voltara a ligar os rádios e o telemóvel. Smudge deve estar a sentir-se melhor, pensou ele maliciosamente, mas não tinha nada para lhe dizer.
— Merda! — lançou ele ao bater com o cotovelo no fecho da porta, ficando com o braço dormente.
Espirrou mais três vezes, enquanto apalpava cuidadosamente por baixo do banco, com o motor a trabalhar.
— Smudge para Bubba. Estás a escapulir-te, pá? Chamei a Abelha-Mestra, que diz que não apareceste.
Os olhos de Bubba ardiam e lacrimejavam. Não conseguia respirar pelo nariz. A alavanca das mudanças prendera-lhe a camisa, Smudge não se calava e o telemóvel tocou. Não respondeu a nenhum. Encostou a cabeça ao velho tapete, esforçando-se por ver o que tinha de fazer para libertar o revólver com o seu cano de vinte centímetros. Espirrou com tanta força que sangrou pelo nariz.
Uma coisa dura bateu com estrondo e autoridade na janela do condutor, assustando-o. Deu um salto e um grito e bateu com o ombro na alavanca das mudanças, pondo o jipe em marcha atrás. Carregou no travão com a mão, conseguiu meter o ponto-morto e trepou para o assento, dorido e sem fôlego. Ficou estupefacto quando o agente Budget abriu a porta bruscamente.
— Quase me atropelou, seu filho da puta! — Os olhos de Budget estavam furiosos e empunhava a pistola. — Saia com as mãos no ar. Já!
— Que é que eu fiz? — gritou Bubba, limpando a cara com a manga e espirrando.
— Saia!
Bubba assim fez. Ficou atordoado com a luz do sol. Estava porco, sujo de sangue e com o nariz congestionado.
— Pernas afastadas, mãos encostadas ao carro! — Budget não estava a brincar.
Revistou Bubba, sem encontrar nada de significativo.
— O que é que estava a fazer escondido no chão ? — perguntou Budget, enfiando a pistola no coldre.
— Nada — mentiu Bubba.
— Uma porra!
— A Abelha-Mestra vai picar-te no rabo — disse a voz de Smudge. — Não dás sinal desde que nos separámos. Por onde andas, pá?
— Importa-se que lhe diga que agora não posso falar? — pediu Bubba a Budget.
— Não se mexa.
Espreitou pela janela, vendo o tapete amontoado no chão. Bubba percebeu pela sua reacção que o chui vira o revólver a sair de debaixo do assento. Ficou imóvel, o desespero e o terror a invadi-lo qual tremor de terra, enquanto observava, como se fosse em câmara lenta, Budget a tirar as algemas do cinturão e a fechá-las com força nos seus pulsos, pedindo pelo rádio uma unidade de reforço e um detective.
Brazil não ouviu a chamada porque o rádio continuava desligado e Weed olhava para a estátua como se estivesse em transe. Tinha cãibras nas pernas e o seu cassetete expansível e a lanterna magoavam-lhe as costelas. Abafava sob o colete da Progressive Technologies e jogara ténis a sério durante tantos anos que não conseguia ficar de cócoras ou ajoelhado por muito tempo.
Estava prestes a avançar quando Weed tocou na estátua e apalpou o número do uniforme. Deixou cair a cabeça, com os ombros estreitos a tremer, a soluçar silenciosamente.
Weed limpou os olhos à manga e alegrou-se por não haver ali ninguém que o visse chorar. Não costumava fraquejar assim, nem sequer quando o pai lhe batia, ou Smoke se mostrava cruel.
Não sentia nada quando as pessoas se esqueciam dos seus anos, ou os outros miúdos o ignoravam e não o convidavam para festas, nem quando o basquetebol começou e ele teve de deixar de ir. A última vez que Weed Gardener se lembrava de ter chorado a sério, de tristeza, fora em Agosto, quando Twister estava a fazer jogging e fora atingido por um carro que se pusera em fuga.
Portanto, não conseguia perceber por que motivo chorava agora daquela forma, a não ser pelo facto de estar sozinho num cemitério e se lembrar de Twister, que estava sepultado em Forest Lawn, na zona norte da cidade. Fora sempre Twister a encorajar os esforços artísticos de Weed, rindo e dando imensa importância aos seus desenhos e aos seus cartoons loucos, porque Twister era famoso e tinha boas notas, mas não sabia desenhar. Nem conseguia combinar as cores quando arranjava o dormitório ou quando se vestia.
Estava sempre a dizer-lhe que ele era um génio dos diabos. Usava exactamente essas palavras. Weed queria que Twister admirasse o que ele tinha feito à estátua, queria que ele se sentisse lisonjeado. Queria que o irmão desse uma surra a Smoke e até talvez o matasse, para não precisar de continuar a esconder-se e poder voltar às aulas de Desenho e aos ensaios da banda.
As lágrimas escorriam-lhe pela cara abaixo e engoliu a custo ao lembrar-se do pessoal da TV e dos jornais a chamarem a Twister o tornado do basquetebol. Era bonito, tão alto como uma árvore, e as raparigas punham posters dele nos seus quartos. Podia ter sido modelo ou artista de cinema, se tivesse querido.
Twister e ele só se tinham um ao outro e o irmão costumava levá-lo a nadar à pedreira, ao Centro Comercial Regency e ao Bullets para comer hambúrgueres e, é claro, aos jogos, onde se sentava mesmo atrás dele. De vez em quando, Twister virava-se para trás e piscava-lhe o olho, em frente daqueles milhares de pessoas. Weed tinha tantas saudades dele que se recusava a acreditar que partira para sempre.
— Estás a ver? — Weed soluçava enquanto falava com o irmão mais velho. — Vês o que eu fiz? Trabalhei no duro, sozinho, aqui no escuro. Por que é que não estás aqui, Twister?
Subitamente, ouviu uma voz alta atrás dele e quase morreu de susto. Arregalou os olhos e gritou.
— Não te mexas! — exclamou o agente Brazil, que estava tão perto dele que o podia fintar.
— Que é que foi, que é que foi? — balbuciou Weed.
— Que estás a fazer aqui? — perguntou Brazil naquele tom que os chuis usam para lembrar às pessoas que quem manda é a lei.
— Tou a olhar — disse Weed. — Não faz mal olhar — acrescentou, esperançado que assim fosse.
— A olhar para o quê?
— P’rà pintura. Ouvi falar dela — disse Weed. — Portanto, vim ver.
— Com quem estavas a falar?
— Não estava a falar.
— Eu ouvi-te falar — disse Brazil.
Weed teve de se emendar,, o que lhe levou algum tempo.
— Estava a rezar a Jesus — disse ele.
— Pelo quê?
Brazil estava a tentar ser mau, mas Weed achava que ele não era assim.
— Por todas estas pessoas mortas — respondeu Weed.
— Como é que entraste aqui? Vieste a pé? Weed disse que sim com a cabeça.
— Ninguém te deu boleia? Estás sozinho? Weed abanou a cabeça.
— Isso é não para qual das perguntas?
— Estar aqui sozinho — respondeu Weed.
— O que quer dizer que estás sozinho ou não?
— Sim.
— Sim? — Brazil precisava de compreender. — Estás aqui sozinho? Weed fez que sim com a cabeça.
— E entraste aqui passando por cima da vedação.
— Ha?
— Eu vi-te. Agarraste-te à tabuleta da Victory Rug Cleaning e passaste por cima da vedação.
— Por que é que acha que fazem publicidade na vedação de um cemitério Quem é que acham que vai mandar limpar os tapetes? Os mortos? — Weed estava a tentar desviar a conversa.
— Por que é que trepaste por cima da vedação? — perguntou-lhe Brazil.
— Era mais rápido. — Tentava parecer calmo, mas o coração batia cada vez mais.
— Por que motivo não estás na escola?
— É feriado.
— A sério?! — exclamou Brazil. — Que feriado?
— Não me lembro.
— Tenho quase a certeza de que hoje não é feriado — disse Brazil.
— Então, por que é que não há escola?
Brazil achava que Weed não era nada ameaçador, mas revistou-o para se certificar de que não levava nada de que ele devesse ter conhecimento.
— Então, o que é que andas a fazer por aqui? — perguntou Brazil. O agente aproximou-se um pouco mais da estátua para ver melhor o Magic Jeff e não conseguiu evitar um sorriso.
— Acho que foi um desses dias de trabalho dos professores — adiantou Weed com pouca convicção. — Só sei que foi uma coisa qualquer, sabe, uma coisa que eles tinham que fazer e nós não precisámos de ir. E a minha mãe teve de ir trabalhar. Portanto, ando por aqui, ’tá a ver?
— Verificar se estás a dizer a verdade só me levava um minuto — disse Brazil, que estava furioso e irritado por West o ter deixado e pelo facto de o 199 ainda não ter aparecido. — Devia pegar em ti e arrastar-te até Godwin e deixá-los tratar-te da saúde. Mas sabes que mais? A única coisa que te faziam era suspenderem-te, o que te ia manter fora da escola ainda por mais tempo, não é? Portanto, davam-te aquilo que queres, não é?
— Eu não quero faltar à escola! — ripostou Weed. — Estaria lá agora, se...
— Pensei que tinhas dito que era feriado — comentou Brazil.
Weed ficou horrorizado por ter sido apanhado com as calças na mão. Não havia forma de se safar. Olhou de um lado para o outro, à procura de uma hipótese de fuga.
— Muito bem, Weed — disse Brazil. — Vamos lá pôr as cartas na mesa.
— Que cartas?
— É altura de dizeres a verdade — disse Brazil, no momento em que Pigeon apareceu, dirigindo-se a eles no seu andar desajeitado.
— Para começar, o teu último nome não é Jones, não é assim? — afirmou Brazil, que não conseguia ver Pigeon atrás de si.
— Não — respondeu Weed.
— É Gardener, e o teu irmão era Twister. Weed ficou sem fala.
— Weed, diz-me para que é o cinco.
— Ha?
— O cinco tatuado no teu dedo. Vamos lá ouvir essa história outra vez, a ver se agora soa melhor.
O medo deu lugar ao pânico e Weed deixou de raciocinar.
— Já lhe disse que não quer dizer nada — respondeu Weed.
— Quer, quer — insistiu Brazil. — Os Pikes. O gang que reivindica a pintura da estátua, certo?
Weed começou a tremer. Pigeon estava mesmo atrás deles. Provavelmente, Brazil sentiu-lhe o cheiro e virou-se subitamente, com a arma na mão.
— Não dispare contra mim, não valho a pena — disse Pigeon calmamente, olhando para a estátua. —- Bem, ali está algo de especial.
— Quem é você? — perguntou Brazil a Pigeon, afrouxando um pouco a tensão na mão que empunhava a arma.
— Pigeon. Já o vi — disse Pigeon. — Normalmente com uma mulher polícia muito boa. é impossível passar tanto tempo na rua como eu e não acabar por ver toda a gente.
Pigeon estudou novamente a estátua. Weed não tinha a certeza, mas pensou ver admiração a brilhar no olhar de Pigeon. Por um instante, sentiu alegria.
— Portanto — disse Brazil —, algum de vocês faz ideia de quem pintou esta estátua para parecer o irmão de Weed?
Weed ficou tenso. Pigeon esperou.
— Bem — disse Weed numa voz nervosa —, eles tinham ambos dezoito anos. Talvez fosse por isso.
Pigeon semicerrou os olhos para a inscrição na base da estátua.
— O quê? — Brazil franziu o sobrolho.
— Diz ali. — Weed apontou. — O homem da estátua tinha dezoito anos, exactamente como Twister.
— Tens que rever a tua matemática — disse Pigeon a Weed. — Jeff Davis tinha oitenta e um anos quando morreu.
— Afinal, o que é que ele fez? — perguntou Weed.
— Esteve uns tempos na prisão — respondeu Pigeon. — Cerca de dois anos, a ferros e tudo, se bem me lembro.
Weed ficou a olhar para a estátua com uma expressão assustada no rosto. Pensou se os ferros seriam uma espécie de grandes algemas e se também teria de os usar. Não queria ir dois anos para a prisão. Tentou consolar-se, esperando que Mr. Davis tivesse feito algo pior do que pintar uma estátua.
— O que é que lhe fazem, se o apanharem? — perguntou Weed.
— Se apanharmos quem? — perguntou Brazil.
— O que fez as pinturas.
— Não posso dizer de certeza. Teria de falar primeiro com ele e descobrir o motivo — retorquiu Brazil pensativamente. — Seja quem for, o teu irmão deve ser muito especial para ele.
— Metia-o logo na prisa — adiantou-se logo Pigeon. — Era o que eu lhe fazia.
— Não — retorquiu Brazil. — Se ele só pintou a estátua, para que serviria metê-lo na prisão? Era melhor obrigá-lo a fazer algo de útil para a comunidade.
— Como o quê? — perguntou Weed.
— Como limpar aquilo que fez.
— Quer dizer, tirar a tinta? Mesmo que esteja bem feito? — perguntou Weed.
O facto de o seu trabalho não sobreviver à primeira chuvada ou ao esguicho de uma mangueira não tinha importância. Weed não aguentava a ideia de ser ele próprio a limpar a estátua. Lavar Twister daria cabo dele.
— Não interessa se é bom ou não — dizia Brazil. Mas a Weed interessava, e não resistiu a perguntar:
— Acha que é?
— Acho mesmo que sim — respondeu Pigeon. — Acho que o artista devia abrir uma galeria lá em Nova Iorque.
— A questão não é essa — disse Brazil a Pigeon. — Tenho de admitir que há alguém por aí que é invulgarmente talentoso, mas esta não é a melhor forma de o mostrar.
— Que significa talentoso? — perguntou Weed.
— Especial. Verdadeiramente bom. Tens a certeza de que não sabes quem pode ter feito isto? — perguntou Brazil.
Weed sabia que Brazil sabia.
— Vá lá, Weed, desembucha — disse Pigeon, traindo a confiança dele. — Lembras-te da nossa conversa? Lembras-te do diabo à solta?
Weed correu a sete pés, com a mochila a bater-lhe nas costas. Caíram dois pincéis, que aterraram no túmulo de Varina Davis.
No Commonwealth Club, Hammer tinha o verniz a estalar e estava a levantar controvérsia. Não tomara o pequeno-almoço e, insensatamente, engolira uma multivitamina Multi-Max, dois Advils, dois BuSpars e três suplementos de cálcio com sabor a frutos tropicais com uma chávena de café preto. Ardia-lhe o estômago.
— Penso que temos de pôr as coisas em perspectiva — anunciou ela.
— Penso que é exactamente porque estamos a fazer — respondeu-lhe Ehrhart.
— A questão não reside na nossa reverência pelos monumentos e por um cemitério histórico — disse Hammer, sabendo que se estava a aventurar em terreno perigoso.
— Não é uma questão de reverência, mas sim de percepção a longo prazo — interrompeu-a Ehrhart. — O Cemitério Hollywood é um simbolismo do avanço próspero da cultura que a meados do meio do século XIX catapultou a nossa maravilhada cidade para entre as vinte e cinco maiores na América.
— Alguém sabe quantas grandes cidades havia naquela altura? — desafiou-os o Reverendo Jackson.
— Alguém percebeu o que ela acabou de dizer? — sussurrou o presidente da Câmara Lamb ao ouvido de Hammer.
— Pelo menos trinta e cinco — sugeriu o editor Eaton.
— Perto de quarenta. O Dakota do Sul entrou na União em 1859. — O vice-presidente corrigiu o presidente com toda a amabilidade.
— Gostaria de acabar o que estava a dizer — insistiu Hammer. — O importante é que uma estátua pintada não é o crime mais sério que já ocorreu aqui. — Olhou propositadamente para Ehrhart. — Talvez fosse melhor concentrarmo-nos nos gangs e no aumento da criminalidade juvenil e na recusa da comunidade em participar na sua protecção e vigilância, razão essa que me trouxe aqui.
— Por que pensa que estávamos ali nesta manhã senão para participar? — disse Ehrhart com emoção. — E, para que saibam, nunca pensara que precisávamos de Charlotte para dizer a nós como arruinar o nosso departamento de polícia e a nossa cidade.
— Bem, o certo é que eles estão a fazer as coisas muito melhor do que nós — comentou Albright, o presidente do NationsBank, que trabalhara na sede, em Charlotte, antes de se transferir para Richmond.
— Não estamos aqui para falar de Charlotte — disse o presidente da Câmara, irritado.
— Não há nada de errado em aprender com os outros — contrapôs o vice-presidente.
— Sugiro que a Comissão Estadual Contra o Crime prepare o caminho, Lelia — disse Hammer a Ehrhart, que olhava o seu Rolex de ouro e diamantes com um ar ansioso. — Está numa boa posição para mobilizar os cidadãos e os funcionários do estado e da Câmara. Eles ouvem-na.
— É a Polícia responsável e não os cidadãos que têm de eliminar o crime. Já conhece a subscrição da comissão. Precisamos de contratar mais cem agentes adicionais. Precisamos de mais patrulhas nos pés. Os agentes da polícia devem ser obrigados, mesmo que não queiram, a viver com a cidade e a levar os carros da polícia para casa, para haver mais visíveis nos nossos bairros.
— E quem é que vai pagar isso tudo? — quis saber o presidente da Câmara. — Nunca explicou essa parte, Lelia.
O telemóvel de Hammer vibrou. Ausentando-se do crescente conflito na mesa de conferências, saiu da sala.
— Chefe? — A voz de West fez-se ouvir.
— Não é boa altura — respondeu Hammer.
— Estou no 6807 de Midlothian — disse West. — Acho que é melhor vir.
As algemas em volta dos pulsos de Bubba tinham sido fechadas com desprezo e brusquidão. Dentes de aço morderam-lhe a carne. O ar condicionado no interior do carro-patrulha estava demasiado alto e a síndrome do intestino irritável fizera Bubba perder o controlo.
Sempre soubera que era perigoso enfiar o Anaconda 44 debaixo do banco, mas nunca imaginara arranjar um sarilho daqueles. Havia polícias por todos os lados, entre eles alguns detectives. Há poucos momentos, tinham passado dois carros de bombeiros e uma ambulância, dirigindo-se às traseiras do Kmart. A imprensa estava a chegar e um helicóptero sobrevoava a zona.
O agente Budget estava de pé junto do carro, a falar com a chefe-adjunta que fora a casa dele depois do assalto. Recordou-se que se chamava West. Estava sempre a olhar para Bubba, com o rosto duro e um olhar alerta que ele sabia ser para ele, embora desconhecesse a razão. Não compreendia por que motivo os chuis tinham querido a sua T-shirt imunda.
Ninguém lhe dizia nada, a não ser que cometera uma contravenção da classe l ao esconder uma arma, arma essa que Budget soltara do banco e inspeccionara, para saber quantas balas tinha no cilindro. Com pânico crescente, Bubba viu um reboque a virar de Midlothian e a estacionar ao lado do seu jipe.
Bateu com as mãos algemadas contra a janela. Budget olhou para ele, furioso. West parou de falar. Bubba voltou a fazer o mesmo. O chui abriu a porta da frente e inclinou-se para o interior.
— O que é? — perguntou Budget num tom muito desagradável.
— Preciso de ir à casa de banho. — Bubba baixou a voz porque não queria que West ouvisse.
— Pois, pois — disse Budget, sem qualquer pena.
— Não posso esperar — insistiu Bubba calmamente.
— Mas vai ter de esperar.
— Não posso. — Bubba rangeu os dentes e apertou as nádegas.
— Paciência. — Budget fechou a porta.
Hammer apareceu no seu Crown Victoria azul-escuro no momento em que um detective e dois técnicos procuravam provas. A caixa multibanco fora isolada com fita amarela e outros dois agentes guardavam um jipe Cherokee vermelho. West e um outro agente conversavam junto de um carro-patrulha com um suspeito no banco de trás.
Hammer estacionou e saiu do carro no momento em que a carrinha azul do médico legista saía da via rápida e atravessava lentamente o parque de estacionamento do Kmart, dirigindo-se ao local do crime.
— Chefe. — Budget cumprimentou Hammer.
— Que se passa? — perguntou Hammer a West.
— Temos uma mulher branca alvejada na cabeça nas traseiras do Kmart, encontrada às 08h32 dentro do seu carro, com uma bebé no banco de trás, presa a uma cadeirinha.
— Santo Deus! — exclamou Hammer. — A bebé está bem?
— A gritar, parece febril — retorquiu West.
Olhou através da janela do carro-patrulha para o suspeito, um homem branco com cabelos castanhos ralos e um rosto gorducho e corado. Pareceu-lhe bastante doente.
— Diria que tem menos de um ano — replicou Budget. — Os Serviços de Protecção à Criança já a tiraram daqui e levaram-na para o Hospital de Chippenham para se certificarem de que está bem, enquanto tentamos encontrar a família.
— Talvez tenhamos uma dica — disse West. — Havia uma nota na mala da vítima, possivelmente escrita pela mãe. Qualquer coisa sobre o médico da bebé, cujo consultório é na Pump Road. A nota faz referência a uma bebé doente chamada Loraine. Estamos também a tratar de adopção temporária, mas esperamos que não seja preciso.
Hammer olhou para o jipe vermelho, reparando no autocolante do pára-choques com a bandeira da Confederação e na matrícula personalizada BUBAH. Examinou mais atentamente o suspeito, que estava sem camisa e vestia calças de camuflado.
— Como se chama a vítima? — perguntou Hammer. Budget folheou o bloco-notas.
— Ruby Sink — disse ele. — Setenta e dois anos, residente em Church Hill.
— Miss Sink? — interrompeu Hammer horrorizada. — Oh, meu Deus! É uma das minhas vizinhas. Não posso acreditar.
— Conhecia-a? — Budget estava espantado.
— Não muito bem. Santo Deus! Faz parte da direcção do Cemitério Hollywood, tinha acabado de falar com ela.
— Meu Deus! — disse West, atirando um olhar assassino a Bubba.
— Outro multibanco? — perguntou Hammer, sentindo uma terrível ira invadi-la.
— Sabemos que levantou duzentos dólares às 08h02 — respondeu Budget. — Encontrámos o recibo, mas o dinheiro desapareceu.
As peças começavam a encaixar-se, embora com alguma dificuldade. Hammer lembrou-se dos fragmentos da conversa que ouvira no telemóvel entre dois homens chamados Bubba e Smudge. Planeavam assaltar e matar uma mulher. O nome Loraine e qualquer coisa sobre bombas apareciam também e Hammer supusera que a vítima era negra, mas talvez tivesse percebido mal. Olhou novamente para o suspeito.
— Dê-me informações daquele tipo — pediu ela.
— Butner Fluck IV, conhecido por Bubba — retorquiu West. — É estranho, mas eu e Brazil respondemos ontem a uma chamada por assalto em casa dele. Aparentemente, roubaram muitas armas da sua oficina.
— Interessante — disse Hammer.
— Parece que estava aqui estacionado no momento em que ocorreu o homicídio — acrescentou Budget.
— Viu alguma coisa? — perguntou Hammer.
— Diz que não. Recuperei uma Magnum 44 escondida debaixo do banco. Daquelas com cano de vinte centímetros e mira. Disparada há pouco tempo, faltam quatro balas. Para além disso, eu mandara-o parar talvez há meia hora e obriguei-o a encostar no local exacto onde o jipe está agora...
— Espera lá. — Hammer ergueu uma mão. — Começa lá do princípio.
— Sei que parece esquisito — tentou West esclarecer —, mas o suspeito vinha a guiar de forma irregular quando passava pouco das sete, hoje de manhã e o agente Budget mandou-o encostar aqui, exactamente onde o jipe está agora. Nenhum registo especial, nada sobre ele. Foi acusado de condução perigosa e mandado ir embora. Menos de uma hora mais tarde, a vítima é descoberta nas traseiras do Kmart.
— Ouvi a chamada no rádio e respondi — explicou Budget. — E lá está o mesmo jipe, exactamente no mesmo local onde o vira anteriormente, com o suspeito escondido no chão e a arma à vista.
— Portanto, depois de o ter autuado, ele não se foi embora — disse Hammer. — O jipe estava aqui quando a vítima foi assaltada no multibanco e depois assassinada atrás do Kmart.
— Assim parece — confirmou West.
— E o comportamento dele? — Hammer olhou atentamente para Bubba.
— Extremamente agitado, a suar profusamente — retorquiu Budget. — Tem sangue na T-shirt. Dissemos-lhe que gostávamos de levar a camisola para o laboratório; ele não era obrigado a deixar-nos fazer isso, mas foi cooperante.
— Mais alguma coisa que o possa ligar ao homicídio? — perguntou Hammer.
— Até agora, não. Pelo menos, até podermos verificar se as balas que mataram a vítima foram disparadas da sua arma, mas, para ser honesto, duvido muito. Os cartuchos que encontrámos no carro são de nove milímetros, de uma pistola.
— Isto é tudo muito estranho — disse Hammer. — E parece que tudo o que temos contra ele é uma contravenção de classe 1.
— Sim, chefe.
Hammer olhou outra vez para o homem gordo no banco de trás do carro-patrulha. Ele devolveu-lhe o olhar com uma expressão exausta e infeliz.
— Bem, não me parece que tenhamos causa provável para o retermos — disse Hammer, extremamente desapontada.
— Não temos — concordou West. — Mas ao princípio não podíamos ter a certeza.
— É-me difícil imaginar que estava aqui sentado, enquanto uma mulher era assaltada, e não viu nada — comentou Hammer iradamente, pensando outra vez em Bubba, Smudge e na sua conversa em fragmentos.
— Nunca ninguém vê nada — disse West.
O Governador Mike Feuer era um homem alto e magro, de sessenta e poucos anos, com um olhar penetrante que ardia de compaixão e amor pela verdade. Os republicanos comparavam-no muitas vezes a Abraham Lincoln, sem a barba. Os democratas chamavam-lhe O Fuhrer.
— Compreendo perfeitamente e estou igualmente aborrecido — dizia ele por um telefone seguro, no banco de trás da sua limusina preta à prova de bala, enquanto atravessava o centro da cidade.
— Governador, já o viu ainda? — A voz de Lelia Ehrhart fazia-se ouvir numa linha que não podia ser interceptada por telemóveis, scanners ou CBs.
— Não.
— Tem de poder.
Ele suspirou, olhando de relance para o relógio. Tinha dez reuniões marcadas para aquele dia. Devia telefonar a, pelo menos, seis legisladores que lutavam duramente contra e a favor de leis da Câmara dos Representantes e do Senado que eram apresentadas perante uma Assembleia Geral indiferente e pomposa.
Devia estar preparado para uma entrevista ao USA Today, assinar uma proclamação, reunir com o seu gabinete, receber informações do Subcomité Interno das Finanças e realizar duas conferências de imprensa. Era o octogésimo sexto aniversário da sua mãe e ainda tinha de arranjar maneira de lhe enviar flores. Doíam-lhe outra vez as costas.
— Se arranjasse tempo para passar por lá e ver pessoalmente em pessoa — dizia Ehrhart. — Acho que vai ficar chocante e, se não der uma olhadela hoje, é um risco, porque tem de se acabar por removê-lo para ser restaurado. Não servirá para nada se for ver mais tarde, pois então estará no original outra vez.
— Então, os danos não devem ser muito grandes — retorquiu ele razoavelmente. Agentes da polícia estadual da Unidade de Protecção de Executivos seguiam, à paisana, em Chevrolets Caprice, à frente e atrás da sua limusina.
— É a acção que conta, Governador — continuou ela no seu sotaque único.
O Governador Feuer imaginava-a em criança, no chão, a lutar com cubos que não conseguia colocar exactamente na ordem certa.
— Que infame decisão — dizia ela.
— Francamente, estou mais preocupado com...
— Por favor, arranje minutos. E não estava com o pensamento de interromper.
Na verdade, era essa a sua intenção, mas o governador deixou passar, porque era um homem justo e seguro de si, que acreditava em segundas oportunidades. Naquele dia, Lelia Ehrhart tinha direito a mais uma, antes de ele lhe desligar o telefone.
— é claro que o cemitério está fechado e não vai abrir ao público em breve — disse Ehrhart. — Mas vou certificar-me de que a fechadura não está presa para si.
O governador carregou no botão do intercomunicador.
— Jed?
— Sim, senhor? — respondeu Jed do outro lado da divisória de vidro, com o olhar atento no espelho retrovisor.
— Temos de passar pelo Cemitério Hollywood. — O governador olhou novamente para o relógio. — Tem de ser rápido.
— Como queira, governador.
— Lelia — disse ele para o telefone —, considere a coisa feita.
— Oh, o senhor é maravilhoso.
— Na verdade, não sou — retorquiu ele num tom cansado, pensando novamente no aniversário da mãe.
No ginásio totalmente equipado do terceiro andar da sua mansão de tijolo de West Cary Street, protegida por grandes portões de ferro, Lelia Ehrhart voltou a colocar o telemóvel no carregador. Tinha a testa suada e os braços a tremer por ter estado a executar exercícios para os rombóides, o trapézio, os tricípedes, os deltóides e os peitorais nos aparelhos respectivos antes de o governador ter respondido ao seu telefonema.
Quando agora? — perguntou ela animadamente ao seu treinador, Lonnie Fort.
— Remo, sentada — disse ele.
— Não mais remo. Simplesmente, não posso nunca. — Bebeu um pouco de Evian e. limpou o rosto com uma toalha. — Acho que temos que chegue desses músculos, Lonnie. Na verdade, não gosto de treinar assim tão cedo. Todo o meu sistema está em estado de choque. É como sair da cama e saltar para o oceano Árctico. E não sou nada pinguim — disse ela numa vozinha engraçada. — Não tenho nada de fria.
— Lamento ter sido necessário encontrarmo-nos tão cedo, Mrs. Ehrhart.
— Não teve culpa, culpa nenhuma. Esqueci-me que tinha um dentista marcado.
Lonnie estudou o circuito que Ehrhart devia cumprir nessa manhã, registando o número de halteres e respectivos pesos.
— Obrigada por me ter enfiado — disse ela. — Mas não foi nada simpático que Buli o marcou para a mesma hora das nove da manhã em que sempre estamos a fazer isto. E claro, ele tem tanta gente a trabalhar para ele. Provavelmente, não sabia lembrar-se, uma vez que os outros fazem sempre isso para ele.
— Tem toda a razão, Mrs. Ehrhart.
O filho da mãe. Pensou no marido, um dentista riquíssimo, com todos os seus anúncios na rádio e consultórios em centros comerciais e empregados bajuladores. Que ela soubesse, já tinha tido casos com três higienistas dentárias e, embora o número fosse provavelmente superior, que diferença fazia? Lelia Ehrhart nunca o perdoaria pelo primeiro.
— Portanto, diga a mim, Lonnie, Buli vai pôr coroas em todos os seus dentes, como faz a toda a gente? — perguntou Ehrhart ao treinador, que tinha um corpo tão magnífico que lhe apetecia passar as mãos e a língua por todo ele.
— Ele diz que consegue dar-me um sorriso de Hollywood — respondeu Lonnie.
— Ah! Ele diz isso sempre a todos.
— Não sei, o certo é que as assistentes têm lindos sorrisos e disseram-me que ele lhes pôs capas em todos os dentes.
A menção da palavra assistente queimou Ehrhart como um ferro em brasa.
— Mas não sei — repetiu Lonnie.
— Não o faça! Não! — pediu-lhe Ehrhart. — Depois de feito, não se pode desfazer e é permanentemente. Buli já triturou todos os dentes da cidade, Lonnie.
— Bem, ele tem uma bela vida — disse Lonnie.
Ligou a extensão mais pequena à roldana inferior do aparelho de fitness Trotter MG2100 e acoplou a barra giratória, com os seus músculos esculpidos a trabalhar suavemente sob a pele lisa e bronzeada.
— No fim, vai acabar por ficar com uma data de bicos que o vão fazer parecer um canibal comedor de gente. Também vai ter dificuldade em falar e vai precisar de fazer canais de raízes — avisou-o a esposa do dentista. — Os seus dentes são tão beleza!
— Tenho este espaço entre os dois da frente — disse ele, mostrando-lhe.
— São perfeitos! Há quem pense que esse espaço é muito sexy.
— Está a brincar? — Olhou para os dentes num dos muitos espelhos enormes.
— Oh, não, de maneira nenhuma.
Ela olhou intensamente para a boca dele e ficou furiosa por ter deixado o marido convencê-la a pôr capas nos seus dentes. Sentia-se estragada. As capas não eram tão naturais como os dentes que ele polira. Tinha dores de cabeça frequentes e tinha sensibilidade à temperatura e à pressão em três molares. Lelia Ehrhart invejava dentes naturais, mesmo que não fossem perfeitos, e corpos belos. Andava obcecada por ambos e nunca os teria.
— Exercícios de braços. — Lonnnie voltou ao trabalho, segurando o haltere com ambas as mãos para demonstrar.
— Os meus braços estão abanados — queixou-se ela, com um sorrisinho frágil. — Tem de me mostrar outra vez mais uma vez. Nunca consigo fazer este acertado. Sinto-os sempre atrás das costas e sei que não deve ser assim.
Ele mudou a cavilha para setenta quilos e fez a demonstração, com os bíceps a sobressaírem, quais enormes ondas no oceano, uma concentração de energia capaz de uma força inimaginável, uma montanha para ela escalar e conquistar.
— Levante apenas com os braços — disse ele. — Não se incline para trás. Se usar as costas, está a fazer batota.
Baixou o peso para dez quilos. Ehrhart pegou no haltere e ergueu-o à largura dos ombros, pegando-lhe por baixo, com as palmas das mãos para cima e os cotovelos encostados ao corpo, tal como aprendera. Olhou-se no espelho, pensando que a escolha dos collants Nike azuis não fora lá muito boa, pois as riscas vermelhas acentuavam as suas ancas largas. No fundo, o preto era o melhor para a parte inferior do corpo e as cores vivas para a parte de cima, como o soutien desportivo verde que trazia hoje.
— Vinte repetições — disse-lhe Lonnie.
A conversa com o Governador Fiihrer dera-lhe ânimo. Quantas pessoas poderiam pedir para falar com o governador da Virgínia e tê-lo ao telefone passados vinte e dois minutos? Não muitas, disse a si própria enquanto se esforçava. Não muitas e desta vez não tivera nada a ver com o poder do marido ou com os seus donativos.
— Todos nós temos os nossos complexos — disse ela a Lonnie, esforçando-se por respirar. — Os nossos lugarzinhos secretos e inseguros que os outros não vêem. Até eu tenho. Já lhes perdi a contagem. — Arfou.
— Dezasseis.
— Dezassete, dezoito, santo Deus, está a esfolar-me.
— Que complexos pode a senhora ter? Quantas mulheres da sua idade fazem tanto exercício e no seu próprio ginásio? Para já não falar da sua casa!
O comentário foi um golpe no seu ego e na sua auto-estima. Queria que ele dissesse que não havia na Terra outra como ela, que a idade e um marido rico não tinham nada a ver com isso. Queria ouvi-lo dizer que era divina, que o seu rosto era tão belo que petrificava qualquer mortal e o seu corpo fatal para os que ousassem contemplá-lo. Queria que Lonnie provasse a dor de a olhar, queria-o possessivo, obcecado, ciumento. Queria que o desejo por ela fosse tal que não conseguisse dormir.
— O meu complexo maior é recear de não ter tempos suficientes para o meu marido — mentiu ela. — Para atender as suas necessidades infinitivas, que são insatisfeitas. Suponho que preocupo-me ansiosamente que o meu domínio no governo do estado traz responsabilidades tão grandes que muitas vezes negligencio a família e muitos, muitos amigos e não tenho tempos para eles. Preocupo-me ansiosamente de vir a ficar ultramusculosa. Não quero ser ultradesenvolvida.
Lonnie mirou-a de alto a baixo.
— Oh, eu cá não me preocupava com isso — assegurou-lhe ele. — O seu corpo não é do tipo que fica ultramusculoso, Mrs. Ehrhart.
— Suponho que sou do tipo suave e feminino — decidiu ela.
— Da próxima vez, medimos novamente o nível de gordura.
— E depois, as crianças. — Continuava a desenrolar os seus complexos, que cresciam à medida que Lonnie falava. — Ontem à noite, estive tão ocupada que passei demasiado pouco tempo com eles individualmente, com ambos os dois, por causa da reunião do comité por ter de telefonar a mandar ser mais cedo. E mal tive tempo para isso. E porquê? — Lançou-lhe um sorriso coquete. — Para estar aqui consigo uma hora mais cedo antes do habitual.
— Admiro a sua dedicação — disse Lonnie, olhando para o relógio e poisando a prancheta num banco. — Isto tem o seu custo. Quem não arrisca, não petisca.
— Não ponha capas nos seus dentes! — pediu-lhe ela veementemente. — E não se atreva a dizer a Buli que lhe deitei fora o negócio. — Piscou-lhe o olho. — E depois a seguir?
— Abdominais — disse Lonnie. — E fica quase despachada.
— Não sei se vejo progressos. — Colocou as mãos na barriga e olhou para o espelho. — Todo este esforço por um bocadinho assim. Ainda odeio mais intensamente os abdominais que os outros.
Ele estudou-lhe o tronco, com o suor a manchar-lhe a camisola Met-Rex e a dourar-lhe a pele.
— Para quê este trabalho? — continuou ela.
— Já se esqueceu de como estava quando começou — disse ele. — Não dá conta de quanto progrediu, porque se vê ao espelho todos os dias. Os seus abdominais estão definitivamente melhores, Mrs. Ehrhart.
— Estou muito nas dúvidas. Olhe.
Pegou nas mãos dele, contra a sua vontade, e colocou-as na sua barriga.
— E então? Ele não reagiu.
— Talvez quando se é da minha idade mais velha, nesta fase da vida, já não há remédio e não se pode mudar. A natureza já não vai colaborar e fazer aquilo que queremos.
Lonnie não se mexeu. Ela empurrou-lhe as mãos um pouco para cima.
— Está em excelente forma — disse ele, exagerando.
— Buli anda por aí, a pôr capas em todos os dentes da América do Norte — respondeu Ehrhart, empurrando-lhe as mãos mais um pouco. — Sabe por que lhe deram a alcunha Buli? Não é por causa do general que ele pensa ser da família, Lonnie.
— Pensei que talvez tivesse a ver com a bolsa.
— A razão é por causa de...
— Tenho mesmo de ir embora, Mrs. Ehrhart.
Ela pressionou as mãos dele, grandes e fortes, contra o corpo, acabando por as fazer apertar-lhe os seios pequeninos.
— Qual foi a mulher mais velha que já teve antes? — murmurou ela.
— Acho que foi a minha professora do oitavo ano — disse ele.
— Que foi quando?
— Quando andava no oitavo ano.
— Meu Deus, devia ser muito grande para a sua idade.
— Mrs. Ehrhart, tenho de ir para não me atrasar para a minha consulta. é muito difícil arranjar consulta no seu marido. Bem, acho que nem sequer conseguia, se não fosse por si.
Lelia Ehrhart retirou-lhe as mãos. Agarrou, irada, numa toalha e enrolou-a em volta do pescoço.
— Então, a seguir vamos para onde? — quis ela saber, invadida por todas as suas fobias e incertezas.
— Ainda não fez pernas.
O Governador Feuer dobrou cuidadosamente o New York Times, o Wall Street Journal, o Washington Post, o USA Today e o jornal de Richmond. Empilhou-os sobre o tapete preto e ficou a olhar, pelos vidros fumados, para os peões, que lhe devolviam o olhar.
Todos sabiam que uma limusina preta com o número 1 na matrícula não era de Jimmy Dean ou Ralph Sampson. Também não se tratava de miúdos a caminho do baile do liceu.
— Senhor? — disse Jed pelo intercomunicador. — Vou descer pela Tenth, corto pela Broad para evitar o trânsito, passo pelo tribunal em direcção a Leigh e chego a Belvidere. Daí, é um pulinho até ao cemitério.
— Ummmmm.
— Se achar bem, senhor — acrescentou Jed, que era obsessivo-compulsivo e carente.
— Está óptimo — disse o governador, que subira a pulso, passando de procurador-geral a vice-governador e a governador e que, portanto, não andava sozinho pelas ruas de Richmond há mais de oito anos. Limitava-se a seguir as deslocações pelo seu amado estado através da janela de um banco traseiro, com escoltas da polícia a abrir caminho e a proteger-lhe a retaguarda.
— Já tenho o esquema — disse Jed em voz alta pelo rádio de segurança. — Vou virar para a Tenth.
— Estão cobertos — respondeu o carro da frente.
A altercação entre Patty Passman e o agente Rhoad ultrapassara a simples briga ou ligeira animosidade que poderia ser resolvida com bom senso, perdoada ou talvez até esquecida.
Ao longo da lOth, havia carros em estacionamento duplo, atravessados a menos de cinco metros de bocas de incêndio, fora de mão, em cima do passeio. Condutores e peões tinham-se aglomerado para ver a briga, enquanto carros-patrulha com as sirenes aos uivos e as luzes a piscar acorriam de todas as direcções.
Passman não largava Rhoad, que corria em círculos, a gritar “SOCORRO” para o rádio-portátil, enquanto ela torcia e apertava.
— Ai! Ai! — guinchava Rhoad, enquanto ela seguia obstinadamente todos os movimentos dele, sem o largar, torturando-o. — Larga-me! Por favor! Por favor! Ahhhhhhhhhh! AHHHHHHHHHH!
A multidão estava frenética.
— Força, amiga!
— Puxa com força!
— Dá-lhe!
— Nos tomates! Força!
— Ei, dá-lhe um murro, meu! Arranca-lhe os olhos!
— Isso, esborracha-lhe o nariz!
— Arranca a banana da bananeira, minha!
— Põe-no em ponto morto, querida!
— Larga-o, sua gorda!
— Esvazia-lhe os balões!
— Força, menina!
A multidão continuava a gritar, quando uma cintilante limusina preta e dois Caprices à paisana cheios de antenas atravessaram Broad Street. A comitiva encostou na lOth Street, abrindo caminho para dois carros-patrulha com as luzes a piscar e as sirenes ao máximo. Do cruzamento de Marshall e Leigh chegavam outros carros da polícia a guinchar, enquanto um carro dos bombeiros ribombava e uivava ao longo de Clay Street.
Jed desejava ardentemente saltar da limusina e juntar-se à multidão. Os chuis deviam estar atrás de um fugitivo, alguém da lista dos dez mais procurados pelo FBI, talvez um assassino em série. Era evidente que a mulher gorda era uma tarada qualquer e que os polícias fardados não conseguiam controlá-la.
— Que se passa? — perguntou o Governador Feuer pelo intercomunicador.
— Uma tarada qualquer, provavelmente com uma pedra de PCP* ou crack. Ena, olhe para ela, tal e qual um malditopit buli! Pôs meia dúzia de polícias aos saltos e a estatelarem-se no chão!
Nome por que é conhecido um alucinogénio, originalmente utilizado como anestésico para animais.(NT)
O governador passou para o outro lado do banco de couro preto em forma de ferradura, onde se podiam sentar seis pessoas. Esforçou-se por ver por cima da enorme cabeça de Jed.
Ficou espantado ao deparar com uma mulher gordíssima, agarrada a um polícia alto e magro, já entradote. De um dos punhos dela baloiçava um par de algemas e a mão livre da mulher estava enfiada nas virilhas do pobre desgraçado. Ela torcia e esmagava, praguejando e dando pontapés. Fazia girar as algemas como uma arma, afastando os polícias que se aproximavam.
— Ena! — exclamou Jed.
— Que horror — disse o governador. — E absolutamente horrível.
— Temos de fazer qualquer coisa, chefe.
O Governador Feuer concordou, sentindo a fúria a crescer. Aquilo não tinha graça nenhuma. A violência não era divertida. Abriu a porta de repente e, antes de Jed ou o guarda-costas o conseguirem deter, abriu a mala do carro e arrancou de lá um extintor.
Correu para o meio da confusão e, para espanto de todos, cobriu Patty Passman com Halon 1301. Chocada, ela largou Rhoad e os polícias derrubaram-na e seguraram-na. Quatro agentes da escolta levaram rapidamente o governador para a limusina.
— Assim é que é! —Jed estava muito orgulhoso do seu chefe.
O governador verificou se o seu fato de caxemira preta às riscas não tinha resíduos de Halon, mas o miraculoso produto não deixara vestígios. Ficou a ver a mulher tresloucada a ser enfiada num carro da polícia, algemada. O pobre agente estava de joelhos no meio da rua, agarrado às partes e a gritar. A Imprensa chegava em força, avançando com as câmaras de televisão e os microfones, quais espadas desembainhadas.
— Segue para Hollywood — ordenou o governador.
— Na verdade, não temos tempo, chefe — afirmou Jed.
— Nunca temos — disse o governador, fazendo-lhe sinal para continuar.
Weed decidiu que já ficara o tempo suficiente naquele buraco cheio de canos partidos. Escorria água de um sítio qualquer. Ali perto estava parado um trenó e viam-se montes de pás e enxadas espalhadas pelo chão.
Começou a recear que o buraco fosse, de facto, uma sepultura, embora não tivesse a forma adequada. Talvez as pessoas tivessem ido almoçar 258 mais cedo e, de repente, começasse a cair terra em cima dele e o enterrassem vivo.
Deu uma espreitadela e não viu sinais de Brazil, nem de mais ninguém. Só se ouviam os pássaros. Saiu do buraco e deu uma corrida até à vedação do cemitério. Trepou-a no momento em que o Lemans passava lentamente. Dog, Beeper e Sick andavam à procura dele para Smoke o poder matar e atirá-lo ao rio. Weed voltou para dentro do cemitério e desatou a correr sem destino, ziguezagueando por entre túmulos e saltando por cima de monumentos.
Brazil corria igualmente e podia ter continuado naquele ritmo durante horas, embora preferisse não estar de botas, pois já lhe doíam as canelas. Quanto mais frustrado ficava, mais depressa corria.
Cortou para Riverview, voando por entre memoriais, monumentos, placas, esculturas, jarrões e tabuletas. Minúsculas bandeiras da Confederação encorajavam-no a continuar. Um trabalhador, com vários rolos de fio de nylon atados ao cinturão, aparava a relva em volta das pedras, com o cortador a zumbir e a estalar, enquanto ele o manobrava com a perícia de um cirurgião.
— Viu um miúdo com um fato dos Chicago Bulis? — gritou Brazil ao aproximar-se.
— Como a estátua?
— Só que mais pequeno — disse Brazil, passando a correr.
— Não — disse o homem, continuando a trabalhar.
Brazil serpenteou por entre um cordeiro de mármore e um mausoléu, saltou sobre um arbusto e, para seu grande espanto, aterrou quase em cima de Weed. Agarrou-o pela camisola, sacou os pés de debaixo dele e sentou-se em cima do rapaz, prendendo-lhe os braços ao chão.
— Mudei de ideias — gritou Weed. — Pode prender-me.
Bubba perdera o controlo, o que era óbvio para todos. Sentia-se humilhado e enjoado. Quando o agente Budget abriu a porta de trás do carro-patrulha e exclamou “Caramba, grande merdoso”, teve a certeza de que mais uma alcunha horrenda acabara de ser acrescentada à lista.
— Lamento — disse Bubba —, mas eu avisei-o...
— Caramba, caramba — exclamou Budget.
Estava fora de si, quase a vomitar, enquanto abria as algemas de Bubba, perante o olhar da chefe-adjunta Hammer e de West.
— E quem é que vai limpar isto? Caramba! Não posso acreditar!
Bubba não podia ter ficado mais envergonhado. Tinha a certeza absoluta de que o seu destino era cruzar-se com Hammer, mas não desta forma. Não assim, meio despido, sujo, gordo e borrado. Nem conseguia olhar para ela.
— Agente Budget — disse Hammer inexpressivamente —, queira deixar-me sozinha com ele por uns minutos, por favor. Major West? Vou ter consigo às traseiras do Kmart.
— Informá-la-emos do que disser o médico-legista — disse Budget a Hammer —, para o caso de não chegar lá antes de ele se ir embora.
— Ela — corrigiu-o West.
Hammer concentrou-se em Bubba, que parecia pasmado por ela não dar sinais de reparar no seu dilema indescritível.
— Chefe-adjunta Hammer? — gaguejou ele. — Eu... ha... — Engoliu em seco. — Eu não queria...
Ela ergueu a mão para o calar.
— Não se preocupe — disse-lhe.
— Como não? — disse ele, quase a chorar. — E eu só queria ajudar!
— Ajudar quem?
Ela parecia interessada e sincera. Bubba não tinha percebido que ela era tão atraente, não exactamente bonita, mas forte e impressionante, no seu fato às riscas. Pensou se traria arma. Talvez a trouxesse na mala. O seu pensamento tornou-se confuso. O vento mudou a desfavor de Hammer, que se afastou um pouco para a direita.
— A quem é que está a tentar ajudar? — perguntou ela. — A mulher que acabou de ser assassinada? Viu alguma coisa, Mr. Fluck?
— Oh, meu Deus! — Bubba ficou chocado. — Assassinaram uma senhora aqui mesmo? Quando?
— Enquanto estava aqui estacionado, Mr. Fluck.
As tripas de Bubba estavam novamente a fazerem-se ouvir, quais nuvens negras prestes a descarregar outra tempestade violenta. Pensou na sua T-shirt suada, coberta de sangue, a caminho dos laboratórios da polícia.
— Tem a certeza de que não viu nada? — A chefe continuava a pressioná-lo.
— A minha Anaconda estava presa — respondeu ele. Ela ficou a olhar para ele.
— Não conseguia soltá-la — acrescentou ele. A chefe continuava sem dizer nada.
— Portanto, baixei-me e comecei a puxá-la, sabe, com o máximo cuidado. Está a ver, tinha medo que se disparasse. Depois, tive uma hemorragia nasal.
— Isso foi quando? — perguntou Hammer.
— Acho que foi quando mataram a senhora. Juro. Estive no chão do jipe desde que o agente Budget me deixou. Não fiz mais nada, até ele vir bater na minha janela. Não podia ter visto nada, porque estava no chão, é isso que quero dizer, minha senhora.
Não sabia se ela acreditava nele. O comportamento dela não dava sinais de crueldade ou falta de respeito, mas parecia astuta e muito esperta. Apavorava-o. Por um momento, esqueceu-se do seu aperto, até ver um operador de câmara do Canal 8 a dirigir-se para eles, direitinho à chefe; o homem ficou subitamente com um ar enojado, olhou para as calças camufladas de Bubba e mudou de direcção.
— Parece que a vítima foi assaltada aqui mesmo, no multibanco — explicou Hammer a Bubba. — Não lhe estou a dizer nada confidencial, pois tenho a certeza de que em breve o vai ouvir nas notícias. Estava estacionado a menos de quinze metros do multibanco, Mr. Fluck. Tem a certeza absoluta de que não ouviu nada? Talvez vozes, uma discussão, um ou mais carros?
Bubba concentrou-se. O Canal 6 dirigiu-se a eles e mudou rapidamente de direcção. Bubba teria dado tudo para ajudar esta corajosa mulher e partia-lhe o coração o facto de, a única vez que tinha oportunidade, não poder fazer nada e cheirar tão mal.
— Merda — murmurou um repórter do WRVA, parando e recuando. — No vosso lugar, não ia para ali — disse ele para a equipa do Canal 12.
— Que se passa? — perguntou o Style Magazine ao Richmond Magazine. — Rebentou um cano de esgoto?
— Não faço ideia, só sei que cheira a merda. Será aquele tipo? Cada vez mais confuso, Bubba entrou em alerta vermelho.
— Que grande merdoso. — Um repórter do Times-Dispatch abanou a mão em frente da cara.
O sangue de Bubba fervia e não ouviu uma palavra do que lhe dizia a chefe-adjunta Hammer. Estava totalmente concentrado no grupo de repórteres, operadores de câmara, fotógrafos e técnicos aglomerados junto do seu jipe. Mostravam-se agitados e furiosos, a falar e a coscuvilhar em voz alta, chamando-lhe Merdoso.
— Alguém viu o que se passa atrás do prédio?
— Não deixam ninguém aproximar-se.
— É melhor nem tentar. Assim que nos aproximamos do centro de jardinagem, os chuis mandam-nos recuar.
— Pois, um idiota tapou-me a lente com a mão.
— Que grande merdoso, pá.
Bubba deixou de raciocinar, como sempre lhe acontecia quando ouvia as vozes e os risos estridentes, oriundos da zona perigosa e dorida do seu cérebro. Viu uma legião de caras destorcidas por sorrisos cruéis e ditos jocosos.
— O meu chefe vai matar-me. é outro merdoso, pá!
— Parem! — gritou Bubba aos repórteres.
Subitamente, o seu olhar ficou outra vez focado. Hammer olhava para ele, pasmada. A Imprensa não estava interessada.
— Talvez o corpo se esteja a decompor — dizia um deles.
— Está atrás do armazém.
— Podia já estar aqui. Talvez o tenham deslocado por qualquer razão. — Isso não faz sentido.
— Bem, talvez não quisessem deixá-lo aqui, em frente do banco.
— é impossível ter estado aqui o tempo suficiente para se decompor sem que ninguém reparasse antes desta manhã.
— Oh, agora és médico-legista.
— Talvez o tenham largado aqui. Sabem, a vítima pode ter morrido há tempos, começou a ficar podre e o assassino quis ver-se livre dela.
— é uma ela?
— Talvez.
— Largou-a aqui?
— Estou só a dar palpites.
— Pois, idiota, queres é que nós escrevamos isso e façamos figura de parvos.
— Então, o que é que cheira tão mal?
— Chefe-adjunta Hammer? — um repórter ergueu a voz sem se aproximar. — Pode fazer-me uma declaração?
— Não fale com eles! — pediu Bubba em pânico. — Não os deixe fazerem-me isto! Por favor!
— A verdade é que me parece que a nossa fonte é ele — adiantou um repórter. — Olhem para as calças dele. Nem tudo aquilo é camuflagem.
— Merda, pá.
— Está a ver! — sibilou Bubba.
— Como é que ela pode estar ali? Aqui atrás já é bastante mau.
— Ouvi dizer que é dura.
— Estou interessada na sua matrícula personalizada — disse Hammer a Bubba.
Enquanto conduzia rapidamente o carro celular por Leigh Street, o agente Horace Cutchins só pensava no seu Game Boy e no Tetris Plus.
Estava de serviço apenas há três horas e já levara dois sujeitos à cadeia, ambos ciganos apanhados a assaltar uma mansão de estilo Tudor em Windsor Farms. Cutchins não compreendia por que motivo as pessoas não aprendiam.
Os ciganos atravessavam a cidade duas vezes por ano, nas suas migrações para norte e para sul. Toda a gente o sabia. A imprensa publicava muitas histórias e artigos e o Sargento Rink de Crime Stoppers oferecia avisos inflamados, formas de prevenção e dicas para autodefesa em todas as redes locais de televisão e estações de rádio. Tabuletas com “Os ciganos estão de volta” eram afixadas em locais visíveis, como habitualmente.
E, no entanto, os ricos habitantes de Windsor Farms continuavam a sair para ir buscar o jornal, trabalhavam no jardim ou no pátio, sentavam-se à beira das piscinas a conversar com os vizinhos, ou andavam pela casa com os alarmes desligados e as portas destrancadas. Portanto, o que é que esperavam?
Cutchins acabara de virar para o parque de estacionamento das traseiras da Engine Company, onde esperava poder continuar o seu jogo quando o rádio o chamou.
— Vá ao encontro da unidade 112 em Tenth Street para ir buscar um prisioneiro — informou-o o oficial de comunicações.
— Afirmativo — respondeu ele. — Foda-se — disse para si próprio. Ouvira o pedido de ajuda e sabia que Rhoad Hog estava envolvido numa altercação com uma mulher. No entanto, quando lhe pareceu que tinha sido feita uma captura, Cutchins partiu do princípio de que o sujeito seria transportado numa unidade normal.
Afinal, não era provável que uma mulher fosse partir a divisória a pontapé e, mesmo que a divisória não encaixasse bem porque os idiotas dos Serviços de Manutenção tinham tirado uma de um Caprice, por exemplo, aplicando-a num Crown Vzc, neste caso não tinha importância. Uma prisioneira não estava equipada para mijar em cima do agente, através de aberturas e espaços causados por instalações deficientes.
Cutchins fez inversão de marcha e voltou a entrar em Leigh Street, acelerando para despachar a chamada e poder fazer uma pausa. Virou para a lOth e chegou ao local no momento em que a detective Gloria De Souza saía do seu carro descaracterizado.
Rhoad Hog e mais três tipos de uniforme estavam à espera de Cutchins. A prisioneira era uma mulher gorda e feia que lhe pareceu vagamente familiar. Estava sentada na borda do passeio, com os pulsos algemados atrás das costas e o cabelo em desalinho. Respirava com dificuldade e parecia poder fazer algo de inesperado a qualquer momento.
— Muito bem, Miss Passman, vou ter de a revistar — disse a Detective De Souza. — Preciso que se levante.
Miss Passman não se mexeu.
— Coopera, Patty — avisou-a um dos agentes. Ela recusou-se.
— Minha senhora, vai ter de se levantar. Não torne isto ainda mais difícil.
Passman não estava a tentar tornar as coisas mais difíceis. Muito simplesmente, com as mãos presas atrás de si, não conseguia levantar-se sozinha.
— Levante-se — disse De Souza com ar sério. i, — Não consigo — retorquiu Passman. ’i — Então, temos de a ajudar, minha senhora.
— Como queiram — disse ela.
De Souza e outro agente pegaram em Passman por debaixo dos braços e ergueram-na, enquanto Rhoad se mantinha a uma distância segura. Cutchins saltou para fora da carrinha Dodge branca e deu a volta para abrir as portas de trás. De Souza dobrou-se e passou rapidamente as mãos pelas pernas gordas de Passman acima, sentindo as meias descaídas e cheias de malhas e abrindo caminho para áreas onde nenhuma mulher tocara, à excepção da sua ginecologista. Passman tentou dar um pontapé a De Souza e quase caiu.
— Dêem-me as algemas flexíveis! — pediu De Souza, enquanto segurava as pernas de Passman. — Se fizer isso outra vez, minha senhora, vou ter de a imobilizar!
De Souza segurou-a enquanto um agente colocava as algemas de plástico flexível nos tornozelos de Passman, apertando bem, como se ela fosse um saco de compras.
— Ai!
— Esteja quieta!
— Isso dói! — gritou Passman.
— Óptimo! — gritou Rhoad com entusiasmo.
A detective De Souza continuou a revista, passando as mãos experientes pela topografia de Passman, penetrando nas suas fendas, atravessando os desfiladeiros e passando por entre os sopés das montanhas, enquanto Passman praguejava, gritava e lhe chamava lésbica. Os polícias ajudaram-na a levantar-se.
— Tira a merda das mãos de cima de mim, sua fufa! — gritava Passman. — Isso mesmo! Dormes com a treinadora da porra da equipa de fufas de softball e toda a gente do departamento e do posto de rádio o sabe!
Cutchins esqueceu momentaneamente o jogo de Tetris. Sempre pensara que era um desperdício uma mulher bonita como De Souza estar naquela, não que as lésbicas o incomodassem, pois até as via sempre que tinha acesso a canais privados. Simplesmente, era contra a discriminação. De Souza não partilhava o seu corpo com homens e Cutchins não achava isso justo.
Infelizmente, Cutchins estacionara do outro lado da lOth e era mudança de turno no hospital da Faculdade de Medicina da Virgínia. De um momento para o outro, o trânsito entupiu, os passeios e as ruas encheram-se de enfermeiras, nutricionistas, serventes, seguranças, administradores, internos e capelães, todos exaustos, mal pagos e irritáveis. Os carros pararam para deixar a mulher algemada e os chuis atravessarem para a carrinha que os esperava. Os peões abrandaram a sua marcha impaciente, enquanto Passman avançava desajeitadamente, aos pulos.
— Seus cabrões! Para onde é que estão a olhar? — gritava ela.
— Vai-te lixar!
— Pula! Pula! Pula! — cantava um grupo de internos cheios de sono.
— Gafanhoto!
— Filhos da puta! — berrava Passman, com o nível de açúcar no sangue mais baixo que nunca, em estado consciente.
— Pipoca! — gritou um escriturário.
Passman lutava, torcendo-se como uma cobra, silvando e arreganhando os dentes para os seus detractores. Os agentes faziam os possíveis por a levar, enquanto os mirones e os condutores ficavam cada vez mais excitados. Rhoad seguia atrás, fora de alcance.
Pigeon fartara-se do cemitério e estava a vasculhar um caixote do lixo, de onde, até agora, recuperara parte de um hurrito do 7-Eleven e um recipiente de café com tampa, meio cheio. Ficou a ver o cruel desfile a passar, com uma mulher aos saltos como se estivesse numa corrida de sacos. Subitamente, envergonhou-se do seu coto e ficou furioso com a multidão.
— Não lhes ligue — disse ele à mulher gorda, quando ela passou por ele aos pulos, e deu uma dentada no bttrrito. — Hoje em dia, as pessoas são muito mal-educadas.
— Cale-se, seu vira-latas aleijado! — respondeu-lhe a mulher aos gritos.
Pigeon lamentou mais um péssimo exemplo da natureza humana. Continuou na sua caça ao tesouro, sempre na peugada de multidões que podiam deitar coisas fora.
De Souza apertou o braço de Passman como um torno.
— Foi ele quem começou! — Passman virou-se e olhou furiosa para Rhoad. — Por que não o engaiolam?
Os chuis empurraram-na para dentro da carrinha e fecharam a porta.
A missão que o INJ confiara à chefe-adjunta Hammer consistia em implementar no Departamento de Polícia de Richmond o Modelo de Controlo de Crime de Nova Iorque, como fizera em Charlotte. Se a saúde, a energia e o dinheiro o permitissem, fá-lo-ia igualmente noutras cidades e era compreensível que isso lhe criasse alguns dilemas.
Permanecia ao lado de Bubba, escutando-o e falando com ele, mas pensava que estava perder resistência e profissionalismo. Queria hvrar-se, mas não podia e recusava-se a passar a bola, desviar o olhar, ir-se embora e fazer de conta que não era nada com ela. Estava ali e pronto. Quando um polícia faz uma pergunta a um suspeito, tem de ouvir a resposta, por mais longa e arrastada que seja.
Bubba estava a contar-lhe a história da sua matrícula personalizada, recordando a sua ida ao DMV na Johnston Willis Drive, entre os Whitten Brothers Jeep e Dick Strauss Ford. Na secção de serviço ao cliente, esperara na fila durante cinquenta e sete minutos para vir a saber que BUBBA já estava registado, assim como BUBA, BUBBBA, BUUBBBA, BUBEH, BUBBEH, BUBBEH, BG-BUBA, BHUBBA e BHUBA. Ficara desanimadíssimo e consumido e não conseguia pensar em mais nada que não excedesse as sete letras. Desmoralizado e emocionalmente esgotado, aceitara o facto de não poder ter uma matrícula personalizada.
— Então — pareceu momentaneamente revitalizado pelo relato infindável —, a senhora do balcão disse que podia ser Bubah e eu perguntei se podia levar hífen e ela disse que lhe era indiferente porque o hífen não conta como letra e eu pensei que era óptimo, pois achei que era mais fácil pronunciar Bubah com hífen.
Hammer pensava que Bubba tinha um cúmplice chamado Smudge e, no seu espírito, ia-se formando um cenário realista e credível, enquanto ele continuava a falar e os repórteres se mantinham à distância. Fosse como fosse, Bubba e Smudge sabiam que Ruby Sink e Loraine iriam ao multibanco do First Union perto do Kmart.
Provavelmente, os homens tinham estado à espera da abastada senhora, com as luzes e os motores desligados e, quando ela saiu de casa, tinham-na seguido, ondeando por entre o tráfego e mantendo o contacto entre si pelo telemóvel e pelo CB.
Neste ponto, a reconstituição do crime tornou-se menos definida. Para dizer a verdade, não fazia ideia do que teria acontecido a seguir e não era do género de fantasiar. No entanto, não podia simplesmente afastar-se irresponsavelmente e dizer aos seus homens que o crime era problema deles.
Tinha de fazer com que Bubba respondesse à questão sobre Smudge, sem que ele se apercebesse da pergunta.
O governador Mike Feuer estava a falar pelo telefone do carro há quinze minutos, o que era uma sorte para Jed, que se enganara em cinco cruzamentos e atravessara uma viela a alta velocidade, perdendo os escoltas, antes de dar com Cherry Street. Passou pelo cemitério e acabou por ir ter a Oregon Hill Park, onde deu a volta, seguindo na direcção errada em Spring Street. Foi ter a Pine Street, ao Mamma’Zu, que tinha a fama de ser o melhor restaurante italiano a sul de Washington D.C.
— Jed? — disse a voz do governador pelo intercomunicador. — Aquilo não é o Mamma’Zu?
— Acho que sim, chefe.
— Pensei que tinhas dito que fechara.
— Não, chefe. Acho que disse que estava fechado quando quis lá levar a sua esposa no dia do aniversário dela — mentiu Jed, pois a sua táctica era dizer que um sítio tinha fechado, mudado de local ou falido quando o governador lá queria ir e Jed não sabia o caminho.
— Bem, toma nota — respondeu a voz do governador. — Ginny vai ficar encantada.
— Imediatamente, chefe.
Ginny era a primeira dama e Jed tinha imenso medo dela. Ela conhecia as ruas de Richmond muito melhor do que ele e receava a sua reacção, se viesse a saber que o Mamma’Zu não fechara, não passara para outro sítio nem mudara de nome. Ginny Feuer era licenciada por Yale e falava oito línguas fluentemente, embora Jed não soubesse bem se isso incluía o inglês ou não.
A primeira dama interrogara-o repetidamente sobre as rotas imaginativas e demoradas que ele escolhia e andava em cima dele, podendo conseguir que ele fosse transferido, despromovido, saísse do UPE ou fosse até despedido da polícia estadual com um simples gesto, uma palavra, uma pergunta em qualquer língua.
— Jed, não devíamos já ter chegado? — A voz do governador fez-se ouvir outra vez.
Jed olhou para o patrão pelo espelho retrovisor. O governador estava a olhar para fora e Jed deu uma mirada ao relógio.
— Dentro de dois minutos, chefe — retorquiu Jed, sentindo um aperto no peito.
Aumentou a velocidade, seguindo por Pine na direcção errada. Virou bruscamente à direita em Oregon Hill Parkway, o que o fez desembocar em Cherry Street onde, à sua esquerda, a vedação do cemitério, coberta de hera, o recebeu num longo abraço, qual Estátua da Liberdade.
Jed seguiu a vedação, passou pelo buraco com a tabuleta do Victory Rug Cleaning e entrou pelos enormes portões de ferro do cemitério, que Lelia Ehrhart mandara abrir para ele. Passou pela casa e pelo escritório do encarregado, seguindo pela Hollywood Avenue. Teria chegado à estátua numa questão de segundos se não tivesse virado para a Confederate Avenue, em vez de Eastvale.
Era evidente para Brazil por que motivo a Imprensa, as pessoas insensíveis e ressentidas e os cidadãos oriundos de outras cidades subestimavam frequentemente o Cemitério Hollywood, referindo-se-lhe como a Cidade dos Mortos.
À medida que Weed e ele se embrenhavam no cemitério, sem fazer ideia de onde estavam, o respeito que sentia pela história e seus mortos começou a enfraquecer devido à fadiga e à frustração. O famoso cemitério transformou-se numa metrópole cruel e inóspita, recheada de caminhos de carruagens, hoje alcatroados e identificados, traçados pelas antigas famílias que já sabiam o seu destino.
Era impossível encontrar secções ou donos de lotes ou até a saída, a não ser que se tivesse um mapa, um conhecimento anterior ou uma sorte danada. Infelizmente, Brazil caminhava para oeste em vez de leste.
— Está a doer-te? — perguntou ele ao seu prisioneiro.
Weed fizera um golpe no queixo quando Brazil o apanhara e sangrava um pouco, o que estragou ainda mais o dia do polícia, se tal fosse possível. O departamento do xerife não ia aceitar um jovem visivelmente ferido. Weed teria que arranjar uma ordem médica, o que significava que Brazil não tinha outro remédio senão levá-lo a um hospital, onde ambos ficariam à espera o resto do dia.
— Não sinto nada. — Weed encolheu os ombros, pressionando uma das meias de Brazil contra o queixo, por falta de uma ligadura.
— Bem, lamento imenso. — Brazil desculpou-se novamente. Caminhavam por Waterview, em direcção a New Avenue, onde
Weed parou e ficou a olhar embasbacado para o mausoléu de granito e mármore do magnata do tabaco, Lewis Ginter. Não acreditava nas pesadas portas de bronze, nas colunas de Corinto e nas janelas Tiffany.
— É tal e qual uma igreja — maravilhou-se Weed. — Quem me dera que Twister tivesse uma coisa assim.
Caminharam em silêncio por algum tempo e Brazil lembrou-se de voltar a ligar o rádio.
— Alguma vez lhe morreu alguém? — perguntou Weed.
— O meu pai.
— Quem me dera que o meu estivesse morto.
— Não estás a falar a sério — disse Brazil.
— O que é que aconteceu? — perguntou Weed, erguendo o olhar.
— Era polícia. Morreu em serviço.
Brazil pensou no túmulo do pai, pequeno e simples, na cidade universitária de Davidson. As recordações dessa manhã primaveril de domingo, tinha ele dez anos, quando o telefone tocou na sua humilde casa de madeira em Main Street, permaneciam vivas. Ainda conseguia ouvir a mãe a gritar e a dar pontapés nos móveis, a gemer e a atirar com coisas, enquanto ele se escondia no quarto, sabendo sem que lhe tivessem dito.
A televisão mostrara incessantemente o corpo do pai, coberto pelo lençol ensanguentado, a ser transportado para a ambulância. Um desfile infinito de carros e motas da polícia com as luzes acesas ressoava na sua cabeça e via os uniformes de gala e os distintivos ostentando as fitas pretas.
— Não me está a ouvir — insistiu Weed.
Brazil voltou ao presente, abalado e irritado. O cemitério começou a cercá-los, sufocando-o com os seus cheiros pungentes e sons inquietantes. O rádio recordou-lhe que devia chamar novamente a pedir um carro, mas não o faria. Não ia deixar que o departamento inteiro, incluindo West, soubesse que se perdera no cemitério com um artista de graffitis de catorze anos.
Voltaram a entrar na New Avenue, que acabou por curvar para oeste, desembocando em Midvale. Ao longe, viram o que parecia ser um enorme carro funerário preto que se dirigia para eles a alta velocidade.
Monumentos funerários, lápides e arbustos de azevinho passavam pelas janelas fumadas do Governador Feuer, enquanto ele acabava mais outro telefonema. Por esta altura, já perdera a paciência e a vontade de dar segundas oportunidades.
Jed conduzia demasiado depressa. Estava a levar mais tempo a encontrar a estátua de Jeff Davis do que provavelmente fora necessário para a pintarem. Não havia sinais dos carros da escolta e respectivos condutores.
— Jed. — Desta vez, o Governador Feuer desceu primeiro a divisória de vidro. — Que aconteceu à nossa escolta?
— Continuou, chefe.
— Continuou para onde?
— Voltou para a mansão, acho eu, chefe. Não tenho a certeza, mas penso que Mrs. Feuer precisava de ir a qualquer lado.
— Mrs. Feuer vai a caminho de Homestead.
— Ouvi dizer que é uma estância e pêras, lá no alto da montanha, com termas, comida incrível, esqui e tudo. Ainda bem que ela vai descansar um pouco — continuava Jed a pairar.
— Onde diabo estamos nós, Jed? — O Governador Feuer controlou-se para não erguer a voz.
— Há uma série de desvios, chefe — retorquiu Jed. — Por causa dos funerais, acho eu.
— Não vejo qualquer sinal de um funeral.
— Nesta rua, não.
—- Na verdade, não vi qualquer outro carro — disse o governador, irritado.
— Esta via é para tráfego de passagem, chefe.
— Tráfego de passagem? De passagem para onde? Não há passagem nenhuma. Só há um caminho para entrar e sair do cemitério. Se seguires em frente, acabas no Rio James.
— O que eu queria dizer, chefe, é que os funerais não passam por aqui — explicou Jed, abrandando um pouco.
— Por amor de Deus, Jed. — O governador perdera a calma. — Num cemitério não existem ruas próprias para funerais. Os carros vão até onde as pessoas são sepultadas e não se sepultam pessoas em vias próprias. Estamos perdidos.
— De forma nenhuma, chefe.
— Vira, vamos voltar para trás — disse o governador no momento em que um polícia e um miúdo passavam pela sua janela direita.
O Governador Feuer virou-se no banco, olhando pelo vidro traseiro para um agente fardado e um rapaz com as roupas dos Bulis. Caminhavam lentamente e com pouca firmeza, como se fossem perder a força nas pernas a qualquer minuto.
— Pára o carro! — ordenou o governador.
Jed carregou nos travões, fazendo com que os jornais se espalhassem pelo chão atapetado.
Nas traseiras do Kmart, o ritmo abrandara e as pessoas começavam a ir-se embora. A carrinha da médica-legista ia a caminho da morgue, onde Ruby Sink seria autopsiada ao fim do dia e os agentes fardados dispersavam, regressando às suas rondas.
Os detectives procuravam testemunhas e os parentes de Miss Sink, enquanto a Imprensa tentava fazê-lo primeiro. Os bombeiros tinham partido há muito, deixando as últimas tarefas para West e dois técnicos.
Até ao momento, tinham sido recuperadas do interior do carro dúzias de impressões digitais latentes, para além dos três cartuchos de nove milímetros vazios, que em breve iam ser transportados e analisados por cientistas forenses no laboratório. Mais tarde, as marcas do percutor seriam introduzidas no computador do ATF para determinar se correspondiam às descobertas noutros crimes.
As impressões digitais seriam analisadas pelo Sistema de Identificação Automática de Impressões Digitais, conhecido por AFIS. A análise ao ADN de cabelos, sangue e fibras seria feita nos laboratórios da polícia.
— Temos de tirar isto do sol, senão o sangue e outras provas biológicas vão começar a decompor-se muito rapidamente — disse West à técnica Alice Bates, que tirava fotografias ao interior do Chevy Celebnty.
— Temos tudo previsto — respondeu Bates.
Uma segunda técnica, de nome Bonita Wills, analisava o conteúdo da mala da vítima, espalhado no chão do lado do banco do passageiro. West inclinou-se pela porta aberta do condutor para ver melhor, roçando com o casaco o aro da porta.
— Oh, bolas — murmurou ela, tentando tirar o pó de detecção de impressões digitais do casaco.
Analisou os salpicos de sangue no espelho retrovisor, no tecto, logo por cima, os pingos no volante e a poça de sangue coagulado no banco do passageiro. Quando chegara ao local, Miss Sink estava deitada sobre o seu lado direito, com a cabeça no banco do passageiro. Havia salpicos de sangue nos antebraços e cotovelos e no tecto, por cima do banco do condutor, o que deu a West uma imagem deprimente.
Parecia que Ruby Sink estivera sentada ao volante, com os cotovelos erguidos e as mãos sob uma coisa qualquer, talvez o rosto, quando fora alvejada em estilo de execução. Depois, o assassino saíra do carro e o corpo de Miss Sink resvalara para o banco do passageiro, onde sangrara por pouco tempo antes de morrer.
— Que sacana! — exclamou West. — Fazer isso em frente de um bebé, por uns miseráveis duzentos dólares. Maldito filho da puta.
— Não toque em nada — avisou-a Wills, como se West tivesse passado a vida sentada atrás de uma secretária.
West controlou-se. Estava cansada de ser tratada como uma intrusa ou uma idiota, quando até há bem pouco tempo fora tratada com respeito e até amizade por um departamento bastante maior e melhor do que aquele.
Afastou-se do carro e olhou em volta, impaciente e encalorada no seu fato manchado. A zona atrás do Kmart estava isolada com fita amarela e West não tinha intenção de deixar entrar ninguém por enquanto, o que incluía condutores com entregas para o armazém.
— Onde está o reboque? — perguntou ela num tom eficiente. — Não gosto nada disto. Piraram-se todos e, para além do corpo, o carro é a prova mais importante.
— Eu não punha muita fé nele — disse Wills. — Tem impressões digitais a dar com um pau, que podem ser de qualquer um, dependendo do número de pessoas que estiveram lá dentro, lhe mexeram, sei lá. A maior parte deve ser dela.
— Algumas são dele — disse West. — Este tipo não usa luvas. Está-se nas tintas para o facto de deixar saliva, cabelos, sangue ou sémen, porque provavelmente é um sacana de um merdas qualquer que acabou de sair do reformatório e todos os seus registos foram destruídos para proteger a sua preciosa confidencialidade.
— Psst, Bates — disse Wills para a colega —, vê lá se tens cuidado com a zona em volta da fechadura da mala, para o caso de ele lá ter mexido.
— Já tratei disso.
West pegou no rádio e pediu um agente para montar guarda ao local do crime. Voltou para o seu carro e conduziu-o para a parte da frente do Kmart. O parque de estacionamento estava cheio de clientes em busca de promoções. Havia alguns defronte do armazém, a olhar para o First Union Bank e a especular baixinho num tom excitado, mas a maior parte estava no interior, absorta, a empurrar os carrinhos pelos corredores.
West encostou ao passeio e ficou surpreendida ao ver que Hammer ainda estava a falar com Bubba, ambos de pé, ao sol. Saiu do carro e dirigiu-se para eles, mas abrandou o passo ao sentir o fedor. Ficou a olhar para o camuflado de Bubba.
— Acho certamente que é uma boa ideia que os cidadãos se envolvam — dizia Hammer a Bubba. — Mas dentro de certos limites; não quero que os nossos voluntários tragam armas, Mr. Fluck.
— Então, muitos não vão colaborar — informou-a ele.
— Há outras formas de ajuda.
— E poderíamos usar spray de pimenta ou cassetetes?
— Não — retorquiu Hammer.
West percebeu muito bem o que a chefe estava a fazer. Hammer era especialista em manipular as pessoas, desviando a conversa para várias direcções; fazia fintas e passes até ver uma abertura para marcar e West não interferiu.
— Bem, os voluntários de Chesterfield usam armas — fez notar Bubba, tentando matar algumas moscas. — Conheço uns quantos tipos de lá que dão duro e gostam.
Hammer reparou no fato de West. Fitou a mancha preta no casaco.
— Como é que arranjaste uma mancha... — disse Hammer sem terminar a frase, lançando-lhe a armadilha1.
— Não o fiz — retorquiu Bubba. — Para dizer a verdade, ele tem andado a tentar convencer-me, mas eu teria de me mudar para Chesterfield.
Hammer lançou-lhe um olhar pretensamente confuso.
— Desculpe?
— O meu amigo Smudge. — Foi a vez de Bubba ficar confuso. — Como é que sabe da existência dele?
— Desculpe o tempo que lhe tomámos, Mr. Fluck — disse Hammer. — Por que é que não vai para casa lavar-se? Chefe-adjunta West? Preciso de falar consigo.
1 Este diálogo joga com o significado de “smudge” (“mancha, borrão”) que é também nome de uma personagem. (NT)
As duas mulheres afastaram-se.
— Essa foi muito esperta — disse West maravilhada. — Devia estar a referir-se ao meu casaco, mas parecia mesmo que sabia da existência de Smudge.
— Tive sorte — comentou Hammer, no momento em que um carro entrava no parque de estacionamento, dirigindo-se a elas a grande velocidade. — Quero-o vigiado. Já.
Roop saltou do carro com tanta pressa que nem se deu ao trabalho de desligar o motor ou de fechar a porta.
— Chefe-adjunta Hammer! — disse ele excitadamente. — Recebi outro telefonema do mesmo tipo.
— Tem a certeza? — perguntou Hammer.
— Sim! — exclamou Roop. — Os Pikes reivindicam o homicídio do multibanco.
Brazil nunca se encontrara com o Governador Feuer e não compreendeu quem era o homem que caminhava decididamente para eles pela Midvale Avenue.
Era um homem alto e com ar distinto, trajando um fato às riscas. Estava com pressa e parecia muito ansioso em relação a qualquer coisa. Brazil limpou o suor dos olhos, mas tinha a boca tão seca que mal conseguia falar.
— Há algum problema? — perguntou ele.
— Ia perguntar-lhe a mesma coisa, filho — respondeu o homem. Brazil interrompeu-se, analisando a voz familiar e fazendo-a corresponder ao rosto.
— Oh! — foi tudo quanto conseguiu dizer.
— Vi a sua fotografia por todo o lado! — exclamou Weed.
— Parece que passaram um mau bocado — disse o governador. — Que te aconteceu ao queixo? — perguntou ele a Weed.
— Cortei-me a fazer a barba.
O governador pareceu aceitar a resposta.
— Como diabo vieram parar aqui? Estão feridos? Não há reforços? O seu rádio está avariado? — perguntou o Governador Feuer a Brazil.
— Não, não está avariado, senhor.
As palavras pareciam pegajosas, como se tivesse a boca cheia de hóstias; a língua ficava constantemente presa e a voz soava como se estivesse bêbedo. Perguntou a si próprio se não estaria a delirar. Talvez nada daquilo estivesse a acontecer.
— Vão beber um pouco de água e sair do sol — dizia o governador.
Brazil estava demasiado exausto e desidratado para reagir.
— Tenho de o informar que tenho um prisioneiro — gaguejou Brazil para o governador.
— Isso não me preocupa, a não ser que não seja dessa opinião — respondeu o Governador Feuer. — O meu motorista é da polícia estadual.
Jed sorriu, mantendo-se atento ao lado da limusina. Abriu uma das portas traseiras e o governador entrou. Jed fez sinal a Brazil e a Weed para que fizessem o mesmo.
— Jed, há água, não há? — perguntou o governador.
— Claro, senhor. Fresca ou natural?
— é indiferente — respondeu Brazil.
Brazil ficou extasiado com o ar condicionado e os enormes bancos de macia pele cinzenta, muito limpa. Sentou-se no chão alcatifado e fez sinal a Weed que o imitasse. O governador olhou para eles com uma expressão estranha.
— Que é que está a fazer? — perguntou ele a Brazil.
— Estamos bastante suados — desculpou-se ele. — Não queremos sujar os estofos.
— Que disparate. Sentem-se.
O ar condicionado secava-lhes as roupas encharcadas. Jed fez deslizar a divisória de vidro e passou-lhes seis garrafas frescas de Evian. Brazil esvaziou duas, mal respirando enquanto bebia. Sentiu uma dor aguda subir-lhe do nariz à cabeça e teve que se dobrar, aflito, esfregando a testa.
— Que se passa? — perguntou o governador, alarmado.
— Uma tontura. Não é nada.
— São terríveis.
— Uhhh.
— Fico assim quando bebo Pepsi demasiado depressa — disse Weed com comiseração.
Ouviu-se a voz de Jed no intercomunicador.
— Para onde, chefe?
— Onde é que os posso deixar? — perguntou o governador a Brazil. — Em casa? Na esquadra? Na prisão?
Brazil esfregou a testa. Deitou água num guardanapo, limpou cuidadosamente o corte de Weed e tirou-lhe o sangue do pescoço.
— Então, para onde? — perguntou de novo o governador.
— Francamente, Senhor Governador, não é preciso. Não quero que se incomode — disse Brazil.
O governador sorriu.
— Como te chamas, filho?
— Andy Brazil.
— O do INJ que escreveu o artigo sobre criminalidade juvenil?
— Sim, sou eu.
O governador ficou favoravelmente impressionado.
— E tu? — perguntou ele a Weed.
— Weed.
— é o teu nome verdadeiro, filho?
— Por que é que toda a gente me pergunta isso? — Weed estava cansado daquilo.
— Acho que a esquadra está bem — disse por fim Brazil.
— Passa pela esquadra — disse o governador a Jed. — Acho que é melhor telefonares ao meu secretário e dizeres-lhe que não vou chegar a tempo seja lá ao que for.
Para Patty Passman o tempo parara, sentada na escuridão do frio chão de metal, pegajento de urina, com os braços presos atrás de si e os tornozelos imobilizados. Tinha as mãos e os pés dormentes e estava gelada até aos ossos. Imaginou gangrenas, amputações e processos judiciais.
O seu infeliz equilíbrio químico restabelecera-se. Apesar de engaiolada e embora se sentisse fraca, voltara a pensar com clareza e premeditação. Sabia exactamente o que Rhoad estava a fazer. O carro celular não a podia levar para a prisão até ele ter preenchido, pelo menos, um relatório de detenção. O filho da puta estava a reunir todas as acusações possíveis, preenchendo fichas de cada uma, porque, quanto mais tempo levasse, mais ela teria de ficar ali sentada, atada como um peru numa arca congeladora.
Passman contorceu-se, deslizou para trás no metal incómodo e acabou por ir de encontro a um dos lados da carrinha, onde se encostou. Mudava de posição frequentemente para aliviar a mordedura das algemas e as dores nos ombros.
— Oh, por favor, apressem-se — implorou ela na escuridão, com as lágrimas a caírem. — Tenho tanto frio e tantas dores, meu Deus. Por favor! Estão a ser tão cruéis! — Rebentou em soluços que ninguém ouviu, nem teriam comovido quem quer que fosse, mesmo que estivesse no meio de um coliseu cheio de gente.
Ninguém se importava, como sempre.
O primeiro erro de Patty Passman fora ter nascido mulher. Os pais já tinham seis filhas e ficaram desolados por ter nascido mais uma, na sua última tentativa. Passman passara a infância a tentar compensá-los.
Batia nas irmãs e dizia-lhes que eram feias, estúpidas e não tinham peito. Partia os brinquedos, desmembrava as bonecas, fazia desenhos obscenos, bufava-se, arrotava, cuspia, não puxava o autoclismo e era insensível. Gostava de esconder os rebuçados e roubar o dinheiro da catequese, tinha ataques de fúria, tratava mal o cão, brincava aos soldados e aos médicos com as outras raparigas do bairro e recusava-se a tocar piano. Fazia todos os possíveis por agir como um rapaz.
Com o passar dos anos acalmou, mas acabou por descobrir que imitava o outro sexo há tanto tempo que se atrasara imenso na corrida e nunca recuperaria o seu lugar, nem mesmo ficando em último. Foi desqualificada e ignorada por todos, excepto por Moses Pharaoh que a nomeou para a equipa de luta livre porque, segundo lhe disse ao acompanhá-la através do campo de basquetebol todo iluminado, naquela noite inesquecível, as mulheres gordas com dentes pequenos excitavam-no.
A seguir, tinham ido ambos comer lasanha, pão de alho, salada e bolo de queijo ao Joe’s Inn. No regresso a casa, Moses levou-a ao miradouro do fim da East Grace Street no seu Chevelle de 69, com os seus 425 cavalos e 230 quilos de binário.
Passman aprendera tudo o que sabia sobre beijos através do cinema. Não estava preparada para aquela enorme língua grossa, que sabia a alho e que ele lhe enfiou pela garganta abaixo. Ficou chocada quando Moses enfiou as mãos pelo decote de cbiffon, tentando alcançar a Terra Prometida. Abriu-lhe as pernas, invadiu-a, quebrou todos os dez mandamentos, ou assim lhe pareceu, naquela noite horrível em que ele lhe puxou e amarrotou o seu vestido comprido cor-de-rosa, só porque não nascera rapaz.
Sentia-se novamente desequilibrada e tremia de frio, quando a carrinha recomeçou a andar, seguindo em frente. A cada viragem, rolava de um lado para o outro como um tronco no rio. Os minutos pareceram-lhe uma eternidade, até que a carrinha acabou por parar.
— Posto Um, suba o portão — anunciou uma voz masculina.
Passman ouviu o que parecia uma grade a ranger e a começar a subir lentamente. A carrinha avançou e parou novamente. A grade voltou a descer no meio de rangidos. Um polícia que mascava pastilha elástica abriu a porta de trás.
Estava despenteado, com a barriga a cair-lhe por sobre o cinturão, como massa de piza a mais, pendurada da frigideira. Tinha um olho cor de avelã e outro castanho, o cabelo grisalho puxado para trás e os ouvidos e as narinas cabeludas, quais pincéis mal lavados. Os condutores dos carros celulares eram o refugo do corpo policial, exemplares de uma classe indolente e fraca que Passman aprendera a desprezar.
— Vá lá — disse-lhe ele —, toca a mexer e a despachar. Passman mirou-o por entre olhos semicerrados, deitada de costas no chão.
— Não posso — respondeu ela. Ele fez-lhe sinal que se levantasse.
— Não me mexo sem que me liberte, pelo menos, os tornozelos — disse ela, falando a sério.
Tinha o vestido levantado até às coxas bem almofadadas e não podia puxá-lo para baixo. O homem ficou a olhar. Passman sabia que, se perdesse novamente a cabeça, isso só agravaria a sua situação.
— Por favor, desate-me os pés para eu poder sair — repetiu ela.
— Estamos muito delicadas.
Pareceu-lhe reconhecer a voz dele e logo de seguida teve a certeza.
— Você é a Unidade 452 — disse ela.
— Acho que sou famoso. Bem, vou cortar as algemas flexíveis, mas se se mexer um milímetro, dou-lhe que fazer.
Ela não sabia o nome dele, mas quanto a vozes não tinha dúvidas. Lembrava-se com toda a clareza de palavras ditas no rádio por centenas de unidades que nunca vira. A Unidade 452 cortou-lhe as algemas flexíveis com um canivete e voltou a sentir os pés, numa avalancha de alfinetadas. Avançou para a abertura da carrinha, com a saia toda enrolada, ultrapassando os topos castanhos das meias e chegando-lhe à cintura. Ele continuava a olhar e a mascar a pastilha. Ela arrastou-se lentamente, até conseguir sair. ,
A Unidade 452 carregou num botão na parede para abrir a porta da cadeia e, ao entrar, usou uma chave que tirou do cinto para prender a pistola dentro do cofre de armas. Tirou outra chave, muito pequena, e abriu-lhe as algemas.
— Unidade 452 — imitou-o Passman. — Prossiga, 452. Estou fora de serviço no 2600 de Park. OK, 452. Está no Robin Inn, vai almoçar. Ah, afirmativo...
— Você! — A Unidade 452 ficou chocada e profundamente ofendida. — Você é que é a cabra do serviço de comunicações!
— E você é o monte de merda que passa a vida a esconder-se na Engine Company Number Nine para jogar os seus jogos idiotas. O Tetris. O Q*Bert, o Pac Man, o Boggle! — acusou-o Passman.
— O quê, o quê? — gaguejou ele. Passman apanhara-o.
— Toda a gente sabe — continuou ela, enquanto o xerife Reflogle recebia a ordem de prisão da unidade 452 e começava a revistar Passman.
— Parece que te vão dar que fazer, menina — disse Reflogle. — Deves ter passado muito em casa para agires daquela forma.
Passman não o escutava.
— Você é a anedota do rádio! — continuou ela a espicaçar a Unidade 452. — R é de rapaz, não de rota e H é de Henry, não de hotel, seu merdas! Quem é que pensa que é, um piloto de avião?
— Agora, acalme-se — disse-lhe o xerife Reflogle, tirando-lhe trocos dos bolsos da saia.
Passou os dedos de Passman numa almofada de tinta e transferiu as suas impressões digitais para o cartão apropriado. Tirou-lhe fotografias. Perguntou-lhe se tinha alguma alcunha, explicando-lhe o que era e fechou-a numa cela que não era muito maior que um armário, com um banco duro para se sentar e um pequeno rectângulo de vidro por onde olhar. Ao almoço, comeu geleia de cereja, queijo e douradinhos.
O gabinete do magistrado da cidade de Richmond ficava no primeiro andar do departamento de polícia, depois do balcão de informações, bastante perto da cadeia e do Posto 1.
Ainda não eram bem quatro da tarde e Vince Tittle não estava nada contente com o seu emprego e com a sua vida. Não era muito difícil olhar para trás e perceber quando deitara tudo a perder. Sucumbira a um favor. Vendera a alma por um cargo e um gabinete que mais parecia uma cabina de portagem.
Tittle nem sempre tivera uma opinião tão baixa de si próprio. Até há quatro anos, desfrutara de uma carreira interessante como fotógrafo da morgue. Orgulhava-se de tirar fotografias com uma escala perfeita. Era um mágico com a iluminação e a velocidade de obturação. A sua arte ia a tribunal e era observada por delegados do magistério público, advogados de defesa, juizes e júris.
A médica-legista-chefe adorava-o. Os seus assistentes e os cientistas forenses também e os réus odiavam-no. Fora a ânsia de Tittle por justiça que o metera em sarilhos. A sua caminhada para o inferno começara quando se tornou membro do Clube de Permutas, que incluía centenas de pessoas com saberes, qualificações e talentos que Tittle nem sempre podia pagar. Tirava fotografias de grupos familiares, fotografias para cartões de Natal, calendários, bailes de debutantes e de finalistas, trocando a sua arte por dinheiro virtual, menos uma comissão de dez por cento que ia para o clube.
Deixou de gastar dinheiro em lojas reais. Tirava, por exemplo, fotografias num casamento, ganhando mil dólares virtuais que depois trocava por reparações no telhado. A sua máquina fotográfica transformara-se num vício. Em breve era virtualmente rico, acabando por conhecer o Juiz Nicholas Endo, que estava a perder uma guerra com a mulher.
O Juiz Endo pensava que Mrs. Endo tinha um caso com o dentista, Buli Ehrhart, e queria apanhá-la no acto. Tittle nunca esqueceria o que o Juiz Endo lhe dissera uma noite, enquanto bebiam bourbon no clube.
— Vince, você tem virtualmente tudo o que um homem pode desejar — disse o juiz, pagando cinco dólares virtuais por uma bebida real. — Mas tem de haver uma coisa neste clube que você não pode pagar e aposto que sei o que é.
— O quê? — perguntou Tittle.
— Você adora julgamentos, adora a justiça — disse o juiz. — De certeza que tirar fotografias aos mortos está a tornar-se aborrecido, Vince. Aliás, sempre o deve ter sido.
Tittle fez rodar lentamente o gelo no copo. A verdade magoava-o profundamente.
— Vá lá, então. — O juiz inclinou-se sobre a mesa e disse num tom persuasivo: — O que quero dizer, Vince, é que não pode ser grande desafio tirar fotografias a fígados em balanças, a cérebros em pranchetas, ao conteúdo de estômagos, a recipientes com urina e bílis, a marcas de mordeduras e a machados espetados nas cabeças de pessoas, não é?
— Tem razão — murmurou Tittle, fazendo sinal a Seunghoon, a criada. — Ofereço as bebidas.
— Que deseja, querido? — perguntou Seunghoon.
— Outra rodada. Tem Booker’s?
— Acho que não, amorzinho. Mas, sabe uma coisa, acho que Mr. Mack o tem no seu restaurante. Tem um bar muito bom.
— Devíamos encomendar. — O Juiz Endo lançou o seu veredicto. — É o melhor bourbon do mundo. Da melhor qualidade, põe-no completamente perdido. Talvez da próxima vez que houver cinema, Vince, possa tirar umas quantas fotos de Mack com uma ou duas celebridades, para ele pendurar no restaurante. Leva-lhe duzentos dólares virtuais, dá meia volta e compra-lhe o Booker com esse dinheiro.
— Está bem — concordou Tittle.
A conversa continuou por mais algum tempo antes de o juiz ir direito ao que lhe interessava.
— Acho que você dava um grande magistrado, Vince — disse ele, fumando um charuto cubano ilegal. — Sempre fui dessa opinião. — Lançou um anel de fumo.
— Seria uma honra — disse Tittle. — Gostava de ter oportunidade de castigar os maus. Sempre o desejei.
— Que tal se fizéssemos uma troca?
— Estou sempre a fazê-las — respondeu Tittle.
O juiz Endo disse, então, que queria fotografias explícitas do adultério da esposa. Não lhe interessava se eram falsificadas e não queria saber como Tittle as obtinha. Só queria ficar com a casa, o carro e o cão e que os filhos, já adultos, ficassem do lado dele.
— Não vai ser fácil — disse o juiz com os dentes cerrados. — Eu sei, já tentei de tudo, mas se você conseguir, recompensá-lo-ei bem.
No dia seguinte, Tittle deitou-se ao trabalho. Em breve descobriu que o modus operandi de Mrs. Endo era tão simples que se tornava complexo. Buli Ehrhart tinha quarenta e três consultórios em pequenos centros comerciais em toda a área urbana de Richmond e mais vinte e dois em Norfolk, Petersburg, Charlottesville, Fredericksburg e Bristol, no Tennesse.
Duas vezes por semana, Mrs. Endo usava um nome diferente para marcar uma consulta urgente num consultório diferente. Depois de percorrer o circuito, começava de novo. Mudava o sotaque, a cor e o estilo do cabelo e trocava de maquilhagem, de óculos e de roupa.
Durante semanas, Tittle não conseguiu nada. O casal adúltero era demasiado cauteloso e esperto. Quando estava prestes a desistir, encontrou um corvo que voara de encontro à janela da sua cozinha, porque não vira o vidro, morrendo devido a uma ferida na cabeça, supôs Tittle. Isto deu-lhe uma ideia. Pôs o corvo morto no congelador e pintou uma máquina fotográfica e um tripé de amarelo.
Mais tarde, seguiu Mrs. Endo até ao consultório nº 17 em Staples Mill Road, perto de Ukrops, e montou o falso equipamento de agrimensor no parque de estacionamento. Eram cinco e meia da tarde. O único escritório com luz ficava de canto e tinha as persianas corridas. Tittle deu quinze minutos a Mrs. Endo e ao Dr. Ehrhart para começarem o acto e apontou a lente de grande alcance, montando o obturador com cabo.
Tirou o corvo congelado do bolso do casaco e atirou-o contra a janela, onde bateu com um baque repugnante, fazendo estremecer a vidraça. As persianas abriram-se subitamente. O dentista, todo nu, olhou para fora, em volta e para baixo, descobrindo o pobre pássaro que voara contra o vidro. Mrs. Endo, igualmente nua, cobriu a boca com a mão, abanando, cheia de pena, a cabeça.
Não prestaram atenção ao agrimensor que se afastava com o seu equipamento amarelo vivo. O divórcio foi favorável ao Juiz Endo. Em troca, deu o cargo a Tittle, como prometera quando fizeram o acordo.
O sentimento de culpa do magistrado Tittle foi aumentando com os anos. Ficou cada vez mais deprimido e intimidado, sempre que o juiz lhe telefonava, de vez em quando, para lhe recordar o favor e a necessidade de ir para o túmulo, neste caso no Cemitério Hollywood, sem revelar o negócio secreto que tornara possível o sonho de Tittle. O magistrado nunca contou nada a ninguém.
No entanto, confessou o seu pecado a Deus e jurou pagar por ele. Deixou de tirar fotografias, demitiu-se do Clube de Permutas e denunciou os seus membros às finanças. No seu bairro, denunciava quem fazia ligações ilegais da televisão por cabo e desmascarou a dona da mercearia que andava a tentar passar cupões fora de prazo. Reconhecia quando tinha culpa de alguma coisa e era humilde e esforçado.
Tornou-se conhecido por ter tolerância zero no que dizia respeito a criminosos, burlões, miúdos traiçoeiros e polícias estúpidos. Era admirado pela sua imparcialidade e amor à verdade quando alguém era acusado injustamente, o que era tanto bom como mau para o Agente Rhoad, que não fazia uma detenção há mais de vinte anos. Depois de ter percorrido o código penal da Virgínia, à procura de acusações contra Patty Passman, Rhoad tinha a certeza de que o magistrado Tittle ficaria do seu lado e pediria prisão perpétua, sem Ter possibilidade de recurso.
Tittle dobrara o casaco de um cinzento encardido sobre a cadeira e estendia o braço para a máquina de café para encher outra chávena, quando o agente Rhoad apareceu à janela do seu cubículo.
— Preciso de alguns mandatos — disse Rhoad.
— O que é que o leva a crer que o posso atender agora? — perguntou Tittle.
— Não parece muito ocupado.
— Bem, mas estou — disse ele pela pequena abertura de vidro à prova de bala. — Devia fazê-lo esperar aí uma ou duas horas, mas estou quase a sair, portanto, vamos lá a despachar a coisa.
Tittle empurrou uma gaveta de metal e Rhoad colocou aí um espesso maço de folhas de detenção. Tittle puxou-as para dentro e começou a lê-las. Durante muito tempo manteve-se em silêncio, enquanto Rhoad o observava pelo vidro.
— Senhor Agente — disse ele por fim —, alguma vez ouviu falar de acumulação de acusações?
— Certamente — respondeu Rhoad, que estava habituado a cotas e pensou que o magistrado lhe estava a fazer um elogio.
— Uso do rádio da polícia durante prática de crime — começou Tittle, lendo as acusações.
— Obstrução da justiça. O sujeito tentou conscientemente impedir este agente de cumprir o seu dever.
Tittle passou à seguinte.
— Uso de linguagem imprópria.
— Devia tê-la ouvido — disse Rhoad indignadamente.
— Conduta desordeira em público. Resistência e obstrução da execução do processo legal. — Tittle espreitou por cima dos óculos de ler. — Crimes contra a natureza?
— Ela agarrou-me. — Rhoad corou.
— Teve contacto carnal pelo ânus, consigo?
— Não senhor.
— E pela boca?
— Foram só as coisas que disse.
— Esta acusação não é sobre coisas que se dizem, Senhor Agente. E quanto a bestialidade?
— Sim! Foi horrível!
— Agente Rhoad — disse Tittle num tom duro — bestialidade significa fornicar com animais. Sem causa provável. — Atirou com a acusação para um cesto marcado para reciclagem. — Vejamos. — Continuou. — Manter, residir ou frequentar um local corporal.
Ela não me largava — disse Rhoad, sentindo a memória avivar-se.
— É O-B-S-C-E-N-O e não C-O-R-P-O-R-A-L disse Tittle com lentidão deliberada, atirando o relatório para o cesto dos papéis. — Entrar em propriedade alheia com o propósito de a danificar.
— É o mesmo. Ela tocou na minha propriedade.
— Que propriedade, agente Rhoad?
— Bem, as minhas partes privadas. Tentou danificar as minhas partes privadas.
Aquela folha foi fazer companhia às outras no cesto.
— Trespasse após proibição do mesmo — leu Tittle.
— Eu disse-lhe que parasse.
— Estupro agravado. Como é que chegou a esta?
— Porque ela se atirou às minhas partes privadas — recordou-lhe Rhoad.
— Suponho que tentativa de violação se deve ao mesmo?
— E se fosse o senhor?
— Ataque de natureza sexual, violação. Sem causa provável — disse Tittle, enervado. — E, ah, aqui temos ameaças ao governador ou sua família próxima?
— Ela disse: “Vou procurar o governador, ou a mulher e os filhos dele e depois vais arrepender-te!”.
Rhoad desviou o olhar, pois não estava lá muito certo desta. As coisas estavam a ficar confusas. Tittle fez uma bola com a folha e atirou-a para o chão.
— Ameaças verbais. Danos corporais causados por prisioneiros. Agressão. Danos corporais com intenção criminosa. Ferimentos graves com intenção criminosa.
Tittle foi amarrotando as folhas uma a uma, atirando-as para o cesto dos papéis.
— Tiroteio, tentativa de apunhalar com intenção de mutilar e matar. Recusa em obedecer à ordem de manutenção da paz. Traição. Traição?
— O sujeito resistiu à execução da lei na presença dos agentes — citou Rhoad. — Quando me atacou, foi um acto de guerra contra a Commonwealth.
Erro resultante da pronúncia semelhante de “body” (“corpo, corporal”) e “bawdy” (“obsceno”). (A/T)
— Você precisa de um terapeuta.
— Sou um cidadão da Commonwealth, não sou? — argumentou Rhoad.
— Por que motivo agarrou esta mulher os seus órgãos genitais, agente Rhoad? — Tittle nunca vira um idiota tão grande em toda a sua vida. — Será que se precipitou, vinda do nada? Foi provocada? É uma amante desprezada?
— Tentou impedir-me de lhe multar o carro — explicou Rhoad.
— Não engulo essa.
— Bem — disse Rhoad —, já a tenho multado algumas vezes.
Brazil teve o bom senso de pedir ao Governador Feuer para largar os seus passageiros a um quarteirão de distância da esquadra, evitando uma cena que seria, se não impossível, pelo menos muito difícil de explicar.
— Vou levar-te para o posto médico — disse Brazil a Weed, enquanto ia andando pelo passeio. — Depois, chamamos a tua mãe para te vir buscar. Não queres passar a noite toda na cadeia, pois não?
— Quero, quero — disse-lhe Weed.
Brazil notou que Weed estava muito agitado, a olhar em volta, como se receasse que alguém os estivesse a seguir.
— Isso não faz sentido nenhum — continuou Brazil. — E sabes porquê? — Abriu as duplas portas de vidro da entrada da esquadra. — Porque não me estás a contar tudo, Weed, porque estás a esconder-me qualquer coisa.
Weed não tinha nada a dizer. Brazil requisitou um carro e informou a central de comunicações do seu destino. Sentou-se com ele no banco do posto, onde Weed só poderia ser tratado na presença de um dos pais. A mãe não atendia o telefone e não estava no trabalho. O pai estava a cortar relva num sítio qualquer e não respondera à chamada de Brazil. O rádio não funcionava dentro do hospital, fazendo-o sentir-se isolado do mundo, irritado, impotente e infeliz.
Por fim, teve que arranjar um juiz que desse autorização para o tratamento, o que teria resolvido o assunto se não tivesse havido um acidente com um autocarro escolar a meio da tarde. O médico só atendeu Weed quase às onze da noite, quando uma enfermeira lhe limpou o golpe e lhe pôs um penso.
— Não percebo — dizia Brazil a Weed, quando se dirigiam à esquadra. — Tens a certeza de que tens mãe?
Brazil viu logo que tinha magoado o miúdo.
— Ela muitas vezes não atende o telefone, especialmente quando está a dormir, e ela dorme muito durante o dia.
— E por que é que não atende o telefone das outras vezes?
— Porque o pai está sempre a telefonar e diz-lhe coisas horríveis. Não sei porquê, e ele tem de ter o número porque eu fico com ele às vezes.
Estacionaram no parque das traseiras e Brazil escoltou Weed até à esquadra. Passaram pelo balcão de informações e parecia que lhe era indiferente para onde o levavam. O seu estado de espírito era cada vez pior.
— Tu sabes alguma coisa — disse-lhe Brazil. — Sabes alguma coisa importante. Tão importante que estás cheio de medo.
— Não tenho medo de nada — respondeu-lhe Weed.
— Todos nós temos medo de alguma coisa — retorquiu Brazil. Havia prisioneiros algemados a entrar e a sair, em direcção à cadeia, a falar baixinho, a gaguejar e aos tombos, alguns com óculos de sol e roupas limpas, muitos pedrados ou bêbedos. Cheirava a transpiração, a álcool e a marijuana. Brazil virou à direita, atravessando outra porta dupla. Abriu uma que dava para uma pequena sala suja, com secretárias presas às paredes, cadeiras de plástico e uns bancos verdes muito feios, com marcas de vidas desagradáveis e recalcitrantes.
Brazil dirigiu-se a um telefone e ligou o número do pager do oficial de serviço. Havia um velho rádio em cima de uma mesa e Brazil sintonizou-o no 98.1. Sentou-se em cima de uma secretária e olhou para Weed.
— Fala.
— Não tenho nada a dizer. — Weed sentou-se num banco. -— Por que é que decidiste pintar a estátua?
— Apeteceu-me.
— Alguém te mandou fazê-lo? Um dos Pikes?
— Não sei nada de nenhuns Pikes.
— Uma merda é que não sabes — disse Brazil. — Onde é que arranjaste esse número tatuado no teu dedo?
Um locutor de rádio falava sem parar do homicídio do multibanco e, ao princípio, a notícia e o nome da vítima não penetraram através da sua fadiga e frustração. Depois, apercebeu-se.
— ...confirmou a identidade como sendo de uma mulher de setenta e um anos de idade, de Church Hill, chamada Ruby Sink...
— Espera aí! — Brazil levantou o som.
— ...fez um levantamento no multibanco e foi sequestrada e morta a tiro no seu próprio carro. Um gang conhecido por Pikes reivindicou o crime. Trata-se do mesmo gang que reivindicou o acto de vandalismo na estátua de Jefferson Davis no Cemitério Hollywood...
Brazil ficou fora de si. Começou a andar furiosamente de um lado para o outro, com os punhos cerrados. Não podia acreditar e sentia-se confuso, lembrando-se de Ruby Sink e do seu último telefonema.
— Não! — exclamou ele. — Não!
Esmurrou a parede e deu um pontapé no caixote do lixo, que retiniu pelo chão, espalhando papéis, embalagens de galinha frita e invólucros de comida.
— Como é que alguém pode fazer isto a uma velhota indefesa! Ouvia no seu espírito a última conversa que tivera com ela. Até ouvia a voz dela. Usara-a para provocar os ciúmes de West. Cerrou os punhos com tanta força que enterrou as unhas nas palmas da mão. Agarrou Weed pelos ombros.
— Tu conhece-los de certeza! — disse ele, furioso. — Acabaram de assassinar uma pessoa, Weed! Uma pessoa que eu conhecia! Uma pessoa que nunca fez mal a ninguém! Um ser humano com um nome e uma família e agora as pessoas que a amavam têm de viver com o que aconteceu, exactamente como te acontece com Twister!
Weed olhava para ele em estado de choque.
— Vais proteger monstros destes?
Brazil largou Weed e atravessou a sala, tentando controlar-se. Tremia e o coração batia-lhe com tanta força que o sentia pulsar no pescoço.
— Tentei dizer-lhe pelo computador — disse Weed tristemente.
— Tentaste? Tentaste o quê?
— O mapa dos peixes.
Brazil sentiu um choque eléctrico no cérebro.
— Pela AOL. Um mapa com lúcios — explicou Weed.
— Lúcio como em tipo de peixe? — reagiu Brazil.
— Pois. Eu fiz um lúcio em papier-mâché na aula de Mrs. Grannis. Estava a tentar dizer a alguém onde é que eles estão.
— Espera aí. — Brazil puxou uma cadeira e sentou-se. — Os peixes do mapa. É onde os Pikes têm a sede?
Weed fez um sinal afirmativo.
— Nas traseiras do Southside Motel. Por trás de uma grande prancha de madeira.
— Já lá estiveste?
— Eu não queria. Juro. Mas Smoke obrigou-me e até me bateu. — Weed não levantava os olhos.
— Quem é Smoke? — perguntou Brazil.
— Ele assaltou a garagem e levou as armas todas. Obrigou-me a acompanhá-lo e fui eu que segurei nas fronhas. Por isso, acho que vou ser engaiolado por isso e tudo o mais e não me importo, porque se for p’rà rua, Senhor Guarda, Smoke vai matar-me. Eu sei. Anda à minha procura. Foi por isso que lhe disse para me prender.
— Sabes o verdadeiro nome de Smoke?
— Ele é só Smoke. Nunca ouvi outro nome.
— Ele vai à escola contigo?
— Vai.
— E não sabes o verdadeiro nome dele?
— Ele é dos mais velhos e eu não os conheço, excepto os da aula de Desenho e Smoke nunca foi às aulas de Desenho, nem à banda.
— Ele mete-se em sarilhos na escola? — perguntou Brazil.
— Eu até nunca tinha reparado nele, antes de ele ter ido à minha procura. Encontrou-me na sala da banda e perguntou-me se eu queria boleia para a escola de manhã e houve qualquer coisa que me disse para não recusar. E, logo a seguir, desatou a falar de armas e dos Pikes e de como não havia ninguém na escola que merecesse ser dos Pikes, a não ser os que ele escolhia. Disse que tinha coisas especiais a fazer.
— E disse-te que coisas especiais eram essas?
— Estava sempre a dizer que iam todos ficar a conhecê-lo, que seria mais famoso do que Twister, porque ainda há fotografias de Twister lá na escola, e trofeus nas vitrinas, portanto deve ter sido assim que Smoke soube do Twister.
— Pensa bem, Weed. — Brazil pôs as mãos nos ombros de Weed. — Smoke andava a planear alguma coisa que o tornasse famoso? Talvez alguma coisa má?
— Acho que quer matar pessoas — respondeu Weed.
Brazil pensou no que havia de fazer. Se Smoke estava a pensar aparecer na escola com uma data de semiautomáticas e matar o maior número possível de pessoas, tinha de agir rapidamente. Agarrou no telefone e ligou para West, acordando-a.
— Vem imediatamente para aqui — disse Brazil. — Não perguntes porquê. Vem.
— Para onde? — perguntou ela, ensonada.
— Para a sede. Temos de pôr o maior número possível de polícias em Godwin amanhã, para nos certificarmos de que Smoke não aparece, e temos que tratar disso já.
West tentou ficar mais desperta. Brazil ouvia-a às voltas.
— Vou ter contigo à divisão de detectives talvez daqui a duas horas — disse Brazil.
— Está bem — respondeu ela.
Weed estava cada vez mais assustado. Dava puxões na camisola e inspirava fundo, como se não conseguisse respirar bem.
— Ele obrigou-me a fazer coisas. Encostou-me uma arma à cabeça e disse que disparava se eu não obedecesse. Depois, aí há coisa de duas semanas, deixou de ir à escola.
— Portanto, também deixou de te dar boleia. — Brazil tomava notas sem parar.
— Deixava-me lá e seguia. Depois, começou a fazer-me chegar tarde, a arrastar-me de um lado para o outro, fazendo com que faltasse aos ensaios da banda. E eu era para tocar no Desfile das Azáleas, no sábado. — O olhar dele apagou-se. — Tenho andado a ensaiar o ano todo e agora acho que não posso ir.
O telefone tocou, assustando-os a ambos. Brazil atendeu. Estava tenso e um tanto impaciente, enquanto explicava as transgressões de Weed ao agente Charlie Yates.
Brazil acusou-o de violação da lei 18.2-125, Invasão de cemitério à noite, uma infracção de classe 4; da lei 18.2-127, Danos em igrejas, propriedade de igrejas, cemitérios, etc., uma infracção de classe 1; e da lei 182.2-138.1, Danos intencionais infligidos a instalações públicas ou privadas ou desfiguração das mesmas, uma infracção de classe 1 ou crime, dependendo dos danos causados.
— Então, qual é? — quis saber Yates.
— Infracção, classe um — disse Brazil. — Não sabemos quanto vai custar a limpeza da estátua. Se for mais de mil dólares, trataremos disso em tribunal.
Weed olhava para Brazil de olhos esbugalhados. Era óbvio que não compreendia e estava aterrorizado.
— A audiência está marcada para sexta — continuou Yates. — Ele tem alguém...?
— Quero que seja de manhã — interrompeu Brazil. — É muito importante, Charlie.
— OK, não há problema. Para Yates, era indiferente.
Para Brazil não o era. Sabia pelo calendário do tribunal daquele mês que estava de serviço a Juíza Maggie Davis, a qual seguia a política de não autorizar o público nas suas audiências, a não ser que o menor tivesse cometido um homicídio. A última coisa que Brazil queria era uma audiência pública. Não queria que nenhum repórter de serviço ao tribunal entrasse por ali dentro. Queria apenas os advogados e o juiz para ouvirem o que ele e Weed tinham para dizer.
— Ele tem alguém que o vá buscar hoje à noite e o leve a casa? — perguntou Yates.
— Ainda não conseguimos localizar a mãe.
Esta estava no bloco operatório e não a podiam chamar, mas Brazil não insistira muito. Weed não queria ir para casa e Brazil também achava que era melhor.
— Na detenção temporária não há camas. Acabei de confirmar — informou-o Yates.
— Nunca há — retorquiu Brazil.
— Portanto, se ele não puder ir para casa, vai acabar por passar a noite numa cela.
— Não faz mal — disse Brazil, sem tirar os olhos de Weed. — Assim que aqui chegares, assino a petição e levo-o. E despacha-te, Charlie. Estão a passar-se muitas coisas.
Weed ficou num quarto sem grande vista, uma cela pouco maior do que um armário, tudo de aço inoxidável, incluindo a cama. Ficou a olhar por uma pequena grade, vendo chegar outros miúdos que lhe faziam lembrar Sick, Beeper, Divinity e Dog. Nenhum o recordou de Smoke, pois não tinha ar daquilo que era.
Já era escuro quando o agente Brazil o trouxera para este local, o Lar de Detenção de Menores, muito diferente de outros lares que Weed conhecia. Não conseguira ver o exterior, mas sabia que ficava numa zona má da cidade, pois mesmo antes de chegarem tinham passado pela cadeia. Estava tudo iluminado e rodeado de rolos de arame farpado que brilhava como lâminas, à espera de cortar alguém. Sentiu um frio no estômago e o coração gelado.
Ainda estava furioso por o terem obrigado a tirar a roupa toda e a tomar um duche. Quando acabou, tinha um uniforme à espera que não lhe agradou nada, pois recordava-lhe a roupa que o pai usava quando limpava esgotos e aparava sebes, quando não andava a gastar o que ganhava.
— Ei! — Weed bateu com força na porta.
Alguém praguejava e um delegado dizia a um rapaz arrogante tudo o que fizera de mal e por que motivo ia pagar por isso.
— Ei! — Weed bateu novamente na porta de metal com os punhos, pondo-se em bicos de pés para espreitar pela grade.
Subitamente, deu de caras com um delegado, separado dele pela simples grade de metal. O hálito do homem cheirava a cigarros e a cebola.
— Há algum problema? — perguntou o delegado.
— Quero ver o meu agente — disse-lhe Weed.
— Ei! — gritou o delegado. — Ele quer ver o agente dele! Seguiram-se risos e insultos.
— O quê? Não me digas que tens um agente particular? — disse o delegado, gozando com Weed. — Isso é que é!
— É o que me trouxe — explicou Weed. — Diga-lhe que tenho de lhe falar.
— Podes falar com ele no tribunal.
— E quando é isso?
— Às nove da manhã.
— Preciso de saber se ele telefonou à minha mãe! — exclamou Weed.
— Devias ter pensado nela antes de teres infringido a lei — disse o delegado.
Passava pouco das três da manhã quando uma equipa das forças especiais tomou de assalto a sede dos Pikes no Southside Motel, encontrando o local abandonado. A polícia não recuperou armas nem munições. Apenas encontrou bebidas, lixo e colchões nojentos.
Brazil falava num telefone, West noutro, cada um num cubículo da secção de detectives. Brazil telefonara à directora de Godwin, Mrs. Lilly, para casa dela, a qual, assim que percebeu do que se tratava, foi ter com o chefe da secretaria à escola e começaram a investigar os processos dos alunos.
Acabaram por descobrir que o verdadeiro nome de Smoke era Alex Bailey, mas a morada registada no processo escolar não existia, o número de telefone não respondia e não havia qualquer fotografia no ficheiro. Embora o anuário ainda não tivesse saído, não constava da lista dos alunos que tinham incluído uma fotografia. Tudo o que se sabia era as aulas que tinha frequentado e que se mudara para lá no Verão passado de Durham, Carolina do Norte, onde não existia a pequena escola privada que supostamente frequentara.
Brazil telefonou a todos os Baileys da lista telefónica, acordando as pessoas. Parecia não haver ninguém com um membro da família de nome Alex que frequentasse a Escola Secundária de Godwin.
— Como é que ele se safou desta? — perguntou Brazil a West. — Usa uma morada, um número de telefone e uma escola falsos, e sabe-se lá que mais.
West estava a fumar um Carlton. Deixara de fumar há alguns meses, mas em momentos destes precisava de um amigo.
— Quem é que vai verificar? — perguntou ela. — Alguma vez alguém da tua escola te telefonou para casa ou te foi lá ver?
— Não me lembro.
— Bem, a mim não. E o mesmo se passa com a maioria das pessoas, a não ser que se metam em sarilhos. E parece que ele era do tipo de passar despercebido, até há algumas semanas. Começa, então, a faltar a algumas aulas ou a não aparecer de todo. Talvez a escola comece a fazer telefonemas, mas nessa altura é demasiado tarde.
— Pergunto-me se os pais saberão de alguma coisa — disse Brazil, pegando no copo de papel que contivera café em estado de se beber.
— Vão negar, talvez para o proteger. Não querem enfrentar o problema, nunca o fizeram. Não tenho qualquer dúvida de que este miúdo já é conhecido da polícia. Não há fotografias, incluindo no anuário, exactamente como os outros criminosozinhos, portanto não sabemos o aspecto deles. Aposto o que quiseres que tem cadastro na Carolina do Norte e foi provavelmente transferido da Escola Secundária de Dillon. — Referia-se sarcasticamente ao Centro de Reinserção de Butner, na Carolina do Norte. — A porcaria da família mudou-se certamente para cá quando ele fez dezasseis anos, e todos os seus registos foram destruídos. Portanto, o sacana pôde começar de novo, tão limpo como um escuteiro.
Brazil fez girar o café. Inspirou profundamente e deixou sair o ar devagar.
— Bom, vais dar-te ao trabalho de te ir deitar esta noite? — perguntou West.
— A noite já acabou — respondeu Brazil.
— Queres ir a minha casa e fazemos uns ovos mexidos ou coisa assim?
Os olhos de Brazil encheram-se de tristeza.
— Desde que passemos pela minha primeiro — disse ele. — Tenho de ir buscar uma coisa.
O Motel das Azáleas, na Chamberlayne Avenue de Northside não era o tipo de local onde a polícia esperaria encontrar Smoke. Também lhe agradava a ironia do nome, pois o Desfile das Azáleas era daí a dois dias e Smoke tinha grandes planos.
Estava sentado numa cama estreita, num quarto simples, pensando que aquele sítio não era muito melhor do que a sede do clube. O Motel das Azáleas era o tipo de local onde gente se drogava e era assassinada, sem que ninguém ligasse. Smoke ficou com o quarto 7 por vinte e oito dólares a noite. Olhava para a televisão com ar ausente e bebia vodca por um copo de plástico. Estava a controlar as notícias. Às seis e cinco da manhã, tocou o telefone.
— Sim — respondeu ele. Era Divinity.
— Querido, assaltaram a nossa sede, tal como tu disseste — disse-lhe ela numa voz excitada.
Smoke sorriu enquanto olhava para os sacos de lixo cheios de armas e munições, a um canto.
— Eu e Sick estacionámos o carro na livraria pornográfica e ficámos no bosque a observar, sabes. Tivemos que nos controlar para não desatarmos a rir. Eles a entrarem por ali dentro, com uma data de tralha e armas impressionantes e tudo. Tiveste toda a razão em sair naquela altura, amorzinho. Mas quero saber quando é que te vou ver.
— Agora não — disse-lhe Smoke sem muito interesse, fazendo girar o tambor de um Colt 357mm.
— Bem gostava de sentir um pouco mais de entusiasmo. — A voz de Divinity soou magoada e quase zangada.
Smoke não lhe prestou atenção. Estava a pensar na velha e no medo que mostrara. Nunca assustara ninguém àquele ponto. O seu próprio poder intimidava-o e embriagava-o tanto como o vodca. Adorava a sensação de apertar o gatilho. Quando lhe estoirara a cabeça, estava tão pedrado que mal ouvira as explosões. Emborcou mais vodca.
— Que é que eu digo aos outros? — perguntava Divinity. Smoke voltou a si.
— Sobre o quê? — perguntou ele.
— Nem sequer estavas a ouvir. — A voz dela endureceu.
Uma coisa que Smoke evitava era zangar-se com Divinity. Ela fazia cenas terríveis e não lhe apetecia nada uma naquele momento.
— É que estou tão cansado — disse ele, suspirando. — E tenho saudades tuas e fico louco de só te poder ver no sábado à noite. Nessa altura, estamos livres.
— Como?
— Verás.
— E o Dog e os outros?
— Não os quero perto de mim — disse Smoke. — Nenhum de vocês se aproxima do Desfile das Azáleas.
— Não percebo este barulho todo por causa de um desfilezito com o nome de um arbusto. — Divinity não amansara lá muito.
— Querida, vou ser o rei do espectáculo — disse Smoke.
— O que é que vais fazer, desfilar num carro alegórico?
Ele não suportava o sarcasmo dela. Bateu com a garrafa de vodca e fechou o tambor vazio do revólver. Disparou em seco contra a televisão.
— Cala-te! — disse na sua voz diabólica, o tom com que ficava quando a mudança o dominava. — Limitas-te a fazer o que eu digo, cabra.
— Faço sempre. — Divinity acobardou-se.
— Não voltes a telefonar, nem venhas cá. Os outros não sabem onde é que eu estou, pois não?
— Não lhes disse nada. Portanto, vais pôr-me a andar?
— Por dois dias.
— Então, continuamos bem os dois?
— Melhor é impossível — disse ele.
Brazil deu um pulo rápido a casa e, ao regressar ao carro de West, trazia um saco de compras com qualquer coisa lá dentro. Tinha uma expressão estranha no rosto.
— O que é isso? — perguntou West.
— Logo verás — disse ele. — Agora não quero falar disso.
— Tens aí dentro um bocado de um corpo ou coisa assim?
— De certa forma — disse Brazil morbidamente.
West já soubera de Ruby Sink. A notícia espalhara-se como um raio. Toda a gente do departamento ficou a saber que Miss Sink era a senhoria de Brazil e, quando West ouviu a verdade, sentiu-se cheia de culpa, para além de estúpida e ignorante. A suposta namorada de Brazil era uma mulher de setenta e um anos que lhe alugara uma casa. West sentia-se muito mal e andava há horas a pensar no que lhe havia de dizer.
Atravessou o Fan. Não havia nada aberto, nem sequer o Robin Inn. Estacionou em frente de sua casa e desligou o motor, mas não saiu. Olhou para Brazil no escuro e sentiu o coração tremer ao olhar o rosto bem desenhado pelas sombras dos candeeiros.
— Já sei — disse ela. Ele não disse nada.
— Sei que Ruby Sink era tua senhoria. Tinham-me dito que andavas com ela.
— Que andava com ela? — admirou-se ele. — Onde é que ouviste uma coisa dessas?
— Desde o primeiro dia que não se falava de outra coisa no departamento — retorquiu West. — Disseram-me que andavas com a tua senhoria. Depois, ouvi-te a falar com ela ao telefone e... bem, parecia ser verdade, de certa forma.
— Porquê? Porque era simpático quando ela me mandava mensagens? — perguntou Brazil emocionado. — Porque se sentia só e andava sempre a trazer-me bolachas, bolos e coisas? — Tremeu-lhe a voz. — Deixava-as à porta, porque eu nunca estava em casa e nunca a podia receber!
— Lamento, Andy — disse West suavemente.
— É como com a minha mãe. — Estava quase a chorar. — Nunca lhe telefono. Está sempre bêbeda e eu não suporto isso e não oiço as coisas horríveis que ela diz. Não sei, não sei.
West chegou-se e abraçou-o. Apertou-o contra ela para o acalmar. O sangue aqueceu-lhe e a química despertou.
— Está tudo bem, Andy — disse ela. — Vai ficar tudo bem. Queria ficar a abraçá-lo para sempre, mas subitamente a estranheza da situação dominou a magia. Pensou na sua idade. Pensou no talento dele, em tudo o que o tornava tão especial e único. Ele abraçava-a também por estar tão nervoso, não podia haver mais razão nenhuma. Certamente que o coração dele não batia como o dela, nem devia estar ciente da forma como os seus corpos se tocavam. Afastou-se abruptamente.
— Acho que é melhor entrarmos.Niles ouviu-os muito antes de eles pensarem nele. Estava à espera na porta da frente quando a dona e o Homem-Piano entraram.
O Homem-Piano fez-lhe festas, apesar de a dona nem se incomodar. Niles ficou onde estava, a abanar a cauda. Ficou a observá-los e a magicar, enquanto eles iam para a cozinha.
Quando desapareceram, Niles saltou para a mesa do vestíbulo. Prendeu uma garra no cartão da florista e saltou para o chão, aterrando silenciosamente em três patas.
West achava que não era capaz de comer a tarte de batata-doce. Ficou a olhar para a fatia que Brazil lhe pusera à frente. A ideia de que Ruby Sink a fizera antes de ser assassinada a sangue-frio era demasiado para ela.
— Não a posso deitar fora. — Brazil estava sentado à mesa da cozinha, em frente dela. — Seria desumano deitá-la fora. Não posso. Tu também não eras capaz, Virgínia. Ela havia de gostar que a comêssemos.
— É um bocado doentio — disse West, pestanejando, focando a vista e olhando para ele. — Acho que não consigo.
Brazil pegou no garfo. Estremeceu ao cortar a ponta da sua fatia. Ergueu-a. Respirou fundo e pô-la na boca. West viu-o mastigar uma vez e engolir e ficou surpreendida ao ver como ele ficou aliviado. A tensão abandonou-lhe o rosto e os olhos iluminaram-se com aquela brilhante chama azul que ela aprendera a reconhecer e a levar muito a sério.
— Não há problema — disse ele numa voz forte. — Confia em mim. — Fez-lhe sinal para que comesse.
West nunca recusara um desafio, especialmente na frente dele. Dar uma dentada naquela tarte foi uma das coisas mais difíceis que fizera. Ficou surpreendida por não ter um sabor esquisito, a coisa morta ou sabe-se lá a quê. Não fazia ideia do que esperara.
—- Açúcar amarelo, leite de coco, canela — disse Brazil, que passava mais tempo na cozinha do que ela.
Ele deu outra dentada, desta vez sem hesitar. West imitou-o.
— Passas e extracto de baunilha. — Brazil saboreou com a língua, como se estivesse a provar um bom vinho. — Ah, gengibre, uma pitada. E um sopro de noz-moscada.
— Um sopro? De onde diabo é que vem essa merda?
Brazil deu outra dentada e ela também. Até era capaz de comer outra fatia para o deixar mal.
Como era costume, nenhum deles deu por Niles. O gato entrou na cozinha com uma pata no ar e um pedaço de papel branco preso numa das garras.
— Fofinho? — exclamou West alarmada, certa de que ele estava ferido. — Oh, queridinho, o que é que te aconteceu?
Só percebeu o que ele tinha nas garras quando o gato já estava no colo de Brazil e se via perfeitamente o cartão da florista que estivera na mesa do vestíbulo. Brazil ficou com um ar confuso.
— Flores e Presentes, Schwan, Charlotte? — leu em voz alta o que estava no envelope ao tirar o cartão. — A pensar em ti, Andy — continuou a voz dele.
West tentou parecer indiferente, sem o conseguir. Odiou Niles e pensou que havia de se vingar.
— Como é que isto foi parar à mesa da entrada? — quis saber Brazil.
— Como é que sabias que estava na mesa? — perguntou ela calmamente, imaginado-se a abandonar Niles no meio de uma tempestade.
— Vi-o lá quando estivemos aqui a trabalhar no computador!
— E por que é que te puseste a olhar para as coisas? — A ira e a mágoa, reprimidas durante tantos meses, saltaram cá para fora.
— Porque o puseste lá para que eu o visse! — exclamou ele.
— Que arrogância a tua!
— Então, por que foi? — perguntou ele. — E não me venhas dizer que foi o Niles.
West afastou o prato e olhou em frente. Pensou numa forma de dizer o que queria. Confessar os nossos sentimentos era tão perigoso como descer uma rua escura a contar dinheiro.
— Porque tu deixaste de gostar de mim. — Pronto, já dissera.
— Isso foi porque tu deixaste de gostar de mim primeiro — contrapôs ele.
— E isso foi porque pensei que me largaras assim que chegámos à cidade e começaras a andar com outra pessoa, sem sequer teres a delicadeza de me dizer.
— Virgínia, não andei com ninguém — disse Brazil num tom mais suave.
Esticou o braço e pegou-lhe na mão. Ela engoliu a custo.
— E não te larguei — disse ele.
Ele puxou a cadeira para junto da dela e beijou-a. No quarto, descobriu os copos de vinho de Mountain Dew.
Hammer tinha vontade de largar completamente o projecto do INJ. Tinha o espírito cheio de imagens de pessoas infelizes e em desacordo que não a deixavam dormir. Pensava em Bubba e em como o tinha difamado. Ficava obcecada por não ter sabido lidar com Lelia Ehrhart e outros como ela.
Parte da sua missão era esclarecer as pessoas e não via provas de o ter feito. A outra parte era modernizar o departamento de polícia. E que acontecera? A rede de telecomunicações do COMSTAT fora completamente abaixo. Os assaltos nos multibancos tinham degenerado em assassínio. Apareceram gangs. E aparecera Smoke.
Hammer achava que não ia conseguir voltar a olhar para a Ruby Sink, nem sequer passar pelo quarteirão em que ela vivera. Miss Sink, no seu robe cor-de-rosa e chinelos, invadira o seu espírito toda a noite e Hammer não conseguia esquecer a última conversa que tiveram, no passeio junto da casa dela. Via a velha senhora com tal pormenor que lhe doía o coração e ficava cheia de culpa.
— Sou um falhanço — disse Hammer a Popeye. Popeye estava debaixo do cobertor, entre os pés da dona.
— Causei mal a outros. Nunca devia ter vindo para aqui. Aposto que preferias viver em Charlotte, onde tinhas um jardim, não é?
Os olhos encheram-se-lhe de lágrimas, mas Popeye arrastou-se para cima e lambeu-lhe a cara. Hammer não se lembrava da última vez que chorara, pois quando Seth morrera fora tremendamente estóica, acreditando que assim era necessário. Racionalizara as razões pelas quais os filhos pareciam não a querer ver. E fora corajosa e inovadora, empenhando-se na comunidade. Tudo isso para estar tão ocupada que não teria tempo para a solidão, mas não dera resultado. Levantou-se e vestiu-se.
Ninguém respondeu de casa de Brazil quando Hammer lhe ligou do telefone do carro. Tentou em seguida a casa de West e ficou aliviada por ambos lá estarem.
— Tenho algo de importante para vos dizer — disse Hammer.
A esta hora da manhã, o estacionamento no Fan não era grande problema e conseguiu enfiar-se num espaço junto ao passeio, mesmo em frente da casa de West. Quando Brazil abriu a porta da frente, sentia-se entorpecida, ausente e sem vontade de reagir.
— Obrigada por me receberem — disse ela, ao entrarem para a sala.
— Nós é que agradecemos — retorquiu ele. — Está tudo desarrumado.
Hammer não queria saber. Nem sequer reparava no que a rodeava, desarrumado ou não. Sentou-se numa cadeira de costas altas, enquanto West e Brazil se instalavam em frente dela, no sofá.
— Virgínia, Andy — começou ela —, vou pedir a demissão.
— Oh, meu Deus! — exclamou West, chocada.
— Não pode — disse Brazil, mal-disposto.
— De uma forma geral — continuou Hammer —, só consegui dar cabo de tudo por aqui. Já fui uma boa agente da polícia, uma boa chefe, mas agora todos nos odeiam.
Nem todos — contrapôs Brazil.
— A maior parte — concordou West. — Sejamos honestos.
— Bem, acho que a ligação a Charlotte não ajuda — sugeriu Brazil.
— Nem o facto de termos lixado a rede do COMSTAT em quase todo o lado — acrescentou Hammer.
— Nem a nossa incapacidade de resolução dos casos do multibanco antes de terem acabado naquele homicídio horrível. E também o facto de uma agente das comunicações se ter pegado à luta com um polícia de trânsito, tendo ambos recebido louvores poucos dias antes. — West ajudava a alongar a lista.
Hammer cruzou as mãos no colo e ficou imóvel. Não interrompeu, não se levantou, nem começou a andar de um lado para o outro.
— Judy — disse West —, para onde é que vai? Volta para Charlotte? Hammer abanou a cabeça.
— Para lado nenhum — respondeu ela. — Se não sou capaz de dar conta de Richmond, não vou ser capaz de o fazer noutro lado. Quando o cavalo morre, é melhor desmontar. Vou abandonar a polícia. Não sei para onde vou viver, é-me indiferente.
— Isso faz-me lembrar uma coisa — interpôs West. — Temos de falar sobre o Desfile das Azáleas.
— Ela disse alguma coisa que te fizesse lembrar isso? — perguntou Brazil.
— O comentário sobre o cavalo. Temos polícia a cavalo no desfile — disse West. — E — olhou para Hammer — eu e Andy temos de ir no seu descapotável.
— Que tipo de descapotável é? — Hammer parecia distraída.
— Um Sebring azul-escuro — respondeu Brazil. — Discreto, embora um dos chefões da Philip Morris a quisesse levar no seu Mercedes vermelho descapotável.
— Não é boa ideia — murmurou Hammer.
— Acho que nem sequer deve ir à parada — disse West com convicção. — Pode ser um dos alvos de Smoke. Detesto que vá desfilar lentamente num descapotável. Há imensos safados por aí.
Hammer levantou-se. Era-lhe indiferente o que lhe pudesse acontecer.
— É importante — disse ela sombriamente. — Tudo o que fizermos para chegar à comunidade é uma ajuda, e não vou faltar a uma promessa.
— Bem, vamos ter cinquenta polícias extra, para além dos turnos habituais — disse-lhe West. — Aos olhos do público, vai parecer que estamos apenas a dirigir o tráfego. E também mobilizámos cerca de vinte paisanas para se misturarem com as pessoas, para o caso de Smoke aparecer ou outra pessoa decidir arranjar sarilhos.
Bubba pensava o mesmo. Achava que a chefe-adjunta Hammer não devia seguir num carro aberto no Desfile das Azáleas e, ainda pior, a notícia saíra nos jornais e toda a gente sabia. Era possível que tudo viesse desaguar aqui. Bubba fora chamado para a salvar de um grande perigo e pensava que eram os Pikes que iriam estar por trás de tudo.
Às oito da manhã, estava já a estacionar em frente da Green Top Sporting Goods, na Nacional 1, a cerca de vinte minutos de Richmond. Era ali mesmo que lhe apetecia ir. Assim que entrou e foi saudado por milhares de canas de pesca e restante equipamento, sentiu aumentar a pulsação. Quando virou à direita e viu centenas de espingardas, carabinas, pistolas e revólveres, até ficou corado. Sentia um prazer que nunca alcançara com Honey.
— Ena, quem aqui está! — Foi efusivamente cumprimentado por Fig Winnick, o subgerente.
Segundo a lei da Virgínia, um cidadão podia comprar apenas uma arma em cada trinta dias. Isto dera origem a uma espécie de brincadeira, um clube chamado “A Arma do Mês”. Era constituído por um pequeno grupo de gente esperta, cento e oitenta e nove homens e sessenta e duas mulheres, que enviavam mensagens uns aos outros quando expiravam os respectivos trinta dias, normalmente arredondados para um mês. Estava-se a 2 de Abril.
— Se ao menos cá tivesse vindo há dois dias, podia ter comprado uma arma nessa altura e outra hoje — disse Bubba, confundindo tudo como habitualmente.
— Isso é que era bom — disse-lhe novamente Winnick. — Não funciona assim, Bubba, o que é uma pena dos diabos.
— Então, estás a dizer-me que não é uma vez por mês? — Bubba recusava-se a acreditar.
— Não literalmente: é mais ou menos, se começarmos no primeiro dia de cada mês.
— Sabes, roubaram-me as armas todas. — Bubba inspeccionava o material.
— Ouvi falar nisso — disse Winnick com pena.
— Portanto, só me resta o Anaconda e preciso de uma coisa mais fácil de guardar. — Bubba falava como bom entendedor.
— Tenho mesmo aquilo que precisas.
Winnick abriu carinhosamente uma vitrina e tirou uma pistola Browning 40 S& W Hi-Power Mark III. Passou a beleza a Bubba.
— Oh, meu Deus — murmurou Bubba, acariciando a pistola prateada. — Oh, oh, oh.
— Coronha de poliamida com apoio de polegar — disse Winnick. — Pesa mais ou menos um quilo, cano de doze centímetros. Encaixa bem na mão, não achas?
— Caramba, é mesmo.
Bubba puxou o tambor e fê-lo saltar. Não podia imaginar som mais belo.
— Mira dianteira discreta, a posterior é ajustável — continuou Winnick. — Segurança ambidestra, pente de dez.
— Importada da Bélgica. — Bubba não se deixava enganar. — É autêntica.
— Totalmente.
— Há com acabamento azul-fosco? — inquiriu Bubba. — Não se nota tanto.
— Lamento — desculpou-se Winnick. — Bolas, se cá tivesses vindo ontem, tínhamos ainda onze.
— Bem, acho que esta serve — disse Bubba.
Patty Passman estava igualmente a fazer planos. Há doze anos que não perdia um Desfile das Azáleas e não tencionava perder este. Embora Rhoad a tivesse acusado injustamente de muitas coisas, só agressão a um agente policial tinha sido aceite. Desejava que o funcionário das fianças, Willy “Lucky” Loving, aparecesse, para se poder pôr a andar dali.
Estava numa área de detenção temporária, onde os detidos usavam as suas próprias roupas, entregando apenas os cintos para tornar o suicídio mais difícil. Passman sentia-se pegajosa e tinha as meias tão rasgadas que não teve outra hipótese senão tirá-las em frente da companheira de cela, Tinky Meaney, uma condutora de camiões dos Dixie Motorfreight, que fora presa por se ter metido numa luta no parque de estacionamento do Power Clean Grill, em Hull Street. Passman desconhecia os pormenores, mas tinha a certeza de uma coisa: Tinky Meaney não fazia parte da lista dos possíveis convidados de uma festa sua.
— Quem me dera que ele se despachasse — disse Passman, sentada na estreita cama de metal.
Repetiu isto várias vezes, para que ficasse claro a Meaney que não gostava da companhia dela e que estava desejosa de se ir embora. Meaney era uma mulher grande, do tipo das que diziam que não são gordas; tinham era os ossos grandes e pesados, o que era um disparate.
As coxas dela eram mais grossas que o maior dos presuntos que Passman já vira e, sempre que se punha a andar na minúscula cela, o tecido dos jeans rangia devido ao facto de as coxas baterem uma na outra. Tinha mãos enormes, com uns dedos curtos e grossos com grandes nós, todos esfolados da luta que causara a sua detenção. Não tinha pescoço. Sentada na berma da cama a olhar para Passman, os seios de Meaney caíam sobre o cós vazio. Umas pernas esbranquiçadas, com os pêlos rapados, viam-se por entre a bainha dos jeans e o topo das botas à cow-boy vermelhas e pretas, feitas à mão.
— Para onde diabo é que está a olhar? — Meaney apanhara Passman a olhar.
— Para nada — mentiu Passman.
Meaney esticou-se de lado, apoiada num cotovelo e com o queixo na mão. Olhava em frente sem pestanejar, com um olhar nos olhos minúsculos que Passman reconheceu imediatamente. Ao mesmo tempo, percebeu, espantada, que os seios da outra eram ainda maiores do que pensara. Um pendia do lado da cama, quase a tocar no chão, semelhante a um saco de areia. Passman viu que Meaney não usava soutien sob a sweatshirt dos Motor Mile Towing & Flatbed Service.
Aquilo recordou-lhe penosamente mais outra jogada baixa que a vida lhe reservara. Por muito que aumentasse de peso ao longo dos anos, os seus seios permaneceram pequenos. As células gordas esquivavam-se a todas as oportunidades de crescimento; sempre assim fora. Suspeitava que, na infância, quando tentara ser rapaz, aquela parte da programação não se apagara, mesmo depois de ter regressado ao seu sexo.
Nas aulas de saúde do oitavo ano, fora insuportavelmente humilhante ver os filmes sobre a menstruação, com as linhas do corpo da mulher a desenvolverem-se ali no ecrã, mesmo defronte dos seus olhos, os seios a arredondarem-se, o musculoso útero, em forma de pêra, a descarregar o menstruo em pequenas manchas que flutuavam por aquela forma madura e saíam.
Todas as outras raparigas se reviam ali, excepto Passman. Para dizer a verdade, até podia ter vivido sem soutien. Os seus períodos eram ínfimos, acidentes mensais que exacerbavam a hipoglicemia e a deixavam de mau humor.
Passman continuava a olhar, embasbacada, perdida em recordações tortuosas da puberdade. Meaney sorria diabolicamente e esticava-se, com ar provocante. Passman voltou a si e desviou rapidamente o olhar.
— Quem me dera que ele se despachasse — repetiu ela, desta vez com mais ênfase.
— Não se está aqui nada mal — disse Meaney com um sotaque arrastado. — Estou a reconhecer a sua voz. Ouço-a constantemente quando estou na região e sintonizo o CB. Os canais um, dois e três, sei-os de cor. Quatro-sessenta ponto cem megahertz, 460.200, 460.325. Sempre achei que tinha uma bela voz.
— Obrigada — disse Passman.
— E então, o que é que fez?
Passman achou melhor enviar-lhe um aviso.
— Dei cabo de um gajo — respondeu ela. — Descontrolei-me e devia ter-me aguentado um pouco mais. Que grande filho da puta, estava mesmo a pedi-las.
Meaney acenou com a cabeça.
— O meu também estava mesmo a pedi-las, cabrão de um corno. Estou eu sentada no bar, muito sossegada, sabe, depois de um longo dia na estrada, mas mesmo muito longo. Ele chega-se à minha mesa, um cabrão de merda, com um chapéu de cowboy. Reconheço-o. — Acenou novamente com a cabeça. — E ele reconhece-me. — Voltou a acenar. — Tinha trazido o carro dele, um Chevy Dually de 92, rebaixado, todo artilhado, jantes de alumínio, vidros escuros, os luxos todos.
Estava eu no parque de estacionamento e vai ele e pergunta-me se eu gostava. Disse que sim. Perguntou-me o que é que eu guiava. Disse-lhe que era um Mack. Perguntou-me se já tinha guiado um Peterbilt. Disse-lhe que já guiara tudo o que havia. Perguntou-me se já fizera algum broche num Peterbilt. Disse-lhe que não. Perguntou-me se queria. Perguntei-lhe por que diabo havia de querer e vai ele puxa o fecho das calças e eu atiro-o de encontro ao Ckevy Dually.
Depois devo ter-me atirado mesmo a ele, pois ficou que nem um hambúrguer, um monte de ossos partidos, dentes por todo o lado menos na boca, o cabelo quase todo arrancado, uma orelha a menos. O que eu detesto quando alguém me chateia assim é que, mais tarde, não consigo lembrar-me de nada. Deve dar-me uma coisa qualquer, como se fosse epiléptica.
— A mim acontece-me o mesmo — disse Passman.
— Vive nesta zona?
— Vivemos perto de Regency Mall.
— Quem é o nós? — Os olhos de Meaney escureceram, meio fechados.
— Eu e o meu namorado. — Passman mentiu em autodefesa.
— Em tempos, tive um — recordou-se Meaney. — Depois, fui posta dentro um dia. Já me esqueci porquê. E havia lá outra mulher. — Meaney meneou a cabeça e recostou-se, com as mãos atrás da cabeça e o corpo a ocupar o espaço todo.
Passman começou a entrar em pânico. Se o tipo da fiança, Lucky Loving, não se apressasse, matava-o. Não queria encorajar Meaney, muito longe de si, mas tinha de saber o resto da história. Precisava do máximo de informação possível, pois mulher prevenida vale por duas, já dizia a sua mãe.
— O que é que aconteceu? — perguntou Passman, após um longo e intenso silêncio.
— As coisas que nós fizemos! Ah! — Meaney sorriu, saboreando a recordação. — Deixa-me dizer-te uma coisa, querida. Os homens não têm nada que a gente também não tenha, se percebes o que eu quero dizer.
O edifício do Tribunal Oliver Hill era moderno e cheio de luz, com belos entalhes nos painéis de mogno. Brazil nunca vira uma sala de audiências tão diferente do habitual e, ao entrar com o processo de Weed debaixo do braço, sentiu-se um pouco mais optimista. Faltavam cinco minutos para as nove e, ao contrário de outras secções de menores, esta cumpria os horários. Se a audiência era às nove, começaria a essa hora, altura em que o intercomunicador anunciou “Weed Gardener, apresente-se na sala número dois, por favor”.
A Juíza Maggie Davis estava já no seu lugar, distinta e temível no seu manto negro. Era nova para juíza e, quando a Assembleia Geral a nomeara, entrara em força e começara a fazer mudanças. Embora protegesse o nome de menores que tinham cometido crimes pouco graves, não era indulgente nem protegia criminosos violentos.
— Bom dia, agente Brazil — disse a Juíza Davies, enquanto Brazil se sentava na primeira fila e o funcionário lhe entregava o processo de Weed.
— Bom dia, Meritíssima — respondeu Brazil.
Um procurador escoltou Weed e colocou-o em frente da juíza, onde parecia ainda mais pequeno, com um fato de treino azul que lhe assentava mal e uma camisola preta da Spalding dada pelo centro de detenção. No entanto, Weed mantinha a cabeça erguida. Não parecia abatido ou envergonhado, dando até um ar de quem está ansioso pela audiência, ao contrário do Procurador do Ministério Público, a advogada de defesa oficiosa, mesmo atrás dele, ou Mrs. Gardener, que se encontrava à porta a explicar a um funcionário quem era.
— ...sim, sim, o meu filho — ouviu Brazil a Mrs. Gardener.
— Mrs. Gardener? — inquiriu a juíza.
— Sim — murmurou ela.
A mãe de Weed trazia um vestido azul bem engomado e sapatos a condizer, mas o seu rosto desmentia aquela aparência cuidada. Tinha os olhos inchados e cansados, como se tivesse passado a noite a chorar. Tremiam-lhe as mãos. Quando Brazil conseguira por fim falar com ela ao telefone para lhe contar acerca de Weed, desatara a chorar, dizendo que falhara como mãe. Confessou a Brazil que deixara de ter sentimentos ou capacidade de enfrentar fosse o que fosse desde que Twister morrera.
— Pode vir até aqui — disse a juíza amavelmente.
Mrs. Gardener avançou para a frente da sala de audiências e sentou-se discretamente a um canto da primeira fila, tão longe de Brazil quanto possível. Weed não se voltou.
— Espera mais algum membro da família? — perguntou a Juíza Davis a Mrs. Gardener.
— Não, minha senhora — articulou ela a custo.
— Muito bem — disse ela, dirigindo-se a Weed. — Vou dizer-te os teus direitos.
— OK — respondeu ele.
— Tens direito a defesa, a um julgamento público, a não te incriminares, a confrontar e contra-interrogar testemunhas, a apresentar provas e a recorrer da decisão final deste tribunal.
— Obrigado — respondeu Weed.
— Percebes os teus direitos?
— Não.
— O que significam, Weed, é que, hoje de manhã, tens direito a um advogado e não és obrigado a dizer nada que te possa incriminar. Os outros direitos só se aplicam se fores a julgamento. Já faz sentido, já compreendes?
— O que é que quer dizer incriminar}
— Por exemplo, dizer uma coisa que possa ser usada contra ti.
— E como é que sei que coisa é essa? — perguntou Weed.
— Eu mando-te calar se o começares a fazer, está bem?
— E se não me mandar calar suficientemente depressa?
— Mando, não te preocupes.
— Promete?
— Sim — respondeu a Juíza Davis. — Muito bem. — Olhou para Weed. — O objectivo desta audiência é determinar se devo manter-te detido antes de seres julgado ou se te deixo ir embora.
— Quero ficar detido — disse Weed.
— Falaremos disso no momento certo — disse a juíza. , Olhou para a petição que Brazil assinara.
— Weed, foste acusado pelo artigo 18.2-125 da lei da Virgínia, Invasão de cemitério a noite, pelo artigo 18.2-127, Danos em igrejas, propriedade de igrejas, e cemitérios, etc., e pelo artigo 182.2-138.1, Danos intencionais infligidos às instalações públicas ou privadas ou desfiguração das mesmas. — Inclinou-se para a frente. — Compreendes a seriedade destas acusações?
— Só sei o que fiz ou o que não fiz — disse Weed.
— Achas que és culpado ou inocente?
— Depende do que acontecer se eu disser uma coisa ou outra — respondeu Weed.
— Weed, as coisas não funcionam assim.
— Só quero poder falar.
— Então, confessa-te inocente e podes falar no tribunal — disse-lhe ela.
— E quando é isso?
— Temos que marcar uma data.
— Pode ser amanhã? < — Daqui a vinte e um dias. , Weed ficou de rastos.
— Mas o Desfile das Azáleas é no sábado — explicou ele. — Não posso falar agora para poder fazer parte do desfile a tocar os pratos?
Parecia que a Juíza Davis achava este menor um pouco mais interessante que a maioria. O delegado do Ministério Público estava perplexo e a advogada de defesa tinha uma expressão de total incompreensão.
— Se queres falar, Weed, declara-te inocente. — A juíza tentou que ele percebesse a situação.
— Só se puder ir ao desfile — insistiu ele teimosamente.
— Se não te declarares inocente, a alternativa é culpado. Compreendes o que implica uma declaração de culpado? — perguntou ajuíza Davis com uma paciência surpreendente.
— Quer dizer que o fiz.
— Quer dizer que tenho de te condenar, Weed. Talvez te dê liberdade condicional, talvez não. Podes perder a liberdade, voltar a ser detido, por outras palavras e, se for esse o caso, não tens hipótese absolutamente nenhuma de ir a qualquer desfile nos tempos mais próximos.
— Tem a certeza? — perguntou Weed.
— Tão certa como estar aqui sentada.
— Inocente — disse ele —, mesmo que não o seja.
A Juíza Davis olhou para Mrs. Gardener. — Tem advogado?
— Não, minha senhora — retorquiu Mrs. Gardener.
— Pode pagar um?
— Quanto custaria?
— Seria caro — disse a juíza.
— Não quero um advogado — disse Weed estridentemente.
— Não estou a falar contigo — avisou a juíza.
— Não arranje nenhum, mamã! — disse ele.
— Weed! — disse a juíza num tom sério.
— Vou defender-me a mim próprio. — Weed não se calava.
— Não, não vais — retorquiu a Juíza Davis.
Nomeou Sue Cheddar para defender Weed e a advogada colocou-se ao lado dele e sorriu-lhe. Usava muita maquilhagem e o rímel era tão espesso que recordou a Weed o asfalto no momento em que era colocado. Pintara pequenas estrelas douradas nas unhas vermelhas, tão compridas que tocavam sempre primeiro em tudo. Weed não ficou impressionado.
— Não a quero — disse ele. — Não preciso que ninguém fale por mim.
— Eu decidi que sim — respondeu a juíza. — Mr. Michael, por favor, apresente as provas de manutenção da detenção — disse ela ao delegado do Ministério Público, que olhou para Brazil, passando-lhe o testemunho.
— Meritíssima, penso que o agente que fez a detenção está em melhores condições de o fazer, desta vez — respondeu Michael. — Ainda não olhei para nada como deve ser.
Weed não gostou da forma como Sue Cheddar estava a conduzir as coisas. Sempre que tentava dizer de sua justiça, Cheddar mandava-o calar-se. Não compreendia como podia a verdade vir ao de cima, se não era permitido às pessoas revelá-la por poderem meter-se em sarilhos, coisa em que, afinal de contas, já acontecera.
Passado algum tempo, quando Brazil ia referir-se ao crime, Weed fartou-se de Cheddar não fazer mais nada senão mandá-lo calar. Sentia-se insultado e estava indignado. Parecia não pôr objecção a mais nada a não ser ao próprio Weed, ela que supostamente devia estar do seu lado. Portanto, tomou conta das coisas. Decidiu que, se o agente Brazil ia contar a sua história, ele podia pôr as objecções que quisesse, mesmo que estivesse de acordo com ele.
— Cerca das duas horas da madrugada de terça-feira, Weed saltou a vedação do Cemitério Hollywood, invadindo uma propriedade privada. — Brazil resumia a história perante a juíza.
— Só lá chegámos depois das três — corrigiu-o novamente Weed.
— Isso é irrelevante — disse a juíza, à semelhança das vezes anteriores.
— Chhhhh... — sibilou Cheddar.
— Parece que estava com um gang e foi forçado a... — continuou Brazil.
— Não, não estava nada — interpôs Weed. — Estava só com Smoke e Divinity. Dog, Sick e Beeper não ’tavam lá.
— Irrelevante — disse a juíza.
— A questão — continuou Brazil — é que Weed levou tintas para o cemitério com a intenção de desfigurar a estátua de Jefferson Davis.
— Eu não sabia quem era — interrompeu Weed. — E não o desfigurei. Continua a ter cara. Vá lá ver.
— Meritíssima. — A voz da advogada oficiosa estava tensa e estridente. — Penso que o meu cliente não compreendeu o ponto da automcriminação.
— Ele disse que sim — retorquiu a Juíza Davis.
— Pois — disse Weed a Cheddar.
— Por favor, continue, agente Brazil — disse a juíza.
— Weed pintou um equipamento de basquetebol dos Spiders na estátua e, por volta das cinco da manhã, deixou o cemitério, saltando novamente por cima da vedação.
— Não era assim tão cedo — protestou Weed. — Eu sei, porque o sol estava a começar a aparecer e isso só é depois das seis, que é quando eu me levanto, porque tenho de fazer as torradas e a sandes antes de ir para a escola, porque a minha mãe trabalha até muito tarde e não pode levantar-se tão cedo.
Mrs. Gardener dobrou a cabeça. Escondeu o rosto e limpou as lágrimas.
— Irrelevante — disse a Juíza Davis.
— E, para além disso — declarou Weed —, não passa de tinta de posters. Vá lá ver. Uma mangueirada limpa aquilo tudo, mas têm estado tão ocupados a discutir o que fazer que nem sequer molharam um dedo e tocaram lá, para ver se agarra. A primeira chuva vai estragar tudo — concluiu ele com um certo desapontamento.
Por um momento ninguém falou.
Ouviu-se o ruído de papéis.
O delegado olhava para longe, completamente ausente.
Brazil estava pasmado.
Cheddar levou algum tempo a perceber.
— Então, na verdade, não está desfigurada — anunciou ela, numa voz autoritária.
— Como é que sabe? — Weed argumentou com a advogada. — Alguém a viu hoje?
Ninguém vira.
— Então, não estejam para aí a dizer... — começou ele, antes de Cheddar lhe tapar a boca com a mão.
— Quantas vezes tenho de te dizer para calares a boca para eu poder fazer o meu trabalho?! — exclamou ela.
Weed mordeu-a.
— Santíssimo Deus! — exclamou ela novamente. — Ele mordeu- me:
— Sem força — disse Weed. — Mas foi ela que começou. E se ela me cortar com aquelas unhas? Já as viu de perto? — Esfregou a boca com a manga.
— Ordem! — exigiu a juíza.
— E se eu limpar a estátua? — perguntou Weed. — Se quiser, eu faço-o. — Era um grande sacrifício para ele, mas sabia que o monumento a Twister não podia durar para sempre. — Só quero é ficar detido, excepto no sábado, quando for o Desfile das Azáleas.
— Ainda não chegámos aí, Weed — disse-lhe a Juíza Davis com firmeza. — Não posso decidir nada até ter ouvido todas as provas. E, por favor, tenta não voltar a morder a tua advogada.
— E se eu prometer arranjar o computador da polícia? Deixa-me tocar pratos no desfile? — continuou Weed.
— Ele está a referir-se ao que a Imprensa chama “Peixes Histéricos” — explicou-lhe Brazil.
Cheddar estava visivelmente alarmada.
— Ele tem isso? — perguntou ela, Com uma expressão de pânico.
— Foi causado por ele — disse Brazil.
— Meritíssima, posso aproximar-me? — pediu Cheddar, alarmada. Atirou-se para a frente e agarrou-se à beira da mesa, em pontas dospés, tão próxima da juíza quanto possível.
— Meritíssima — sussurrou excitadamente, mas todos a podiam ouvir —, se o que estão a dizer é que foi o meu cliente que espalhou a tal doença dos peixes, então preciso de saber se há perigo de outras pessoas a apanharem!
Lançou a Weed um olhar ameaçador.
— Refiro-me a mim — continuou Cheddar. — Ele mordeu-me na mão, Meritíssima.
— Penso que não estamos a falar desse tipo de doença — disse-lhe a juíza, levemente irritada.
— Meritíssima — disse Cheddar num tom mais exigente, com as unhas a dardejar sempre que mexia as mãos —, como é que eu sei com toda a certeza que ele não tem uma doença qualquer que todos devíamos recear? Eu em especial, porque os dentes dele entraram em contacto com a minha pele!
Ergueu a mão, qual Estátua da Liberdade.
— Não me parece que tenha rasgado a pele — observou a juíza.
— Então, está dizer-me que não o vai mandar para o serviço de saúde mental, ou outro lado qualquer, onde lhe possam fazer testes? — A voz de Cheddar ergueu-se num guincho.
— É isso exactamente — declarou a Juíza Davis.
— Então, demito-me! — Cheddar atirou as mãos ao ar, lançando faíscas de vermelho e dourado.
— Não se demite, não, porque eu adiantei-me! — lançou Weed, enquanto Cheddar agarrava na pasta a desconjuntar-se, com papéis a caírem, e corria para fora do tribunal.
— Meritíssima — disse Brazil —, a verdade é que precisamos muito que o sistema de comunicações do COMSTAT volte a funcionar. — Aquilo não vinha a propósito, mas ele não se importou. — A rede está em baixo em todo o lado por causa daquela coisa dos peixes.
— Agente Brazil, isso é irrelevante para este caso.
— É claro que — Brazil desafiou Weed num murmúrio — ele também não deve ser capaz de a arranjar.
— Ai isso é que sou — disse Weed.
— Ah, sim? — espicaçou-o Brazil. — Então, como é?
— É só tirar o programa que eu escrevi para baralhar o intérprete de HTML da AOL.
A Juíza Davis não pôde deixar de dar atenção, pois, como toda a gente, usava a AOL e vivia com medo de bombas coloridas, bombas IM, erros no HTML e no HTMO, uma combinação de tudo aquilo ou até as menos perigosas mas muito irritantes bombas IM1.
— O que significa isso? — perguntou ela a Weed.
— O erro do programa está em autowrap no editor de texto — informou-a ele, como se esta explicação fosse perfeitamente óbvia. — Está a ver, quando usa as subclasses de VBMSG, está a ver? Para manter a janela aberta e para executar outras coisas que eu mandei, sabe. Porque, como lhe disse, há um erro no programa. Portanto, disse-lhe para pôr lá o meu mapa e não deixar ninguém tirá-lo. E também não é possível executar um antivírus porque eu mandei o meu programa activar Responder no IM.
A sala ficou muda de espanto. Brazil tomava nota de tudo. O delegado do Ministério Público tinha a boca aberta de estupefacção.
— Mas nunca tive a intenção de mandar o meu ecrã dos peixes para todo o lado — acrescentou Weed. — Alguém deve ter juntado aqueles endereços todos, não fui eu quem fez isso.
— Alguém percebe o que ele acabou de dizer? — perguntou a juíza.
— Mais ou menos — disse Brazil. — E ele tem razão em relação aos endereços.
— Só preciso de um minuto para lhe mostrar como se arranja e depois pode prender-me — disse Weed. — E posso ir ao desfile e depois ser outra vez preso?
Olhou para ela com os olhos a brilhar de medo. Via que a Juíza Davis percebera que aconteceria qualquer coisa má se o deixasse ir para casa. Virou-se e olhou para a mãe.
— Está tudo bem, mamã — disse ele. — Não tem nada a ver consigo. Os olhos dela encheram-se de lágrimas e os dele também ficaram húmidos.
1 Todos estes termos em gíria informática se referem a vírus que tornam impossível o uso do “Instant Messenger” (IM), o qual permite aos utilizadores da America Online (AOL) conversar “on-line”. (NT)
O delegado público, cuja missão era”punir com toda a força da lei, começou finalmente a intervir no caso.
— A sua libertação é um perigo inadmissível para a propriedade alheia. — Citava o código. — Penso que existem provas claras e con- vincentes para não ser libertado.
A juíza inclinou-se para a frente e olhou para Weed. Já tomara uma decisão. O coração do miúdo deu um salto.
— Penso que o estado tem causa provável — informou a juíza — e terá lugar uma audiência definitiva de hoje a vinte e um dias. O estado pode convocar testemunhas e o menor permanecerá detido. No entanto, ordeno que seja libertado sob a custódia do agente Brazil no próximo sábado. — Olhou para Weed. — A que horas é o desfile?
— Às dez e meia — disse Weed. — Mas tenho que lá estar mais cedo.
— A que horas termina?
— Às onze e meia — respondeu Weed. — Mas tenho que lá ficar mais um pouco.
— Das nove à uma da tarde — disse a juíza a Brazil. — Depois, volta a ficar detido até à data do julgamento.
Na manhã do Desfile das Azáleas, o coração de Weed estava leve como uma pena. Desejava poder pintar o que sentia e o aspecto da manhã, enquanto o agente Brazil o levava à Escola Secundária George Wythe, onde a banda de Godwin fazia o aquecimento, enquanto esperava.
Estava orgulhoso, suando no uniforme vermelho e branco de poliester e lã, cheio de botões prateados, com riscas nas calças. Os sapatos pretos pareciam novos e os pratos, com o lustro bem puxado, aguardavam em segurança na sua caixa, no assento de trás.
— é pena não teres tido mais tempo para ensaiar — disse Brazil. Weed sabia que, das 152 pessoas da banda, ele era provavelmente o único que faltara a uma semana inteira de ensaios. Não tivera oportunidade de olhar para os exercícios, nem de treinar os diversos passos, em especial o passo de caranguejo, que ia ser executado pela secção de percussão da banda de Godwin, uma das mais bem ensaiadas.
— Vou conseguir — disse Weed, olhando pela janela com o coração a rebentar.
A multidão começava já a juntar-se. Dizia-se que ia ser a maior assistência da história do desfile. O tempo estava óptimo, cerca de vinte e cinco graus, com uma brisa ligeira e sem nuvens. As pessoas estendiam mantas, montavam cadeiras, fechavam carrinhos de bebé e cadeiras de rodas e os que viviam ao longo do percurso do desfile acharam que era um dia óptimo para venderem coisas em segunda mão. Havia chuis por todo o lado, envergando coletes reflectores, e Weed nunca vira tantos cones de Trânsito.
Brazil estava preocupado. Havia já milhares de pessoas e os participantes enchiam o parque de estacionamento da Escola George Wythe. Se Smoke tinha algum plano, Brazil não via como seria possível arrancar um adolescente de tal aglomeração, em especial porque, à excepção de Weed, ninguém conhecia o seu aspecto.
— Weed, quero que me prometas uma coisa, está bem? — pediu Brazil quando Weed tirava a caixa dos pratos do carro. — Quero que. me digas quando vires Smoke ou um dos do gang.
— Claro.
Weed estava cheio de pressa, a olhar ansiosamente para a sua banda que, daquele sítio, era uma mancha vermelha e branca mais ou menos perdida num mar de uniformes coloridos e instrumentos cintilantes, espadas, batutas que brilhavam e bandeiras a esvoaçar. Os carros alegóricos esperavam, impacientes, numa fila infinita. Havia pedreiros vestidos de palhaço e a polícia montada deixava os miúdos fazerem festas aos cavalos. Ouvia-se a chocalhada dos carros antigos.
— Nós somos melhores que aqueles — disse Weed, vendo o Corpo de Cadetes da Marinha a treinar a sua marcha. — Olhe para aquele autocarro! Aquela banda veio de Chicago! E há uma de Nova Iorque!
— Weed, ouviste o que eu disse? — perguntou Brazil pela janela aberta.
Um sargento dirigia a multidão. Uma das Florettes perdeu a batuta, que saltou pela rua baixo. Várias pessoas com fatos do Velho Oeste exibiam cavalos em miniatura com azáleas nas crinas. A Associação de Atletismo dos Deficientes estava pronta a partir. Weed sentia-se deslumbrado.
— Weed! — Brazil estava prestes a sair do carro.
— Não se preocupe, agente Brazil — disse Weed. — Eu digo-lhe.
— Como? — Brazil não se ia deixar enganar.
— Faço os pratos soarem mais alto do que o devido — disse Weed.
— Nem penses, Weed. Como é que vou reparar nisso com tudo o que se está a passar? — retorquiu Brazil.
Weed pôs-se a pensar. Ficou com o rosto tenso, os ombros descaíram e parecia desolado ao dizer:
— Então, vou soltar um dos pratos. É impossível não reparar. É claro que, depois, tem de explicar por que motivo fiz isso, ou não me deixam voltar a tocar na banda.
— Vais soltar um dos pratos? — Brazil não compreendia.
— Largo a alça. Já alguma vez viu um prato de meio metro a rebolar pela estrada abaixo?
— Não — confessou Brazil.
— Bem, então, quando vir — disse-lhe Weed —, fica a saber que os sarilhos vão começar.
Lelia Ehrhart já estava metida num. Inspeccionava atentamente o Cadillac vermelho descapotável da Comissão Estadual Contra o Crime, cheio de fitas azuis que iam esvoaçar magnificamente assim que o carro começasse a desfilar quando percebeu, horrorizada, que não havia nem uma azálea a enfeitá-lo.
— Temos de seguir o tema e a mensagem do desfile — disse ela ao Comissário Ed Blackstone.
— Pensei que era esse o significado das fitas — retorquiu Blackstone, que tinha oitenta e dois anos, mas insistia em como a idade não tinha importância. — Pensei que se chamava Desfile das Azáleas por causa das azáleas que estão por todo o lado, e não era preciso encher o carro com elas, especialmente porque não há muitos lugares.
Ehrhart não se deixou convencer e ordenou que o banco do passageiro, de couro branco, e grande parte do banco de trás, se enchessem de flores cor-de-rosa e brancas, o que reduzia o número de sorridentes comissários de três para um.
— Acho que tenho de ir sozinha — disse Ehrhart.
— Bem, vou dizer-lhe uma coisa, Lelia — disse Blackstone, encostando-se à bengala e esforçando-se por ver através dos enormes óculos que usava desde a última operação às cataratas. — Vai ser atacada pelas abelhas. Com tanta flor, as abelhas vão aparecer de certeza. E não diga que não a avisei para não pôr as fitas tão compridas. Seis metros! — Blackstone não desistia. — Se alguém se aproximar da parte de trás do carro, com todas aquelas fitas azuis a esvoaçar, de certeza que alguma se vai prender.
— Onde está o Jed? — perguntou Ehrhart, franzindo o sobrolho.
— Ali. — Blackstone apontou para uma árvore.
Ehrhart procurou na multidão e descobriu Jed junto de um velho carro dos bombeiros a falar com Muskrat, que lhe arranjara o carro uma ou duas vezes. Não gostava de pensar que o Governador Feuer não quisera participar no desfile, mesmo depois de ela se ter oferecido para ir com ele. Pelo menos, mandara Jed para guiar o carro do comissário, alugado a um dos doentes de Buli Ehrhart.
— Diga a ele que são horas de vir — ordenou Lelia a Blackstone. Blackstone fez sinal à árvore para se despachar.
Nem Brazil nem West gostavam de multidões, mas a chefe-adjunta Hammer recusara-se a ser o centro das atenções, especialmente porque . odiava desfiles e outras celebrações públicas ainda mais que eles.
— Não acredito nisto — queixava-se West do banco traseiro do Sebring azul-escuro. — Há este miúdo tarado à espera de ficar célebre, cometendo uma grande asneira, e que decide a chefe? — Sentou-se ao volante e começou a ajustar os espelhos. — Decide desfilar num descapotável.
— Também não me agrada — disse Brazil, sentando-se atrás, ao lado de Hammer. — Tens a certeza de que não queres que eu guie? — perguntou a West.
— Esquece — retorquiu ela. Brazil pegou nuns papéis.
— Temos de descobrir o Clube Mustang — disse ele —, pois é aí que estamos. E — seguiu uma lista com o dedo — mesmo atrás de Miss Richmond.
— Que horror — disse West.
Pigeon encontrava-se junto de um homem gordo, no cruzamento de Westover Hills e Basset, em frente de Brentwood South.
O gordo parecia pronto a entrar em acção, observando clandestinamente a multidão com um par de binóculos Leica. Pigeon deliciava-se com metade de um cachorro-quente com mostarda que um miúdo acabara de deitar para o lixo, como se os cachorros-quentes crescessem nas árvores.
Pigeon nunca perdia o Desfile das Azáleas. As pessoas desperdiçavam tanta coisa! Nos tempos que corriam, não havia miúdo que soubesse o valor do dinheiro, incluindo quem vivia de vales sociais. Pescou um saco de batatas fritas quase cheio, que um puto idiota não conseguira deitar fora sem esmigalhar e destruir primeiro.
— Precisamos é de outra guerrazinha — disse ele ao gordo, embora não se conhecessem.
— Há anos que digo isso. — O gordo estava plenamente de acordo. — Ninguém sabe como é.
— E como é que podia? — disse Pigeon, espreitando para dentro da embalagem onde não havia uma batata frita inteira.
— Chamo-me Bubba — disse o homem, continuando a sua observação com os binóculos.
— Eu chamo-me Pigeon.
— Prazer em conhecê-lo.
Pigeon dirigiu-se a outro miúdo que deitara a pastilha elástica para o chão mal a metera na boca, quando ainda tinha imenso sabor, mas uma mulher de fato de treino pisou-a.
— Obrigadinha! — gritou ela ao miúdo, enquanto ele abria uma lata de Orange Crush e se afastava.
Ela levantou o pé e ficou a olhar para os fios de pastilha cor-de-rosa agarrados à sola do seu sapato de treino.
— Odeio-te — gritou ela para o miúdo, enquanto as pessoas se desviavam dela, em busca de um lugar com boa vista. — Detesto as crianças! Detesto as pessoas!
— Também fico chateado com estas coisas! — disse Pigeon. — Já ninguém quer saber!
Bubba concentrou-se em Smudge e na mulher, que abriam as cadeiras portáteis num jardim a pouco mais de quinze metros de si.
— Provavelmente, nem conhece as pessoas — resmungou Bubba, furioso. — Limita-se a aproveitar-se, como faz com tudo o mais.
— Hoje em dia, são todos assim — disse Pigeon.
— Sabe muito bem que estou aqui — continuou Bubba. — O filho da puta sabe que me deve mil dólares. Diz que tem amnésia, que não se lembra da aposta e que, portanto, não conta.
— Não sei o que aconteceu à honestidade — disse Pigeon. Bubba ficou a ver Smudge a estender uma toalha aos quadrados na relva. Poisou no chão uma mala frigorífica azul e pôs-se à procura de qualquer coisa.
Pigeon procurou uma beata em vão. Via-se que o preço subira bastante, pois as pessoas fumavam tudo até ao filtro, não deixando nada para ele.
Na manhã do dia anterior, ao seguir por Main Street para o centro, ficara chocado ao ver no placar electrónico do Dow Jones, na fachada dos corretores Scott & Stringfellow que o preço por maço subira mais dois dólares e onze cêntimos. Se ao menos tivesse comprado mais quando tinha o dinheiro da loja de penhores, podia ter feito uns negociozinhos. Provavelmente, estaria rico.
Enquanto Pigeon pensava nisto, Bubba meteu a mão no bolso da camisa à procura de um maço e tirou um cigarro sem baixar os binóculos.
— Esses Merit Ultimas são bons? — perguntou Pigeon, quando Bubba acendeu o cigarro. — Ainda não experimentei.
— São, pois — disse Bubba. — Tudo o que a Pbihp Morris faz é do melhor.
— Sempre fui dessa opinião. Qual é a diferença em relação aos Merits normais? — perguntou Pigeon astutamente.
— Quer experimentar um?
— Não digo que não — disse Pigeon e Bubba passou-lhe o maço. — Oh, muito obrigado.
O som das sirenes da polícia e o trovejar das motas ouvia-se ao longe, indicando que o desfile estava a começar. Weed sentia-se tão excitado que lhe tremiam os joelhos.
Encontrava-se ao lado de Lou Jameson, o rapaz do tambor, que trazia óculos de sol como todos os percussionistas. Nunca fora muito simpático para Weed e comentara mais de uma vez que qualquer um podia tocar pratos e que nas outras bandas havia raparigas que o faziam.
A Escola Secundária de Western Guilford, de preto e branco, estava mesmo em frente de Godwin, e a Escola Preparatória de Lakeview, de verde e dourado, atrás. Weed calculou que os esplêndidos uniformes coloridos de todas as cores e modelos se estendiam por mais de um quilómetro. O desfile começara a avançar. A banda principal, de Nova Jersey, explodiu com “God Bless America”, o que não era muito original. Para além disso, as trompetes estavam a desafinar um pouco.
Weed empertigou-se orgulhosamente. Tentou descontrair-se, mexendo os pés.
— Pé esquerdo para a frente, esticar e flectir, esticar e flectir — recitou ele.
Jameson olhou para ele desdenhosamente.
— Elevar calcanhar esquerdo, tocar o solo com a ponta do pé. — Weed praticava os passos em movimentos rápidos e vigorosos. — O tornozelo toca o joelho no fim de cada compasso, dedos ao longo da perna, pé espalmado. — Executou o passo com precisão. — Pousar pé esquerdo a compasso, depois repousar.
— Ei, pára com isso — disse Jameson.
— Não — retorquiu Weed.
Dantes, tinha medo de Jameson, mas depois de ter sido preso, de ter estado na cadeia, de ter mandado umas bocas ao delegado do Ministério Público e de ter chegado a acordo com um juiz, já não tinha medo de ninguém.
— Três, quatro, alto. Esquerda, direita, cruzar o pé, manter o compasso e um, dois, três, quatro, peso nos dedos. — O seu passo de caranguejo saiu impecável.
— Disse-te que parasses com essa merda — sussurrou Jameson.
— Obriga-me lá.
— Olha que te bato.
— Espero que o faças melhor que no tambor — disse Weed.
— APRONTAR! — gritou o chefe da banda lá da frente.
”Weed empertigou-se. Diga-se a verdade que os pratos eram bem pesados.
— BANDA, AVANÇAR!
Esforçou-se por ver o que o chefe fazia. Quando os instrumentos de sopro começaram a marchar, soube que, a seguir, era sua vez.
Quando assaltara a oficina de Bubba, a decisão de Smoke de roubar o cinturão preto de nylon para ferramentas da Stanley não fora tomada ao acaso. Vira logo que tinha umas bolsas fundas ideais, pois andava a planear aquilo há já uns tempos.
Vestia unsjeans deslavados muito sujos, uma T-shirt nojenta e botas Red Wing, igualmente sujas. Enfiara um boné de basebol manchado de tinta até aos olhos, pusera óculos e não se barbeava há dias. Ninguém lhe prestou atenção, enquanto ia atravessando jardins, tentando ver o desfile, como toda a gente.
Enquanto os participantes se preparavam, Smoke estivera atentamente de vigia no parque de estacionamento George Wythe e sabia onde cada um estava. Descobrira Weed. Passara mesmo junto da chefe da polícia e dos dois chuis que tinham falado no auditório de Godwin. Era hilariante. Os seus nervos zuniam. A adrenalina subia e estava quase maníaco.
Escondidos nas bolsas em volta da cintura, tinha a Beretta roubada e quatro carregadores de dez balas, mais dois de quinze balas e a sua Glock, com três carregadores de dezassete balas, o que perfazia o impressionante total de cento e vinte e uma balas Winchester 115 Silvertip de alta potência.
Observou Jaguares e Cbryslers antigos a passarem, seguidos do Clube Corvette. As pessoas acenavam e batiam palmas, o tempo estava óptimo e toda a gente parecia bem-disposta. Avistou um relvado inclinado que ficava um pouco mais acima em relação à rua do que os que o rodeavam. Um idiota qualquer e uma mulher com ar tímido faziam um piquenique sobre uma toalha aos quadrados vermelhos. Smoke encontrara o local ideal. Dirigiu-se a eles, cruzou os braços e ficou a olhar, enquanto passavam os Veteranos das Guerras Estrangeiras e a Cruz Vermelha.
Bubba reconheceu imediatamente o cinturão Stanley. Trazia-o um tipo qualquer da construção. O grande cinturão preto, com as suas bolsas fundas, era exactamente igual ao que desaparecera da sua oficina. Bubba focou melhor os binóculos, fazendo aproximar a cara do tipo.
Parecia ter quinze ou dezasseis anos, com um ar débil e pálido. As bolsas estavam cheias e pareciam pesadas. Apertara o cinto amarelo almofadado ao máximo e o conjunto era demasiado grande para ele porque era um número extragrande e o miúdo não devia pesar mais de sessenta quilos. Bubba não viu uma única ferramenta, uma fita métrica, pregos, o suporte do martelo estava vazio, não aparecia um único cabo.
— Aquele é o meu cinturão — disse Bubba, sentindo o coração acelerar. — Tenho a certeza!
Pigeon olhou na mesma direcção, semicerrando os olhos enquanto fumava outro Merit Ultima que Bubba lhe oferecera com todo o gosto.
— Como é que sabe? — perguntou Pigeon.
— Estou a ver uma pequena marca branca no botão de abertura da fivela. Podem ser as minhas iniciais. Pinto-as a branco em todas as minhas ferramentas, em tudo, para ter a certeza de que, quando Smudge me pede alguma emprestada, não vem depois dizer que é dele.
— Quem é Smudge? — perguntou Pigeon, sacudindo a cinza.
Os últimos elementos de uma banda com uniformes pretos e brancos iam a passar, tocando “Take the ”A” Train”. O chefe da banda de Godwin vinha logo atrás. Bubba continuou a olhar pelos binóculos, o sangue a subir-lhe à cabeça, o coração a bater mais do que um tambor, enquanto via passar um descapotável azul-escuro com Hammer, West e Brazil. Seguiam atrás da banda de Godwin.
O tipo que tinha o cinturão de Bubba parecia tenso. Tremia-lhe a mão direita e parecia estar à espera de alguém ou de alguma coisa. Inspeccionava as filas da banda de Godwin e depois olhou a direito para a chefe-adjunta Hammer. Não restavam dúvidas a Bubba.
Godwin começou a tocar o tema do Titanic. O tipo da construção olhou para a direita e para a esquerda e meteu a mão direita numa das bolsas, mantendo-a lá dentro. As armas roubadas passaram como um relâmpago pelo espírito de Bubba. Correu para a rua no momento em que passavam os instrumentos de sopro. Teve vontade de sacar da sua nova Browning, mas achou melhor não o fazer.
— Detenham-no! — gritou ele o mais alto que pôde.
O homem gordo que Smoke conhecera na oficina de Muskrat e que assaltara pouco tempo depois estava a apontar para ele aos gritos. Não se perturbou. Olhou em volta e encolheu os ombros.
— Que tarado — disse para o homem e para a mulher que comiam perto dele.
Havia polícias a correr. Um, a cavalo, aproximou-se a galope. Tentavam acalmar o gordo e tirá-lo da rua. Smoke sorriu. Aquilo ia ser melhor do que pensara. Olhou para Weed. O atrasadinho batia os pratos e o idiota à direita dele tentava suplantá-lo no tambor. Smoke não se apressou. Não queria meter outra vez a mão na bolsa enquanto o gordo estivesse a apontar para ele.
— Alguém faça alguma coisa! — O gordo gritava, enquanto dois polícias o agarravam pelos braços. — Agarrem-no a ele, não a mim! Aquele miúdo ali em cima com o cinturão Stanley.
Pigeon ficou preocupado. Foi até à rua, enquanto Bubba lutava com os polícias e continuava a gritar.
— Escutem, ele está comigo — disse Pigeon ao polícia a cavalo.
— Afaste-se! — gritou o polícia a Pigeon.
— É o cinturão dele. Conseguem-se ver as iniciais na fivela. Quero dizer, se usarmos binóculos. — Pigeon não se deixava atemorizar. — O miúdo roubou-o.
Os binóculos de Bubba voaram pelo ar. Ouviu-se uma pistola a cair, ressoando no chão, o que pareceu alarmar imenso os polícias. Agarraram todos nas algemas e nos sprays de pimenta que traziam à cintura. A banda de Godwin parou de tocar e ficou imóvel, altura em que um miudito saiu bruscamente da formação e deixou cair um prato, que rolou pela rua. Pigeon viu que se tratava de Weed.
A chefe-adjunta Hammer não percebia nada do que se passava. O desfile imobilizou-se, enquanto o que parecia um enorme tampão de bronze rolava em direcção ao carro.
— Que se passa? — perguntava Hammer, erguendo-se no banco traseiro para tentar ver melhor.
West parou o carro.
— BAIXE-SE! — berrou Brazil, puxando Hammer para o chão, enquanto os membros da banda fugiam da frente. O prato embateu num buraco e aumentou de velocidade, passando por eles com enorme fragor, fazendo fugir os palhaços; um sargento desatou a correr, quase fazendo com que o carro do presidente da Câmara atropelasse a multidão. As Florettes deixaram cair as batutas.
Jed viu o prato aproximar-se antes de Lelia Ehrhart e meteu subitamente a marcha atrás. As flores saltaram do banco de trás, os vasos de barro partiram-se, as abelhas puseram-se a salvo, e espalhou-se terra por todo o lado, enquanto as fitas azuis mudavam de direcção e se enfiavam na cara de Ehrhart.
O polícia louro que Jed encontrara no cemitério no outro dia acabara de saltar do carro da chefe-adjunta Hammer e corria como uma seta. Jed travou a fundo. Um ramo de flores cor-de-rosa levantou voo sobre o banco da frente, pondo Ehrhart aos gritos. O prato passou como uma flecha, a brilhar ao sol, qual roda dourada de quadriga em fuga.
Jed saltou do Cadillac sem abrir a porta, esquecendo-se de o pôr em ponto morto. O carro começou a avançar sozinho, enquanto Ehrhart lutava com as fitas azuis, ficando cada vez mais embrulhada. Patty Passman, no meio da multidão em tumulto, atirou fora o seu cone de gelado de chocolate e começou a afastar as pessoas da sua frente.
— FORA DAQUI, SEUS CABRÕES! — Empurrava e dava murros, impulsionada pelo açúcar, imparável.
Foi atrás do Cadillac vermelho e atirou o corpanzil por cima da porta do condutor, aterrando com os pés no ar. Agarrou a alavanca das mudanças e pôs o carro em ponto morto.
Smoke ficou momentaneamente confuso com aquele alvoroço. Na sua cabeça, o plano passou para a página três e parou. Olhou em volta e recuou um pouco, quase escorregando na relva. Ao princípio, não percebeu que o chui louro que ouvira falar na escola, Weed e um sem-abrigo corriam que nem setas na sua direcção.
— TODOS PARA O CHÃO! — gritava o chui louro.
A multidão começou a entrar em pânico. Os chuis desinteressaram-se do homem gordo e carregaram também sobre Smoke. O chui louro era o mais rápido.
O casal do piquenique fugiu dali quando o gordo passou por cima da toalha aos quadrados vermelhos e brancos. Smoke entrou em pânico e sacou da Beretta. Totalmente confuso, esqueceu-se de como se destravava.
Havia gente a precipitar-se sobre ele de todas as direcções, com Weed à frente. A pluma do seu chapéu preto estava achatada enquanto ele corria a uma velocidade incrível. Smoke largou a Beretta e agarrou na sua Glock, no momento em que Weed dava um salto enorme e o esmurrava no nariz, agarrando-lhe os cabelos e atirando-o ao chão. Lutaram pela arma, mas Smoke largou-a quando Weed o mordeu no pulso com toda a força.
— VOU MATAR-TE, MONTE DE MERDA! — gritava Weed, continuando a socá-lo com os punhos.
Brazil tentou algemá-lo, mas Smoke rolava pela relva aos gritos, com munições a caírem do cinturão roubado. Neste momento, o envolvimento da comunidade estava a dificultar as coisas.
Bubba estava em posição, esmurrando Smoke sempre que Weed lhe dava oportunidade. Pigeon estava por terra, a tentar agarrá-lo pelos tornozelos. Havia outros polícias a tentar o mesmo, atrapalhando Brazil. Infelizmente, um deles começou a usar o spray de pimenta. Desataram todos a rebolar pelo chão, com as mãos sobre os olhos e a gritar de dor.
Smoke ergueu-se de um pulo, agarrou um dos chuis pelas virilhas e conseguiu tirar a pistola Sig Sauer do coldre do outro polícia. Estava cheio de sangue e respirava com esforço, mas agarrou a pistola com ambas as mãos, que tremiam. Tinha os olhos a chorar e estava louco de raiva. Não viu as duas mulheres que atravessavam o espaço entre as duas casas atrás dele.
Hammer e West empunhavam as pistolas e aproximavam-se rapidamente. Parecia que Smoke estava a tentar decidir sobre quem disparar tresloucado, apontou a arma ao homem gordo, que Hammer reconheceu como sendo Bubba. Depois, apontou-a a Brazil e aos outros polícias no chão, depois à multidão e aos participantes no desfile, que fugiam.
Hammer não tinha uma boa linha de fogo, porque um sem-abrigo e um miúdo com uniforme da banda se tinham metido à frente. O spray de pimenta que pairava no ar irritou-lhe os olhos e os pulmões. Separou-se de West no momento em que Smoke deu meia volta, por ter, decerto, ouvido o ruído de passos que se aproximavam. O cano da sua pistola parecia enorme e irreal, enquanto ele a apontava ao rosto de Hammer. Ela não podia disparar primeiro. Havia demasiadas pessoas entre eles.
Há muito tempo que Hammer não tomava parte numa boa luta, mas não se esquecera dos treinos. Atirou a pistola contra Smoke com quanta força tinha e a arma voou e rodopiou como um hoomerang. Smoke ergueu involuntariamente os braços para a desviar, dando a Hammer a oportunidade de se atirar aos pés dele, derrubando-o. Lutaram pela arma.
— DESISTE! — ordenava-lhe Hammer.
Ele tentou espetar-lhe a arma nas costelas, mas ela conseguiu agarrar-lhe um dos polegares. Dobrou-o para trás, num velho truque da polícia que dava sempre resultado. Ele uivou de dor. Ela tirou-lhe a arma e enfiou-lha debaixo do queixo.
— MEXE-TE E eu ESTOIRO-TE A MERDA DOS MIOLOS! — gritou-lhe ela.
Tinha o dedo no gatilho e só queria que ele lhe desse uma desculpa.
— Seu grande sacana — atirou-lhe ela. — Aquela, velha indefesa que assassinaste era minha vizinha.
Brazil recuperara o suficiente para ajudar West a algemar Smoke e a levá-lo dali. Bubba sentou-se, com as lágrimas a escorrer pela cara abaixo. Pigeon estava deitado de bruços, continuando a tapar os olhos. Caíra-lhe a meia do coto. Weed levantou-se, cambaleante. Olhou para a chefe-adjunta Hammer com uns olhos avermelhados e lacrimosos. Ela estava muito quieta, com a arma a seu lado, apontada para a relva.
— Obrigado — disse-lhe Weed. — Estou muito contente por a senhora aqui estar.
Nessa noite choveu. A água caía do céu em vagas que recordavam a Weed imagens que vira dos oceanos. Depois, o granizo flagelou as ruas e o vento soprava com tanta força que até podia fazer soar as campainhas das portas, pensava ele.
— Quem é? — sussurrava ele na escuridão, desafiando os poderes superiores. — Entre — dizia ele para si próprio. — Oh, desculpe, acho que não sei destrancar a porta.
Os olhos encheram-se de lágrimas. A tentativa de ser engraçado não divertira ninguém, pois não havia ali vivalma. Os relâmpagos iluminavam a janela com grades e os trovões estouravam como pipocas. Weed imaginou um tornado e pensou em Twister. Ouvira dizer que não se devia andar com um taco de golfe, tocar pratos ou falar ao telefone quando havia trovoada e ali estava ele sentado numa cama de aço inoxidável.
Oh, tudo bem. Ninguém se importava se ele morresse.
Num outro local da cadeia, naquilo a que chamavam casulo, Smoke estava igualmente detido. Só de pensar nisso, Weed ficou cheio de comichões. Coçou-se e sacudiu-se, com o coração a tremer. Tinha dificuldade em respirar e não conseguia aquecer. Embrulhou-se mais nos cobertores e voltou a pensar na cama de aço quando um raio brilhou como o disparo de uma arma.
A chefe-adjunta Hammer detestava trovoadas e, normalmente, não se aproximava de janelas e objectos bons condutores de electricidade. Não conseguia sossegar. Andava de um lado para o outro da sala, passando por janelas, candeeiros e utensílios da lareira, sob o candelabro de metal, enquanto Brazil e West se inquietavam no sofá, revendo sem parar os acontecimentos do dia.
— Não quero saber do que digam — Brazil repetia o que o preocupava mais quando faltou a luz. — Weed não devia estar na mesma cadeia que Smoke, apesar de ocuparem celas diferentes. Smoke já provou como é diabolicamente esperto.
— Não foi suficientemente esperto para escapar à prisão — recordou-lhe West. — Mas também não gosto da situação.
— E digo-vos mais: — continuou Brazil — se Smoke quiser fazer alguma coisa, consegue.
— Sim, sim — disse Hammer, continuando de um lado para o outro, enquanto Popeye ressonava numa cadeira e os trovões ribombavam.
Brazil estava tão preocupado que queria agir de forma drástica, embora não soubesse bem como. Parecia que Smoke não quisera ver Divinity, Beeper, Dog e Sick à solta enquanto ele estava dentro e dissera à polícia como encontrá-los a todos. Agora, os Pikes estavam em diferentes celas, talvez a um ou dois corredores de distância da cela onde Weed estava detido, com a sua sanita de aço e a cama desdobrável.
— Vamos precisar que Weed testemunhe contra eles — continuou Brazil.
— Não me interessa onde é que estão a dormir — acrescentou West.
— Weed pode dar com Smoke ou um dos outros no recreio. E Miss Divinity é muito pérfida, também.
— Andy, Virgínia, têm toda a razão. — Hammer parou de andar e acendeu várias velas. — Temos de o tirar dali esta noite.
Isso exigia um plano invulgar e pouco ortodoxo, concebido por Hammer. Às oito e um quarto, telefonou para casa da Juíza Maggie Davis.
— Ainda bem que está aí — disse Hammer rapidamente.
— Nem queria estar em mais lado nenhum, com uma noite destas — respondeu a juíza. — Lamento ter perdido o desfile. Santíssimo Deus. Aquilo é que foi, Judy. Quem me dera ter lá estado para a ver apanhar o sacana.
— Não fiz grande coisa — disse Hammer, rejeitando o cumprimento. — Temos de tirar Weed Gardener da cadeia o mais depressa possível.
— Pensava que ele queria lá ficar.
— Isso era antes — disse Hammer. — Agora, está lá Smoke e o gang dele e isso não é bom, Maggie, não é nada bom.
A juíza deliberou um pouco.
— O que é que sugere? — acabou por perguntar à chefe.
Hammer tinha perfeita consciência de que a sua sugestão era impossível, mas a maior parte do que conseguira na vida tinha sido impossível, segundo os que a rodeavam.
— Pode falar com o delegado do Ministério Público e a advogada oficiosa? — perguntou Hammer.
— Claro — retorquiu a Juíza Davis.
— Vou certificar-me de que os portões estão abertos.
— Que portões? — perguntou a juíza.
Às nove horas, quatro carros com os seis implicados chegaram aos portões principais do Cemitério Hollywood. A chuva fustigava os arbustos, as árvores e as lápides e os monumentos, varridos pela luz dos faróis, tinham um aspecto lúgubre.
A chefe, Brazil e West seguiam no carro da frente. Atrás estava a Juíza Davis no seu Volvo e o delegado Michael no seu Honda Accord. Um pouco mais distante, vinha um velho Mercury Cangar com Sue Cheddar, que se demitira e fora despedida por Weed e a quem a juíza ordenara agora que continuasse no caso.
— Tenho uma grande esperança que ele estivesse a dizer a verdade — disse West para Hammer e Brazil.
Os limpa pára-brisas trabalhavam depressa, afastando a chuva. Hammer conduzia muito lentamente, inclinada sobre o volante e lendo com esforço o nome das ruas.
— Estava — respondeu Hammer, como se conhecesse muito bem Weed.
Seguiram por Waterview Avenue, espalhando água por todo o lado, com ramos de árvores que chicoteavam e pareciam querer agarrá-los. As silhuetas dos anjos observavam-nos a passar. Os túmulos escuros, com as suas janelas com vitrais e chumbo, inflamavam a imaginação de Hammer, que revivia medos infantis. Tinha dez anos quando a vizinha do lado, Mrs. Wheat, fora a enterrar no cemitério da igreja baptista, um quarteirão mais baixo. A lápide de granito cinzento via-se da rua. Todas as manhãs, quando ia para a escola, passava pelo cemitério a correr o mais possível porque nunca gostara de Mrs. Wheat e tinha a certeza de que ela sabia disso, agora que estava no Céu.
Hammer continuava a odiar cemitérios. Nada neles lhe agradava. Receava os cheiros pungentes, o ruído dos insectos e os montículos de terra discretos. Tinha medo da morte. Tinha medo do que sentira aquando da morte de Seth. Receava a solidão. Receava falhar e receava o próprio medo. Os seus inúmeros medos fortaleceram-se e, para dizer a verdade, naquele momento estava mais que farta.
— Isto é ridículo — disse ela para West e Brazil. — Não me vou demitir, nem retirar, nada disso.
— Bem, se o fizer, não fico por cá — retorquiu West.
— Eu também não. — Brazil informou a chefe de que se estavam a aproximar do Círculo de Davis.
— Eles continuam a seguir-nos? — Hammer espreitou pelo retrovisor.
— Não tem nada que se demitir, chefe — aconselhou-a Brazil. — Especialmente agora. Acho que quanto mais gente embirrar consigo, mais os deve ofender com a sua presença.
— Isso é de uma grande astúcia. — Hammer reflectiu nas palavras de Brazil. — Gosto dessa ideia.
Nem todos tinham louvado Hammer por ter apanhado Smoke e lhe ter encostado uma arma à cabeça, enquanto gritava obscenidades. O presidente da Câmara dissera a todos os canais de TV, a tempo para o noticiário das seis, que o incidente nunca devia ter ocorrido e baptizara o acto heróico de Hammer como um truque de autopromoção. Lelia Ehrhart dissera ao Q94 que Hammer se estava nas tintas para a prevenção e o deputado local exigira uma investigação minuciosa.
— Não fique desencorajada com o que aconteceu hoje. — Parecia que Brazil sabia o que ela estava a pensar. — Não se esqueça de que o Governador Feuer ficou impressionado e telefonou a dar-lhe os parabéns. Ele é mais importante do que os outros.
— Não devíamos virar num sítio qualquer? — Hammer não conseguia ver nada.
Brazil foi o primeiro a ver Jefferson Davis.
— Estou a derreter! Estou a derreter! — Brazil imitava a Bruxa Má de O Feiticeiro de Oz.
— Bem, macacos me mordam — disse West, quando a estátua ficou totalmente iluminada pelos máximos de Hammer.
Parou o Crown Victoria e acendeu o foco da polícia, virando-o para a estátua.
— Incrível! — exclamou Brazil. — Merda, quem me dera que Weed estivesse aqui para ver isto.
— Não sei — disse Hammer pensativamente. — Provavelmente, ficaria desapontado.
— Pois. — Brazil reconsiderou com tristeza. — Acho que tem razão. Twister já aqui não está.
Jeff Davis perdia rapidamente a raça recentemente adquirida, assim como a posição nos Spiders, a equipa de basquetebol da Universidade de Richmond. Tinha traços pretos na cara e o uniforme vermelho e branco jazia em poças em volta das botas, que já não eram Nike, e da base de mármore manchada de cor de laranja que o suportava. A bola de basquete que segurava na mão voltara a ser um chapéu.
Ouviam-se as portas dos carros a abrir e a fechar e as luzes invadiam a chuva. O som de pés sobre a pedra molhada fazia-se ouvir. A Juíza Davis era de Nova Iorque. Aproximou-se da estátua e observou-a cuidadosamente, dobrando-se para tirar da relva uma Cruz do Sul minúscula. Agitou-a, pegando-lhe pela hastezinha, como se tentasse ver como funcionava ou por que motivo causara tantos problemas.
— Acho que fica claro que isto já não se pode considerar vandalismo — anunciou Hammer. — Nem nunca o foi. Nós é que pensámos que era.
Sue Cheddar cobria-se com um grande chapéu de chuva cor-de-rosa vivo e, quando falou, apenas eram visíveis as suas longas unhas brilhantes.
— Veja — disse ela, com as unhas a faiscarem na direcção do delegado do Ministério Público.
Ele estava a ficar encharcado e tinha o ar de um soldado da Confederação derrotado, no seu fato mal cortado e gravata escura fininha. Tinha o cabelo colado à cabeça e a chuva escorria-lhe pelo rosto cansado, enquanto observava o presidente da Confederação a perder mais uma vez a glória.
— A questão é que Weed não tinha intenção de causar estragos — disse ele sem grande convicção. — Caramba, será que esta maldita chuva não vai parar? Deviam ver o meu jardim e a minha rua, já que a cidade não faz nada para a manter. Deve ter aí quinze centímetros de água.
— Temos mais alguma dúvida? — A Juíza Davis olhou de frente para eles, enquanto a chuva passava a granizo, começando a retinir no chão.
— Eu não — disse West.
— Claro que não — secundou Hammer.
— Não — Brazil concordou com todos.
— Então, declaro anulada a acusação contra Weed Gardener — decidiu a Juíza Davis, perante o olhar de uma mulher de mármore com uma Bíblia aberta e de um anjo. — Agente Brazil — chamou ela com um aceno. — Vamos tratar da papelada. Quero que seja libertado imediatamente.
— é para já — concordou Hammer. — Virgínia, Andy? Vão direitinhos à cadeia. Vamos levar Weed para casa.
Brazil deu vivas e pôs o braço em volta de West. A chefe-Aadjunta Hammer começou a bater palmas, acompanhada por West. Cheddar juntou-se-lhes, embora não conseguisse unir as mãos. O delegado do Ministério Público encolheu os ombros. Trataram da papelada e regressaram os seis aos carros. Jefferson Davis desapareceu na noite, enquanto o pequeno cortejo seguia por Waterview, sob a chuva, que já não parecia tão intensa, deixando para trás monumentos que pareciam menos tristes.
Patrícia Cornwell
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















