
Era o ano de 1212. A quarta cruzada chegara a um fim sangrento. O resultado fora tão bem sucedido como o das três anteriores, isto é, fora um fracasso completo. Durante cerca de cem anos, exércitos tinham marchado sobre a cidade santa, mas Jerusalém ainda estava em poder dos Sarracenos.
Então, um homem, com o traje de monge, ergueu-se no meio dos povos da França e Alemanha. Pregou-lhes um sermão sombrio.
— Por que falharam todas as cruzadas? — perguntou ele. — Mesmo com a força e o amor e o poder de Deus do nosso lado, por que é que os nossos exércitos são sempre vencidos pelos pagãos? Porquê?
Os olhos negros e brilhantes fitaram a multidão surpreendida e silenciosa.
— Porque não somos puros! — respondeu por eles. — A voz ecoou com o timbre dos justos. — Porque os nossos soldados já estão sujos e manchados pelo pecado. Como é que nós, pecadores, podemos ganhar a Terra Santa? — Fez-se uma pausa, deixando que os pecadores à sua frente pensassem na pergunta. — Como? Digo-vos como! Temos de formar um exército de inocentes. Um exército de crianças. E, quando chegarem a Jerusalém, com Deus e a inocência do seu lado, a nossa vitória será certa. Esta será a mais importante de todas as guerras santas. Esta será a Cruzada das Crianças!
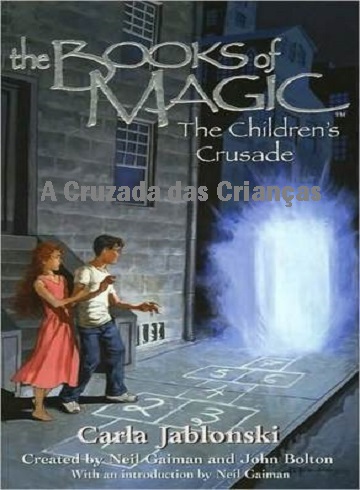
A multidão murmurou e resmungou e dispersou lentamente.
Ele mantivera-os subjugados até pronunciar a solução; depois disso, ignoraram-no. Mas falaram dele e do seu plano louco.
As palavras do monge foram transmitidas através da Europa. Os adultos zombaram, mas as crianças ouviram com atenção — e acreditaram. Em todo o continente, as crianças agruparam-se, sussurrando, fazendo planos, pensando, ansiando. Reuniram-se para a cruzada. Uns deixaram os pais e as casas confortáveis. Outros deixaram as ruelas, as fazendas e as florestas.
Mais de cinqüenta mil garotos e garotas viajaram para Marselha, onde uma centena de navios esperavam por eles. Nenhuma das crianças sabia onde ficava Jerusalém, nem o que lhes aconteceria quando lá chegassem, mas a fé sustentava-as. O homem vestido de monge estava nas docas e via as crianças a embarcar. E sorria.
Os navios zarparam em Janeiro de 1213. Nos meses que se seguiram, continuaram a chegar crianças a Marselha, esperando juntar-se à cruzada. Mas assim que aqueles cem navios partiram, nenhum outro os seguiu. Aquelas que se atrasaram, ficaram a chorar na praia, desoladas por não poderem fazer parte do exército de Deus.
Foram essas que tiveram sorte.
Levantou-se uma terrível tempestade e destruiu noventa e oito dos cem navios. Nessa noite morreram afogadas quarenta e nove mil crianças. Também se podia argumentar que essas, também, tiveram sorte. Pois os cem navios não iam para Jerusalém, mas sim para o porto de Anfa em Marrocos. E as crianças não seriam os heróis de urna guerra santa, mas bens num próspero tráfico de escravos.
Os dois únicos navios chegaram a Marrocos e foram recebidos por um homem sorridente, que já não estava vestido de monge. Oitocentas crianças (duzentas tinham morrido durante a travessia) foram descarregadas e vendidas no mercado junto ao porto. A notícia do destino das crianças chegou à Europa. A identidade do monge, que tratou de tudo, nunca foi descoberta. Cinqüenta mil crianças partiram para a cruzada. Nenhuma regressou.
Aiken Drum e a irmã, Mwyfany, atravessavam as areias escaldantes. Tinham sobrevivido às tempestades, mas estavam agora numa terra estranha. Viajaram tanto e tão longe; Aiken já não se lembrava há quanto tempo. Primeiro, foi a excitação de participar na Cruzada. Iriam fazer grandes coisas! Iriam tornar-se importantes, uma parte de algo muito maior do que eles. Essa excitação e essa determinação levou-os até Marselha, e a sua fé foi aquilo que os sustentou assim que embarcaram.
A princípio, Aiken e a irmã não sentiram medo. E mesmo quando o grande navio balançava, e mesmo quando tremiam muito juntos, imaginando os horrores que a guerra em que participariam traria, mantiveram a coragem, pois sabiam que estavam do lado daquilo que era puro, certo e verdadeiro. O seu Deus iria protegê-los. Afinal era por Ele e pela Sua glória que tinham empreendido aquela longa viagem. Se o tratamento da tripulação era duro ou indiferente, na melhor das hipóteses, as crianças não se importavam. Pensavam que era muito mais importante tratar do navio do que cuidar delas.
Isto foi antes dos outros morrerem afogados. E antes da chegada a Marrocos.
O Sol secou a garganta de Aiken. Os lábios estavam gretados e a pele esticada e queimada. Olhou para a fila onde a irmã caminhava aos tropeções, arrastada pelas crianças maiores à sua frente. A irmã estava muito pior do que ele. Era tão frágil, e há muito tempo que não tinham o que comer. Viu uma sombra na areia e esforçou-se por olhar de novo em frente, evitando outra chicotada.
Tinham sido vendidos, como os outros sobreviventes da viagem, no tumulto do mercado. Mwyfany encolhera-se de medo perto dele, assustada com as palavras que lhe gritavam em línguas estranhas, os aromas fortes e as mercadorias peculiares. A princípio, Aiken considerou-se afortunado por ele e Mwyfany não terem sido separados. Mas agora interrogava-se se não seria melhor para ela ser vendida a um senhor diferente. Aiken não fazia a menor idéia para onde iam e não tinha certeza se sobreviveriam. Talvez alguém a pusesse para trabalhar numa cozinha ou numa lavanderia. Agora era tarde demais.
Quanto tempo duraria aquela marcha forçada? perguntou a si mesmo vezes sem conta, enquanto a areia lhe arranhava a planta dos pés e o Sol lhe queimava os olhos.
A jornada parecia interminável. As noites eram gélidas, e a quantidade limitada de água era horrível. E, no entanto, nenhuma das treze crianças que atravessavam o deserto virou o rosto, queimado e pelado, à sua fé. Ainda acreditavam em milagres.
— Aiken! — gritou Mwyfany.
Aiken virou-se para ver a irmã, com as cordas a ferir-lhe os pulsos. Ela caíra e tentava levantar-se. Os seus esforços faziam derrubar as crianças à sua volta. Os captores libertaram-na das cordas que a prendiam às outras. Mesmo assim não se mantinha em pé. Os captores fizeram estalar um chicote para que a fila andasse. Deixaram-na onde estava, a cravar as mãos na areia para tentar pôr-se de pé.
— Não! — gritou Aiken. Enterrou os calcanhares e parou. Um dos homens chicoteou-o e, por via das dúvidas, chicoteou o garoto à frente e atrás dele, para garantir que continuariam a andar. — Mwyfany! — gritou Aiken. — Mwyfany!
O chicote pungente, a areia escaldante e o corpo enfraquecido traíram-no. Tudo conspirava para o impedir de parar por causa dela, de lutar. Nem sequer podia dizer uma oração — ou adeus.
A voz dela era tão fraca como o som das folhas a rolar no chão no Outono. Aiken mataria os captores se não fossem as cordas que o prendiam às outras crianças escravas.
As lágrimas, que chorou pela irmã, rolaram pelas faces sujas, mas ele não emitiu nenhum som. O corpo tremia enquanto tentava abafar os soluços violentos.
Sentiu um toque suave nas costas, e a cabeça rodou bruscamente. Fitando os olhos negros da garota atrás dele, viu simpatia e pesar. Tocou-lhe de novo, dando-lhe a entender que compreendia a sua dor e depois abanou a cabeça, indicando que devia olhar em frente ou enfrentar o chicote.
Sem parar. Sem parar. Caminharam através do deserto e depois por água, depois através de uma floresta. A altas horas de uma noite sem estrelas, chegaram a uma cidade e foram conduzidos através de ruas escuras até um enorme edifício. Uma vez lá dentro, arrastaram-nos para um porão e deixaram-nos às escuras.
Agora eram doze: doze crianças exaustas, malcheirosas, famintas. Nenhuma tinha mais de catorze anos.
Lentamente, foram-se entendendo — umas palavras em francês, inglês, italiano ou espanhol. Alguns dos garotos falavam um pouco de latim. Por fim, com esta estranha amálgama de línguas, criaram uma linguagem nova, própria. Sussurravam, consolando-se e interrogando-se sobre o seu destino.
Aiken soube que a garota de olhos negros se chamava Yolande e que viera da Espanha com a irmã. Não lhe disse por que estava sozinha; não era preciso. As tranças estavam emaranhadas, e o rosto estava magro e cansado da viagem. Calculava que tivesse uns dez anos de idade — mas o ordálio dera-lhe a expressão de uma pessoa velha. Supôs que devia parecer muito mais velho do que um garoto de catorze anos.
Era impossível dizer se era dia ou se era noite naquele buraco.
De vez em quando, o alçapão abria-se, e alguém atirava carne podre ou fruta estragada. A água era descida num balde uma vez por dia. E, à medida que o tempo passava, o cheiro no buraco tornava-se cada vez pior. Viviam às escuras e nunca sabiam quanto tempo passava.
Então, um dia, desceram uns homens e levaram Yolande.
Aiken sentou-se no buraco, encostado à parede nojenta, e pôs-se à escuta com os outros. Os gritos de Yolande provocaram-lhe calafrios na espinha. E depois, subitamente, fez-se silêncio, que era ainda pior. As crianças olharam umas para as outras na pouca luz que entrava no porão, tomando consciência, com horror crescente, do seu futuro.
Estranhamente, talvez em resposta ao terror, Aiken adormeceu. Nem sequer começara a sonhar quando acordou sobressaltado. Yolande estava à frente dele, a falar na sua própria língua, embora tivesse aprendido apenas algumas palavras.
— Há uma saída — disse-lhe. — Há um lugar para onde poderá ir, onde estará sempre a salvo. — E depois mostrou-lhe.
Ele pestanejou e ela desapareceu. Perscrutou a escuridão e viu olhos arregalados a brilhar à sua volta. Yolande aparecera a todos e falara-lhes na sua língua materna. «Um portão», prometera-lhes ela. E agora sabiam como podiam abri-lo.
— Faremos isso agora — disse Aiken, na língua que tinham criado. No círculo, houve acenos de cabeça.
— Devíamos ter um líder — disse alguém.
Como seria a escolha? Não havia tempo para fazer discursos ou votar. Os métodos mais simples eram sempre os melhores. Começaram a jogar pedra, papel e tesoura, eliminando um jogador de cada vez. O papel tapa a pedra: a tesoura corta o papel, a pedra esmaga a tesoura. Finalmente, chegou a vez de Aiken e do garoto chamado Kerwyn. Era o mais velho, um pouco mais velho do que Aiken.
Aiken fitou os olhos do garoto alto e percebeu. Não queria ganhar. Estava demasiado receoso e demasiado cansado para ser um líder. Primeiro a irmã, depois Yolande. Perdera demasiado para ser responsável pela segurança dos outros. Seguindo um palpite, pôs os dedos em forma de tesoura atrás das costas.
— Um, dois, três, mostrem — alguém gritou, e os dois garotos estenderam as mãos. Aiken mostrou a tesoura.
A mão de Kerwyn estava fechada: escolhera a pedra. Kerwyn era o líder.
Sentaram-se em círculo, e Kerwyn pegou na faca e cortou o dedo de cada uma das crianças. Usaram esse sangue para fazer o desenho especial que Yolande traçara no chão. Às vezes, Kerwyn tinha de cortar as crianças mais do que uma vez para ter sangue suficiente. Criar a porta para a liberdade tinha o seu preço. Foram os primeiros; tinham de se entregar para passar para o outro lado. E o ritual uniu-os como irmãos e irmãs de sangue.
Estavam, por fim, preparados. Kerwyn foi o primeiro a dançar no desenho. A quadrícula do jogo da macaca cintilou com cor carmesim — e ele desapareceu! Deu Certo!
Aiken pensou na irmã. Se ao menos... Abanou a cabeça. Era tarde demais para pensar. Uma a uma, as crianças saltaram para o desenho e desapareceram. Aiken aproximou-se da quadrícula da macaca. Respirou fundo e saltou...
... para o País Livre. Onde nada lhes podia fazer mal.
Quem me dera contar à Molly tudo o que está acontecendo. Mas como? Não posso dizer “Desculpa Molly, mas tenho sido atacado por desconhecidos excêntricos e nem sempre humanos e descobri que o meu pai não é meu pai, mas sim este homem-pássaro, e, oh, sim, houve um momento em que quase morri, mas salvei o País Encantado”.
Seja como for, ela é a pessoa a quem costumo contar tudo — isto é, tudo o que posso. O outro assunto, bem,é entre nós. Caramba! Agora falo para um diário!
Bem.
Ela foi legal quando lhe dei a grande notícia — a parte do pai que não é meu pai. Só que não lhe falei da magia. E essa é a maior bronca de todas. Embora saiba que a minha mãe estava grávida quando casou com o meu pai — quero dizer, com o Sr. Hunter — não sabe que o meu verdadeiro pai era um tipo que podia transformar-se num pássaro. Ou que tenho andado de uns mundos para outros, a visitar o País Encantado, onde o meu pai verdadeiro vive.
Tim olhou para o diário e trincou a ponta do lápis. Riscou a última palavra que escrevera e substituiu-a por «vivia».
Recostou-se bruscamente na cadeira e fechou os olhos atrás dos óculos.
— Não é justo — murmurou. — Na verdade, é uma idiotice.
Tim não visitara simplesmente o País Encantado naquela última vez — salvara o mundo alternativo das garras da terrível criatura conhecida como o manticore. Fora no momento em que praticara aquele pequeno ato de heroísmo que quase se matara, embora, graças a um acordo mágico, fosse Tamlin quem acabara morto definitivamente.
Tamlin, o Falcoeiro da Rainha, que também era o verdadeiro pai de Tim, sacrificara a vida para que Tim pudesse viver, fazendo um feitiço que lhe permitiu tomar o lugar de Tim, que estava às portas da morte. Significava que Tim nunca obteria respostas para as enormes perguntas que lhe martelavam o cérebro. Tornava tudo tão confuso.
Mas Tim também se sentia muito grato. Sabia que estaria morto naquele momento se não fosse Tamlin.
Como é que vou conseguir resolver as coisas?, interrogou-se Tim. Como é que ele conheceu a minha mãe?
Era muito difícil para Tim imaginar a mãe e Tamlin juntos. Tim não pensava que se tinham conhecido numa reunião para solteiros, como faziam os grupos no centro comunitário. Não era provável que houvesse uma noite de «humanos e pássaros» especial. Isso levantava outra questão: A mãe saberia que fora engravidada por um sujeito que passava parte do tempo como falcão e vivia o tempo inteiro no País Encantado?
Não havia respostas. Apenas mais perguntas. E o fato de Tim ter descoberto recentemente que tinha potencial para se tornar o mágico mais poderoso do seu tempo não ajudava. Depois disso, o diabo andara à solta. Fora atacado, admirado, confundido e surpreendido num espaço de tempo extremamente curto.
Se Tamlin ainda estivesse vivo, podia ajudar-me a compreender a minha magia, pensou Tim, pesaroso. É o que um pai faz, não é? Ajuda-nos a compreender quem somos e como devemos estar no mundo.
Tim resmungou. Não é que eu saiba o que faz um pai. Inclinou a cabeça, pondo-se à escuta. Sim, a televisão ainda retinia no andar de baixo. Era assim que o sujeito, que antes julgava ser o seu pai — o Sr. Hunter — passava a maior parte do tempo, desde o acidente de automóvel que matara a mãe de Tim e ceifara um dos braços ao pai.
— Magia. — Tim levantou-se e andou de um lado para o outro no quarto pequeno. Se ao menos conhecesse melhor os seus poderes. Ou percebesse o que significava realmente ter todo aquele potencial. E enquanto formulo desejos, pensou Tim, seria ótimo se o mundo inteiro não me quisesse apanhar. Não era apenas o mundo mágico que estava cheio de perigos e inimigos — também parecia que os professores não o deixavam em paz.
Fechou o diário e tirou o teste de Álgebra da mochila.
— Talvez estivesse um pouco distraído — murmurou, lançando um olhar furioso ao C- vermelho no cimo da folha. — Mas quem pode me culpar? — Não se lembrava de ninguém na escola que passasse por tanta coisa como ele. Talvez devesse contar tudo a Molly. Uma aliada podia ser-lhe útil.
- Talvez corresse esse risco — certamente que ela entenderia. Pegou no casaco e desceu as escadas aos saltos. Saber que ia ter finalmente alguém com quem falar da magia deu-lhe energia de sobra. Não importava se não fizesse nenhuma idéia das palavras que usaria para convencer Molly de que não estava completamente louco. Dissesse o que dissesse, sabia que Molly ouviria. E se ela concluísse que afinal era um pateta, então não era a amiga que ele julgava que era.
— Pai, vou sair — gritou Tim, quando passou pela sala de estar escura.
O pai olhava para a luz trêmula no ecrã da TV.
— Está perdendo um bom programa, Tim — disse o pai, sem levantar os olhos. — Vem ver esta garota dançar.
O Sr. Hunter gostava daqueles musicais antigos — aqueles cheios de garotas bonitas a levantar as pernas ao mesmo tempo ou a fazer sapateado em cima de pianos e coisas do gênero.
— Não, obrigado, pai — disse Tim.
O Sr. Hunter levantou os olhos, por fim, e sorriu para Tim. Não há muito tempo atrás, ele confirmara as suspeitas de Tim, admitindo que a mãe de Tim já estava grávida de outro homem quando ela e o Sr. Hunter se casaram. Desde essa altura, o Sr. Hunter era muito cauteloso com Tim. Quase meigo. Prestava, sem dúvida, mais atenção. Tim ainda não sabia se isso era bom ou mau.
— Então divirta-se — disse o Sr. Hunter. — É bom que saia.
— Sou eu, a borboleta social — disse Tim. — Até logo.
Saiu de casa e dirigiu-se à casa de Molly, correndo a toda velocidade. Tocou à campainha e ficou nas pontas dos pés. Sentia-se nervoso com aquilo que ia fazer. Não era como se a Brigada dos Encapotados — os quatro sujeitos que o tinham iniciado na magia — lhe tivesse dito que era um grande segredo. Mas sabia que não era o tipo de assunto que um garoto devesse espalhar aos quatro ventos.
Molly sabe guardar um segredo, lembrou-se. Só tenho que convencê-la de que é verdade. Que esta coisa da magia não é uma reação psicológica à descoberta de que não sou filho do meu pai.
Molly abriu a porta, com o casaco vestido.
— Olá, Tim. Quer ir à biblioteca?
— A biblioteca? — repetiu Tim. — Num sábado?
Uma garota alta e rechonchuda estava atrás de Molly. Também estava com um casaco.
— Sou Becca, a prima de Molly. Vou levá-la à biblioteca grande no centro da cidade.
— Oh. — Tim mexeu os pés no degrau da entrada. Aquilo não era o que planejara.
— Vou ver se encontro as chaves, depois vamos — disse Becca a Molly. Desapareceu na cozinha.
— Então, quer ir? — perguntou Molly.
— Não — disse Tim. — Por que vai à biblioteca no centro da cidade? Há uma aqui perto.
— A daqui é muito mal arrumada — queixou-se Molly. — Todos os livros têm manchas e as folhas soltando. E os livros que queria já foram consultados na escola.
— Em que está trabalhando? — perguntou Tim, querendo saber se havia algum trabalho escolar de que tivesse esquecido.
— No meu trabalho de História — replicou ela. — Estamos estudando a Revolução Industrial. Vou escrever sobre os direitos das crianças no mundo do trabalho.
Tim acenou com a cabeça, satisfeito por estar numa turma de História diferente da de Molly e de ainda não lhe terem atribuído um trabalho.
— Ei, qual é a tua teoria sobre as crianças desaparecidas? — perguntou Molly.
— O quê? — perguntou Tim. — Que crianças desaparecidas?
Os olhos castanhos de Molly arregalaram-se.
— Como é possível não ficar sabendo? Todo mundo na escola fala no assunto. — Depois a expressão passou a ser de preocupação. — Suponho que tem tido muito em que pensar. — Molly sabia que Tim ainda estava confuso por ter descoberto quem era o pai.
— Mais ou menos — admitiu Tim.
— No entanto, estou surpreendida por não ter ouvido na televisão ou no rádio.
— Meu pai não gosta de noticiários. Prefere os filmes antigos. Para ele é tudo em preto e branco — disse Tim, suspirando. Aquilo descrevia bem o pai. O Sr. Hunter vivia num mundo preto e branco. Tim tinha a sensação que Tamlin, o seu verdadeiro pai, tinha sido completamente tecnicolor.
— Bem, desapareceram uns garotos de uma cidade não muito distante daqui — explicou Molly. — De uma só vez. Ninguém sabe explicar.
— Parece estranho.
Molly acenou com a cabeça.
— É como um desses mistérios na TV por desvendar.
A porta abriu-se.
— Vamos — disse Becca. — Você vem? — perguntou a Tim. Tim abanou a cabeça. Não lhe apetecia acompanhar Molly só para ir a uma biblioteca onde teriam de ficar calados. E Molly queria estudar. Por qualquer razão, ela gostava da escola.
Que desilusão. Tim sentia-se como um balão a perder ar. Preparara-se para partilhar o seu enorme segredo com Molly, enchera-se de coragem para fazer isso, correra até lá e agora... nada. Teria de desistir de lhe contar ou passar de novo pelo processo de revivificação.
Molly devia ter notado a sua expressão.
— Não fique com esse ar tão carrancudo — censurou, com um sorriso irônico. — As coisas podiam ser piores. Podia estar vivendo no tempo em que teria que trabalhar numa fábrica como estes garotos sobre os quais estou escrevendo. Trabalhavam onze, doze horas por dia e ficavam gratos por uma fatia de pão e uns centavos.
— Se vamos, tem de se apressar — resmungou Becca a Molly. — Eu também tenho trabalho.
— Até logo, Tim — disse Molly.
— Está bem.
Tim viu-as entrar no carro antigo e gasto de Becca, sem saber o que fazer. Devia voltar para casa? Não lhe agradava ficar fechado. Preparar-se para contar a Molly que era mágico fizera-lhe subir a adrenalina, e agora tinha de se livrar desse excesso de energia. Talvez devesse ir buscar o skate em casa. Sim, seria bom. O ar estava fresco, para variar, sem neve à vista. Um tempo excelente para andar de skate.
Pensou naquilo que Molly dissera — em se sentir feliz por viver no presente e não no passado. Mas desejava vagamente viver no passado. Oh, não há muito tempo atrás, não na época da iluminação a gás e das carruagens puxadas por cavalos ou coisas desse gênero. Mas no tempo antes de entrar na magia e o seu mundo mudar. Podia ter sido só algumas semanas atrás?
Enfiando as mãos nos bolsos, virou-se para ir para casa. Dera apenas uns passos quando algo o fez parar bruscamente na calçada. O ar tremulou à sua frente.
Titânia, a Rainha do País Encantado, materializou-se à sua frente. E não parecia contente.
Brighton, Inglaterra
Um garoto, com cabelo loiro, comprido e sujo, estava ao lado de uma multidão de crianças. O grupo olhava fixamente para um desenho do jogo da macaca feito com giz cor-de-rosa, que o garoto desenhara na calçada. Uma menina, com uns sete anos, olhava de soslaio para ele.
— Na tua terra todo mundo se fantasia assim? — perguntou ela.
O garoto, Daniel, olhou para o sobretudo esfarrapado, as calças remendadas, e o chapéu alto e puído que tinha na mão. O sobretudo com cauda tivera melhores dias. Começara a deteriorar-se bem antes de ele ter ido para o País Livre. Não era surpresa nenhuma, visto que o encontrara num monte de lixo. As calças tinham pertencido a um dos filhos do patrão da fábrica. Eram roupas usadas.
Daniel olhou para as crianças limpas e bem arrumadas que o rodeavam, e sentiu-se um pouco desalinhado. Geralmente não se importava com o aspecto. Todo mundo no País Livre tinha o aspecto que queria. Bem, verdade seja dita, certificava-se sempre se estava de rosto lavado e que nada estava demasiado sujo, se sabia que iria encontrar Marya. Gostava dela e não se importava que as pessoas soubessem.
— De onde venho — disse ele à menina — pode vestir-te como uma princesa de um conto de fadas se quiser. Ou até de rã.
A menina soltou uma risadinha.
— Não gostaria de ser uma rã.
— Bem, então, não seja, estou me lixando. — Daniel começava a ficar impaciente. Uma dúzia de crianças já saltara. Aquele grupo atrasara tudo, fazendo perguntas.
— Vamos lá — ordenou-lhes. — Mexam-se. Se não conseguirem saltar mais depressa do que isso, seremos apanhados em flagrante, com certeza!
Viu, com satisfação, as crianças a ganhar velocidade — excitadas, sem dúvida, com a possibilidade de serem princesas e rãs. Depois da última criança pular e saltar, Daniel começou mas parou, equilibrando-se num pé.
— Diabos me levem! — censurou-se. — Esqueci-me que prometi a Marya que lhe arranjaria uma lembrança.
Pousou o pé descalço no chão e olhou para a vitrine da loja atrás dele. Daniel não sabia ler, por isso não sabia que tipo de loja era. Mas havia uma estátua de uma bailarina na vitrine.
— Oh! — exclamou baixinho, admirando a estátua. — Não é o canário do gato. — Era o presente ideal para Marya. Apanhou uma pedra da sarjeta e atirou-a à vitrine. Tendo cuidado para não se cortar, meteu a mão e pegou na estátua. Meteu-a debaixo do sobretudo e voltou para o País Livre a saltitar.
Um instante depois, Daniel estava num caminho empedrado do País Livre, rodeado por todos os lados de árvores, flores e relvados ondulantes. O Sol aquecia as pedras, por isso causavam uma sensação agradável nos pés descalços. O céu estava, como sempre, azul e brilhante, e um cheiro suave de bolinhos de chocolate era arrastado pela brisa. Daniel respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar delicioso.
— País Livre — murmurou —, e já não era sem tempo. Mais um dia com aquela trabalheira e seria isca para o manicômio.
Há quanto tempo estava naquela missão?, interrogou-se.
Provavelmente há apenas três dias, mas tinham parecido anos. Era assim que Daniel sentia o tempo passar, menos no País Livre. Quando estava em outro lugar sentia-se sempre muito nervoso.
Os seus protegidos — as crianças a quem ensinara o desenho especial da macaca — olhavam ao redor, admirados. Ficam todos com um ar um pouco pateta, quando passam, observou. Bem, não interessa. Em breve, estarão refeitos. E, entretanto, tenho que entregar um presente! Bateu levemente na estátua da bailarina debaixo do casaco. Estava ansioso para ver a cara de Marya quando lhe desse o presente.
Abriu caminho por entre a multidão de crianças confusas.
— Abram alas, abram alas — gritou. Subiu correndo o monte, onde algumas das crianças, que Daniel mandara antes, estavam reunidas em volta de Kerwyn.
Kerwyn era alto e magro e, sempre que falava aos recém-chegados, fazia a voz mais forte e mais baixa do que realmente era. Daniel não percebia por que razão queria parecer um adulto. Não é por isso que estamos todos aqui? Para nos afastarmos dos adultos?
Daniel achava que Kerwyn pareceria mais autoritário se não usasse aqueles ahs, ers e uhs, quando falava. Caramba, o Kerwyn fez o mesmo discurso um milhão de vezes, então por que ê que ainda parece que tenta adivinhar aquilo que quer dizer?
Está bem, talvez um milhão seja um exagero, admitiu Daniel. Daniel não sabia ao certo há quanto tempo é que Kerwyn estava lá. Sabia que estava lá há muito mais tempo do que ele. Ou Marya. Talvez há mais tempo do que qualquer outro. Essa era uma das razões por que Kerwyn era o líder. Isso e o fato de que com catorze anos era o mais velho de todos. E sempre fora. E sempre seria.
— Ah — pigarreou Kerwyn. — Estou certo que todos, ah, têm perguntas sobre ... uh ... er ... coisas.
Daniel tentou não rir. Nenhuma criança prestava a menor atenção a Kerwyn. Talvez os garotos devessem ter algumas perguntas, mas estavam a divertir-se muito, descobrindo os extraordinários prazeres do País Livre. Garotos e garotas rolavam pelas encostas cobertas de erva macia e doce. Outros perseguiam borboletas de cores vivas, que acediam a pousar nos seus narizes, fazendo-lhes cócegas entre os olhos admirados. Um grupo colhia os pirulitos que, por vezes, se erguiam da terra.
— Será que podem prestar atenção? — perguntou Kerwyn. Agora a voz tinha o timbre normal, que era um pouco estridente.
— Kerwyn — disse Daniel. Kerwyn parecia aborrecido.
— Não me referia a você, Daniel. Referia-me aos novos.
— Onde está a Marya? — perguntou Daniel.
Kerwyn cruzou os braços sobre o peito. Usava uma camisa branca, com mangas bufantes, que balançavam um pouco quando mexia os pulsos. Marya chamava-lhe «camisa de poeta». Mas tanto quanto Daniel sabia, Kerwyn nunca fizera dessas poesias piegas. Kerwyn preferia passar o tempo a fazer discursos e jogos de palavras.
— Realmente — disse Kerwyn, revirando os olhos castanhos. — É uma pergunta estúpida. Como posso saber onde está a Marya?
Daniel lançou um olhar de indignação a Kerwyn, sentindo a raiva aumentar. Kerwyn não queria que ele visse Marya? Olhou, com ar irritado para o garoto mais alto e deu um passo em frente.
Kerwyn deu um pequeno passo atrás.
— Foi passear com os Cintiladores, suponho. — Kerwyn levantou as mãos. — Não está sempre?
Claro! Quando Daniel não sabia onde estava Marya, podia encontrá-la sempre com os Cintiladores.
— Obrigado, companheiro! — gritou Daniel por cima do ombro, quando se afastou a toda velocidade.
Correu para o rio claro e frio, que estava repleto de peixes multicoloridos, que saltaram da água para saudá-lo.
— Agora não tenho tempo para brincadeiras — disse a uma perca sarapintada.
Saltou para a bela jangada feita à mão. Daniel estava muito satisfeito com a proeza, e isso fazia com que a protegesse. Não permitia que ninguém conduzisse a jangada, a não ser Marya. Antes de vir para o País Livre, Daniel nunca possuíra nada que fosse somente dele. Trabalhar na fábrica malcheirosa, barulhenta e abafada, tudo o que fazia pertencia ao patrão, Slagginham. Legalmente, tudo o que havia lá pertencia ao patrão: o tempo de Daniel, até a sua vida, assim parecia às vezes. Mas aquela jangada, aquela era dele.
Pegando na vara, que usava como remo, conduziu a jangada rio abaixo. Na direção de Marya. Deslizando ao sabor da corrente, sorriu, sabendo que a veria em breve. Sabia onde encontrar os Cintiladores. Dançavam num pequeno lago orlado de salgueiros, quase no lugar onde o Sol costumava pôr-se.
Os Cintiladores são bonitos, pensou Daniel. Mas não percebia porque Marya passava tanto tempo com eles. Quase não eram reais. Vê-se, praticamente, através deles. Marya é muito mais bonita do que qualquer um deles. Mas as garotas gostam de coisas brilhantes, e os Cintiladores eram realmente brilhantes.
Por fim, avistou-a ao longe, sentada num barco a remo virado. Era muito franzina e tinha quase a sua idade — treze —, com longos cabelos ruivos, que se encaracolavam e dançavam com a brisa. A pele era muito branca, como a daquelas bonecas que têm cabeças de vidro, e os olhos eram verdes e muito brilhantes. Mais verdes do que a erva mais verde do País Livre — e Daniel nunca vira nada tão verde. Não havia muito verde no mundo de Daniel. Na verdade, a terra de onde Daniel viera, pouco havia que não estivesse coberto de fuligem e pó.
Marya era tão limpa. Isso também lhe agradava.
Daniel mergulhou a mão no rio e deu uma lavadinha no rosto. Passou a mão molhada no cabelo loiro, com esperança de que não estivesse demasiado sujo. Por vezes, Kerwyn censurava-o por ser tão desmazelado. Geralmente Daniel tinha ganas de castigar Kerwyn. Mas outras vezes pensava que Kerwyn talvez tentasse ajudá-lo para se enquadrar. Causar boa impressão.
Daniel aproximou-se do canavial nas margens do rio. Sem ele pedir, as canas afastaram-se para que pudesse manobrar a jangada. As folhagens compridas e verdes sabiam que estava com pressa. Por vezes, o País Livre era assim. Desejavam uma coisa e antes que se percebessem que tinham formulado um desejo, o País Livre concedia-o. Nem sempre era assim, porém. Daniel desejava muito que Marya o beijasse e ela nunca o beijou. Nem uma só vez. Ainda matutava por que razão o País Livre lhe dava algumas coisas, mas nunca aquilo que mais desejava.
Saltou para a margem e correu na direção de Marya.
— Marya — gritou. — Voltei! — Gostaria de saber se tivera saudades dele. Talvez a impressionasse com o número de crianças que trouxera. — Consegui! — gabou-se, enquanto se dirigia para ela por entre as canas. — Puxamos muitos.
Saltou por cima do barco virado, onde Marya estava sentada, e estendeu-se ao lado dela.
— Devia ver o mundo deles — disse-lhe. — Tem aquelas caixas que prendem nas orelhas, que fazem música e jogos como nunca viu. A qualquer momento haverá mais a escapar — continuou. — Kerwyn escolherá missionários para a última travessia assim que esconder os novos.
— Isso é bom — murmurou Marya. Daniel riu.
— Não quer saber de nada disso, não é? De verdade.
Então Marya sorriu, embora sem olhar para ele.
— Não — respondeu. — Não quero.
Daniel desviou os olhos do rosto bonito de Marya e seguiu o olhar dela. Os Cintiladores davam um espetáculo magnífico.
Não sabia ao certo o que eram realmente. Pareciam pequenos querubins, só que não eram rechonchudos. Eram prateados e rosados e brilhantes, e o ar ao redor deles cintilava também. Não tocavam no solo, mas flutuavam por cima do rio, dançando. Dançavam constantemente. Daniel tinha de admitir que eram muito impressionantes — tão leves e flutuantes. Marya dizia sempre que eram os bailarinos mais delicados e graciosos que já vira. Daniel nunca vira outros dançarinos, por isso acreditava nela.
Levantou-se e enterrou os dedos dos pés descalços na margem molhada e macia.
— Também não quero saber disso — disse a Marya. — É divertido ser escolhido para a missão e tudo mais, mas depois daquilo...
Olhou por cima do ombro. Ia contar a Marya uma coisa que nunca dissera a ninguém em voz alta.
— Lá não era assim tão ruim, sabe. Não tão ruim como o Kerwyn diz. O ar não era assim tão ruim. Era uma paisagem mais agradável do que na terra de onde vim. A água, também. — Esticou o lábio inferior quando pensava nessas coisas. — E apenas alguns dos pequenos pareciam apanhar umas varadas com regularidade. — Abanou a cabeça. — Aquele Kerwyn. É um idiota.
Marya não reagiu — nem mesmo ao comentário ousado. Olhava fixamente para os Cintiladores. Quando eles estavam por perto, nunca conseguia atrair a sua atenção. Podia tentar afugentá-los, mas aquele era o lugar deles. Calculou que não iriam embora.
Suspirou e deitou-se de novo em cima do barco a remos. Talvez se se esforçasse mais por gostar dos Cintiladores, pudesse passar mais tempo com Marya. Ficou em silêncio ao lado dela, observando as estranhas criaturas a dançar com desenhos floreados. Eram como que hipnotizadores. Todavia, Marya brilhava ainda mais do que eles.
— Alguma vez tentou dançar com eles? — perguntou. Por fim, Marya olhou de frente para Daniel.
— Dançar com eles? — repetiu. — Como poderia? Olha para eles.
Ele observou-os mais alguns segundos. Tinha a certeza que Marya podia fazer qualquer coisa. Por que ela não o percebia?
— Oh, espera só — garantiu-lhe. — Mais cedo ou mais tarde, vai apanhar um. Além disso, eles estão aqui há muito tempo. Há muito tempo.
Os ombros de Marya arquearam.
— Também eu — disse ela, por entre dentes. — Só que nunca cresço. Estou sempre na mesma.
— Quem quer crescer? — disse Daniel. — Eu, não!
Marya olhou fixamente para os pés. O cabelo comprido cobriu-lhe o rosto, mas Daniel sabia que emudecera interiormente, uma vez mais.
Agora estragou tudo, repreendeu-se Daniel. Esqueceu-se que Marya nem sempre se sentia feliz por estar no País Livre. E que estaria, provavelmente, a tentar dançar com os Cintiladores desde que fora para ali.
— Marya. Desculpa. — Faz qualquer coisa, disse para si mesmo. Conserta o mal.
Sentou-se e sentiu o peso no bolso do casaco. Perfeito!
— Não ligue — disse ele, tirando a estátua da bailarina. — Olha, trouxe-te uma coisa. — Entregou a bailarina a Marya. Olhou para ela, com os olhos verdes arregalados.
De repente, sentiu-se agoniado. Ela devia sorrir quando lhe deu a boneca.
— Qual é o problema? — perguntou. — Pensei que fosse gostar dela. Estás sempre pensando no tempo dos palácios, e a aprender a ser bailarina e tudo.
— Eu gosto dela — disse-lhe Marya.
As garotas são esquisitas, pensou Daniel. Os lábios de Marya sorriem, mas os olhos continuam tristes.
— É linda. Juro que gosto dela — garantiu-lhe Marya. Como se o quisesse provar, beijou a cabeça da estátua e olhou para Daniel.
Daniel preferia que ela o tivesse beijado. Teve vontade de partir a estátua ridícula. Enfiou as mãos nos bolsos do sobretudo.
Ela ainda não parecia disposta a abandonar os Cintiladores, por isso deitou-se outra vez ao lado dela. Pelo menos agora, porém, olhava para a estátua que lhe dera e não para os bailarinos por cima do pequeno lago.
— Conta-me como era — pediu-lhe Daniel — na tua cidade de São Petersburgo.
— Já te contei uma dúzia de vezes — protestou Marya.
— Mas gosto de ouvir contar — disse ele. Do que realmente gostava era do pretexto para ficar perto de Marya. Gostava de a ouvir contar histórias sobre a sua vida.
Marya esboçou um sorriso e pousou a estátua no colo.
— Uma vez, há muito, muito tempo, a minha mãe pertencia à imperatriz.
— Pertencia? — repetiu Daniel. Marya nunca começara assim a história. — Nunca usou a palavra «pertencia». Como essa estátua, que te dei agora, te pertence?
— Sim, exatamente.
— Não gostaria de pertencer a ninguém! — disse Daniel.
— Naquela época não parecia estranho — disse Marya. — Era assim mesmo. E a minha mãe tinha de usar uns vestidos lindos, e eu também, e comer bem e viver no palácio durante todo o ano.
— Essa parte não devia ser má. — Daniel passara a maior parte dos seus treze anos a suar junto às fornalhas de carvão na fábrica ou a tiritar de frio, enquanto procurava comida ou abrigo.
— Sim — disse Marya, com voz suave. — Mas a minha mãe tinha de fazer tudo o que a imperatriz queria. Todos faziam. Então, quando a imperatriz foi um dia para França e viu pessoas a dançar de uma forma que lhe agradou, regressou e ordenou aos servos que lhe trouxessem as filhas.
— Os filhos, não? — Daniel fazia sempre esta pergunta no mesmo momento da história.
Marya sorriu.
— Os filhos, não. A minha mãe teve de me obrigar a ir. Eu não queria. A imperatriz assustava-me.
— Ela também me assusta. — Daniel estremeceu.
— A imperatriz olhou para todas as meninas e escolheu as mais bonitas.
— Por isso, escolheu-te! — Daniel também dizia sempre isto. Marya levantou-se e olhou para Daniel.
— Vais dançar para mim! — disse ela, num tom pomposo, autoritário.
Saltou de cima do barco e sentou-se de pernas cruzadas na relva. Daniel também saltou e deitou-se ao lado dela. A relva do País Livre juntou-se por baixo dele para formar uma almofada.
— Se a imperatriz nos escolhia, não podíamos estar muito tempo com a nossa família — continuou Marya. — Passávamos muito tempo a ensaiar como tínhamos de parar e andar. Se não conseguíssemos, batiam-nos com uma vara nas pernas. Deram-nos sapatos, que tinham madeira nas pontas. Os sapatos de baile faziam sangrar os pés.
— Isso não era justo! — Daniel estava furioso com os maus tratos infligidos a Marya. Odiava os sapatos que lhe apertavam os dedos e os faziam sangrar, o mestre de dança, que batia nas alunas. — Eu atirava esses sapatos cortantes na cabeça desse bailarino idiota!
— Mas eu queria dançar! — exclamou Marya. — Não era assim tão mau. Havia algo na dança que era bom... como uma promessa.
Ela puxou os joelhos para o peito e envolveu-os com os braços magros e pálidos. Os olhos tinham uma expressão sonhadora.
— Por vezes, sentíamo-nos como se pudéssemos afastar-nos de tudo, deslizar livremente, se soubéssemos como fazer isso. — Ela inclinou a cabeça e olhou para Daniel. Isso fez com que se sentisse envergonhado. O olhar foi direto, pela primeira vez. — Pensei que seria diferente se descalçasse os sapatos. E foi. Um pouco. Mas não o suficiente. Não eram os sapatos que me mantinham em baixo. Eu é que nunca aprendera a voar. Ninguém sabia. Ninguém me podia mostrar como era.
Os olhos de Daniel fixaram-se nos Cintiladores. Compreendia, finalmente, porque Marya estava sempre ali.
— Os Cintiladores voam, não voam? — perguntou. — Eles sabem.
— Sim, voam. Mas penso que não me podem ensinar. E a sua própria dança. — Olhou de novo para os Cintiladores. — Creio que todo mundo tem de descobrir a sua própria dança.
Ela nunca falara tanto. Daniel aproximou-se e agarrou-lhe as mãos.
— Qual dança acha que seria a sua?
Devia ter agarrado as mãos pequenas e frias com demasiada força, porque ela se encolheu. Soltou instantaneamente os dedos macios.
Daniel olhou fixamente para a terra, envergonhado.
— Desculpa — balbuciou.
— Eu compreendo — replicou Marya.
Ficaram em silêncio durante alguns minutos. Não podia ajudá-la, e isso entristecia-o e irritava-o um pouco.
— Você disse que Kerwyn irá escolher os próximos missionários? — perguntou Marya.
— A qualquer momento — disse Daniel. Ela esperava que ele fosse, partisse? Queria livrar-se dele, não queria? Não suportaria olhar para ela se fosse esse o seu pensamento.
Marya levantou-se, agarrando a estátua.
— Obrigada pela dança — disse aos Cintiladores. — E pelo presente — disse a Daniel. E depois, afastou-se a correr, deixando-o sozinho.
Tim arregalou os olhos, tentando perceber as implicações daquilo que via.
Titânia estava ali, clara como o dia, na calçada, numa zona degradada de Londres. Parecia terrivelmente deslocada — a pele verde pálida era apenas um dos atributos que a faziam sobressair.
Além disso, era extraordinariamente bela. Mesmo a estranha pele verde não diminuía a beleza. Tim não era capaz de dizer ao certo o que a tornava ainda mais formosa do que alguma vez a vira. Talvez tivesse a ver com o fato de estar cheia de magia.
O cabelo comprido era verde-escuro, e estava trançado com minúsculas flores. Usava um vestido comprido, prateado, que cintilava quando se movia. As mangas longas eram azuis claras, transparentes — a cor do crepúsculo. Tinha olhos grandes, em forma de amêndoa, que mudavam de cor conforme o seu estado de espírito. Naquele momento, estavam vermelhos escuros, e Tim sentiu o brilho intenso como se ela estivesse efetivamente a tocar-lhe. Deu vários passos para trás.
— Como se atreve? — gritou — Criança terrível, insensata.
Tim cerrou os dentes.
— Como me atrevo a quê? A arriscar a vida para salvar o seu mundo? Creio que um agradecimento será pedir demais.
Titânia deu um passo na sua direção e Tim esforçou-se para se manter parado. Sentiu uma corrente de ar frio a emanar dela e tiritou.
— É um insolente — resmungou. — Ninguém fala comigo nesse tom.
Os olhos castanhos de Tim nunca se desviaram dos olhos dela. Afinal, o que dissera era verdade: Ele «salvara» o País Encantado e pagara caro. Ela devia agradecer-lhe, em vez de berrar com ele. Mas descobrira que os adultos nem sempre se comportavam de forma normal ou racional.
Titânia andou devagar à volta de Tim, como se examinasse um espécime. Tim aproveitou a oportunidade para olhar ao redor. Ninguém na rua parecia tê-la visto. Pensam que estou falando com os meus botões, interrogou-se. Ou encobriu-nos com um feitiço de invisibilidade? Podia fazer algo semelhante com bastante facilidade.
Titânia parou à frente dele, uma vez mais.
— Não foi apenas amor que ele desprezou por tua causa, mas também a vida. Foste a morte do teu pai.
A cabeça de Tim tombou para trás bruscamente, como se ela lhe tivesse batido. As palavras feriram-no.
— Pensa que eu não sei? — berrou ele. — Vivo com isso a cada minuto do dia.
Um sorriso maldoso surgiu no rosto de Titânia.
— Bem, pelo menos, sofre — disse.
— Já pensou alguma vez que talvez se tenha imolado para não ficar preso num mundo contigo? — retorquiu Tim.
Agora Titânia parecia ferida, como se as palavras de Tim tivessem o ferrão da verdade. Recompôs-se rapidamente.
— Não honras o teu pai desafiando-me — disse-lhe, com brusquidão. — Se tivesse um pingo de habilidade, não teria necessitado de tamanho sacrifício da parte dele. Entraste às cegas naquele covil. Não sabes nada e a tua ignorância é a tua perdição. Não és apenas um louco, és perigoso.
Tim não ia permitir que aquela mulher terrível levasse a melhor sobre ele.
— Já acabou de berrar comigo? Tenho de ir andando.
— Vai para onde quiseres, Timothy Hunter — disse Titânia, numa voz quase como um ronco. — Vagueia por essas ruas cinzentas e sujas, ou vai para o Inferno. Mas fica sabendo que és um louco varrido.
A fúria e a dor tornaram Tim corajoso — ou, pelo menos, ousado.
— Oh, sei o que sou, sua cadela real — declarou. Apontou um polegar para ele mesmo. — Sou o louco que a salvou e salvou o seu mundo... e perdi um pai por causa dos meus problemas. Estaria morta se não fosse eu. Está em dívida para comigo. E fique com esta!
Sem olhar para trás, Tim rodou e deixou a Rainha do País Encantado parada na calçada de Londres. Fez um esforço para não olhar para trás, para continuar a caminhar como se soubesse para onde ia. Nem sequer se preocupou se o seguia — ou mandaria gremlins no seu encalço ou o que quer que fosse que a Rainha do País Encantado pudesse fazer quando se enfurecia. Não se preocupava com nada. Numa coisa, ela tinha razão. O pai estava morto — e o culpado era ele.
Viu-se num lugar familiar — o cemitério.
Tudo ficara tão confuso depois da mãe morrer; tudo mudara. Tinha tantas saudades da mãe, mas nunca sentira que tinha um lugar onde expressar a sua dor. Estava sempre preocupado com os sentimentos do pai — o Sr. Hunter. O Sr. Hunter já se culpava pela morte da mãe de Tim, por não ter morrido. Sem ela, ficara completamente à deriva. Como é que Tim podia juntar o seu sentimento de perda a isso? Assim, Tim ocultara a dor e guardara tudo.
Tim seguiu pelo caminho sinuoso até o túmulo da mãe. Sentou-se pesadamente ao lado da pedra tumular e encostou a cabeça nela, sentindo o frio e a dureza.
Tim reparou numas pequenas e finas ervas que lançavam brotos na terra que cobria a sepultura da mãe.
— O que é isto? — murmurou. Estendeu a mão para arrancar as ervas com aspecto patético. Então, a mão imobilizou-se, quando se lembrou.
Quando Tim estava às portas da morte no País Encantado, fora arrancado do corpo por uma mulher jovem e bonita que era, por acaso, a encarnação da Morte. Tiveram uma longa conversa e, quando Tim despertou de novo no interior do seu corpo, encontrara no bolso um envelope com sementes.
As pequenas plantas não tinham lá grande aspecto, mas Tim sabia que as aparências iludiam. Além disso, calculava que as sementes, que a Morte lhe dera, deviam ser muito importantes. Tivera imenso trabalho para as encontrar. Talvez fosse má idéia arrancá-las. Era melhor esperar para ver o que eram.
Tim levantou-se, com dificuldade. As vezes sentia-se melhor depois de visitar o túmulo da mãe. Mas nesse dia, não. Hoje sentia-se acabrunhado com as palavras de Titânia. Tentara abafá-las, mas bateram no ponto vulnerável. Ele provocara a morte de Tamlin, e era impossível tirar isso do pensamento. E ela tinha razão quanto à sua ignorância — tornava-o perigoso. Mas então por que ninguém lhe ensinava alguma coisa? Não fazia sentido que a Brigada dos Encapotados lhe largasse esse poder no colo sem um manual de instruções.
Não, nada fazia sentido para Tim. Muito menos os adultos que pareciam decididos a retalhar a sua realidade.
Marya apertou a estátua da bailarina com os braços, enquanto se dirigia apressadamente para a tenda. A conversa com Daniel perturbara-a.
Ele precisa tanto, pensou. Sentia-se mal, mas sabia que a sua necessidade era um poço sem fundo, e nada que dissesse ou fizesse o encheria.
Também havia outra coisa. Ela sabia que descobrira, finalmente, uma verdade quando lhe falara dos Cintiladores. Eles não lhe podiam ensinar aquilo que precisava de saber. Só ela podia descobrir como dançar da forma que queria.
Podia fazer piruetas e arabescos epliés, mas não podia usar o movimento para expressar aquilo que sentia. Podia executar os passos, fazer os desenhos, mas não podia mover-se com a graciosidade arrebatadora, envolvente de um Cintilador. Aquilo que percebera, enquanto conversava com Daniel, era que a dança devia revelar o que lhe ia na alma e não aquilo que os músculos e os membros podiam fazer. Essa era a diferença entre ela e os Cintiladores. Eles estavam em paz; viviam em harmonia com o meio que os rodeava. O interior e o exterior eram um todo.
Era isso que Marya tinha de aprender a fazer.
Entrou na tenda, que Daniel a ajudara a erguer há muito tempo. Na realidade, era feita apenas com lençóis pendurados nos ramos de várias árvores, presos uns aos outros para não se soltarem. Marya decorara os ramos com lenços de chiffon e grinaldas de flores. Um tronco guardava todos os seus pertences — que eram poucos. Guardava também no tronco os vários presentes que Daniel lhe dera. Dormia na relva fofa e usava um cepo de árvore como mesa. Gostava de poder ver o modo como o Sol transformava as cores no interior da tenda quando passava através das diferentes camadas de tecido.
Colocou a pequena estátua da bailarina no cepo e deitou-se na relva, com os braços por baixo da cabeça, enquanto elaborava um plano.
Pouco tempo depois, levantou-se e espreguiçou-se. Sabia o que tinha de fazer. Em primeiro lugar as coisas importantes. Saiu da tenda e localizou Kerwyn, assegurando-se de que não a via. Escondeu-se atrás de uma árvore grossa e observou-o durante alguns minutos. Estava rodeado por um grupo de crianças, provavelmente aquelas que Daniel trouxera. Kerwyn devia estar ocupado por mais algum tempo.
Em seguida, dirigiu-se à caverna de Kerwyn. Não entendia por que razão decidira viver no subsolo. A tenda de Marya era clara e arejada, enquanto que o abrigo de Kerwyn era escuro, úmido e frio. Mas o País Livre dava a cada criança aquilo de que necessitava, por isso, talvez a escuridão fizesse com que Kerwyn se sentisse protegido e seguro. Marya sabia um pouco daquilo por que Kerwyn passara naquela Cruzada. A caverna devia fazer com que sentisse que estava escondido. Se Marya tivesse passado por tal tormento, talvez também quisesse se esconder.
Marya lançou um olhar pela pequena caverna. Havia velas nos nichos escavados nas paredes de rocha. Havia livros espalhados por toda a parte. Sacos de giz estavam num canto. Nenhum deles era aquele que procurava.
Os olhos verdes foram atraídos por um monte de jogos com tabuleiro. Kerwyn podia passar horas a jogar. Tinham sido trazidos por várias crianças nos últimos tempos, perdendo muitas vezes o interesse por eles assim que descobriam todas as atividades que o País Livre oferecia. Trocavam-nos pela natação, pelos saltos acrobáticos, pelos passeios de jangada e pelas fantasias. Por isso, Kerwyn herdou os jogos, e adorava-os. Não se importava que não houvesse outros jogadores. As vezes, sentava-se e jogava de todos os lados. As peças brancas e pretas do xadrez, o chapéu, o carro e o ferro no Monopólio.
O seu favorito, porém, entre todos os outros, era o jogo de palavras. Levantava quatro séries de pedrinhas e fazia com que aparecessem palavras no tabuleiro. Tinha um dicionário à mão, e Marya, uma vez, ouvira-o discutir sozinho se uma palavra era ou não digna de pontuação. A discussão tomou-se acalorada, com Kerwyn a argumentar por ambas as partes. Aparentemente, uma coisa chamada «pontos de bônus triplo» estava em jogo.
Marya abriu a caixa e tirou todas as pedrinhas com as letras inscritas. Enfiou-as no bolso do vestido. Bateram umas nas outras quando correu para a colina, onde vira Kerwyn pela última vez.
Kerwyn já estava sozinho, sentado e encostado a uma árvore, a contemplar o País Livre. Observava as novas crianças, que exploravam a liberdade.
Marya subiu a colina e parou perto de Kerwyn.
— Kerwyn? Escute. Estou preparada — disse.
— O quê? — Kerwyn olhou para ela.
— Estou preparada. Quero ir na próxima missão.
— Isso é uma loucura. Você é uma garota. — Kerwyn continuou a observar as crianças. Uma menina colhia flores, que eram instantaneamente substituídas no momento em que eram arrancadas da terra.
— O que tem uma coisa a ver com a outra? — perguntou Marya. Detestava quando Kerwyn dizia coisas disparatadas como aquela.
— O nosso grupo só tem mais uma missão, e é importante. — Kerwyn parecia um homem muito velho a explicar coisas a uma garota muito nova e estúpida. Qual era a palavra que Daniel usara? Kerwyn era um idiota.
— Esta é, provavelmente, a missão mais importante que alguém recebeu. E você é uma garota. — Levantou-se. Marya sabia que para ele a conversa terminara.
Só que não terminara. Nem por sombras.
— Kerwyn? Gosta daquele jogo de palavras, não gosta? O Scribble?
— Scrabble. Sim ... — Agora parecia confuso.
— Bem, alguém levou as peças todas. Aqueles quadrados com letras? E escondeu-as. — Ela riu. — Para falar a verdade, fui eu. — Fez uma pirueta, depois sorriu-lhe ironicamente. — Aposto que faria qualquer coisa para as reaver, não faria?
Kerwyn pôs-se de pé de um salto.
— Acha que poria em perigo a missão só para...
— Claro que poria — interrompeu-o com outra risada. — Qualquer pessoa sensata o faria.
Kerwyn olhou fixamente para ela.
— Fedelha malvada!
Ela não ficava aborrecida por ele lhe chamar de nomes. Sabia que não falava a sério. Era simplesmente a prova de que vencera.
— Talvez seja e talvez não seja — disse ela. — Mas sei como fazer as coisas, não sei? — Tinha razão. Ele gostava tanto do jogo que faria qualquer coisa para recuperar as peças. Até mesmo mandar uma garota numa missão.
Kerwyn andou de um lado para o outro durante uns minutos. Por fim, parou e lançou-lhe um olhar indignado.
— Muito bem. Uma vez que é tão esperta. Isto parece-te justo? Conseguiu. Pode ir nesta missão. Mas se fracassar, não pode regressar. Nunca mais.
Isso não a assustava nada.
— Vou já arrumar as minhas coisas!
Correu para a tenda, tentando adivinhar o que devia levar. Pendurou uma bolsa de pano no ombro e lançou um olhar pelo espaço exíguo.
— Hmmm. Giz! — Baixou-se e meteu o giz colorido na bolsa. Era definitivo. — Ela. — Pegou na estátua da bailarina, sorriu-lhe, depois meteu-a na bolsa. — Maçãs. — Podia ter fome. — Pente. Pulseira. — Olhou para a tenda, pensando. — Mais maçãs?
Daniel meteu a cabeça na abertura da tenda.
— Conseguiu! — exclamou ele. — Deu a volta no Kerwyn! Raramente deixa que as garotas façam alguma coisa!
— Uh-huh. — Fez-lhe sinal com a mão para que entrasse, depois ajoelhou-se ao lado do baú, perguntando a si mesma se se esquecera de alguma coisa.
Daniel acocorou-se ao lado dela.
— Como conseguiu? Ninguém dá a volta no Kerwyn.
— Simples. Assustei-o. — Pôs de lado uns lenços, remexendo no baú.
— Sério? Gostaria de ter visto. — Daniel sentou-se nos calcanhares e sorriu ironicamente. — O que tem dentro desse saco? Maçãs?
— E o meu pente e a minha pulseira. E o teu presente. — Tirou a bailarina do saco para lhe mostrar.
Os olhos azuis de Daniel arregalaram-se, e ele olhou rapidamente para o chão, corando.
— Fico feliz por levar uma coisa que te faça pensar em mim.
Ela sorriu. Estava contente por ter decidido levar a estátua.
Era muito reconfortante para Daniel saber que gostava dela. Daniel deu um puxão na bolsa.
— Que mais tem aí dentro?
— Hmm, o giz.
— Ainda bem. Não iria longe se esquecesse dele. Mais alguma coisa?
Marya hesitou por um momento e depois meteu a mão e tirou um par de sapatos de ballet. Nunca os mostrara a ninguém no País Livre.
Prendeu a fita cor-de-rosa franjada e fez balançar os sapatos de cetim cor-de-rosa, deixou-os rodopiar à frente do rosto. Há muito tempo que não os tirava do baú. Mas ali estavam em frente do rosto. Com os mesmos pedaços de madeira nas pontas. O sangue ainda tingia a parte interior.
— Sim — murmurou. — Vou levá-los.
Daniel deixou de olhar para ela e fitou os sapatos, depois olhou de novo para o rosto. Ela percebeu que ele não sabia ao certo o que devia dizer, mas agradou-lhe o fato de compreender a importância que os sapatos tinham para ela. Acenou apenas com a cabeça, depois disse:
— Então, tem tudo preparado.
— Tudo preparado. Oh! Exceto isto. — Deixou cair as peças do jogo de palavras no cepo. — Diz ao Kerwyn onde estão depois de eu partir.
— Está bem.
Daniel conduziu-a ao lugar especial onde o traçado do jogo da macaca seria feito. Tinha de deixá-la na clareira — só se podia transpor o portão sozinho.
Ela ajoelhou-se e desenhou a quadrícula da macaca. Em seguida, virou-se e disse-lhe adeus com a mão. Ele tinha um ar tão triste mas, quando percebeu que olhava para ele, um sorriso iluminou-lhe o rosto.
— Adeus! — gritou. — Volta depressa!
Marya bateu de leve na bolsa. Respirou fundo e começou a pular e a cantar:
Mary, Mary, muito teimosa
Como cresce o teu jardim?
Com campainhas prateadas e conchas de amêndoa
E lindas meninas todas em fila
A mãe diz para colher só uma
Por isso fora C-O-N-T-I-G-O!
Com esta última frase, saltou a última parte do desenho para fora do País Livre.
Tim levantou-se e olhou à sua volta. Agora havia mais pessoas no cemitério. Nos fins-de-semana, os mortos tinham sempre mais visitas.
Tim limpou as calças jeans e começou a andar. Não que tivesse um destino em mente. A não ser que haja um reino estranho que ainda não tenha visitado que se chame Terra das Explicações ou Fim da Confusão, pensou Tim.
Saiu do cemitério e ocorreu-lhe, por fim, que ter Titânia, Rainha do País Encantado, por inimiga não podia ser lá muito bom. Na verdade, hostilizá-la como ele fizera, não era, provavelmente, o melhor caminho a seguir. Mas seguira por ele. Já não havia remédio.
Mas também não podia seguir em frente. As acusações de Titânia feriram-no. Sobretudo porque temia que fossem verdadeiras. Ela tinha razão — ele não sabia nada, e isso tornava-o perigoso. Não tencionava ir ao covil do manticore. Mas, se não tivesse ido, o País Encantado seria ainda um deserto, e Tamlin teria acabado por morrer. Titânia também. Por que é que ela não via isso? Abanou a cabeça. Quem sabe como funciona aquela mente verde e distorcida?
Os adultos estavam sempre a interferir, a atravessar-se no seu caminho, ou os velhos a persegui-lo. No entanto, supunha que tinha de tentar descobri-los — nem que fosse para a sua própria defesa.
Entrou, por acaso, num parque e ficou surpreendido por ver que estava quase deserto. A única criança era uma menina rechonchuda, com uns dez anos de idade, sentada num balanço. Oscilava lentamente para trás e para a frente, arrastando um pé na terra.
Hoje é sábado, não é?, pensou Tim. O recinto devia estar repleto de crianças.
A menina solitária murmurava e franzia as sobrancelhas. O seu estado de espírito era precisamente o de Tim. Sentou-se no balanço ao lado dela. Olhou de lado para ela.
— Quem é você? — perguntou ela. — É um dos raptores?
Raptores. Tim levantou as sobrancelhas por cima dos óculos.
Não achava que se parecia com um raptor. Então, também não se parecia com um mágico, e supunha que era.
— Não. Sou apenas eu. A querer saber se está bem.
— Oh. — Ela parecia confusa. — Nunca me perguntaram isso. — Fez beicinho e bateu as pernas com força, começando a balançar. — Estão todos demasiado preocupados com o Oliver.
— Quem é Oliver? — perguntou Tim. — E por que estão todos tão preocupados com ele? Está doente?
— Não. Desapareceu. Como os outros.
— Quais outros? — perguntou Tim. Ela fitou-o com os olhos e a boca abertos.
— Não lê os jornais? Não vê as notícias? — Abanou a cabeça como se lhe custasse crer que Tim fosse tão estúpido. — Fui entrevistada no noticiário das nove depois de ter acontecido. A minha mãe gravou e tudo.
Tim fechou rapidamente os olhos. A história da garota começava-lhe a parecer familiar. Claro. Molly falara das crianças desaparecidas nesse mesmo dia. Mas fora noutra cidade e não ali, pensou.
— Isso não aconteceu noutro lugar?
Ela revirou os olhos.
— Primeiro em Brighton. Depois aqui.
Devia ser por isso que o parque estava deserto, pensou Tim. Também devem ter desaparecido todas as crianças nesta zona.
— Então — continuou Tim —, quem é o Oliver?
A garota fez beicinho.
— O meu irmãozinho.
Hm. Evidentemente que não é uma fã.
— Então, se todos os outros garotos desapareceram, por que você não desapareceu? — perguntou Tim.
— Tive de ir ao dentista. — Fez uma careta e mostrou-lhe o aparelho. — Quando cheguei em casa, não tinha ninguém lá.
— Faz alguma idéia para onde foram? — perguntou Tim, sem querer parecer curioso. Era como que um alívio preocupar-se com os problemas de alguém para variar.
— Ninguém sabe. Mas aposto que tem a ver com aquele menino estrangeiro que andava sempre a brincar na mansão abandonada. Nunca vi ninguém como ele.
— De onde era ele? — perguntou Tim. A garota encolheu os ombros.
— Da América, suponho. Estava sempre a dizer que era de um país livre. Não é assim que chamam à América? Tentava sempre convencer-nos a participar de jogos. Coisas de garotos. A macaca e coisas do gênero. Rimas infantis.
— A Polícia andou por aqui?
A menina revirou os olhos.
— Claro que andou. Como se vê na televisão. Fizeram-me montes de perguntas. Mas acho que nunca encontrarão o Oliver.
— Tem saudades dele? — Tim sempre se interrogara como seria ter uma irmã ou um irmão, principalmente nas últimas semanas, em que tudo se tornara cada vez mais confuso.
— A minha mãe tem. Está desesperada. Quem me dera ter desaparecido. Ninguém me dá atenção. Só se preocupam com o meu irmão, estúpido e porquinho.
Isto é que é amor de irmã, pensou Tim.
— O menino estrangeiro também já foi embora. Talvez não estivesse por trás de tudo isto. Talvez os raptores também o tenham apanhado. — A garota estremeceu. — Talvez ande por aí alguém a raptar todas as crianças do mundo. Ouvi os meus pais conversando e disseram que desapareceram quarenta crianças em Brighton. Um caso semelhante.
— Estou certo que o resolverão — disse Tim.
— Como é que sabe? — perguntou ela, num tom acusador. — Não sabe nada.
— Bem, o que eu quero dizer é que, uh, tenho a certeza de que o teu irmão está bem — disse Tim.
— Talvez esteja e talvez não esteja.
Tim abanou a cabeça. O que quer que dissesse, era a coisa errada. Sou eu? São as garotas? É esta menina em particular? Nem sequer sabia ao certo o que a preocupava mais — o fato de o irmão ter desaparecido ou não ter sido ela a desaparecer.
Uma mulher com cabelo castanho-claro e óculos com armação de metal entrou de supetão no parque.
—Avril! — gritou. — Há dez minutos que devia ter ido para casa! Estava tão preocupada.
Dez minutos? O meu pai só começa a ficar preocupado quando me demoro horas e não minutos. E nem sempre.
A mulher correu para o balanço e pegou na filha.
— Tive medo que também tivesse sido raptada — disse. Tim reparou que perpassou um sorriso dengoso no rosto de Avril. Desconfiava que planejara aquilo. Tim tinha certeza que Avril continuaria a atrasar-se desde que escapasse sem castigo. Era óbvio que gostava de chamar a atenção.
Por fim, a mulher apercebeu-se da presença de Tim.
— Garoto, devia ir imediatamente para casa — repreendeu-o. — Vai e não saia. Loucos andam nas redondezas.
Tim levantou-se
— Nem faz idéia — replicou ele.
Marya estava numa confusão de barulho e movimento. Pestanejou algumas vezes e respirou fundo. Isso fez com que tossisse. O ar ali era cinzento, quase pastoso, em comparação com o mundo brilhante e puro do País Livre.
Para onde vão todos, interrogou-se, e por que estão com tanta pressa? Mulheres com saias curtas e apertadas, com casacos combinando, encaminhavam-se para umas escadas que desciam para o subsolo. Homens corriam com jornais e malas de couro nas mãos.
Daniel tinha razão — as pessoas tinham pequenas caixas presas às orelhas com arames. Outras falavam alto para pequenos aparelhos que seguravam junto às cabeças.
Marya já tinha visto uma cidade, porém estava há tanto tempo no País Livre que já não estava acostumada a tanto azáfama. Mas aquela cidade não era nada parecida com São Petersburgo, nem com nenhuma outra cidade que vira. A fonte no centro da praça e as ruas secundárias, pavimentadas com pedras, faziam-lhe lembrar vagamente a terra natal, mas estava tudo cheio e muito junto. E havia muitas pessoas.
E aqueles veículos! Onde estavam os cavalos e as carruagens? Carruagens de metal com aspecto estranho, rodas de borracha, que roncavam e chiavam à volta dela. Pessoas gritavam umas com as outras das janelas dos carros, nas ruas. Era sufocante.
Marya deu um passo atrás, para as sombras protetoras entre dois edifícios altos e brilhantes.
— Escuta — resmungou uma voz áspera por baixo dela. — Sai de cima da minha casa.
Assustada, Marya olhou ao redor, mas não viu ninguém.
— Sai! — gritou a voz.
Marya percebeu que a voz vinha de baixo dela. Subitamente, surgiu uma cabeça de uma grande caixa de papelão atrás ela, como uma tartaruga a emergir da carapaça.
— Esta é a minha casa e não permitirei que ninguém me esmague — resmungou o homem.
Marya saiu de cima da aba de papelão, onde estivera.
— Desculpe — disse ela. — Não percebi.
O homem olhou de esguelha para ela, como se tentasse descobrir se o pedido de desculpas era sincero. O rosto largo estava coberto de barba eriçada e terra.
Que espécie de mundo é este? Marya meteu a mão na bolsa e tirou uma das maçãs para lhe dar. Devia estar mais nervosa do que supunha — a maçã caiu-lhe das mãos.
O homem olhou fixamente para a maçã, depois para Marya e em seguida de novo para a maçã. Com a rapidez de uma cobra, que ataca, o homem arrebatou a maçã. Levantou-se no interior da caixa.
— Desjejum? — murmurou o homem no interior da casa pequena e estranha. — Almoço? — Marya ouviu um som áspero: o homem devia ter dado uma dentada na maçã. — Almoço de garfo!
Contente pelo homem não a considerar uma assaltante, Marya seguiu o seu caminho.
— Timothy Hunter, aparece, aparece, onde quer que estejas — cantarolou. Os pés descalços não faziam nenhum som na calçada. Teve o cuidado de evitar os lugares mais pegajosos e sujos. Agora que estava ali, não sabia ao certo como iniciar a sua missão.
Depois do primeiro choque do caos se dissipar, Marya pôde ver por que razão aquela cidade fascinara Daniel. As vitrines das lojas estavam cheias de coisas surpreendentes. Não imaginava para que serviam ou aquilo que faziam. As pessoas pareciam tão interessantes, os seus rostos revelavam todas as emoções imagináveis, as roupas estavam em total desarmonia. Havia tanto movimento, tanto para ver.
Marya observou um estranho par de mulheres atravessando a rua. Uma tinha uma maquiagem escura no rosto, com anéis pretos em volta dos olhos. Tatuagens cobriam-lhe os braços nus, deixados à mostra pela camisa preta e sem mangas. Ao lado dela, ia uma mulher vestida com cores berrantes, com os caracóis loiros presos num rabicho no topo da cabeça. O que mais surpreendeu Marya foi o fato da mulher de preto ter um sorriso rasgado no rosto e a outra, com ar altivo, olhar com uma expressão de irritação. Quando atravessaram para o outro lado, um jovem com uma prancha com rodas girou por entre elas. E um homem com os joelhos descobertos, meias brancas e sandálias, quase se chocou com elas enquanto segurava um pequeno aparelho à frente dos olhos e fazia click, apertando a caixa na direção de um edifício alto.
— É como um bailado — exclamou Maria. Estranhamente, todos os bailarinos conseguiam manter o desenho imperceptível sem esbarrarem uns nos outros.
Uma vitrine cintilante atraiu sua atenção. Parou para olhar a vitrine de uma joalharia. Pulseiras e colares estavam colocados em estojos de veludo, brilhando à luz da tarde.
Deve ser aqui, concluiu Marya. Mandar arranjar a pulseira era uma das tarefas que se propusera levar a cabo no tempo em que estivesse longe do País Livre.
Abriu a porta e entrou. Um pequeno sino retiniu, anunciando a sua presença. A loja estava silenciosa e limpa.
Um homem forte levantou os olhos, quando ouviu o sino. Tinha nas mãos um estojo com anéis de ouro, que ia levar para a vitrine. Meteu discretamente o estojo numa prateleira e rodou a chave na fechadura.
Olhou para Marya, e ela percebeu que talvez fosse incomum andar descalça na cidade. Pôs atabalhoadamente um pé por cima do outro, tentando ocultar a sujeira.
— Sim, menina? — disse o homem.
— Conserta coisas? — perguntou Marya.
— É a nossa especialidade. Se está a referir-se a jóias.
Marya sorriu.
— Ótimo. — Tirou a pulseira preciosa da bolsa. — Pode arrumá-la? — Mostrou a pulseira. A mão dele estava quente e úmida.
— Mmm. — Rodou a pulseira. Marya não gostou da forma como desapareceu na mão gorda.
Debruçou-se sobre o balcão e olhou para ela, com ar irritado.
— Muito bem, jovem. Onde roubou isto?
Chocada com a acusação, Marya replicou, com indignação:
— Minha mãe me deu! A imperatriz Ana lhe deu. Ora toma! — Aquilo devia resolver a questão. Remexeu na bolsa e tirou uma maçã. Era brilhante e perfeita. — Conserta-a? Dou-lhe uma maçã.
— Uma maçã? — resmungou o homem. Debruçou-se mais sobre o balcão. O rosto ficou a centímetros do rosto de Marya. O hálito cheirava mal. — Sai já daqui! E dê-se por satisfeita por eu não mandar te prender. — Apontou para a porta, com dureza.
Marya olhou fixamente para ele. Por que razão a pulseira o irritara tanto? Olhou para a maçã. É uma maçã muito boa, pensou, a melhor de todas. Talvez lhe devesse ter oferecido duas?
O homem saiu de trás do balcão, pousou uma mão carnuda no ombro frágil de Marya, e empurrou-a praticamente pela porta afora.
— Vai! E não me apareça outra vez, senão mandarei a Polícia te prender!
A porta fechou-se atrás dela, com um estrondo.
— Mas... a minha pulseira... — protestou, humildemente. Marya estava há muito tempo no País Livre. Há séculos que ninguém a tratava com tanta brusquidão. Não sabia ao certo como reagir.
Sentindo-se vencida e perdida, encostou-se a uma das plantas que ladeavam a entrada da joalharia.
— Minha mãe me deu — murmurou. Fez um desenho na calçada com o dedo grande do pé. — É tudo o que me resta... — Marya cruzou os braços sobre o peito e esforçou-se por não chorar.
— O que se passa? — perguntou a planta no vaso.
Isto não surpreendeu Marya. No País Livre, esse tipo de coisas acontecia a toda a hora.
— O homem da loja tirou-me a pulseira — explicou Marya à planta. — Disse que a tinha roubado, por isso ficou com ela.
Um rosto interessante surgiu no meio das folhas afastadas da planta.
— Ah, ficou? — disse a pessoa na planta.
Marya tinha certeza de que era um rosto de mulher. Usava maquilhagem nos lábios e nas pálpebras, mas o cabelo era curto, ainda mais curto do que o cabelo da maioria dos garotos no País Livre. E era preto arroxeado, como a cor de uma nódoa negra. Marya nunca vira ninguém com um cabelo daquela cor. Uma jóia reluzente brilhava num dos lados do nariz da mulher.
— Só queria que o homem a consertasse — explicou Marya —, para poder voltar usá-la. Mas agora foi-se.
Os arbustos compridos afastaram-se, e Maiya pôde ver perfeitamente que a pessoa-planta era uma mulher, embora a roupa parecesse mais apropriada a um homem. Trazia uma camisa branca cheia de botões, uma gravata preta e muito estreita, calças pretas com suspensórios pretos e um grande avental branco. Saltou por entre as folhas e por cima do grande vaso de cimento, que continha a planta. Jogou um cigarro na calçada e apagou-o com o sapato preto e pesado.
— Fica aí — disse a mulher. — Eu trato do assunto.
Marya ficou a olhar enquanto a mulher decidida empurrava a porta da joalheria e entrava.
Marya sentou-se no vaso de cimento e esperou. Uns minutos mais tarde, a mulher saiu, abanando a pulseira à frente dela.
— Aqui está — disse a mulher.
Marya não fazia a menor idéia como a mulher fizera aquilo.
— Obrigada! — exclamou, pegando nela. A pulseira podia continuar partida, desde que nunca mais estivesse tão perto de a perder.
A mulher espreguiçou-se, depois sorriu.
— Não tem de quê.
— É bailarina? — perguntou Marya à mulher. — Anda como uma bailarina.
— Eu? Bailarina? — A mulher riu. — Nem por sombras. Embora este papel de garçonete me obrigue a andar todo o dia. A girar, a curvar-me e a levantar.
— Oh! — Marya meteu a mão no saco e tirou uma maçã. — Quer uma maçã? São muito boas.
Ofereceu a maçã à mulher. Queria dar-lhe alguma coisa como recompensa por ter recuperado a pulseira. Sabia que quando alguém nos faz um favor, devemos mostrar a nossa gratidão com um presente. Era assim que se fazia no palácio. Se a mãe trabalhasse horas extraordinárias para que o vestido da imperatriz tivesse três dúzias de penas, a imperatriz dava-lhe, muitas vezes, um pequeno presente. Ou se a mãe entregasse uma mensagem secreta ou mandasse embora alguém que a imperatriz queria evitar, recebia outro presente. Por vezes, também mandavam um presente a Marya. Isso foi antes de Marya ter sido levada para aprender a dançar. Depois disso nunca mais recebera presentes.
— O meu nome é Annie — disse a garçonete, olhando para a maçã.
— Eu sou Marya. Na verdade, a maçã é muito boa — garantiu a Annie. — Não é nada como na Branca de Neve.
Annie riu-se.
— Acredita em mim, nunca seria confundida com essa garota. — Pegou na maçã e trincou-a. Um sorriso largo surgiu-lhe no rosto e os olhos fecharam-se, como se ela estivesse a ter os mais belos pensamentos do mundo. — Mmmmm. É deliciosa. — Os olhos abriram-se de repente. Tinham um belo tom de chocolate. — Não comia uma maçã tão boa desde os meus seis ou sete anos.
— Por que estava na planta? — perguntou Marya. Depois de encontrar o homem, que vivia numa caixa, perguntou a si mesma se Annie viveria na árvore.
— Não estava na planta — explicou Annie, mastigando ruidosamente a maçã. — Estava do outro lado, a fumar um cigarro escondido. Jurei que deixaria de fumar, por isso não queria que ninguém do café me apanhasse. Ouvi-a e quis saber quem falava no outro lado.
— Oh.
— Estava num intervalo... que está quase no fim. Bem, sempre ajuda ser a chefe dos empregados de mesa. — Lançou um olhar a Marya, quando deu outra dentada na maçã. Um pouco de sumo rolou-lhe pelo queixo. Limpou-o e sorriu. — Por isto, devo-te, pelo menos, um refrigerante.
Annie colocou uma mão, com as unhas pintadas de azul, no ombro de Marya. A mão era calosa e áspera, mas o toque era suave. Não como a do homem da joalheria.
— Está bem — disse Marya. — Mas não posso demorar. Tenho de encontrar uma pessoa.
Annie conduziu Marya à volta da planta e abriu a porta de um café alegre. Linóleo preto e branco formava um desenho de tabuleiro de damas no chão. Havia reservados ao longo de janelas largas, e bancos de cabedal vermelho com pernas cromadas estavam colocados em frente de um balcão prateado e brilhante. Uma senhora de idade estava sentada num reservado, a beber uma xícara de chá. Dois garotos, talvez da idade de Marya, estavam sentados ao balcão, a beber bebidas geladas em copos altos corn canudinhos.
— Este lugar é muito maior do que imaginava — disse Marya, sentando-se num banco na extremidade do balcão.
— O quê, o café? — perguntou Annie, passando por baixo do balcão cromado, e pegou num copo alto, que encheu de gelo.
— Não — replicou Marya —, a cidade.
Annie usou uma mangueira estranha para encher o copo com líquido.
— Então não é daqui, presumo? — Annie deu o copo a Marya e meteu um canudinho nele. Marya bebeu um gole da bebida doce e espumosa.
— Não — replicou Marya. As bolhas fizeram-lhe cócegas e o nariz enrugou-se.
— Devia ter adivinhado pelo teu sotaque — disse Annie —, que é muito agradável, devo dizer. — Encostou-se ao balcão traseiro e deu outra dentada na maçã.
— Obrigada. O seu também é — disse Marya. Gostava do tom áspero com que a garçonete falava. Fazia com que parecesse que tinha areia nos dentes.
— Vem encontrar-se com alguém aqui? — perguntou Annie. — Ou perto daqui?
— Oh, não — disse Marya, fazendo girar o banco alto. Rangeu levemente. — Não sabe que ando à procura dele.
— Conheço essa sensação, querida — disse Annie, a rir. — Dá-nos uma pista. Como tenciona encontrar esse homem misterioso?
Marya pegou no copo e pensou seriamente na pergunta. Percebeu que não tinha um plano.
— Ainda não decidi.
Não podia fracassar na sua missão. Independentemente daquilo que pensava de Kerwyn, o País Livre precisava de ajuda. Além disso, se não conseguisse levar Tim para o País Livre, Kerwyn concluiria que era por ser uma garota, e isso não lhe agradava. De modo nenhum.
— Creio que pensei que saberia como o encontrar assim que chegasse aqui — confessou Marya. Esperava que isso não fizesse com que parecesse pateta.
Annie sorriu.
— Tal como eu suspeitava. É uma daquelas otimistas de que ouço falar constantemente. — Piscou o olho para Marya. — Bem, há pouco movimento. Digo-te uma coisa. Por uma pequena comissão, verei se posso ajudá-la a encontrar o teu cavalheiro.
Marya não acreditava na sua sorte. Primeiro, aquela mulher amável recuperara a pulseira e agora ia ajudá-la na sua missão.
— Oh, isso seria uma maravilha! — A testa de Marya enrugou-se. — O que é uma comissão?
Annie atirou o caroço da maçã na lata de lixo.
— Neste caso, outra dessas maçãs. Isto é, se puder dispensar outra.
Parecia justo. Marya entregou, com ar solene, outra maçã, polindo-a, primeiro, com a bainha do vestido.
Annie tirou um livro grosso do balcão traseiro.
— Agora, mãos à obra. Esse teu jovem misterioso. Ele é novo, não é? — Pousou o livro à frente de Marya.
— Sim. Tem quase a minha idade.
— Esplêndido. E tem nome, não tem?
Marya deu uma risadinha.
— Claro que tem. É Timothy. Timothy Hunter.
Annie abriu o livro. Virou várias páginas. Marya viu que as páginas estavam cheias de longas listas de nomes, com números ao lado.
Annie passou uma unha azul ao longo de uma página.
— Números. Aqui deve haver mil Hunters. — Lançou um olhar a Marya. — Não sabe o nome do pai dele, sabe? Ou da mãe?
— Creio que já não tem mãe. — Marya mordeu o lábio, tentando lembrar-se. — Mas creio que Kerwyn disse que o nome do pai é... William.
— Então, será Bill ou Will ou William. Não deve haver mais de quarenta. É canja.
— Não, obrigada. — Marya estava demasiado ansiosa por encontrar Timothy Hunter para comer.
— O quê? — Annie pareceu confusa por um momento, depois sorriu. — Oh, não. É uma expressão: canja. Quer dizer muito fácil.
— Oh.
Annie equilibrou o livro num braço e retirou um aparelho, com aspecto estranho, de um suporte na parede. Apertou pequenos botões e sorriu para Marya.
— Telefono a todos — prometeu.
Então, isto deve ser aquela coisa interessante, pensou Marya. Um telefone. Ouvi falar acerca deles das crianças que vieram recentemente deste mundo para o País Livre.
— Alô? — disse Annie para o telefone. — É da residência Hunter? Isto parece estranho, eu sei, mas, por acaso, tem um filho chamado Timothy? Então, desculpe o incomodo. Obrigada.
Colocou o telefone no suporte da parede, depois olhou para Marya e encolheu os ombros.
— Um, já era. Faltam trinta e nove.
Annie marcou número após número. Por vezes, tinha de parar, quando entravam pessoas no café. Annie conversava com os clientes e levava-lhes pratos de comida. Enquanto fazia isto, Marya mantinha o dedo na lista telefônica para que Annie não se perdesse na longa coluna de nomes e números.
Com as pausas freqüentes, tinha passado algum tempo quando chegaram ao fim da lista.
Annie colocou um prato na frente de Marya.
— Já deve estar com fome — disse ela.
Marya olhou fixamente para o prato. Nele estavam duas fatias de pão torrado, com uma coisa amarela e mole a sair pelos lados.
— Vá em frente — encorajou-a Annie. — Esse queijo grelhado não morde.
Maiya não tinha fome mas, mesmo assim, pegou no sanduíche e mordiscou um canto, sem tirar o dedo da página. Annie dera-se ao trabalho de lhe preparar aquela refeição leve. Não podia ser indelicada e não comer. Não depois de Annie a ter ajudado tanto.
— Vai. Não é o fim do mundo — disse Annie. Pousou os cotovelos no balcão. — Afinal, o que tem esse Tim de tão especial?
— É mágico.
Marya sentiu os olhos cor de chocolate de Annie fixos nela. Não devia ter falado? Mas era a verdade. Era por isso que Tim era tão especial.
Annie endireitou-se e colocou as mãos fechadas nas ancas.
— Ele é, não é?
Marya olhou discretamente para Annie por baixo das pestanas compridas e viu que sorria.
— Bem, talvez não desistamos dele por enquanto — disse Annie. — Temos que tentar este último William.
Annie virou a lista telefônica para ficar de frente para ela. Maiya levantou o dedo para que Annie pudesse ler o número. Annie discou números uma vez mais. Marya esperava ter sorte.
— Alô? Timothy Hunter está? — Annie tapou o bocal com uma mão. Os olhos castanhos pestanejaram. — Conseguimos! — exclamou. Em seguida, baixou a voz e acrescentou: — O homem parece um velho rabugento.
O coração de Marya palpitou. Ia acontecer, finalmente. Ia, finalmente, contactar com Timothy Hunter, o grande mágico! Annie destapou o telefone.
— É o Sr. Hunter? — disse. — É! Bem, estou a telefonar da parte de uma jovem que percorreu uma distância considerável para ver o seu filho.
Mary acenou com a cabeça. Era, sem dúvida, verdade. Perguntou a si mesma que distância ainda teria de percorrer.
— Efectivamente, não sei qual é o motivo — disse Annie. — Por que não lhe pergunta?
Estendeu o telefone a Marya. Marya olhou fixamente para o objeto com aspecto estranho por um instante, depois dobrou os dedos à volta dele, pestanejando, confusa.
Era mais leve do que parecia. Marya virou-o nas mãos, sem saber qual era a melhor forma de usar o aparelho falante.
— Alô? — disse ela, com medo, com a boca a meia distância das duas extremidades circulares.
Ouviu uma voz a sair de um dos lados. Encostou imediatamente esse lado ao ouvido.
— Alô? — repetiu.
— O que vem a ser isto? — perguntou uma voz impaciente. — Tim fez alguma asneira?
O homem no telefone parecia severo e zangado. Fez com que ela sentisse um aperto no estômago. Lembrou-se que estava prestes a descobrir Timothy Hunter. Isso fê-la sentir-se mais destemida.
— Não, não é nada disso — explicou Marya. — Só queria falar com Timothy. É importante.
— Tim não está aqui. Ultimamente, parece que nunca está aqui.
— Oh. Talvez não esteja porque o senhor está muito zangado — sugeriu Marya. — Não haveria problema se...
Marya ouviu um estalido, depois um zumbido estranho, monótono.
Baixou o telefone.
— Deixou de falar. Agora, há apenas este zumbido.
Annie pegou no telefone, pôs-se à escuta por um momento, depois desligou.
— Receio que tenha desligado o telefone na tua cara, querida. — Olhou rapidamente para a lista telefônica. — Bem, se tivesse de viver em Ravenknoll, também serias uma resmungosaurus.
Os olhos verdes de Marya arregalaram-se.
— Quer dizer que a lista diz onde ele vive?
— Podes crer. — Annie acenou com a cabeça. — Trinta e Quatro Traven House, Condomínio Ravenknoll. É uma casa camarária. Tenho aqui um mapa de A a Z de Londres. Mostro onde fica.
Annie meteu a mão por baixo do balcão e tirou um livro de mapas. Abriu-o.
— Vê, nós estamos aqui. E ali é onde Timothy Hunter vive.
Marya olhou fixamente para as linhas sinuosas. Então, isto é Londres, pensou. Em algum lugar nesta confusão de ruas vive um mestre da magia. E a minha missão é encontrá-lo.
Annie foi atender mais alguns clientes, e Marya examinou o desenho do mapa, memorizando nomes, curvas e direções. Satisfeita por saber o caminho, saltou do banco e pendurou a bolsa no ombro.
— Obrigada por tudo — disse a Annie. — Por ter recuperado a minha pulseira e, sobretudo, por me ajudar a encontrar Timothy Hunter.
— Vai embora? Tenciona ir a pé? — perguntou Annie, com uma expressão de preocupação no rosto. — Nem sequer tem sapatos.
— Oh, tenho — explicou Marya. — Só que não quero usá-los. Não para caminhar. Adeus.
Marya transpôs a porta, preparando-se para retomar a sua missão.
— Espera — ouviu Annie gritar atrás dela. — Eu saio às onze horas. Podia levar-te ...
Marya acenou com a mão, mas não olhou para trás. Agora que sabia onde estava Tim, não ia deixar que nada a detivesse. Depois de falar com o pai de Timothy, pensou que Timothy acolhesse de bom grado a oportunidade de fugir para o País Livre.
Maiya caminhou sem parar. Deteve-se numa esquina ao lado de uma mulher, que puxava dois bebês, que choramingavam no carrinho. Marya reparou que do outro lado dos bebês descontentes, estava um cão com mau aspecto, a farejar na valeta.
Marya sorriu. Aquele era um problema fácil de resolver.
Bateu levemente na senhora que empurrava o carrinho.
— Desculpe — disse. — Os bebês querem fazer festa no cão na valeta. Mas não podem, porque estão demasiado apertados. É por isso que estão chorando.
A mulher, com nariz comprido, olhou para Marya.
— Aquele viralata malcheiroso? — disse a mulher.
— Por que estão amarrados assim? — perguntou Marya. — São loucos? No palácio prendiam o tio Grigóri, porque pensavam que era louco. Não era, porém. Apenas diferente.
A mulher recuou um pouco, como se Marya tivesse um odor desagradável, depois afastou-se rapidamente.
— Até logo, jacaré! — gritou Marya atrás dela e dos filhos, que gritavam. Uma garota no País Livre dizia sempre isso, e Marya adorava a expressão. Marya esperou que a mulher lhe desse a resposta certa, aos gritos, «Até já, crocodilo», mas não deu. A mulher e os bebês desapareceram no meio da multidão.
Marya sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Caminhou por ruas repletas de gente. Algumas lojas naquela zona tinham artigos expostos no exterior, ocupando espaço na calçada. Um garotoinho estendeu a mão para pegar numa laranja numa banca baixa. Antes que os dedos se fechassem sobre o fruto, o homem, que estava com ele, abanou o garoto com tal força que a criança quase tropeçou.
— Quieto! — disse o homem, com rispidez, dando uma palmada na mão do garoto. Marya ficou surpreendida com o fato do menino não desatar a chorar. Então compreendeu que o garoto estava habituado àquele tratamento.
Marya dobrou a esquina. Parou para deixar passar três garotas quase da mesma idade que ela, que subiam a toda a pressa os degraus de um pequeno edifício antigo. Matraqueavam alegremente e cada uma tinha um saco pendurado ao ombro. De todas as pessoas que vira desde que saíra do café de Annie, aquelas garotas eram as primeiras que pareciam verdadeiramente vivas. Dentro delas havia alguma coisa que as iluminava.
Curiosa, Maiya espreitou pela janela larga e suja — e ficou boquiaberta.
Se Marya ignorasse a rua à sua volta, podia imaginar facilmente que estava a ver uma cena da sua vida antiga, em São Petersburgo.
Mais ou menos uma dúzia de garotas, com uniformes pretos, idênticos, estavam numa sala, à espera que começasse uma aula de dança. Cada garota tinha o cabelo afastado do rosto, puxado para trás. Uns rostos pareciam nervosos, outros calmos. Uma garota observava outra, fingindo que não via a rival a fazer piruetas. Várias arrumavam-se à frente do espelho, que ia do assoalho ao teto, enquanto que duas garotas se mantinham propositadamente de costas para as imagens refletidas.
Abriu-se uma porta e uma mulher baixa e magra, com madeixas prateadas no cabelo arrepiado e preso num rolo, entrou na sala. Instantaneamente, as garotas dispersaram e alinharam-se em filas. Um jovem, que trazia músicas escritas em folhas soltas, entrou na sala atrás dela. Sentou-se a um piano antigo no canto.
A professora de ballet bateu palmas, o homem tocou uns acordes e as garotas começaram os familiares exercícios de abertura nas barras.
Marya fechou os olhos e agarrou-se ao parapeito, com a cabeça a dar voltas. Era duro olhar, tantas eram as recordações da vida antiga. Mas era impossível resistir à atração daquela sala. Marya abriu os olhos de novo e observou as garotas. Quando fizeram, finalmente, um intervalo, Marya teve de se esforçar para se lembrar da missão.
Afastou-se, com relutância, e continuou a andar. As ruas tornavam-se mais sujas, as casas mais degradadas e juntas. Havia mais terrenos baldios, cheios de lixo, mais edifícios abandonados, com tábuas nas janelas partidas.
Os subúrbios sombrios pressionavam a pele de Marya, arrancando-lhe as imagens da aula de ballet. O passo afrouxou, enquanto o ar pesado e as cenas deprimentes a faziam vergar. Doíam-lhe os pés e os músculos gemiam. Agora, a bolsa parecia que pesava uma tonelada, e a correia fazia um sulco no ombro.
Olhou para a placa da rua. Estava perto. Agora, as ruas estavam mais desertas e as raras pessoas que caminhavam por elas eram mais desleixadas. As roupas esfarrapadas mal se mantinham nos corpos vergados.
Marya parou numa esquina e ficou desanimada. Olhava para ruas com prédios idênticos. Como poderia saber qual era o de Tim? Esquecera-se do número.
— Eeep! — Soltou um pequeno grito, quando sentiu um aperto no tornozelo nu. Sacudiu a mão e olhou fixamente para o jovem que a agarrara. Estava deitado no chão, encostado a um caixote do lixo. Não parecia muito mais velho do que ela.
— O que tem no saco, gata? — perguntou. Pelo menos, foi isso que lhe pareceu ter dito. Era difícil saber, as palavras eram tão mal articuladas.
Havia outro garoto, também adolescente, encostado à parede. Ria tolamente, olhava em frente e ria.
— Linda gata — disse o garoto à frente dela. — O que tem no saco? Lindo saco.
Marya meteu a mão na bolsa e atirou uma maçã ao garoto. Ele apanhou-a e olhou para ela, como se nunca tivesse visto uma maçã. Talvez não tivesse, pensou Marya. Era extremamente magro, e o cabelo era vermelho e verde. Mas agora que lhe soltara o tornozelo, não parecia tão assustador. Olhou para a rua estreita. Os garotos pareciam viver ali, por isso deviam conhecer o bairro.
— Sabe onde fica o Condomínio Ravenknoll? — perguntou Marya.
O garoto rodou a maçã nas mãos.
— Está com sorte, gatinha. Na próxima esquina, está lá.
— Obrigada. — Tirou outra maçã e ofereceu-a. — Esta é para o teu amigo.
Afastou-se dos garotos desconhecidos e perdidos, e foi à procura do Condomínio Ravenknoll.
— Oh, Tim, pobre Tim — murmurou ela. — Creio que Kerwyn tem razão. Estará melhor no País Livre.
Agora que estava ali, o número da casa de Timothy Hunter ocorreu-lhe de novo ao espírito. Parou e olhou fixamente para a casa com aspecto triste à frente dela. Nem sequer podia adivinhar que cor tivera em tempos por causa da fuligem. Uma vedação de arame, arriada no meio, dividia dois terrenos igualmente sombrios. Um automóvel muito danificado estava parado na alameda desprezada.
Ele vive aqui, disse para si mesma. Era difícil imaginar algo tão maravilhoso como a magia a sobreviver num lugar como aquele. O palácio era belíssimo, recordou-se, e, todavia, estava cheio de crueldade. Assim, talvez, mesmo nesta miséria, a magia possa sobreviver.
Marya caminhou cautelosamente ao longo da calçada desfeita; os pés descalços já estavam sujos. Bateu à porta. Marya pôde ouvir vozes altas e música no interior. Talvez não a tivesse ouvido bater. Tentou uma vez mais.
Por fim, concluiu que ninguém ia abrir a porta, por isso, sentou-se, à espera.
Remexeu na bolsa e tirou a estátua da bailarina, que Daniel lhe dera.
— Está bem? — perguntou à pequena bailarina. — A culpa não é tua, se não pode dançar — sussurrou à estátua. Lembrou-se das aulas de dança em São Petersburgo. Não eram os sapatos que a prendiam, Marya percebia-o. — Pobre bonequinha — murmurou Marya. Estreitou mais a estátua nos braços. As bonecas não podem dançar. Apenas podem fingir. Esse era o motivo do fracasso de Marya. Marya fora sempre para a imperatriz uma boneca, um brinquedo. Marya nunca acreditara em si mesma.
Recordou o dia em que deixara o palácio para ir para o País Livre. Kerwyn chegara como missionário. Fazia o que ela estava a fazer naquele momento. Ele abandonara o País Livre para espalhar a palavra e trazer crianças. Kerwyn encontrara Marya a chorar, depois da professora tê-la chamado de estúpida e lhe ter batido. Kerwyn encontrou-a e disse-lhe que podia levá-la para um lugar onde os sonhos podiam tornar-se realidade. Mesmo os sonhos como os dela.
Por isso, ela foi. Só que não foi bem como esperava. Nunca conseguiu esquecer o modo como a mãe costumava cantar para ela nas tardinhas de Verão, enquanto escovava o cabelo ruivo e comprido de Marya. Nem o modo como podiam desenhar rostos nas janelas cobertas de geada do palácio durante o Inverno. Sentia saudades de tantas coisas. Era isso que a detinha agora. Mesmo no País Livre nunca poderia dançar como os Cintiladores. Estava demasiado presa interiormente.
E Marya não estava em Londres porque Timothy Hunter gritara, de certa forma, pelo País Livre. Ele fazia parte de um plano. Olhou para a casa onde Timothy Hunter vivia. Ou talvez ele esteja a chorar, pensou. Marya sabia que se vivesse naquela casa, talvez passasse o tempo a chorar.
Suspirou. E perguntou a si mesma quanto tempo teria de esperar.
Tim deixara o parque e a estranha menina cujo irmão desaparecera há muito tempo. As palavras duras de Titânia continuavam a rodopiar-lhe na cabeça. Os ombros tombavam-lhe a cada passo, a pensar na confusão que causara. O que vale ter poderes mágicos se embaralhamos tudo? E agora tinha o País Encantado para o preocupar. Como se já não bastasse ter Bobby Saunders na escola.
Quando virou o quarteirão, Tim avistou uma garota franzina, bonita, com cabelo ruivo, sentada na soleira da porta. O Sol desaparecera no horizonte, e ela tiritava. Os braços e as pernas estavam nus, e o vestido cor-de-rosa pareceu-lhe fino. Olhava fixamente para uma estatueta. Os olhos verdes e grandes tinham uma expressão triste. Talvez também tivesse um irmão que desaparecera.
— Desculpa — disse Tim. — Sente-se bem?
— É Timothy Hunter? — perguntou a garota.
— Uh, sim. — Como é que ela sabe o meu nome? interrogou-se. Era mais bonita do que a garota do parque. Havia algo de terno nos seus olhos.
— Então, estou bem — disse ela. — Andei todo o dia à tua procura. Mas não me parece que o teu pai quisesse. Quando falei com ele numa daquelas engenhocas telefônicas, pareceu-me irritado e depois zumbiu comigo.
— Ele zumbiu? — Tim sentou-se ao lado dela. Não era capaz de entender o que dizia.
Ela acenou com a cabeça.
— Uh-huh. Então, vim até aqui e descobri a tua casa, mas bati duas vezes e ninguém atendeu. Embora houvesse vozes lá dentro.
— Provavelmente não te ouviu por causa da televisão — explicou Tim. — Desculpa a parte do telefone. Às vezes é mesmo bobo. — Tim olhou para a porta da rua por cima do ombro. Creio que terminou o ato do pseudo-pai sensível, pensou Tim.
— Bem, talvez seja mais forte do que ele — sugeriu a garota.
— É um adulto. Têm problemas.
— É verdade. — A menina bonita não fazia idéia como aquilo era verdadeiro. Principalmente todos os adultos em redor de Tim.
— Como se chama?
— Marya. — Tirou duas maçãs do saco e ofereceu uma a Tim. — Toma.
Tim examinou cautelosamente a maçã. No País Encantado, era perigoso comer qualquer coisa ou aceitar presentes dos habitantes. Aquilo podia ser duplamente perigoso. Era um alimento oferecido por uma desconhecida. Mas aquela garota era humana, não era do País das Fadas, por mais estranho que parecesse. E aquele era o mundo real — ou, pelo menos, o mundo dele, e não o País Encantado. Além disso, se ela fosse mágica, teria ficado zangada por lhe perguntar o nome.
Tim aprendera que os nomes tinham poder. Devia perguntar «Como te chamam?» — era considerado mais delicado. Mas a garota não percebeu do deslize na etiqueta mágica. Isso deu-lhe confiança.
Ficou a olhar quando ela deu uma dentada na maçã. Então, provavelmente, não eram perigosas. Tim hesitou mais um pouco, depois mordeu a dele. Nunca comera uma maçã tão deliciosa. Teve a impressão de que não lhe aconteceu nada, por isso, deu outra dentada.
— Não me disse por que razão tem andado à minha procura — disse ele.
A garota pareceu muito surpreendida.
— Não sabe?
Tim abanou a cabeça.
— Como poderia saber?
— Pensei que sabia tudo por ser mágico.
— Quem me dera. — Desde que Tim descobrira que era mágico, sentira-se constantemente como uma fraude. Todos agiam como se possuísse todo esse poder, e talvez possuísse, ou viesse a possuir, mas não sabia como podia usá-lo. Ou como fazer alguma coisa. Abanou a cabeça. — Não é bem assim. Na verdade, é tudo muito confuso. E complicado. E todas as pessoas parecem querer alguma coisa — matar-me.
Então, compreendeu — ela sabia que ele era mágico. Ficou, de novo, alerta. Podia ter sido mandada por Titânia?
— Não quer matar, quer? — Olhou para a maçã através dos óculos
A garota deu uma risadinha.
— Claro que não.
— Então, por que está aqui? E como é que sabe que sou, bem, mágico?
— Há um lugar — disse ela —, um lugar para onde podemos ir quando precisamos de um lugar para onde ir. É por isso que estou aqui..
— Nós?
— As pessoas que ainda não são adultas. Os garotos. Nós. Kerwyn diz que é um santuário mas, na verdade, é apenas um lugar. Chamamos de País Livre.
Parte disto parecia familiar a Tim. Não como se tivesse lido um conto de fadas. Não, algo mais recente. Mais real. Tim mastigou devagar, matutando. Claro! O País Livre. A garota no parque, Avril, falara de um país livre. Era para lá que a criança estrangeira queria levar os amigos.
Marya tinha uma expressão distante nos olhos, quando continuou a falar.
— Lá, ninguém te faz mal — disse, melancolicamente —, nem te obriga a fazer coisas que não queira. Ninguém te prende, nem te bate. Ou tenta matá-lo, como aqui.
— O que é que isso tem a ver comigo? — perguntou Tim. Levantou-se e andou de um lado para o outro à frente dela. Estava a oferecer-lhe um mundo diferente, onde poderia viver? Adivinhara que eram os adultos que pareciam destruir a sua vida? O País Livre também podia ser um santuário para ele? Longe das ameaças de Titânia e da sua própria confusão?
— Eles precisam de ti — disse Marya. — Quero dizer, nós precisamos de ti. Precisamos que a tua magia nos ajude a levar todas as crianças deste mundo para o País Livre.
Então, não era acerca daquilo que ela lhe oferecia — era acerca daquilo que ele lhes podia dar.
Tim rodou, com as mãos nas ancas.
— Porquê? — perguntou.
— Porque este mundo está a tornar-se tão mau que em breve, talvez, deixe de existir um mundo.
— Oh, tem certeza disso? — zombou ele. Eram previsões muito sérias.
E Molly acusa-me de ser pessimista, pensou Tim. Devia ouvir esta garota.
Marya encolheu os ombros.
— Vive aqui — disse ela. — O que pensa?
Tim olhou à sua volta e tentou ver aquilo que o rodeava, ver atentamente. Apagava muita coisa como um hábito diário.
Quando quis ver realmente, a miséria e a pobreza, a raiva e a intriga podiam encontrar-se em toda a parte. O carro danificado do pai, que ainda estava na alameda, as vidas arruinadas nos apartamentos vizinhos, o próprio ar que respirava.
Tim sentou-se pesadamente no degrau ao lado de Marya.
— Sim — admitiu. — Creio que vejo alguns problemas neste mundo. — Olhou de frente para ela. — E o que acontece se eu não quiser ir?
— Então, não vai — replicou Marya. — Não tem de fazer nada. Esse é o ponto principal. É por isso que é livre... é livre de escolher.
Tim examinou-lhe o rosto. Parecia estar sendo sincera. Ele é que tinha de decidir. Podia ir ou não. Ter de ser ele a decidir — e apenas ele —, fez com que sentisse mais vontade de ir.
Talvez deva ir, pensou. Talvez possa ajudar. Deve haver um lugar para onde as crianças possam ir se não estão aqui em segurança. E, mesmo que eu não salve o mundo inteiro, pelo menos posso descobrir as crianças que desapareceram, como o irmão da Avril, o Oliver.
Tim recordou uma coisa que aprendera com o seu verdadeiro pai, Tamlin: que ele não devia deixar que o medo o impedisse de tentar. Era assim com a magia — e a única esperança de tirar o melhor partido dela.
— Está bem — disse Tim, por fim. — Uh... não tenho a certeza se posso ajudar, por isso não fique decepcionada se fracassar. Mas estou contigo.
A garota fez um sorriso lindo, radiante. Tirou giz do saco e desenhou a quadrícula do jogo da macaca na calçada. O que ela está fazendo? Não há dúvida que é cheia de surpresas.
— Você vai primeiro — ordenou ela. — E fácil. Saltas três vezes os quadrados da macaca e depois está lá. Não tem nada de especial.
Tim arrumou os óculos no nariz. Olhou para a garota, com uma sobrancelha levantada. Como é que o jogo da macaca podia levá-lo para outro mundo? Viu os garotos jogando no pátio da escola com regularidade, e nenhum deles desapareceu. Devia usar um giz especial ou qualquer coisa do gênero.
— Não dói — garantiu-lhe Marya. — E não é difícil.
Tim encolheu os ombros. Não valia a pena tentar compreender naquele momento. Saltou para os quadrados da macaca.
— Hm. Salto apenas?
— Bem, também há uma rima. — Inclinou a cabeça e olhou para ele por um instante. — As pessoas que dizem... «uh» muitas vezes têm problemas com as rimas. Eu canto por ti. Preparado?
Tim olhou à sua volta para se certificar se alguém estava olhando. Naquele bairro só as garotas jogavam a macaca. Satisfeito por não estarem sendo observados, Tim acenou com a cabeça.
— Preparado — declarou.
Tim ouviu Marya entoar uma antiga rima infantil:
Um quarto de quilo de arroz de vintém
Um quarto de quilo de melaço.
Mistura tudo e fá-lo bem,
E a doninha faz um estardalhaço.
Tim concentrou-se em saltar corretamente a quadrícula. Dois pés, um pé. Dois pés, um pé. Marya continuou a cantar mais rimas infantis, algumas que Tim conhecia, como «Um, Dois, Afivela o Sapato», e outras que nunca ouvira, todas sobre reis e rainhas e imperadores.
Por um momento, Tim perguntou a si mesmo como voltaria para casa. Marya andara de um lado para o outro, tranquilizou-se. Não deve ser muito difícil atravessar os nossos mundos.
Dois pés, um pé. Dois pés, um pé, dois pés, um pé. Desapareceu!
Marya viu Tim saltar os quadrados e desaparecer.
Ele é muito simpático, pensou. Talvez possa ajudar o País Livre..
Ajoelhou-se e começou a apagar as marcas de giz com a bainha do vestido. Talvez até possa tornar Daniel feliz por dentro. Sentou-se nos calcanhares. Ou talvez não. Talvez a magia não possa fazer essas coisas. Nenhuma magia. Talvez nada possa fazer de nós aquilo que queremos ser. Temos sempre de ajudar a magia.
O desenho da macaca estava suficientemente apagado para ser reconhecido. Realizara a sua missão.
— Adeus, País Livre — disse ela.
Levantou-se e bateu palmas para limpar o giz. Sabia perfeitamente para onde ir: para aquela escola de dança. Algumas das meninas naquela janela rodopiavam, com o único desejo de dançar. Mas algumas dançavam. Dançavam, realmente. Poderia, finalmente, encontrar alguém que lhe ensinasse.
Talvez tenha algo a ver com o fato de podermos crescer. pensou Marya.
Ao fim de mais de duzentos e cinqüenta anos de vida, acreditava que estava preparada para isso.
Daniel saltou da jangada para a margem do rio. Estivera tanto tempo na tenda de Marya que se atrasara para a reunião do Conselho.
Parecia que Marya partira há muito tempo. Faz com que uma enseada pareça triste e caprichosa sem ela por perto. Sem ela, a tenda estava, sem dúvida, vazia. Na realidade, para Daniel, o País Livre ficava vazio sem Marya.
Correu por entre as canas altas, sabendo bem que Kerwyn ficaria irritado com o seu atraso.
— Ei! — Daniel gritou e caiu de rosto no chão. Ficou atordoado por um momento. — Cor — exclamou. — O que aconteceu ali?
Sentou-se e descobriu que tropeçara num ramo grosso e nodoso.
— É estranho — disse ele, esfregando as palmas das mãos arranhadas para abrandar a dor. O País Livre geralmente não costuma deixar que este tipo de coisas aconteçam a uma pessoa. Geralmente, o País Livre afasta as raízes e os rebentos ou os ramos do caminho de um sujeito. Bateu levemente na terra fofa. — Estás a perder o tato? — gracejou.
Quando Daniel se aproximou, ouviu vozes numa algazarra. Parecia que todos falavam ao mesmo tempo. Daniel sorriu. Talvez Kerwyn nem se tivesse apercebido do atraso — ficava muito mais furioso quando falavam fora da ocasião própria. Kerwyn adorava as suas regras e ordens.
Daniel agarrou a corda grossa e macia, que estava pendurada nos ramos mais altos da enorme árvore, que servia de sede do clube. Prendeu-a com força, depois içou-se até à primeira tábua que conduzia à entrada.
Kerwyn e Aiken Drum tinham construído o clube nos ramos compridos, ajudados pelo País Livre. Quando chegavam crianças novas, o clube transformava-se para refletir os seus desejos. Havia recantos e vãos para aquelas que gostavam de se esconder, torreões para aquelas que gostavam de castelos, janelas altas e grandes para deixarem entrar luz para aquelas que a queriam e janelas pequenas e baixas para as mais novas.
É um autêntico castelo no céu, pensou Daniel, chegando à entrada da sala principal. Por mais vezes que a visse, ficava sempre impressionado. Passou as pernas pela abertura e saltou para o interior do clube. Todos já estavam lá.
Jack Coelho, com a fantasia de coelho, muito realista, encostado a uma parede. Daniel achava sempre desconcertante conversar com um coelho maior do que ele. Às vezes, nem sequer tinha a certeza se era mesmo uma fantasia de coelho — era tão convincente.
O menino vestido de verde estava numa ponta da mesa, com um olhar carrancudo. Wat Maneta estava à esquerda de Kerwyn e a Griselda presumida estava à direita de Kerwyn.
Aberrações, pensou Daniel. Todos eles. Então, teve uma idéia preocupante — isso também fazia dele uma aberração? O Conselho era para os maiores excêntricos? Era por isso que Kerwyn lhes pedira para fazerem parte do grupo? E essa era a razão por que Marya nunca o beijava? A princípio, Daniel tivera a honra de ser um dos garotos no comando — aqueles que tinham reuniões importantes e tomavam decisões e todas essas coisas. Mas agora, ao dar uma vista de olhos pela sala, sentiu-se inquieto.
Kerwyn estava, como era costume, à cabeceira da mesa, empunhando um bastão de madeira esculpida — o «bastão falante» como lhe chamava. Daniel não sabia de onde viera. Tinha certeza que não fora Kerwyn que o esculpira. Rostos, bonitos e sorridentes, espreitavam no topo do bastão. Faziam lembrar os Cintiladores a Daniel ou talvez anjos. Kerwyn agarrava-o como se fosse de ouro. Era praticamente o seu objeto preferido, para além da pasta que estava na mesa à frente dele, e o jogo Scrabble.
— O Conselho do País Livre irá começar — declarou Kerwyn. — Quando disser os seus nomes, por favor, respondam «presente». Daniel?
Ai! Bem na hora.
— Presente, Kerwyn.
— Jackalarum, também conhecido por Jack Coelho?
— Presente.
— Junkin Buckley?
— Kerwyn, pode ver que ele não está aqui — resmungou o menino vestido de verde.
— Silêncio, Peter — repreendeu Kerwyn. — Ainda não foi anunciado. Seja como for, tenho o bastão falante e não me lembro de apontar na tua direção. — Pigarreou. — Junkin Buckley não respondeu — anunciou formalmente. Fez uma marca no papel da pasta.
— Olá, meus queridos, aqui estou. — Junkin Buckley apareceu na entrada do clube.
Daniel estremeceu. Não ouvira Junkin Buckley entrar. Junkin Buckley fazia sempre tudo sorrateiramente. Junkin saltou para o chão e fez uma vênia.
— O adorável Junkin Buckley apareceu inesperadamente, lindo como uma fotografia. Também podes registrar isto. — Piscou o olho a Kerwyn.
Kerwyn carregou o semblante.
— Deve dizer «presente».
— Eu disse, estou aqui. — Junkin Buckley sentou-se na cadeira vazia ao lado de Kerwyn.
— «Aqui», não — insistiu Kerwyn —, «presente».
— Não se importa de prosseguir, Kerwyn!? — exclamou Daniel, atabalhoadamente.
Por vezes, Daniel gostava de ver Junkin a confundir Kerwyn. Kerwyn era, às vezes, enfadonho e presunçoso. Mas nesse dia, Daniel ficou irritado com o ar indiferente de Junkin. Marya ainda estava no Mundo Mau. Havia assuntos importantes a tratar na reunião do conselho.
— Não deve falar, Daniel. Sabes disso — repreendeu-o Kerwyn. — Só pode falar se te apontar o bastão.
— Perde tempo com ninharias, Kerwyn — disse Wat. — Siga logo com o teu pau ridículo.
— Exatamente — murmurou Daniel.
Kerwyn respirou fundo. Apontou o bastão ao menino de verde.
— Peter, também conhecido por Puck?
— Ausente.
— Não seja pateta. Como podes estar ausente?
— Estou farto desse Peter Pan ou Puck, ou seja lá quem devo ser. Sabe que concordei em usar estas ridículas calças justas para podermos ter aqui a fadinha.
Daniel estava contente por nenhuma das suas missões o terem obrigado a usar um disfarce absurdo. Por exemplo, teria detestado ter de vestir aquela fantasia de coelho para trazer Maxine, amiga dos animais. Mas Jack Coelho parecia não se importar. Tinha a fantasia vestida, quando Daniel o vira pela primeira vez, e, tanto quanto Daniel sabia, nunca o tirara.
Se fosse eu, pensou Daniel, tiraria aquela fantasia de coelho florescente num abrir e fechar de olhos.
No entanto, tinha de admitir que muitas das crianças, que chegavam, encontravam fantasias e não as tiravam.
Em alguns dias, o País Livre parecia a Daniel um enorme baile de máscaras.
— Uma vez que tivemos de mandar embora a fada — continuou Peter Pan —, creio que me deviam deixar tirar esta fantasia ridícula. E quero voltar a ter o meu verdadeiro nome, Katherine.
— Levantou-se e olhou para Kerwyn, com um ar irritado. — Entendeu?
Kerwyn encolheu-se.
— Pode apresentar a tua queixa depois da chamada e não antes. Assim que a reunião terminar, pode fazer um pedido adequado para voltar a ser uma garota.
Junkin Buckley riu-se.
— Quanto a mim, espero que volte a ser garota sem demora, e comece já a tirar a roupa de garoto. — Aproximou-se timidamente de Katherine.
Katherine apontou um punho ao queixo de Junkin.
— O que quer dizer com isso, lambe-botas?
Junkin levantou as mãos.
— Ei, estou do teu lado.
— Papa-sapos! — resmungou Kate.
— Kate, Kate, não posso esperar. Você é a presa e eu sou a isca. — Junkin Buckley andou à volta de Katherine, cantarolando. — Vejo Londres, vejo França, vejo as cuecas de alguém.
Daniel preparou-se para uma briga séria. Na verdade, todos devem ter tido a mesma idéia. Levantaram-se todos da mesa, preocupados que aquilo chegasse a vias de fato. Todos começaram a falar ao mesmo tempo.
Isto também é incomum, percebeu Daniel. Nunca vira uma verdadeiia cena de pugilato no País Livre. Querelas, sem dúvida. Mas nada violento. Era como se o próprio ar não o permitisse, normalmente. Algo mudara. O País Livre não fazia nada para evitar que aqueles dois lutassem.
Aquilo que impediu Kate e Junkin de lutar foi o caos total da reunião. Quando todos desataram a gritar, Junkin deixou de provocar Katherine. Provavelmente calculou que ela não podia ouvi-lo com tanto barulho, pensou Daniel.
Junkin contornou a mesa, depois sentou-se na extremidade em frente de Kerwyn.
— Muito bem. Onde foi parar o meu bastão? — berrou Kerwyn. — Quem pegou nele?
— Não se atreva a acusar-me! — gritou Griselda.
— Quem se iria dar ao incômodo de pegar naquele pau ridículo? — disse Katherine.
— Quietos — disse Wat. — Acabem com a discussão.
— Estou dizendo, alguém roubou o meu bastão falante!
— Kerwyn, isto está se tornando cansativo — avisou Wat.
— Mas alguém ...
Wat perdeu a paciência — outra coisa que Daniel nunca vira.
— O País Livre morre enquanto vocês discutem as suas regras. Agora, calem-se e deixem Peter, que também é Katherine, falar.
Kate cruzou os braços sobre a túnica verde.
— Bem, basicamente, a fada não pôde adaptar-se. Como se tentássemos viver na Lua. Quanto mais tempo aqui estivesse, mais farta ficaria. Mas conseguimos tirar algum do seu poder antes de a mandarmos embora. Por isso, estou farta. Quero voltar a ser o que era. — Atirou o chapéu verde e emplumado para o outro lado da sala. O cabelo escuro caiu sobre o rosto.
— Eu... eu... eu exijo que mantenha o disfarce — disse Kerwyn, irritado.
— Ficaria melhor com um disfarce — murmurou Katherine.
— Não é a tua vez — disse Kerwyn, com brusquidão. — Já falou.
Deixou cair a pasta em cima da mesa.
Daniel teve vontade de dar umas palmadas em todos. Por que não continuavam a debater aquilo que era importante? Marya estava longe — em algum lugar. O que iriam fazer? E se ela não pudesse trazer Timothy Hunter, seria banida. Para sempre. Daniel não sabia o que faria se ela nunca mais voltasse.
— Prestem todos atenção — começou Kerwyn.
— Cale-se, Kerwyn — disse Jack Coelho. — Se gosta tanto de falar, por que não nos conta como se tem portado a tua equipe?
— Sim, como é que o teu grupo está se saindo? — perguntou Wat. — Como vai a caça ao nosso grande mágico?
Kerwyn olhou para a mão.
— Eu, uh, eu não enviei um grupo.
— A tua companhia, então? — insistiu Wat. — A tua equipe.
— Também não é propriamente uma equipe.
Wat parecia confuso.
— Mas não mandou os teus melhores amigos à procura de Timothy Hunter?
Os ombros de Kerwyn baixaram.
— Mandei Marya.
— Marya? — repetiu Jack Coelho. — Uma garota para convencer o mais poderoso dos mágicos?
— Ela... uh... ela tinha um plano e...
— Timothy Hunter está aqui no País Livre? — perguntou Jack Coelho.
— Não propriamente — admitiu Kerwyn. — Ainda não. Mas virá.
— Em que estava pensando? — perguntou Wat. — Sabe como esta missão é importante. Talvez seja a mais importante de todas!
Daniel estava farto. Kerwyn não ia confessar nada.
— Aquilo que o manda-chuva não diz é que Marya o convenceu, tirando-lhe as preciosas peças do Scrabble. Ela disse que se ele não a mandasse à procura de Tim, nunca mais as veria. E agora estou preocupado com ela. Já devia ter regressado. — Daniel aproximou-se até ficar atrás da cadeira de Kerwyn. — Se lhe acontecer alguma coisa, eu responsabilizo-te.
Kerwyn engoliu em seco.
— Tudo acabará em bem — garantiu a Daniel. Mas Daniel não ficou tranqüilo.
— Devia ter me mandado — disse Jack Coelho. — Parece que sou o único capaz de levar a cabo a missão. Maxine está aqui no País Livre, conforme ficou estabelecido. Feliz como uma coelha numa plantação de alface.
— Que disparate é esse de «único», Sr. Coelho Bravo? — Junkin Buckley virou a cadeira e pôs os pés em cima da mesa.
Daniel olhou para ver a reação de Kerwyn. Os olhos de Kerwyn ficaram mais estreitos, mas ele não disse nada.
— Consegui trazer Suzy até aqui — continuou Junkin Buckley —, sozinho, sem precisar de um disfarce, podia acrescentar. Basta-me dizer «Suzy-poozy, eu sou Junkin Buckley, sou». E arranquei-a bem debaixo do nariz rugoso de... bem, mais podia ser dito, e Junkin Buckley sabe quando deve ficar de bico calado. — Apertou as mãos atrás da cabeça.
— Pode dizer-nos mais precisamente onde espera essa Suzy? — perguntou Wat.
— Bem, agora, eu é que sei e vocês é que têm de perguntar, não é? Pelo menos, por enquanto. — Junkin baixou a cadeira, com um ruído surdo. — Sabe, tenho algumas perguntas que devem ser respondidas. E têm de responder, porque tenho o bastão falante!
Junkin ergueu o bastão esculpido de Kerwyn. Kerwyn pulou da cadeira.
— O meu bastão! Seu matreiro de pele viscosa...
Junkin Buckley rodou o bastão nas mãos. Pareceu estranho — errado, embora Daniel não soubesse ao certo porquê.
— Agora, quero saber qual é esse plano secreto. Você disse que contaria assim que eu apanhasse a garota, Suzy. Prometeu. Então, o que me diz? Qual é o segredo? — Apontou o bastão a Kerwyn. — Regras são regras, chefe. Tem de falar quando aponto para ti.
Wat e Kerwyn abriram a boca. Agora Daniel podia ver o que havia de estranho no bastão. Os rostos de anjo estavam contorcidos, dando a impressão que gritavam de dor e agonia.
Todos na sala se afastaram de Junkin.
— Por que estão todos a olhar para mim dessa maneira? O que foi que eu fiz? Não fiz nada a não ser aquilo que me pediram. — Atirou o bastão falante ao chão e juntou as mãos, como se implorasse. — Por faaaavor, Junkin Buckley — gemeu — Seja o meu melhor amigo. Por favor.
O bastão rolou para ao pé de Daniel. Ele baixou-se para apanhá-lo, depois hesitou. Não queria tocar naqueles rostos horríveis. Arregalou os olhos. Os rostos tinham ficado normais de novo, como se no momento em que Junkin Buckley o largou, tivesse ficado perfeito outra vez. Como se algo no toque de Junkin Buckley fosse... mau.
Daniel pegou no bastão e, silenciosamente, entregou-o a Kerwyn. Os olhos dele e de Kerwyn cruzaram-se por cima do bastão, quando perceberam as implicações. O bastão foi passado aos outros.
Junkin Buckley olhou fixamente para eles, quando o silêncio encheu o clube.
— Por que não falam? — perguntou Junkin Buckley
— Nenhum de nós falará enquanto estiver aqui, Junkin Buckley — disse Wat.
— O que foi que eu fiz? — perguntou Junkin Buckley. — Digo-lhes que não fiz nada.
— Não é aquilo que tenha feito, Buckley — explicou Wat. — É aquilo que é. Não é dos nossos. Não podemos confiar em ti.
— Não sou? — Junkin Buckley parecia desanimado. — Claro que sou. Sou o velho Junkin Buckley.
— Tem de sair — disse Kerwyn. — É banido do conselho, Junkin.
Daniel viu a expressão do rosto de Junkin passar da surpresa à dor e, depois, à raiva. Levantou-se a cambalear e saiu rapidamente do clube.
— Hão de pagar! — gritou por cima do ombro. O conselho ficou em silêncio por um momento.
— Isto não me agrada — disse Katherine. — Pode fazer alguma coisa para destruir tudo.
— Tem fé — disse Wat. — Enquanto estiver vivo, o País Livre velará por nós.
Wat voltou a sentar-se.
— Em breve, tudo aquilo que sonhamos durante todos estes anos, acontecerá. Em breve, todas as crianças do mundo estarão aqui, e livres.
Tim olhou ao redor para o lugar extraordinário que descobrira. Há pouco, estivera a saltar a macaca na cidade de Londres, enegrecida com fuligem e cinzenta. Agora, estava num campo de erva verde e brilhante sob um céu azul vivo, com plantas, que se assemelhavam a pirulitos e despontavam da terra.
— Huh — resmungou Tim. — Então é sobre isto que falam as ridículas rimas infantis. São feitiços. Interessante.
Por um momento, perguntou a si mesmo se estava no País Encantado. Sempre que o visitara, tinha mudado. Mas não, ali havia uma energia diferente. Tim não sabia ao certo qual era a fonte, mas podia senti-la. Este deve ser um daqueles numerosos mundos que Titânia me mostrou antes de decidir que queria me matar, pensou. Gostaria de saber se há muitos mais.
Tim respirou fundo. O lugar cheirava a doces e a segurança. Tim sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez desde que fora abordado pela Brigada dos Encapotados e informado do seu destino mágico.
— Tem razão, Marya — disse Tim. — Este lugar é deslumbrante.
Como ela não respondeu, virou-se. E tornou a virar-se. E virou-se uma vez mais. Nem sinal de Marya.
— Marya? — chamou. Tim pensou que ela levaria alguns minutos a chegar lá. Provavelmente não podemos transpor os dois o portão — ou a porta, ou o que quer que fosse que atravessei — ao mesmo tempo.
Tim não se importou de esperar. Deitou-se na erva e deixou-se dominar pela extraordinária sensação de bem-estar que esta lhe dava. Sentia-se como se pudesse ficar simplesmente ali deitado e tudo seria resolvido. Todos os seus problemas — os dois supostos pais, a ira de Titânia, a forma de lidar com o seu poder mágico — naquele momento nada parecia ser importante. Aquilo que parecia importante era o Sol que brilhava por cima dele e os pássaros que entoavam uma linda melodia, que ele podia acompanhar.
Esta descontração durou apenas uns minutos.
Tim sentou-se repentinamente.
— Onde está Marya? — murmurou. Ocorreu-lhe ao espírito que tudo podia ser uma armadilha. A idéia encheu-o de desânimo. Marya não parecia ser dissimulada. Mas nunca se sabe...
Então, outra idéia sinistra saltou-lhe no cérebro cheio. Podia ter-lhe acontecido alguma coisa em Londres. O Condomínio Ravenknoll não era propriamente o lugar mais seguro para uma garota descalça, que era uma estranha na cidade. Deveria voltar e ver se estava bem?
Mas como podia fazer isso? Nunca viajara por meio do jogo da macaca. E não lhe parecia que pudesse traçar o desenho, mesmo que tivesse giz.
A primeira vez que viajara para o País Encantado, tinha um guia e foi conduzido através de um portão. Depois disso, ele usara a Pedra da Abertura, que o pai, Tamlin, lhe dera. Isso parecia ajudá-lo a viajar de um mundo para outro. Mas, agora, não tinha o amuleto. Então como sairia do País Livre?
Tim levantou-se e espreguiçou-se. É melhor começar a procurar uma saída, disse Tim para os seus botões. Talvez tenha cometido um erro grosseiro.
Subiu um pequeno monte para ter uma vista melhor. Pôde ver as crianças ao longe, a leste, a chapinhar numa lagoa em volta daquilo que parecia ser um barco de piratas. Para oeste, viu uma densa floresta.
Avistou um grupo de crianças numas colinas mais à frente. Iria perguntar-lhes como poderia voltar para casa.
Encaminhou-se para o pequeno monte por entre árvores cheias de frutos, com perfume doce. A sua volta, havia paisagens lindas e serenas. O lugar estava calmo e limpo. Nada como na cidade. Ali podia ouvir-se a pensar. Não que isso fosse necessariamente bom. Ouvia-se a pensar demasiado alto. E aquilo em que pensava alterava rapidamente todos os efeitos calmantes que o País Livre exercera nele.
Caminhou no meio de pessegueiros e macieiras. Estranho, observou Tim, alguns dos frutos parecem estar apodrecendo. Saiu do pomar e viu melhor o grupo de crianças. Estavam no cume de um pequeno monte.
Parece que estão vestidos para uma peça de teatro ou um baile de máscaras, pensou Tim. Olhou para as calças jeans cobertas de pó e para a Camiseta preta. Será que estou mal vestido?
Um garoto alto, com cabelo escuro, parecia ser o mais velho — com cerca de catorze anos —, empunhava uma pasta. Usava uma espécie de camisa bufante e polainas pretas, que Tim vira em atores nas peças de Shakespeare na escola. Uma garota vestida como Peter Pan, com calças verdes, justas, uma túnica verde e uma boina adornada com penas, estava ao lado de uma garota com um vestido azul, comprido e antiquado, com folhos de renda. Um garoto loiro, quase da idade de Tim, estava próximo, envergando um sobretudo esfarrapado e calças de riscas, remendadas. Bem, pelo menos alguém não está fantasiado, pensou Tim. Talvez a criança mais estranha fosse aquela que usava uma longa túnica de linho. Era muito baixo e um dos braços terminava num toco com um aspecto horrível.
— Seja como for — dizia o garoto, com a camisa branca e bufante — quando ele, er, se manifestar, me aproximarei e direi, «Bem-vindo ao País Livre, Timothy Hunter».
Huh? Estão a falar de mim? Tim apressou o passo.
A garota, Peter Pan, tapou o rosto e abanou a cabeça.
— Francamente, Kerwyn. Deve estar brincando.
— Qual é o problema? — perguntou Kerwyn.
— Em primeiro lugar, não se trata um mago respeitável pelo nome — replicou. — Em segundo lugar, por que há de ser você a recebê-lo?
A garota com o vestido antiquado acenou com a cabeça.
— Nisto temos de concordar com a Katherine-Peter.
Tim interrogou-se se os caracóis loiros e muito torcidos lhe davam dor de cabeça. Isso podia explicar a expressão altiva e a voz afetada.
— Katherine-Peter, não — disse a garota Peter Pan, com rispidez. — Apenas Katherine. Safa!
A garota presunçosa revirou os olhos.
— Seja, Katherine. Devia ser o Wat, que tem a honra da alocução inicial. Ele é quem tem melhores maneiras. — Fez uma vênia ao garoto baixo e maneta.
Então o nome dele é Wat, pensou Tim. Que espécie de nome é Wat? Devem-no ter gozado na escola. Wat abanou a cabeça.
— Senhor, devo declinar, respeitosamente, essa honra. Falar em público não é para mim.
Uma vez que estão a ter tanto trabalho para decidirem quem tem a honra de me receber, pensou Tim, eu apresento-me. Poupam tempo a discutir, o que significa que irei mais depressa para casa.
— Uh, olá — gritou Tim. Correu pelo monte em direção a eles.
Nenhum deles respondeu.
— Vê, Griselda — disse Kerwyn — devia ser eu. E, como estava a dizer, irei aproximar-me de Timothy Hunter e direi...
— Desculpem interrompe-los — tentou Tim de novo. — Mas...
Kerwyn lançou um olhar furioso a Tim.
— Alguém, er, por favor, explica a este sujeito com óculos que não pode andar por aqui? Daniel?
O garoto, com cabelo loiro e comprido, e sobretudo esfarrapado ergueu um punho no ar.
— Vá andando! — resmungou o garoto a Tim. — Estamos à espera de uma pessoa importante.
Tim deu uns passos para trás. Isto pareceu satisfazer o grupo, e viraram-lhe as costas, fazendo um círculo menor e apertado.
O que se passa com estes garotos, interrogou-se Tim.
— Onde é que eu ia? — disse Kerwyn.
— Preparava-se para saudar Tim Hunter, Kerwyn — disse Daniel. — E assim que fizer isso, pergunto pela Marya.
— Ela pode estar com ele — disse Wat. Colocou a mão no braço de Daniel. — Não fique tão preocupado.
— Efetivamente — começou Tim.
Daniel rodou, com uma expressão de desafio nos olhos.
— Não te disse para ir andando, ô?
Tim levantou as mãos num gesto apaziguador. Deu mais alguns passos para trás, mas continuou à escuta. Precisava saber o que se passava.
— Sim, certo. Então, direi, «Bem-vindo ao País Livre ...»
— Mago poderoso — sugeriu Katherine.
— Nobre senhor — acrescentou o garotinho, Wat.
— Então, como é? — perguntou Kerwyn. Parecia desesperado.
— E que tal «Olá, obrigado por ter vindo»? — murmurou Tim. — «E desculpe por sermos um bando de tontos e grosseiros».
— Uma pergunta astuciosa — replicou Griselda. — O sujeito é um mestre de artes mágicas. Devemos indagar se ele obtém lucro ou não dessa prática.
— Duvido que obtenha — disse Wat.
— Que importância tem isso? — perguntou Kerwyn.
— A etiqueta exigiria uma saudação diferente se ele exercesse a profissão.
— Com licença! — disse Tim. Caramba! Sou invisível ou quê?
— Uma vez que ele não é comerciante — continuou a garota presunçosa, com os caracóis muito torcidos —, sugeriria que começasse, «Bem-vindo, Sr. Taumaturgo».
— Senhor o quê? — perguntou a garota vestida de verde. Precisamente a minha pergunta, pensou Tim.
— E depois, claro — continuou Griselda —, oferecia-lhe as chaves do País Livre.
— Chaves? — Kerwyn apertou a pasta contra o peito magro. — Não temos chaves.
Tim estava farto, apesar da atitude ameaçadora de Daniel.
— Eu disse, com licença! — Tim deu uma cotovelada no ombro de Griselda. Ela sacudiu-o, depois abanou a mão no ar como se enxotasse uma mosca. Nem sequer olhou para ele.
— Uma medalha, então, ou uma fita — disse ela —, um testemunho simbólico do nosso afeto e respeito.
— Bem, não vou dar-lhe meus jogos — disse Kerwyn. — Talvez possamos descobrir alguma coisa para ele na biblioteca.
— Boa idéia. E que tal uma primeira edição? — sugeriu Griselda. — O meu tutor ficava sempre muito satisfeito quando recebia um presente desses.
Hm. Um livro parece um bom presente, pensou Tim, mas depende do tipo de história que for.
— Por que não me perguntam que tipo de presente gostaria de receber? — perguntou ele. Não obteve resposta. Já desistira de esperar por uma.
Kerwyn parecia preocupado.
— Não temos primeiras edições, não é?
— Bem, não podemos dar-lhe apenas um livro antigo — argumentou Katherine.
— Eu sei! — ripostou Daniel. — Por que não lhe damos o bastão falante? Terá muito que falar quando for a invocação.
As sobrancelhas de Tim levantaram-se. Invocação? Qual invocação? Mas tinha mais que fazer do que perguntar.
— Daniel, não tem uma idéia, tem? — zombou Katherine. Estão todos sem idéias, concluiu Tim.
Daniel parecia prestes a dar uma palmada em Katherine.
— O que foi que disse? — perguntou ele. Wat pôs-se no meio deles.
— Vamos lá, vamos lá, meus amigos — disse, num tom apaziguador. — Não queremos que aquele que tencionamos honrar nos encontre a discutir.
— Wat está certo — disse Kerwyn. — O mais importante é o nosso plano.
— Sim. — Wat acenou com a cabeça. — Em breve todas as crianças do Mundo Mau estarão no País Livre.
Mundo Mau? Wat referia-se a Londres? Ao ouvirem mencionar o Mundo Mau, todas as crianças tremeram.
— Lá matam as crianças — disse Daniel.
— Pensam que por sermos menores e mais fracos, podem fazer-nos o que querem — disse Katherine.
— No Mundo Mau — acrescentou Griselda —, todas as crianças vivem segundo as regras dos adultos. Eles decidem se vivemos ou se morremos... se devemos ser espancados, passar fome ou postos a trabalhar aos oito anos de idade.
— Ou mais novos — disse Daniel, em voz baixa.
— Com Timothy Hunter, teremos poder para pôr fim à tirania — declarou Wat. — Essa é a nossa missão. Essa é a nossa cruzada.
— A nossa cruzada! — repetiram os outros.
— Se tivermos Timothy, temos magia — disse Kerwyn. — E se tivermos magia, temos o portão principal para deixar entrar todos os outros.
Todas as crianças acenaram solenemente com a cabeça.
— Reunimo-nos mais tarde, para acabarmos de escolher as palavras e as cerimônias — disse Wat.
E assim o grupo dispersou-se, sem olhar para Tim. Tim ficou a olhar para eles. Sentia-se completamente invisível ou, em todo o caso, profundamente insignificante.
— Aposto que isto nunca aconteceu a John Constantine da Brigada dos Encapotados — murmurou.E Molly nunca suportaria a grosseria deles. E agora?, interrogou-se. Corno volto para casa? E onde está Marya?
Era óbvio que ela contara, pelo menos, uma meia verdade: Aquele grupo de garotos queria-o para alguma coisa. Mas o fato de não ter regressado com ele, podia significar que planejara tudo para poder fugir do País Livre. O que queria dizer que tinham de fugir de alguma coisa.
Depois de ouvir aquele grupo de garotos, era claro para Tim que o País Livre era o lugar para onde fora o irmão da Avril, Oliver, juntamente com as outras crianças desaparecidas. Mas vieram de livre vontade? Ou foram forçadas, enganadas ou raptadas? Tim viera de sua livre e espontânea vontade, mas se Maiya não estava ali para lhe mostrar como podia voltar para casa, que livre arbítrio ainda lhe restava?
O pretenso grupo de recepção tinha-se espalhado em diferentes direções. Depois de ser tratado pior do que um percevejo por aquele grupo, Tim concluiu que não queria seguir nenhum deles. Estava sozinho.
— Se eu fosse uma porta para outro mundo — disse —, onde me esconderia?
Enquanto caminhava, tentou reunir aquilo que sabia até àquele momento. Os garotos do País Livre queriam-no, porque pensavam que a sua magia os ajudaria a fazer o que quer que fosse.
Detestava essa sensação — como se desiludisse as pessoas, deitasse por terra as suas expectativas.
— Não é justo — gritou, batendo com o pé no chão. A sonoridade da sua voz assustou-o, e olhou rapidamente à sua volta para ver se alguém o ouvira. Não se avistava ninguém.
— Nunca lhes prometi nada — murmurou. — Estão apenas fazendo suposições. Assim, se as coisas correrem mal, a culpa será só deles.
Continuou a caminhar, sem saber ao certo o que devia procurar.
— Não vejo o desenho da macaca. Nem giz, a propósito — disse. Não tinha uma pista do aspecto que teria um portão do País Livre.
— Então, Tim, o que fazia no País Livre? — perguntou em voz alta. — Tim, é estranho que pergunte. Passei muito tempo a falar com os meus botões.
Parou.
— O que é isto?
Uma enorme sebe bloqueava o seu caminho.
— Parece estar guardando alguma coisa — disse. — Talvez uma saída. — A sebe tinha cerca de três metros de altura e estava muito bem aparada.
Tim contornou a sebe. Os arbustos cresciam tão juntos que precisaria de uma tesoura de poda para passar. Era um quadrado perfeito, como uma caixa de folhas muito verdes. Num lado, descobriu uma treliça em arco, repleta de plantas trepadeiras com enormes flores. Parecia ter sido uma entrada, em tempos. Estendeu a mão para tocar numa rosa carmesim.
— Não toque! — disse-lhe a flor, com brusquidão.
Tim afastou rapidamente a mão, assustado. Abanou a cabeça. Por que será que nada me surpreende?
— Desculpa. Estava apenas interessado. Não ia colher-te, nem nada.
— Bem, então está bem, suponho.
Tim examinou a rosa. Desta vez, não parecia ter sido a rosa a falar. Devia estar alguém no outro lado da sebe.
— Se quisere, podes entrar — disse a voz.
Tim arregalou os olhos, quando as plantas, as flores e as trepadeiras se desenrolaram. Entrou na caixa de sebe.
Avistou uma menina verde no alto de uma árvore. Pelo menos, era, de certo modo, uma garota. Parecia-se mais com uma planta. O corpo era liso, como o caule de uma planta, mas tinha pernas e braços como uma pessoa normal. Mas o cabelo, que crescia na cabeça, era relva grossa. Tim viu que minúsculos botões de flor lhe salpicavam o cabelo. Era pequena, quase do tamanho de uma criança de oito anos.
— As plantas fizeram aquilo, porque você quiz? — perguntou Tim. — Afastarem-se assim?
— Uh-huh.
— É um belo truque — comentou Tim. — Que mais sabe fazer?
Esperava que dissesse «levar-te para casa, sem ter que jogar a macaca» mas, em vez disso, o queixo tremeu como se estivesse prestes a chorar.
— Acho que se passa algo de errado comigo — balbuciou.
— O quê? Qual é o problema?
— Aqui não me sinto real. Tudo tem um cheiro diferente e não há nada bom para comer. E Junkin Buckley mentiu. Detesto-o e quero ir para casa. — Acabou num longo gemido, tapando o rosto com as mãos cor de musgo.
Tim sentou-se por baixo dela, na base da árvore.
— Minha senhora, sei perfeitamente como se sente.
— Sério? — Afastou os dedos e olhou para ele.
— Mais ou menos. Eu também quero ir para casa.
— Sério? Não é um deles?
— Não — disse Tim. — Não sou um deles, nem por sombras. E não gostaria de ser.
O rosto dela animou-se, e um dos botões no cabelo desabrochou.
— Então, podemos brincar de bonecas. Este arbusto fê-las crescer, quando comecei a chorar.
Apontou para o arbusto ao lado de Tim. Ficara tão impressionado com o aspecto da menina que não reparara que brotavam pequenas bonecas do arbusto.
— Bonecas. Certo. Faz tanto sentido como qualquer outra coisa. — Uma garota que é uma planta. Erva que faz surgir pirulitos. Agora isto. Prepare-se para qualquer coisa, Tim, admoestou-se.
A menina saltou do poleiro, flutuando. Pairou por cima do arbusto.
Acrescenta uma menina-planta, que também pode voar. Tim corrigiu a declaração anterior. Ela é, sem dúvida, de um dos outros mundos — outro muito distante.
A menina tirou as bonecas do arbusto como se fossem flores.
— Eu fico com esta, e com esta, e com esta. — Examinou uma, depois ofereceu-a a Tim. — Pode ficar com ela.
— Então, obrigado — disse Tim. — Qual é o nome da boneca?
A menina sorriu.
— É Folha de Carvalho. Pela coragem. Parece que te assenta que nem uma luva. — Encostou as duas bonecas ao peito e abraçou-as. — Tenho a Verônica e a Madressilva. Pela fidelidade e pelo afeto. — Apontou para uma boneca que espreitava por baixo de uma pedra. Ela voou até junto de Tim e sussurrou-lhe no ouvido. — Aquela é a Peônia. Pela vergonha. Vive debaixo da pedra.
Este jogo é complicado, pensou Tim. E eu julgava que os meus problemas de identidade eram complexos.
— Fez isso tudo sozinha?
A menina riu.
— Claro que não. É a linguagem das flores. Todo mundo sabe.
— Não, não sabe. Eu não sei.
A menina parecia muito surpreendida, depois encolheu os ombros.
— Antigamente, todas as pessoas costumavam saber. Mandavam mensagens umas às outras — explicou ela. — Como as campainhas significam «sempre te amarei», e o jasmim significa «somos amigos». E os asfódelos... — Tremeu. — Os asfódelos são para os mortos.
Tim levantou-se e espreguiçou-se.
— Escute, gostaria de ficar e brincar contigo, mas tenho de descobrir o caminho para casa.
— Não gosta daqui? — perguntou ela.
— Não.
— Eu também não! — exclamou a menina. — Então, por que veio?
— Uma garota, chamada Marya, convenceu-me. Na hora pareceu-me razoável. — Embora agora pareça muito, muito louca, admitiu Tim para si mesmo.
— Onde ela está agora? — perguntou a menina-planta. Tim suspirou.
— Não faço a menor idéia.
— Como é a terra de onde vem?
— Menina, você faz muitas perguntas.
— Está sendo rude. Não me chame disso.
— Desculpa. Do que te devo chamar?
— O meu nome é Suzy. E deve ser simpático comigo, porque me aconteceu a mesma coisa que te aconteceu também.
— O que quer dizer?
— Um garoto, chamado Junkin Buckley, trouxe-me aqui e depois desapareceu — explicou Suzy. — Quero ir para casa, mas não sei como. Tal como você. Por isso, encontrei um lugar para ficar e as coisas crescem à minha volta. E quebrei minha boneca. — Balançou a boneca por cima de Tim.
— O quê? — perguntou Tim.
— Antigamente, quando quebrava uma boneca, punha-a na minha frente e ela ficava consertada. Agora não dá certo. — Mostrou-a a Tim. — Pode consertá-la?
Tim olhou para a boneca. Suzy arrancara, inconscientemente, a cabeça da boneca enquanto falava. Ela deve estar muito zangada com esse tal Junkin Buckley.
— Por que não apanha outra? — sugeriu.
— Porque gosto desta — disse ela, chorosa, estendendo-a na direção de Tim.
Tim pegou nela, com relutância. Examinando-a de vários ângulos, viu que a única forma de arrumar era com magia. Mas podia fazer isso?
Segurou a boneca e concentrou-se. Lembrou-se da primeira vez que usara magia, para impedir que a neve caísse em cima de Kenny, o sem-teto. Não pense em nada a não ser no espaço entre o pescoço e a cabeça, disse para si mesmo. Abrace-o com o teu espírito. As pontas estendem-se uma para a outra; querem ser unidas, ser uma só. Vezes sem conta Tim encontrou palavras para ordenar ao pescoço e à cabeça da boneca que se unissem — que usassem a integridade anterior para se consertar.
— Está melhor! — exclamou Suzy, quebrando a concentração de Tim. Olhou para a boneca e pestanejou algumas vezes.
— Ei, tem razão. Toma. — Entregou a boneca, já inteira de novo a Suzy.
— Obrigada, obrigada, obrigada! — Suzy flutuou à volta dele. Tim sorriu. Era uma sensação agradável fazer a menina-flor tão feliz, quando há instantes ela estava a chorar. E era agradável usar a magia com sucesso — sem conseqüências terríveis, sem que nada corresse mal. Talvez fosse capaz de descobrir a magia um dia.
— Bem, agora que tem a tua boneca outra vez, está na hora de ir-me embora. — Afastou-se um pouco de Suzy.
— Posso ir contigo? — perguntou Suzy. Tim virou-se. Fez uma careta à menina.
— Creio que não seguimos a mesma direção. Quero dizer, eu sou de Londres e presumo que você não seja. E não me apetece visitar nenhum reino botânico. Por isso, boa sorte, e espero que tudo dê certo contigo.
Virou-se e começou a andar. Talvez se descobrisse um lugar que fosse mais parecido com uma cidade ou que, pelo menos, tivesse calçadas, pudesse tentar outra vez o truque do jogo da macaca.
Pensou em Suzy. Que criaturinha esquisita. Custava-lhe deixá-la para trás, mas o que podia fazer? Tentar ajudar Marya metera-o naquela encrenca. Quem sabia o que aconteceria se tentasse ajudar a menina-planta? Além disso, não queria distrair-se da missão de voltar para casa.
Mas algo o distraia. A sombra de uma menina, com cabelo de erva, era visível na terra atrás dele.
— Está me seguindo, não está? — declarou Tim.
— Não — replicou Suzy.
— Vai embora. Não vem comigo, está bem?
— Está bem.
Tim deu mais alguns passos. Virou-se, pôs as mãos nas ancas e olhou, furioso, para Suzy.
— Eu não estou te seguindo! — insistiu ela.
— Olha. — Tim começou por dizer, ficando mais exasperado.
— Mas você é o meu namorado. — exclamou Suzy. — Vamos juntos para toda a parte. Não suporta estar sem mim, nem por um segundo.
Tim ficou tão surpreendido que olhou para ela de boca aberta. Era impossível responder. Virou-se e continuou a caminhar.
— Suzy! Por favor, não me siga — gritou, por cima do ombro.
— Está bem.
Nesse momento, nem se deu ao trabalho de olhar para ela. Manteve os olhos em frente.
— Tem de voltar para trás — insistiu ele.
— Está bem.
— E não sou o teu namorado — acrescentou, por via das dúvidas.
— Eu sei.
Aquilo estava a tornar-se absurdo. A tornar-se? Não, já era completamente absurdo. Como posso lutar com uma garota que concorda com tudo o que eu digo, depois faz aquilo que lhe apetece?
— Ainda está aí, não está? — disse ele.
— Talvez.
Tim suspirou. Desisto. Não me livro dela. Só espero que não seja uma desgraça tê-la grudada.
— Afinal, que espécie de flores são os asfódelos? — perguntou.
— Narcisos.
Hm. Por que será que os narcisos são para os mortos?
— Então, como é que a linguagem das flores...
Suzy soltou um grito que o fez calar. Rodopiou.
— O que se passa?
— Detenha-o! — gritou. — Oh, por favor. Temos de o deter!
Passou por Tim correndo, descendo um monte em direção à lagoa. Agora era Tim que a seguia. Teve de correr muito depressa para a apanhar.
— Qual é o problema? — gritou. — Quem temos de deter? — Esperava, sinceramente, que não fosse um bruxo, um mago ou um ogro. Ficaria sem saber o que fazer se esses tipos também pudessem entrar no País Livre. De que valeria um refúgio se não os mantinha em segurança?
— Uma flor está a sofrer! — gritou-lhe Suzy.
— Uma quê está a fazer o quê? — Tim abrandou o passo. Esta missão de resgate é para salvar uma flor?
Suzy voou para junto de Tim e prendeu-lhe o braço.
— Anda! Ele está arrancando as pétalas. Elas gritam-lhe que pare. Ele não pode ouvir.
— Alto — murmurou Tim, olhando fixamente para a lagoa. Sereias brincavam com golfinhos, enquanto crianças brincavam num velho barco de piratas. Todos chapinhavam e estavam contentes.
Todos, exceto um garotinho rechonchudo sentado na margem. De sobrancelhas franzidas, fazia exatamente aquilo que Suzy descrevera. O menino tinha um molho de margaridas e arrancava as pétalas de cada uma delas.
Provavelmente também arranca as asas das moscas, pensou Tim.
— Está bem, eu faço com que ele pare — garantiu Tim a Suzy.
— Claro que fará! Porque é o meu herói e namorado!
— Qualquer coisa.
— Depressa — instou ela. — Ouve as flores? Estão a dizer, «Oliver, pára! Por favor! Pára!».
Oliver? Então, aquele menino, com aspecto desagradável talvez fosse o irmão de Avril, que desaparecera. Até se parecia com ela.
Talvez faça a boa ação do dia, pensou Tim, quando se aproximou de Oliver. Mato dois coelhos numa cajadada só. Faço a Suzy feliz, impedindo Oliver de destruir as amigas flores e depois, se conseguir descobrir o caminho de volta, entregarei o Oliver à família.
Bem, é uma grande incerteza, disse Tim para si mesmo.
Tim aproximou-se de Oliver.
— Ei, Oliver! Por favor, deixe as flores.
— Não deixo. — Oliver prendeu os caules no meio dos dedos e franziu as sobrancelhas.
— Não estou pedindo, Oliver, estou mandando. — Havia qualquer coisa naquele menino que fez com que saísse o pai irritado que existia em Tim. Baixou-se e afastou os dedos gordos de Oliver.
— Au! — berrouTim. Olhou fixamente para Oliver, que sorria ironicamente. — Seu fedelho! Mordeu-me!
O garoto pôs a língua de fora.
— Tem gosto ruim.
Tim esfregou a mão. Pelo menos, o menino não tinha tirado sangue. Tim entregou as flores a Suzy.
— Toma.
— Obrigada! —Apertou as flores e falou suavemente com elas, como amigas que não se viam há muito tempo.
Tim olhou de novo para Oliver.
— Muito bem, garoto, vem comigo, quer queira, quer não.
— Não vou. Você é horrível.
— Tem razão. Sou. Mas, mesmo assim, vem comigo.
— Também é um monte de cocô de cachorro.
— Efetivamente, Oliver, sou Tim Hunter. E conheço a tua irmã, Avril. Está muito preocupada contigo.
— Avril também é um monte de cocô de cachorro.
Tim revirou os olhos. Por que estou tendo este trabalho?
— Timothy Hunter é o meu namorado. — Suzy informou Oliver. — É um mago importante. Consertou a minha boneca. Por isso, é melhor fazer o que ele te manda senão transforma-te num sapo.
— Ooooooh! — Os olhos pequenos de porquinho de Oliver arregalaram-se. — Sei uma coisa que você não sabe — cantarolou. — Sei uma coisa que você não sabe.
— E o que é? — perguntou Tim.
— Sei uma coisa que você não sabe! Sei uma coisa que você não sabe!
— Muito bem, Oliver, está me irritando — resmungou Tim. Pegou as orelhas de Oliver. — Puxo para ver se tuas orelhas são descartáveis?
— Eu digo! — berrou Oliver. — Não me faça mal!
Tim desfez-se em sorrisos. O blefe deu certo. Finalmente, alguma coisa deu certo.
— Um garoto disse que se encontrássemos um garoto chamado Tim Hunter ou uma garota chamada Suzy, que era como um pomar, devíamos contar a alguém sem demora.
Os olhos pequenos de Oliver ficaram reduzidos a fendas e com um brilho sinistro.
— Eles vão apanha-los. Estão metidos numa grande encrenca.
— Vão se arrepender — murmurou Junkin Buckley, enquanto atravessava os arbustos densos da floresta. — O que eles pensam? Mandaram-me embora como se fosse lixo. O peixe e as batatas fritas de ontem.
Encolheu os ombros.
— Não importa. Em breve, tudo será diferente!
Pensar no futuro animou-o. Em vez de esmagar os rebentos e os ramos com os pés, atravessou os bosques praticamente a dançar.
— Hubsy-bubsy wkka wobsu hipsy-dipsy bokka rubsy — cantarolou, saltitando como se dançasse uma Jiga*. Parou e olhou à sua volta, perscrutando os bosques escuros em busca dos marcos que memorizara.
*Antiga dança popular, muito animada.
Quase no lugar de encontro, apercebeu-se, continuando com toda pressa.
Sei que é necessária discrição, mas o velho chefe precisava de escolher este lugar tão sombrio e sinistro para nos encontrarmos?
Parou uma vez mais. É este o lugar, não é? Olhou em redor. Yep! Lá está o carvalho rugoso — lá está o cepo marcado pelo relâmpago.
— Tem alguém aí? — gritou Junkin. — Olá? Vossa Excelência?
— Boa noite, Junkin Buckley. — Um homem, que envergava uma capa pesada, emergiu das sombras. Não era um garoto — era um homem. Um adulto. No País Livre.
Junkin Buckley receara que o País Livre não o deixasse trazer o velhote, mas deixou. Depois do velho cavalheiro lhe fazer a oferta, Junkin percebeu que faria qualquer coisa para ajudar o homem. A vigilância do País Livre devia ter ficado um pouco frouxa, e o velho cavalheiro entrou aos pulinhos, sem ninguém saber. Isto é, ninguém a não ser Junkin Buckley. Junkin pulou para cima do cepo.
— Perguntava a mim mesmo quando apareceria. Então, meu velho amigo, está tudo correndo conforme o plano?
— Claro, Junkin Buckley. Corre tudo muito bem. Não serão capazes de fazer passar todas as crianças da terra, mas suponho que passarão uns milhares antes deste ferro-velho se desmoronar e morrer em cima deles.
— É estranho, não é? — devaneou Junkin. — Lá estavam eles, todos arrogantes, porque não queriam que soubesse do plano secreto. E fui sempre eu que tive o plano secreto. — Apontou um polegar para ele mesmo. Depois viu o sorriso dengoso no rosto magro do companheiro. — Bem, você e eu — acrescentou Junkin. Baixou o queixo e abanou as pernas, embaraçado. — Bem, você.
Um sorriso lento surgiu no rosto do homem, deixando à mostra os dentes amarelados.
— Sabe quanto pagarão nos mercados distantes por crianças humanas? — perguntou o velho cavalheiro.
Isso era o que Junkin Buckley queria ouvir. Gostava de ouvir falar de dinheiro.
— Montes e montes? Montes e montes e montes?
O homem lambeu os lábios como se saboreasse um dos deliciosos frutos do País Livre.
— Ainda mais do que isso. Esta será a operação mais extraordinária e lucrativa de sempre.
Bateu com a mão no ombro de Junkin.
— Pensa — murmurou o homem. Abanou a outra mão à frente do rosto de Junkin Buckley, como se pintasse a cena defronte dele.
— Aqueles pequenos idiotas abrem os grandes portões, convencidos de que estão a fazer a coisa certa, convencidos de que as crianças da terra precisam ser salvas. Com a ajuda de Timothy Hunter, milhões de crianças humanas passarão aos tropeções para o País Livre. Mas o País Livre não pode sustentar a todas. Mal pode sustentar as vidas e as fantasias dos fedelhos que estão aqui agora. Desmorona e morre quando vierem mais.
Soltou uma gargalhada rouca. Junkin tentou não ligar para o som que lhe provocou um arrepio na espinha. Nem um pouco. Pensava no dinheiro.
Vão se arrepender, pensou Junkin. Podia ter impedido tudo isto. Mas não impedirei. Não agora.
O homem esfregou as mãos deformadas.
— Então, o meu povo virá e capturará todas as crianças deste mundo morto. Deixará de poder protege-las. Depois as venderei nos mercados distantes, com muito lucro!
Junkin gostaria de saber se aquele velho cavalheiro podia realmente levar a cabo aquele plano. Porém, que importância tinha? Se apenas uma pequena parte do plano desse certo, daria uma lição àqueles desmancha-prazeres. E ficaria rico.
— Cumpriu bem a tua parte, Junkin Buckley. Será recompensado por isso.
Junkin Buckley pulou de cima do cepo.
— Sabe o que eu quero. Ser o primeiro a escolher as garotas. Tantas garotas quantas quiser. — Junkin andou de um lado para o outro à frente do homem, imaginando o que mais poderia ter. — Quero um grande palácio à beira-mar, muito longe do País Livre. — Meteu os polegares por baixo dos suspensórios e encheu o peito de ar. — E quero uma medalha grande dizendo que Junkin Buckley é o melhor tipo do mundo.
O homem sorriu.
— Isso arranja-se. Agora tenho de me certificar se esses fedelhos não perdem o Hunter, agora que o apanharam, finalmente. Para que isto dê certo, precisamos, sobretudo, do seu poder.
Assim que Tim conseguiu que Oliver admitisse que estavam bem no lugar onde entrara no País Livre, Tim traçou o desenho do jogo da macaca na areia e tentou abrir um portão.
Um problema difícil, pensou Tim. Nunca gostei de rimas infantis, por isso é muito difícil lembrar-me de uma.
Começou a saltar.
— Uh, «a velha mãe Hubbard, estava num aparador, a comer as coalhadas e o soro»?
Oliver bufou.
— Não é assim. Perdedor.
— Então, faça a rima você — disse Tom, com rispidez
— Não faço!
— Oliver, estou avisando — disse Tim, esperando parecer ameaçador.
— A velha mãe Hubbard é um monte de cocô!
Tim abanou a cabeça. Como é que eu me meto nestas trapalhadas?
Suzy esvoaçou por cima dele. Tim pensava que ela não pousara os pés no chão desde que tinha chegado à lagoa. Não tinha certeza se era por não gostar da areia ou se queria manter-se longe das mãos sujas de Oliver.
— Então, namorado, o que faz agora? — perguntou ela.
— Suzy, por favor.
— Desculpa, Tim. Timbo. Timmy-wimmy.
— Apenas Tim. — Suspirou. — Tento outra vez, creio. — Apagou a quadricula do jogo da macaca e desenhou outra. Queria começar tudo de novo. Fechou os olhos e tentou, a todo o custo, lembrar-se de uma rima infantil — qualquer rima.
Papa de ervilha quente
Papa de ervilha fria
Papa de ervilha no pote,
Com nove dias de vida.
A minha diz para escolher esta, por isso fora
C-O-N-T-l-G-O!
Disse uma rima completa! Agora não desista, disse para si mesmo. Marya fizera-o saltar três vezes a quadrícula.
Repetiu a rima e, à terceira vez, pulou e entrou numa coisa invisível. Caiu violentamente com o traseiro e olhou fixamente para o lugar para onde saltara. Mas lá não havia nada.
— Ah, ah! — riu Oliver. — Caiu de traseiro.
Tim levantou-se e limpou-se. Atravessou a barreira invisível e estendeu a mão. Só que já não havia nada lá.
Uh. Isto é muito esquisito.
Parecera que batera numa porta fechada. Talvez a rima tivesse dado certo, só que o portão estava fechado. E, assim que parou de pular e cantar, a porta desapareceu.
—Talvez haja outro portão em algum lugar? — perguntou a si mesmo, em voz alta.
— Você é um mágico importante — disse Suzy. — Não pode fazer um feitiço?
Tim gemeu. Porque é que as pessoas esperam sempre que faça coisas — coisas que nem sequer sei fazer? Era demasiada pressão. Estava farto, farto até à ponta dos cabelos!
— Pela última vez — gritou Tim. — Não sou um mágico importante e não conheço nenhum feitiço.
Tim deu pontapés na areia, fazendo desaparecer o desenho da macaca. Quem precisa disto? É inútil.
— A maior magia que fiz foi impedir que a neve caísse em cima de um velho — resmungou Tim. — Oh, sim... e transformei o meu iô-iô numa coruja.
— Transformou o iô-iô numa coruja? — perguntou Suzy.
— Sim — resmungou Tim.
— Porquê? Havia falta de corujas ou quê?
Tim suspirou. Ainda sentia saudades da coruja, Iô-iô.
— É uma longa história.
— Engraçadinho — zombou Oliver.
— Cale-se, Oliver.
— Mentiroso, mentiroso, tem as calças a arder — escarneceu Oliver —, a trepar por um fio de telefone.
Tim tapou o rosto com as mãos.
— Oh, por favor, alguém é capaz de fazer este garoto calar-se? Oliver, dou-te um murro se não se calar.
Suzy voou direto, afastando-se de vários melros.
— O que é? — perguntou Tim. — O que se passa?
— Cheira-me a qualquer coisa. E as plantas acham que se passa algo muito estranho.
— As plantas? — repetiu Tim. Não sabia ao certo se se sentia confortável por receber os novos sinais das flores.
Torceu o nariz. Também lhe cheirava a algo estranho.
— Sinto o cheiro de uma fazenda! — berrou Oliver. — Ou cocô. É cocô!
— Cale-se, Oliver.
Passava-se algo muito grave, deveras. A terra tremeu, e Tim pôde ouvir estampidos e uivos de animais. E tornavam-se cada vez mais próximos.
Suzy rodopiou freneticamente, e Oliver pôs-se atrás de Tim e agarrou-se às calças jeans azuis com os dedos pegajosos.
Tim arregalou os olhos e engoliu em seco. Aproximava-se um bando de animais. A chefiar o grupo vinha um elefante — com uma menina de cabelo escuro montada no dorso.
Está bem, a garota no elefante era impressionante. Mas os animais, que a acompanhavam, assustaram Tim. Tigres, leões, girafas, lobos, macacos, ursos — todos a caminhar na direção de Tim, Suzy e Oliver.
— Faça-os ir embora! — gemeu Oliver.
Suzy não parece assustada, notou Tim, apenas curiosa.
A garota em cima do elefante levantou uma mão, e o cortejo de animais parou. Tim sentiu o suor a deslizar pelas costas abaixo. Era preciso muito esforço para se manter imóvel, mas pensou que seria muito mais seguro do que tentar fazer-lhes frente.
— Você é Tim Hunter? — perguntou a garota.
— Sou. — Não parecia valer a pena mentir ou recusar-se a responder. Não com todas aquelas bocas a salivar e aqueles dentes grandes e pontiagudos apenas a uns metros dele.
— Sou Maxine — disse a garota. — O conselho quer falar contigo. — Virou-se para Suzy. — É Suzy, a menina-flor?
— Talvez — replicou Suzy.
— Também querem falar contigo.
Oliver saiu detrás de Tim.
— Eu te disse — gabou-se. — Disse que iam te apanhar.
Maxine olhou de cima do poleiro.
— Quem é você, fedelho?
A expressão de Oliver passou de presunção a terror. Atirou-se ao chão.
— Sou Oliver Crispin Hornby Mitchell e quero a minha mamãe. — Meteu o polegar na boca.
— Bem, acho que é melhor vir também. Enfadonho como é, não podemos deixar-te aqui.
— Não podemos? — murmurou Tim, baixinho. Oliver, furioso, olhou para Tim.
Maxine levantou a mão, e os animais recomeçaram a andar.
— Virem e caminhem em frente — ordenou ela.
Para ela é fácil ser mandona, pensou Tim. Tem o reino animal inteiro para fazer cumprir as ordens. E neste estranho mundo, os animais até entendem inglês.
— Suzy — sussurrou Tim. Olhou para trás. A garota em cima do elefante estava muito longe para ouvir, mas não queria correr riscos. — Suzy, pode escapar? Voa para longe.
— E deixá-lo sozinho?! Nunca!
— É muita gentileza da tua parte, Suzy, mas, sério, devia fugir.
— Não quero. Estava sozinha antes de você vir. Prefiro ficar contigo. Além disso, se eu fugir, virão atrás de mim. E ainda não sei como regressar.
— Creio que tem razão. — A testa de Tim enrugou-se, quando tentou conceber um plano. — E que tal se todos fugíssemos? Você os distrai, eu pego o Oliver e corremos para aquele bosque. Esconda-se por algum tempo e, assim que achar que o perigo passou, vem à nossa procura.
— Tenho o namorado mais esperto do mundo inteiro.
Desceu e deu-lhe um beijo no rosto.
Tim ajoelhou-se ao lado de Oliver.
— Muito bem, garoto, sobe. Está na hora de dar um passeio de cavalinho.
O rosto bochechudo de Oliver animou-se.
— Ótimo. Meus pés doem.
Oliver trepou para nas costas de Tim e jogou os braços em volta do pescoço de Tim.
— Ai! Não aperte tanto!
Os braços de Oliver soltaram-se um pouco.
— Primeira regra — disse Tim a Oliver. — Não estrangule a montaria.
Oliver deu um pontapé em Tim.
— Anda depressa! — ordenou.
— Não se preocupe — murmurou Tim. — Andaremos.
Tim olhou para Suzy e acenou com a cabeça. Ela piscou-lhe o olho.
— Não me pega! — cantarolou. Voou até à copa das árvores, depois afastou-se dos bosques densos.
— Detenham-na! — gritou Maxine.
Perfeito. Suzy criara uma manobra de diversão perfeita. O bando de animais mudava de direção.
— Segure-se — disse Tim a Oliver, com voz sibilante. Correu o mais depressa que podia na direção dos bosques.
Uh-oh. Tim ouviu uivos e rugidos, e percebeu que os animais vinham atrás deles. Pelo menos, usar Suzy como chamariz dera-lhes algum tempo. Tomou velocidade. Sentia um aperto no peito e os músculos ardiam.
Ouviu gritos estranhos por cima deles. Levantou os olhos e o coração caiu-lhe aos pés. Águias e falcões perseguiam Suzy. Não vira aves naquele bando. Deviam estar mais para trás.
Agora o coração palpitava por um motivo diferente. Caramba, cantei vitória antes do tempo. Provavelmente fiz com que nos matem. Matem e comam.
No entanto, continuou a correr. Saltou por cima do ramo de uma árvore derrubada, depois pôs-se rapidamente de joelhos. Agarrando uma das mãos de Oliver, para ter a certeza de que não perderia o menino, rastejou para trás de uma sarça. Acocorou-se no meio dos espinhos. Oliver agarrou-se a ele, a guinchar o mais alto que podia.
— Cale-se! — ordenou Tim.
— Não grite comigo! — gemeu Oliver. — Não gosto disto. Nem um pouco.
Tim respirou fundo. Não adiantava berrar com Oliver quando tentava calar o menino irritante.
— Escuta, Oliver — sussurrou. — Não queremos que eles saibam onde estamos. Jogamos esconde-esconde de verdade. Percebe? E ganha, se fizer menos barulho.
— Um prêmio? — perguntou Oliver.
— Sim — replicou Tim —, um grande prêmio. Fantástico. O melhor.
— Chocolate?
— Claro.
Pareceu dar resultado. Oliver já se aquietava.
Tim podia ouvir os animais aproximando-se. Tim susteve a respiração, quando várias criaturas passaram por eles correndo. Esperava que nenhuma ouvisse o seu coração a palpitar. Ou sentisse o cheiro do suor, que formava gotas na testa, no lábio superior e nas costas.
Subitamente, um bafo quente na nuca, com cheiro de carne, alertou-o de que tinham sido descobertos. Tim virou a cabeça devagar.
E fitou os olhos amarelos de um tigre, que parecia faminto.
Tim arfava, tentando respirar apesar das mãos de Oliver, que o sufocavam.
Bem, um benefício secundário do medo, pensou Tim. Fez, finalmente, com que Oliver se calasse.
Um rugido, e o tigre estava acompanhado por um leão.
Todos farejavam, aproximando-se tanto que Tim pôde sentir os bigodes, o cheiro forte.
Muito bem, se alguma vez houve uma hora para a magia, disse Tim para si mesmo, essa hora chegou. Mas o que faço? Faço com que desapareçamos? Faço com que eles desapareçam? O medo fez com que o cérebro de Tim corresse um quilômetro por minuto; primeiro, ocorreu-lhe uma idéia, depois outra e mais outra — tudo no espaço de segundos.
— Uh, tigre, leão, vão-se embora — começou Tim, tentando descobrir uma cantilena ou um feitiço. — É isto que devo dizer.
Abanou a cabeça. Como pode ser tão pouco convincente?, admoestou-se. Podia ouvir o coração dele e de Oliver a bater.
O leão e o tigre pareciam estar numa competição de rugidos. O leopardo sentou-se e observou-os por um momento. Depois o olhar intenso fixou-se em Tim. Começou a aproximar-se lentamente.
— Parem! — A menina, que montava o elefante, estava atrás dos animais. — Parem, já disse! Temos de levar estes três ao conselho. Não podemos perder mais tempo.
O tigre, o leão e o leopardo lançaram um olhar faminto e demorado a Tim e Oliver, depois viraram-se. A cauda do tigre bateu no nariz de Tim.
— Ai! — gritou Tim. Coçou o nariz. A cauda daquele tigre oscilava com força.
— O jogo já terminou? — perguntou Oliver.
— Sim — disse Tim, levantando Oliver. — O jogo já terminou. Avistou uma sombra familiar no solo. Quando se virou, viu Suzy a flutuar por cima deles. Tinha presa em volta dos pulsos uma trepadeira comprida. Tim percebeu que Maxine segurava a outra ponta da trepadeira. Capturara-a.
— Venham — disse Maxine. — Estão à nossa espera.
Tim passou à frente dela, vencido, segurando a mão de Oliver.
— Lamento, Suzy — disse Tim.
— Não faz mal, Timmy-wimmy. Você fez o melhor que pode. É tudo o que uma namorada pode esperar do namorado.
Não se deu ao incômodo de corrigi-la de novo em relação à história do namorado. Não depois de ter feito tantos disparates e a ter exposto a tamanho perigo.
Por fim, chegaram a uma clareira, onde havia uma sede de clube, construída nos enormes ramos de uma árvore gigantesca. Os garotos, que Tim vira brigando por causa da sua chegada, estavam lá, à espera e ansiosos.
Devem ter nos ouvido chegar, pensou Tim. Torceu o nariz ao cheiro forte dos animais que o rodeavam. Ou talvez tenham sentido o nosso cheiro.
Maxine conduziu o elefante para junto de Wat.
— Boa, Maxine — disse Wat maneta. — Magnífico.
— Não foi difícil descobri-los — replicou Maxine. — Os meus amigos apanharam-nos com muita facilidade. Aqui estão. São todos vossos.
Tim sentiu de novo o bafo quente do animal na nuca. Afastou-se lenta e cautelosamente do leopardo atrás dele. Se isto fosse uma história em quadrinhos, pensou Tim, eu pareceria um enorme hambúrguer, refletido nos olhos daquele gato.
— Tim, Suzy. Sou Wat.
— Já nos conhecemos — disse Tim. — Onde foi? Oh, sim... estavam tentando encontrar uma forma agradável de me darem as boas-vindas. Nessa altura não tinham decidido que seria perseguido por animais selvagens.
— Fazemos aquilo que devemos — replicou Wat.
— Timmy, vai transformá-los em sapos? — perguntou Suzy.
— Ainda não.
— Que pena.
Tim também pensou que era uma pena. Mas imaginava que a única hipótese que tinham de regressar implicaria saber mais alguma coisa sobre os habitantes do País Livre e não poderiam ajudar se fossem sapos. Isto, partindo do princípio de que era capaz de descobrir uma forma de os transformar.
— Maxine. — Wat dirigiu-se à garota em cima do elefante. — Vem conosco à reunião do conselho?
— Não creio. Estou um pouco cansada. Vou-me retirar com os meus amigos por algum tempo.
Maxine entregou a trepadeira a Wat, que servia de trela de Suzy. O garoto de sobretudo — Daniel, Tim lembrou-se — prendeu os pulsos de Tim com uma corda de pular. Daniel deve ter notado a expressão de surpresa de Tim. O garoto encolheu os ombros.
— No País Livre só temos brinquedos. Não temos armas de verdade. — Deu um apertão na corda, fazendo com que Tim estremecesse. — Mas podemos improvisar, não podemos?
Daniel curvou-se.
— O que fez a Marya? — sussurrou.
— Nada! — exclamou Tim. — Convenceu-me a vir para cá e nunca mais a vi. Se quer saber, tem que me dar muitas explicações.
— Não fiz nenhuma pergunta — disse Daniel, com brusquidão.
— Mas perguntou agora mesmo — retorquiu Tim. — Disse... — Tim imitou o sotaque londrino de Daniel — «O que fez à Marya?».
Daniel enfiou um lenço azul vivo na boca de Tim.
Está bem, pensou Tim. Creio que esta conversa terminou.
Maxine conduziu o elefante para o pequeno bosque, que declarara ser a sua casa. Ali vivia com os ursos, os macacos, as girafas, os tigres, os cavalos, as aves e os gatos, que eram os seus companheiros prediletos. Se voasse, rastejasse, galopasse ou trepasse, era bem-vindo. Desde que não fosse humano.
Maxine desceu do elefante e dirigiu-se ao grupo de animais, seus amigos:
— Pensei que tinha de esperar até nos afastar-nos dos outros para o repreender — declarou. — Não ia fazer isso na frente daqueles garotos. Mas, Sr. Leopardo, sei que ia comer o garoto Tim, quando fugiu.
O leopardo baixou os olhos, batendo com a cauda sarapintada.
— Teria — insistiu Maxine —, se não o tivesse feito parar. Mas sabe como é horrível quando se é perseguido.
— Como correr e apanhar — disse o leopardo. — Como farejar e perseguir.
— É o que fazemos — disse o tigre.
— O coelho disse-nos que se apanhamos, comemos — acrescentou o leão.
Maxine olhou fixamente para os animais.
— Ele estava mentindo — resmungou. — Acho que já não confio no Jack Coelho. Ele não é um coelho verdadeiro, vocês sabem.
— Nós sabemos — disse o leopardo. — Cheiro errado.
— Bem, não confiem nas pessoas — avisou Maxine. — E Jack Coelho é humano. Não confiem em nenhum ser humano a não ser em mim!
— Comemos Jack Coelho? — perguntou o tigre, com esperança.
— Não — disse Maxine, com firmeza. — Não gosto dele, nem confio nele, mas não é bom comer outros animais. E uma pessoa é apenas um animal com roupa, só que menos interessante.
A cauda do tigre balançou para trás e para a frente.
— Comem-se uns aos outros. Umas vezes vivos. Outras vezes mortos.
— Comam veado quando o apanharmos — explicou o leão. — Morremos, os busardos comem-nos.
— Eram capazes de me comer? — perguntou Maxine.
— Não — disse o leopardo.
— Sim — disse o tigre.
— Talvez — disse o leão.
Maxine sabia que não podia pedir-lhes que contrariassem as suas próprias naturezas. A sua essência era devorar carne. Enganara-se quando pensara que podia modificá-los. Era injusto mantê-los tão perto da tentação. Era arranjar lenha para se queimar. Ela sabia, embora os animais não soubessem.
— Acho que é melhor que todos vocês, leões, tigres, leopardos, lobos e chitas vão-se embora — disse ela.
— Gostamos de estar perto de ti — protestou o tigre.
— Queremos ficar — disse o leão.
Maxine abanou a cabeça.
— Lamento, mas não podem. — Olhou fixamente para o chão. Sabia que se fitasse os olhos belos e escuros, cederia. E não podia. Tinha de pensar nos outros animais. Na natureza não viveriam todos juntos, caçariam no meio dos seus predadores. Era apenas o seu poder que permitia que isso acontecesse. Mas tinha de deixar partir os carnívoros.
— Também gosto de vocês — admitiu —, mas como posso viver com alguém que podia querer devorar-me? — Levantou de novo os olhos. — Mas podem visitar-nos, de vez em quando, se quiserem.
— Sim — disse o tigre.
— Nós vimos — concordou o leão.
— De vez em quando — acrescentou o leopardo.
— Adeus — disse Maxine, tendo dificuldade em pronunciar a palavra simples. Pigarreou. — E mantenham-se longe das outras pessoas — avisou. — Confundirão e tentarão convencer-los a trabalhar para elas. Ou talvez os matem e usem as suas peles como tapetes.
O elefante envolveu-a com a tromba, semelhante a couro, ergueu-a e pousou-a nas espáduas.
— Nós também iremos embora — disse aos outros animais. — Para um lugar onde ninguém nos encontre.
Avançaram como uma manada — as gazelas e as girafas, os gatos pequenos e as aves. O passo vagaroso do elefante acalmou-a.
— Talvez encontremos um lugar bonito — disse ela, com ar sonhador — com relva doce e nozes e bagas. Coisas boas para comermos. É melhor do que comer animais ou pessoas. Com um lago e uma catarata e árvores para treparmos.
Quando Maxine descreveu a terra ideal, o País Livre ofereceu-a. As bagas brotaram nos arbustos, o ar tornou-se doce com as canas frescas, e nozes — já sem casca — caíram das árvores nas bocas ávidas dos esquilos com pêlo ruivo e cinzento.
— E sem pessoas — declarou — a discutir e a maquinar, e a dizer mentiras estúpidas. Esta gente do País Livre é tão má como os adultos. Venham, procuremos um lugar bom para dormirmos.
O elefante parou em frente de uma caverna. Maxine deslizou pela tromba do elefante e espreitou.
— É acolhedor — declarou. Entrou, seguida pelos inúmeros animais, seus amigos. Um grande urso pardo estava deitado, todo enroscado no chão da caverna.
Maxine aproximou-se lentamente do urso e aconchegou-se no pêlo macio. Era o seu favorito, muito quente e fofo. Fazia-lhe lembrar o pai.
— Não me come, não é? — perguntou ao urso.
O urso não respondeu por palavras — nunca falava —, mas fazia sons suaves, reconfortantes, fanhosos.
— Sei que às vezes come carne — disse Maxine —, mas não precisa. É esperto — pode escolher. Sabe que eu também tenho de escolher. Tenho de decidir se fico aqui ou se volto para casa.
— Adoro o País Livre. É o único lugar onde me sinto realmente bem — pensou em voz alta. — Mas, às vezes, desejava que fosse ainda mais perfeito do que é.
Suspirou.
— Quando Jack Coelho me disse que precisavam muito de mim aqui, pensei que todas as outras crianças viriam e aprenderíamos a salvar o mundo. Mas ninguém sabe o que está acontecendo, e eu estou outra vez confusa.
Sabia uma coisa, porém. Não confiava em Jack Coelho. Nem um pouco.
Tim sentou-se no canto do clube. Como é que aqueles garotos me tratam como um convidado de honra e depois me tratam como um prisioneiro? A corda de pular, presa em volta dos pulsos, cortava, e a mordaça era realmente desconfortável.
— Não deviam tratar assim o meu namorado — censurou Suzy. Pairava no ar. Daniel atara a trela de trepadeira às costas da cadeira. Oliver estava debaixo da mesa, a fazer beicinho.
— Se tirarmos a mordaça — disse Wat —, tem de prometer, pela tua honra de mago, que não fará nenhum feitiço, nenhuma invocação ou encantamento. Jura?
Ridículo. Querem que eu jure quando tenho um lenço enfiado na boca.
— Mmph. Eu juju roro sese meme titirarem iisto.
Os garotos trocaram olhares confusos.
— Acho que foi a tentativa para satisfazer os termos — disse Kerwyn.
— Creio que tem razão — disse Wat. — Daniel, tira a mordaça.
Daniel desfez o nó atrás da cabeça de Tim, e então Tim cuspiu o lenço da boca. Argh. Sentia a boca como se fosse algodão. Distendeu os músculos do rosto e mexeu o maxilar.
— Então, vão deixar-me voltar? — perguntou Tim, assim que conseguiu abrir a boca.
— Neste momento, Timothy Hunter — disse uma voz atrás dele —, não podemos mandá-lo para casa mesmo que quiséssemos.
Tim virou-se e viu que outro menino trepara para a casa em cima da árvore. Estava vestido como Kerwyn e parecia ter quase a mesma idade.
— Quais são as novidades, Aiken Drum? — perguntou Wat.
— Os portões no lado de fora do País Livre fecharam-se — disse Aiken Drum. — Trouxemos tantos no mês passado que ele não pode albergá-los. Falta-lhe poder.
— Quem é ele? — perguntou Tim. Havia mais alguém com quem tivesse de se preocupar?
— O País Livre — explicou Wat. — Tem espírito, alma, coração como qualquer ser.
— Isso explica o motivo por que me rasteirou! — exclamou Daniel.
Todos se viraram para olhar para ele.
— Ia a correr — explicou Daniel — e, pela primeira vez, tropecei num ramo e caí. Geralmente, o País Livre afasta essas coisas do caminho.
— Foi por isso que ele não pôde consertar a minha boneca? — perguntou Suzy a Tim.
— Talvez — disse Tim. E deve ter sido por isso que senti como se batesse numa porta invisível, quando fiz o último jogo da macaca, concluiu Tim. Porque saltei de encontro ao portão fechado.
— Ele enfraqueceu realmente — disse Kerwyn, com tristeza. Wat aproximou-se de Tim.
— Não sente o sofrimento dele, Tim Hunter? A sua angústia?
Tim olhou para o garoto maneta e encolheu os ombros.
— Não. Mas acredito na sua palavra.
O coelho gigantesco curvou-se sobre Tim e agarrou-o pelo peito da Camiseta, com umas enormes patas cor-de-rosa.
— Está a fazer pouco do conselho, garoto?
Era muito difícil levar a sério uma ameaça feita por um coelho com tamanho fora do normal.
— Não propriamente — replicou Tim. — Está? Quero dizer, vestido como aquele...?
O coelho levantou uma pata como se fosse bater em Tim.
— Jack Coelho — disse Wat, num tom duro —, para trás.
O coelho largou Tim e foi para o outro lado da sala, aos pulos.
— Se ajuda, acredito — disse Tim. — O mundo está morrendo e agora não podem nos mandar de volta. Por isso, de que vale ficar aqui?
— O País Livre tem sido o nosso lar e o nosso refúgio durante muitos, muitos anos — explicou Aiken Drum. — Mas sabíamos que éramos privilegiados. Fomos salvos e amados. Porque fomos escolhidos para sermos resgatados, não sabemos.
Wat interrompeu a história.
— Mas no Mundo Mau, de onde viemos, as crianças estavam sendo maltratadas, passavam fome, eram mortas. Como podíamos viver se a nossa salvação não podia ser universal? Assim, fomos nós que resolvemos salvar todas as crianças do Mundo Mau.
— Todas têm histórias como as nossas — disse Kerwyn — de abusos, de negligência.
Tim levantou as sobrancelhas.
— Todas? Não me parece. — Pôs as mãos nas ancas. — Não podem me dizer que aquelas quarenta crianças de Brighton tinham uma história de horror. E daquilo que sei do Oliver — apontou o polegar para debaixo da mesa —, são os pais que precisam de refúgio.
Os olhos de Wat estreitaram-se.
— Criamos um mundo para crianças. O lugar delas é aqui.
— Mas — começou Tim. Então, percebeu que Jack Coelho e Daniel olhavam para ele, com ar furioso. Decidiu deixar Wat continuar a explicação.
— Está bem, continue.
Wat acenou com a cabeça.
— Quando começamos a trazer os refugiados, tornou-se evidente que o País Livre não podia sustentá-los.
— Foi então que vocês apareceram — disse Daniel. — Jack Coelho obteve uma lista das crianças mais poderosas que havia em cada um dos universos que estava em contato com o nosso. Então, partimos para trazelos para cá.
— Porquê? — perguntou Suzy.
— O País Livre precisa de poder — disse Kerwyn. — Cada um de vocês tem poder. O poder de que necessitamos para alimentar e salvar o país.
— Conheceram Maxine, que vive com os animais — disse Wat. — Ela deu-nos o poder de curar e continua a ajudar-nos.
— Como vocês também farão — disse Wat.
— E se não quisermos dar-lhes nenhum dos nossos poderes? — perguntou Tim.
— Os espelhos farão o que devem, quer queiram, quer não. — Wat fez sinal a Daniel e Katherine, a garota Peter Pan. Retiraram uma grande peça de veludo preto de um espelho alto, esculpido e de corpo inteiro. Rodaram o espelho até ao lugar onde Suzy estava amarrada.
— Vão fazer-me mal? — gritou Suzy. Virou-se e rogou a Tim.
— Timmy, por favor, não deixe que me façam mal.
Tim preparava-se para se dirigir a ela, mas foi detido por Kerwyn e Jack Coelho. Olhou fixamente para o espelho, tentando perceber o que estava acontecendo. Tanto quanto sabia, absolutamente nada.
— Não dói, Suzy — garantiu Wat à menina-planta. — Vê, já foi.
Suzy flutuou suavemente até ao chão. Parecia fraca e pálida.
— Tim, tiraram-me qualquer coisa — gemeu. — Havia uma coisa dentro de mim que já não existe.
— Lamento — sussurrou Tim. Lembrou-se como se sentiu quando a mãe morreu e pensou que Suzy devia estar sentindo algo semelhante. Por que não usar os poderes mágicos quando precisava realmente deles?
— Agora, você Tim — ordenou Wat. Tim abanou a cabeça.
— Seus trastes. São todos doidos varridos.
— Talvez sejamos. Mas podemos salvar as crianças do teu mundo e podemos salvar as nossas.
São mesmo loucos, pensou Tim.
— Mas ainda agora disseram que o País Livre não é suficientemente forte para proteger as crianças que tem. Como vai proteger os milhões de crianças de...
— Basta! — berrou Jack Coelho. — Não podemos ficar pairando, enquanto o nosso mundo morre e as crianças do seu mundo ardem e gritam e morrem!
— Tim, isto não dói nada — garantiu-lhe Kerwyn. — Apenas se sentirá um pouco cansado durante algum tempo. Precisamos do teu poder.
Ninguém ouve nunca, não é?
— Não tenho poder! — berrou. — Não sou mágico, sou apenas eu!
— Mostrem-no ao espelho! — gritou Jack Coelho.
Os garotos rodearam-no, prendendo-lhe os braços, puxando-lhe as pernas. Tim lutou contra eles, mas estava em desvantagem. Empurraram-no para a frente do espelho. Tim fechou os olhos, com força, sem saber o que aconteceria. Imobilizaram-no. Passou um momento.
— Não devia acontecer qualquer coisa? — Tim ouviu Daniel perguntar.
Os olhos de Tim abriram-se de repente, e enfrentou o reflexo. Apenas se viu no espelho — um menino de Londres, normal, confuso, um pouco sujo de lama. Cruzou os braços sobre o peito.
— Vêem?
— Mas não entendo — disse Kerwyn.
— É o mágico famoso — disse Wat.
— Disse-lhes que não sou mestre nenhum! — resmungou Tim. — Ainda tenho que descobrir quem sou.
Jack Coelho afastou os outros garotos para ficar ao lado de Tim e olhar para o espelho.
— Mas tem de dar certo — disse ele. — Não entendo! — Agarrou os ombros de Tim com as patas grandes e abanou-o. — Você era a força para abrir os portões grandes. Para trazer todas as crianças para cá. Você era a força!
Os olhos de Tim arregalaram-se. Aquele não era apenas um coelho — também não era uma criança comum. E queria tanto que aquilo desse certo que o enorme coelho estava obcecado.
Então percebeu tudo — era um truque. Estavam usando-o, como todos aqueles que encontrara desde que descobrira a magia. Não queria saber qual era a sua suposta causa. Eles não tinham nenhum direito. Nenhum direito!
— Olha para o espelho! — gritou Kerwyn.
Tim olhou para a imagem refletida. O próprio espelho brilhava, e sentiu um poder extraordinário a irromper dentro dele. Era como se uma corrente elétrica passasse entre ele e a imagem.
A raiva apoderou-se dele e, nesse instante, o espelho cintilou com mais intensidade — mais força — até cegar.
Estou farto de ser manipulado! Como se atrevem a enganar-nos! Não posso crer que fizeram mal à Suzy. O que estão fazendo é uma violação. Este bando é tão mau como os adultos de quem tentam fugir.
Ele ouviu os guinchos e os uivos de dor à sua volta. Sentia o assoalho por baixo dos pés a tremer, como se tivessem sido apanhados num tremor de terra, mas nunca desviou os olhos do espelho, nunca quebrou a ligação com ele próprio.
Ouviu arfadas atrás dele, e percebeu que os garotos no clube já não viam a sua imagem no espelho. O que viam era a destruição do País Livre. Abriram-se abismos e animais aterrorizados fugiam das fendas. Árvores eram projetadas para o ar, como se fossem cuspidas pela própria terra. A relva irrompeu em chamas.
— Timothy! Pára! — gritou Katherine.
— Não sente os gritos do País Livre? — berrou Wat, mais alto do que os bramidos ensurdecedores. — Por favor, pára, por ele!
— Alguém faça alguma coisa! Por favor! Está a destruir este mundo!
— Suzy, detenha-o! — berrou Kerwyn.
— Matem-no! — ordenou Jack Coelho. — Alguém que o mate!
Tim viu a terrível devastação refletida no espelho, sem saber se era ele que fazia com que aquilo acontecesse. Era como se o País Livre estivesse a entrar em erupção.
Ouviu a voz de Suzy a sussurrar no ouvido.
— Basta.
Se estou fazendo isto, percebeu Tim, posso parar. E estendeu a mão e tocou na imagem no espelho.
Silêncio.
Na verdade, Tim pensou que nunca ouvira um silêncio tão alto em toda a vida.
Se aquilo é um espelho, o que se refletia à minha volta?, interrogou-se Tim. Deu um passo atrás e percebeu que se sentia muito cansado. Sentou-se bruscamente no chão. Suzy enroscou-se no seu colo.
Seja lá o que for que eu fiz, usei uma voltagem fortíssima, concluiu Tim. A magia pode ser assim.
Até aquele momento, nenhuma das crianças no clube se mexera ou proferira uma palavra. A única que ainda estava de pé, na verdade, era Jack Coelho. Os outros tinham caído ao chão.
— Tu... tu — gaguejou Jack Coelho. Avançou para Tim, com os olhos brilhantes de fúria.
Tim achava que não ficara com energia para lutar. Afastou Suzy e levantou-se, cambaleante.
— Pagará por isto! — gritou Jack Coelho. Levantou a pata. Mas antes que pudesse bater, criaturas de luz cintilante tremeluziram entre Tim e o coelho.
— Os Cintiladores! — exclamou Daniel, espantado. — Nunca os vi abandonar o lago.
— Está feito — disseram os Cintiladores. Mas as bocas não se moveram, e as palavras soaram mais como notas musicais do que qualquer língua que Tim ouvira. No entanto, compreendeu o que diziam. Lançou um olhar pelo clube. Era óbvio que todos compreenderam.
De certo modo, Tim soube, ao olhar para os belos espíritos, que eram as manifestações do coração e da alma do próprio País Livre. Eram lindos.
— Terminou — disseram os Cintiladores. — O território está danificado, mas sobreviverá.
Tim sentiu-se aliviado. Não queria ser responsável por uma devastação permanente.
— Teriam usado Timothy Hunter para fornecer energia ao mundo? — perguntaram os Cintiladores. — Também podiam tentar usar o calor do Sol abrasador para torrar o pão ou tentar forçar o oceano a entrar num balde.
— O que se passa? — sussurrou Suzy.
— Creio que vamos encontrar um caminho para regressarmos — disse-lhe Tim.
— A maioria das crianças que foram trazidas nos últimos meses já regressam aos mundos de onde vieram. Aquelas que decidirem ficar, podem ficar. Maxine encontrou o seu lugar aqui com os animais que adora. O País Livre já começa a tomar forma de novo.
Tim pôde sentir o alívio na sala.
— Continua a ser um refúgio — prometeram os Cintiladores —, mas não pode ser um refúgio para todos. Receberá os refugiados, como fez no passado... uma leva de cada vez. Os seus portões serão mais uma vez poucos e difíceis de encontrar.
Tive bastante dificuldade em encontrá-los, pensou Tim. Pelo menos, quando tentava sair.
— Mas... o nosso plano — disse Kerwyn. — Queríamos manter as crianças em segurança.
— Devem ter percebido que nem todas as crianças precisam de ser salvas — censuraram os Cintiladores. — Como não perceberam? Aqui há almas infelizes, e isso também enfraqueceu o País Livre.
— Era precisamente isso que tentava explicar-lhes — disse Tim aos Cintiladores.
— Mas não entendo — disse Wat. — Disseram-nos que o Mundo Mau não é um lugar seguro para as crianças. Para nenhuma criança.
— É ainda pior do que no nosso tempo — acrescentou Aiken Drum. — Jack Coelho disse isso.
Os Cintiladores interromperam-no.
— Vocês são as vítimas de uma fraude.
— Não ouçam o que eles dizem — berrou Jack Coelho. — Eles não sabem nada. São apenas formas de luz insignificantes. Nem sequer são reais.
— Oh, somos reais — garantiram-lhe os Cintiladores. — Só que você não é.
Os Cintiladores dançaram em volta de Jack Coelho e, nesse instante, ele mudou de forma. O grande coelho cor-de-rosa transformou-se num homem, com ar esgazeado, macilento, com a toga de monge.
— Você?! — berrou Aiken Drum. — Você atraiu-nos para o interior do barco! Por causa de ti, a minha irmã pereceu nas areias e Yolande morreu! — Precipitou-se para o monge.
— Não se aproxime! — O homem atravessou rapidamente a sala e transpôs a entrada de um salto.
Tim correu atrás dele para ver se o homem morrera com a queda. Sabia que estavam bem no alto da árvore. Aiken Drum pôs-se ao lado dele. Não havia ninguém no solo. Tim esticou o pescoço em todas as direções. Ele não foge para lugar algum.
— Para onde foi? — perguntou Aiken Drum.
— Ponho-o a bordo de uma jangada num instante! — gritou uma voz por cima deles. — Espere um pouco mais, cavalheiro.
Tim olhou para cima, por entre os ramos da enorme árvore. Ficou de boca aberta.
Um barco à vela — completo, com mastro, velas e um cesto da gávea, flutuava no céu. O monge estava pendurado numa corda suspensa numa das vigias. Um adolescente, com cabelo ruivo, estava debruçado na borda, com uma mão no leme.
— Eu disse que faria uma porcaria. — Junkin Buckley riu-se alto.
— Deixem-nos tentar fugir — disseram os Cintiladores atrás de Tim e Aiken. — O País Livre consertará as coisas. Não haverá sangue nas vossas mãos. Mas não tenham medo, nem o corruptor nem o corrompido escaparão. Tudo está a salvo uma vez mais.
— Mas os nossos planos... — protestou Wat.
— Não. — Os Cintiladores eram persistentes. — Terminou. — E, com isto, desapareceram.
Tim voltou para junto do resto do grupo.
— Quem era aquele disfarçado de coelho? — perguntou. Kerwyn e Aiken Drum lançaram um olhar triste um ao outro. — Nós já o vimos antes — disse Aiken Drum. — No nosso tempo, ele era monge, que pregava às crianças para se juntarem às cruzadas.
Kerwyn abanou a cabeça.
— Pensar que descobriu o caminho até aqui. E continua a ganhar dinheiro com a venda de crianças.
— Fracassamos — disse Wat, com ar pesaroso.
— Não. O País Livre ainda está vivo — disse Aiken Drum. — E é tudo o que nós podemos desejar.
Tim espreitou outra vez pela porta do clube. Os Cintiladores tinham razão. O campo já se restaurava. As fendas no solo fechavam-se e as árvores endireitavam-se. Respirou fundo.
— Tim, sinto-me esquisita — disse Suzy. — Parece que uma coisa está me puxando. Tim. Por favor, segura a minha mão.
— Com certeza. — Prendeu as duas mãos. Olharam um para o outro, enquanto ela se ia tornando cada vez menos substancial. Por fim, desapareceu por completo.
— Adeus, menina — murmurou ele. Suzy fora meiga, quase como uma irmã.
Tim também se sentia esquisito, como se as entranhas fossem levemente puxadas, mas as partes exteriores não cooperavam.
— Creio que chegou o momento de partir — disse Tim. Aiken Drum aproximou-se de Tim, com a mão estendida.
Tim apertou-a.
— Você fez uma boa ação aqui, Tim — disse Aiken Drum. — Salvou-nos. E não apenas a nós... salvou aqueles que ainda precisam do País Livre no futuro. Vai, sabendo que protegeu um santuário para inúmeras crianças.
Tim sentiu um rubor no rosto. Não sabia bem se era do prazer de ouvir as palavras de Aiken Drum ou se tinha a ver com o fato de estar a torna-se imaterial. Tudo estava ficando toldado, quando balbuciou:
— Obrigado.
Logo a seguir, percebeu que estava parado na calçada em frente da sua casa em Londres.
— Então, o País Livre mandou-nos para casa — disse ele. — Pelo menos, penso que mandou.
Olhou à sua volta. Uh-oh. Oliver não saiu debaixo daquela mesa grande. E se os Cintiladores não perceberam que o garoto eslava lá?
Tim não sabia onde Avril e Oliver viviam, mas calculava que talvez fosse próximo do parque, onde encontrara Avril. Parecia um bom ponto de partida. Por mais que ele detestasse aquele garoto antipático, Tim sabia que se interrogaria constantemente se Oliver conseguira voltar para casa.
Dito e feito, quando Tim se aproximava do parque, avistou Avril no balanço e Oliver a fazer um buraco na terra.
— Oliver, pára de torturar essa minhoca, sua pestinha!
— Não.
— Se não parar, obrigo-o a comê-la, porco. Estou avisando. — Ela olhou para Tim. — Oh, é você outra vez.
Tim saltou para o balanço ao lado do balanço de Avril.
— Vejo que o teu irmão voltou.
Avril franziu as sobrancelhas. Talvez o mau humor fosse próprio da família, observou Tim.
— Voltaram todos — disse ela, num tom muito lamentoso. — Todos na vizinhança e no mundo inteiro.
— Bem podia agradecer. Ajudei a trazer o Oliver de volta.
— Devo agradecê-lo por isso?
Ela tinha razão. Oliver era um caso sério.
— Além disso, não teve nada a ver com isso — disse Avril. — Deu na televisão.
— O que foi? — Podia imaginar a história: Coelho Gigante convence garotos a fazerem uma cruzada a uma terra mágica. Tenta fugir num barco voador. Filme às onze.
— Na televisão, falaram em alucinações em massa. Eles foram para lá.
— O quê? Não seja pateta. Não pode ir para alucinações, não é um lugar.
— Também posso! Diz a senhora no noticiário das seis horas. — Olhou-o da cabeça aos pés. — E parece que você deveria saber, fala como se também estivesse com alucinações!
Tim, incrédulo, abanou a cabeça. Levantou-se para ir embora.
— Adeus, Oliver.
— Continua a ser um monte de cocô de cachorro.
Talvez aqueles garotos do País Livre tivessem a idéia certa, pensou Tim. Só que devia haver um lugar para onde se pudessem mandar garotos como o Oliver, para nós podermos ter um refúgio.
Tim dirigiu-se para casa, subitamente exausto. Demorou mais tempo do que era de costume, porque deu-se a caminhar com muito cuidado, evitando pisar em pequenas plantas ou relva. Quando percebeu, riu-se.
Não são a Suzy, recordou-se. No entanto, para quê pisar numa planta se não sou obrigado?
Isto fez com que pensasse nos pequenos brotos que nasciam no túmulo da mãe.
— Gostaria de saber o que serão quando crescerem.
É impossível saber. Não sabe que espécie de sementes eram. Suponho que se poderia dizer que não sei quem são os pais — temos isso em comum.
Então, parou. Tenho treze anos, ficou admirado. E já salvei dois mundos — o País Encantado e o País Livre. Bem, é uma história para contar aos seus amigos ou, pelo menos, à mais importante. Hoje não consegui contar a Molly, mas há sempre um amanhã. Gostaria de saber o que ela irá pensar. Quem poderia imaginar que seria capaz de salvar um mundo, para não falar de dois?
Afinal, talvez tenha queda para a magia.
Neil Gaiman e John Bolton
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















