



Biblio "SEBO"




VENEZA, ITÁLIA - Primavera de 1991
Com passo rápido, o padre Giuseppe Baldi deixou para trás a praça São Marcos com as últimas luzes do dia.
Como de costume, caminhou em direção à margem dos Schiavoni, onde pegou o primeiro vaporetto com destino a San Giorgio Maggiore. A ilha que aparece em todos os postais de Veneza foi, em outros tempos, propriedade de sua Ordem, e o velho sacerdote sempre a contemplava com saudade. As coisas estavam mudando muito depressa. Tudo parecia sujeito a mutação naqueles tempos instáveis. Inclusive a fé, a sua, que tinha quase dois mil anos de História nas costas.
Baldi consultou seu relógio de pulso, abriu o último botão de sua batina e, enquanto procurava um lugar livre junto à janela, aproveitou para limpar as lentes de seus pequeninos óculos de aros metálicos.
Pater noster qui es in coelis... - murmurou em latim.
Após ajeitar os óculos, o beneditino notou que o lindo horizonte da cidade das quatrocentas pontes se tingia de tons laranja.
... sanctificetur nomen tuum...
Ainda recitando sua ladainha, o padre admirava o crepúsculo enquanto dava uma discreta olhada a seu redor. "Tudo em ordem", pensou.
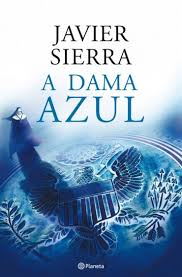
O vaporetto, o familiar ônibus aquático branco dos venezianos, estava quase vazio a essa hora. Apenas um casal de japoneses e três bolsistas da Fundação Giorgio Cini, a quem Baldi conhecia de vista, pareciam interessados em seu serviço.
Por que continuava fazendo aquilo? - perguntou-se. Por que continuava observando de soslaio os passageiros do barco das seis, como se fosse descobrir entre eles as câmeras de um jornalista? Já não estava há anos suficientes refugiado na ilha, a salvo de todos eles?
Catorze minutos depois, seu transporte deixou-o em um desagradável embarcadouro de concreto. Quando a comporta se abriu, a lufada de ar frio despertou a todos. Ninguém lhe prestou atenção ao descer.
No fundo, Baldi adorava o fato de sua vida na ilha ser tão tranqüila. Quando chegasse a sua cela tomaria banho, trocaria de sapatos, jantaria com a comunidade e se recolheria para ler ou corrigir algumas provas pendentes. Seguia esse rito desde sua chegada à abadia, dezenove anos antes. Dezenove anos de paz, é verdade. Mas sempre alerta, à espera de uma ligação, uma carta ou uma visita indiscreta. Essa era sua pena. O tipo de carga que jamais tiraria de seus ombros.
Mas Baldi esforçava-se para não cair na obsessão.
Existia uma vida mais prazerosa que a dedicada ao estudo?
O bom religioso não tinha dúvidas a respeito. Suas ocupações no conservatório Benedetto Marcello como professor de pré-polifonia permitiam-lhe a tranqüilidade que jamais havia conhecido em sua juventude. Seus alunos eram aplicados. Freqüentavam suas aulas com um entusiasmo contido, e ele lhes explicava como era a música anterior ao ano mil, salpicando suas lições de curiosos casos. Os demais professores o admiravam, até mesmo quando deixava de ministrar suas aulas absorto em alguma investigação. E os estudantes o respeitavam. Em conseqüência, seus horários acabaram se tornando os mais flexíveis do instituto. E suas aulas, as mais solicitadas.
Mas tantas facilidades nunca conseguiram distraí-lo de seus outros interesses. Eram tão discretos e antigos que raras vezes falava deles com alguém.
Baldi chegara à ilha de San Giorgio em 1972, exilado por causa da música. Ali, a Fundação Cini oferecera-lhe mais do que teria se atrevido a pedir a seu bispo: uma das melhores bibliotecas da Europa, um centro de convenções que havia sido várias vezes sede de conferências da Unesco e dois institutos consagrados à música veneziana e à etnomusicologia - ofertas que o deixaram encantado. Até certo ponto, era lógico que os beneditinos houvessem criado aquele paraíso para musicólogos em San Giorgio. Quem senão os irmãos da Ordo Sancti Benedicti poderiam cuidar com tanta devoção de tão antiga arte? Não fora, acaso, o próprio são Benedito que, ao fundar sua Ordem no século VI, assentara as bases da moderna ciência musical?
Baldi era um expert na matéria. Ele, por exemplo, havia sido o primeiro a notar que a regra de são Benedito, a única que obrigava a oito serviços religiosos diários, baseava-se totalmente na música. Era um segredo fascinante. De fato, cada um dos "modos" que ainda hoje são utilizados na composição das melodias musicais havia inspirado as orações que seus irmãos recitavam diariamente. Baldi demonstrara que as matinas (a oração das duas da madrugada, no inverno) tinham correspondência com a nota dó. Que as laudes, ao amanhecer, eqüivaliam ao ré. Os ofícios da hora primeira, terça e sexta - às seis, nove e meio-dia ao mi, fá e sol. Que a hora de mais luz, a nona, às quinze horas, "soava" como lá, e as vésperas, ao pôr-do-sol, como si.
Esse era o tipo de lição que o havia tornado famoso. "Horas e notas estão relacionadas!", dizia com veemência a seus alunos. "Rezar e compor são atividades paralelas! A música é a verdadeira linguagem de Deus!"
Mas o veterano Baldi guardava mais achados sob sua batina. Suas teses eram deslumbrantes. Acreditava, por exemplo, que os antigos não somente conheciam a harmonia e a aplicavam matematicamente a sua música como também que esta era capaz de provocar estados alterados de consciência que permitiam a sacerdotes e iniciados do mundo clássico acessar porções "superiores" da realidade. Sua idéia polemizou durante décadas com outras que defendiam que essas sensações de elevação espiritual sempre haviam sido alcançadas graças a drogas alucinógenas, cogumelos sagrados ou substâncias psicotrópicas.
E como usavam a música? Baldi explicava quando a conversa se animava. Admitia que, para os sábios do passado, bastava desenvolver uma sintonia mental adequada para receber informação do "além". Dizia que, nesse estado, bruxos e místicos podiam reviver qualquer momento do passado, por mais remoto que fosse. Em outras palavras, segundo afirmava, a música modulava a freqüência das ondas do cérebro e estimulava centros de percepção capazes de navegar no tempo.
"Mas esse conhecimento", explicava resignado, "foi perdido".
Muitos questionavam as idéias vanguardistas do padre Baldi. Porém, as polêmicas jamais avinagraram seu rosto jovial e amistoso. Sua cabeleira de prata, seu porte atlético e seu olhar franco conferiam-lhe um halo de conquistador irresistível. Quase ninguém reparava em seus 65 anos. De fato, não fosse por seu voto de castidade, Baldi teria partido o coração de muitas alunas. E o de suas mães.
Naquele dia, alheio ao que estava prestes a lhe acontecer, Baldi entrou no convento com o sorriso e a pressa de sempre. Mal notou que o irmão Roberto o esperava na porta com cara de quem precisa contar alguma coisa.
GRAN QUIVIRA, NOVO MÉXICO
362 ANOS ANTES
Sakmo caiu de joelhos, espantado. Seu corpo bem torneado desabou assim que as trevas se apossaram de seu ser. Por mais que abrisse os olhos e os esfregasse, o guerreiro era incapaz de captar uma simples fresta de luz. Uma visão indescritível acabara de deixá-lo cego. Estava no escuro, sozinho, às portas da rocha sagrada de sua tribo. E esse terror íntimo que havia apagado seu olhar impedia-o, também, de gritar.
Jamais, em todas as suas noites de guarda, havia enfrentado nada semelhante.
Nada.
Tateando, sem se atrever a dar as costas ao fulgor que o acabara de ofuscá-lo, Sakmo fugiu da entrada do Cânion da Serpente. Nunca devia ter se aproximado dele. O nicho que servia de porta para o coração do cerro estava amaldiçoado. Todo seu clã sabia disso. Em seu ventre haviam sido enterradas cinco gerações de xamãs, bruxos, curandeiros que diziam que aquele era o único lugar da região onde era possível se comunicar com os espíritos. Era, pois, um lugar temível. Por que havia se deixado levar até ali, pensava então. Que diabos o havia atraído até a meia-lua de pedra dos iniciados se sabia dos perigos que o aguardavam? Além do mais, essa rocha não ficava longe do perímetro que devia vigiar?
Ainda faltavam três horas para o amanhecer. Três horas para que o substituíssem em seu posto. Ou para que o encontrassem morto. Mas Sakmo ainda arfava. Respirava com dificuldade. Nervoso. Impressionado. Vivo. E com uma torrente de perguntas inundando sua mente.
Que tipo de luz é capaz de derrubar com um único golpe um guerreiro jumano? Um raio? Será que uma centelha pode esconder-se na pedra e atacar um adulto? E depois? Ela se lançaria sobre ele e o devoraria?
A sentinela não conseguia parar de pensar. Só deixou de fazê-lo quando, em meio a sua torpe fuga, percebeu que a pradaria havia ficado muda. Não era um bom presságio, pensou. Foi quando sua mente entrou no perigoso terreno da irracionalidade. Aquela luz estaria se aproximando? Sua fresca lembrança o intimidou. O fogo que o havia deixado no escuro parecia saído das ventas de um monstro. Uma besta mágica capaz de arrasar a pradaria apenas respirando sobre ela. As profecias de sua tribo falavam de um fim do mundo assim. Diziam que seu universo logo seria destruído pelas chamas e que um imenso fulgor precederia a destruição de toda forma de vida. O catastrófico colapso do Quarto Mundo.
Se aquilo que havia surgido no desfiladeiro era o sinal do fim, nada nem ninguém o poderia impedir.
Que faria ele?
Valia a pena correr e dar o alarme?
Mas como?
Cego?
Sakmo surpreendeu-se com tão covardes pensamentos. Um segundo depois, seu cérebro os interpretou: o intruso não se parecia com nada de que já tivesse ouvido falar. A bolha iridescente que havia atingido seus olhos surgira da fenda maldita sem avisar. Sua luz queimava e era muito veloz. O que se podia fazer contra um inimigo assim? Que outro guerreiro conseguiria detê-la? Não seria melhor se sua mulher, sua filha Ankti e sua gente morressem sem sequer acordar? E ele?
Ankti - sussurrou.
Em trevas, sufocado por aquele silêncio absoluto, o guerreiro deteve seus passos e voltou-se para a rocha que acabara de deixar para trás. Se ia morrer, meditou em uma fração de segundo, pelo menos seria como um homem honrado. Em pé. Encarando o verdugo. Talvez alguém o recordasse, no futuro, como a primeira vítima do Monstro do Final dos Tempos.
Foi exatamente quando aconteceu.
O guerreiro não esperava.
Cinco sílabas - apenas cinco -, pronunciadas muito devagar, quebraram o pesado mutismo da planície. Procediam de uma garganta doce, amiga. Seu murmúrio parecia brotar junto ao ouvido do guerreiro. Inexplicavelmente, aquela voz, aquela força da Natureza, chamou-o pelo nome:
Es-tás bem, Sak-mo?
A pergunta, entrecortada, mas formulada em perfeita língua tanoan, deixou-o paralisado. A sentinela enrugou a testa e, por instinto, pôs a mão no machado de obsidiana que carregava na cintura. Teria imaginado aquilo?
Sakmo havia sido treinado por seu pai, Gran Walpi, chefe do assentamento de Cueloce, para ter cuidado com os vivos. Não com os mortos.
Sak-mo...
A voz chamou-o ainda com mais força.
Mortos?
A lembrança de seu velho progenitor fê-lo apertar os dentes e se preparar para defender sua vida com as armas. Fosse deste mundo ou do outro, a luz falante não acabaria com ele sem deixar algo de seu ser sobre aquela areia vermelha.
Sakmo...
Enquanto ouvia a voz trêmula pela terceira vez, seu machado rasgou o ar traçando um círculo defensivo a sua volta. Continuava cego. "Adeus, Ankti. Amo você." Fosse quem fosse que o estava chamando, encontrava-se junto a ele. Podia sentir sua respiração. Seu insuportável calor. E, morrendo de medo, com a arma tremendo na mão esquerda, o único homem de guarda do povoado ergueu o rosto para o céu aguardando a chegada do inevitável. Abriu seus olhos avermelhados e, ao forçar a vista para a escuridão do céu, percebeu uma figura, grande como um totem, que se lançava sobre ele. Um obscuro pensamento cruzou sua mente: era uma mulher! Um maldito espírito feminino ia acabar com sua vida!
Por uma dessas ironias da vida, anos antes, naquele exato lugar, junto ao poço de Cueloce, seu pai o havia preparado para morrer. Morrer lutando.
LOS ANGELES, CALIFÓRNIA
PRIMAVERA DE 1991
— Está me dizendo, então, que esse sonho se repete sempre?
A doutora Meyers inclinou-se sobre o divã em que sua paciente descansava, buscando seu olhar. Jennifer Narody freqüentava havia dois dias seu luxuoso consultório da rua Broadway, no bairro financeiro da cidade, com um quadro de ansiedade que não melhorava. Linda Meyers estava desconcertada: em sua ficha, constava que a senhorita Narody era uma mulher de 34 anos, saudável, apaixonada por esportes, sem antecedentes familiares de doenças psiquiátricas, equilibrada, de boa posição econômica e, ainda, atraente. Nunca havia sido casada, não tinha relacionamento estável algum nem parecia carente, e se dava bem com seus pais. Era, aparentemente, uma mulher sem graves problemas.
Tive esse mesmo sonho duas vezes em três dias, sim - sussurrou Jennifer, enquanto evitava os olhos inquisitivos da psiquiatra e jogava sua cabeleira negra para trás. - Não é um pesadelo, sabe? Mas, cada vez que vou dormir, penso que vai se repetir. E me preocupa.
Quando o teve pela última vez?
Ontem à noite! Por isso vim vê-la tão cedo. Ainda posso vê-lo...
Está tomando o remédio que lhe receitei?
Sim, claro. Mas o Valium não fez efeito. O que não entendo, doutora, é por que a imagem dessa mulher luminosa não para de me obcecar. Sabe o que quero dizer? Vejo-a por todos os lados. Preciso tirá-la da cabeça!
Sonhou mais vezes com ela?
Sim.
Está bem. Não se preocupe - acalmou-a enquanto rabiscava com suas grandes mãos negras algo em uma caderneta. - Encontraremos o modo de vencer esse sonho recorrente. Está assustada?
Sim, doutora. E preocupada.
Diga-me: teve alguma experiência traumática recente, como um acidente de trânsito, a perda de uma pessoa querida...? Algo que possa ter criado ansiedade ou ser motivo de depressão?
Jennifer fechou os olhos, encheu o peito e expirou todo o ar de seus pulmões como se tentasse encontrar a resposta correta dentro de si. Notava um doloroso vazio no estômago. Ainda não havia tomado o café-da-manhã.
Ansiedade? - repetiu. - Bem, voltei de uma longa temporada na Europa há apenas algumas semanas. Assim que cheguei a Los Angeles, esses sonhos recomeçaram. E, desta vez, com tanta clareza e insistência que não hesitei em vir vê-la. No início, achei que era coisa da mudança de horário, de hábitos, entende?
Recomeçaram? Quer dizer que já havia tido antes sonhos parecidos?
Já lhe disse, doutora. Há anos sonho com esses índios e essa misteriosa mulher de luz. E não sei por quê!
Diga-me, Jennifer, em que parte da Europa esteve?
Em Roma. Conhece a cidade?
Roma? A Roma de César, dos papas, da massa, do vinho frascati? Não queria mais nada! É um de meus sonhos, sabe?
Ah, sim?
Pois é. Mas meu marido é argentino, de antepassados galegos, e cada vez que viajamos para a Europa sempre ficamos na Espanha. Em La Coruna. Os avós dele eram de lá. Um drama!
E nunca foram até a Itália? É tão perto!
Não! - riu Linda Meyers. - Ele até me obrigou a aprender espanhol para poder me comunicar com a família dele!
Jennifer não a acompanhou. Em vez de se contagiar com o franco riso da doutora, uma profunda melancolia apoderou-se dela.
Pois é uma verdadeira pena - disse. - Roma é uma cidade maravilhosa. Suas praças, seus mercados, suas ruas estreitas de paralelepípedos, seus cappuccinos fumegantes, seu dolce far niente...
Meyers notou aquela súbita mudança de ânimo. Discretamente, anotou "Roma" em seu bloco de notas e se permitiu um segundo antes de formular a pergunta seguinte. Às vezes uma lembrança, uma paisagem servem para abrir uma brecha no eu profundo de um paciente. Talvez nessas lembranças, em alguma experiência vivida nessa etapa recém-concluída, estivesse a chave que a ajudaria a resolver aquele caso. E assim, com extrema suavidade, decidiu avançar por esse caminho.
Aconteceu algo lá que gostaria de me contar, Jennifer?
Algo? A que se refere?
Os brilhantes olhos verdes de sua paciente abriram-se totalmente.
Não sei - respondeu a doutora. - Diga-me você. Às vezes, os sonhos repetitivos nascem de pequenas obsessões, tarefas que deixou inconclusas; em suma, de preocupações que sua mente tenta superar por todos os meios a seu alcance.
Ocorreram muitas coisas desse tipo em Roma, doutora. Deixei muitas coisas inconclusas na Itália.
Conte, então.
Jennifer procurou os olhos escuros de sua psiquiatra. Seu olhar franco, emoldurado por um grande rosto de pele queimada e ornamentado por um cabelo cacheado preso em um primoroso rabo-de-cavalo, havia lhe transmitido confiança desde o primeiro dia. De fato, apenas olhando para ela, sem que articulasse uma palavra sequer, a doutora foi capaz de captar que aquela seria uma longa história.
Não temos pressa, Jennifer - sorriu. - Adoro a Itália!
- Buona sera, padre Baldi.
O sorriso afetado do porteiro de San Giorgio preveniu-o assim que cruzou a cancela do convento. Não havia um frade tão afetado em toda a cidade.
Deixei a correspondência em sua cela - anunciou o irmão Roberto. - Está com sorte. Três envelopes. E grossos.
Nada mais?
O porteiro deu de ombros.
Acha pouco, padre? São desses que o senhor sempre espera. Aqueles que os santos lhe enviam.
Baldi arqueou suas sobrancelhas incrédulo, censurando a malsã curiosidade do irmão Roberto, e precipitou-se escada acima sem dizer uma palavra. "Desses que o senhor sempre espera." O velho musicólogo tremeu. "Aqueles que os santos lhe enviam."
Espere! - o jovem frade de rosto roliço, como um querubim de Rubens, agitava um papel no ar. - Também ligaram para o senhor duas vezes esta tarde.
Quem? - perguntou Baldi no patamar da escada, com pressa.
Não disseram, padre. Era uma conferência. De Roma.
Então, que liguem de novo...
Ao chegar ao quarto, Giuseppe Baldi já havia esquecido a ligação. Viu, satisfeito, que a correspondência estava exatamente onde o irmão Roberto havia dito. Entre suas cartas despontavam, de fato, três envelopes volumosos: dois vinham de Roma e o terceiro, de uma cidade industrial do norte da Espanha. Haviam sido remetidos por "são Mateus", "são João" e "São Marcos". Eram, de fato, o tipo de pacote que sempre esperava. As cartas dos "santos".
O beneditino acariciou-os satisfeito.
Aqueles envelopes eram o único vínculo que ainda o unia a sua vida anterior. Aquela que ninguém em San Giorgio conhecia. Chegavam irregularmente, raras vezes em dobro, e nunca antes três ao mesmo tempo. Por isso, ver que seus colegas haviam coincidido na necessidade de lhe escrever levou-o da alegria ao alarme em um piscar de olhos.
Mas ali havia algo mais. Outra poderosa razão para sobressaltar-se. Era uma carta de cor sépia com o inconfundível escudo em relevo da Secretaria de Estado de Sua Santidade. Havia sido selada dois dias antes na cidade do Vaticano e tinha carimbo de urgente. Baldi afastou os pacotes dos santos e concentrou-se naquela missiva.
A Santa Sé? - murmurou, recordando as duas ligações de Roma.
Temendo o pior, o padre Baldi apalpou o envelope antes de abri-lo. Quando o fez, um grosso papel oficial caiu em suas mãos:
Caro San Lucca. Deve interromper imediatamente toda e qualquer investigação. Os assessores científicos de nosso Pontífice reclamam sua presença em Roma para esclarecer os pormenores de sua última indiscrição. Não atrase sua visita além do próximo domingo. Entre em contato com a secretaria da Congregação para a Doutrina da Fé ou com o Instituto de Obras Exteriores. Eles lhe darão mais detalhes."
Assinava um improvável: "Cardinale Zsidiv".
Quase não conseguia respirar. Era quinta-feira! E queriam vê-lo em Roma antes do domingo!
No entanto havia algo pior que a pressa. Se sua memória não falhava - e nunca o fazia -, aquela era a segunda vez em dezenove anos que o convocavam por uma "indiscrição". A primeira havia lhe custado o exílio naquela ilha veneziana. Que preço pagaria agora pela segunda?
Nesse momento, Sakmo decidiu atacar.
Mas, antes que o guerreiro pudesse encarar sua perseguidora e lhe fincar sua arma na testa, um novo resplendor tornou a deslumbrá-lo. Seus olhos mal haviam tido tempo de identificar a silhueta alta e estranha que o contemplava. E um golpe de vento, duro como madeira seca, derrubou-o de costas.
- Sak... mo - repetiu a voz.
Seu final estava próximo. Podia sentir. Sua vida se esvairia em um suspiro.
Que seria de sua família?
E de sua tribo?
O que o aguardaria do outro lado da vida?
O vale se enchia outra vez daquela misteriosa claridade, quase palpável, enquanto a sentinela afogava seus lamentos no brilho que caía sobre ele. As casas de pedra de Cueloce, próximas dali; o cemitério dos anciãos, a grande kiva, o recinto subterrâneo das cerimônias de seu clã e até mesmo as margens dos três lagos ficaram banhados por aquele fulgor azul.
Mas Sakmo não apreciou o milagre, e a sua cegueira logo se juntou um novo e doloroso sintoma. Um som vibrante, mil vezes maior que o gerado por um cardume de lagostas, acabava de penetrar seus ouvidos, mergulhando-o no desespero. Era assim que a morte o chamava?
O índio rolou pelo chão, as mãos na fronte. Pulou. Gritou. Bateu na própria cabeça com os punhos. Mas o ruído preencheu tudo. Preencheu-o.
Segundos depois, sua mente não mais resistiu. Havia esquecido quão perto sentira a presença de sua oponente. E, dolorido, o caçador perdeu as poucas forças que lhe restavam, desabando no chão.
Depois, a escuridão apossou-se de sua mente.
E também o silêncio.
Quando o ruído e a luz se atenuaram, o jovem índio estava deitado de bruços, com a pintura de seu rosto desfeita e a cabeça cravada de arranhões. Não sabia quanto tempo havia se passado. Sua cabeça doía, sentia náuseas e estava desarmado. Seu machado havia rolado a vários passos de onde se encontrava, e não se sentia com energia para apalpar o solo até encontrá-lo.
Que-rido Sakmo...
A voz que o havia aterrorizado se apossou dele; parecia vir de todos os lados. Não sabia quanto tempo havia passado ali, esperando. Mas estava vivo. Vivo!
Por que fo-ges de mim?
O filho de Gran Walpi, desorientado, não respondeu. Ainda com o rosto colado ao chão, reuniu coragem suficiente para avaliar suas possibilidades. Não tardou a descobrir uma. Sentia a pequena faca de pedra, a mesma que utilizava para desossar sua caça, cravar-se em sua cintura.
O instinto do guerreiro correu de novo por suas veias.
Fiz uma lon-ga viagem para encon-trar-te - disse a voz, cada vez menos entrecortada. - Não há nada a te-mer. Não vou te fa-zer mal.
O tom do espírito era sereno. Limpo. Falava o mesmo dialeto que ele. E fazia-o com elegância, sem pressa. Quando Sakmo quis prestar mais atenção, notou que as lagostas haviam parado de zunir e que a luz havia se suavizado, deixando-lhe uma margem razoável para entreabrir os olhos e retomar, pouco a pouco, o controle.
Primeiro foram manchas, depois sombras de perfis borrados, e, após alguns instantes, Sakmo surpreendeu-se ao distinguir uma fileira de formigas vermelhas caminhando sobre seu rosto.
Voltara a ver!
Foi quando, ao se voltar para cima, contemplou pela primeira vez, nítido, o rosto de sua oponente.
Por todos os antepassados... - sussurrou atônito.
O que tinha a sua frente era difícil de descrever: a dois palmos dele, um rosto afilado, de mulher, exatamente como havia intuído, não o perdia de vista. Parecia um junco. Firme. Reto. Tinha olhos grandes e claros. Jamais havia visto uma pele tão branca como aquela. Suas mãos eram alongadas, de dedos finos e suaves. E suas roupas eram as mais estranhas que já havia contemplado. Chamou-lhe poderosamente a atenção o manto azul-claro com que cobria os cabelos, que Sakmo advinhava serem escuros, e mais ainda a grossa corda com que sua perseguidora ajustava o vestido. A mulher sorriu, como se sentisse compaixão por ele.
Sa-bes que dia é hoje?
A pergunta deixou Sakmo confuso. O espírito a havia pronunciado sem mexer os lábios.
Lem-bras a da-ta de hoje?
O índio contemplou-a outra vez, estupefato, mas não respondeu. Não sabia o que ela queria dizer.
Ano do Senhor de mil seiscentos e vinte e nove. Demo-rei muito para encontrar-te, Sakmo. A-gora, precisas me aju-dar.
Ajudar...?
Mil seis-centos e vinte e no-ve - repetiu.
Aquele número não lhe dizia nada.
Sakmo levantou-se pouco a pouco, até que conseguiu manter-se em pé. Apalpou sua cintura em busca da faca, tirou-a com suavidade e escondeu-a atrás de seu pulso. Enquanto isso, a mulher cuja pele exalava luz parecia ter se elevado alguns palmos do chão. Sakmo, vendo-a de sua nova posição, notou que seu perfil afilado não era agressivo, mas doce. E já não lhe restava dúvida alguma: Sakmo estava diante do espírito azul das planícies. Certa vez, seu pai havia lhe falado dele.
Chegou o fim deste mundo, senhora?
A dama, sem mover os lábios, iluminou-se ao ouvir a pergunta da sentinela.
A-inda não, filho. Vim anun-ciar al-go à gente de teu povo. Mas pre-cisava de alguém co-mo tu. Sabes? Falta pouco. Muito pouco, Sak-mo.
Pouco? Pouco para quê?
Para a che-gada do Deus verda-deiro. Precisas prepa-rar tua gen-te. De-ves impedir que o san-gue corra.
O índio esfregou os olhos, esforçando-se para ter uma visão mais clara de sua interlocutora. Ainda ardiam.
Ides me matar? - perguntou, apertando sua arma.
Não.
E por que me escolhestes, então?
Por causa de teu si-nal, Sak-mo.
Meu sinal?
Veja teu braço.
Até esse momento, a sentinela não lhe havia dado importância: uma marca grená do tamanho de uma mordida de cobra, com aspecto de rosa, estava havia anos desenhada na face anterior de seu antebraço esquerdo.
É o si-nal dos que po-dem ver.
A mulher inclinou-se sobre o índio e estendeu sua mão até tocar-lhe a cabeça raspada. Um calafrio percorreu a coluna vertebral de Sakmo de cima a baixo, obrigando-o a relaxar seus braços. E a deixar cair sua faca de pedra.
Não me agre-dirás. Antes, meu filho, hei de te entregar algo - prosseguiu. - É al-go que apenas os netos de teus netos compreen-derão, den-tro de não me-nos de trezen-tos anos.
Trezentos anos?
Quase qua-tro mil luas... - assentiu. - E tu o guar-darás.
O que é?
Em breve, quando vol-tarmos a nos encon-trar, tu o receberás.
E, dizendo isso, deixou que a escuridão se apossasse outra vez das planícies.
MADRI, ESPANHA
PRIMAVERA DE 1991
- Aonde vamos hoje?
Txema Jiménez formulou a pergunta com ironia, acostumado às excentricidades de seu colega. Por via das dúvidas, já havia vestido seu casaco de explorador e enchido seus bolsos de filmes fotográficos. Sua silhueta redonda, devida a muita comida e pouco esporte, transformava-se cada vez que vestia aquele traje. Quanto ao recém-chegado - disse para si assim que viu Carlos caminhando em sua direção -, não ia aprontar de novo. Não como na semana anterior em Sevilha, quando esse filho-da-mãe o deixara a sua sorte, perdido no bairro de Santa Cruz, enquanto procurava uma loja onde comprar um filtro para a teleobjetiva. Nunca havia trabalhado com alguém tão nervoso. Nem com alguém que perdesse tanto a cabeça cada vez que deparava com algo inexplicável.
A bolsa das câmeras, uma puída mochila de náilon, companheira de mil e uma aventuras, descansava já perfeitamente equipada a seus pés. Desta vez não falhariam nem as pilhas do flash nem a provisão de filme.
Quando chegou a dois palmos de distância dele, Carlos sorriu de orelha a orelha, respondendo com outra pergunta:
Preparado para um novo mistério?
Txema assentiu:
Não falta nada - disse exibindo-se. - Desta vez, não vai ser tão fácil me fazer de bobo. O lance de Sevilha não tornará a acontecer.
Vamos, cara! Você não perdeu nada do outro mundo. Além do mais, aquele joalheiro não teria deixado você bater uma única foto. Acho que mentiu quando me disse que havia feito trezentos quilômetros em meia hora depois de seu carro ter entrado em uma neblina à altura do Castelo das Guardas.
Um teleporte?
Carlos assentiu.
E, se houvesse visto sua câmera, não teria aberto a boca. Você não sabe como são nesta cidade!
Ok, ok... - Txema lamentou-se. - E nosso próximo destino?
Hoje vamos caçar santos sudários, amigo. - Carlos examinou seu rumo enquanto bebia a grandes goles o segundo café daquela manhã, que acabara de pegar na máquina que ficava perto do banheiro.
Santos sudários? E desde quando as relíquias lhe interessam? Não era você que dizia que isso é velharia?
Carlos não respondeu.
Achei que isso a gente deixava para os estagiários...
"É curioso", pensou. Carlos Albert se fazia, havia oito semanas, aquelas mesmas perguntas. Por que sentia, de repente, essa irresistível atração pelo lado religioso, se ele não era assim? Embora agnóstico declarado, desde que voltara de sua última viagem à Itália, a sombra do Piedoso não havia parado de o perseguir. No início, não dera muita importância ao fato: algumas vezes era uma estampa da Virgem de Guadalupe, idêntica à que, quando criança, havia visto no criado-mudo de sua avó, que aparecia de repente entre as páginas de um livro. Isso bastava para que suas lembranças o arrastassem para o tempo em que tivera fé. Outras, o estímulo era uma Ave Maria de Schubert tocando na redação ou uma Imaculada de Murillo em um selo dos correios. O que queria dizer aquilo tudo? Eram sinais? E, nesse caso, de quê? Devia se preocupar porque sua atenção só se fixava nas notícias religiosas dos jornais?
Carlos era, na verdade, um sujeito singular. Aos 23 anos, pouco tempo depois de concluir seus estudos, uma precoce crise de fé afastara-o do catolicismo de comunhão e missa de domingo. Seu conflito, como todos os que são significativos, fora crescendo pouco a pouco. E explodira no dia em que quase perdera a vida em um acidente de moto. Quando sua reluzente BMW K75 metálica colidiu a 90 quilômetros por hora com um táxi que passou um farol vermelho, soube que sua vida nunca mais tornaria a ser a mesma. De repente, tudo ficou preto, vazio. Sua mente se apagou durante quinze horas, e na UTI sua memória foi incapaz de reter sequer um único estímulo. Nada. Ao acordar, pela primeira vez, Carlos sentiu-se estafado. Parecia desgostoso por ter voltado à vida. Irritado por tudo e com todos. Depois, em casa, conseguiu explicar a seus pais: além da vida... não havia luz, nem anjos tocando harpa, nem um paraíso cheio de entes queridos. Havia sido enganado. Naquelas quinze horas em que esteve morto só encontrou escuridão. Ausência. Frio. Um espaço em branco.
Mas isso havia sido uma década antes. Passara seis meses aprendendo a andar de novo, e, quando superara todas as etapas de sua reabilitação, algo muito profundo havia mudado nele para sempre.
Não era segredo que, a partir de então, Carlos havia desenvolvido uma curiosa visão da vida. Começara a se interessar pelas fronteiras, pelos fenômenos psíquicos. Acreditava que boa parte dos "milagres religiosos" respondiam a experiências mentais mal-entendidas. A ilusões da mente que um dia a ciência saberia interpretar.
Mas, em sua visão cada vez mais mecânica da realidade, também desenvolveu uma estranha certeza: a vida atrai a vida, dizia. E, como se não quisesse se desprender outra vez dela, começou a colecionar vidas alheias. Seu trabalho era a desculpa perfeita. Ser jornalista permitia-lhe banhar-se com o que outros respiravam, sonhavam ou faziam. E sua incorporação à equipe daquela revista mensal deu-lhe asas que não imaginava. Mistérios era uma publicação rigorosa, mas aberta, que havia anos reunia experiências relacionadas ao sobrenatural. Sempre colaboravam com ela cientistas com pretensões de explicar tudo, ou teólogos convencidos de que só a fé pode mitigar as dores de nossa sociedade. E, entre uma teoria e outra, o diretor da Mistérios se divertia publicando as céticas reportagens "de campo" de Carlos.
Quando voltou da Itália, o repórter conheceu um velho professor de matemática, inventor aposentado, que afirmava ter descoberto o funcionamento do universo. Quando foi entrevistá-lo, o professor explicou-lhe que a realidade que vivemos faz parte de uma máquina de precisão enorme e invisível, na qual toda ação provoca uma reação.
- Nada ocorre por acaso - dissera. - E, se algumas vezes sucedem-se a sua volta acontecimentos misteriosamente encadeados entre si, como se algo ou alguém os houvesse desenhado para você, não hesite nem um minuto: estude-os! Se conseguir encontrar a causa, terá encontrado o Deus verdadeiro, seja ele quem for. Entenderá que Deus é uma espécie de supercomputador, um Programador, e não o velho barbudo que você imaginava. Nesse dia, ainda, terá encontrado a razão de sua existência. Que coisa melhor você poderia pedir à vida?
Por estranho que pareça, aquela mensagem o convenceu.
De fato, naquela manhã, uma hora antes de seu encontro com Txema, havia ocorrido um fato desse tipo. Uma sucessão de inofensivos fatos conectados entre si, destinados a mudar o rumo do dia, haviam chamado sua atenção.
Aconteceu assim: antes de chegar ao trabalho, Carlos encontrou na rua uma curiosa medalhinha de ouro. Alguém a havia perdido, e por acaso a correntinha havia se embaraçado em um dos sapatos do jornalista. Quando, irritado, conseguiu separá-la de seus cadarços, estranhou ao ver que uma de suas faces mostrava um ícone inequívoco que ele conhecia bem: lá estava o rosto de Jesus morto, inscrito em um tecido, aguardando sua ressurreição. Alguém a havia perdido a poucos passos da redação. Mas quem?
A medalha não tinha um nome gravado, nem data, nem nada que permitisse identificar seu proprietário. Carlos colocou-a no bolso e, quando, minutos depois, se sentou a sua mesa e examinou os teletipos do dia, teve certeza absoluta de que seu achado não havia sido fruto do acaso. "Encontrada em um povoado da serra de Cameros uma das melhores cópias do Santo Sudário de Turim", dizia uma das manchetes.
O Santo Sudário?
O rosto daquela medalha não havia sido inspirado justamente em "O homem do sudário"?[1]
Não. Aquilo não podia ser uma coincidência.
Carlos, muito sério, lembrou, então, o velho matemático: ia deixar passar uma oportunidade dessas de encontrar Deus?
Pouco imaginava a que distância o levaria seu instinto dessa vez.
Então? - insistiu Txema, disfarçado de repórter de guerra, firme diante dele, encolhendo a barriga. - Para onde vamos?
Para o Norte. Logrono. Conhece as montanhas de Cameros?
Cameros? - disse o fotógrafo incrédulo. - Com este tempo?
Txema deu uma olhada pela janela da redação, preocupado.
Um céu cheio de nuvens, escuro como um mau presságio, começava a cobrir Madri, encharcando a cidade com uma chuva fina e gelada. Depois, em tom sombrio, prosseguiu:
Imagino que você ouviu o rádio, não é? A previsão da meteorologia é funesta...
Carlos não lhe deu importância. Ele também levava consigo sua pequena bolsa de viagem, com o imprescindível, e já descia a escada do estacionamento seguido de seu colega.
Tenho um pressentimento. Hoje vamos conseguir uma grande reportagem.
Um pressentimento? Hoje? - Txema protestou. - Pelo menos sabe que seu carro vai precisar de correntes, como qualquer um, acima dos mil metros? Não é que seu carro seja exatamente um quatro por quatro...
O redator, mudo, abriu o porta-malas do Seat Ibiza para guardar suas coisas. Aquele carro lhe parecia simpático. Havia atravessado metade da Europa com ele e nunca o havia deixado na mão. Por que o faria agora diante de um pouco de neve?
Não se preocupe - murmurou Carlos por fim. - Aproveite a incerteza destes dias. Costumam ser os melhores!
O diretor lhes permitia, de vez em quando, escapadas como aquela. Sabia que aqueles dois sempre davam um jeito de trazer uma boa história debaixo do braço - histórias que suavizavam suas páginas com uma profusão de rabinos, mestres sufi ou cabalistas carregados de verdades absolutas. Mas o que iriam conseguir na lúgubre sacristia de um povoado distante que valesse a pena?
Está levando correntes? - insistiu Txema.
Carlos olhou para ele de soslaio:
Que é que há? Não confia mais em mim? Acha realmente que em pleno mês de abril um pouco de neve vai poder com a gente?
Seu tom soou a censura.
Você disse... - resmungou. O fotógrafo era um rapagão corpulento, de Bilbao, pouco amigo de brincadeiras. Quando grunhia, parecia um urso ferido. - Eu o conheço bem, Carlos. Podemos acabar no topo de qualquer monte procurando uma relíquia falsa, morrendo de frio, à intempérie às duas da madrugada, e sem correntes!
- Já sei o que está havendo - uma expressão divertida esboçou-se no rosto do jornalista. - Acha que vamos perder tempo. Não é isso?
Txema não respondeu.
Está bem - suspirou Carlos enquanto acionava a chave de contato. - Deixe que lhe conte meu plano.
Os olhos do padre Baldi umedeceram de raiva.
- Un'altra volta lo stesso errore - murmurou contendo as lágrimas. - Como pude ser tão ingênuo?
Irritado, Baldi guardou a carta na sotaina. Devia ter imaginado que aquela entrevista concedida havia dois meses a um redator de uma conhecida revista espanhola voltaria a lhe dar problemas. Porque que outra coisa, além de falar com um jornalista estrangeiro, poderia ser considerada uma "indiscrição" no Vaticano?
O velho musicólogo tinha fresca aquela lembrança em sua memória: um jovem que devia beirar os trinta, estrangeiro, acompanhado de um fotógrafo que falava um italiano deficiente, apareceu na abadia com a desculpa de entrevistá-lo sobre sua peculiar atividade pastoral das quartas-feiras. Seu pretexto - isso descobriria depois - havia funcionado, e Baldi aceitara que gravasse a conversa. Afinal de contas, seu trabalho com supostos possuídos pelo diabo havia adquirido certa notoriedade nos meios de comunicação do país, e não eram poucos os que lhe pediam declarações ou entrevistas a respeito. Em 1991, o diabo estava na moda na Itália.
O beneditino era um homem cauto com esse tema. Consciente de que a maioria de seus possuídos não passava de doentes mentais ou, na melhor das hipóteses, histéricos dignos de compaixão, tentava fazer com que seus sermões reivindicassem, pelo menos, o poder curativo da fé.
De fato, tanta publicidade haviam lhe dado os semanários Gente Mese e Oggi nas semanas anteriores à visita daqueles espanhóis, e tanto eco havia recebido seu livro La Catechesi de Satana na imprensa, que não estranhara muito que uma revista estrangeira houvesse se interessado por seus exorcismos... E, claro, sua pequena vaidade levara-o a aceitar a entrevista.
Baldi percebera tarde que o repórter não se interessava por seu trabalho como "exorcista". Aquele jornalista era diferente dos outros. Quase sem querer, pouco a pouco, seu interlocutor sondara-o sobre outro assunto que ele mesmo havia cometido o erro de trazer à baila em 1972, e que o transformara, durante alguns já quase esquecidos dias, em uma celebridade na Itália.
Um assunto cuja menção, feita pelo entrevistador, causara-lhe uma estranha angústia...
"Sua última indiscrição", pensou; não podia ser outra.
Com efeito: fazia dezenove anos que seu nome tinha aparecido em letras de forma ao admitir que, naquela época, estava havia mais de uma década trabalhando em um equipamento que obtinha imagens e sons do passado. O musicólogo revelara que se tratava de um projeto de máxima envergadura, no qual trabalhava uma equipe de doze físicos estrangeiros e que contava com a aprovação da Santa Sé. De fato, o Domenica del Corriere havia sido o primeiro a divulgar as conquistas dessa máquina do tempo. Segundo esse suplemento dominical, o grupo do padre Baldi já havia sido capaz de recuperar peças musicais perdidas, como o Thiestes de Quinto Ennio, composta em 169 d.C., ou a transcrição exata das últimas palavras de Jesus na cruz.
Aquelas revelações - que Baldi julgava perdidas nas hemerotecas - estremeceram muitos, e, embora a "exclusiva" tenha corrido como rastilho de pólvora entre as agências de notícias de metade do mundo, o fato de aquele jornalista lhe perguntar de novo pela Cronovisão deixara-o estupefato.
- A Cronovisão! - Baldi sufocara um novo lamento. - Mas, como diabos...?
Suas lembranças fizeram-no cerrar os punhos. Tinha certeza de não ter fornecido nenhuma informação relevante aos repórteres. De fato, recordava ter indicado a porta de saída a eles assim que trouxeram o tema à baila.
Mas, então?
Por mais que se esforçasse, Baldi não conseguia encontrar as razões de sua "última indiscrição". Teria falado com o redator sobre os "quatro evangelistas"? Ou sobre seus últimos e surpreendentes avanços na Cronovisão? Não. Não acreditava nisso. Seu escorregão de 1972 havia lhe dado uma lição inesquecível. Naquela época, o colunista do Corriere, um tal de Vincenzo Maddaloni, havia optado por mesclar suas declarações com mentiras tão estrepitosas, como uma suposta fotografia de Jesus que nem ele nem sua equipe obtiveram jamais, mas que aquele sujeito havia conseguido sabe Deus onde. Em 1972, sua máquina era capaz de obter sons aceitáveis do passado, mas as imagens ainda deixavam muito a desejar.
Outro jornalista teria voltado a exagerar as coisas? E em que termos?
Maledizzione! - encolerizou-se.
Como se fosse um caso de vida ou morte, o beneditino arrancou os óculos, esfregou com força os olhos e enxugou o rosto no pequeno lavabo de sua cela. "Estúpido!", censurou-se. "Como não pensei nisso antes?"
Baldi guardou os três envelopes dos santos na única gaveta com chave de sua escrivaninha e voltou depressa à recepção do mosteiro. Uma vez ali, passou pelo balcão do irmão Roberto, tentando não o distrair de seu programa favorito de televisão, e cuidadosamente voltou-se para a única porta de mogno do andar. Entrou naquele aposento com determinação. Precisava de um telefone, e o escritório do abade, deserto àquela hora, oferecia-lhe o mais discreto de todos.
Pronto. Posso falar com o padre Corso? - sussurrou depois de pressionar os nove dígitos de um assinante de Roma.
Luigi Corso? In un attimo, prego - respondeu uma voz masculina do outro lado.
Baldi aguardou. Um minuto depois, uma voz familiar ocupou a linha.
Alô? Aqui é o padre Corso.
"Mateus"... - gemeu Baldi com voz entrecortada. - Sou eu.
"Lucas"! Isso são horas de ligar?
Aconteceu algo, irmão. Recebi uma carta do cardeal Zsidiv, censurando-me por nossas indiscrições. E, esta tarde, ligaram duas vezes de Roma perguntando por mim...
De Zsidiv? Tem certeza?
Sim, irmão.
E de que indiscrições o acusa? - Baldi percebeu a voz do padre Corso hesitando.
Lembra o jornalista espanhol de que lhe falei? O que veio com um fotógrafo que não parou de bater fotos o tempo todo?
Claro. Aquele que quis perguntar sobre a Cronovisão, não?
Ele mesmo. É a única coisa que me ocorre! Que tenha publicado algo que irritou os assessores do Santo Padre.
Nesse caso - Corso animou-se -, a carta se refere a suas indiscrições, não às nossas. Capito?
O tom de seu interlocutor havia se endurecido. O professor de música sentiu-se admoestado. Sabia que, ligando para ele sem a permissão expressa do coordenador do projeto, Baldi estava comprometendo aquele homem.
Está bem, Corso - admitiu -, minhas indiscrições... A má notícia é que me chamaram na cittá para prestar contas antes de domingo. E, você sabe - prosseguiu -, não gostaria que cancelassem nosso projeto agora.
Também não creio que Zsidiv queira.
Porém, se decidirem abrir um processo, temo que possa sofrer um novo atraso. Ninguém em Roma conhece a fundo sua implicação nesta investigação; todos os relatórios foram enviados em código, e creio que você poderia seguir com o projeto sem me informar de seus progressos. Agora, no entanto, seria perigoso que o fizesse.
Corso - ou melhor, "são Mateus" - emudeceu.
Você me ouviu?
Sim, "Lucas"... Mas já é tarde para o que está sugerindo - murmurou seu interlocutor com voz cansada.
Que quer dizer?
Um gorila do Santo Ofício ligou ontem à noite. Pôs-me a par do que pretendem fazer conosco e advertiu-me de que já perdemos o controle sobre nossas descobertas. Precisam de nossos avanços para aplicá-los a assuntos da Igreja. E não parece que tenhamos escolha.
O padre Baldi desabou.
Ligaram do ioe? Da Congregação para a Doutrina da Fé? - sussurrou.
O IOE, ou Instituto para Obras Exteriores, era a "agência vaticana" que coordenava os Serviços Secretos do papa com o antigo Santo Ofício. Seus tentáculos chegavam a todos os lugares. Quando Luigi Corso assentiu, Baldi soube que haviam perdido a batalha.
Então sim, irmão. É tarde demais...
O beneditino deixou-se cair sobre os cotovelos, segurando com a mão esquerda o fone.
Dio mio! - gemeu. - E não há nada que possamos fazer?
Venha a Roma, "Lucas" - disse o padre Corso, tentando animar seu colega -, e resolva este assunto pessoalmente. Além do mais, se quiser um bom conselho, não torne a falar deste projeto em público. Lembre o que aconteceu da primeira vez que deu com a língua nos dentes: Pio XII classificou a Cronovisão como riservattisima, e, embora o papa João tenha afrouxado a mordaça depois, as coisas não voltaram a ser as mesmas para nós.
Vou me lembrar disso... - assentiu. - Obrigado. A propósito, ainda não abri o envelope que me mandou. O que contém?
Meu último relatório. Nele, detalho como depuramos nosso sistema de acesso ao passado. O doutor Alberto obteve, semana passada, as freqüências que faltavam para conseguir vencer a barreira dos três séculos. Lembra?
Lembro. Você falou muito do trabalho desse doutor Alberto. E então...?
Um sucesso absoluto, "Lucas". Absoluto.
Durante as cinco horas seguintes, Carlos e seu colega dirigiram de Madri até o sopé da serra de Cameros sem prestar muita atenção ao trânsito ou a uma chuva que pouco a pouco foi se transformando em neve. A pátria do vinho de Rioja, áspera em seus cumes e suave em seus vales, reservava-lhes um enigma incerto. Carlos aproveitou suas horas de direção para explicar a seu fotógrafo o curioso achado da medalha, e como aquilo o havia feito recordar o muito que sabia sobre o Santo Sudário. Seu período de estágio em uma revista católica de Madri não havia sido em vão.
O pior foi quando, em 1988, uma equipe de cientistas datou a suposta mortalha de Cristo entre os séculos XIII e XIV - explicou. - Você não imagina o abalo que aquele anúncio causou! O carbono-14 não deu margem a dúvidas: o Santo Sudário era uma fraude.
Txema olhava para ele sem dizer nada.
Lembro que nosso diretor procurou, desesperado, argumentos para convencer seus leitores de que o diagnóstico científico era um erro. E um deles foi que, muito antes do século XIV, já circulavam cópias do Sudário de Turim com essa imagem gravada.
Então, como alguém poderia copiar algo que não existia muito antes? Se havia cópias antigas era porque o modelo devia ser anterior a todas elas. Lógico, não é?
Antes de parar para abastecer, o fotógrafo já havia compreendido o que Carlos pretendia. "Pressentimento", "incrível coincidência" entre o achado da medalha e a notícia de um Santo Sudário em Cameros... Mas alguma coisa, apesar de tudo, não encaixava. Pouco antes de chegar a terras riojanas, Txema quebrou pela primeira vez seu silêncio.
E pode-se saber por que abandonou suas outras investigações por uma bobagem dessas? - explodiu. - Perseguir cópias... cópias de uma relíquia! E o negócio da medalha, sério, não engoli.
O fotógrafo conseguiu enfurecer seu colega.
O que quer dizer?
Você sabe... Desde que o conheço, evita as notícias religiosas, espirituais, místicas. Simplesmente deixava-as para os outros. Por que esta não? Aconteceu alguma coisa? Algo que eu deva saber?
Carlos manteve sua expressão séria, sem afastar os olhos da estrada.
Não sei.
E que fim levou esse assunto dos teleportes? - o fotógrafo prosseguiu. - Lembra esses sujeitos que você me levou para ver, que diziam que entraram em uma neblina densa e apareceram a não sei quantos quilômetros de distância? Não em Sevilha, quando me perdi. Os de Salamanca. E a noite que passamos em Alicante, pra cima e pra baixo pela nacional 340, tentando fazer com que "algo" teleportasse nosso carro? Ou aquele padre de Veneza que há alguns meses nos disse que conhecia pessoas capazes de ir para o passado, a centenas de quilômetros de onde se encontravam, e dar uma olhada em qualquer acontecimento histórico? Ainda lembro como foi difícil arrancar-lhe uma pequena declaração!
São coisas diferentes, Txema - corrigiu-o cansado.
Talvez não. E, de qualquer maneira, isso é mais interessante que procurar sudários falsos!
Carlos fez uma careta. De fato, estava havia algum tempo fugindo dessa outra investigação: durante os últimos meses, havia se empenhado em entrevistar testemunhas que afirmavam ter sofrido teleportes. Gente que contava como, enquanto viajava por alguma região pouco transitada, algo havia alterado sua rota. Na maioria das vezes era uma súbita parede de neblina na estrada, mas, em outras, esse "algo" reduzia-se a um calafrio, um golpe de luz, como o flash de uma câmera. E, a seguir, tudo mudava: a estrada, a paisagem, a rota... Tudo!
Em menos de um ano, localizara umas vinte pessoas que narraram praticamente a mesma coisa. Falara com pilotos de aviação, sacerdotes, representantes comerciais itinerantes, caminhoneiros e até com o ex-marido de uma famosa cantora. Inclusive, muito próprio dele, chegara a estabelecer as leis que achava que regiam o comportamento desses incidentes. Carlos sabia que essa era a melhor via de escape para sua crise: se conseguisse se aproximar do sobrenatural e enquadrá-lo em uma visão racional, científica, talvez encontrasse esse evasivo Programador e conseguisse entrevistá-lo. Algum dia... dizia.
Mas o jornalista calculara mal suas forças. Logo a investigação ficara grande demais. Os fundos providos pela revista esgotaram-se e seu trabalho chegara a um ponto morto.
Sentira-se fracassado. Havia falhado. E Txema sabia.
Se estava tão entusiasmado, por que abandonou aquilo?
Carlos olhou para ele de soslaio, diminuiu a marcha, engatou terceira e respondeu de má vontade:
Vou lhe dizer para que me deixe em paz, A culpa foi de dois casos históricos. Pensei que tinha algo importante nas mãos. Eram duas referências antigas de incidentes parecidos aos que estava investigando. Mas não encontrei nem rastro delas durante minha investigação. No fim, via-me reunindo lendas urbanas sem sentido, e as abandonei. Isso é suficiente?
Ora, vamos! Você nunca me contou. Quais foram os casos que o venceram?
Não me venceram! - protestou. - O primeiro aconteceu com um soldado espanhol no século xvi. A lenda diz que, enquanto estava destacado em Manila, Filipinas, trasladou-se em um piscar de olhos à Plaza Mayor, na Cidade do México...
E quando aconteceu isso?
A data é quase a única coisa que determinei com precisão: vinte e cinco de outubro de mil quinhentos e noventa e três.
Txema remexeu-se em seu assento. O rapaz tinha uma memória extraordinária para nomes, números e lugares.
Pode imaginar? Esse lanceiro cruzou quinze mil quilômetros de terra e oceanos em questão de segundos e foi parar do outro lado do mundo sem jamais conseguir explicar a ninguém como fez isso.
E o segundo caso?
Esse foi mais espetacular: quarenta anos depois do "vôo" do soldado, uma freira espanhola chamada Maria de Jesus de Ágreda foi interrogada pela Inquisição como conseqüência de suas repetidas visitas ao Novo México. Acusavam-na de ter cristianizado várias tribos indígenas do rio Grande voando misteriosamente entre a Espanha e a América. O grave é que nunca sentiram sua falta no mosteiro.
Ia à América e voltava de lá quando queria? Como se pegasse uma ponte aérea? - perguntou Txema incrédulo.
É o que parece. O curioso é que uma simples freira enclausurada tenha sido capaz de controlar essa capacidade de "vôo" e de burlar os tribunais do Santo Ofício sem ser condenada por bruxaria.
Você a encontrou?
Nem a ela nem ao soldado - sua voz soou resignada. - No caso da freira, eu tinha o nome dela, mas não um lugar ou um mosteiro pelo qual começar a procurar. Quanto ao soldado, conhecia seus pontos de partida e de chegada, também a data de sua "viagem", mas nem rastro de seu sobrenome ou de um documento da época que registrasse sua façanha... De fato, abandonei o assunto. Lembra que em minha última reportagem citei esses dois incidentes, mas sem lhes dar muita importância? E arquivei tudo porque não via como continuar. Por isso, decidi dedicar-me a outras coisas.
À religião, pelo que vejo - riu Txema discretamente.
Não somente à religião.
Bem... também publicou o negócio do padre de Veneza... - insistiu ele.
Ah, sim! Tem razão. Mencionei essa estranha invenção que, segundo ele, podia resgatar imagens do passado. Como ele a chamava? Cronovisão! Mas isso também não me levou a parte alguma.
Entendo.
O motor a diesel do Ibiza falhava cada vez mais. Tal como havia vaticinado o fotógrafo, a paisagem de Cameros recrudescia. A estrada até o povoado de Laguna, onde se encontrava a cópia do Santo Sudário, foi se estreitando e ficando mais íngreme. As temperaturas já estavam havia um tempo abaixo de zero. Os vinhedos não despontavam acima da neve. E, ainda por cima, a pequena emissora de ondas curtas que haviam parafusado no painel parara de funcionar. Txema a levava sempre consigo. Havia sido radioamador durante anos, e a simples idéia de viajar desconectado parecia-lhe insuportável. De fato, foi ele quem desceu do carro em diversas ocasiões para verificar a antena e tentar contato com alguém.
Nada - cedeu por fim. - Nem ruído de estática sequer. A emissora morreu.
Não é tão grave. Esta noite, com um pouco de sorte, dormiremos em Logrono e a levaremos a um técnico.
Diga-me uma coisa: falta muito para chegarmos a seu bendito sudário?
Uma hora, talvez.
Ah, se nos teleportássemos! - brincou.
— Já ouviu falar alguma vez da síndrome de Stendhal?
A pergunta da doutora Meyers surpreendeu Jennifer Narody, que se apressou a negar com a cabeça. Haviam dado um tempo na terapia, e agora acariciavam dois grandes copos de café enquanto conversavam animadamente. O líquido quente reconfortou o estômago vazio de Jennifer. Já estava mais tranqüila. O consultório de Linda Meyers convidava à conversa. De suas grandes janelas dominava-se o buli cio da cidade. O trânsito da rua Broadway, a imponente fachada de pedra do Palácio da Justiça, a imaculada torre da prefeitura, os executivos correndo de cima para baixo. E, lá dentro, tanto silêncio. Paz. O consultório de psiquiatra mais caro de Los Angeles transmitia também uma estranha sensação de poder. De domínio sobre o tempo. Como se o tráfego da cidade fosse algo externo à condição daqueles que o viam de seu privilegiado mirante. A sala em que se encontravam estava decorada com quadros de cores vivas, de evidente manufatura africana. Meyers orgulhava-se de suas origens. De fato, todo seu consultório emanava o exótico aroma do continente negro. Como o café tipo importação.
Síndrome de Stendhal?
Jennifer deu um gole no café.
Na realidade, é uma alteração psíquica muito habitual entre os turistas que visitam a Europa, principalmente a Itália.
Meyers sorriu deixando que sua dentição branca contrastasse com sua pele de ébano. Parecia ter esperado aquele momento para fazer uma confidencia.
Não me olhe assim! - riu. - Stendahl não é nenhum vírus perigoso! Na realidade, é uma doença bastante comum e fácil de tratar. O nome vem de um escritor francês do século XIX que, depois de passar um dia inteiro visitando as maravilhas de Florença, começou a sentir palpitações, vertigem, desmaios e até alucinações. Parece que a causa era uma overdose de beleza. Nem todos agüentam esse excesso de história e arte que as ruas italianas exalam!
Aonde quer chegar, doutora? - Jennifer olhou para ela com uma expressão divertida.
Bem, você começou a ter esses sonhos justamente ao retornar de Roma. Essa misteriosa dama que aparece com índios tem todo o jeito de uma Madonna italiana, e eu me perguntava se...
Se estou tendo esses sonhos por uma espécie de overdose de beleza romana? Vamos, doutora! Não está falando sério! Morei dois anos em plena Via Augusta, perto do Vaticano. Tive tempo suficiente para me acostumar às belezas da cidade: seus arcos históricos, suas pontes sobre o Tiber, suas igrejas, basílicas, conventos, estátuas, obeliscos, afrescos. Acredite: nada disso me impressionou quando decidi deixar a cidade.
Sabe de uma coisa? No fundo eu a invejo, Jennifer - disse a doutora bebendo outro gole de café. - Diga-me, por que decidiu passar uma temporada em Roma?
Precisava me afastar.
Um desencanto amoroso?
Oh, não! Nada disso! Os homens nunca foram problema - balançou a cabeça, nostálgica. - A culpa foi, como sempre, de meu trabalho. Mas disso não posso falar muito.
Não pode falar de seu trabalho? - a doutora Meyers depositou seu copo de poliestireno sobre uma fina bandeja decorada com zebras. - Que quer dizer?
Bem... Já lhe disse que era uma longa história. Além do mais, estou presa a um juramento de confidencialidade com o exército. Não tenho certeza de poder lhe contar tudo.
Você é militar?
Jennifer achou graça da cara de espanto da psiquiatra. A mesma que sua mãe havia feito quando soubera. Ou seu confessor. Talvez por isso Jennifer havia evitado mencionar esse dado ao preencher sua ficha pessoal. Limitou-se a dizer que era artista, sem especificar nenhum outro detalhe. E, no fundo, essa era sua verdade: desde que voltara da Itália, tinha planos de abrir um pequeno estúdio de pintura e expor nele suas obras.
Militar? Não exatamente. Colaborei com o Departamento de Defesa em um projeto que acabou me afetando além da conta. Sabe como são essas coisas, doutora: fizeram-me assinar um juramento para que nunca revelasse detalhes de minha atividade. "Alta traição", disseram.
Mas responder a minhas perguntas não é dar detalhes, querida - o rosto de ébano de Linda Meyers endureceu. Seu tom tornou-se severo. - Também eu tenho meu compromisso de confidencialidade para com os pacientes. Nada do que falarmos nesta sala sairá daqui, jamais.
Talvez não seja importante para resolver o problema de meus sonhos...
Isso eu deveria julgar, não acha? E agora, por favor, explique por que seu trabalho a obrigou a ir embora dos Estados Unidos.
ROMA
A pouco mais de 10 mil quilômetros de Los Angeles, nesse mesmo momento, a Cidade Eterna sofria seu habitual colapso circulatório vespertino. Ali, a primavera já trazia as primeiras tardes temperadas do ano e cada novo dia esticava preguiçosamente sua luz diurna.
Giuseppe Baldi sequer notou. Havia pego o trem para Roma na estação de Santa Luzia, e, seis horas depois, cruzava a praça São Pedro apressadamente, sem desfrutar do impagável espetáculo romano. Não tinha um minuto a perder.
O plano do veneziano era simples. Ninguém suspeitaria que ali, sob o impressionante obelisco egípcio erguido por Domeni- co Fontana no coração do Estado do Vaticano, iria transgredir o principal protocolo dos "quatro evangelistas". Ou "santos", como diria o porteiro de San Giorgio.
A norma daquela equipe científica de elite era inequívoca: nunca, sob nenhuma circunstância, dois "evangelistas" - isto é, os responsáveis dos quatro grupos que integravam seu programa de trabalho - poderiam se reunir sem a presença do coordenador, "são João", dos assessores científicos do Santo Padre ou fora de âmbito de um comitê especial constituído para isso. Pretendia-se garantir, assim, a fidelidade ao projeto e dificultar camarilhas ou grupos de pressão internos.
Não se reunir sob nenhuma circunstância?
Baldi, escrupuloso amante da ordem, não parecia sofrer dramas de consciência por seu iminente "pecado". Sua necessidade de se encontrar com o padre Luigi Corso havia se tornado mais forte que a férrea disciplina vaticana. Sentia que ainda tinha tempo. Que podia esclarecer com o "primeiro evangelista" certas coisas antes de ir à audiência à qual havia sido convocado em caráter de urgência. Baldi tinha certeza de que "são Mateus" dispunha de informações privilegiadas sobre a Cronovisão; dados que, por alguma razão, ninguém quisera ou pudera compartilhar com ele desde seu escorregão com o jornalista espanhol, e que talvez o ajudariam a sair incólume da sanção disciplinar que pairava sobre sua cabeça.
Enquanto deixava a colunata de Bernini para trás, uma turva sensação embaçou seus pensamentos: por que, de um dia para o outro, o Santo Ofício havia se interessado pelas investigações do padre Corso, da equipe de Roma, e havia decidido interrompê-las? O que "são Mateus" havia descoberto em seus laboratórios que merecia uma mudança tão repentina?
No trem que o levara a Roma, Baldi tentara obter as respostas relendo o último relatório de "são Mateus". Em vão. Nem ali, nem nas cartas de "são Marcos" e "são João" encontrara a chave do conflito. Quando aqueles textos lhe foram enviados, nem o padre Corso nem os demais "evangelistas" podiam sequer intuir o iminente seqüestro do projeto por parte do IOE.
Era mister, portanto, transgredir a norma de não-reunião.
Enquanto passava pelos locais que vendiam postais, refrescos, moedas comemorativas e sorvetes, e abria caminho em direção ao obelisco, Baldi esteve bem atento. Não queria que ninguém dificultasse seu encontro com "são Mateus". Havia cuidado dos mínimos detalhes: até o telegrama no qual Baldi marcara o encontro com Corso havia sido cifrado com requintada minuciosidade.
"Calma", repetia para si. "Tudo vai dar certo."
Não podia negar as evidências: estava muito nervoso. Começava a acreditar, não sem certa razão, que a carta que havia recebido da Secretaria de Estado chamando-o a Roma e a intervenção do trabalho do padre Corso podiam ser os primeiros passos de uma caça às bruxas contra os "evangelistas". Paranóia?
Também não pôde evitar. Ao se situar a poucos passos do obelisco, um calafrio percorreu suas costas. Esse era o lugar marcado e aquela, a hora prevista. Nada podia falhar.
Ou podia?
"São Mateus" teria recebido seu telegrama? E, principalmente, o teria compreendido? Estaria também ele disposto a violar a lei número um do projeto? E ainda restava uma possibilidade pior: Corso o teria delatado em uma tentativa de congraçar com os novos responsáveis pela Cronovisão?
Circunspecto, "são Lucas" diminuiu o passo conforme foi se aproximando do local. Decidiu sentar-se e esperar apoiado em uma das pias de pedra que flanqueavam o obelisco. Corso devia estar chegando.
Engoliu em seco.
A cada segundo de atraso, novas incógnitas sacudiam a mente do padre Baldi: Reconheceria "são Mateus" depois de tantos anos? Seria um dos padres que a essa hora transitavam pela praça São Pedro, rumo à basílica?
- Jesus Cristo!
Impaciente, deu uma olhada em seu relógio: 18h30. "É a hora", pensou. "Questão de minutos."
De onde se encontrava, o beneditino era capaz de distinguir qualquer pessoa que cruzasse o átrio e descesse pela escada. Lá estavam quatro sampietrini de rosto alongado com seus vistosos uniformes de época, armados com lanças de aço e madeira. Guardavam o chamado Arco dos Sinos, o principal acesso ao Vaticano. "Ah! A fiel guarda suíça da qual nenhum papa quis se desfazer", murmurou o "terceiro evangelista" para si.
Também detectou a presença de patrulhas de carabinieri entre os turistas e até se distraiu observando os grupos de estudantes estrangeiros que se admiravam com a beleza da colunata ou com a solidez do obelisco.
Mas nem rastro de "são Mateus".
Maldito trânsito romano! - explodiu.
A situação era ridícula: ele, que vinha de Veneza, havia chegado pontualmente a seu encontro, e seu colega, que residia em um bairro do centro de Roma, chegava atrasado. Corso também era escritor. Teria esquecido da vida em frente a sua máquina de escrever?
Às 18h43, Baldi continuava ali, em pé e sem novidade.
A espera começava a lhe parecer insuportável.
Se não podia marcar a esta hora, devia ter me avisado - resmungou. - A não ser que...
A impontualidade era para "são Lucas" pior que qualquer pecado capital. Não a perdoava a ninguém: nem a seus alunos no conservatório, nem a seus irmãos no mosteiro... e muito menos aos amigos. Achava que Deus nos mandava ao mundo com um cronômetro que contava de maneira decrescente nosso tempo de vida, e que, portanto, era um insulto ao Altíssimo desperdiçá-lo em esperas.
"Se os bastardos do serviço secreto houvessem interceptado meu telegrama... a esta altura já me haveriam detido", consolou-se imaginando a pior das hipóteses. "Deve haver outra razão para o atraso."
Seu alívio durou o tempo de um suspiro.
Às 18h55 em ponto, o "terceiro evangelista" não resistiu mais. Levantou-se de um salto e, olhando diretamente para frente, dirigiu seus passos a uma das saídas da praça. Cruzou a Via Porta Angélica em direção à Galeria Savelli, a grande loja de suvenires do quarteirão que estava quase fechando suas portas, e foi até o discreto telefone público de seu interior. Baldi estava disposto a dissipar suas dúvidas.
Foi questão de um minuto. O tempo necessário para encontrar algumas liras e discar o número do "primeiro evangelista".
Por favor, posso falar com o padre Corso?
A voz masculina e áspera que sempre atendia ao telefone pediu-lhe que esperasse. Após transferir a ligação para outro ramal, o aparelho foi desligado com rapidez.
Alô... Quem fala? - respondeu uma voz rouca, desconhecida.
Eh... O senhor não é o padre Corso, creio que houve um engano.
Não, não houve engano algum. O padre Corso... - hesitou - não pode atender agora. Quem é o senhor?
Um amigo.
Baldi decidiu tentar a sorte pressionando seu seco interlocutor.
Sabe se saiu?
Não, não. Ele está aqui. Mas quem quer falar com ele? - repetiu o "rouco".
O veneziano estranhou. Sua insistência em saber de quem se tratava não era habitual.
E o senhor? Quem é o senhor? E por que não passa o telefone para o padre Corso?
Já lhe disse que ele não pode atender.
Está bem, ligarei mais tarde - respondeu o veneziano irado. - Depois do jantar.
Quer que dê algum recado?
Diga apenas que... - refletiu - o "terceiro evangelista" ligou.
O terceiro evangeli...?
"São Lucas" desligou e abandonou a loja sem esperar que o telefone lhe devolvesse as moedas que haviam sobrado; precisava tomar um ar e se livrar da sensação de sufocação. "Mas que cretino!", pensou.
Mas Baldi, de repente, compreendeu que havia ali algo que não se encaixava. Se Corso havia marcado com ele às 18h30 sob o obelisco de São Pedro, já deveria ter saído de sua residência fazia tempo... e, lá, não apenas não lhe responderam com um lacônico "ele saiu" como também um estranho insistia em afirmar que Corso não podia atender ao telefone e tentava identificá-lo a todo custo. Estaria doente? Talvez impedido de sair? E, nesse caso, por quem?
Mais uma paranóia?
Ou, simplesmente, um novo indicador de que a "caça", como temia, já havia começado?
A cabeça de Baldi parecia querer explodir. Não tinha alternativa: por sua própria saúde mental, devia resolver aquele assunto pessoalmente. E de imediato. No meio da rua, procurou algo na pequena bolsa que levava consigo. Vasculhou quase como se tivesse acabado de roubá-la, até encontrar um pequeno maço de cartas presas com um elástico. Em um dos envelopes, o de seu último relatório, constava em letras de forma o endereço de "são Mateus":
- Mateus
Via dei Sediari, 10 - Roma
Sediari? Não fica longe daqui - indicou um carabiniere.
Dá pra ir andando?
Levará meia hora, mas pode ser - sorriu o agente. - Siga pela Via della Conciliazione até o final, vire à direita e siga até a ponte Vittorio Emanuele II. Atravesse e pegue essa grande avenida até o final. Quando chegar à praça Largo Torre Argentina, verá as ruínas de alguns antigos templos da República. Pergunte por lá; fica bem perto.
Perfeito. Obrigado.
O passeio do padre Baldi levou 43 minutos. Parou duas vezes no caminho para confirmar se estava no rumo certo, enquanto a beleza serena das fontes da praça Navona, já iluminadas àquela hora, e os odores de massa fresca que saíam das trattorias o embriagavam de Roma.
Ainda não conseguia entender a falta de notícias de "são Mateus". Mas começava a temer o pior: se não era coisa do IOE nem do trânsito romano, era razoável que houvesse
evitado o encontro atendo-se ao maldito voto de obediência. O que explicaria sua indisposição para atender ao telefone. Logo dissiparia suas dúvidas.
SERRA DE CAMEROS, ESPANHA
A visita ao Santo Sudário de Laguna de Cameros foi um completo desastre. O povoado, sempre vazio nessa época do ano, recebeu Txema Jiménez e Carlos Albert com total indiferença. Com certeza nenhum de seus habitantes sabia que o nome de seu povoado havia aparecido em letras de forma nessa mesma manhã, em uma sala de uma importante agência de notícias. Que importância teria algo assim nesse canto perdido do mundo? Ali, a única notícia digna de interesse era que havia começado a nevar forte, que estavam em meados de abril e que a primavera ainda resistia a se fazer presente. Era lógico, então, que a bacia do rio Leza estivesse deserta e que o único sinal de vida a receber os estrangeiros fosse a fumaça de quatro ou cinco chaminés espiralando rumo a um imperturbável céu de chumbo.
Felizmente, os jornalistas logo localizaram o pároco. Chamava-se dom Félix Arrondo. Encontraram-no à saída da igreja da Assunção, um rústico edifício de pedra encravado no promontório mais alto da vila. Não tardaram a travar boas relações com o sacerdote. Dom Félix era homem robusto, beirando os cinqüenta, cordial, bonachão; usava uma boina enfiada até as orelhas e tinha excelente humor. Como era de esperar, atendeu prontamente à solicitação de seus visitantes.
Querem ver a relíquia? Mas claro! Só não sei de onde os jornais tiraram que acaba de ser descoberta - resmungou ao se sentir um pouco mais à vontade com eles. - Estou há vinte anos nesta comarca e sei de sua existência desde o dia em que cheguei. O que acontece é que não a costumamos mostrar nunca, e esta Semana Santa foi a primeira vez que a exibimos. Vocês vão ver: é um sudário lindíssimo.
Os jornalistas trocaram olhares discretamente. Estavam prestes a descobrir que as horas empregadas na viagem, as curvas e o mau tempo haviam sido em vão: a caixa de veludo vermelho que guardava o lenço datava com exatidão a cópia. "1790", leu o padre, orgulhoso, ao extrair o estojo de um velho armário da sacristia.
O que acham? Nada mau, não é? É do século XVIII!
Carlos sentiu seu mundo desabar.
Já tinha certeza: haviam percorrido 600 quilômetros sem descanso para nada. Aquela tela pintada com o perfil do crucificado era muito posterior à data da suposta falsificação do Sudário de Turim, no século XIV. E, por mais que Txema batesse muitas fotos, não havia ali uma boa história para levar para Madri. Além do mais, por causa de sua pressa, estavam sem correntes para a neve, que havia sepultado as estradas sob um grosso e, a essa hora, congelado manto alvo. Do alto da igreja, a única paisagem que se via tinha essa temível cor.
E vai continuar nevando a noite toda - profetizou dom Félix, com cara de preocupação, enquanto embalava cuidadosamente seu sudário. - Vão ter de dormir aqui. Amanhã, quando a neve derreter, poderão prosseguir.
E assim foi.
Aquela noite, dom Félix conseguiu para eles um modesto refúgio em uma das casas do povoado. Jantaram sopa de alho e lingüiças, e quando se cansaram de conversar e de beber o bom vinho da terra, sua anfitriã, uma senhora de 85 anos que morava sozinha, mas que destilava uma energia invejável, acompanhou-os até o dormitório. Ali, encolhido em um quarto frio de paredes de pedra bruta e colchões de palha, Carlos deitou-se acariciando a medalha que o havia metido naquela pequena enrascada.
O quê? Ainda acredita no pressentimento, amigo? - debochou o fotógrafo, coberto até as orelhas na cama ao lado, com as bochechas coradas pelo jantar e o bom caldo.
Vá pro diabo, Txema!
A essa mesma hora, mas na costa do Pacífico, a sessão da doutora Meyers prolongava-se além da conta. De fato, estendera-se até a hora do jantar. A intensidade do relato de sua paciente obrigara-a a conseguir um horário no final do dia. Às sete. Não costumava atender tão tarde. Esse era o momento do dia que utilizava para revisar suas fichas e preparar as sessões do dia seguinte. Porém, Jennifer Narody queria resolver tudo rápido; havia chegado ao consultório loquaz, com vontade de falar, e isso era algo muito pouco habitual.
O pôr do sol que se via de sua mesa de trabalho era espetacular. Tons amarelos e ocre banharam por alguns minutos as peças de marfim e madeira da salinha africana. Ali, sentada em frente a ela e munida de suco e água mineral, Jennifer deleitava-se vendo o bairro financeiro começar a se apagar pouco a pouco.
Sua paciente agradeceu a exceção. Ansiava poder expor seus sentimentos a alguém pela primeira vez em muito tempo.
Aquela mulher de olhos verdes profundos e aspecto frágil havia tido uma vida interior agitada, da qual muito poucos haviam participado. Uma vida marcada por emoções que a tinham isolado do mundo, mas que, ao mesmo tempo, forjaram nela um caráter muito especial.
Jennifer Narody nasceu em Washington. Seus pais, um pastor evangelista de origem alemã e uma mexicana da fronteira, neta de um bruxo navajo do Arizona, deram-lhe uma infância sem sobressaltos até que completou dezesseis anos. Nessa idade, quando pensava em qual universidade se inscreveria, começaram seus problemas: tinha intuições que diziam respeito a seus colegas de escola ou a familiares próximos. Intuições certeiras, precisas, que jamais conseguiu dominar. Com freqüência antecipava-se a acidentes domésticos, brigas ou pequenos dramas de pessoas que lhe eram caras. "Via-os" cada vez que fechava os olhos. Ou quando cochilava depois do almoço. No início, não tinha problema algum em comunicar suas visões aos implicados, mas, quando começaram a se cumprir inexoravelmente, foi ganhando uma desagradável reputação de bruxa. Seus amigos começaram a evitá-la, deixaram de convidá-la para as festas e de acompanhá-la ao cinema. E, pouco a pouco, sua personalidade foi se tornando taciturna e solitária. Logo o sonho da universidade passou para segundo plano, e Jennifer acabou se concentrando na busca de respostas para o que acontecia com ela. Sem sucesso.
Tudo mudou para pior no dia em que sonhou com o assassinato de Clive Brown, seu professor de matemática do último ano. Brown era seu favorito. Aquele irlandês de cabelo acobreado e modos requintados sempre ia dar sua aula usando gravata-borboleta e casaco listrado. Era um homem severo, mas gentil. Na noite anterior às provas finais, Jennifer teve um pesadelo horrível: viu a gravata azul de seu professor ser arrancada do pescoço com um objeto cortante. Estava muito escuro. O lugar parecia um estacionamento deserto, perto de uma quadra de basquete. Mas os detalhes não eram tão claros para que o pudesse identificar. Após a imagem de sua gravata-borboleta voando pelos ares, viu um homem de ombros largos e cabelo ralo acertar um golpe seco no estômago de Brown. Assustou-se ao ver seu professor cair de joelhos, urrando de dor, e depois, sem aviso algum, levar um tiro na nuca. Brown não teve tempo sequer de ver a arma. Simplesmente levou o tiro pelas costas enquanto o sonho de Jennifer se desvanecia.
A visão a assustou. Pensou muito se devia contar ou não aquilo a seu professor, e, no fim da prova, esperou Brown recolher suas coisas na sala de aula e abordou-o a caminho da sala dos professores. Maggie Seymour, a chefe de estudos, ouviu a conversa, mas nenhum dos dois prestou muita atenção a seu sonho.
- É só um pesadelo - ele disse. - As provas às vezes nos deixam meio atordoados, Jenny.
Quando, no dia seguinte, o corpo de Clive Brown foi encontrado caído no estacionamento de um supermercado de Alexandria perto de sua casa, Maggie Seymour deu os detalhes do sonho premonitório de sua aluna à Polícia de Washington. Tudo se encaixava com seu relato: o tiro na nuca, a gravata-borboleta fora do lugar e até a sombria quadra de basquete.
E, a partir daquele dia, a vida de Jennifer Narody mudou para sempre.
Por alguma estranha razão, sua declaração acabou se dando ali perto, em um escritório das instalações do Exército, em Fort Meade. E, em setembro de 1984, um coronel da Inteligência chamado Liam Stubbelbine recrutou-a para participar de um programa secreto "de máximo interesse para a segurança nacional", havia dito. O projeto, de nome Stargate (ou Porta das Estrelas), era uma iniciativa de espionagem que pretendia usar pessoas com claros dotes de vidência para se antecipar a manobras militares ou de terrorismo dos inimigos dos Estados Unidos. Eles jamais usaram o termo "vidência", mas um eufemismo mais adequado aos tempos modernos: "visão remota".
Fort Meade havia recebido uma generosa verba dos fundos reservados para desenvolver esse projeto, e parte de seus esforços haviam se concentrado em procurar pessoas com "potenciais psíquicos" interessantes. Como o de Jennifer. E assim, durante quase seis anos, submeteram-na a todo tipo de exames e experimentos para testar suas capacidades extras-sensoriais. De fato, graças a esses exames, conseguiram identificar o assassino de Clive Brown, julgá-lo e condená-lo.
Mas esse sucesso também significou sua própria condenação. Nunca mais Jennifer Narody poderia afastar a sombra da National Security Agency e do Departamento de Defesa. Graduou-se como tenente. No entanto, sentir-se vigiada por seu próprio governo debilitou-a, fazendo-a cair em uma depressão que logo desembocou em uma série de sonhos estranhos, em que aparecia essa misteriosa Dama Azul em paragens de que nunca havia ouvido falar.
Eram sonhos extraordinários. Como se, de algum modo, sua mente fosse capaz de viajar para trás no tempo e assistisse pessoalmente a fatos remotos que sempre começavam por uma localização geográfica específica e uma data...
GRAN QUIVIRA, NOVO MÉXICO
VERÃO DE 1629
Quando hotomkam, as três estrelas em fila da constelação de Órion, situou-se acima do povoado, Gran Walpi, o chefe do Clã da Neblina, convocou os líderes de seu grupo para uma reunião secreta na kiva. Nunca aquele aposento circular, semi-enterrado e coberto por um teto de madeira sustentado pelas "quatro colunas em que descansa o mundo", havia estado tão movimentado.
Antes de descer ao ventre do recinto, os presentes lançaram um último olhar ao horizonte, lá onde ficava o cânion da serpente. Haviam ouvido rumores do que havia ocorrido no local. De fato, Gran Walpi os havia convocado para lhes dar algumas explicações. Mas também para lhes pedir que o ajudassem em algo.
Na hora prevista, os dez chefes do clã acomodaram-se sobre a areia do recinto. Gran Walpi parecia pronto para falar.
Seu semblante era sério e seu porte fazia justiça, como nunca, ao nome que sua mãe lhe dera ao nascer: Gran Walpi significava "montanha grande". E aquele velho guerreiro era grande como um totem. Nesse dia, as rugas que cruzavam seu rosto pareciam ainda mais profundas que de costume. Como os sulcos do temido cânion.
O mundo está mudando a grande velocidade, irmãos da Neblina - sussurrou com voz gutural pouco depois de a porta da kiva se fechar sobre suas cabeças.
Seus homens assentiram unanimemente. O familiar cheiro da kiva havia dado lugar a uma densa expectativa.
Hoje, completamos trinta invernos desde o recebimento do primeiro sinal dessa mudança - prosseguiu. - Foi em outro dia hotomkam como este que nossas planícies receberam a visita dos homens de fogo. Restam poucos daqueles que viram o horror de que eram capazes.
Gran Walpi ergueu um de seus trêmulos braços em direção a um buraco redondo, perfeito, que se abria no teto e que permitia ver as três luminárias do cinturão de Órion.
Aqueles homens de pele clara, que trouxeram consigo braços que cuspiam trovões e carapaças como as das tartarugas - que os tornavam imunes a nossas flechas -, causaram uma grande dor em nosso orgulhoso povoado. Incendiaram nossos campos, mataram nossos animais, roubaram nossas mulheres e envenenaram os poços jogando neles seus cadáveres.
O velho tossiu.
A lembrança daqueles dias cruéis embargou os congregados. O relato dos esporádicos encontros que seus antepassados haviam mantido com um grupo de expedicionários espanhóis entre 1598 e 1601[2] ainda causava pavor nas planícies. O próprio Gran Walpi os havia combatido. De fato, o guerreiro havia sido um dos poucos a sustentar o olhar de dom Juan de Onate - um nome que os índios jamais pronunciaram direito e o único a sobreviver a suas exigências. Felizmente, quando Gran Walpi o convencera de que naquelas terras não havia ouro algum, não somente ganhara a paz para seu povo como também o posto de líder que agora ocupava.
Mas o medo do retorno dos espanhóis nunca havia desaparecido de sua mente.
Assassinos! Os estrangeiros mataram nossos irmãos usando sua magia! - exclamou um dos presentes sentado do outro lado do fogo.
Perdemos três batalhas em três temporadas - murmurou outro. - Nada pudemos fazer.
Gran Walpi cravou seus olhos no rosto daqueles homens valentes. Nenhum deles havia visto as couraças prateadas dos invasores. Nenhum deles havia sentido o medo visceral que ele sentira da primeira vez que vira os cavalos dos espanhóis. Não sabiam que cheiro tinha o verdadeiro terror. Nem qual era seu sabor. Mas isso podia mudar a qualquer momento.
Gran Walpi olhou fixamente para o fogo da kiva antes de prosseguir:
Vocês precisam saber que esses estrangeiros estão prestes a retornar.
A sentença os deixou mudos.
Ontem à noite - prosseguiu -, veio o sinal que há tanto tempo venho temendo. Já não tenho dúvidas de que o fim de nosso mundo se aproxima. E quero que preparem suas famílias para isso.
O murmúrio espalhou-se entre os presentes.
Juan de Onate está voltando? - perguntou um.
Gran Walpi assentiu com a cabeça. A simples lembrança daquele nome causou-lhe náuseas.
E que sinal convenceu nosso chefe?
Nikvaya, um dos guerreiros mais habilidosos do clã, ficou em pé antes de formular a pergunta. Seus olhos estavam injetados de pânico. Sabia que suas armas não poderiam fazer nada contra as dos estrangeiros. Seu pai havia morrido devido a uma descarga de arcabuz quando ele tinha apenas um ano. Gran Walpi, que o vira morrer, voltou seu rosto para ele:
Sakmo, meu filho mais novo, o pai de minha única neta, encontrou-se com alguém no Cânion da Serpente, perto do cemitério.
Alguém? Quem, mestre?
Foi uma Mãe do Milho, uma Chóchmingure. Desceu do céu envolvida em luz azul e lhe fez um anúncio funesto: disse que em breve chegarão estrangeiros de pele branca a nossas terras trazendo um novo Deus.
Os espíritos impedirão! - gritou outro guerreiro do fundo da kiva.
Não, filho. Não mais. Nossos espíritos há anos nos anunciam essa chegada. O que deve nos preocupar agora é que o sangue de nossas famílias não seja derramado.
E podemos confiar em Sakmo?
Gran Walpi ergueu seu olhar severo e cravou-o no guerreiro que continuava ali, em pé.
É sangue de meu sangue, Nikvaya. Herdou minha capacidade de vislumbrar o mundo dos espíritos. Além do mais, não lhes disse ainda que seu encontro coincidiu com um estranho pressentimento que eu mesmo tive antes do anoitecer - o guerreiro parou para tomar fôlego, e em seguida prosseguiu. - Estava meditando em frente a nosso espírito kachina, neste mesmo lugar, quando ouvi dentro de mim, clara como o canto do melro, uma voz que falou comigo.
Uma voz?
Um dos chefes do clã, um índio pequeno, com os olhos queimados pelas tempestades de areia, sufocou sem sucesso suas palavras. Gran Walpi assentiu.
A voz me advertiu de que em breve nosso povo será visitado por um grande espírito. Uma presença do além que não somente os iniciados veriam, mas todo aquele que passasse uma noite de hotomkam à intempérie. E foi o que aconteceu! Meu filho o viu!
O homem dos olhos queimados sentiu-se obrigado a perguntar:
Esse espírito disse a que vem?
Não - Gran Walpi arrastou sua mão direita na areia, em um gesto rápido e violento. - Por isso os convoquei: como chefe do Clã da Neblina, devo fazer o impossível para me comunicar com ele. Devo receber sua mensagem e informar à comunidade da sorte que nos espera.
Chamou-nos, mestre, para que invoquemos esse espírito?
À nova pergunta de Nikvaya somaram-se todos os olhares dos presentes na kiva.
Isso mesmo, filho. Hotomkam brilhará sobre nós durante mais oito dias. Temos o tempo exato para preparar o ritual e esperar que esse espírito azul se manifeste.
A última pessoa que conduziu uma cerimônia de contato foi Pavati, o guerreiro que o precedeu na chefia do clã. E morreu. Invocar uma criatura assim pode lhe custar a vida.
A advertência surgiu do fundo da kiva. Outro velho, o único cuja idade e experiência rivalizavam com as de Gran Walpi, levantou-se e caminhou para o centro do aposento.
Conheço bem essa história, Zeno - replicou. - Mas não tenho medo de morrer. E você, tem?
Zeno também não tinha nada a perder. Aproximou-se do pequeno fogo que crepitava no centro da kiva e disse em voz alta, para que todos o pudessem ouvir:
Os espíritos não nos deixam escolha, velho teimoso. Nós o ajudaremos em seu propósito até onde for possível.
Quando o padre Baldi, ou "são Lucas", chegou à Via dei Sediari, redobrou seus cuidados. Sediari é uma das pequenas ruas próximas ao Panteão de Agripa, junto ao palácio Madama, quase sempre lotada de turistas e curiosos. E, apesar de ninguém nunca o ter visto por ali, queria ter certeza de que passaria despercebido. A conversa com o "rouco" o havia deixado cheio de dúvidas.
Um dia ruim, sim senhor.
Trinta segundos depois, Baldi estava em frente a seu objetivo. O número dez era um edifício maciço de aspecto cinza, com fachada de pedra, amplas cornijas de madeira e pequenas janelas, provido de uma porta enorme que conduzia a um lúgubre pátio interno.
À primeira vista era difícil distinguir se era um prédio de apartamentos, um albergue de estudantes ou um abrigo para religiosos. E mais ainda se se levasse em conta que dois Fiats Tipo da polizia romana bloqueavam o portão de acesso.
O rosto do padre Baldi ensombrou-se. Polícia? "Bem, pelo menos não é um dos Citroens pretos do serviço secreto", pensou aliviado. "Podem estar aí por qualquer motivo. Calma."
"São Lucas" tentou se acalmar.
Após reunir o pouco sangue-frio que lhe restava, atravessou a rua e, em questão de segundos, venceu os poucos metros que o separavam dos carros de patrulha e do edifício. Uma olhada bastou para descobrir, no corredor, uma janelinha da qual escapava um tênue feixe de luz. "Residência Santa Gemma", dizia o cartaz pregado sobre ela.
Buona sera... Quanto movimento! Aconteceu alguma coisa?
O padre Baldi, forçando uma expressão inocente, pigarreou antes de formular sua pergunta. Estava na portaria, onde havia um homem de meia-idade, cabelos louros e ralos, rugas proeminentes na testa e uma dentição destruída, usando o hábito pardo dos franciscanos. O frade matava seu tempo ouvindo um rádio capenga.
Sim... - respondeu depois de baixar o volume do aparelho. - Se está falando da Polícia, é porque esta tarde um de nossos residentes cometeu suicídio. Ao que parece, pulou do quarto andar.
O "terceiro evangelista" identificou aquela dicção. Era o homem da voz áspera que costumava atender ao telefone cada vez que ligava para "são Mateus". Jamais o teria imaginado assim.
Um suicídio? - inquietou-se Baldi. - Santa Madonna! E a que horas foi isso?
Por volta das cinco horas da tarde - respondeu compungido. - Estão dando agora mesmo as notícias no rádio.
E o senhor... o viu?
Bem - sorriu o frade mostrando suas gengivas podres -, eu só ouvi um golpe seco e, quando fui verificar, vi-o com a cabeça aberta, no meio de uma poça de sangue. Acho que morreu na hora.
Que Deus o tenha em Sua santa glória - persignou-se. - E pode me dizer quem era?
Claro, padre: Luigi Corso. Sacerdote, professor e escritor. Uma pessoa brilhante. O senhor o conhecia?
Baldi empalideceu.
Somos... éramos velhos amigos - retificou.
"São Lucas" alisou seus cabelos de prata, como se aquele gesto o ajudasse a refletir.
Tem certeza de que foi suicídio?
O porteiro mudou de expressão. Interrogou-o em silêncio com aqueles olhos escuros, quase demoníacos, tentando entender a sugestão do desconhecido. Tinha certeza de que Corso estava sozinho em seu quarto quando se precipitara pelo vão do pátio. Sua última visita o havia deixado não menos de quinze minutos antes. Sim. Ele achava que havia sido um suicídio.
Ora - acrescentou -, a Polícia está lá em cima, no quarto dele, tentando reconstruir os fatos. Pode perguntar a eles, se quiser. Estão aqui há mais de uma hora revistando seus pertences, e pediram-me que lhes passasse todas as ligações para o padre. Poderia avisá-los agora mesmo e...
Não será necessário - interrompeu Baldi. - Era só curiosidade... Mas, diga-me, explicaram-lhe por que deve passar as ligações?
Simples rotina, dizem.
Ah, claro.
Padre - abordou-o, então, o porteiro com certa solenidade -, o senhor deve saber se cometer suicídio é pecado mortal...
A princípio, é.
Então, o senhor acha que Deus salvará o padre Corso?
Aquilo o pegou desprevenido.
- Isso só Ele sabe, meu filho.
O veneziano despediu-se como pôde, deu meia-volta, ajeitou os óculos no nariz e afastou-se caminhando rua acima. Se nesse momento lhe houvessem dado um soco no estômago, não teria sentido nada. A notícia o havia deixado completamente estarrecido. O "primeiro evangelista" havia morrido uma hora e meia antes do encontro deles. E o que era pior: com ele, desaparecia seu único ponto de apoio em Roma antes da audiência. Ou quase. O falecido "santo" era seu único amigo na Cronovisão. No outro, "são João", não podia confiar. Além do mais, a morte de Corso havia acontecido bem quando alguém no Vaticano havia decidido interromper seu projeto. Alguém que talvez sabia quanto Baldi e Corso se apreciavam.
Sua enésima paranóia do dia?
O dia seguinte, 14 de abril, amanheceu entre nuvens esparsas.
Eram 9h50. O diário de Carlos, uma caderneta com capa de cortiça em que rabiscava as incidências de sua rota, dava fé disso. Txema e ele haviam deixado Laguna de Cameros para trás com a intenção de retornar o quanto antes a Madri. Com um bom café-da-manhã no estômago e os dois cafés fortes que sua anfitriã lhes preparara, agüentariam o suficiente para sair daquele dédalo de estradas secundárias e portos de montanha. Era o que pensavam. A essa hora, não sabiam que o destino tinha outros planos para eles. Planos que não tardariam muito a conhecer.
Carlos e Txema perceberam que algo não andava bem uma hora depois de deixarem o povoado. Dessa vez, puseram a culpa na neblina. Dom Félix os havia advertido. Dissera-lhes que, quando as nuvens baixas cobrem os cumes de Cameros, orientar-se nos vales inferiores era uma tarefa complexa. E, como se não bastasse, a estreita língua de asfalto pela qual circulavam continuava numa maldita pista de gelo. E ultrapassar os 20 quilômetros por hora nessas circunstâncias era uma temeridade.
De quando em quando, Carlos era obrigado a parar o veículo, abrir o capô para esfriar o motor e dar uns bons pontapés em cada pneu para livrá-los da neve.
Então? Onde deixou seus pressentimentos hoje?
Txema abriu calmamente a janela antes de cuspir sua pergunta. Desde a noite anterior, não havia tirado aquele sorriso irônico do rosto. Nunca se havia visto na obrigação de pernoitar em um povoado de menos de cem habitantes, sem hotel nem restaurante, com um bar que só abre no verão e na casa particular de uma octogenária. Parecia divertir-se com o fato de, a essa hora, parados no meio de uma pista deserta e com o eco de suas palavras ressoando nos penhascos próximos, sua situação continuar indefinida.
Não deboche, Txema! A sorte é como o tempo: muda de repente. Para melhor ou para pior.
Um novo pontapé chacoalhou o carro.
Pois hoje é para pior...
Carlos não respondeu.
O que poderia dizer? Que havia se enganado? Que sua decisão de ir até ali havia sido o fruto de um disparatado impulso, pouco profissional? Ia dar esse gostinho a Txema para que continuasse debochando dele a viagem inteira?
Não. Nada disso.
Felizmente, seu prognóstico sobre a sorte estava prestes a se cumprir: uma clareira na bruma, bem em frente a eles, deixou entrever o perfil de uma placa. Era como se houvesse se aproximado sigilosamente para saudá-los. Para lhes dar uma mão. Estava ali fincada, a apenas 100 metros de onde se encontravam, indicando-lhes um cruzamento que não haviam sido capazes de ver até esse exato momento. Parecia uma cena de filme. Uma aparição. Mas era real. Talvez a coisa mais real que tinham visto durante toda a manhã.
E se...?
O fotógrafo não concluiu a frase.
Carlos sentou-se ao volante, deslizou com cuidado o Ibiza até próximo da placa, e, ali, com o aquecimento bombeando calor a plena potência, conseguiram ler a mensagem pelo parabrisa. Era um lacônico sinal em forma de flecha que dizia: "Estrada N-122. Tarazona".
O jornalista não mais hesitou. Virou à esquerda, pegou a pista que se abria diante dele e pisou alegre no acelerador.
Em breve a neblina o deixaria vislumbrar algo mais.
Na realidade, foi questão de um segundo. Uma visão fugaz. O tempo suficiente para que o cérebro de Carlos processasse o conteúdo de outra placa, que estava quase enterrada pela neve, dobrada para um lado do acostamento, mas ainda erguida em sua base de alumínio. Seu conteúdo, simples, deixou-o eufórico: eram seis grandes letras pretas, grossas, que lhe pareceram estranhamente familiares.
Viu aquilo?
Sua freada secou o asfalto sob as rodas e arremessou Txema em seu banco.
Está maluco? - gritou. - Que está fazendo?
Você viu? - insistiu Carlos, com suas veias pulsando na garganta.
Vi o quê? O cartaz?
O cartaz, sim. Você leu?
Que é que tem? - O fotógrafo protestou enquanto soltava o cinto de segurança e examinava sua bolsa de câmeras para ver se havia algo quebrado. - Claro que li: "Ágreda".
Santo Deus! - Carlos balançou a cabeça incrédulo. - E não percebe? Esse nome não lhe parece familiar?
Txema fez cara de quem não entendia.
Santo Deus! É o sobrenome da freira!
Da freira?
A cara redonda de barba malfeita do fotógrafo era pura expressão.
A que ia para a América sempre que queria? - perguntou quase em voz baixa.
Essa mesma!
Quer se acalmar? Você vai nos matar. E segure o volante, caralho! Tem de ser uma maldita coincidência.
Como uma coincidência! Não está vendo? - Seus olhos estavam arregalados; não prestava atenção a nada, exceto à reação de seu colega. - Como pude ser tão estúpido? No século XVII, e antes, muita gente célebre era conhecida por seu local de nascimento... No caso da irmã Maria de Jesus de Ágreda, esse "de Ágreda" poderia indicar um sobrenome... mas também sua terra natal!
Demônios dos infernos! - protestou Txema. - Está frio. Você parou no meio de uma estrada principal. Faça o que quiser, Carlos. Vamos desviar, entrar no povoado e perguntar para quem lhe apetecer. Mas tire esse carro daqui!
Como não percebi antes?
Txema olhou para ele com severidade. Seu colega estava transtornado.
Como? - acrescentou. - Isto não pode ser uma coincidência. Não pode ser. Sabe quantos povoados há na Espanha?
O fotógrafo não tinha certeza se aquela era uma pergunta retórica.
Sabe? - insistiu.
Txema procurou no porta-luvas o guia rodoviário que sempre levavam e folheou os mapas que havia no final. A informação devia estar ali.
Achei! - Seu dedo havia parado em uma das páginas. - Quer saber?
Claro! Quantos?
Trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito - disse por fim.
Está vendo? Uma possibilidade entre trinta e cinco mil não é uma coincidência! O que vai dizer agora?
Tire este carro da estrada!
Diga-me, Jennifer: alguma vez já teve dificuldade de distinguir se esses sonhos eram realidade ou não?
A doutora Meyers havia permanecido em silêncio, atenta a cada explicação de sua paciente. Seu relato era tão vivido que dificilmente poderia classificá-lo como uma simples fabulação.
Não sei o que quer dizer, doutora.
É fácil, Jennifer. Alguma vez pensou, ao acordar, que o que havia visto era uma lembrança? Que havia realmente estado ali, com esses índios?
Vamos, doutora - protestou. - Não vai me dizer que acredita em reencarnação! Embora tenha antepassados nativos americanos, nunca li nada sobre eles, nem sobre seus ritos, nem...
Não. Não se trata disso. Tem dificuldade para distinguir entre sonho e realidade? Sim ou não?
A insistência da psiquiatra intimidou sua paciente.
Sabe de uma coisa? Quando era pequena, conseguia recordar tudo o que sonhava durante a noite.
Continue.
Com freqüência, antes que me levasse ao colégio, contava tudo a minha mãe. Explicava a ela minha sensação de voar, ou de atravessar uma parede. Até mesmo de cantar embaixo d'água. Minha avó, que viveu muitos anos na periferia do México D.F., perto do santuário da Virgem de Guadalupe, pôs um apelido em mim. Chamava-me de Grande Sonhadora.
Grande Sonhadora?
Jennifer assentiu com uma expressão doce nos lábios.
Sim. Foi ela quem me ensinou a discernir entre o mundo dos sonhos e o real. Graças a ela, agora sei que todas essas cenas do Novo México são um sonho. Têm que ser!
A doutora Meyers acariciou o próprio queixo, pensativa. As janelas anti-ruído não deixaram que o barulho da sirene de um carro-patrulha a distraísse. O veículo cruzou velozmente a rua Broadway e virou na rua Temple, rumo ao escuro coração da cidade. A noite já era dona de Los Angeles.
Fale-me de sua avó - disse quando o último resplendor de luz vermelha e azul se apagou.
Narody não hesitou:
Chamava-se Ankti, que na língua dos índios quer dizer "baile". Todas as mulheres de minha família chamaram-se assim, desde tempos distantes, até que eu cheguei ao mundo deste lado da fronteira, nos Estados Unidos, e me chamaram de Jennifer.
Prossiga... O que recorda dela?
Eu a conheci pouco. Meus pais me deixaram um verão inteiro com ela enquanto foram de férias para a Europa. E, naquele ano, ela me levou todo dia à basílica da Virgem de Guadalupe. Contou-me sua história mil vezes. E sabe o que é mais curioso? Ela me ensinou a imaginá-la como uma dama azul, uma mulher brilhante, que se deixava cair de quando em quando em terras dos antigos mexicanos.
Como a mulher que você vê em seus sonhos?
Exatamente, doutora. Minha avó me contou a história dessa aparição. Conhece?
A doutora Meyers assentiu.
É muito linda. Juan Diego, um índio da mesma raça de minha avó, teve vários encontros com uma misteriosa mulher banhada em luz azul, em um monte chamado Tepeyac. Aquela dama pediu-lhe que erigissem uma basílica naquele lugar para honrá-la, mas os espanhóis que então dominavam o México não lhe deram ouvidos. O bispo da cidade pediu provas daquilo, e Juan Diego, desesperado, acabou transmitindo a exigência do espanhol à própria mulher azul.
E o que aconteceu?
Essa era a parte de que minha avó mais gostava - sorriu. - A dama lhe deu essa prova em sua quarta aparição: pediu a Juan Diego que levasse um ramo de rosas ao bispo, que nem eram daquela região nem davam naquela época do ano. E o índio, obediente, pôs as flores em seu poncho e levou-as ao palácio arquiepiscopal.
Jennifer inspirou profundamente antes de prosseguir:
Quando o bispo o recebeu e Juan Diego abriu seu poncho, sabe o que aconteceu? As flores haviam desaparecido! O espanhol caiu de joelhos maravilhado diante do prodígio: no lugar das flores, naquele humilde manto de camponês, havia ficado gravada a misteriosa efígie da mulher azul.
Um retrato da dama?
Jennifer assentiu.
Não é emocionante? Vi aquela manta, aquele poncho todos os dias daquele verão. Na verdade, se fechar os olhos e me concentrar, ainda consigo recriá-lo em minha imaginação. Sempre me acompanha.
Isso é interessante, Jennifer - os olhos escuros da doutora cintilaram. - Você se sente acompanhada?
A paciente não soube responder.
Vou perguntar de outro modo. Mais direto. Por favor, não me leve a mal: alguma vez, seja em sua vida civil ou durante seu trabalho para os militares, recebeu diagnóstico de algum tipo de doença psiquiátrica?
Bem... Como pode imaginar, antes de ser integrada àquele programa de visão remota, submeteram-me a todo tipo de exames médicos.
-E?
Nada, doutora. Não encontraram nada.
Linda Meyers rabiscou algo em sua pasta e, a seguir, suspirou.
Está bem, Jennifer. Antes de lhe receitar um ansiolítico para controlar esses sonhos, deixe-me explicar o que acho que está acontecendo.
Grande Sonhadora remexeu-se em seu divã.
Dentre os muitos transtornos do sono catalogados, há um especialmente raro, que afeta menos de um por cento da população. É uma parassonia relacionada à dificuldade de algumas pessoas em discernir entre sonhos e lembranças reais.
Mas já lhe disse que minha avó me ensinou a...
Deixe-me continuar, por favor - interrompeu a doutora. - No início muitos colegas meus acreditavam que se tratava de uma variação da esquizofrenia. Imagine: lembranças "falsas", muito reais, fabricadas pela mente. Alguns pacientes achavam que sabiam dirigir ou nadar porque tinham sonhado que o haviam feito, e corriam o risco de se afogar ou de sofrer um acidente na vida real devido a essas falsas memórias. Preciso saber se esse é seu caso. Preciso que procure a origem dessas experiências oníricas, que descubramos o que as justifica. Por que são tão coerentes. E por que têm uma estrutura interna tão sólida. Está me entendendo?
Jennifer assentiu.
Vai procurar a origem de seus sonhos?
Claro... - hesitou.
Leve o tempo que for necessário. E descubra se sua mãe, sua avó ou algum antepassado seu teve também esse tipo de experiência. E, quando encontrar alguma coisa, volte. Enquanto os sonhos não lhe causarem nenhum outro tipo de transtorno, não receitarei um tratamento farmacológico.
Tudo seguiu o rumo previsto por Gran Walpi.
Durante oito dias, os dez homens que governavam o Clã da Xeblina permaneceram trancados em sua kiva preparando o ritual de contato. Duas vezes ao dia, suas esposas passavam pelo pequeno orifício que havia na parte superior do recinto cestas com espigas de milho fervidas, cactos, folhas de sisal com sua polpa açucarada intacta e água, mas mal vislumbravam o que se passava lá dentro.
Nem elas nem nenhum integrante dos outros clãs sabiam que tipo de cerimônia estava sendo celebrada ali. Cada grupo de Cueloce tinha seus ritos, suas formas ancestrais de comunicação com os espíritos, e sua conservação era o segredo mais bem guardado. Só se sabia que as substâncias fermentadas preparadas na kiva favoreciam o contato com "o supremo".
Lá dentro queimou-se lenha o tempo todo. Fosse dia ou noite, Gran Walpi e seus homens permaneceram em penumbra, entoando lânguidas melodias, mascando as plantas recebidas e batendo nos tambores de tripa de bisão que haviam conseguido juntar.
À medida que transcorriam os dias, o ambiente ia se tornando denso. Só o velho líder tinha noção dos dias transcorridos e administrava as tarefas nas horas de silêncio: durante as longas esperas entre um ritual e outro, os homens cochilavam, repassavam suas tatuagens ou limpavam as velhas máscaras de seus antepassados. Eram cabeças horrendas, de dentes afiados e olhos enormes, umas vezes coroadas com plumas e outras com espinhas que imitavam o rosto de seus espíritos protetores. Também esticavam os tambores ou rezavam junto ao sipapu, um pequeno buraco aberto no centro da kiva, que acreditavam ser um meio de comunicação entre seu povo e o mundo dos mortos.
Mas aquelas atividades eram apenas o prelúdio do verdadeiro trabalho: sonhar. Após a ingestão das plantas sagradas e do caldo de mandioca fermentado que elaboravam desde o primeiro dia de clausura, suas mentes estavam preparadas para contatar o espírito azul. Gran Walpi estava ansioso por encontrá-lo.
E, durante um tempo, como é natural, nada aconteceu.
Era como se o grande espírito que estava por vir ainda não houvesse escutado suas invocações.
Fora da kiva, à noite, quatro homens postavam-se do lado de fora para cuidar da privacidade do clã. Eram os kékelts, jovens não iniciados ainda nos segredos dos adultos, mas perfeitamente treinados como guerreiros. O responsável pela formação deles era Sakmo, o guerreiro mais valente da tribo, ainda impressionado com o que havia vivido dias antes.
Ele ensinara aos kékelts que, durante uma cerimônia assim, ninguém, salvo um espírito benigno, podia se aproximar da kiva. Se qualquer um transgredisse essa norma e não respondesse à senha determinada, eles mesmos o matariam, depois o cortariam em quatro partes iguais e as enterrariam fora do povoado, o mais longe possível umas das outras.
Ninguém em seu juízo perfeito ousaria profanar a kiva da Neblina.
Na oitava noite, quando hotomkam brilhava mais forte que nunca, algo se agitou no sagrado cubículo dos jumanos. O rosto de Gran Walpi estava encharcado de suor quando despontou acima da cobertura. Seus olhos quase saíam das órbitas e ele parecia muito alterado. Todos na kiva dormiam; a cerimônia dessa noite os havia deixado exaustos. Mas não ao chefe do clã. Com um salto, pôs-se fora dali e, após se certificar de que não havia ninguém por perto, afastou-se mata adentro.
Agia como se estivesse possuído. Como se seguisse os passos de alguém capaz de guiá-lo na escuridão. Como se, finalmente, as figuras geométricas que havia tatuado em seu peito na juventude, como proteção, estivessem cumprindo seus desígnios.
Algo ou alguém havia estabelecido contato com ele.
Exatamente antes de sua fuga, um estranho relâmpago azul havia descido perto da fenda em forma de meia-lua, junto ao cemitério dos antepassados. Dessa vez, Sakmo não o viu. Ninguém em Cueloce percebeu sua presença. Se alguém pudesse observar aquela cena de fora, teria acreditado que entre aquele resplendor e o velho existia certa cumplicidade. Enquanto o resquício do primeiro ainda refulgia no ventre do cânion, o segundo corria como um antílope para ele.
Ao se aproximar, a pradaria começou a mudar de aspecto.
O estranho silêncio que tanto havia impressionado Sakmo apossou-se outra vez dos arredores do povoado. E, com ele, o oceano de grama que cercava a montanha ficou absolutamente parado. Os grilos pararam de cantar. E até o inconfundível borbulhar do manancial da raposa, que o velho atravessou no tempo de um suspiro, apagou sua monótona canção.
Gran Walpi não se deu conta de nenhum desses prodígios; seus sentidos estavam ausentes daquele mundo, concentrados no outro.
Mãe! - exclamou. - Finalmente!
Foi quando o velho a encontrou.
No início, distinguiu somente a luz. Mas, quando seus olhos se acostumaram, facilmente viu o contorno de uma bela jovem, de rosto pálido e refulgente, que descansava a poucos metros dele. "Espíritos protetores!", murmurou. Aquela dama irradiava luz pelos quatro lados, iluminando parcialmente o solo sobre o qual oscilava. Vestia uma longa túnica branca escondida sob uma capa azul-celeste que não chegava a tocar a areia.
Quando percebeu que Gran Walpi se aproximava, a jovem sorriu.
Tu me cha-maste e eu vim. Que de-sejas?
A Dama Azul não moveu os lábios. Nem sequer modificou sua expressão. Porém, suas palavras soaram tão limpas e transparentes quanto as que Sakmo ouvira apenas nove noites antes.
Mãe, desejo perguntar-vos algo...
A aparição assentiu com a cabeça. Gran Walpi engoliu em seco antes de prosseguir:
Por que deixastes que meu filho vos visse, e não eu? Perdestes a confiança naquele que guardou o segredo de vossas visitas todo este tempo? Sempre mantive silêncio sobre nossos encontros, instruí meu povo acerca da chegada iminente dos homens brancos, e vós... vós...
- Já não é neces-sário guar-dar segredo por mais tem-po - ela o interrompeu. - O momen-to de que tanto te falei che-gou. Tu já cumpris-te tua ta-refa. Em breve, teu filho te subs-ti-tuirá.
Sakmo? Ainda é inexperiente! - protestou Gran Walpi.
Pre-ciso de al-guém como ele. Ele tem o si-nal de quem vê gravado em sua pele. Como tu. Ele é o úni-co de tua famí-lia que herdou teu dom. E ago-ra, herda-rá também tua mis-são.
E o que acontecerá com nosso povo?
Deus o guia-rá.
Deus? Que Deus?
A dama não respondeu. Em vez disso, deixou algo cair no chão. Uma tosca cruz de madeira, que o índio fitou incrédulo.
Gran Walpi sabia bem o que ia acontecer a seguir: a luz azulada ganharia intensidade enquanto um zumbido agudo, como o chiado de cem roedores, penetraria em seus ouvidos e o derrubaria. Era sempre assim. A dama emudecia e ele sabia que já era hora de ir. E que sua estranha mãe azul desapareceria depois de vê-lo cair desmaiado.
Mas, naquela ocasião, o "espírito" ainda teria tempo de lhe dar uma última instrução.
ÁGREDA, ESPANHA
Carlos inspirou profundamente três vezes antes de ligar de novo o motor do carro. Atendendo às súplicas de Txema, parara no acostamento da estrada para se recompor da impressão que sua descoberta havia lhe causado. "Ágreda", repetia como um zumbi. "Ágreda." Era difícil, para ele, aceitar que existisse um povoado com o mesmo "sobrenome" da freira, e censurava-se por não ter confirmado aquilo antes. "Um povoado entre trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito localidades catalogadas na Espanha", pensou. "Devia ter verificado!"
As coisas chegam quando estamos preparados para entendê-las... - sussurrou Txema, com o tom de um velho mestre oriental. Carlos não sabia se ainda estava debochando dele.
Que quer dizer?
Que, talvez, quando você começou seu trabalho sobre os teleportes, ainda não estivesse preparado para entender.
Entender o quê? Isso é filosofia barata! - protestou Carlos.
- Pense o que quiser. Sei que você é um descrente, mas eu tenho certeza de que existe um destino para cada um de nós. E, às vezes, a força dele nos impulsiona com o ímpeto de um furacão.
As palavras do fotógrafo pareceram-lhe estranhas, muito profundas, como se não houvessem sido pronunciadas por ele, mas por um antigo e esquecido oráculo que o houvesse possuído. Carlos nunca tinha ouvido Txema falar daquele modo - na realidade, duvidava inclusive que fosse capaz de abrigar esse tipo de sentimento. Porém, sentiu que aquelas palavras agitavam algo dentro de si. Foi curioso: ali mesmo, ao deixar para trás o acostamento gelado da estrada N-122, soube que não tinha escolha, que tinha de abandonar aquela estúpida perseguição de santos sudários, alterar a ordem de prioridades em sua lista de assuntos pendentes e fazer algumas averiguações naquele povoado chamado Ágreda. Ao tocar a medalhinha com a santa face no peito, sorriu. Quem sabe, pensou, se aquela estranha virada nos acontecimentos não tiraria da letargia sua investigação sobre teleportes e ele retornaria a Madri com uma boa reportagem, afinal.
O rugido do motor devolveu-o à realidade. Fechou o caderno de notas, pediu a Txema que dobrasse o mapa das estradas, tornou a fixar seu olhar no asfalto e adentrou com decisão a única rua que conduzia ao centro do povoado.
Ágreda foi uma descoberta: situada aos pés do Moncayo (uma impressionante montanha de 2.315 metros de altura, que os fitava desafiadora por entre brumas), sua área urbana era o vivo reflexo das cicatrizes de sua história. Cristãos, judeus e muçulmanos haviam dividido suas ruas e mercados até bem avançado o século XV. Palco de bodas reais, as águas de seu rio, o Queiles, foram veneradas pelos ferreiros romanos que forjaram nelas suas melhores armas. Naturalmente, ainda levariam um tempo para averiguar tudo aquilo.
Naquela manhã, as ruas de Ágreda estavam tão úmidas e vazias quanto as de Laguna de Cameros. Os parabrisas dos carros estacionados dos dois lados da avenida de Madri estavam cobertos por uma grossa camada de gelo, e seus pouco mais de 3 mil habitantes escondiam-se do frio atrás das grossas paredes de suas casas.
Aonde pretende ir? - sondou Txema com suavidade. Seu colega ainda estava impressionado pelo imponderável achado geográfico.
À igreja principal, aonde mais? Se alguma vez houve uma freira neste povoado que voasse até a América, sabe Deus como, o padre deve saber.
Deveria - argumentou Txema. - Deveria.
O Ibiza percorreu resoluto as ruas desertas. O povoado mostrou ser maior do que parecia da estrada. Felizmente, a igreja que procuravam, erguida junto a um edifício que parecia a prefeitura e encaixada do lado oeste de uma grande praça retangular, surgiu antes do esperado. Carlos contornou-a com cautela e estacionou a apenas uma dezena de metros de seu grande portão.
Fechada! - anunciou Txema, enquanto a fumaça de seu próprio hálito lhe encobria a visão.
Talvez haja outra aberta...
Outra?
Sim, veja ali.
Bem a suas costas, atrás de um edifício de quatro andares, erguia-se a inconfundível silhueta de outro grande campanário barroco. Sem pressa, atravessaram a pé a praça e empurraram em vão o magnífico pórtico.
Também fechado - tornou a lamentar o fotógrafo. - Não há ninguém aqui. E está um frio dos diabos...
É estranho, não é? Até os bares estão fechados.
No Norte não é estranho. É domingo, e, com esta temperatura, eu também ficaria em casa. Talvez ao meio-dia, na hora da missa principal...
A insinuação de Txema fez Carlos ter um sobressalto.
Meio-dia? Não podemos ficar aqui parados tanto tempo!
Concordo. - O fotógrafo dava pequenos pulinhos para se aquecer. - Vamos voltar para o carro?
Dentro do automóvel, com o ar quente ligado e o limpador de parabrisas varrendo alguns flocos cada vez mais raros, Txema murmurou:
Talvez tenha se precipitado.
Talvez - Carlos respondeu lacônico. - De qualquer maneira, não vai negar que é muita coincidência termos encontrado este povoado...
E esse tipo de coincidência o deixa maluco, não é?
- Já lhe falei do velho professor de matemática que acreditava que o acaso era um disfarce de Deus?
Centenas de vezes! Faz duas semanas que não fala de outra coisa! - riu Txema. - O que não entendo é por que resiste a aceitar que haja situações na vida já programadas, não importa por que nem por quem, e que possam escapar a seu controle. Ainda espera pegar Deus em flagrante atrás de uma das suas coincidências?
Carlos segurou o volante com força, fazendo malabarismos para não encostar nos veículos mal estacionados. Uma placa de gelo instável poderia jogá-los contra qualquer um deles.
Mas que pergunta! - respondeu finalmente. - Admitir o que você está dizendo é como aceitar que em algum lugar vive alguém que traçou as linhas mestras de nossas vidas. E daí a aceitar a existência da predestinação e de Deus é só um passo.
E por que não acredita, simplesmente? - pressionou o fotógrafo.
Porque tenho a impressão de que Deus é o rótulo que se aplica a tudo aquilo que não se entende. Acreditar em Deus evita o esforço de pensar...
E se, após todos os seus esforços, concluir que Ele existe?
Carlos não respondeu. De repente, seus braços haviam ficado rígidos no volante e seu olhar tornara-se vidrado. Parou o Ibiza, mantendo o motor em marcha lenta.
O que foi agora?
Nós... pegamos a estrada errada - respondeu em voz baixa.
Txema ficou preocupado. Algo não estava bem.
É grave?
Não... Acho que não.
Quando os braços de Carlos recuperaram a flexibilidade, ele avançou até outra placa que demarcava o limite do município de Ágreda. Ali, cerimonioso, tirou a chave do contato e soltou o cinto de segurança. Uma simples olhada bastou para Txema perceber que, de fato, aquela não era a N-122. Era um caminho mal asfaltado, cheio de buracos e muito estreito para permitir uma circulação em sentido duplo.
O fotógrafo continuava não entendendo.
Transtornado, Carlos desceu do veículo, bateu a porta e atravessou rumo a um edifício de pedra que descansava junto a um pequeno campanário. "Talvez precise tomar um ar", deduziu seu colega. De dentro do carro, Txema observou seus passos vacilantes.
É aqui! Desça! - ouviu-o gritar de repente, erguendo os braços acima de sua cabeça.
O fotógrafo estremeceu. Tirou a bolsa com as câmeras debaixo do banco e saltou para fora carro.
O que foi?
- Veja!
Txema sentiu um arrepio. Seu colega, cuja respiração exalava fumaça como um dragão em sua caverna, apontava entusiasmado para o edifício que estava a suas costas. Ou, para ser mais exato, para uma espécie de fosso que se abria entre a estrada e o edifício, em cujo fundo viam-se duas portas de carvalho. Uma com um estranho escudo de pedra sobre ela e outra resguardada por quatro arcos plenos, protegida por fortes barras de ferro.
O que quer que olhe?
Ali embaixo. Não está vendo?
Txema passou outra vez os olhos pelo fosso. A estátua de pedra de uma freira com os braços abertos e uma cruz em uma de suas mãos causou-lhe um sobressalto. Era como se acabasse de aparecer. Como se não estivesse ali um segundo antes.
É um mosteiro! Está vendo? Quer lugar melhor para perguntar por uma freira?
Sim... claro - sussurrou Txema. - Vamos descer?
Os dois desceram por uma rampa coberta de neve até o centro do fosso e puseram-se diante daquelas portas. Logo notaram que o edifício era muito maior do que haviam calculado. Na realidade, tinha aspecto de fortaleza. Sua fachada estava salpicada de minúsculas janelas de madeira e de um paupérrimo via-crúcis enegrecido pelo tempo.
Tem razão, deve ser um mosteiro - murmurou Txema.
Carlos não o ouviu. Estava de joelhos, em frente ao pedestal de cimento sobre o qual descansava a estátua que tanto lhe havia chamado a atenção. Transcrevia em seu caderno a lenda que acabava de descobrir cinzelada na base.
Está vendo? - exclamou por fim. - Veja o que escreveram aqui.
Txema forçou os olhos e descobriu a inscrição:
À venerável Madre Ágreda, com santo orgulho.
Seus conterrâneos.
Acha que se trata de sua freira?
Sua pergunta era um tanto ardilosa.
E quem mais seria?
Sabe de uma coisa - disse Txema acariciando sua câmera -, esqueça o que disse antes sobre o destino. Temos de manter o sangue-frio.
Carlos assentiu, sem pronunciar uma só palavra.
Você mesmo me explicou que era costume pôr o nome do povoado nas pessoas célebres que nasceram nele. Seria muita coincidência que esta freira fosse a sua...
Muita coincidência - repetiu o jornalista.
Mais uma.
Carlos olhou-o de soslaio. Txema prosseguiu:
Além do mais, se for a freira que acabou com sua paciência no caso dos teleportes, logo saberemos. Mas, se não for, quero que me faça um favor: vamos esquecer esse assunto e voltar direto para Madri, sem dizer sequer uma palavra a ninguém sobre tudo isto. Ok?
- Ok.
Carlos levantou-se e com passo firme dirigiu-se à porta que estava mais próxima. Estava aberta.
Entre! - instigou Txema.
Após cruzar a porta e acostumar os olhos à penumbra, viram confirmadas suas primeiras suspeitas. Estavam em uma pequena recepção com as paredes cobertas por faixas de madeira, adornada com motivos religiosos. A roda, encaixada na parede direita, não deixava margem a dúvidas: aquilo era um mosteiro.
Uma pequena mesa coberta por uma toalha de crochê e alguns folhetos paroquiais antigos, uma campainha, um velho interruptor parafusado em um azulejo à altura dos olhos e o inconfundível cilindro de madeira que conectava o claustro com o mundo externo completavam a austera decoração daquela antessala.
Você chama? - perguntou Txema em voz baixa, impressionado pelo silêncio e o frio da recepção.
Claro.
Ao tocar a campainha, um chiado retumbou por todo o edifício. Instantes depois, as dobradiças de uma porta rangeram em algum ponto atrás daquele carrossel de madeira. Alguém se aproximava.
Ave Maria Puríssima - uma voz quebrou o silêncio. Seu eco encheu a saleta de espera.
Sem pecado concebida, irmã... - Carlos hesitou.
Pois não? Que deseja?
Sua invisível interlocutora questionou-o com extraordinária suavidade. Por um momento, Carlos cogitou a possibilidade de improvisar uma história inocente que justificasse sua visita e mascarasse o que começava a ser já uma indigerível seqüência de acasos, mas deixou-se levar explicando-lhe parte da verdade.
Madre, somos dois jornalistas de Madri; estamos fazendo uma reportagem sobre as relíquias guardadas em algumas paróquias de Cameros, e a tempestade de neve e o mau estado das estradas nos arrastaram até aqui.
Nem me fale da neve! - replicou espontaneamente aquela mulher.
Bem... O que gostaríamos de saber é se viveu aqui uma freira chamada Maria de Jesus de Ágreda. Foi uma religiosa que viveu no século XIII, e não sei se vocês se lembrarão dela. Há algumas semanas, mencionei-a por acaso em uma reportagem sem saber se...
Uma cotovelada do fotógrafo deixou-o com a frase pela metade.
Como não vamos ter ouvido falar dela, se é nossa fundadora!
A voz do cilindro surpreendeu-os de verdade. Txema e Carlos trocaram olhares mudos de espanto. Estavam pálidos. E a freira, alheia à reação deles, acrescentou:
E, se vocês estão aqui, é porque ela os chamou. Não tenham dúvida disso - um risinho alegre saiu da roda. - Ela tem fama de milagrosa, e com certeza algo em vocês deve tê-la interessado. Com a nevasca que está caindo, a Venerável deve querer vocês para algo importante. Ela é muito persuasiva!
É? - perguntou Carlos, alarmado.
Bem, era... - admitiu a religiosa.
E o que quer dizer com "ela os chamou", irmã?
Nada, nada... - tornou a rir. - Pegue a chave que deixarei na roda; abra a porta pequena da direita e atravesse o corredor até o fundo. Chegará a uma porta de vidro que tem outra chave por perto; abra-a e ligue o aquecedor; já, já descerá alguma irmã para atendê-los.
As suaves ordens foram tão precisas que não lhes restou outra alternativa senão obedecer. De fato, antes que se dessem conta, a roda já estava girando, mostrando-lhes uma pequena chave de aço presa a um chaveiro amarelo. Era o passaporte para o interior do mosteiro.
ROMA
Às 20h30 o padre Baldi regressava à praça São Pedro. Ali, sentia-se razoavelmente seguro. Um táxi acabava de deixá-lo na esquina do Burgo de Pio iv com a Via Porta Angélica, em frente a uma das mais concorridas "entradas de serviço" dos funcionários pontifícios ao recinto vaticano. A essa hora, a maioria deixava seus escritórios após uma extenuante jornada de trabalho.
Após pensar um pouco, havia decidido jogar pesado. Compreendera que essa seria sua única oportunidade para não retornar a Veneza com as mãos vazias.
A inoportuna morte de "são Mateus" o havia deixado em uma situação tão comprometedora que precisava esclarecê-la o mais rápido possível. E, lá dentro, na Fortaleza de Deus, intuía que encontraria o modo de fazer isso.
Decidido, o santo misturou-se à torrente de empregados, atravessou as guaritas de segurança dos sampietrini e adentrou aquele dédalo de escritórios rumo aos gabinetes da Secretaria de Estado. Sua fachada, um pequeno bloco provido de venezianas cinza e telhas pretas, havia acabado de ser restaurada. A construção apresentava um aspecto impecável. A placa de cobre, com a tiara e as chaves de Pedro gravadas em preto, brilhava mais que nunca sob a luz elétrica dos postes próximos.
O interior do edifício era diferente: corredores cor de chumbo e portas grossas com os nomes de cardeais e outros membros da cúria colados com zelo davam a entender que a restauração havia sido só superficial. O lugar já estava praticamente vazio.
Em que posso ajudar, padre?
Uma freira de rosto redondo, hábito azul-escuro e touca de crochê abordou-o atrás de um velho balcão.
Gostaria de ver Sua Eminência Stanislaw Zsidiv.
Tem hora marcada? - indagou diligente a religiosa.
Não. Mas o monsenhor me conhece bem. Diga a ele que Giuseppe Baldi, de Veneza, está aqui. É urgente. Além do mais - disse mostrando a carta que havia recebido dele dois dias antes -, sei que adorará me receber.
Aquilo deu resultado. O envelope com as armas da Secretaria de Estado agiu como uma chave-mestra.
A freira levou apenas alguns segundos para teclar os números oportunos e transmitir a mensagem ao outro lado da linha. Após um estudado "está bem, ele o atenderá", que Baldi recebeu com satisfação, a religiosa guiou-o pelos corredores que levavam ao gabinete do cardeal polonês.
É aqui - disse diante de outra porta. - Entre sem bater.
Ao cruzar a porta, o padre surpreendeu-se ao ver que das janelas se via a cúpula de São Pedro iluminada e até boa parte das 140 estátuas da colunata de Bernini. A vista se completava com as maravilhosas tapeçarias renascentistas, cheias de motivos pagãos, que davam vida ao canto mais escuro do aposento.
- Giuseppe! Dio mio! Quanto tempo!
Zsidiv era um sujeito de estatura mediana. Usava a brilhante sotaina púrpura de seu cargo. Tinha um rosto de lenhador polonês de barba bem-feita que o fazia parecer frio como uma tumba, e olhos azuis que, escondidos por trás das grossas lentes de seus óculos, escrutavam tudo. O cardeal levantou-se de sua poltrona de couro preto e a grandes passos venceu os poucos metros que o separavam de seu hóspede. A sala tinha cheiro de perfume caro e desinfetante dos serviços de limpeza vaticanos.
Baldi, respeitoso, beijou o anel e a cruz que o cardeal usava no pescoço, para depois fundirem-se em um abraço fraterno. Depois, sentou-se em frente a sua mesa. Ajeitou sua sotaina antes de cruzar as pernas e passou um rápido olhar pelas pastas e envelopes que havia entre ele e o cardeal. Na verdade, não foram necessários muitos preâmbulos. Sua Eminência e o beneditino conheciam-se havia muitos anos, desde os tempos em que eram seminaristas em Florença. Ali haviam dividido o interesse pela prepolifonia e os ideais mais nobres de suas carreiras. E, além disso, havia sido monsenhor Zsidiv, nascido na Cracóvia e amigo pessoal do papa, quem apresentara Baldi aos coordenadores do projeto da Cronovisão lá pelos anos 50, quando este dava seus primeiros passos.
Mais tarde soubera que Zsidiv, além de tudo, era "são João". O místico. O principal responsável por fazer com que a Cronovisão não abandonasse jamais os muros do Vaticano. O coordenador que devia auditar cada movimento da equipe. Mas, também, o homem que ajudara Baldi a ser incorporado como membro de pleno direito em seu seio. Entre aqueles homens não devia haver segredos. Mas havia.
É uma sorte que tenha vindo me ver, Giuseppe - disse o monsenhor. - Não sabia como pô-lo a par do que aconteceu com "são Mateus", o padre Corso, esta mesma tarde...
O cardeal baixou o tom de voz.
É justamente disso que queria falar com o senhor.
Ah, sim? - surpreendeu-se. O tom de seu subordinado era de obediência absoluta. - Já sabe?
Descobri há uma hora. Vi a Polícia estacionada em frente à casa dele.
Passou por sua casa? - Zsidiv mudou a expressão de seu rosto. Aquilo violava claramente o código ético dos "quatro evangelistas".
Bem... Em certa medida, sua carta foi a culpada. E essa ordem seca para que viesse a Roma prestar-lhe contas pelo que me aconteceu com o jornalista espanhol. Trata-se disso, não?
Receio que sim, Giuseppe. Outra vez.
Mas eu juro que não...
O cardeal interrompeu-o.
Não se justifique! - disse, e a seguir baixou a voz e inclinou-se sobre sua mesa. - As paredes têm ouvidos.
Zsidiv levantou-se de novo, retomando seu tom habitual. O veneziano entendeu a razão. Embora coordenador da Cronovisão e aliado seu, o cardeal tinha um importante papel entre os guardiões da ortodoxia. Seu papel era de agente duplo. Papel difícil. Ambíguo. Por isso nunca confiara nele.
Não fui eu que o chamei - acrescentou. - Seus verdugos estão na Congregação para a Doutrina da Fé. No Santo Ofício. Mas sabe de uma coisa? Nada disso importa agora, meu amigo. Com a morte do "primeiro evangelista", as coisas vão mudar muito. O papa está preocupado com a Cronovisão. Teme que fuja a nosso controle e que se descubram coisas que é melhor continuarem enterradas. Está entendendo?
O monsenhor agarrou-se aos braços de sua poltrona, impulsionando-se acima dos papéis que os separavam.
A pior coisa deste incidente - prosseguiu - é que ainda não sabemos se sua morte foi acidental ou provocada. A Polícia não teve tempo de concluir o relatório, e a autópsia só será feita esta noite. Porém... - Zsidiv juntou as mãos, pensativo - o que mais me preocupa é que ele estava a par de certos assuntos relacionados à Cronovisão que você ignora, e que poderiam ter vazado de nosso círculo.
Vazado? - o rosto do padre Baldi transfigurou-se.
É o que tememos. Alguém apagou todos os arquivos do computador dele. Um técnico da Santa Sé já examinou o disco rígido e diz que foi formatado vinte minutos antes de sua morte. E o conteúdo foi copiado em outro disco. Temos, pois, razões para supor que documentação de grande valor tenha desaparecido de seu escritório.
Que tipo de documentação?
Papéis antigos, mas também as anotações de seus experimentos.
Diante do olhar de incredulidade do padre Baldi, Zsidiv mudou de tom.
Mantivemos você em quarentena, entende? Não podíamos correr o risco de que vazasse informação para a imprensa, menos ainda de "são Mateus", e que delatasse por acidente nosso projeto.
Suspeita de alguém, Eminência?
Tenho vários candidatos. Os rapazes da Congregação para a Doutrina da Fé ficam ouriçados com este assunto. Como você deve saber, desde que Paulo vi, com seu afã reformista, retirou-lhes competências, andam à caça de qualquer investigação que cheire a "heresia". Tentaram jogar por terra a Cronovisão desde que souberam de sua existência, e a publicação de suas declarações na imprensa caiu como uma luva... Mas não sei até onde chegaram.
A publicação? Eu não...
Zsidiv inclinou-se sobre sua mesa e pegou um exemplar da revista espanhola Mistérios, deixando-a à vista.
Não deve ser difícil, para você, entender a manchete em espanhol, não é?
Baldi abriu a revista e leu, espantado, o título de uma reportagem que jazia sobre sua foto: "O passado fotografado com uma máquina do tempo".
Mas, Eminência, não acredita que eu...?
Zsidiv interrompeu-o:
- Já lhe disse que este problema não importa mais. O que urge é pegar a pessoa que roubou os arquivos de "são Mateus". Temos de impedir que nosso projeto se transforme em outro escândalo.
O padre Baldi assentiu.
O que temo, Giuseppe, é que isto tenha sido obra de nossos sócios. Mas, no estado atual de nossas relações diplomáticas, não podemos sequer insinuar essa possibilidade.
Sócios? Que sócios? - A surpresa estampou-se no rosto do sacerdote. Nunca havia ouvido falar que a Cronovisão tinha aliados fora do Vaticano.
Isso é parte daquilo que nós, "evangelistas", queríamos evitar que você soubesse. Agora, porém, a urgência em recuperar a documentação roubada obriga-me a lhe restituir a confiança.
O monsenhor ergueu seu olhar acima dos óculos.
- Espero não me enganar ao contar com você de novo.
As palavras do cardeal soaram graves. Baldi limitou-se a aquiescer. Ficou ali, imóvel em sua cadeira, aguardando que seu interlocutor explicasse tudo o que estivera lhe ocultando durante os últimos meses.
Jennifer dirigiu de volta a sua casa em Venice Beach remoendo tudo que havia conversado com a doutora Meyers. Achava que a suave brisa noturna do Pacífico, um cigarro e um bom passeio até o Sidewalk Cafe para degustar uns palitos de mozzarella e um coquetel de champanhe clareariam suas idéias.
Mas estava enganada. Por mais que se abrisse com a doutra Meyers, havia coisas de que não podia falar. Como iria lhe contar que estivera trabalhando até poucas semanas na Itália em um projeto de sigilo máximo que a obrigara a se submeter à ingestão de drogas hipnóticas? E como poderia obter um diagnóstico claro da doutora se não lhe revelasse certa informação classificada sob protocolo de "segurança nacional"? Por outro lado, poderia tudo aquilo estar ligado a sua avó? Era coincidência que a dama de seus sonhos se parecesse tanto com a guadalupense que havia recordado essa mesma tarde?
Na realidade, fora a presença desses sonhos que a obrigara a se afastar do projeto. Perturbavam sua mente, disseram-lhe. E agora, de fato, sentia-se realmente confusa.
A primeira vez que consultara um médico por causa disso havia sido em Roma, depois de um relatório clínico de Fort Meade tentar desqualificá-la: "A paciente padece uma estranha forma de epilepsia conhecida como epilepsia estática ou de Dostoiévski. Deve ser submetida a observação e devem-se redobrar as precauções em seu trabalho para o Inscom - Intelligence and Security Command".
Epilepsia estática? Dostoiévski? A doutora Meyers havia falado de Stendhal? Que tipo de jargão científico era aquele?
Jennifer estacionou seu Toyota a poucos passos da cerca de entrada de sua casa. Adorava aquele lugar. Quando criança, seus pais a levavam ali para brincar na praia e passar o verão perto de seus primos. Por isso, quando deixara Washington com a intenção de não voltar jamais, transformara aquela casa em seu lar. Era um imóvel de madeira, desses que rangem quando se caminha e onde ainda podia sentir o cheiro do pastel de mirtilo que sua mãe preparava todo verão.
Antes de entrar, contemplou, nostálgica, a fachada caiada. A casa era um verdadeiro baú de recordações. Um depósito onde armazenar suas tranqueiras, os suvenires de suas viagens e suas fotos. Ali estava tudo. Até mesmo algo que acabava de aflorar a sua mente. Jennifer sorriu. Como não lhe havia ocorrido antes? Tinha anotado em uma caderneta de capa azul os detalhes de sua conversa com o doutor italiano que havia "decifrado" o diagnóstico de Fort Meade para ela. Recordava tê-lo feito para estudar com calma suas apreciações e se assegurar de que entenderia suas conclusões. E esse tesouro descansava ali mesmo, nessa linda casinha de praia.
Quando a encontrou e folheou suas páginas, pareceu-lhe estar ouvindo outra vez a voz do doutor Buonviso. Era engraçada. A lembrança de seu divertido sotaque italiano conseguiu situá-la de novo na conversa informal que haviam mantido no café do Ospedale Generale di Zona Cristo Re. Fazia um pouco mais de um ano.
A doença a respeito da qual me pergunta não é nada comum, senhorita - dissera.
Imagino, doutor - julgava ver a si mesma tomada pela impaciência. - Mas pode me dizer alguma coisa, não é?
Bem... O paciente que sofre de epilepsia de Dostoiévski costuma ter sonhos ou visões muito vívidas. Começam com uma luz deslumbrante, que precede uma súbita queda do nível de atenção do paciente aos estímulos que o cercam. Depois, em geral, o corpo fica imóvel, rígido como uma tábua, e acaba mergulhando em alucinações muito reais que desembocam em um estado de bem-estar. Depois vem a extenuação física absoluta.
Conheço os sintomas... Mas é tratável?
Na realidade, não sabemos como tratar. Leve em conta que temos apenas uma dúzia de casos documentados no mundo todo.
Tão poucos?
Jennifer inspirou profundamente enquanto suas notas continuavam lhe trazendo lembranças daquela conversa.
Como disse, é uma doença muito rara, senhorita. Rebuscando nos arquivos históricos, alguns especialistas julgaram descobrir seus sintomas em personagens como são Paulo (lembra a luz que o assaltou a caminho de Damasco?), Maomé ou Joana d'Arc...
E Dostoiévski?
Claro, ele também. Na verdade, chama-se assim porque em seu romance O idiota ele descreveu seus sintomas com uma precisão extraordinária. Atribuiu-os a um de seus protagonistas, o príncipe Mishkin. Lá estão explicadas todas as características dessa epilepsia...
Em resumo, doutor, não saberia que tratamento aplicar se tivesse um paciente com esses sintomas - atalhou Jennifer.
Para ser sincero, não.
E sabe se é uma doença hereditária?
Sim! Sem dúvida é, senhorita. Mas também não a chamaria de doença. No passado, era tida quase como um dom divino. Até se chegou a dizer que santa Teresa de Jesus sofria dela, e que foi isso que abriu seu caminho para a comunhão extática com Deus.
Entendo, doutor... Obrigada.
Prego.
Nesse momento, recordava perfeitamente o que pensara daquele médico: que os europeus se deixam levar com freqüência por suas fantasias históricas, seus relatos de místicos e santos, e raras vezes centram-se no prático.
Teria herdado essa doença? E, nesse caso, de quem? Sua mãe jamais havia padecido de algo igual. Seu pai, seco e severo até o dia de sua morte, também não.
Tentando lembrar de algo ao ver os álbuns de família, Jennifer passou um bom tempo repassando os últimos anos de sua vida. Não queria ir para a cama. Seus problemas para concluir os estudos na Universidade de Georgetown, seu recrutamento para o projeto Stargate sob o respeitável patrocínio do Stanford Research Institute (sri) e até o encontro com aquele coronel Stubbelbine, que a convencera a se apresentar como voluntária para os experimentos de telepatia que a levaram aos escuros corredores do Departamento de Defesa, mantinham-na razoavelmente desperta.
Pareciam todas imagens recentes.
Recordava, também como se fosse ontem, que havia sido um homem excepcional, um "píssico" chamado Ingo Swann, que a convencera a aceitar aquele trabalho. Ninguém era capaz de descrever um lugar distante apenas concentrando-se em algumas coordenadas predeterminadas como Swann. Jamais havia visto ninguém influir nos semáforos de uma rua para mudar de cor a seu bel-prazer como ele, e até desfazer nuvens à vontade apenas fixando seu olhar nelas. Aquele "atleta mental" insistia em dizer que o mérito não era seu, que havia herdado seus poderes de uma bisavó, uma curandeira sioux, que os havia passado do além.
"E se eu...?"
Um sorriso aflorou em seu rosto. Seu encontro com Swann, aquelas fotos, faziam-na sentir-se jovem outra vez. Voltavam a seus ouvidos os animados debates no Inscom, nas diversas equipes de visão remota. Todos eles, sem exceção, tinham certeza de que o comportamento psíquico obedece a padrões genéticas. De fato, afirmavam que em famílias de pessoas predispostas a "viagens astrais", sonhos premonitórios ou telepatia, o "píssico" sempre se destacava por seu comportamento instável, neurótico ou histérico. O paranormal era um "mal" que passava de uma geração a outra.
"E assim sou eu, sim senhor."
Jennifer fechou o álbum de fotos de repente. Precisava fazer uma ligação para Phoenix. Acabara de ter uma intuição... Uma dessas estranhas idéias "injetadas" das quais Swann lhe falava tão freqüentemente. Já eram dez horas da noite; uma hora a mais no Arizona, mas ela não se importaria. Nunca se importava.
- Mamãe?
Uma voz indiferente respondeu do outro lado da linha.
Muito bem! Que bom que está ligando no fim da noite - aprovou. - Finalmente descobriu que a tarifa noturna é muito mais barata, não é?
Sim, sim. Eu sei, mamãe. O caso é que preciso lhe perguntar uma coisa sobre a família.
Outra vez?
Não se preocupe - suspirou. - Não tem nada a ver com papai.
Ainda bem.
Sabe se alguém da família já teve epilepsia?
Mas cada coisa que você pergunta, Jennifer! Epilepsia? Está tudo bem, querida?
Responda sim ou não.
Um segundo de silêncio ocupou a linha.
Bem... quando eu era menina, minha mãe se preocupava com os ataques da minha avó. Mas ela morreu antes de eu completar dez anos, e não sei bem de que tipo de ataques falavam.
Sua avó? Minha bisavó?
Sim. Ah, mas faz muito tempo! Foi uma pena você não a conhecer. Deve ter sido uma mulher de caráter. Como você. Seus antepassados viveram perto do rio Grande, no Novo México, mas depois, na época da febre do ouro, decidiram ir para o Sul e se instalaram no outro lado da fronteira. Perto de Guadalupe.
Isso eu já sei. Mas por que nunca me falou de minha bisavó? É verdade ela que se chamava Ankti, como você?
O tom de Jennifer soou a censura.
Sim, seu nome era Ankti. Mas tudo isso são histórias muito antigas, pouco interessantes - escusou-se. - Vocês, jovens, sempre têm coisas mais importantes com que se preocupar do que as velhas histórias da família.
Histórias? Que histórias?
Bem... Sua avó Ankti contava sempre.
Que histórias? - insistiu.
Sou muito ruim para essas coisas, querida. Além do mais, iram histórias incríveis. De espíritos protetores, visitas dos deuses kachinas e esse tipo de coisa... Você teria se assustado!
Você é um desastre, mamãe. Eu lembro das histórias da vovó. Do índio Juan Diego. Da Virgem. Das flores do poncho.
Sim. Eu também.
E você sabe de que tribo minha bisavó descendia?
Isso não. Lamento. Sei que foi uma espécie de feiticeira e que a família emigrou porque tiveram muitos problemas com a paróquia de lá. Mas também não creio que falasse muito disso com seus netos.
- Já ouviu falar de Cueloce? Ou Gran Quivira?
Não... - a mãe hesitou.
A voz do outro lado da linha soltou um profundo suspiro antes de prosseguir.
Por que se interessa tanto agora por vovó Ankti, menina?
Por nada, mamãe.
Sei... Quero que saiba - riu - que, quando você nasceu, a primeira coisa que disse foi que se parecia muito com a "bruxa".
Com minha bisavó?
Sim.
Tem certeza disso?
Claro, filha! O que foi? Não vai me dizer que voltou a ter sonhos premonitórios! Já passamos uma vez por isso! - O alarme tornou-se evidente em sua voz. - E foi horrível.
Calma, mamãe. Não é nada disso. Estou bem. Da próxima vez que nos encontrarmos conto tudo.
Promete?
Prometo, mamãe.
Jennifer desligou o telefone com um sabor estranho na boca. Havia acabado de descobrir, assim, quase sem querer, que tinha mais em comum com seu admirado Ingo Swann do que jamais teria imaginado. Ambos compartilhavam um passado indígena... e uma avó bruxa! Mas isso explicava seus estranhos sonhos? E seu diagnóstico de "epilepsia de Dostoiévski"?
O que a doutora Meyers acharia disso?
Pai! Responda! Está me ouvindo? O chacoalhão de Sakmo trouxe-o pouco a pouco de volta à vida.
Gran Walpi estava aturdido. Seus músculos, com cãibras, negavam-se a reagir. Jamais soube quanto tempo havia se passado desde que a dama o deixara abandonado a sua sorte junto ao cânion da serpente. Mas, assim que ouviu a imperiosa voz ie seu rebento chamando-o, lembrou-se de tudo o que havia acontecido. "O ritual de invocação teve sucesso", pensou sorrindo.
Pouco a pouco, com esforço, o velho foi recuperando a mobilidade de braços e pernas. Ao se levantar, encontrou finalmente o rosto redondo de seu filho.
Sakmo... Você a viu?
O velho agarrou o jovem pelos ombros, tentando disfarçar sua perturbação.
Sim. Outra vez, pai.
Era uma mulher, não é? - insistiu nervoso.
A Dama Azul... Esteve aqui todas as noites enquanto o Clã da Neblina ficou trancado na kiva. Todas as sentinelas a viram rondar o lugar.
Gran Walpi estremeceu.
E ela falou com você?
Ela me chamou e eu vim, pai. Já perdi o medo dela. A dama prometeu voltar para nos ensinar uma nova religião.
Sim - suspirou. - Isso eu sei. Ela me deixou isto.
Sakmo pegou em suas mãos o objeto que a visitante havia deixado cair em frente a seu pai. O desenho não lhe pareceu estranho. Era uma cruz de madeira, amarrada toscamente.
O que está acontecendo, pai?
O guerreiro reuniu suas últimas forças para acabar de se levantar. Já em pé, segurou seu filho pelo braço e, olhando-o nos olhos, obrigou-o a baixar a vista até a mancha em forma de rosa que tinha em seu antebraço. O jovem sempre a havia visto ali.
Vê este sinal?
Sakmo assentiu.
Eu tive um igual, no mesmo lugar que você, desde que nasci. Mas hoje, meu filho, eu o perdi.
Que quer dizer?
Gran Walpi arregaçou a manga para mostrar seu braço esquerdo. Estava limpo. Sem mancha. Como se ali nunca houvesse estado impressa a rosa que brilhava na pele de seu filho.
É muito simples, Sakmo: a dama disse que em breve você ocupará meu lugar no clã. Minha missão está chegando ao fim.
Mas não pode nos deixar! Não agora, pai!
Gran Walpi manteve-se impassível.
Ela também disse - prosseguiu - que amanhã sem falta, a d amanhecer, você e um grupo de guerreiros jumanos sairão ao encontro dos portadores do novo Deus.
Os portadores do...?
Gran Walpi fê-lo calar-se.
Você irá para o Sul, dia e noite se necessário, e, antes que a lua cheia torne a iluminar estas pradarias, terá lhes apresentado suas boas-vindas. Sejam quem forem. Digam o que disserem.
Como os reconhecerei? Eu não, não...
Leve esta cruz. Ela o ajudará.
Mas, pai...
Sem mas, filho. Nosso mundo já acabou, não percebe?
Carlos seguiu ao pé da letra as instruções recebidas na roda do mosteiro. Atrás dele, com passo mais hesitante, Txema se perguntava se por trás de tudo aquilo não haveria algo milagroso... Afinal de contas, ele era um homem de fé. Discreta, sim, mas fé, afinal de contas.
Logo chegaram a um salãozinho com um grande vão gradeado pelo qual se vislumbrava outro aposento dentro do claustro. Aquele modesto recinto estava decorado com telas antigas. Em uma, apreciava-se a imagem escurecida de uma religiosa que na mão direita segurava uma pena enquanto a esquerda descansava sobre um livro aberto. Chamou-lhes a atenção uma Imaculada como as pintadas por Bartolomé Murillo às dezenas no século XVII, e uma curiosa tapeçaria que representava a aparição da Virgem de Guadalupe, no México, para o índio Juan Diego, cem anos antes. Mas, principalmente, ficaram encantados com uma tela moderna, de cores vivas e estilo naif, que mostrava uma freira vestida de azul, cercada de índios e animais domésticos.
- Você acha quê...? - murmurou Txema.
E quem mais poderia ser?
Parece um quadro muito recente - disse como que justificando.
- E é!
Uma voz feminina soou a suas costas. Saía do outro lado das grades, que abertas mostravam duas freiras vestindo batinas brancas.
Foi pintado por uma irmã do Novo México. Ela viveu conosco dois anos - esclareceu uma delas, de imediato.
As religiosas apresentaram-se como irmã Ana Maria e irmã Maria Margarita. Pareciam recém-chegadas de outro mundo, como se pertencessem a outra época. Olhavam risonhas para seus inesperados hóspedes, escondendo as mãos nas mangas de seus folgados hábitos.
E em que podemos ajudar? - disse uma delas, após convidar os jornalistas a se sentar.
Queremos saber um pouco sobre a irmã Maria de Jesus de Ágreda.
Ah! A Venerável!
No rosto da irmã Maria Margarita esboçou-se um amplo sorriso, mas foi a outra que, desde o início, tomou as rédeas da conversa.
Irmã Ana Maria dava a impressão de ser uma mulher pausada, serena. Como uma mãe paciente que vigia seus rebentos sentada no banco de um parque. Seu olhar gentil e seu porte elegante cativaram- nos de imediato. Ao contrário, a irmã Maria Margarita logo revelou-se seu pólo oposto. Miúda, inquieta, com olhos vivos e voz cantante e aguda, tinha todo o jeito de uma garota revoltosa e espontânea.
As duas olhavam para eles com curiosidade e ternura, alheias ao entusiasmo que começava a nascer dentro deles.
E o que lhes interessa saber exatamente sobre madre Ágreda? - inquiriu irmã Ana Maria após fazer as apresentações de seus visitantes.
Carlos endireitou-se em sua cadeira e olhou-a fixamente.
Bem - hesitou - ... gostaríamos de confirmar se realmente madre Ágreda esteve na América, como dizem algunas lendas.
A freira serena olhou para ele:
Não são lendas, filho. A irmã fundadora teve o dom da bilocação. Podia estar em dois lugares ao mesmo tempo; ia para a América sem abandonar sua cela ou descuidar de suas obrigações neste mosteiro.
Ela se bilocou?
Sagaz, o fotógrafo tornou a olhar para o quadro onde se via a freira cercada de índios. As religiosas olharam para ele com ar de riso.
Naturalmente! E muitas vezes! Essa foi uma de suas primeiras "exterioridades" místicas, e viveu-a quando era muito jovem. Foi pouco depois de professar como religiosa neste mosteiro - apressou-se a explicar irmã Maria Margarita apontando para o quadro que Txema examinava. - O senhor deve saber que foi um caso muito bem estudado na época, e que inclusive venceu um julgamento da Inquisição.
Ah, sim? - Carlos não conseguia acreditar na situação. Sem querer, haviam encontrado a casa na qual a freira "deles" havia vivido.
Isso mesmo.
E como foi? Quero dizer, onde a madre Ágreda apareceu mais vezes?
Bem, na realidade, como lhe dissemos, bilocava-se - precisou irmã Ana Maria. - Acho que apareceu no Novo México, onde visitou algumas tribos ao longo do rio Grande. Existe um relatório publicado em mil seiscentos e trinta que reúne os fatos tal como ocorreram.
Carlos interrogou-a com o olhar. A freira prosseguiu.
Foi redigido por um franciscano chamado frei Alonso de Benavides, que pregou naquelas terras no século XIII e encontrou o fato inusitado de muitos povoados indígenas que visitara já terem sido catequizados por uma misteriosa mulher que aparecera para aqueles índios.
Aparecera? - repetiu Txema surpreso.
Podem imaginar? - interrompeu a freira, mais exaltada que antes. - Uma mulher sozinha, entre índios selvagens, ensinando a doutrina de Nosso Senhor!
Os quatro sorriram diante daquele arroubo passional. Quando controlou seu entusiasmo, irmã Ana Maria, docemente, retomou o fio das explicações:
O que o padre Benavides registrou foi que muitas noites apresentava-se perante os índios uma mulher vestindo um hábito azul, que lhes falava do filho de Deus que morreu na cruz e que prometeu a vida eterna a quem acreditasse nele. Eram índios não batizados. Que jamais haviam visto um homem branco. E aquela mulher anunciou-lhes, também, a chegada de representantes desse Salvador para levar-lhes a boa-nova.
A senhora quer dizer que esse relatório foi publicado?
Sim, claro. Foi impresso em mil seiscentos e trinta em Madri, nas oficinas do rei Felipe IV. Corre o rumor, inclusive, de que chegou a interessar ao próprio rei.
Irmã - Txema, que acariciava sua bolsa de câmeras no colo enquanto se aquecia junto à estufa, inquiriu. - Antes, disse que as bilocações foram só a primeira "exteriorização" da madre Ágreda...
Exterioridade - corrigiu. E prosseguiu: - Bem, a madre pediu em suas orações que Deus a livrasse daqueles fenômenos. Não pensem que a vida de um místico é agradável. Os fenômenos da vida contemplativa sempre acabam dando problemas.
Por causa deles estavam correndo rumores por toda a província e curiosos iam vê-la entrar em êxtase.
Ah! Ela também entrava em transe? - Carlos se surpreendia cada vez mais.
Evidente que sim. E não pense que as visões dela desapareceram quando as bilocações acabaram. Anos depois, Nossa Senhora apareceu para ela para ditar sua vida, da qual até esse momento sabíamos quase nada pelos Evangelhos.
Prossiga, por favor.
A Venerável redigiu-a em oito grossos volumes escritos à mão que ainda conservamos em nossa biblioteca, e que depois foram publicados sob o título de Mística Cidade de Deus.
Mística Cidade de Deus?
A mão de Carlos não dava conta de anotar tanta informação.
Isso mesmo - assentiu irmã Ana Maria. - Nesse livro, revela que Nossa Senhora é, na realidade, a cidade onde mora o próprio Pai Celestial. Trata-se de um mistério tão grande quanto o da Trindade.
Sei... - Carlos ergueu os olhos do caderno, com o olhar brilhante. - Perdão, irmã, mas alguma coisa não se encaixa. Quando tentei obter informações sobre a fundadora deste mosteiro, consultei diversas bases de dados e catálogos de livros antigos para ver se encontrava alguma obra dela, e, na verdade, não encontrei nenhuma... a não ser que tenha cometido algum engano.
A freira sorriu.
O senhor tem muita sorte. O livro de que falei acaba de ser reeditado, mas com certeza se interessará mais por um dos volumes da edição antiga, que conta a vida de nossa irmã, não é?
Se fosse possível...
Claro! - sorriu a freira de novo. - Não se preocupe; nós procuraremos esse livro e o enviaremos para onde nos disser.
Carlos agradeceu o oferecimento. Após anotar em um papel o número de sua caixa postal, fez uma última e inocente pergunta:
Esclareçam-me outra coisa, irmãs. Não me lembro de ter encontrado o nome dela em nenhum hagiológio. Quando irmã Maria de Jesus foi declarada santa?
Para que foi fazer aquela pergunta?
Os olhos de suas interlocutoras ensombraram-se de repente. Como se as negras nuvens de Cameros descarregassem sua tempestade sobre o vale, as duas baixaram a cabeça, esconderam de novo as mãos sob suas batinas e esperaram um interminável segundo em silêncio antes de responder.
Finalmente, foi irmã Maria Margarita quem falou:
Veja - pigarreou. - A madre Ágreda revelou em seu livro que a Virgem concebera Nosso Senhor imaculada, e, como deve saber, esse era um tema muito discutido pelos teólogos da época. Foi, inclusive, uma idéia herética. Além do mais, a irmã imiscuiu-se nos assuntos políticos de Felipe IV, com quem se correspondeu com freqüência e de quem chegou a ser assessora espiritual.
E...? - perguntou Carlos intrigado.
Essas coisas não agradaram a Roma. O Vaticano está há três séculos retardando seu processo de beatificação. A única coisa que conseguimos foi que o papa Clemente X permitisse seu culto privado, concedendo-lhe o título de Venerável poucos anos depois de sua morte. Foi, deixe-me ver - disse procurando em um folheto que tinha na mão -, em vinte e oito de janeiro de 1673. E, desde então, nada. Nem um único reconhecimento eclesiástico.
É coisa de Roma?
Do Vaticano.
E não se pode fazer nada para corrigir esse erro?
Bem - respondeu irmã Ana Maria, um pouco mais animada -, há um sacerdote de Bilbao, padre Amadeo Tejada, que está cuidando da papelada da Causa de Beatificação para reabilitar a Venerável.
Então, nem tudo está perdido.
Não, não. Graças a Deus o padre Tejada tem muita força de vontade. É um homem virtuoso, inteligente, que trabalhou na reedição dos textos de nossa madre; também é um homem santo.
Os olhos de Carlos brilharam. "Um especialista!", pensou.
Seu fotógrafo riu com seus botões quando o ouviu perguntar com voz trêmula:
Acreditam que eu poderia conversar com ele?
Evidente que sim. Mora no abrigo dos padres passionistas de Bilbao, ao lado de uma escola de ensino fundamental.
Uma escola?
Sim. Mas ele é professor universitário - esclareceu irmã Maria Margarita com sua voz melodiosa.
Se for vê-lo, leve nossas lembranças o estimule a seguir em frente - pediu sua colega. - As causas dos santos são coisas difíceis, nas quais Deus testa a paciência dos homens...
Farei isso, fiquem tranqüilas.
Que Deus o abençoe - murmurou a freira enquanto se persignava.
MISSÃO DE SANTO ANTONIO, NOVO MÉXICO
VERAO DE 1629
Um vento tórrido sacudiu o caminho real de Santa Fé arrastando consigo uma densa nuvem de pó e areia. Era meio-dia. Os primeiros anéis do remoinho atravessaram os juníperos da beira da estrada, assustando dois lagartos que descansavam sobre uma grande rocha cinza. Frei Esteban de Perea sabia ler aqueles sinais. Conhecia bem aquele deserto. Parou um instante para dar uma olhada e, antes que o inconfundível cheiro de pó chegasse a seu nariz, deu a ordem:
- Cubri-vos! Rápido!
Como se fossem um único homem, a dezena de frades da ordem de São Francisco que o seguia ergueu suas mangas e cobriu o rosto como ele havia ensinado. Usavam grossos hábitos de lã, capuz, cordão como cinto e sandálias de couro. Uma indumentária claramente insuficiente para resistir aos embates de um sílex fino, mortal como uma chuva de alfinetes de aço.
Agüentai! - exortou-os a mesma voz, enquanto o entorno mergulhava na penumbra.
A tempestade, negra como uma praga de gafanhotos, caiu sobre os frades durante apenas mais alguns minutos. Porém, de repente, alguém em uma das pontas da caravana exclamou:
-Jesus santíssimo! Estou ouvindo música! Estou ouvindo música!
Eu também! - somou-se outra voz.
E eu!
Quem disse isso? - frei Esteban, com os olhos quase fechados, tentou localizar os irmãos que haviam gritado. O rugido da tempestade fazia-os parecer distantes. Quase do outro lado do mundo.
Eu! Frei Bartolomé! Não ouvis, padre Esteban? É música sacra!
O inquisidor responsável pelo grupo fez um novo esforço para encontrar a silhueta esférica de Bartolomé.
De onde vem a música, irmão? - gritou para se fazer entender.
Do Sul! Vem do Sul!
Embora mal lhe tenha chegado o tímido eco de suas palavras, todos os frades, sem exceção, aguçaram seus tímpanos.
Ainda não ouvis? Vem lá de trás! - insistiu aos gritos frei Bartolomé.
Todos os missionários, por fim, perceberam a melodia. Era uma música suave, quase imperceptível, como se saísse de uma delicada caixinha de música. Se não se encontrassem no meio do deserto, a cinco dias a pé de Santa Fé, teriam jurado que se tratava de um coro entoando as Aleluias. Mas, ali, isso era impossível.
O fenômeno durou pouco.
Antes que pudessem distinguir uma só frase inteligível naquela confusão de zumbidos, areia e cânticos, a tempestade mudou de direção, levando tudo consigo. Depois, um silêncio mortal cercou os religiosos.
Frei Bartolomé, com aquela cara de bolacha que Deus lhe havia dado, inquiriu:
- Será que é um sinal?
Mas o padre Perea, incomodado com a interrupção, quis ignorar o assunto. Os frades decidiram não dar chance para o deboche do demônio. Nem do inquisidor. Envergonhados, como se acabassem de ser testemunhas de uma miragem, sacudiram os hábitos, puseram de novo suas bagagens nos ombros e retomaram a marcha.
Queriam chegar o quanto antes à missão de Santo Antonio de Pádua, um dos assentamentos mais antigos da região. Frei Esteban desejava estabelecer-se ali durante alguns dias para comprovar por si mesmo algo que no México o havia deixado perplexo: só nesse lugar, nos últimos vinte anos, e segundo dados confiáveis do arcebispo, haviam sido batizados cerca de 80 mil índios. Isto é, a quase totalidade de seus habitantes.
O caso era único na América. Nem no México, nem nos reinos do Peru, nem no Brasil havia ocorrido uma cristianização tão rápida e pacífica como aquela.
Nenhuma razão comum explicava a receptividade dos índios. Ao contrário, pois os números de convertidos eram acompanhados pelo persistente rumor de que uma "força sobrenatural" havia instado os nativos a aceitarem a fé em Cristo.
Para Perea, homem do Santo Ofício, tais histórias não satisfaziam. Sentia uma propensão natural a recear as coisas milagrosas.
Nascido em Villanova dei Fresno, na divisa entre Espanha e Portugal, sua visão de fronteira havia lhe dado uma mente aferrada ao dogma. Precisava de uma regra que explicasse o mundo, e a fé lhe proporcionara esse consolo quando ainda era apenas uma criança. Alto, magro, de perfil esguio e dotado de uma grande cabeça, sua simples presença intimidava. Seu pai, mercenário, o havia preparado para a luta. Era forte e severo como ele. Sua mãe orientou-o para a fé. E, como ela, ele odiava todo tipo de superstição.
Ouvi-me! - gritou, sem deter o passo e brandindo no alto um pedaço de pergaminho. - Se meu mapa estiver correto, devemos estar perto da missão de Santo Antonio.
O júbilo percorreu a formação.
A partir deste momento - prosseguiu - quero que estejais atentos a qualquer comentário que ouvirdes dos índios. Não importa quão estranho vos parecer. Quero saber por que se tornaram cristãos, se alguém os obrigou ou instruiu e se viram algo fora do normal que os levasse a se converterem a nossa fé.
Que quereis dizer com "algo fora do normal", padre Esteban?
A pergunta de frei Tomás de San Diego, perspicaz leitor de teologia da Universidade de Salamanca, aliviou as inquietudes da maioria. O inquisidor não hesitou.
Prefiro não vos explicar, irmão Tomás. No Arcebispado do México ouvi coisas absurdas. Diziam que os espíritos das pradarias haviam levado os clãs desta região a nos pedirem o batismo...
Espíritos? Que tipo de espíritos?
Homem de Deus! - frei Esteban pareceu desgostoso pela insistência daquele fradezinho. - Deveríeis saber que a gente destas terras não recebeu educação alguma. Eles vos explicarão com suas pobres palavras o que viram, mas vós as interpretareis.
Entendo. Quereis dizer que, quando nos falarem de espíri- :os, nós lhes explicaremos que são nossos anjos. Não é isso?
O frade empregou um tom que irritou definitivamente o inquisidor.
Vejamos, irmão Tomás: que diríeis que acaba de acontecer aqui?
Frei Tomás de San Diego pareceu encolher quando Esteban de Perea o segurou entre seus fortes braços.
Aqui? - hesitou. - Estais vos referindo aos coros que ouvimos?
O inquisidor assentiu com a cabeça, aguardando uma resposta.
Música celestial? Um presente da Virgem para que perseveremos em nossa missão e reforcemos nossa fé?
Frei Esteban suspirou. Soltou os ombros do pequeno Tomás e gritou para que todos o pudessem ouvir:
Não! Não, irmãos!
Até o último frade estremeceu.
Estais entrando no deserto! No mesmo lugar em que Cristo foi tentado por Satanás durante quarenta dias e quarenta noites! Cuidado com os falsos estímulos, as miragens e as sombras! Ensinai a luz à gente que encontrarmos! Foi para isso que viemos!
Stanislaw Zsidiv aproximou-se das impressionantes janelas de sua sala e, de costas para o padre Baldi, fez um surpreendente relato sobre o que acabara de acontecer em Roma.
Na tarde em que Luigi Corso havia morrido contou-lhe que o Vaticano estava havia mais de quarenta anos colaborando com os serviços de inteligência norte-americanos por meio de uma organização da CIA conhecida como O Comitê. Ou, para ser mais preciso, o American Committee for a United Europe (ACUE). Segundo ele, tratava-se de uma organização fundada em 1949 nos Estados Unidos e dirigida por homens da antiga Office of Strategic Services (OSS), precursora da CIA, com a intenção de consolidar os Estados Unidos da Europa após a guerra.
No início, enfatizou Zsidiv, O Comitê tentou controlar todos os padres de tendência comunista que pudessem encobrir atividades pró-soviéticas no Velho Continente. Porém, nos últimos anos, havia ganhado a confiança do Sumo Pontífice ao descobrir duas operações de alto nível que planejavam atentar contra ele.
Baldi arregalou os olhos:
E o que isso tem a ver com "são Mateus"?
Muito - atalhou Zsidiv. - Nestes anos, O Comitê não se limitou apenas a atividades políticas; interessou-se por alguns de nossos programas de pesquisa, em especial pela Cronovisão. Informaram-nos que uma de suas organizações, o Inscom, criara havia alguns anos uma seção destinada a treinar pessoas com habilidades extrassensoriais muito desenvolvidas, capazes de atravessar com a mente as barreiras do espaço e do tempo. Queriam integrá-las a uma divisão que chamaram de "espionagem psíquica". De alguma forma, descobriram que nós trabalhávamos em algo parecido com a ajuda de música sacra e de seus estudos de prepolifonia, e indicaram-nos um colaborador, um delegado com quem trocar pontos de vista sobre nossos avanços mútuos...
Um de seus homens. Um espião.
Chame como quiser. Mas destinaram-no à chefia de nossa equipe em Roma para que trabalhasse ombro a ombro com "são Mateus", o padre Corso. E, há um mês, ambos descobriram o dossiê da Dama Azul. Acharam que haviam encontrado algo importante.
A Dama Azul?
Baldi jamais havia ouvido aquele nome.
Ah! É verdade! Você não conhece essa história!
Monsenhor Zsidiv voltou-se, fitou com benevolência o padre Baldi e, com as mãos cruzadas à altura da grande cruz peitoral de ouro que iluminava seu peito, voltou à mesa de trabalho.
Deixe-me explicar-lhe bem, Giuseppe. Nos arquivos do Santo Ofício, o padre Luigi Corso e o americano descobriram umas atas que falavam de uma freira espanhola que viveu várias experiências de bilocação espetaculares.
Atas? Que atas?
São conhecidas como Memorial de Benavides. Referem-se a alguns episódios ocorridos em 1629, no Novo México, e foram redigidas por um franciscano de mesmo nome. Elas afirmam, dentre outras coisas, que essa mulher se deslocava fisicamente de um lugar para o outro do mundo com a misteriosa ajuda de Deus. Em seu relatório, o padre Benavides atribuiu a ela a evangelização de várias tribos indígenas do sudoeste dos Estados Unidos, onde suas aparições lhe valeram esse apelido: Dama Azul... Isso foi o que interessou aos americanos.
Isso? Desde quando a CIA se interessa pela história de seu país?
Não foi a história o que os interessou - um sorriso malicioso esboçou-se no rosto fino do polonês. - Não creio que em Langley saibam discernir entre 1629 e 1929. Tudo isso está muito distante para eles.
Então...?
O que despertou a cobiça deles foi a possibilidade de enviar homens instantaneamente a qualquer canto do mundo, seguindo o caminho aberto por aquela religiosa. Pode imaginar isso? Com uma habilidade assim, um exército poderia acessar segredos de Estado, roubar documentos comprometedores, eliminar inimigos potenciais ou mudar coisas de lugar, sem deixar marca alguma. Em suma, se conseguissem reproduzir o que Benavides explicava em seu relatório, teriam nas mãos a arma perfeita: discreta e indetectável.
Querem militarizar um dom divino? - Baldi estava perplexo.
Sim. Com a ajuda da música que provocou os êxtases e bilocações daquela Dama Azul. Não é isso que você está há tanto tempo estudando, velho amigo?
Mas não existe nenhuma freqüência acústica conhecida que permita uma coisa dessas! - protestou Baldi.
Foi isso mesmo que disseram os outros dois "evangelistas". De fato, os documentos relativos a essa freira não dão nem uma única prova convincente de que ela foi responsável por essas visitas aos índios.
Então?
Não sei.
Não sabe, Eminência?
Talvez o que os índios viram tenha sido algo mais importante.
Mais importante? Que quer dizer?
Que talvez a Dama Azul não tenha sido uma freira de clausura com dom de bilocação. Talvez estejamos diante de algo maior, mais sublime: uma manifestação de Nossa Senhora, por exemplo. Uma aparição da Virgem. O papa considera seriamente essa possibilidade; acredita que ninguém além dela poderia ter aparecido em glória e majestade para aqueles índios, preparando a evangelização da América.
Uma aparição... - a idéia deixou Baldi pensativo.
Não obstante, "são Mateus" e seu assistente americano nunca concordaram com a hipótese mariana, e empenharam-se em reunir toda a informação possível para dissipar as dúvidas.
Acredita que essa obsessão teve a ver com a morte do padre Corso?
Tenho certeza disso. Principalmente depois de seus arquivos terem desaparecido. É como se alguém soubesse de seus avanços e estivesse interessado em apagar o dossiê todo do mapa. Talvez o padre tenha descoberto alguma coisa. Algo que precipitou sua morte.
E o assistente do padre Corso? O representante dos americanos não deu nenhuma pista à Polícia?
Monsenhor Zsidiv começou a brincar com seu abridor de cartas de prata.
Não. Mas isso também não me surpreende. Veja, Giuseppe, tsse homem não é flor que se cheire. Acho que o Inscom o incorporou a nosso projeto só para que espiasse os avanços do primeiro evangelista" e mantivesse seus chefes em Washington
informados... Mas há de reconhecer de também fez contribuições à Cronovisão.
Por exemplo?
Bem... Você sabe melhor que ninguém como este projeto é delicado. É ciência por um lado, mas fé por outro. Daí nossos conflitos. De algum modo, a Cronovisão só é aceitável a partir da certeza de que houve profetas e grandes homens no passado aos quais Deus dotou com o dom de transgredir o tempo. Por isso, criamos uma máquina que desafia essa dimensão. Que estimula à vontade estados visionários como os dos antigos patriarcas e transforma pessoas normais, homens e mulheres de carne e osso, em profetas. Pelo menos, consegue isso por um tempo...
Pode poupar os detalhes, Eminência.
Está bem, Giuseppe - sorriu. - Foi você quem forneceu aos "evangelistas" a idéia, acertada, de que certas notas de música sacra serviram a alguns místicos para vencer essas barreiras do tempo. Lembra? E você também insinuou que a chave para abrir essa caverna da mente era o som. Você o comparou ao "abre-te, Sésamo!" de Ali Babá.
Tudo está no verbo. O som é sua manifestação acústica.
Pois bem - o monsenhor esfregou as mãos -, este americano conhecia um sistema ainda mais depurado que o seu, embora estivesse dentro da mesma linha de trabalho.
O padre Baldi tirou os óculos e, tentando disfarçar sua surpresa, começou a limpá-los com um pequeno lencinho. Alguém havia desenvolvido nos Estados Unidos um sistema para provocar estados alterados de consciência usando freqüências musicais? O "santo" queria conhecer todos os detalhes.
Que tipo de sistema é esse, Eminência? - perguntou por fim.
Vou lhe dizer: quando nos designaram esse novo colega de trabalho, registramos e duplicamos todo o material que ele trouxera consigo. Em seus diários mencionava os avanços de um tal de Robert Monroe, um empresário americano especializado na instalação de emissoras de rádio que havia desenvolvido um método para ensinar qualquer pessoa a "voar" fora do corpo.
Um método... sério? - perguntou Baldi, desconfiado.
Nós também nos surpreendemos. Primeiro pensamos que era coisa de outro guru da Nova Era. Mas nossas primeiras consultas mostraram nosso erro.
Robert Monroe? Nunca ouvi falar dele.
Ao que parece, depois da Segunda Guerra Mundial esse homem sofreu várias experiências involuntárias de saída do corpo, e, em vez de aceitá-las simplesmente, como haviam feito tantos antes dele, quis estripar a "física" de seu funcionamento. Esses cadernos explicavam como Monroe descobriu que suas "viagens" estavam diretamente relacionadas com certos comprimentos de onda em que o cérebro humano trabalha. De fato, mostravam como era possível induzir artificialmente ondas similares mediante o uso da hipnose ou, ainda melhor, aplicando certos sons "sintéticos" aos ouvidos.
Isso não é novo para nós... - disse Baldi.
Não, em tese. Depois, descobrimos que esse indivíduo estava tão seguro de sua hipótese que, nos anos setenta, havia fundado um instituto na Virgínia para provocar "viagens astrais". Desenvolveu uma revolucionária tecnologia de som que chamou de Hemi-Sync... e foi um sucesso!
Hemi-Sync?
Sim, é a abreviatura em inglês de "sincronização de hemisférios". Ao que parece, seu método consistia em equilibrar a freqüência de funcionamento das duas metades do cérebro humano e aumentar ou reduzir sua vibração em uníssono, levando o sujeito até os limites de sua percepção mediante a captação de certos sons.
Tem sua lógica, Eminência. Sabemos que o som, o ritmo, a vibração chegam diretamente ao cérebro.
Pelo que descobrimos, Monroe estabeleceu uma espécie de tabelas acústicas que marcavam até onde se podia chegar com suas freqüências.
Tabelas? Que tipo de tabelas?
Monsenhor Zsidiv recorreu a suas anotações. Em questão de segundos, localizou o que procurava:
Aqui está - disse. - Monroe descobriu que, se um paciente ouvisse um som, por meio de fones de ouvido, com uma vibração de 100 Hz (ou ciclos por segundo) em um ouvido, e outro de 125 Hz no outro, o som que o cérebro "entende" é a diferença matemática de ambos. Ou seja, a massa cerebral "ouve" um som "inexistente" de 25 Hz. Não é impressionante?
Continue, por favor.
Esse som fantasma apossa-se dos dois hemisférios, neutralizando os que vêm do exterior. Monroe batizou-o de "binaural" e insistiu em afirmar que era a única freqüência capaz de gerar estados de consciência alterados com sucesso. Afinal de contas, era uma vibração criada pelo cérebro, como a que favorecia as saídas do corpo...
E em que esses achados mudaram nosso projeto?
Imagine só! Passamos de treinar pessoas sensíveis para ver coisas além do tempo e espaço a considerar seriamente a possibilidade de projetá-las para fora de seus corpos para recolher essa informação, onde quer que esteja. Recolhê-la em sentido estrito - sorriu.
Quase como essa Dama Azul fazia, não é isso?
Exato! Assim acreditaram o padre Corso e seu assistente. E por isso acho que se dedicaram tanto a esse caso. Talvez suspeitassem que, investigando a fundo o dossiê da dama, encontrariam novas chaves para levar alguém ao passado. E não somente de alma. Também de corpo.
E então "são Mateus" morre.
O padre Corso, sim.
O monsenhor baixou o olhar, desconsolado.
Ele era... - prosseguiu - um bom amigo nosso.
Seus lábios tremeram, como se de uma hora para outra fosse cair em prantos. Mas se conteve.
Está bem, Eminência. Sei que não tenho feito as coisas muito bem ultimamente, mas talvez agora tenha a oportunidade de me redimir de meus erros. Se julgar oportuno - acrescentou Baldi solenemente -, poderia assumir os laboratórios do "primeiro evangelista" e sondar seu assistente para tentar descobrir se sabe mais do que diz...
Zsidiv tossiu com aspereza; estava tentando limpar sua garganta, e não utilizar um tom de voz muito afetado.
Isso é exatamente o que queria lhe propor. Que retome as investigações de "são Mateus" de onde ele parou. Assim continuará na equipe, pelo menos até que o Santo Ofício decida intervir outra vez. Vou cuidar disso.
A propósito, se eu for reincorporado à equipe, o que acontecerá com a audiência de amanhã?
Não se preocupe. Eu a cancelarei. Se mantiver a boca fechada, não precisará passar por ela. O Santo Padre compreenderá.
Obrigado, Eminência. Farei o que estiver em minhas mãos.
Tome cuidado, Giuseppe - advertiu Zsidiv já na porta de sua sala. - Ainda não sabemos se o padre Corso se suicidou ou se "o suicidaram". Está me entendendo?
Claro. Por onde acha que devo começar a procurar?
Venha amanhã ao estúdio que "são Mateus" tinha na rádio Vaticana. Trabalhou lá durante o último ano. A propósito - Zsidiv olhou para o beneditino com curiosidade já tem lugar para dormir em Roma?
Baldi negou com a cabeça.
Perto do Coliseu fica o abrigo para peregrinos das irmãs conceicionistas, na Via Bixio. Pergunte pela irmã Micaela e ela lhe dará alojamento por alguns dias. E bem cedo vá a rádio Vaticana. Ali, pergunte pelo assistente do padre Corso.
Como se chama? - Baldi formulou aquela última pergunta realmente agradecido pela ajuda de seu velho amigo.
Doutor Alberto - disse Zsidiv. - Mas, na realidade, seu nome é Albert Ferrell. Agente especial Albert Ferrell.
MISSÃO DE SANTO ANTONIO
A menos de uma hora a pé de onde se encontrava a expedição do padre Perea, sob duas imponentes torres caiadas de tijolo, frei Juan de Salas ouvia com atenção o que o índio Pentiwa tinha a dizer. Frei Juan era um velho de mente aberta, um missionário solitário que chamavam de "o adiantado" por ter se estabelecido em terras ainda não conquistadas. Pentiwa, "o que pinta máscaras", era um homem venerado no assentamento. Com fama de feiticeiro, desde que Salas chegara àquela longínqua missão, dezessete anos antes, havia tratado de congraçar com ele, convidando-o a compartilhar o poder sobre seus conterrâneos. Ao padre, dizia ele, correspondia a cura das almas; a ele, a dos corpos. Pentiwa era um xamã, um curandeiro.
Frei Juan decidiu recebê-lo na modesta sacristia de sua igreja. O índio desejava pô-lo a par de algo "de extrema gravidade".
- Ontem à noite tive um sonho.
O índio, sentado no chão com as pernas cruzadas, foi tão lacônico como de costume. Havia aprendido a língua dos castelhanos em pouco tempo, e quando queria expressava-se nela com admirável fluidez.
E então?
Acordei depois da meia-noite e lembrei o que havia ouvido de meu avô, e ele do dele, muitos anos atrás. Depois, compreendi que precisava lhe contar o quanto antes.
O xamã enfeitou suas duas frases com gestos grandiloqüentes, como se tentasse enfatizar seus pensamentos.
Meus antepassados me contaram que um dia, tempos antes da chegada dos espanhóis, os habitantes de Tenochtitlán receberam a visita de um homem muito estranho.
Vai me contar outra de tuas histórias, Pentiwa?
O xamã não se alterou. Fingiu que não ouviu o padre Salas e prosseguiu:
Tinha grande barba vermelha e um rosto alongado e triste. Suas roupas chegavam até os pés e apresentou-se às autoridades como um enviado do "filho do Sol". Anunciou-lhes o final de seu império, a chegada de outro que viria de muito longe e a decadência de seus deuses sedentos de sangue...
A que vem tudo isso, Pentiwa?
O olhar grave do frade, emoldurado por rugas que transmitiam sabedoria, incitou-a a deixar de rodeios.
Está bem, padre. Meu povo também recebeu essa profecia.
Do que estás falando?
De algo que nenhum homem de minha tribo se atreveria a falar convosco. E não o farão por medo. Mas, vos dou minha palavra de que também aqui fomos visitados por uma "filha do Sol". Era tão linda quanto a lua e soube se fazer entender por todos...
Aqui? Em Isleta?
O padre Salas, que havia batizado Pentiwa com as próprias mãos, estava impressionado.
Achais estranho? Estas terras pertenceram aos espíritos de nossos antepassados; eles velaram por elas e as protegeram para que um dia as herdássemos. Depois, aquela ordem sagrada se alterou com a chegada dos comissários de Castela, e perdemos a única coisa que possuíamos.
Por que estás me contando isso agora, Pentiwa?
É muito fácil, padre. Meu povo sempre gozou da proteção desses espíritos. Seres azuis, da cor do céu, que velam por nosso bem-estar e que ainda aparecem nas planícies, ou em nossos sonhos, e nos previnem de desgraças futuras.
Frei Juan cofiou a barba, avaliando as palavras do índio.
Mas isso é coisa dos anjos da guarda, filho - murmurou finalmente. - Eles, como aquele que apareceu para Maria antes de ela conceber Jesus, manifestam-se aos homens e anunciam coisas que estão por acontecer... Essa "filha do Sol" que tu vistes não seria um anjo da guarda?
O xamã, então, cravou seu olhar no frade.
Padre - disse -, eu a vi de novo.
Quem? A "filha do Sol"?
Pentiwa assentiu.
E ela anunciou a chegada de gente como vós. Será nesta estação. Homens com hábitos longos como os do visitante de Tenochtitlán e barbas longas como a vossa.
Alguém mais a viu, meu filho?
Não acreditai se não quiserdes. Mas ouvi seu anúncio - atalhou o curandeiro. - Virão homens que tentarão nos arrancar o segredo dessas visitas. Mas já vos advirto que não conseguirão.
Sonhaste tudo isso?
Sim.
E teus sonhos sempre se realizam?
O índio assentiu de novo.
E a que se deve esse receio pela chegada de novos missionários? Deverias estar contente por...
Nossa vida já mudou o suficiente desde que vós chegastes. Entendeis, não é? Vimos como se castigam os acusados de bruxaria ou quem ainda acredita nos deuses antigos. Vós queimastes as máscaras de nossos kachinas. Outros irmãos vossos torturaram até mulheres e idosos em Santa Fé e nas terras do Sul. E tudo em nome de vossa nova religião.
Um brilho de raiva iluminou os olhos de Pentiwa. O frade estremeceu.
Sinto ódio em tuas palavras. E realmente lamento. Nunca te tratei mal.
Eu vos aprecio, padre. Por isso, quero que saibais que, quando esses homens chegarem, nosso povo não abrirá a boca. Não se exporá ao perigo reservado aos que não acreditam no Deus branco.
Isso se chegarem - disse Salas pensativo.
Chegarão, padre. E muito em breve.
Aquela noite, Jennifer adormeceu abraçada a um velho retrato de sua avó Ankti. Ela mesma havia escrito em um canto o ano: 1920. Era uma fotografia curiosa. Ankti, risonha, muito jovem, com uns olhos pretos que pareciam querer saltar da moldura, estendia seus braços nus para o fotógrafo. Usava um lindo vestido florido e o cabelo preso em grossas maria-chiquinhas.
Era difícil dizer onde havia sido tirada. Parecia uma missão indígena. Talvez no Novo México. O edifício de tijolos brancos do fundo lhe parecia vagamente familiar. Porém, o que mais deixou Jennifer intrigada foi a mancha que sua avó tinha na face anterior do antebraço esquerdo. Parecia um hematoma. Ou uma queimadura. Mas tinha forma de rosa. Exatamente o mesmo aspecto da marca de nascença que ela tinha, no mesmo lugar.
- Você também tem - a voz da avó reviveu por alguns segundos em sua memória. - É dos nossos, querida.
Era uma marca idêntica à que havia visto no antebraço de Sakmo na noite em que sonhara com ele. "Um dos nossos?"
À meia-noite, com a vaga intenção de procurar respostas para tudo aquilo, Jennifer não opôs resistência ao sono. Acomodou-se no grande sofá da varanda dos fundos de sua casa e ali, embalada pela quente brisa da praia de Venice, deixou-se ninar. Queria viajar até a terra de seus antepassados.
Nesse momento, já tinha certeza de que esse era seu destino. E não outro.
Jamais o cumprimento de um vaticínio parecera ao padre Salas tão fulminante como aquele. É que, assim que Pentiwa abandonou a sacristia, um grupo de crianças entrou em tropel em seus domínios. Excitados, cercaram o frade e puxaram-no pelo hábito para fora.
Temos visita. Temos visita - gritavam alvoroçados.
Frei Juan acariciou-lhes a cabeça enquanto tentava manter o equilíbrio. Muitos eram alunos seus. Ele os havia ensinado a falar castelhano e, satisfeito, via-os crescer nas margens da nova fé.
Uma visita? Que visita? - perguntou intrigado.
São muitos! E vos estão chamando! - respondeu o maior deles.
Antes que pudesse formular outra pergunta, o padre Salas já se encontrava do lado de fora. A mudança de luz ofuscou-o. Quando finalmente seus olhos se adaptaram ao sol do meio-dia, ficou petrificado. Em frente à porta de sua igreja, uma comitiva de onze frades da Ordem de São Francisco, com cabelos e barbas esbranquiçados pelo pó do deserto, aguardavam em pé. Em silêncio. Como se acabassem de chegar de além-túmulo.
Padre Salas?
O velho frei Juan não respondeu. Seu fio de voz resistiu a emergir.
Meu nome é frei Esteban de Perea - prosseguiu aquele que estava à frente do grupo. - Sou o futuro custódio destas terras e, portanto, sucessor de frei Alonso de Benavides. E desejo... - hesitou - pedir-vos em seu nome que nos acolhais em vossa santa casa.
Frei Juan, ainda mudo de espanto, examinou-o de cima a baixo.
O que há, padre?
Não. Não é nada - disse por fim. - Só que não esperava ver tantos irmãos juntos. Há anos que não recebo visitas...
Bem, aqui estamos.
O inquisidor sorriu.
Mas que fazem aqui Vossas Paternidades? - reagiu finalmente o padre Salas, balançando a cabeça incrédulo.
Há três meses, cheguei a Santa Fé acompanhado por vinte e nove frades de nossa Ordem.
Vinte e nove?
Sim - confirmou orgulhoso frei Esteban. - Fomos enviados pelo rei dom Felipe IV pessoalmente. Ele deseja potencializar as conversões de nativos no Novo México, impressionado como está por vosso benfazer.
Seu anfitrião observou-o com atenção.
E por que ninguém me anunciou vossa visita?
Porque não se trata de uma viagem pastoral, padre. Ainda não tomei posse de meu cargo e só o farei dentro de algum tempo.
Está bem - suspirou o velho. - Vossa Paternidade e os frades que vos acompanham podeis ficar nesta missão o tempo que desejardes. Posso oferecer-vos pouco conforto, mas vossa estadia será motivo de alegria para os cristãos desta vila.
Sois muitos?
Muitos. Tantos que creio que Sua Majestade perderá tempo e seus dobrões se quiser cristianizar mais índios. Todos são devotos de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos?
Sim - assentiu o padre Salas enquanto acariciava, ainda incrédulo, sua calva. - Mas entrai e recuperai-vos de tão longa viagem.
Esteban de Perea e seus frades seguiram-no até o interior da missão. Percorreram a grande igreja de tijolos que os índios haviam erguido anos antes e adentraram um pequeno corredor junto ao altar-mor. Frei Juan de Salas explicou-lhes que aqueles aposentos haviam sido utilizados como celeiro em tempos de guerra, visto que o edifício, além de casa de Deus, também era uma verdadeira fortaleza. Havia sido construído com muros de 3 metros de espessura; não tinha janelas e sua nave podia abrigar mais de quinhentas pessoas ao mesmo tempo. Ainda advertiu-os para que andassem com cuidado quando saíssem ao pequeno pátio que separava os cinco aposentos em que o local era dividido, pois algumas velhas tábuas escondiam o único poço de água potável do povoado.
Os índios - comentou o padre Salas - preferem beber água diretamente do rio, mas, em tempos de sítio, aqui dentro poderiam se abastecer e resistir a qualquer ataque.
A segunda menção ao aspecto defensivo de sua missão induziu os frades a se interessarem pela segurança da região.
Sois atacados com freqüência, padre? - perguntou um dos frades do séquito.
Oh, vamos! Não tendes com que vos preocupardes! - o velho ergueu os braços ao céu. - Não vedes quão bem me saio aqui, sozinho?
Os religiosos riram.
Além do mais, faz muito tempo que os apaches não nos atacam. As secas os obrigaram a se manter afastados.
Mas poderiam voltar a qualquer momento, não é? - comentou frei Esteban, que não perdia nenhum detalhe da estrutura daquele lugar.
Naturalmente. Por isso o povo mantém esta igreja em perfeito estado de conservação. É o seguro de vida deles.
O padre Salas apontou-lhes onde poderiam se livrar do pó da estrada e convidou-os a se juntarem a ele depois, para celebrar os ofícios das vésperas. Na pradaria, dezoito horas já era tarde. Depois concluiu com uma reverência suas explicações e abandonou a igreja.
O adiantado Salas precisava meditar sobre as revelações do índio Pentiwa. E rápido.
Como ele havia feito aquilo? Como Pentiwa conseguira se antecipar assim aos acontecimentos? Por acaso alguém o havia alertado da chegada do padre Perea? E seriam reais seus temores de que o recém-chegado pretendia lhes arrancar o segredo das visitas dessa estranha "filha do Sol" de que ele havia falado?
Frei Juan caminhou à sombra das sabinas por um bom tempo. Ali, junto ao rio, costumava cochilar nas tardes de calor. Às vezes lia fragmentos do Novo Testamento. Às vezes despachava à fresca suas cartas ou relatórios pastorais. Mas aquela tarde seria diferente.
Frei Juan! Estáveis aqui...!
O velho, absorto em seus pensamentos, não sabia que o inquisidor estivera chamando seu nome por toda a missão.
Gosto de vir a este lugar falar com Deus, padre Esteban. É um lugar tranqüilo, onde é fácil resolver problemas... - o tom de frei Juan soou cansado.
Problemas? Espero que não sejamos um inconveniente para vós.
Não, não. Por favor. Nada disso. Quereis acompanhar-me?
Esteban de Perea aceitou. E os dois, sob as sombras alimentadas pelo rio Grande, observaram-se disfarçadamente, pensando em como iniciar melhor aquela conversa.
Então, viestes substituir frei Alonso de Benavides... - Salas foi o primeiro a falar.
Só cumpro instruções de nosso arcebispo, padre. Rezo todo dia a Nossa Senhora para que me permita estar logo à frente de minhas responsabilidades, antes que chegue o inverno.
E dizei-me - prosseguiu sibilino o velho frade -, haveis parado nesta missão por alguma razão especial?
O inquisidor hesitou.
De certo modo, sim.
De certo modo?
Não pretendia falar sobre isso, mas, dado que vós sois o único cristão mais velho que pode me ajudar aqui, não me resta outro remédio. Vede: monsenhor Manso y Zúniga encomendou-me no México uma tarefa que não sei por onde começar...
Sou todo ouvidos.
Esteban de Perea adotou uma atitude confidente. Enquanto caminhavam pela margem, explicou-lhe que o que ia contar nem os frades que o acompanhavam sabiam com tantos detalhes.
Antes de partir - acrescentou -, o arcebispo falou-me de certos rumores acerca das conversões em massa de índios nestas regiões. Explicou-me que por trás desses arroubos de fé parece que se escondem forças sobrenaturais. Poderes que convenceram os nativos a nos encomendarem suas almas. É verdade?
E vós, padre, por que vos interessais por simples boatos?
Bem sabeis que no Santo Ofício somos muito zelosos de tudo que se refere ao sobrenatural. Só na Cidade do México monsenhor Manso teve de redobrar as precauções depois que começaran a surgir por todos os lados índios que afirmam ter visto de novo Nossa Senhora de Guadalupe...
E vós lhes dais crédito?
Nem dou nem tiro, padre.
Acreditais que aqui pode ter acontecido a mesma coisa?
Não sei. Mas compreendereis que esse tipo de afirmação nos lábios de convertidos tão recentes é suspeita. Minha obrigação é investigar.
Frei Juan de Salas pegou a mão do inquisidor e apertou-a entre as suas:
A vida no deserto é dura e pouco amiga das fantasias - disse. - Não vos posso dizer que tenha visto fenômeno sobrenatural algum, porque estaria mentindo, mas deveis entender que talvez eu seja o menos indicado, dentre todos os que vivem em Isleta, para presenciá-los.
Que quereis dizer, padre?
Que, graças a Deus, eu já gozo de fé. Mas, para esses índios, esse dom é algo novo. E, se eles viram ou ouviram algo que os incitou a me pedir o batismo, bendito seja o Santíssimo! Eu me limito a colher suas almas, e não a descobrir as causas de sua conversão. Compreendeis, não é?
O frade veterano parou por um momento para mostrar algo ao hóspede. Da margem, desfrutava-se de uma linda vista da missão. Uma centena de casas de tijolos amontoava-se a seus pés. Todas estavam coroadas com pequenas cruzes de madeira que imitavam os dois crucifixos de ferro das torres da igreja. Na opinião do padre Salas, sua presença dava conta de quão cristã aquela gente se sentia.
Isso é muito bom, frei Juan - murmurou o inquisidor -, mas meu objetivo é determinar as causas da conversão em massa. Compreendei que no México estejam sensibilizados por essa questão...
Naturalmente.
Pentiwa tinha razão, e seu acerto fez com que um calafrio abalasse o padre Salas. Devia falar do que Pentiwa lhe havia contado sobre o "relâmpago azul"? E para quê, pensou melhor. Para que depois nenhum índio corroborasse sua história? Não. Era mais prudente calar.
Está bem - suspirou frei Esteban. - Falai-me dos números de convertidos na região. São tão altos como dizem?
Não saberia precisar. Ainda não pude atualizar os livros de batismo. Mas oscilam entre as oito mil almas convertidas em 1608 e as quase oitenta mil batizadas por estes dias... - O padre Salas suavizou a voz. - No ano passado, o próprio arcebispo do México concordou que fosse constituída a Custódia da Conversão de São Paulo para que pudéssemos administrar melhor os novos cristãos.
Esteban de Perea conhecia aquele dado. A Custódia havia recebido aquele nome graças à cada vez mais generalizada crença de que as conversões do rio Grande, como a do próprio são Paulo nos Evangelhos, haviam acontecido mediante alguma intervenção milagrosa.
Sim - assentiu o inquisidor. - E não vos parecem resultados exagerados para tão pouca mão-de-obra cristã?
Seu comentário, cínico, soou quase como um deboche.
Exagerados? De modo algum, padre Esteban! Aqui está acontecendo algo maravilhoso, quase divino. Mas quem conhece os desígnios de Deus? Desde que construímos a missão e a notícia de nossa chegada se espalhou, quase não tive de me esforçar para levar o Evangelho a esta gente; foram eles que vieram a mim e me rogaram que lhes ensinasse a catequese. Contemplai o efeito!
Mas dizei-me, padre Salas, a que acreditais que se deve o interesse desses índios por nossa fé e, no entanto, que a algumas centenas de léguas mais a Oeste outros nativos fustiguem e matem nossos irmãos?
Esteban de Perea tentava provocá-lo. E conseguiu. O velho, vermelho como argila, inspirou duas vezes antes de responder:
No início, acreditei que os índios haviam vindo a esta missão em busca de segurança. Aqui, antes de chegarmos, tribos pacíficas, como os tiwas ou os tompiros, eram saqueadas pelos apaches. Por isso, erroneamente, acreditei que se deixasse que se instalassem junto à igreja, iriam se sentir a salvo. De vez em quando, as caravanas nos deixavam dois ou três soldados armados que os poderiam proteger.
Erroneamente, dizeis?
Sim. Foi um engano lamentável. Estava tão ocupado instruindo aquela primeira avalanche de índios que não prestei atenção a suas histórias. Falavam de vozes que retumbavam nos cânions, de estranhas luzes nas margens dos rios que lhes ordenavam abandonar seus povoados. De milagres, padre.
Vozes? Não vos contaram mais sobre elas? - frei Esteban tentou disfarçar seu interesse.
Como disse, não dei importância a suas histórias.
E acreditais que eu poderia interrogar alguém que tenha ouvido essas vozes? Isso nos ajudaria a esclarecer as dúvidas.
O velho lembrou outra vez as palavras de Pentiwa.
Não, padre. Não creio.
Frei Esteban olhou-o surpreso.
Os índios são muito discretos ao falar de suas crenças. Temem que as arranquemos em nome de Jesus Cristo. Mas - arrematou frei Juan - talvez possais arrancar-lhes algo se aplicardes um pouco de vossa estratégia. Mas sede suave. Aqui, ainda não sabem o que é o Santo Ofício.
Farei isso, com a graça de Deus.
Na segunda-feira, 15 de abril de 1991, Carlos já estava praticamente refeito de sua viagem pela serra de Cameros e Ágreda. Assim que deixou o mosteiro da Conceição para trás, voltou correndo a Madri. Haviam sido muitas emoções. Excessivas coincidências para uma viagem de apenas 24 horas. Sem muita cerimônia, deixou Txema em casa, em Carabanchel, e tomou o rumo de seu apartamento perto de El Escoriai, onde dormiu como uma pedra até já avançada a manhã seguinte.
Estava precisando.
O jornalista havia abandonado Ágreda com uma sensação no corpo que resistia a desaparecer. Talvez tenha sido a visão da irmã Maria de Jesus que o impressionara. É que, antes de se despedir das irmãs Ana Maria e Maria Margarita, ainda recebera uma última e inesperada revelação. Na igreja, junto ao altar-mor, a três passos do locutório onde aconteceu a entrevista, descansava o corpo incólume da "freira viajante". Estava ali havia três séculos. Descansado. Inerte. Com o rosto coberto por uma máscara de cera e suas mãos mumificadas escondidas sob as mangas de seu hábito.
E ainda usava o manto azul que a havia tornado famosa. Carlos estremeceu. Jamais teria esperado encontrar cara a cara um testemunho do século XIII. Mas ali estava. À vista de todos.
Como não ia precisar pôr suas idéias em ordem?
Um pensamento angustiante, que não o abandonava, torturou-o a partir desse momento: a estranha certeza de que Txema estava certo quando lhe falara do destino. Não o havia "guiado" pela serra de Cameros até Ágreda? Não o havia levado às portas do recinto que irmã Maria de Jesus de Ágreda fundara trezentos anos antes? Tudo aquilo não parecia fruto de um plano cuidadoso? De um Programador? Quem havia urdido aquela trama para fazê-lo retomar uma investigação que ele já havia dado por concluída?
Pela primeira vez na vida, Carlos sentiu que o chão se movia sob seus pés.
- Para falar a verdade, amigo, não o imagino atrás da saia de uma freira! - explodiu José Luis Martin no balcão do Paparazzi, seu restaurante favorito decorado com antigas fotos de La dolce vita, muito perto do campo de futebol do Real Madrid.
José Luis foi a primeira pessoa com quem Carlos conversou depois de encontrar a Dama Azul. Afinal de contas, era o único a quem podia contar algo tão absurdo: estudara psicologia na Universidade de Navarra; fora padre castrense durante vinte anos no quartel de Cuatro Vientos até que abandonara o hábito por Marta, sua mulher, e agora trabalhava como informante do Grupo 12 da Brigada de Informação da Polícia, na delegacia da rua La Tacona. Martin, o polipadre, era um homem meticuloso, organizado, e era tido como o melhor assessor policial em matéria de crimes religiosos, seitas e movimentos esotéricos de suspeitas filiações legais e políticas...
Um pequeno detalhe que, diga-se de passagem, havia anos ia cimentando a amizade entre eles. Naquele dia, chamou-o para falar-lhe de seu estado de ânimo. De seu espírito.
- Já pensou que talvez tenha sido você que atraiu essa freira?
José Luis estava havia um bom tempo falando sobre essa louca teoria. Por isso, a pergunta saiu assim, da alma, quase sem rodeios. Ainda não havia se recuperado da surpresa de ver seu amigo jornalista, o descrente, o agnóstico, envolvido em temas religiosos.
Isso é o que gosto em você, José Luis - respondeu Carlos com ar de riso. - Tem idéias ainda mais estranhas que as minhas. O que está querendo insinuar?
Muito simples, Carlitos. Você sabe que não sou fã da psicologia convencional; que prefiro Jung aos comportamentalistas...
É, eu sei. Por isso está na Polícia, e não em um consultório.
Não ria deste velho padre. Sabe? Jung chama isso que está acontecendo com você de "sincronicidade". É um jeito bonito de dizer que coincidências não existem e que tudo o que acontece com uma pessoa tem sempre uma causa oculta. Nunca falou de Deus... mas andou perto. No seu caso - prosseguiu, dando uma de entendido -, Jung acrescentaria que o artigo que você publicou sobre teleportes há dois meses, esse em que mencionou a freira, e sua obsessão pelo tema o predispuseram a viver um "sincronismo".
José Luis não deixou Carlos replicar.
Você sabe melhor que ninguém que os fenômenos de percepção extrassensorial não se limitam a esses chatos experimentos de telepatia com cartas Zener.
O jornalista arqueou uma sobrancelha incrédulo.
Claro, cara! Você sabe - prosseguiu José Luis aqueles em que duas pessoas se sentam uma de frente para a outra e um tem de adivinhar as figuras geométricas das cartas que o outro esconde. Se acertar o número de cruzes, estrelas, ondas, círculos ou quadrados em uma porcentagem superior a vinte e cinco por cento, é considerado telepata. Mas a percepção extrassensorial é um pouco mais complexa que isso. Manifesta- se com força maior quando envolve emoções... Nunca sonhou com alguma pessoa querida e, na manhã seguinte, recebeu uma carta dela? Seu telefone nunca tocou e você ouviu a voz de uma pessoa em quem estava pensando um segundo antes?
Carlos assentiu. Martin prosseguiu:
Pois em todos esses fenômenos as emoções intervém. E, segundo Jung, elas são o motor dos episódios psíquicos.
Continuo boiando - replicou Carlos, divertindo-se.
No fundo, é muito simples, Carlitos: quando você topou, na estrada, com aquela placa de Ágreda, acho que estava imerso em um estado mental dissociado. Por um lado, estava em seu "estado normal" ou "provável", e, por outro, em um estado "crítico" do qual não tinha consciência, mas que tinha a ver com sua obsessão pelos teleportes. E foi justamente esse estado, essa espécie de "outro eu", que rastreou por sua conta a existência desse ponto geográfico e o levou até ali fazendo seu "eu normal" acreditar que tudo era fruto de um estranho acaso.
E esse estado "crítico" me guiou, depois, até o mosteiro?
- Claro!
José Luis bebeu, satisfeito, sua cerveja. Tinha certeza de ter acertado em cheio. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung nunca falhava. Mas aquele pragmatismo seu não ia tardar a ruir.
Vamos aceitar sua hipótese por um momento. Admitamos que tudo foi fruto de um imenso autoengano e que não houve essa "viagem guiada" - Carlos conseguiu se explicar finalmente. - Então, quem ou o que lançou várias toneladas de neve na serra de Cameros, deixando aberta somente a estrada para Ágreda? Porque recordo que foi isso que aconteceu. E mais uma coisa: foi também meu estado de ânimo que me levou, sem perguntar a ninguém, até o mosteiro? E como meu "outro eu" conseguiu se orientar dentro de Ágreda se nunca antes havia visto um mapa dessa cidade?
Martin rodou seu copo vazio entre os dedos. Depois, fixou seu olhar nos olhos do jornalista:
Ouça bem, Carlitos... Além das sincronicidades, também houve um tempo em que acreditei em milagres. Você sabe. E se tudo isso não tem a ver com uma coincidência junguiana nem com a percepção extrassensorial, então...
Então?
Então é coisa "lá de cima". Procure outras evidências. Investigue.
Você está falando como um professor de matemática que eu conheço! Que tipo de evidências vou procurar, cara?
José Luis ficou sério:
Não sei. Cada vez são diferentes, acredite. Mas, se não as encontrar, exija-as aos céus! Na delegacia, vejo muita merda todos os dias. Assisto a interrogatórios e avalio os perfis psicológicos dos piores delinqüentes. E isso, dia após dia, faz você perder a fé no transcendente; a fé em que haja alguém lá em cima... Mas, se você conseguir provar que o que aconteceu em Ágreda foi um incidente planejado por algum tipo de inteligência sobre-humana, e que ela é capaz de responder a suas perguntas...
- Daí...?
Vou pensar em retomar a batina. Adoraria recuperar minha fé! E você também!
Está falando como psicólogo ou como ex-sacerdote? - perguntou Carlos com malícia.
Como um homem que um dia buscou Deus, Carlitos. Que passou vinte anos entre aqueles que achava que eram Seus ministros, e não O encontrou. Por isso, seu trabalho neste caso é importante.
José Luis deixou o copo em cima da mesa, olhou para o jornalista fixamente e devolveu-lhe a palavra com uma pergunta constrangedora:
Você não é crente, não é?
Carlos ficou gelado.
Quer dizer se sou católico praticante? - respondeu Carlos.
José Luis assentiu com a cabeça.
Não - balbuciou. - Há muito tempo que o abandonei. Deus me enganou.
Então talvez possa encontrar a Verdade sem que nada o cegue.
A Verdade? Com V maiúsculo?
Sim. É uma energia esmagadora, que sempre vem à tona, mesmo que leve séculos para aparecer. Que reconforta e cura quando a encontramos. É algo... - baixou de repente o tom de voz - que tem a ver com esse Deus que abandonou você.
Esteban de Perea e seus homens permaneceram em Isleta mais três dias. Cumprindo instruções do inquisidor, os dez frades que o acompanhavam deixaram a missão fortificada de Santo Antonio ao amanhecer do segundo dia. Receberam a missão de se instalar em algumas das casas mais modestas de Isleta e tentar arrancar das famílias qualquer fato, por menor que fosse, que explicasse sua pacífica conversão ao cristianismo.
Os receios do inquisidor cresciam em alguns momentos.
Na Espanha, havia aprendido que ninguém renuncia a sua fé por bem. Lá longe, do outro lado do oceano, os judeus que se converteram ao cristianismo após o édito de expulsão de 1492 continuavam praticando sua fé secretamente. Eram chamados de "marranos" e o Santo Ofício os perseguia de maneira implacável. Com os muçulmanos acontecia a mesma coisa. Ninguém confiava nos mouros. Embora batizados, os "filhos de Alá" acabavam se prostrando, sigilosamente, para Meca. Por que aqueles índios seriam diferentes?
Sobrenatural ou não, Esteban de Perea precisava saber.
Mas sua estratégia só funcionou em partes.
Nem um único adulto explicou aos frades o que ou quem os levara a pedir o batismo. Só algumas crianças murmuraram algo sobre as visitas de certo "espírito azul", poderoso, que convenceu seus pais a deixarem para trás seus totens.
O inquisidor anotou com cuidado a "pista". Fez isso nas páginas em branco de sua Bíblia. Era onde escondia seu diário particular. Porém, a despeito de toda sua meticulosidade, nenhuma daquelas informações o ajudou a resolver o mistério. Precisaria de um milagre, um sinal para que a atitude dos índios adultos mudasse e a fé pudesse chegar ao fundo de seus corações.
E o prodígio chegou.
Ou, para ser mais preciso, Esteban de Perea provocou-o.
Aconteceu durante seu quarto dia em Isleta, quando os frades faziam os preparativos para abandonar a missão. Era domingo, 22 de julho de 1629.
Naquele dia, festividade de Santa Maria Madalena, os homens do inquisidor, acompanhados pelo padre Salas, convocaram os fiéis para uma missa solene. Esteban intuía que os ofícios religiosos sensibilizariam alguns nativos, e que um bom sermão temperado com a conveniente liturgia os convenceria a falar. De fato, pensava pregar sobre os medos de seus filhos às "vozes" do deserto, e urdiu uma homília que lhes tocaria a alma.
Era sua última cartada.
Quando o sino grande retumbou nas torres de tijolos, a igreja já estava lotada. Doze frades iam oficiar um rito que normalmente só um conduzia.
-Já pode assumir, padre - murmurou Juan de Salas ao padre Esteban enquanto vestia a casula. - Nunca vi tanta gente na missa...
- Não se preocupe. Tudo está preparado.
Os índios ficavam maravilhados com o poder que aquele lugar encerrava. Assim que soaram os primeiros acordes do introito, a atmosfera do recinto mudou. Embora não entendessem uma palavra do rito latino, sentiam melhor que ninguém aquele agridoce estremecimento na pele, quase esquecido desde os não distantes tempos em que as kivas ocupavam o lugar das igrejas.
O padre Perea comandou toda a cerimônia. Após a leitura do Evangelho, o inquisidor iniciou seu sermão. Parecia transfigurado. Seu rosto tenso e alerta havia dado lugar a uma expressão gentil, dócil:
Pouco depois de Jesus ser crucificado - começou -, dois discípulos Seus caminhavam para Emaús comentando o estranho desaparecimento do corpo do rabi. Falavam das mulheres que haviam descoberto Seu túmulo vazio e de seu encontro com um anjo que lhes havia dito que o Mestre estava vivo...
Os índios nem piscavam. Esteban de Perea sabia quanto adoravam histórias maravilhosas.
De repente - prosseguiu -, surgiu um homem que não conheciam. Ele lhes perguntou que assunto era aquele que os mantinha tão ocupados. Eles, estranhando que nunca houvesse ouvido falar de Jesus, contaram-lhe Sua história detalhadamente. Após ouvi-la, o desconhecido recriminou-os pela falta de fé, mas, ainda assim, aceitaram-no em sua mesa e convidaram-no a cear. Ao vê-lo partir o pão, reconheceram-no. Era o Mestre ressuscitado! O mesmo sobre o qual falavam há horas! Mas, antes que pudessem fazer uma única pergunta, Jesus desapareceu diante de seus olhos.
Alguns índios trocaram olhares de surpresa.
Sabeis por que não O reconheceram? - prosseguiu frei Esteban. - Porque confiaram mais em seus olhos que em seu coração. Aqueles discípulos comentaram, depois, que, na presença do estranho, sentiram os corações arderem. Isto é, em suas entranhas souberam quem era, mas se deixaram levar pelos sentidos da carne, e não pelos da alma. Essa é a lição que devemos aprender: se um dia encontrardes alguém que faz arder vossos corações, não duvideis! É um enviado do céu!
O inquisidor, no clímax de seu relato, guardou silêncio por um instante:
E, se o encontrásseis, por que não compartilharíeis essa notícia com vossos semelhantes?
Um murmúrio cresceu na parte posterior do templo.
Quase ninguém percebeu, e no início o padre Perea também não lhe prestou muita atenção. Os religiosos levaram alguns momentos para descobrir que a causa estava na chegada de um grupo de homens de pele pintada, que começou a abrir caminho por entre os congregados. Haviam chegado em silêncio, deslizando com discrição por entre os fiéis, e situaram-se quase no centro do templo.
Frei Esteban, indiferente, estendeu seu sermão.
Nosso Senhor é capaz de Se deixar sentir de muitas formas. Uma, a que mais repete, é enviando-nos Seus emissários. E assim, como aconteceu com os apóstolos a caminho de Emaús, também hoje põe à prova nossa capacidade de reconhecê-Lo com o coração. Para identificá-Lo, basta estardes atento aos sinais. Por acaso já não sentistes esse fogo nas entranhas? Não o perceberam vossos filhos? Eu... - prosseguiu dramaticamente - eu sei que sim...
Ninguém mexeu um músculo.
As famílias tiwas, chiyáuwipkis ou tompiros ouviam absortas as "acusações" do franciscano. Enquanto isso, os recém-chegados escrutavam a seu redor como se a prédica não fosse dirigida a eles. De fato, não disseram nem uma palavra; também não entoaram o Deo Gratias nem o Pater Noster que se seguiu à homilia. E em pé, calados, agrupados como uma pinha entre os habitantes de Isleta, aguardaram que a cerimônia acabasse.
A presença deles, porém, não estranhou a ninguém.
Os nativos identificaram os recém-chegados. Eram um grupo de pacíficos jumanos, como os que com certa freqüência visitavam a região para trocar turquesas e sal por peles e carnes. Uma tribo amiga. Distante, mas afável.
Quando a missa acabou, o chefe do grupo, um índio jovem, cabeça raspada, com várias espirais concêntricas gravadas no peito, pele azeitonada e pômulos firmes, aproximou-se do altar, dirigindo-se ao padre Salas. Falou com urgência, durante quase um minuto, em um tanoan que o velho missionário entendeu só em partes, mas o suficiente para que seu rosto se transfigurasse.
O que está acontecendo, padre?
O inquisidor percebeu que algo não estava bem.
É um índio jumano, padre Esteban. Do Sul - murmurou Salas enquanto secava um cálice de prata. - Acabou de me explicar que há vários dias faz a travessia pelo deserto, à frente de cinqüenta de seus melhores homens, e que deseja falar conosco.
Se o que precisam é água e comida, vamos ajudá-los...
Não se trata disso, padre. Este índio afirma que um sinal, ou algo assim, anunciou-lhes que aqui encontrariam os portadores de Deus... Sabe a que se refere?
Um sorriso astuto esboçou-se no rosto do velho ao ver o súbito interesse do inquisidor.
Um sinal? Que tipo de sinal?
Esteban de Perea aproximou-se, curioso, e exigiu novos detalhes de seu interlocutor. O índio, que olhava para ele desafiadoramente, concordou. Gesticulava enquanto falava: primeiro acariciou suas ancas e depois ergueu os braços acima de sua cabeça. O padre Salas, versado também na linguagem de sinais, interpretou aqueles gestos o melhor que pôde.
Afirma que uma mulher desce com freqüência dos céus em seu povoado. Diz que tem o rosto branco como o nosso e que é tão radiante quanto a luz do céu. Usa um manto azul que a cobre da cabeça aos pés. E diz, ainda, que foi ela quem lhes falou da presença de padres aqui.
Utilizou a palavra "padres"? - balbuciou Perea.
Sim.
E diz que é uma mulher?
O velho assentiu.
Também afirma que a Mãe do Milho nunca havia falado com eles desse modo. Por isso, acreditam que se trata de outra deusa, e querem saber se vós a conheceis...
Deusa?
Bem, este jovem afirma algo mais: que foi essa mulher que lhes ordenou que viessem nos procurar e pede que os acompanheis até o povoado para falar de nosso Deus.
O índio pronunciava tudo muito rápido, como se seu tempo estivesse se esgotando. Acariciava, nervoso, uma tosca cruz de casca de pinheiro que tinha pendurada no pescoço.
- Já havíeis visto este índio por aqui antes?
A pergunta de Esteban de Perea distraiu o velho.
Este, não. Mas seu pai sim. Chama-se Gran Walpi e é o chefe de sua tribo.
E este? Como se chama?
Sakmo, padre.
Perguntai a Sakmo se pôde ver essa Dama Azul com os próprios olhos - ordenou Perea.
Frei Juan traduziu a pergunta a uma série de sons guturais e em questão de segundos traduziu ao castelhano a resposta do índio.
Sim. Em várias ocasiões, sempre ao cair da noite.
Em várias ocasiões? Esta sim é boa...
Frei Juan não deixou que o inquisidor concluísse o comentário.
Não percebeis? - exclamou alvoroçado. - É outro sinal!
Outro sinal? - frei Esteban estava receoso.
Está claro, padre - prosseguiu Juan de Salas. - Embora nenhum de meus fiéis queira vos contar o que os fez aceitar Jesus Cristo, estes o farão. Não vedes? Este jovem não sabe de tribunais, não teme o Santo Ofício, parece nunca ter visto espanhóis, mas vos conta a história de uma mulher vestida de azul que os mandou até nós... E chega justamente agora!
Acalmai-vos, irmão - ordenou frei Esteban. - Se for o que parece, agiremos com precaução. E, se não for, acabaremos para sempre com esse tipo de superstição.
Segundo vós, então, que pode ser? Um milagre de Nossa Senhora? Outra aparição da Virgem de Guadalupe? - frei Juan exaltava-se às vezes. - Juan Diego não descreveu a Virgem de Guadalupe como uma dama com um manto azul?
Valha-me Deus, padre!
O inquisidor censurou-o com o olhar.
O que acreditais que devemos fazer? - cedeu o padre Salas.
Dizei a Sakmo que hoje mesmo estudaremos seu caso e que decidiremos se mandamos ou não uma delegação para que pregue em seu povoado... - Esteban de Perea olhou-o fixamente. - Enquanto isso, assegurai-vos de que vos explique bem para onde deveríamos nos dirigir e quantos dias de viagem nos separam de seu assentamento; depois, convocai a comunidade no refeitório. Entendestes?
- Claro, padre - o velho sorriu enigmático. - Já reparastes na cruz que tem no pescoço?
Se Carlos soubesse o que estava acontecendo na costa oeste dos Estados Unidos enquanto ele jantava em Madri com José Luis Martin, sua visão cartesiana do mundo teria ruído para sempre. Em Los Angeles era meio-dia. Porém, na casinha de praia de Jennifer Narody as persianas continuavam fechadas. Nem um único brilhante raio de sol que iluminava Venice Beach penetrava em seu quarto.
Na noite anterior, Jennifer demorara muito para dormir. Sua última sessão com a doutora Meyers a havia deixado preocupada. Jennifer continuava visitando-a dia sim, dia não, em seu luxuoso consultório no centro.
Às vezes - dissera a psiquiatra muito séria - esse tipo de sonhos como os que você tem respondem a causas físicas. Um pequeno coágulo no lóbulo temporal do cérebro ou um tumor podem alterar a mente e a percepção do mundo.
E, depois, acrescentara:
Acho que deveria se submeter a uma ressonância magnética para ver se há algo que a esteja afetando.
Jennifer era claustrofóbica, e a simples idéia de ter de passar alguns minutos dentro de um tubo causava-lhe terror. Por isso, demorou a conciliar o sono. Finalmente conseguiu dormir, graças à leitura. Naquela noite, recorrera à Bíblia. O exemplar que tinha era dos Gedeones[3], um volume pequeno e fácil de manipular que não se lembrava de ter aberto antes. Suas mãos levaram-na ao Evangelho de Mateus. Ao passar pelo episódio do sonho de José, quando um anjo do Senhor lhe anunciara que sua prometida estava grávida, um doce torpor começou a invadi-la. Era curioso. Todos os povos antigos viam os sonhos como o veículo do qual as divindades se valiam para se comunicar com os homens. Assim nos manifestaram sempre suas verdades ocultas.
Mas que verdades são essas? E que divindade poderia se interessar em entregar a uma mulher atormentada um sonho como o que começava a se desenhar em sua mente?
MISSÃO DE SANTO ANTONIO
22 DE JULHO DE 1629
A convocação de frei Esteban de Perea retumbou nos muros da missão. No início, nenhum de seus frades compreendeu a pressa do enviado do padre Benavides em atender ao pedido daquele índio. Mas logo entenderam. Tanta pressa devia-se à alusão de Sakmo a essa misteriosa mulher que os obrigara a atravessar o deserto. Frei Esteban parecia angustiado, como se houvessem caído sobre sua consciência os mesmos fantasmas que haviam obrigado o arcebispo do México a lhe encomendar a investigação de qualquer "atividade sobrenatural" na região.
Aconteceu alguma coisa, padre?
Frei Bartolomé Romero, um dos irmãos de seu séquito, solícito, sondou o inquisidor.
Não é nada... - respondeu Esteban, distraído, enquanto tirava a casula e a dobrava. - Estava pensando que, se os jumanos saíram há quatro ou cinco dias de seu povoado, na região da Gran Quivira, então...
Então o que, padre?
Então, a Dama Azul ordenou que se pusessem a caminho antes de eu decidir me instalar nesta missão. Entendeis agora, irmão Bartolomé?
E o que vos parece estranho? - interrogou outra voz no fundo da sacristia. - Por acaso o tempo, ou o conhecimento do futuro, é algo vetado a Deus ou à Virgem?
Aquelas palavras os deixaram estupefatos. Frei Juan de Salas olhava para eles da porta com certa ironia nos lábios. É que, se, como tudo parecia indicar, uma misteriosa dama havia chegado ao território jumano antes deles, não devia ser uma mulher comum. Não só havia adentrado uma área hostil à condição feminina como também possuía a rara habilidade de persuadir os nativos a mudar de fé e obrigá-los a marchar em busca dos homens brancos.
Tarefa de titãs! - acrescentou. - Vossas Paternidades pensai o que quiserdes, mas eu não estranharia que a dama fosse Nossa Senhora em pessoa.
Ninguém replicou, e o frade girou sobre seus calcanhares e se perdeu rumo à rua. Ainda precisava falar com Sakmo para explicar que sua solicitação havia sido ouvida: logo alguns religiosos o acompanhariam até Cueloce.
Um sujeito estranho, não? - sussurrou frei Bartolomé no ouvido do padre Esteban enquanto seu anfitrião se afastava.
O deserto, irmão, deixa as pessoas estranhas...
Quando frei Juan de Salas acabou de explicar a Sakmo os planos dos recém-chegados, o índio caiu de joelhos, agradecido. Depois, sem se despedir, correu ao encontro de seus homens, que haviam acampado a algumas centenas de metros da missão, atrás da primeira linha de casas de tijolos.
Também eles receberam a notícia com alvoroço. Mas nem sequer frei Juan percebeu que a razão de seu contentamento ia além do sucesso diplomático. É que a consideração dos frades confirmava os augúrios que a Dama Azul havia revelado nos dias anteriores e os reafirmava na crença de terem encontrado uma verdadeira "mulher de poder". Afinal de contas, tal como ela vaticinara, havia mais padres na missão de Santo Antonio de Pádua naquele momento, e havia a possibilidade de poderem retornar ao reino de Gran Quivira acompanhados por alguns deles...
Seguindo ordens precisas, pouco depois da hora nona, os franciscanos encontraram-se em um refeitório improvisado pelos tiwas nos fundos da missão.
A comida era a de costume: feijão cozido com sal, uma generosa espiga de milho fervida e algumas nozes de sobremesa. Tudo acompanhado de água e meia dúzia de pães de centeio recém-assados.
Dois minutos depois, após a bênção dos alimentos, o inquisidor tomou a palavra:
Como deveis saber, esta manhã um grupo de índios jumanos chegou às portas desta missão. Pediram-nos ajuda para levar o Evangelho a seu povo.
Frei Esteban tossiu levemente.
Cabe a nós determinar o que devemos fazer. Ou permanecemos unidos até nosso regresso a Santa Fé, ou, irmãos, começamos a designar missionários para outras regiões, como a jumana. - E acrescentou: - Evidente que a decisão depende do interesse que tenhamos em começar a pregar.
Os frades trocaram olhares. A proposta de dissolver a unidade da expedição surpreendeu-os. E, embora soubessem que cedo ou tarde algo assim aconteceria, não pensavam que fosse tão logo.
E então? - insistiu Esteban de Perea.
Frei Francisco de Letrado, um roliço sacerdote de Talavera de la Reina, foi o primeiro a pedir a palavra. Ergueu sua voz com certa solenidade e entoou um discurso apocalíptico. Segundo ele, todas aquelas "histórias de índios" só podiam ser obra do demônio, que tentava dispersar os pregadores enviando-os a regiões longínquas com poucas garantias de sucesso e com muito poucas possibilidades de retornar com vida. "Divide e vencerás", bramava. Ao contrário, frei Bartolomé Romero, o fiel assistente de Esteban, ou frei Juan Ramírez, um insignificante monge valenciano, foram mais benevolentes para com as intenções dos jumanos e apostaram em uma rápida evangelização das terras deles. Acreditavam que as alusões de Sakmo a uma luz no céu davam veracidade ao relato, visto que o tornavam similar às aparições de Nossa Senhora, que com freqüência vêm acompanhadas de peculiares brilhos celestiais.
Só alguns poucos, como frei Roque de Figueredo, Agustín de Cuéllar ou Francisco de la Madre de Dios, não se dignaram sequer a abrir a boca para discutir o assunto. Praticaram uma cômoda abstenção: fariam o que o grupo decidisse.
Está bem, irmãos - o inquisidor tomou de novo a palavra -, posto que existe tanta diversidade de opiniões, será bom interrogarmos juntos o índio que viu a senhora... Talvez assim esclareçamos nossas dúvidas.
Um rumor de aprovação geral percorreu toda a mesa.
Frei Juan de Salas nos servirá de tradutor, não, padre?
Naturalmente - concordou, e, solícito, levantou-se e foi em busca de Sakmo.
Minutos depois, o filho mais novo de Gran Walpi ajoelhava-se e beijava a bainha da batina de frei Esteban.
Pater... - sussurrou.
Seu gesto maravilhou a todos. Quem havia ensinado bons modos àquele selvagem?
É este o testemunho que buscamos? - ecoou uma voz no fundo do refeitório.
O jumano baixou a cabeça, como se assentisse à dúvida formulada por aquela voz autoritária. Frei Esteban levantou-se da cabeceira da mesa, observou-o atentamente e, de onde estava, começou o interrogatório em voz alta, para que todos o pudessem ouvir.
Qual é teu nome?
Sakmo. "O homem do prado verde" - traduziu o padre Salas.
De onde vens?
De Gran Quivira, uma região de passos amplos situada a menos de meia-lua de caminho daqui.
Sabe por que te chamamos?
Acho que sim - murmurou em um tom de voz mais suave.
Disseram-nos que tu viste uma mulher estrangeira em teu povoado e que ela te ordenou que nos procurasses. É verdade?
Sakmo olhou para o inquisidor como se esperasse seu consentimento para falar. O velho o concedeu.
Sim, é verdade. Via-a várias vezes na boca de um cânion que chamamos da Serpente, onde falou comigo com voz amável e doce.
Sempre? Desde quando?
Há muitas luas. Eu era criança quando comecei a ouvir relatos de guerreiros que a haviam visto.
Em que língua ela falou?
Em tanoan, senhor. Mas, se tivesse de vos dizer como, não saberia explicar. Em nenhum momento mexeu a boca. Mante- ve-a sempre fechada, mas outros membros de meu clã e eu a ouvimos e entendemos perfeitamente.
Como ela aparece para ti?
Sempre da mesma forma, padre: ao cair da noite, estranhos relâmpagos precipitam-se sobre esse cânion. Então, ouvimos uma agitação no ar parecida com o ruído da cascavel ou os remoinhos do rio, e vemos um caminho de luz que cai do céu... Depois, o silêncio.
Um caminho de luz?
É como se uma trilha se abrisse na escuridão. Por ela desce essa mulher, que não é uma xamã, nem uma Mãe do Milho... Ninguém sabe seu nome.
E como é?
Jovem e linda, padre. Tem a pele branca, como se nunca houvesse estado sob o sol.
Leva algo consigo?
Sim... Em sua mão direita segura às vezes uma cruz, mas não como as de madeira que Vossas Paternidades usam; mais linda, brilhante, e toda preta. Às vezes usa um amuleto no pescoço. Não é de turquesa, nem de osso ou madeira. É da cor dos raios de lua.
Frei Esteban ia tomando nota tentando ordenar as características essenciais daquela misteriosa mulher. Após anotar as últimas palavras do índio, prosseguiu com suas perguntas:
Diz-me, filho: lembra o que essa mulher te contou da primeira vez que a viste?
O índio cravou seus olhos no franciscano.
Disse que vinha de muito longe e que trazia boas-novas. Anunciava a chegada de um novo tempo no qual nossos velhos deuses dariam lugar a um só, maior, grande como o sol.
Ela nunca disse seu nome?
Não.
Nem o do novo deus?
Não.
Nem mencionou o lugar de onde vinha?
Também não.
Mais uma coisa. Aquela mulher te disse algo sobre esse novo deus ser filho dela, de seu ventre?
Sakmo arregalou os olhos quando ouviu frei Juan de Salas traduzir a pergunta do inquisidor.
Não.
Vários frades remexeram-se em suas cadeiras.
Alguma outra coisa dela chamou tua atenção? - prosseguiu Esteban.
Sim. Em volta da cintura usava uma corda igual à sua...
Aquilo deixou os frades alvoroçados. Uma corda franciscana!
"Que tipo de prodígio era aquele?" Esteban de Perea exigiu silêncio.
Chegaste a tocar nessa dama?
Sim.
Os olhos de frei Esteban arregalaram-se:
E então?
Suas roupas emitiam calor, como quando nossas mulheres tingem as delas. Mas estavam secas. Também me permitiu tocar sua cruz negra e até me ensinou algumas frases mágicas.
Frases mágicas? Saberias recitá-las?
Acho que sim - hesitou.
Por favor...
Sakmo caiu de joelhos, juntou as mãos em sinal de recolhimento, como a dama lhe havia ensinado, e começou a entoar uma familiar ladainha em latim. Aquilo soava estranho em boca pagã.
Pater noster qui es in coelis... sanctificetur nomen tuum... adveniat regnum tuum... fiat voluntas tua sicut in coelo...
É suficiente - interrompeu frei Juan de Salas. - Explica ao padre Perea onde aprendeste isso. Quem te ensinou?
- Já disse: foi a Dama Azul.
Não se passariam nem 48 horas antes que Carlos Albert voltasse a se encontrar com José Luis, em circunstâncias que nesse momento nenhum dos dois teria imaginado. Mas, antes, Carlos dedicara aquele tempo à busca de mais informações sobre Maria de Jesus de Ágreda. Seu objetivo? A Biblioteca Nacional de Madri. Um lugar que sempre lhe provocava estranhas vertigens. Como conseguiria encontrar algo entre seus 30 mil manuscritos, seus 3 mil incunábulos, sua coleção de meio milhão de livros impressos anteriores a 1831 ou suas mais de 6 milhões de monografias sobre os mais variados temas? Aquela selva de informação parecia-lhe densa, incompreensível, mas também excitante.
Seu estado de ânimo melhorou assim que consultou as primeiras fichas. Impecavelmente catalogadas, Carlos encontrou várias referências claras a frei Alonso de Benavides, o homem que em 1630 investigara as supostas bilocações de madre Ágreda. No fundo delas havia um estranho documento que, segundo a informação bibliográfica, estava cheio de referências a certa "Dama Azul" que evangelizara várias tribos indígenas do Novo México antes da chegada dos primeiros franciscanos.
Após um dia e meio de trâmites burocráticos, solicitações e licenças, na quarta-feira, 17 de abril, na sala de manuscritos da Biblioteca Nacional, Carlos recebeu o texto de que precisava. A sala era um retângulo de mais de 100 metros de extensão, de piso acarpetado e sujo, com meia centena de carteiras escolares velhas, vigiada por uma bibliotecária com cara de poucos amigos. O trabalho daquela mulher de aspecto marcial consistia em, de vez em quando, ir até o elevador que comunicava os arquivos com a sala e verificar se as obras solicitadas pelos leitores estavam lá.
"Memorial de Benavides" - leu de uma ficha rosa, por cima do ombro de Carlos.
Sim, eu pedi esse.
A bibliotecária observou o jornalista com desagrado. Verificou que só levava consigo um caderno de notas.
Sabe que só pode escrever com lápis, não? Use somente lápis, entendeu?
Sim senhora. Só lápis.
E fechamos às nove.
Também sei.
A funcionária deixou a obra sobre o balcão. Carlos estremeceu. Tratava-se de um livro de 109 páginas, encadernado com um couro enegrecido pelo tempo e impresso em um papel macilento que fazia um ruído a cada mudança de página. Em seu desgastado frontispício, acima de uma tosca gravura da Virgem coroada de estrelas, podia-se ler: "Memorial que frei Juan de Santander, da Ordem de São Francisco, Comissário Geral das Índias, apresenta à Majestade Católica do Rei Dom Felipe Quarto, nosso senhor". E abaixo: "Feito pelo padre frei Alonso de Benavides, comissário do Santo Ofício e Custódio que foi das Províncias e conversões do Novo México".
Carlos sorriu satisfeito. Embora tenha aberto o livro com toda a precaução, ele rangeu como madeira velha.
Após virar algumas páginas, logo teve uma idéia de seu conteúdo: o autor explicava a um Felipe IV muito jovem as conquistas obtidas, desde 1626 até a data da impressão, por uma expedição de doze missionários franciscanos encabeçada pelo próprio Benavides e destinada a evangelizar os territórios do Novo México.
No estilo barroco do momento, frei Alonso desmanchava- se em louvores a Deus Nosso Senhor e a Sua Força (sic), à qual atribuía a descoberta de minas, a rápida erradicação da idolatria, a conversão de mais de meio milhão de almas em tempo recorde e, principalmente, o incessante trabalho de edificação de igrejas e mosteiros. "Em um único povoado de cem léguas", copiou o jornalista em seu caderno, "a Ordem batizou mais de 80 mil almas e construiu mais de cinqüenta igrejas e conventos".
Imediatamente, Carlos teve certeza de que o Memorial de Benavides era uma típica obra de propaganda religiosa. Via-se de longe que visava o favorecimento econômico do rei para reforçar a posição dos franciscanos na América e financiar as viagens de novos missionários. O texto exagerava quando falava de "ricas minas" e associava sua exploração à cristianização dos nativos.
De qualquer maneira, o escrito disfarçava aquele objetivo de forma elegante. Revisava, uma por uma, em todas as tribos que os homens de Benavides haviam encontrado: apaches, piros, senecus, conchas e muitas outras eram descritas com extraordinária candura.
- Um belo documento, sim senhor - murmurou Carlos com seus botões.
Mas o jornalista descobriu, também, algo que não esperava: o nome de Maria de Jesus de Ágreda não aparecia impresso em nenhuma página. Não era citada como responsável por nenhuma conversão nem se mencionava o termo "bilocação". Se falava de alguém era da Virgem, da ajuda que prestara às conversões e de como "os favores de Nossa Senhora" impulsionaram o incessante avanço cristão no Novo México.
Como era possível? As freirinhas de Ágreda haviam lhe fornecido uma pista falsa? Estavam enganadas quanto à verdadeira natureza daquele texto?
Sentiu-se tentado a deixar de lado o relatório de Benavides. Mas o semblante ferino da bibliotecária o impediu. Isso o convenceu a esgotar seu tempo na sala de manuscritos e fazer uma segunda leitura, dessa vez mais atenta, do Memorial. Sua "sorte" - aquela mesma força que o havia guiado pela serra de Cameros dias antes - levou-o direito à página 83.
- Mas será possível...?
O assombro deixou-o paralisado na cadeira.
E com razão: em frente a ele, sob a sugestiva epígrafe "Conversão milagrosa da nação jumana", podia ler um estranho relato. Mencionava um tal de frei Juan de Salas que, estando em terras dos tiwas à frente de um grupo de missionários, recebera a visita de alguns membros da tribo dos jumanos, também conhecida como dos salineiros, que lhe rogaram encarecidamente que mandasse um missionário para pregar a seu povo. Ao que parece, segundo explicava Benavides, esse mesmo pedido havia sido feito anos antes, mas nunca fora atendido dada a carência de frades destinados ao Novo México. Tudo isso mudou com a chegada de um novo padre custódio - uma espécie de "bispo substituto" para aqueles territórios não explorados - chamado Esteban de Perea. Ele, seguindo ordens do próprio Benavides, chegou à missão de frei Juan de Salas com um pequeno exército de frades preparados para completar a evangelização daqueles índios tão bem-dispostos.
"E antes que fossem", leu, "perguntando aos índios a causa de com tanto afeto nos pedirem o batismo e que os religiosos os fossem doutrinar, responderam que uma mulher como aquela que ali tínhamos pintada (que era um retrato da madre Luisa de Carrión) pregava a cada um deles em sua língua. Dizia-lhes que fossem chamar os padres para que lhes ensinassem e os batizassem, e que não fossem preguiçosos".
Foi uma revelação completa.
Carlos transcreveu aquela história em seu caderno e acrescentou na margem algumas anotações. Essa era a única passagem do "relatório Benavides" que podia ser atribuída a uma freira bilocada (de fato, mencionava uma, desconhecida para Carlos: a madre Luisa de Carrión); mas deixava aberto um sem-fim de novas dúvidas. Por exemplo, como podia ter certeza de que o Memorial se referia às supostas aparições da madre Ágreda? Será que as freirinhas do mosteiro de Soria não haviam sido muito veementes ao atribuir a sua fundadora tamanho prodígio?
Mas, mesmo admitindo que irmã Maria de Jesus de Ágreda houvesse aparecido "a mais de 2.600 léguas da Espanha", onde aquela boa mulher teria aprendido a se comunicar com os índios na língua deles? Esse era outro prodígio - tipificado como glos- solalia, ou dom de línguas, pelos especialistas em milagres católicos - a somar ao da bilocação? Por outro lado, aquela descrição de Benavides não parecia mais com uma aparição da Virgem que com algo tão raro como uma bilocação?
O assunto, sem sombra de dúvida, ganhou vários pontos de interesse naquela noite. Pena que a feroz bibliotecária expulsou
Carlos três minutos antes de o relógio do recinto dar nove em ponto.
Pode continuar amanhã, se quiser - resmungou a bibliotecária. - Deixarei o livro separado.
Não senhora. Não será necessário.
Frei Esteban escrutou o índio como se fosse um réu prestes a subir ao cadafalso. Tinha um olhar gelado, desafiador, capaz de petrificar as entranhas do acusado. Mas Sakmo, cujas retinas jamais haviam visto um auto-de-fé, resistiu ao severo semblante do inquisidor.
E nunca antes havias visto um frade? - perguntou o religioso, mais grave.
Não.
Esteban de Perea sabia que ele não mentia. O primeiro desembarque de franciscanos no Novo México ocorrera em 1598, 31 anos antes. E nenhum deles se estabelecera em Gran Quivira. Felizmente, essa história ele conhecia bem. Dom Juan de Onate, o conquistador, não julgara oportuno, então, ficar em terras tão ermas e inúteis como as do rio Grande. Além do mais, pelo que sabia daquele índio, Sakmo havia nascido depois de suas incursões. Era impossível, portanto, que houvesse visto algum dos oito frades que acompanharam Onate, nem suas 83 carroças, nem a vistosa corte de índios mexicanos e mestiços que o acompanharam. Frei Esteban recordou, ainda, o padre Juan Claros, o valente sacerdote que fundara o assentamento de Santo Antonio de Pádua no qual se encontravam, e que não convertera um único índio até que fora substituído por frei Juan de Salas. Nem um único.
Foi depois, com a chegada do "milagre azul", que aquele panorama mudou.
Enquanto Sakmo aguardava uma nova rodada de perguntas, o irmão Garcia de San Francisco, um jovem religioso de Zamora, tímido e fraco, aproximou-se com cautela do inquisidor. Diante do desconcerto dos demais, murmurou algo em seu ouvido que fez o padre Esteban sorrir.
Está bem, mostra-a, irmão. Não temos nada a perder.
Garcia, que parecia diminuído ao lado do musculoso Sakmo,
venceu com quatro grandes passos a distância que o separava do índio, enquanto retirava de sua batina um pequeno escapulário com uma minúscula imagem gravada nele.
É a madre Maria Luisa - disse em voz alta, em tom estridente, para todos os presentes. - Levo-a sempre comigo. Ela me protege de todo mal. Em Palencia, muitos acreditam que é uma das poucas santas vivas que nos restam.
O irmão Garcia aproximou de Sakmo o pequeno retrato. E o inquisidor, que seguia seus passos como em um julgamento sumaríssimo, vociferou do outro lado do refeitório:
Dize, é essa a mulher que viste, Sakmo?
O jumano observou a miniatura com curiosidade, mas guardou silêncio.
Responde. É esta? - repetiu impaciente.
Não.
Tem certeza?
Completamente, padre. A mulher do deserto tem um rosto mais jovem. As roupas são parecidas, mas as desta mulher - disse apontando para a medalha - são cor de madeira, não cor do céu.
Frei Esteban suspirou.
Sakmo não esclareceria suas dúvidas, nem as do padre Benavides quando lhe desse explicações. Que mulher jovem, resplandecente, poderia ser aquela? Que moça virtuosa deixaria que tocassem suas roupas - era, pois, uma criatura física, tangível, real - e ensinaria o Padre-Nosso a um índio como aquele? Que donzela, em seu juízo perfeito, visitaria tão longínquas regiões sozinha? E que tipo de dama, salvo a Virgem, seria capaz de descer das alturas por um caminho de luz?
Após ler suas últimas anotações, o padre Esteban liberou Sakmo. Pediu-lhe que esperasse até que tomasse uma decisão sobre o caso e suplicou aos frades que lhe dessem sua opinião. Só frei Bartolomé Romero, o erudito do grupo, atreveu-se a se manifestar. Seu discurso foi breve:
Não creio que devamos encarar este episódio como se os índios houvessem tido uma experiência mística - disse.
Que insinuais, padre Romero?
O inquisidor observou seu interlocutor entrecruzar os dedos com ansiedade.
Sob meu ponto de vista, padre, não estamos diante de uma aparição de Nossa Senhora, como haveis insinuado em algumas perguntas.
E como tendes tanta certeza?
Porque Vossa Paternidade sabe muito bem que as aparições da Virgem são experiências inefáveis, inenarráveis. Se já é difícil para um bom cristão descrever esse tipo de ação divina, quanto mais deveria ser para um pagão sem instrução!
Ou seja...
Ou seja: este índio viu algo terreno, e não, em absoluto, divino - completou frei Bartolomé.
Esteban de Perea persignou-se diante do estupor dos outros frades. Temia ofender a Deus por sua desconfiança. Mas ele era assim. Precisava ver todos os lados de um problema antes de julgar.
Creio, irmãos, que isso é tudo por agora - disse por fim. - Preciso meditar sobre minha decisão.
E, sem mais comentários, dissolveu a assembleia. Mas, antes de abandonar a sala, pediu ao padre Salas que permanecesse com ele. Tinham algo importante a deliberar.
Assim que os dois franciscanos ficaram a sós, o velho responsável por aquela missão aproximou-se de Esteban, preocupado.
Já sabeis o que ides fazer, padre? - frei Juan sondou com cautela.
Como poderíeis supor, não tenho certeza de qual é a decisão correta neste assunto... Documentar uma intervenção de Nossa Senhora e investigar uma fraude, uma ilusão ou uma armadilha são coisas diferentes.
Não entendo...
É evidente, padre Salas. Se quem apareceu para esses índios foi Nossa Senhora, não temos nada a temer. O céu nos enviou uma grande bênção e nos protegerá quando visitarmos a região de Gran Quivira. Mas, se como diz frei Bartolomé, um prodígio como esse não existe, poderíamos cair em uma emboscada. Nossa expedição se dividiria, perderíamos contato uns com os outros e fracassaríamos em nosso empenho de batizar todas as pessoas do Novo México.
E o que vos faz cogitar com tanto zelo essa segunda possibilidade?
Bem... Sakmo nos disse, não é? Aquela mulher usava na cintura uma corda como as nossas. Talvez se trate de uma religiosa da seráfica Ordem de São Francisco. Ou uma mulher sem juízo. Ou um disfarce. Ou uma armadilha.
Talvez de nada disso. Não vos parece mais próprios da Virgem a descida dos céus ou o brilho do rosto?
Sem dúvida, padre. Mas nessa Dama Azul falta outra característica das visões marianas. Nossa Senhora costuma manifestar-se para pessoas isoladas, não para grupos inteiros como os jumanos. Recordai o apóstolo Santiago, que viu sozinho a Virgem em Zaragoza, ou Juan Diego e a Virgem de Guadalupe. Por mais que houvesse sido seu desejo, o arcebispo do México de então, o franciscano Juan de Zumárraga, jamais pôde acompanhá-lo e ver a Senhora com seus próprios olhos.
Mas frei Esteban! - protestou o velho. - É isso suficiente para considerar a Dama Azul uma criação mundana?
Tenho uma boa razão. Acreditai. Mas, se confiar a vós, devereis guardar segredo.
Juan de Salas concordou:
Contai com isso, padre.
Vede: além de me advertir acerca dos rumores destas conversões sobrenaturais, o arcebispo Manso e o padre Benavides mostraram-me uma carta extraordinária. Foi escrita na Espanha por um irmão franciscano, um tal de Sebastián Margila, que vive em Soria.
Sebastián Margila? Vós o conheceis?
Esteban de Perea balançou a cabeça:
Não. Mas nessa epístola dizia ao arcebispo do México que sabia da descoberta de traços de nossa fé entre os índios estabelecidos na região de Gran Quivira...
Não entendo, e como podia um frade na Espanha...?
É o que quero dizer, padre.
O inquisidor prosseguiu:
Naquela carta, o irmão Margila rogava a nosso arcebispo que fizesse todos os esforços possíveis para descobrir a origem desses vestígios e que determinasse se por trás deles poderiam estar as aparições de uma religiosa com certa fama de milagreira na Espanha...
Aparições? De uma religiosa?
O padre Salas acariciou a cabeça sem um único fio de cabelo, perplexo.
Bem, o termo correto seria "projeções", posto que Margila deduzia que essa religiosa, de clausura franciscana evidentemente, poderia gozar do dom da bilocação. Quer dizer, poderia aparecer por aqui sem deixar de estar na Espanha.
E quem é? A madre Maria Luisa do retrato?
Não. Trata-se de uma jovem freira de clausura soriana chamada Maria de Jesus de Ágreda.
E o que estais esperando, então? - saltou o padre Salas, entusiasmado. - Se já tendes esses indícios, por que não enviais uma pequena comissão a Quivira para fazer averiguações? Dois frades seriam suficientes para...
Mas quem? - frei Esteban interrompeu-o secamente.
Se julgardes oportuno, eu mesmo me ofereço como voluntário. Poderia levar um dos irmãos laicos, frei Diego por exemplo, que é jovem e forte, e seria um magnífico assistente de viagem. Juntos, completaríamos nossa missão em pouco mais de um mês.
Deixai-me pensar.
Acho que não tendes outra opção melhor, padre - disse o velho muito seguro. - Falo a língua dos índios, eles me conhecem há anos e sei como sobreviver no deserto melhor que qualquer um de vossos homens. Para mim, não seria problema caminhar com eles até o povoado e retornar sozinho depois, evitando as estradas mais vigiadas pelos apaches.
O inquisidor se sentou.
Imagino que não há força maior que a do entusiasmo, não é? - murmurou.
E a da fé, padre - assentiu Salas.
Pois que assim seja. Partireis com a próxima lua cheia, em agosto. Dentro de dez dias. Ensinai bem o ofício a frei Diego, e trazei-me o quanto antes notícias dessa Dama Azul.
MADRI, ESPANHA
Às 4h40 da madrugada, os arredores da Biblioteca Nacional de Madri estavam tranqüilos. Nenhum ônibus dos que ligavam a capital ao aeroporto, com base na praça de Colón, funcionava ainda, e o trânsito se reduzia a alguns poucos táxis com a luzinha verde acesa, vazios.
Um Ford Transit prateado tomou, partindo de Serrano, a estreita rua Villanova, percorrendo ladeira abaixo a grade que cerca o Museu Arqueológico Nacional e a grande biblioteca. Duzentos metros antes do final da rua, quase chegando no Paseo del Prado, o motorista desligou o motor e as luzes, e continuou rodando até estacionar em frente ao edifício Apartamentos Recoletos.
Ninguém notou a presença do furgão.
Um minuto e trinta segundos depois, duas silhuetas negras desceram do veículo.
- Rápido! É aqui!
Venceram com facilidade os 3 metros de grades sem um único movimento em falso. Seus pés de gato adaptaram-se às barras de ferro com naturalidade; o impulso da corrida fez o resto. Levavam às costas uma minúscula mochila preta, e nas orelhas, pequenos fones de ouvido de ondas curtas. Uma terceira pessoa, dentro do furgão, acabava de interceptar com seu escâner a última transmissão do walkie-talkie do guarda de segurança da porta principal, e confirmava que a área estava livre.
Dentro do pátio frontal da biblioteca, as sombras desfilaram velozmente diante das estátuas de São Isidoro e de Alfonso X, o Sábio, que, situadas a quinze degraus acima do nível da rua, pareciam observar os movimentos dos intrusos.
Corra! - ordenou a sombra que ia à frente. Em dez segundos, os intrusos colavam-se ao muro externo esquerdo da escada. Cinco segundos depois, uma das silhuetas, o "serralheiro", abria uma das portas de vidro do edifício.
Pizza para base, está me ouvindo?
A voz do "serralheiro" chegou diáfana ao interior do Ford.
Alto e claro, Pizza 2.
Sabe se o vigia está na entrada?
Negativo. Área livre... e bom trabalho.
Quando as sombras chegaram ao edifício, a abóbada que dá acesso à biblioteca estava livre. Além do mais, a luz vermelha dos sensores volumétricos dos cantos estava desligada.
Deve ter ido mijar... - murmurou a primeira sombra ao ver o campo livre.
Dois minutos, trinta segundos - respondeu o "serralheiro".
Está bem, adiante!
Com destreza, subiram os 35 degraus de mármore que levam à entrada da sala geral de consulta, onde havia acabado de ser instalada uma dúzia de computadores para que os leitores tivessem acesso à base de dados do centro. Após virar à direita e atravessar a escura ala dos arquivos, chegaram à janela do fundo.
Dê-me a ponta de diamante.
O "serralheiro", com precisão cirúrgica, furou o canto da janela mais ocidental, traçando um contorno esférico impecável até completar o corte. Depois de colar duas pequenas ventosas na superfície, arrancou o vidro em silêncio.
Agora apoie-o na parede - ordenou a seu colega.
- Ok.
Três minutos, quarenta segundos.
Correto. Vamos prosseguir.
A janela profanada separava a sala de fichas da de consulta de manuscritos. Só a luz macilenta dos indicadores de emergência iluminava o aposento.
Um momento! - o "serralheiro" estacou. - Base, está me ouvindo?
Pizza 2, na escuta.
Quero que me confirme se os olhos da antessala do forno veem alguma coisa.
Agora mesmo.
O homem do Ford digitou umas instruções no computador conectado a uma minúscula antena giratória situada sobre o furgão. Com um leve zumbido, ela se alinhou com a biblioteca rastreando um sinal eletrônico específico. Logo o cristal líquido se iluminou e surgiu no monitor um mapa completo do andar principal do edifício.
Genial! - exclamou o terceiro homem. - Saberei em segundos, Pizza 2.
Depressa, base.
Com diligência, o mouse percorreu a sala de manuscritos, que se ergueu imediatamente sobre o plano, adquirindo tridimensionalidade. Com a mesma flecha deslizante, clicou em uma das câmeras da porta oeste. Um ícone com a palavra "scanning" inscrita na parte inferior indicava que o sistema estava conectado com a central de segurança da biblioteca e com o centro emissor que o mantinha ligado ao quartel-general da empresa de vigilância.
Vamos, vamos - murmurou impaciente o terceiro homem.
Um momento, Pizza 2... pronto!
Então?
Podem continuar. Só o grande forno está ativado.
Excelente.
O "serralheiro" e seu acompanhante saltaram para o interior do recinto destinado à leitura de manuscritos, viraram para a esquerda e se precipitaram por uma porta que cedeu ao empurrarem a barra antipânico.
Pela escada. Quarto subsolo.
Quarto?
Sim, isso mesmo. E depressa. Já estamos há quatro minutos e cinqüenta e nove segundos aqui dentro.
Quarenta segundos depois, o "serralheiro" e seu colega haviam chegado ao final da escada.
Agora estamos sozinhos - advertiu. - Aqui embaixo não podemos receber o sinal da equipe de apoio, e esta é a sala blindada.
Está bem. É essa porta?
O "serralheiro" assentiu.
Uma barreira metálica, quadrada, de duas folhas e de uns 2,5 metros de lado, erguia-se orgulhosa diante deles. O sistema de abertura estava embutido na parede, à direita do portão, e era acionado com um cartão magnético e uma senha que devia ser digitada em um teclado.
Isso não é problema - sorriu o "serralheiro". - Só as portas do céu têm fechadura à prova de ladrões.
Após se livrar do gorro que cobria seu rosto e tirar a mochila dos ombros, tirou dela uma espécie de calculadora. Depois, tirou de um de seus bolsos um cabo que terminava em um plugue macho, e o introduziu bem embaixo da leitora de cartões.
Vamos ver se isso funciona - murmurou. - Parece que o programa de segurança utilizado é baseado no sistema Fichet. Basta introduzir o dígito-mestre e...
Está falando sozinho?
Chhhhiu!... Sete minutos, vinte segundos... E aberta!
Uma luz verde junto ao pequeno teclado do sistema de
segurança e um chiado à altura da maçaneta indicavam que o acesso ao "forno" acabava de se render à genialidade do "serralheiro".
A segunda sombra não se alterou. Embora a precisão com que aquele condenado trabalhava sempre houvesse impressionado seus colegas de missão, todos na equipe haviam aprendido a disfarçar a euforia.
Está bem, agora é minha vez.
A segunda sombra entrou na sala blindada. Já dentro, fuçou na mochila em busca de seu visor noturno. Deixou de lado os caros mocassins vermelhos que sempre usava e pegou o tubo in- tensificador de luz Patriot de última geração. Era seu brinquedo favorito. Após se livrar do gorro e exibir feições doces, femininas, o cabelo preto preso em um rabo-de-cavalo, a sombra ajustou o visor na cabeça. O assovio que indicava a carga da bateria do aparelho encrespou-lhe os nervos.
Muito bem, querido, onde você está? - cantarolou.
Lenta, começou a passar sua visão infravermelha pelas letras coladas nas diversas estantes que se abriam a sua frente. Primeiro foram as letras Mss., depois Mss. Facs., e depois Mss. Res. - Ahá. Aqui está. "Manuscritos reservados."
Maldição! Será que não conseguem me deixar em paz? Não havia nada que deixasse Carlos Albert mais irritado que ser acordado pela campainha do telefone. Mas, no caso dele, aquela fobia era doentia. Havia comprado a melhor secretária eletrônica do mercado, prometendo a si mesmo jamais atender ao telefone sem saber quem estava ligando. Mas, quando estava em casa, era incapaz de cumprir sua promessa.
Carlitos? É você?
Sim... José Luis?
Eu mesmo. Ouça bem...
O tom do policial parecia tenso.
Ontem à noite uns desconhecidos entraram na Biblioteca Nacional e levaram alguma coisa de lá...
É mesmo? Bem, fale com El País - respondeu Carlos com preguiça.
Espere um instante. O caso caiu aqui em meu departamento. E sabe por quê? - a pausa teatral de Martin deixou Carlos tenso também. - Suspeitam que uma seita pode estar por trás do roubo.
Ah, é?
Sim, Carlitos. Mas isso não é o mais importante. O que me deixou surpreso é que o material que desapareceu é um manuscrito que está relacionado com você.
Está brincando...
Foi a vez de o jornalista mudar o tom de voz.
De jeito nenhum, amigo. Por isso estou ligando. Ontem à noite você foi a última pessoa que esteve na sala de manuscritos, certo?
Sim, acho que sim.
E pediu um exemplar do... deixe-me ver, do Memorial de Benavides. Um livro de 1630.
Roubaram o Memorial? - Carlos não conseguia acreditar.
Não, não. O que desapareceu é um manuscrito inédito do tal Benavides, que, segundo me explicaram, é uma versão posterior do livro que você pediu. Nunca chegou a ser publicada. Está datada de quatro anos depois do "seu" Memorial. E é infinitamente mais valioso.
E o que isso tem a ver comigo? Acha que sou suspeito?
Bem, Carlitos, tecnicamente, você é a única pista que temos. Além do mais, não pode negar que existe certa relação entre sua consulta e o material subtraído.
E isso não seria outra das suas "sincronicidades"?
Sim - suspirou -, também pensei nisso. Mas na Polícia ninguém lê Jung. Aqui, as sincronicidades se chamam indícios.
Está bem, José Luis. Vamos esclarecer esse assunto o quanto antes. Onde nos encontramos?
Cara, fico feliz por concordarmos em alguma coisa.
O que acha do Café Gijón, em frente à biblioteca, digamos... ao meio-dia?
Estarei lá.
Carlos desligou o telefone com um estranho amargor na garganta.
Três horas depois, sentado em uma das mesas do Gijón, Martin o esperava folheando o jornal. Estava sentado junto a uma das janelas do local, tentando distinguir a inconfundível silhueta do jornalista entre os transeuntes que a essa hora cruzavam o Paseo de Recoletos.
Carlos não demorou a chegar, acompanhado de outro indivíduo de aspecto desalinhado e cabelo muito curto; era rechonchudo, e seus olhos, pequenos e rasgados, cortavam seu rosto como se fossem uma única linha.
Este é Txema Jiménez, o melhor fotógrafo de minha revista. Bem - sorriu -, o único.
A expressão de José Luis exigia um esclarecimento maior.
Ele me acompanhou naquele caso de Ágreda - acrescentou. - É de minha total confiança.
Muito prazer.
O policial apertou a mão de Txema, mas este sequer abriu a boca. Já acomodados, pediram três cafés com leite e trocaram cigarros.
Então - Carlos abriu fogo -, o que roubaram exatamente?
Martin tirou do bolso interno de sua jaqueta um pequeno bloco de notas e colocou seus óculos de ver de perto.
Como lhe disse, trata-se de um manuscrito valiosíssimo. Foi redigido em 1634 por frei Alonso de Benavides, que, pelo que parece, você conhece muito bem...
Carlos assentiu.
Segundo a responsável pelos arquivos históricos da biblioteca, que me explicou tudo esta manhã, esse texto foi reelaborado com a intenção de ser enviado ao papa Urbano viu como atualização do relatório que havia sido impresso por Felipe IV em Madri e que você solicitou ontem...
E a quem poderia interessar um manuscrito desses?
Esse é o problema: a muita gente. O manuscrito desaparecido continha um monte de anotações marginais do próprio rei da Espanha. E isso o torna... impagável.
Impagável? Quanto pode custar algo assim? - os pequenos olhos de Txema faiscaram.
É difícil calcular, principalmente porque não existem muitos colecionadores capazes de avaliar a singularidade da obra. Um milhão de dólares no mercado negro? Dois, talvez?
O fotógrafo assoviou.
O que não entendo - disse a seguir - é por que deram o caso a você. Carlos me disse que seu negócio são as seitas...
O tom do fotógrafo incomodou Martin. O policial interrogou Carlos com o olhar.
Não se preocupe, cara - disse. - Já lhe disse que Txema é de confiança.
Está bem - aceitou. - Além da "pista" que leva até Carlos, há algumas semanas certa Ordem da Santa Imagem ofereceu trinta milhões de pesetas à biblioteca por esse manuscrito.
Trinta milhões! - repetiu Txema. - Pouco comparado com...
A biblioteca, evidentemente, não aceitou e nunca mais soube dessa Ordem. A questão é que no registro de irmanda- des e confrarias da Conferência Episcopal ninguém sabe de uma organização com esse nome, e em Roma também não. Por isso, minha brigada suspeita que possa se tratar de alguma seita de fundamentalistas católicos...
E ricos - acrescentou o fotógrafo, já mais entusiasmado.
E já sabem como foi roubado?
José Luis esperava por aquela pergunta.
Isso é o mais estranho do caso - prosseguiu. - O manuscrito era guardado na câmara blindada da biblioteca, protegida por um sistema de segurança muito complexo e por guardas que patrulham a noite toda o interior do edifício. Pois bem: nenhum alarme soou, ninguém ouviu nada e, não fosse por um vidro arrancado que foi encontrado na sala de manuscritos, provavelmente o roubo ainda não teria sido percebido.
Então, vocês têm alguma coisa.
Sim. Um vidro fora do lugar e...
José Luis hesitou.
E uma ligação feita de um telefone do andar principal a Bilbao, às quatro e cinqüenta e nove da madrugada.
A hora do roubo?
É provável. O número ficou registrado na memória da central de pabx, e já fizemos as oportunas averiguações. Achamos que se trata de uma pista falsa.
Ah, é? E por quê?
Porque corresponde ao telefone de uma escola que, a essa hora, naturalmente, estava fechada. Provavelmente estamos diante de profissionais muito bem equipados, que falsificaram eletronicamente o número para nos levar a um beco sem saída.
Talvez não.
O misterioso comentário de Carlos fez com que José Luis quase derramasse o café.
Tem algo a dizer a respeito?
Bem, digamos que tenho uma intuição.
O jornalista abriu seu caderno de notas no dia 14 de abril, data em que haviam entrevistado as freirinhas do mosteiro da Conceição de Ágreda, procurando algo nele.
Txema, lembra a pista que as irmãzinhas de Ágreda nos deram?
Deram muitas, não?
Sim - assentiu Carlos enquanto continuava procurando -, mas me refiro a uma em especial, uma muito clara...
Não sei.
Aqui está! José Luis, está com seu celular aí?
O policial assentiu sem entender.
E o número desse colégio de Bilbao?
Tornou a assentir, apontando para um número de sete dígitos em seu bloco.
Carlos pegou o Motorola do policial e teclou depressa o número. Após uma série de chiados, o tom de chamada soou forte.
Alô, Passionistas? - respondeu uma voz muito seca.
O jornalista sorriu satisfeito, diante do olhar incrédulo do policial e de seu fotógrafo.
Bom dia. Posso falar com o padre Amadeo Tejada, por favor?
Ele está na universidade, senhor. Tente à noite.
Está bem, obrigado. Mas ele mora aí, não é?
Sim.
Adeus.
Agur.
Dois olhares de surpresa se voltaram para Carlos.
Pronto, José Luis... Seu homem é o padre Amadeo Tejada.
Mas como diabos...?
Muito fácil: outra "sincronicidade" - deu-lhe uma afetuosa cotovelada. - Em Ágreda, as freirinhas nos falaram do "especialista" que está agilizando em Roma o processo de beatificação de irmã Maria de Jesus de Ágreda. Anotei a pista em meu caderno para ir visitá-lo quando pudesse, e sabia que poderia localizá-lo em um abrigo de religiosos, ao lado de um colégio... em Bilbao.
Santo Deus!
Será que o Corpo Nacional de Polícia pagaria uma viagenzinha a terras bascas?
Claro, Carlitos... - balbuciou José Luis. - Amanhã mesmo. - E acrescentou: - Mas devo lembrá-lo que você continua na minha lista de suspeitos.
Também não é um tumor, Jennifer.
A doutora Linda Meyers avaliava o relatório da ressonância magnética que havia pedido no dia anterior ao Sinai Medical Center (Cedars). As placas do cérebro de sua paciente mostravam um corpo caloso e uma estrutura de bulbo raquidiano normal. Os lóbulos temporais estavam saudáveis e não havia nenhuma mancha clara que denotasse a presença de um corpo estranho no crânio.
Não parece contente, doutora.
Oh! Não, não! Claro que estou contente, Jennifer. É só que...
O quê?
É que continuo sem encontrar uma causa que justifique seus sonhos. Ainda sonha, não é?
Toda noite, doutora. Sabe, às vezes, tenho a impressão de que estão me ditando algo. É como se minha mente fosse uma enorme tela de cinema na qual alguém projeta um documentário, por partes. E, de vez em quando, deixa-me ver cenas que me afetam.
Como a do índio que tinha a mesma marca de nascença que você tem no braço.
Exato.
Ou a presença de algum personagem com um nome que lhe pareça familiar, por exemplo... - Meyers deu uma olhada no histórico clínico da paciente - Ankti!
Jennifer assentiu.
Deixe-me fazer uma pergunta, Jennifer.
Pois não.
Tudo isso a afeta em alguma coisa? Quero dizer: sente-se mal, angustiada, por causa desses sonhos? Ou, ao contrário, causam-lhe algum tipo de satisfação?
Sua paciente pensou por um segundo. Não era fácil responder a algo que, longe de incomodá-la, intrigava-a um pouco mais a cada noite.
Na verdade, doutora - disse por fim -, passei da preocupação à curiosidade.
Neste caso, talvez possamos modificar o rumo de nossa terapia, Jennifer. Enquanto você me conta o que sonhou ontem à noite, eu lhe contarei o que se pode fazer com uma técnica chamada regressão hipnótica. Está preparada?
Jennifer mudou de expressão:
Você está?
ENTRE ISLETA E GRAN QUIVIRA
AGOSTO DE 1629
Seis dias depois de abandonar a missão de Santo Antonio, os homens de Sakmo já mostravam cansaço. A marcha havia se reduzido ao mínimo e as provisões começavam a acabar. Das quatro léguas diárias que os frades haviam percorrido nos dias anteriores, agora faziam, com sorte, duas.
A culpa era, também, do aumento das medidas de segurança. De fato, um grupo avançado de três homens ia deixando pelo caminho sinais em pedras ou nas árvores que indicavam se o caminho estava livre ou não. Ao mesmo tempo, outro grupo vigiava os fiancos do pelotão, custodiando os frades em um raio de cerca de mil metros.
Caminhavam sempre para o Sudeste, ganhando minutos de sol com cada amanhecer e atravessando antigos campos de caça apaches. Embora soubessem que eles haviam emigrado para outras latitudes, o velho território ainda infundia um temor supersticioso.
Mas nada aconteceu.
Aqueles dias de lenta marcha serviram a frei Juan de Salas, mas principalmente ao jovem frei Diego López, para aprender muitas coisas sobre o deserto. Frei Diego era um rapagão do norte da Espanha, forte como um carvalho, embora ingênuo como uma criança. Mostrava interesse por tudo, mas o que o obcecava era aprender a língua dos índios para pregar tanto antes quanto possível a palavra de Deus.
Foram dias em que os franciscanos descobriram que as "terras planas do Sul" - como os jumanos as chamavam -, à primeira vista vazias, estavam cheias de vida. Os índios lhes ensinaram a distinguir os insetos venenosos dos inofensivos. Falaram das perigosas formigas da colheita, uma variedade de invertebrados que injeta a cada mordida um veneno que destrói os glóbulos vermelhos e que é mais venenoso que uma picada de vespa. Também lhes mostraram como cortar um cacto para beber a água de seu interior e os instruíram para que, nas breves noites daquele verão, não espantassem nunca de seu lado os lagartos chifrudos, pois eles os protegeriam de escorpiões e outros répteis venenosos e serviriam de café-da-manhã no dia seguinte.
No nono dia, pouco antes do cair da noite, aconteceu algo que alterou o curso das lições. Havia relampejado o dia inteiro e, embora nenhuma nuvem tenha se descarregado sobre eles, o tempo abalou o ânimo dos índios, que viam em cada fenômeno da natureza um augúrio.
Talvez esta noite encontremos a Dama Azul - sussurrou frei Diego ao velho padre Salas, quando o líder do grupo parou em uma clareira para montar o acampamento. - Os jumanos parecem nervosos, como se esperassem algo...
Deus vos ouça, irmão.
Eu também estou com uma estranha sensação no corpo. Vós não, padre?
É a tempestade - respondeu frei Juan.
A dois passos deles e a um gesto de Sakmo, os homens desfizeram as trouxas e limparam um grande círculo de terra ao redor deles. O filho de Gran Walpi não temia que chovesse, e, assim, decidiu pernoitar ao relento, sem perder o horizonte de vista.
A organização do acampamento foi realizada com a mesma precisão dos dias anteriores. Cravaram estacas nos quatro pontos cardeais. Depois, uniram-nas com uma fina corda com chocalhos, de modo que qualquer intruso os fizesse tilintar, alertando as sentinelas. Havia de ter cuidado. Se não se prestasse atenção, qualquer um podia disparar o alarme por engano. Um sistema tão rudimentar seria reforçado por turnos de três horas de vigilância. As sentinelas ficariam encarregadas, ainda, de manter o fogo do acampamento aceso. Mas isso aconteceria ao cair da noite.
Antes, ainda havia algo para acontecer.
De fato, enquanto os franciscanos preparavam suas esteiras, a súbita excitação dos índios chamou-lhes a atenção. As sentinelas haviam divisado a silhueta de homens a pé, no fundo do vale, que se dirigiam para eles. Tinham tochas na mão... e os haviam visto.
Será que são apaches?
Frei Juan correu para junto de Sakmo ao ouvir a notícia.
Duvido - respondeu. - Os apaches raras vezes atacam ao anoitecer. Têm medo da escuridão tanto quanto nós... e nunca acenderiam tochas antes de um ataque.
E então...?
Vamos esperar. Talvez seja uma delegação de comerciantes.
Dez minutos depois, quando a pradaria já estava envolvida no escuro manto da noite, as tochas chegaram ao acampamento. Eram doze, cada uma sustentada por um índio tatuado. Um homem de pele curtida encabeçava a marcha; aproximou-se de Sakmo e beijou-lhe a face direita.
Os recém-chegados aproximaram-se do fogo e, ignorando a presença dos homens brancos, jogaram as tochas na fogueira maior.
Vede! - sussurrou frei Diego ao padre Salas. - Todos são anciãos.
Frei Juan não respondeu. Aqueles eram índios de rosto enrugado, de madeixas cinza e brilhantes. Deviam ter a mesma idade que ele, mas suas carnes não pareciam tão moles e soltas como as suas.
Huiksi!
Um deles dirigiu-se aos franciscanos. Frei Juan teve dificuldade para decifrar o que queria lhes dizer. Aquele venerável velho, em uma mistura de dialeto tanoan e hopi, fazia votos de que o "alento da vida" estivesse sempre com eles.
Os frades inclinaram a cabeça em sinal de agradecimento.
Viemos do povoado de Sakmo e de seu pai, Gran Walpi, que está a dois dias daqui. Nenhum de nossos guerreiros os havia visto ainda, mas nós, anciãos do Clã da Neblina, sabíamos que estáveis perto. Por isso viemos receber-vos.
Frei Juan foi traduzindo para o irmão Diego aquelas frases. O velho que havia quebrado o silêncio não tirava os olhos do padre Salas.
Trazemos milho e turquesas para vos dar as boas-vindas - prosseguiu, oferecendo-lhe um cesto com objetos que brilhavam à luz das chamas. - Estamos agradecidos por vossa visita. Desejamos que faleis a nosso povo desse Chefe-de-todos-os-deuses que pregais e que nos inicieis nos segredos de seu culto.
Os franciscanos empalideceram.
E como soubestes que viríamos justamente nesta data? - indagou frei Juan em dialeto tanoan.
O índio mais velho tomou a palavra então:
Já sabeis a resposta: a Mulher do Deserto desceu em forma de relâmpago azul entre nós e falou-nos de vossa chegada. Aconteceu há duas noites, no lugar onde vem se manifestando há tantas luas...
Então, ela está aqui?
O coração dos frades se acelerou.
E como ela é?
Não se parece com nossas mulheres. Sua pele é branca como o suco dos cactos; sua voz é o ar quando sussurra entre as montanhas e sua presença transmite a paz do lago no inverno.
A lírica do velho jumano impressionou-os.
E não vos dá medo?
Oh, não! Nunca. Soube conquistar a confiança do povo quando curou alguns de nós.
Curou? Como foi isso?
O índio olhou para o padre Salas com severidade. Seus olhos brilhavam como centelhas à luz da fogueira.
Sakmo não vos contou? Um grupo de guerreiros dirigiu-se ao Cânion da Serpente para ver a dama. Foi antes de o filho de Gran Walpi partir para vos buscar. Havia uma grande lua cheia no céu e toda a pradaria estava iluminada. Ao chegar ao sagrado lugar de nossos antepassados, vimos que o espírito azul parecia triste. Explicou-nos a razão. Dirigiu-se a mim censurando-me por não tê-la avisado da doença de minha neta.
O que havia com ela?
Foi mordida por uma serpente. Tinha um grande inchaço na perna. Justifiquei-me explicando que nenhum de nossos deuses era capaz de curar uma ferida assim, mas ela me pediu que a levasse até a doente.
E a levastes, claro.
Sim. A Dama Azul tomou-a em seus braços e a envolveu em uma luz poderosa. Depois, quando o fulgor acabou, depositou-a no chão, e a pequena, com os próprios pés, jogou-se em meus braços, completamente curada.
Vistes apenas luz?
Sim.
E nunca vos ameaçou ou pediu algo em troca dessas curas?
- Jamais.
Também nunca entrou no povoado?
Não. Sempre permanece fora.
Outro ancião, calvo e quase sem dentes, dirigiu-se então aos padres.
A Dama Azul nos ensinou isto como prova de sua passagem entre nós e como sinal de identificação para vocês.
O velho ergueu-se, firme, a pouca distância dos frades. Depois, com extrema cautela, como se temesse se enganar, começou a gesticular com o braço direito, levando primeiro a mão à testa e depois descendo-a até o peito.
Está se persignando! - exclamou frei Diego. - Mas que tipo de prodígio é este?
A noite ainda lhes reservava mais algumas surpresas.
Junto ao fogo, os visitantes contaram os principais ensinamentos daquela mulher. De tudo o que contaram, chamou a atenção dos frades o fato de todos terem tido as próprias vivências com ela. Juraram tê-la visto descer em uma luz ofuscante, e que até os animais se calavam quando aparecia em Gran Quivira. Para eles, aquela mulher era de carne e osso, não um fantasma ou uma miragem. Sentiam-na mais próxima, mais real que esses espíritos que seus bruxos imaginavam após a ingestão de cogumelos sagrados. De fato, foi tal a coerência de seu relato, que os frades chegaram a pensar se não estariam diante de uma impostora vinda sorrateiramente da Europa, escondida durante seis anos naqueles desertos.
A idéia, porém, foi descartada de imediato.
ROMA
Para chegar aos estúdios da rádio Vaticana da praça São Pedro é preciso subir a Via della Conciliazione até o final e virar à esquerda. Deixa-se para trás o monumento de Santa Catarina de Siena e uma linda vista do Castelo de SantAngelo. Ali mesmo, em um enorme palácio do século XIII, no número 3 da Piazza Pia, uma porta de folha dupla dá passagem a um dos lugares mais surpreendentes desse pequeno Estado.
A instituição é o órgão "oficioso" do papa. A rádio cobre seus atos públicos, suas viagens, e coordena o trabalho dos jornalistas estrangeiros interessados em retransmitir os eventos pontifícios de especial relevância. Em suma, tem linha direta com o Santo Padre. Talvez por essa razão, entre os tempos de Paulo vi e o longo pontificado de João Paulo II, seu organograma complicou-se de maneira exponencial. Sob a direção de um conselho dirigido por jesuítas, trabalham quatrocentas pessoas que tornam possíveis mais de setenta programas diários. São transmitidos em trinta idiomas diferentes, do latim ao japonês, passando pelo chinês, o árabe, o armênio, o letão ou o vietnamita.
A rádio Vaticana dispõe, ainda, de uma impressionante capacidade técnica para levar suas ondas aos cinco continentes. Sua tecnologia é tão superdimensionada que alguns observadores insinuam que seus equipamentos excedem em muito suas necessidades reais. Quem sabe?
A verdade é que quando o padre Baldi chegou ao estúdio não conhecia todas aquelas informações. Tivera tempo apenas de tomar um café bem cedo perto do Ufficio Stampa na praça São Pedro e de se distrair um minuto diante das atraentes vitrines das livrarias próximas. A alta política de telecomunicações lhe parecia tão distante quanto uma estação científica na Antártida.
Após cruzar a porta da rádio Vaticana e subir a escada de mármore que conduzia à primeira janelinha de identificação, o "terceiro evangelista" perguntou pelo estúdio do padre Corso.
- No segundo subsolo. Saindo do elevador, siga pelo corredor em frente e chegará à sala 2S-22 - indicou um porteiro de aspecto afável enquanto anotava o número de sua identidade na folha de visitas. - Estávamos esperando pelo senhor.
O elevador, um velho Thyssen de portas gradeadas, deixou-o diante de um corredor cheio de portas brancas cujas maçanetas haviam sido substituídas por rodas metálicas. Embora à primeira vista parecessem eclusas de um submarino, logo descobriu que se tratava de portas que isolavam acusticamente estúdios de gravação. Sobre cada porta distinguiu duas luzes-piloto, uma vermelha e outra verde, instaladas para indicar a pessoas como Baldi se podiam entrar ou não.
A sala 2S-22 não ficava muito longe do elevador. Quase não se distinguia das outras, salvo pela pequena diferença de possuir fechadura eletrônica.
Sem titubear, o padre Baldi girou a roda da porta noventa graus, puxando-a com força. Não estava trancada. Sua estrutura cedeu e imediatamente o beneditino encontrou-se em uma sala circular, abobadada, de uns 60 metros quadrados, dividida em vários aposentos menores por biombos cinza. No centro, livre, viu uma poltrona de couro preto e, arrumada a sua volta, uma fileira de aparelhos médicos sobre mesinhas com rodas.
O estúdio estava iluminado por uma luz tênue e permitia vislumbrar o mobiliário das partes demarcadas pelos biombos cinza. Havia três: uma dispunha de um complexo sistema de oscilógrafos, equalizadores e uma mesa de mixagem para sintetizar sons; outra estava lotada de caixas cheias de fitas magnéticas e fichas clínicas. E, por último, uma terceira guardava mesas de trabalho equipadas com computadores IBM de última geração, bem como dois arquivos metálicos de quatro gavetas cada um, com um calendário ainda intacto dos Jogos Olímpicos de Barcelona pendurado acima deles.
Ora, ora, encontrou-o sozinho!
Uma voz animada ecoou às costas de Baldi. Não tinha sotaque italiano, mas norte-americano. E muito acentuado.
O senhor deve ser o sacerdote veneziano que vem substituir o padre Corso, não é? - Um homem de jaleco branco aproximou-se estendendo a mão. - Sou Albert Ferrell. Mas aqui todos me chamam de il dottore Alberto. E eu gosto.
Il dottore piscou para o beneditino. Era um indivíduo baixo, queixo bem recortado e rosto cor-de-rosa, que tentava disfarçar sua incipiente calvície distribuindo os cabelos laterais sobre a cabeça. Arrogante. Sedutor. Astuto. Enquanto Baldi o observava, o doutor de olhar-azul-transparente tentava ganhar a confiança de seu visitante.
Gosta do equipamento?
O sacerdote não respondeu.
Foi projetado à imagem e semelhança da "sala do sonho" que a Agência Nacional de Segurança construiu em Fort Meade, nos Estados Unidos, há alguns anos. O mais difícil foi construir a abóbada, sabe? Nossos testes com som ambiente precisam de uma acústica perfeita.
Baldi colocou seus óculos de arame para não perder nenhum detalhe.
Os aparelhos que está vendo atrás da poltrona - prosseguiu Ferrell - servem para monitorar os sinais vitais do sujeito. E os sons com os quais experimentamos são controlados por aquele gravador eletrônico que está a sua direita. São aplicados por meio de capacetes estereofônicos e a equalização é feita com um computador, sabia?
O doutor Alberto insistia em ser gentil. Era evidente que aqueles eram seus domínios. Sentia-se à vontade neles, orgulhoso dos equipamentos que havia conseguido instalar ali, subsidiados por fundos do Congresso americano.
Cada sessão é gravada em vídeo - prosseguiu. - Também registramos os sinais vitais dos sujeitos em experimentação em um software especial que permite comparar os dados.
Diga-me uma coisa, dottore Alberto... - o tom que Baldi empregou para pronunciar o nome continha uma certa ironia.
Sim?
Que trabalho fazia exatamente para o padre Corso?
Digamos que eu contribuía com os elementos técnicos em seu projeto. A tecnologia que vocês, os "quatro evangelistas", desenvolveram para a Cronovisão era um tanto primitiva...
Baldi gostaria de ter crucificado aquele insolente. Mencionava os "santos" como se o trabalho não fosse secreto. Ou, ainda pior, como se o segredo só incumbisse ao Vaticano, e não a um laico como ele, vinculado a uma nação que havia decidido não ter religião oficial.
Entendo - conteve-se. - E o que o senhor sabe dos "quatro evangelistas"?
Não muito, na verdade. Só que eram os homens de frente de outras tantas equipes de elite que pretendiam vencer, com técnicas mais ou menos heterodoxas, algumas quase paranormais, a barreira do tempo.
Pois já sabe mais que muita gente em São Pedro.
Considerarei isso um elogio, padre Baldi. A propósito - acrescentou com um quê sombrio em suas palavras -, instantes antes de o senhor chegar, recebi uma ligação do cardeal Zsidiv anunciando sua visita.
O sacerdote intuiu que a frase do dottore não acabava ali.
- E...? - incitou-o a prosseguir.
Ele já recebeu o relatório da autópsia do padre Corso e pediu-me que lhe transmitisse as conclusões. O cardeal acha que lhe interessará conhecê-las o quanto antes.
Baldi assentiu.
Luigi Corso, padre, morreu em conseqüência de fratura no pescoço, após a queda da janela do quarto andar. Caiu de cabeça. A primeira vértebra cervical entrou pelo buraco occipital até a cavidade craniana e o matou. Mas a análise preliminar - prosseguiu - descobriu mais uma coisa.
Mais?
Sim. O padre Corso sofria de úlcera devido ao estresse. Seu estômago apresentava as estrias próprias dessa doença.
E o que isso significa?
Muito simples. Como o nome indica, o padre sofreu um elevado nível de estresse antes de morrer. O legista tem quase certeza de que foi sua ansiedade que o levou a se jogar pela janela. Mas quer comprovar se os níveis de adrenalina estavam anormais antes de se jogar no vazio. Isso levará algum tempo - acrescentou.
E o que pode ter lhe causado essa ansiedade?
Como bom militar, Albert Ferrell estava acostumado a esse tipo de pergunta. Já tivera de responder a algumas delas quando os carabinieri o tinham visitado, duas horas antes. Eles lhe haviam dito o que o padre Baldi, que resistia impertérrito a suas explicações, ia descobrir:
Ao que parece, segundo o porteiro do abrigo Santa Gemma, Corso recebeu uma visita antes de sua morte. Uma mulher.
Uma mulher?
Ferrell sorriu.
E bonita, pelo visto. O porteiro a descreveu como alta, magra, de cabelo preto e olhos claros. O que mais lhe chamou a atenção foram os caros mocassins vermelhos que usava. Pareciam de marca. Muito caros. Ao que parece, essa dama ficou com o padre Corso uns quarenta minutos, e deixou-o quinze minutos antes de ele se jogar pela janela.
Bem... - murmurou Baldi - isso explica quem levou seus arquivos eletrônicos.
Não me diga! - brincou o outro. - O senhor conhece essa mulher, padre?
A manhã seguinte despontou úmida na vertente oriental das montanhas Manzano. A menos de 8 léguas do sopé, ao Sudeste, encontrava-se o acampamento de Sakmo. Com os primeiros raios de sol, os índios já haviam recolhido quase todos os seus pertences e enterrado os restos da noite anterior.
Enquanto levantavam as últimas estacas, os franciscanos haviam se retirado para dar graças a Deus pela colheita de almas que se avizinhava. Sabiam que nem sempre tinha sido tão fácil e que os avanços da Igreja na América estavam tingidos de sangue. Mas sequer nesse momento os religiosos conseguiram um minuto de intimidade com o Padre Eterno. Quase furtivamente, vários anciãos jumanos somaram-se a suas preces; ajoelharam-se junto a eles e beijaram as cruzes que pendiam de seus pescoços como se fossem velhos cristãos.
Foi a enésima surpresa. A repetida evidência de que aquilo não podia ser fruto de um mal-entendido, mas de um desígnio divino. E assim, concluídas as preces, à hora terça, a expedição tomou de novo seu caminho para Gran Quivira.
À medida que as primeiras luzes do dia se intensificavam, a paisagem ia se transformando. Passaram das lagunas de sal às colinas suaves do Sul. Todas elas estavam pintadas de arbustos que chamaram a atenção dos índios. Eram matas de pontas carnudas e alongadas que arrancavam com esmero e - como se descobriu depois - ingeriam em suas kivas. Naquele deserto, cada erva tinha um uso, sagrado ou profano.
Frei Juan quis descobrir um pouco mais sobre seu destino final. Durante o caminho, ficou junto ao velho mais lento para inquiri-lo.
Ah, padre! - exclamou o velho. - Nosso povoado é o único da região construído com pedras. Quando eu era muito pequeno, recebemos a primeira visita dos castelas, e já então espantaram-se ao ver nossas casas.
Os castelas?
Sim. Disseram-nos que esse era o nome da nação deles. Também explicaram que haviam vindo procurar sete cidades de ouro que nenhum de nós havia visto. Mas ficaram pouco tempo conosco... Não éramos o que procuravam.
Esse deve ter sido Vázquez de Coronado.
Não lembro o nome, padre. Mas os antepassados, mais velhos e sábios que eu, falaram-me de sua arrogância e de seu temível exército. Usavam carapaças brilhantes, como os escorpiões, e eram ainda mais venenosos que eles.
Nós somos diferentes.
Veremos, padre.
No décimo primeiro dia de marcha (e segundo dia após o encontro com os velhos jumanos), o grupo de Sakmo já se encontrava muito perto de seu objetivo. Todos pareciam confiantes, como se os contratempos houvessem perdido a oportunidade de os atrapalhar. Por isso, quando finalmente divisaram o perfil de suas casas incrustadas na rocha, e atrás delas, no horizonte, a escura brecha do Cânion da Serpente, a alegria inundou seus corações.
Os frades, porém, sobressaltaram-se. Diante deles, aguardando sua chegada, umas quinhentas pessoas, talvez mais, a maioria mulheres jovens acompanhadas de seus filhos, estavam reunidas à entrada do povoado. À frente, duas anciãs seguravam uma grande cruz de madeira e cânhamo, trançada de flores. A cruz, alta como um pinheiro, bamboleava como em procissão de Semana Santa.
Sakmo deixou sua posição de linha de frente e, retrocedendo até onde estavam os franciscanos, sussurrou:
Devem ser mulheres owaqtl, do Clã das Pedras Espalhadas. Algumas delas também viram a Dama Azul nas imediações do povoado.
Frei Juan interrogou-o com o olhar, mas o índio, indiferente a suas dúvidas, prosseguiu:
Desde que a Mulher do Deserto chegou a nós, muitas mães conseguiram falar com ela. E, embora não tenham permissão para ingerir os cogumelos sagrados que facilitam a comunicação com os espíritos, elas conseguiram com grande facilidade...
Elas quem?
Observe, padre, e repare nas duas anciãs que estão segurando a cruz.
Estou vendo.
Quando encontraram pela primeira vez a Mulher do Deserto, chamaram-na de Saquasohuh, que significa "kachina da Estrela Azul". Depois, quando começaram a intuir sua chegada, acreditaram que era uma Mãe do Milho. Um espírito. Agora ninguém mais sabe o que pensam.
Um momento... Podem intuir sua chegada?
Sim. É um dom da mulher se antecipar ao futuro. O senhor não sabe? - Fez uma pausa e acrescentou: - Se estão aqui é porque a Dama as enviou. Vamos esperar.
Quando as guias do Clã das Pedras Espalhadas viram os dois homens brancos vestidos à maneira que a Dama Azul havia descrito, prorromperam em uma grande ovação. Ergueram a cruz acima de suas cabeças e foram até onde estavam os frades. Ali, diante do espanto destes, persignaram-se. E, a seguir, uma das idosas pediu a frei Diego que lhes mostrasse "o livro".
O livro?
A Bíblia, irmão! - saltou o padre Salas.
Mas, frei Juan...
Vamos! Entregue-a a ela!
A índia pegou a Bíblia em suas mãos, beijou-a com doçura e gritou algo incompreensível que alvoroçou suas companheiras.
Aquela mulher tinha uma cabeleira branca presa em duas tranças. Em momento algum hesitou. Com a Bíblia nas mãos, foi passando entre os seus, deixando que a acariciassem. Houve doentes que beijaram a capa escura das Escrituras como se esperassem daquele gesto a cura. Outros, inclusive, jogaram-se no chão implorando a bênção do livro. Mas os demais limitaram-se a tocá-la com a ponta dos dedos.
Sem dúvida, isto é coisa de Deus.
Os frades não se conformavam.
Ninguém vai acreditar quando contarmos!
Acreditarão, irmão. A fé desta gente nos fará fortes.
Il dottore Alberto deu-se por satisfeito com as explicações de Giuseppe Baldi. O beneditino não tinha a mais remota idéia de quem poderia ser a misteriosa visitante do padre Corso, e, pelo que ambos sabiam, não ia ser nada fácil encontrá-la. Corso também havia sido professor, e com freqüência recebia alunos e alunas de sua escola. Mas não era provável que alguma dessas garotas calçasse sapatos vermelhos nem que usasse um traje formal como o que o porteiro descrevera à Polícia. Sua descrição poderia ajustar-se a alguma madre do colégio. Ou talvez a alguma colaboradora de seu trabalho na rádio Vaticana.
Ouça bem, Albert: antes de morrer, o padre Corso escreveu-me informando que você havia sintetizado as freqüências de som necessárias para fazer com que uma pessoa contemplasse o passado. É verdade?
Sim - assentiu. - Todos os nossos resultados estavam no disco rígido do computador do padre Corso, cujos registros foram apagados. Mas devo dizer que conseguimos um pouco mais que contemplar o passado.
A que se refere?
Veja, padre. Conseguir imagens e sons do passado era o principal objetivo da Cronovisão. O Vaticano havia se proposto apenas a dar uma olhada na História. Nós, porém, descobrimos que podíamos intervir nela. E passar de meros espectadores a atores transformou o projeto em algo muito mais importante, que ninguém havia imaginado.
O "evangelista" olhou para o doutor Alberto desafiadoramente.
Intervir? Refere-se a manipular a História à vontade? Reescrevê-la?
Algo assim, padre. O padre Corso tinha plena consciência do que isso poderia significar, e nas últimas semanas tornou-se taciturno e rude.
Explique isso melhor, doutor.
Nosso método para projetar a mente humana ao passado utilizando certas vibrações harmoniosas permitiu-nos, no início, "xeretar" outras épocas. Mas isso foi tudo. Era como ver um filme. O "viajante" não podia agredir ninguém, nem mover objetos, nem tocar um instrumento. Era uma espécie de fantasma que dava uma olhada no passado. E só.
Vibrações harmoniosas! - exclamou Baldi. - Essa era minha teoria.
Albert Ferrell coçou o queixo, sorrindo.
Sim, padre. Mas nós a melhoramos. O senhor conhece os trabalhos de Robert Monroe?
Vagamente. O cardeal Zsidiv me falou dele.
Talvez saiba que esse engenheiro de som desenvolveu um tipo de acústica que, bem aplicada, permitia o "desdobramento astral".
Sim, foi o que entendi... Mas a Igreja não sabe nada de "corpos astrais". São termos vulgares da Nova Era. Vagos.
Tecnicamente, tem razão - aceitou Ferrell. - Mas é importante que não nos deixemos ofuscar pela terminologia. Monroe falou de "corpos astrais", mas os católicos também têm um termo para se referir à existência desse elemento invisível que habita em cada ser humano: a alma. Ou será que o senhor não acredita em sua existência?
Isso é uma ofensa - grunhiu Baldi. - Não creio que o que se desdobra seja...
Está bem, está bem, não pretendo discutir teologia com o senhor. Tudo depende de qual tipo de alma se fala - o assistente do falecido padre Corso ergueu teatralmente os braços. - Eu estudei esse assunto antes de vir para cá. São Tomás admitia a existência de três tipos de almas, com três funções diferentes: a sensitiva, a que dá movimento ou vida às coisas e a que cria a inteligência.
Dessa vez Baldi interrogou-o com o olhar, mas não replicou. Provocava-lhe náuseas e o surpreendia, ao mesmo tempo, que um militar utilizasse conceitos tomistas para justificar sua atividade. Seu interlocutor percebeu.
E por que não, padre? - repreendeu-o. - Até Tertuliano acreditava na corporeidade da alma, que é, afinal de contas, o mesmo que Monroe defende.
Corporeidade da alma? A alma não pesa, não tem volume, não tem cheiro... não é física!
São Tomás preocupou-se muito com a alma sensitiva, que é a que nos comunica com o mundo material, e talvez a mais fácil de "despertar" com sons. Eu não teria tanta certeza de que esse tipo de alma não pode chegar a tomar corpo. De fato, o padre Corso me contou que o senhor, em suas pesquisas com música sacra, e Monroe, com suas freqüências de laboratório, tentaram conseguir coisas parecidas... Só que o segundo foi mais longe que o senhor, padre, ao conseguir desdobramentos intencionais da "alma".
Aibert Ferrell deu as costas a Baldi para baixar a persiana e acender a luz do aposento. A noite começava a cair sobre a Cidade Eterna, enchendo o céu de tons ocreados de incrível beleza. O sacerdote, indiferente, mudou o rumo da conversa:
Você disse que esta sala foi construída à imagem e semelhança de outra, nos Estados Unidos, certo?
Sim. A "sala do sonho", em Fort Meade.
E para que construíram algo assim em um recinto militar?
Ah, padre. Não o julgava um homem ingênuo - sorriu. - Durante a guerra fria, soubemos que os russos, além de desenvolver armamento convencional e nuclear, tentavam abrir um novo campo de batalha no terreno da mente. Treinaram seus melhores homens para que, sob estado de desdobramento astral, pudessem espiar instalações secretas norte-americanas ou localizar silos de mísseis aliados na Europa... Sem sair da Sibéria!
E eu é que sou ingênuo, doutor? Seu país acreditou naquilo e decidiu tomar medidas...
Isso mesmo. - Il dottore apreciou o tom irônico de seu interlocutor. - Nossa missão foi, primeiro, proteger nosso país de ofensivas desse tipo, e, depois, pesquisar amparando-nos nas técnicas de Monroe. Vários agentes nossos fizeram o curso e aperfeiçoaram seus métodos, construindo a primeira "sala do sonho" em 1972. Naquela época, eu era um simples cabo. Estava longe de saber que tipo de "arma" estava sendo desenvolvida lá dentro. Mas, quando entrei em Fort Meade, soube que Monroe já havia conseguido vinte e cinco por cento de sucesso com suas "decolagens" astrais. Os militares conseguiram essa porcentagem graças a um férreo programa de condicionamento psicológico. Para isso, recrutamos os melhores sensitivos do país.
Baldi olhava para ele entre incrédulo e estupefato. Aquele indivíduo, tagarela e franco, realmente acreditava no que dizia. Pena que seu senso patriótico, metido naquele jaleco branco, soasse tão ridículo.
E como utilizavam a sala?
Do mesmo modo que o padre Corso e eu a utilizamos aqui. Claro, este é um modelo mais aperfeiçoado que aquele de 1972 - disse apontando para a poltrona de couro no centro do estúdio. - Permite obter mais informação em cada experimento. Mas, basicamente, o procedimento-padrão não mudou.
Procedimento-padrão? Não sabia que existia um.
Pois existe - atalhou Albert Ferrell. - Primeiro escolhíamos uma dessas pessoas, um "sonhador", e depois o bombardeávamos com sons em escala crescente. Assim, conseguíamos induzir o estado mental adequado para que sua "alma" se desdobrasse do corpo e pudesse voar livre para onde quisesse.
E o chamavam de "sonhador"?
A idéia foi de uma de nossas últimas sensitivas. Ela nos disse que sua família a chamava assim, e nós gostamos.
Baldi não deu maior importância ao detalhe, e prosseguiu:
Explique-me melhor esses sons que utilizam, dottore. O sacerdote sentou-se junto a um dos computadores e começou a anotar algo no pequeno moleskine preto que tirou de sua batina. Albert Ferrell não se alterou.
Bem, é algo relativamente simples. Monroe acreditava que as diferentes freqüências de sons que havia sintetizado eram algo assim como a própria essência de cada um de nossos estados habituais de consciência: desde o estado normal de vigília ao sonho lúcido, o estresse e inclusive o êxtase místico. Tinha certeza de que, se conseguisse sintetizar essas "essências" e as administrasse por meio de fones de ouvido a um sujeito, seu cérebro tenderia a imitar essa freqüência e, portanto, a levar o paciente ao estado mental que se desejasse. Pode imaginar as possibilidades de algo assim? Qualquer um poderia nos fazer mudar de humor, ou de atitude, simplesmente fazendo-nos ouvir um som!
E... ele conseguiu? Conseguiu sintetizá-los?
Claro! Só por isso deveriam lhe dar um prêmio Nobel - disse enquanto mostrava a Baldi um gráfico tirado de uma gaveta. - Cada "amostra" acústica, cada essência, foi denominada "enfoque" e acompanhada de um número determinado que indicava o grau de intensidade com que afetava o cérebro humano.
Como uma escala.
Exato. Como uma escala - repetiu il dottore. - Por exemplo, durante o que ele chamou de "enfoque dez", descobriu que se podia acessar um curioso estado de relaxamento no qual o sujeito mantinha a mente acordada, mas o corpo adormecido. A essência era um tipo de som sibilante, criado para conseguir uma primeira sincronização de hemisférios cerebrais e preparar o sujeito para receber freqüências mais intensas. A sincronização em questão era atingida depois de três a cinco minutos, e costumava vir acompanhada de estranhas sensações corporais, inofensivas, como paralisias parciais, formigamentos ou tremores incontroláveis.
Todas as sessões na "sala do sonho" começavam assim?
Sim. Pouco a pouco, passava-se para o "enfoque doze", que conseguia estimular estados de consciência expandidos.
Conseguia-se a "visão remota" de objetos, lugares ou pessoas; controlar isso foi, a princípio, o que mais nos interessou, visto que podia ser aplicado à espionagem militar.
E conseguiram?
Com relativo sucesso. Mas o melhor foi quando descobrimos a utilidade de outros "enfoques" superiores.
Outros?
Sim, padre. Monroe sintetizou também sons de "enfoque quinze", que conseguiam levar os sujeitos a um "estado fora do tempo"; configuravam uma ferramenta que permitia a abertura para informações que procediam tanto do subconsciente como de outros tipos de inteligências superiores.
Albert Ferrell tentou avaliar a reação de seu interlocutor.
- Já ouviu falar do channelling?
Bem - fez uma careta é outro subproduto do movimento da Nova Era. Lixo pseudomístico, doutor. Surpreende-me que o senhor dê crédito a essas coisas.
Na realidade, padre, as experiências de channelling são a versão moderna dos diálogos dos místicos com Deus ou com a Virgem, ou das vozes que diziam que santa Joana d'Arc ouvia - defendeu-se Albert Ferrell. - Na antigüidade, essas vozes eram atribuídas aos anjos. A questão é que freqüências de "enfoque quinze", involuntariamente camufladas em cânticos espirituais, podem ter estimulado esse tipo de estado no passado. Por isso interessei-me pela Cronovisão e suas pesquisas, padre.
E, naturalmente, devo supor que há mais "enfoques"...
Evidentemente, padre. Agora vem o mais interessante.
Il dottore sentou-se em frente ao padre Baldi, como se o que fosse dizer exigisse que o olhasse nos olhos. Que lhe prestasse toda a atenção possível.
De todos os "enfoques" descobertos por Monroe em seus experimentos, os que mais nos interessaram, e também ao padre Corso, foram os que ele chamou de vinte e um e vinte e sete. O primeiro facilitava o desdobramento astral e o segundo permitia manipular esses desdobramentos intencionalmente. Ainda assim, ele intuiu que existisse um enfoque superior, que ele chamou de "x", que poderia materializar a alma desdobrada em um lugar de destino, criando algo quase sobrenatural: que uma pessoa pudesse estar fisicamente em dois lugares ao mesmo tempo.
Quis provocar uma bilocação artificialmente? - Baldi parou de tomar notas e respaldou sua pergunta com um olhar frio.
Não. Nem Monroe nem nós tínhamos esse "som essencial". Mas Corso quis consegui-lo de outro modo. Descobriu nos Arquivos Vaticanos o dossiê de uma mulher que, ao que parece, conseguiu se materializar a milhares de quilômetros de distância em pleno século xm. E teve a idéia de enviar um de nossos "sonhadores" para essa época, para "roubar" o som.
Que época?
Ano de 1629. No Novo México. Sabe por quê?
A Dama Azul! - Um relâmpago iluminou a mente de Baldi.
Muito bem, padre! - sorriu Ferrell satisfeito. - Vejo que o cardeal Zsidiv o deixou muito bem informado.
LOS ANGELES, CALIFÓRNIA
Por todos os diabos! Ele existe! Seu maldito frade existe, Jennifer!
Linda Meyers estava emocionada. Nunca a havia visto assim. Segurava na mão algumas anotações feitas com uma péssima caligrafia e tinha no rosto a expressão da vitória. Jennifer havia corrido até seu consultório na rua Broadway depois que ela lhe telefonara. Havia descoberto algo importante, dissera, mas o quê? Meyers havia se negado categoricamente a revelar algo pelo telefone.
- Deixe eu lhe explicar - Respirou fundo enquanto convidava sua paciente a se sentar. - Eu nunca havia feito isso antes, mas esta manhã, logo cedo, decidi praticar um pouco de espanhol com seu caso. Você sabe, meu marido sempre recrimina minha falta de interesse por sua língua. E hoje, finalmente, eu lhe dei ouvidos.
- Praticar espanhol? - perguntou Jennifer. Aquela era a explicação mais absurda que havia ouvido em toda sua vida.
Andei pensando em seus sonhos. Como são incrivelmente detalhados, e contêm enorme quantidade de dados precisos, sem sua permissão fiz algumas ligações para a Espanha para descobrir se alguém ali sabia alguma coisa sobre o que você havia me contado.
Jennifer ficou muda. Sua psiquiatra tinha verificado se o que ela sonhava tinha uma base histórica? Se era real?
Primeiro liguei para a Real Academia de História. Fiz muito bem! Deram-me o número da Embaixada dos Estados Unidos em Madri. Finalmente minhas aulas de espanhol serviram para alguma coisa!
E... o que lhe disseram?
Bem, na Academia não souberam esclarecer grande coisa, na verdade. Mas me recomendaram entrar em contato com a Biblioteca Nacional. Quando lhes disse que estava ligando em nome da Embaixada, atenderam-me muito bem e me deram o telefone do diretor.
Você disse isso? Que estava ligando da Embaixada?
O sorriso de marfim de Linda Meyers iluminou a sala.
Não me olhe assim, jennifer! Era uma ligação internacional! Não podia perder o dia todo. Precisava de uma resposta rápida! Finalmente, o diretor, um sujeito muito gentil, atendeu-me.
Conseguiu falar com o diretor?
Claro! Quando mencionei a Dama Azul, notei-o um tanto frio. Desconfiado. Como se estivesse tocando em um assunto que era tabu. Sabe o que quero dizer?
Jennifer assentiu.
Na verdade, estranhei. Depois, disse-me que haviam tido problemas com os arquivos relacionados com esse tema. Mas explicou que recordava perfeitamente ter visto o nome de frei Esteban de Perea nesses papéis. Pode imaginar minha surpresa? Ele confirmou que Perea foi um religioso da Ordem de São Francisco e custódio do Novo México. Era a prova que eu procurava. Seu homem, o frade que aparece em seus sonhos, existiu!
Então... quer dizer... - Jennifer estava arfando.
Quer dizer que o que você está sonhando não é só produto de sua imaginação. Até as datas são exatas! O diretor da biblioteca sequer hesitou: disse-me que frei Esteban de Perea chegou ao Novo México em 1629 para investigar as aparições de uma espécie de Dama Azul. Da Virgem, ou algo parecido.
E falou assim, sem mais nem menos?
Não foi tão fácil. Falamos durante quase quarenta minutos. Ele estava achando muito estranho eu me interessar justamente por esse material. Inclusive, perguntou-me se eu conhecia um livro chamado Memorial de Benavides.
Benavides? - saltou. - Como o Benavides que tanto citam em meus sonhos?
Parece que sim, Jennifer. Já ouviu falar desse livro?
Sua paciente ergueu os ombros, negando.
Foi isso mesmo que eu disse. Que jamais havia ouvido uma palavra sobre ele. Mas o que mais me chocou foi como ele parecia conhecer bem tudo aquilo de que eu falava.
É mesmo?
Claro! Esse assunto da Dama Azul deve ser bastante conhecido na Espanha. Fiquei muito surpresa!
E lhe disse mais alguma coisa? Algo que pudesse ser útil para minha terapia?
Não. Mas eu deixei meus dados com ele para que me ligasse ou escrevesse se descobrisse alguma coisa. E eu que pensava que os espanhóis eram descuidados com seu patrimônio! - murmurou.
Jennifer encarou Linda Meyers muito séria.
E agora, doutora?
Teremos de tomar medidas, claro. E, na falta de explicações fisiológicas, ou de transtornos psíquicos a tratar, só nos resta um caminho a explorar para saber o que está acontecendo com você, Jennifer: a hipnose regressiva.
Hipnose regressiva?
O rosto claro da paciente ensombrou-se de repente. Levantou-se da cadeira com os olhos muito abertos e começou a negar com a cabeça.
Não, não. Nada disso. Hipnose, não.
O que foi?
Nada de hipnose, doutora - insistiu. - Pensei melhor, e não quero.
A hipnose é um método inofensivo, Jennifer. Não vai doer. É a única coisa que vai nos permitir acessar seu subconsciente para encontrar a origem de suas visões - prosseguiu Linda Meyers. - É provável que a raiz de seus sonhos seja...
Eu sei o que é hipnose, doutora! - protestou.
E então?
É só que não quero me submeter a nenhum tratamento que bagunce meu cérebro.
Perdão, mas seu cérebro já está bagunçado. O que pretendo é organizá-lo e fazer com que esses sonhos acabem. Não percebe? O que você está recebendo é algo com base histórica. Talvez se trate de memória genética. Memória genética! - repetiu, como se ela mesma precisasse ouvir duas vezes. - Não é algo que a psicologia tradicional aceite, mas, em um caso como o seu, talvez pudesse...
Chega, doutora! Não quero ser hipnotizada!
Está bem, Jennifer. Acalme-se.
Meyers aproximou-se de sua paciente e, com suavidade, conduziu-a até o divã de couro que ficava junto à janela de seu consultório.
Muito bem. Não faremos nada que vá contra sua vontade - prometeu. - Mas deixe-me perguntar uma coisa.
O que quiser, doutora.
Essa fobia pela hipnose também tem a ver com esse trabalho para o Departamento de Defesa de que me falou?
Jennifer assentiu, enquanto se servia de um copo de água. Não gostava de recordar aquilo. Não era só a hipnose que estava relacionada com seu trabalho na Itália. Seus sonhos também estavam. Queria que tudo aquilo desaparecesse!
Isso é Segurança Nacional, doutora Meyers - disse após esvaziar o copo. - Sabe que não posso falar disso. É assunto confidencial.
A única coisa que Linda Meyers conseguiu naquela tarde foi o relato de outro sonho de Jennifer. O mais recente. E, por paradoxos da vida, nele o padre Esteban não aparecia. Mas sim os dois frades que o inquisidor havia decidido enviar ao assentamento de Cueloce, em Gran Quivira, para investigar o estranho interesse da tribo jumana pela fé dos estrangeiros.
GRAN QUIVIRA
1o DE AGOSTO DE 1629
As noites de agosto agradavam ao jovem guerreiro Masipa e à bela Ankti. A filha de Sakmo estava saindo, havia duas semanas, escondida de casa para subir à meia-noite no telhado e se deitar de costas junto ao jovem kéketl para contemplar as estrelas.
Masipa nunca tinha medo. Seu pai havia sido pastor de um dos nove clãs do povoado, e a pradaria o havia treinado para enfrentar a escuridão, seus lobos e espíritos. Mas Ankti não havia recebido essa instrução. Para Sakmo, sua filha de doze anos era uma joia que não devia se embrutecer ainda com as negras histórias das planícies. Por isso, Masipa a encantava contando-lhe algumas.
Aonde me levará esta noite?
A voz aveludada de Ankti deixou o adolescente arrepiado.
Vamos ver o ocaso de hotomkam - respondeu. - Logo vai se mostrar e dará lugar às estrelas do outono. Quero me despedir dele junto com você.
E como você sabe tudo isso?
É que a estrela Ponóchona desapareceu há duas noites por trás do horizonte - respondeu o jovem com a segurança de um astrônomo, referindo-se ao crepúsculo da brilhante Sírio.
Os dois fugitivos abandonaram o acampamento e, perto do Cânion da Serpente, voltaram seus rostos para o céu. A sensação de liberdade, de poder que aquelas horas lhes transmitiam era indescritível.
Porém, naquela noite não teriam tempo de se acostumar à escuridão. Algo inesperado, sutil, eletrizou o corpo do guerreiro, alertando-o.
O que foi?
Ankti notou que seu companheiro havia ficado imóvel.
Fique quieta! - cochichou. - Vi alguma coisa...
Um bicho?
Não. Não é isso. Percebe como o vento parou?
Sss... Sim - assentiu ela enquanto se agarrava ao braço dele.
Deve ser a Mulher do Deserto.
A Dama Azul?
Isso ocorre sempre que ela se aproxima.
A confiança de Masipa infundiu um pouco de serenidade na atemorizada jumana. O jovem falcão tentou se concentrar no silêncio.
Mas não há nenhuma luz... - murmurou a garota.
Não. Ainda não.
E se avisássemos os anciãos?
E como vai explicar que estávamos aqui?
A jovem se calou. O mutismo da noite se quebraria um instante depois. Um estranho zumbido veio do Sul. Avançava lento, mas sua vibração fazia o deserto inteiro tremer. Era como se uma praga de gafanhotos revoasse, nervosa, por entre os galhos de uma sabina próxima, aguardando a melhor ocasião para se jogar sobre eles.
Não se mexa. Ela está ali!
Envolvidos na penumbra, os dois jovens foram se aproximando com cautela da fonte daquele som.
Que estranho - murmurou Masipa. - Não vejo nada.
Talvez...
Ankti não acabou a frase. Quando estavam a apenas dez passos da árvore, uma torrente de luz caiu sobre eles, paralisando-os imediatamente. O zumbido apagou-se instantaneamente e aquela cascata ígnea ganhou vida, traçando pequenos círculos em volta da sabina. Era como se estivesse procurando alguma coisa. Ou alguém.
Os jovens admiraram a cena prendendo a respiração. Foi tudo uma questão de segundos. Aquela luz viva não mais se derramou do céu. Encolheu-se sobre si mesma, mas, enquanto perdia força e volume, suas últimas chamas iam tomando a forma de um ser humano. Primeiro definiu-se o contorno da cabeça, e depois, de suas últimas fagulhas, surgiram braços, cintura, uma longa túnica, pernas e pés. Os fugitivos caíram de joelhos, maravilhados, como se aquele prodígio merecesse um ato supremo de veneração.
Foi quando ouviram a voz:
Bem-vin-dos sejais.
Era a Dama.
Seu timbre soou como haviam descrito os guerreiros: uma estranha mistura de trovão, canto de pássaro e sopro de vento.
Nem Masipa, nem Ankti foram capazes de responder.
Vim a vós por-que sei que os guerrei-ros já trou-xeram os ho-mens que chamei...
O rapaz jumano ergueu o olhar para a mulher de luz e tentou dizer algo. Mas não conseguiu.
O Plano está prestes a se consu-mar - prosseguiu. - Os senhores do céu, os que me infor-mam de vo-ssas ativida-des e me trazem a-qui toda vez, disseram que vo-ssos co-rações já estão prepa-rados para a-brigar a semen-te da Verdade.
Semente da Verdade? Homens do céu? Que tipo de língua era aquela? Ankti e Masipa deram-se as mãos. A estranha dicção da dama foi se adequando ao modo de falar dos jumanos pouco a pouco, como a água que retoma seu curso após séculos de desvio.
Sou a van-guarda de um tem-po novo - acrescentou com voz mais fluida. - Enviam-me para que vos anuncie a che-gada de um mundo diferente. Os senho-res que me trouxeram estão há um longo tempo observan-do vossos passos. São capazes de viver entre vós, porque seu aspecto é huma-no, embora sua essência seja imortal. São an-jos. Homens de carne e osso que comeram com Abraão, brigaram com Jacó ou conversaram com Moisés.
Ankti e Masipa não sabiam de que a Dama falava. Mas logo recordaram as histórias de seus avós sobre a criação do mundo. Herdadas, por sua vez, dos anasazis (os antigos) e dos hopis (os adversários), os jovens sabiam que a humanidade havia sido gestada no tempo do "primeiro mundo", um período que acabou com uma grande catástrofe de fogo, dando lugar a dois outros mundos. Seus avós contavam que no "terceiro mundo", em Kasskara, os deuses se enfrentaram entre si em uma guerra pelo controle dos humanos. Ós kachinas, seres de aspecto humano vindos de um território além-estrelas, lutaram uns contra os outros. Depois daquilo, só apareciam muito de vez em quando, sempre com a aparência de homens e mulheres de carne e osso. E juraram retornar só no final do "quarto mundo" ou início do "quinto", para alertar os homens sobre a crise que se avizinhava.
Seria a Dama um deles? Vinha para anunciar o fim do mundo?
Ou-vi-me - a Mulher do Deserto prosseguiu: - quero entregar-vos algo para os homens bran-cos com quem vos en-con-trareis. Será a pro-va de minha visita. Dizei-lhes que a Mãe do Céu está com eles e que lhes or-dena distri-buir entre vós a água da vida eterna.
E por que nós...? - Ankti sufocou sua pergunta, encantada com a beleza que a mulher irradiava.
Lem-brai: a água da vida e-terna.
Por que nós? - repetiu.
Porque ten-des o coração puro, Ankti.
A visitante ergueu, então, as mãos, juntou-as à altura do peito e desapareceu em meio a uma súbita e assustadora labareda. O zumbido parou. A escuridão tornou a se apossar da pradaria. As fagulhas que haviam dado corpo àquela intrusa tinham desaparecido sem deixar marca.
Ankti e Masipa abraçaram-se assustados. Um estranho objeto brilhava a seus pés. A Dama o havia deixado ali para eles...
Eram 21 horas, horário romano, meio-dia em Los Angeles, quando Albert Ferrell mostrou ao padre Baldi o histórico do "sonhador" que Luigi Corso havia enviado para o Novo México de 1629. Ou, deveria dizer, a "sonhadora". A ficha falava de Jennifer Narody, uma norte-americana de 34 anos, militar, residente em Washington D.C., cujos voos da mente alimentados por sons de "enfoque vinte e sete" haviam acabado em severas alterações de personalidade. - Ela é aquela a quem a família chamava de Grande Sonhadora. Engraçado, não é?, - murmurou il dottore.
Aquele relatório continha uma última e lacônica anotação, escrita à mão, em tinta vermelha, que o sacerdote veneziano achou muito estranha: "Abandonou o projeto na sexta-feira, 29 de março de 1991. Sofre severas crises de ansiedade com distúrbios do sono. Volta aos Estados Unidos em 2 de abril por recomendação expressa do Ospedale Generale di Zona Cristo Re de Roma".
MADRI
- Avisou o padre Tejada de nossa visita?
José Luis Martin dirigia com os olhos na estrada. Eram oito horas em ponto, e a essa hora havia pouco trânsito para sair de Madri. Os problemas sempre estavam no lado oposto, na entrada à capital. Carlos, ainda sonolento, curtia a paisagem primaveril que começava a se abrir diante deles. O porto de Somosierra já havia recebido as últimas neves do ano.
O padre Tejada? - balbuciou. O jornalista precisava de um bom café. - Não. Não consegui falar com ele, mas deixei um recado avisando que chegaríamos a Bilbao esta tarde.
Disse que era uma visita policial?
Não, por Deus! O policial é você.
Melhor, Carlitos. Muito melhor.
Carlos esticou as pernas no Renault 19 de José Luis e acomodou-se o melhor que pôde.
- José Luis... - disse Carlos ainda meio sonolento - pensei muito nessa ligação da Biblioteca Nacional.
Sim, eu também.
Então, deve ter as mesmas dúvidas que eu.
Por exemplo...
Bem, há algo que não entendo: se aqueles que fizeram o trabalho eram profissionais, e parece que não há dúvida disso, por que fizeram essa ligação da câmara blindada da biblioteca? Para se delatar?
Martin passou distraidamente a mão sobre a alavanca de câmbio do veículo.
Não sei - disse. - Há a possibilidade de que seja um número alterado por computador.
Sei. E por que o número é de uma pessoa justamente implicada no caso Ágreda?
Coincidência.
Mas você não acredita nelas! - protestou Carlos.
É verdade.
O policial, lacônico, levou um cigarro aos lábios enquanto acionava o isqueiro.
E sabem quanto tempo durou a conversa?
Não chegou a quarenta segundos.
Não é muito, na verdade.
Tempo suficiente para informar do sucesso de uma operação.
Foi o que pensei - admitiu Carlos.
A propósito, quando falarmos com o padre Tejada, preferiria que não lhe disséssemos que estamos investigando um roubo.
Carlos olhou para ele surpreso, mas não replicou.
Agiremos como se não soubéssemos de nada. Acredito que, se estiver envolvido, vai acabar soltando a língua sozinho.
Nesta viagem sou seu convidado. Você é quem manda.
O policial tomou a sorrir, concentrando-se de novo na estrada.
No dia seguinte, os dois adolescentes hesitaram em cumprir o estranho encargo. Sabiam que se entregassem o presente da Dama na frente do comitê de anciãos, teriam de prestar infinitas explicações. Por isso, preferiram esperar o melhor momento - o mais discreto - para cumprir sua missão. Quando, naquela manhã, perto do meio-dia, frei Juan de Salas se afastou da casa dos guerreiros para fazer suas necessidades no campo, as duas crianças correram a seu encontro.
Abordaram frei Juan em frente à cruz de carvalho que as mulheres owaqtl haviam fincado no dia da chegada a Gran Quivira.
Padre... - disse Ankti, afastando o cabelo solto do rosto. Era uma menina linda, esperta. De olhar doce e ingênuo. - Podeis nos atender um instante?
Frei Juan voltou-se e os viu. Dois jovens jumanos ofereciam-lhe algo embrulhado em folhas secas de milho. Pareciam indecisos, assustados.
Que quereis, meus filhos? - sorriu.
Vede, padre... Ontem à noite, perto do Cãnion da Serpente, vimos uma coisa.
Uma coisa?
A Mulher do Deserto.
Ah, é?
Os olhos de frei Juan se arregalaram. De repente, esqueceu de suas urgências.
A Mulher do Deserto? A Dama Azul?
As crianças assentiram em conjunto.
E só vós a vistes?
Sim - responderam os jovens.
Ela vos disse alguma coisa?
Bem... - hesitou Masipa. - Por isso queríamos ver-vos, padre. Disse que vós e o outro homem que vos acompanha deveríeis repartir entre nós a água da vida eterna.
O padre Salas sentiu suas pernas fraquejarem.
A água da vida eterna? - interrogou-os com o olhar. - Mas vós sabeis o que isso significa?
Ankti e Masipa deram um passo para trás, confusos.
Não.
Claro. Como poderíeis saber?
Padre - atalhou o jovem kéketl -, a Dama também nos entregou isto para vós. Para que o leveis como lembrança das visitas da mulher azul.
Um presente?
Frei Juan estremeceu ao baixar os olhos para aquele pacote de folha de milho que Masipa lhe mostrava. Pegou-o com certo temor, e, ali mesmo, sem permitir que os jovens saíssem correndo como parecia ser a intenção deles, abriu-o. O conteúdo o deixou boquiaberto.
Mas, Santo Deus! - exclamou em castelhano.
Masipa e Ankti estremeceram.
De onde tirastes isto?
Como dissemos, padre, a Mulher do Deserto nos entregou ontem à noite. Para vós.
Frei Juan caiu de joelhos em um estranho estado histérico, rindo e chorando ao mesmo tempo. O franciscano revirou as folhas e tirou o objeto que protegiam. Não havia dúvida alguma: tratava-se de um rosário de contas pretas, brilhantes e perfeitas, arrematado por uma fina cruz de prata. Um objeto de cristãos-velhos, bonito como poucos.
Virgem Santíssima! - ecoou.
Quem senão a Virgem podia estar por trás daquelas visitas?
Frei Juan lembrou de repente aquela história que ouvira durante sua formação sacerdotal em Toledo, e que então lhe havia parecido extravagante. Dizia que São Domingos de Guzmão, fundador dos dominicanos, havia instituído a prece do rosário no século xm, depois de a Virgem pessoalmente lhe entregar um. E aquilo não era, porventura, um prodígio semelhante?
BILBAO, ESPANHA
Perdida em uma das alas da cidade e um pouco afastada da enseada, a praça de San Felicísimo revelou-se um simples coreto de concreto que abrigava a sede dos padres passionistas. Ambos os edifícios pertencem, hoje, a uma curiosa ordem fundada em 1720 por um missionário italiano chamado Paulo da Cruz, um santo, e que responde à altissonante denominação de Congregação dos Clérigos Descalços da Santíssima Cruz e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sua maior peculiaridade não é o nome, mas a norma que obriga seus membros a aceitarem um quarto voto antes de ingressarem. Aos de pobreza, obediência e castidade soma-se um quarto: o compromisso de propagar o culto à paixão e morte do Nazareno.
Ao estacionar em frente à escadaria de acesso ao mosteiro, José Luis e Carlos ignoravam essa informação. Porém, dispunham de uma pequena ficha com algumas informações importantes acerca de seu "objetivo". Sabiam que Amadeo Tejada havia ingressado na Ordem em 1950, tinha cursado Psicologia e História da Religião e ocupava desde 1983 um cargo de professor de Teologia na Universidade de Deusto. Era considerado, ainda, um verdadeiro especialista em angelografia.
Padre Tejada? Um momento, por favor.
Um passionista calvo, usando uma sóbria batina preta com um coração bordado no peito, pediu-lhes que aguardassem em uma minúscula salinha de espera.
Três minutos depois, a porta de vidro biselado abriu-se para dar passagem a um verdadeiro gigante. Tejada devia beirar os sessenta anos. De estatura ciclópica (superava 1,90 metro, e a batina ainda acentuava sua altura), seu cabelo grisalho e sua longa barba, assim como seu tom de voz, conferiam-lhe o aspecto beatífico que tanto havia impressionado as freiras de Ágreda.
Quer dizer que vêm me perguntar pela madre Ágreda... - disse o padre Tejada sorrindo assim que apertou as mãos de seus visitantes.
Bem, depois de falar com as irmãs, não nos restava outra opção. As freiras afirmam que o senhor é um sábio.
Ora, vamos, vamos! Só cumpro minha obrigação. Desde que me dedico a estudar a vida da irmã Maria de Jesus, elas me têm em excessiva estima - sorriu satisfeito. - Mas o afeto é mútuo. Na realidade, aquele mosteiro vivenciou o caso de bilocação mais extraordinário que já conheci. Por isso lhe dediquei tantas horas e passei longas temporadas lá.
É mesmo?
O sorriso de Tejada tornou a iluminar a sala de espera.
Desculpe minha precipitação, padre, mas não queremos lhe tomar muito tempo. Chegou a alguma conclusão sobre a autenticidade das bilocações?
Antes de responder, o gigante Tejada acariciou o lóbulo de sua orelha esquerda.
Não sei se sabe - disse sem perder José Luis de vista - que, na realidade, existem vários tipos de bilocações. A mais simples mal pode ser diferenciada da clarividência. Nela, o sujeito bilocado vê cenas que estão acontecendo longe de onde se encontra, mas em nenhum momento são seus olhos que vêem. É a psique. Trata-se de um tipo de bilocação muito elementar e pouco interessante...
O policial ficou estupefato.
Continue - insistiu.
Mas a mais complexa, a que a mim interessa, é aquela na qual o sujeito se desdobra fisicamente e é capaz de interagir nos dois lugares em que se encontra. Deixa-se ver por testemunhas que podem dar fé do prodígio, toca objetos, deixa pegadas... Esse tipo de bilocação é, por direito próprio, a única que pode ser chamada de milagrosa.
O padre Tejada parou a fim de que seus interlocutores pudessem anotar o que dizia. Quando acabaram, prosseguiu.
Eu acho que entre uma e outra existe uma ampla gama de estados em que o sujeito se materializa em maior ou menor medida em um lugar de destino. Evidentemente, os casos mais interessantes são os de "materialização total"; os demais poderiam ser meras experiências mentais.
E a madre Ágreda está dentro dessa segunda categoria? - perguntou Carlos com todo o tato de que era capaz.
Nem sempre.
Como?
Talvez não sempre - repetiu o passionista com paciência. - Vocês devem saber que, quando essa religiosa foi interrogada pela Inquisição, em 1650, confessou que havia viajado em mais de quinhentas ocasiões ao Novo Mundo, mas não da mesma forma. Às vezes tinha a impressão de que era um anjo que assumia seu aspecto de freira de clausura e aparecia para os índios; em outras ocasiões, outro anjo a acompanhava enquanto cruzava os céus à velocidade do pensamento; mas, na maioria das vezes, tudo acontecia enquanto ela caía em transe e era assistida por suas colegas de mosteiro...
Um anjo?
Bem, não é de estranhar tanto. A Bíblia os menciona com freqüência e diz que se assemelham muito a nós. Inclusive, outras místicas mais recentes, como Anna Caterina Emmerich, no século XVIII, disseram que suas bilocações eram provocadas por anjos, com quem "cruzamos os mares tão rápido quanto os pensamentos". Não é lindo?
O padre Tejada sorriu para eles antes de prosseguir.
Não estranhem tanto - disse em tom jocoso. - Por que razão os anjos não poderiam se fazer passar por uma mulher na América? Se aceitarmos o que se conta deles nas Escrituras, poderiam estar sentados aqui conosco sem que percebêssemos.
Tejada deu uma piscada de cumplicidade para eles, mas Carlos fingiu não ver.
O senhor os consideraria uma espécie de... infiltrados?
Digamos que são uma "quinta coluna" que controla de perto certos aspectos da evolução humana. Conhece o termo?
"Quinta coluna"? Claro - respondeu o jornalista. - Foi inventado durante a Guerra Civil espanhola para se referir a um grupo secreto, de resistência, escondido dentro de uma cidade ou um país.
Pois é a isso que estou me referindo, meu jovem.
Bem... O senhor é um especialista em angelografia e deve saber o que diz.
O comentário de Martin não agradou ao padre Tejada.
Não leve na brincadeira - censurou. - Se querem chegar ao fundo do mistério da Dama Azul e de seu vínculo com a madre Ágreda, vão ter de levar muito em conta os anjos.
O policial ignorou sua advertência. Carlos prosseguiu:
Vamos direto ao ponto, padre: o senhor acredita que a freira alguma vez se deslocou fisicamente até a América?
É difícil dizer. Mas, na verdade, nada nos impede de acreditar nisso. Muitos outros personagens viveram essa mesma experiência e nos deixaram indícios suficientes de suas "viagens" instantâneas. De alma e de corpo.
José Luis remexeu-se em sua cadeira. A conversa não estava dando pista alguma do paradeiro do manuscrito. E ele, ainda por cima, já sabia daquilo tudo. Por isso, embora com mais diplomacia que de costume, tentou levar a conversa para seu terreno.
Desculpe nossa ignorância, padre, mas existe ou existiu algum documento, algum relato da época, que detalhasse essas viagens?
O padre Tejada olhou para o policial com afável condescendência.
Ora! O senhor é um homem prático. Gosto disso.
José Luis agradeceu o elogio.
A resposta é sim. Um frade franciscano chamado Alonso de Benavides redigiu um primeiro relatório em 1630, no qual registrou indícios que hoje podem ser interpretados como bilocações da madre Ágreda...
Indícios? Isso é tudo o que há? - insistiu José Luis.
Não é só isso. Quatro anos depois, o mesmo frade redigiu uma segunda versão ampliada de seu relatório. Infelizmente, nunca cheguei a examiná-la. Nunca foi publicada, mas corre o boato de que deixou o próprio Felipe IV fascinado, a ponto de ter se tornado uma das leituras favoritas do rei.
E sabe por quê?
Bem... - hesitou. - O que vou dizer não é "oficial", mas parece que Benavides anotou nas margens de seu escrito as fórmulas que a madre Ágreda utilizou para se bilocar. E isso o deixou enfeitiçado.
Veja só! - saltou Carlos. - Como um livro de instruções!
Algo assim, de fato.
E sabe se alguém o utilizou depois do rei?
Que eu saiba, o novo relatório nunca saiu da Casa Real, mas no Vaticano dispõem de uma cópia caligráfica. Não obstante, frei Martin de Porres, que era um mulato dominicano do Peru, viveu numerosas experiências de bilocação em datas parecidas às da freira de Ágreda.
Está insinuando que esse frade leu...?
Oh, não, não. Pelo que sabemos, frei Martin nunca ouviu falar do relatório de Benavides. Além do mais, morreu com fama e boa reputação em 1639, antes das notícias da Dama Azul chegarem ao Peru. Em Lima, era chamado de "frei Escoba", sabiam? Viram seu "duble" pregando no Japão antes do Memorial de 1634 ter sido redigido.
De repente, o padre Tejada baixou a voz.
Inclusive, às vezes depositava flores no altar da igreja de São Domingos; flores que não eram peruanas, mas japonesas...
E o senhor acredita nessas coisas? - perguntou José Luis com certa ironia.
Não é só questão de fé, embora ela influa! Já ouviu falar do padre Pio?
Somente Carlos assentiu.
O jornalista sabia que o padre Pio - cujo nome verdadeiro era Francesco Forgione - era um famosíssimo capuchinho italiano que havia vivido até meados do século em Pietrelcina. Lá, protagonizara toda sorte de prodígios místicos: desde padecer em suas carnes os estigmas da paixão até gozar do dom da profecia. E isso sem falar no fervor popular que ainda hoje desperta em toda a Itália.
Pois - prosseguiu Tejada - também se atribuem algumas bilocações célebres ao padre Pio. A mais conhecida aconteceu com o cardeal Barbieri, que naquela época era arcebispo de Montevidéu. No Uruguai, vira Pio uma vez, mas só o identificou quando visitou a Itália. Ele, Pio, também o reconhecera, a despeito de nunca ter voado em corpo mortal para o outro lado do mundo.
Acha que o padre Pio controlava suas bilocações? - Carlos estava fascinado.
E não somente ele. A madre Ágreda também fez isso, mas só conheço dois ou três episódios mais em toda a História. Minha impressão é que esse controle tinha muito a ver com o alcance de suas bilocações...
Que quer dizer com "alcance"?
Exatamente isso. Tanto o padre Pio quanto a madre Ágreda protagonizaram bilocações de curto e longo alcance. Isto é, deslocaram-se a extramuros de seus respectivos mosteiros ou a domicílios próximos. Mas também percorreram longa distância, aparecendo inclusive em outros continentes.
José Luis estava inquieto. Não parecia disposto a perder muito mais tempo falando de fenômenos místicos. Se havia decidido ir a Bilbao, era para resolver um roubo, não para receber uma aula de prodígios da fé.
Desculpe minha ignorância, padre - endireitou-se em sua cadeira -, mas o que o senhor sabe sobre esse segundo Memorial de Benavides que esteve nas mãos de Felipe iv?
Tejada estacou de repente. Ele não havia mencionado o título do documento.
E a que se deve o interesse de vocês por esse documento, senhores? - perguntou.
José Luis endireitou ainda mais as costas na cadeira, tentando chegar à altura do gigante. Depois, tirou do bolso de sua jaqueta um distintivo da Polícia Nacional que não pareceu impressionar o passionista, e disse:
Lamento dar uma virada nesta conversa, padre, mas precisa me responder mais duas perguntas. Estamos investigando um roubo importante.
Como queira - o gigante sustentou seu olhar com severidade.
Carlos sentiu seu desdém. "Não vamos conseguir nada", pensou.
O senhor recebeu, ontem, uma ligação por volta das cinco da madrugada?
Sim.
E então?
Não posso dizer muito. Foi bastante estranho. Alguém ligou no pabx, e de lá passaram a ligação para meu quarto. Evidentemente me acordou e, quando atendi, não havia ninguém. A linha estava muda.
Ninguém?
Não, ninguém. Desliguei, naturalmente.
A resposta pareceu satisfazer o policial. Pelo menos, havia comprovado que alguém fizera uma ligação da Biblioteca Nacional para aquele assinante.
Tem mais perguntas?
Sim... - hesitou. - O senhor conhece uma tal de Ordem da Santa Imagem?
Não. Deveria?
Não, não.
Eu também tenho uma pergunta para vocês - Tejada falou muito sério. - Posso saber por que a Polícia se interessa pelas ligações que recebo?
Carlos não pôde mais se conter. Como seu amigo hesitava, respondeu por ele.
- Já lhe dissemos que estamos investigando um roubo, padre. Ontem à noite, roubaram um manuscrito da Biblioteca Nacional em Madri. Era o exemplar de Felipe IV do Memorial de Benavides revisado... O segundo, o ampliado.
O padre Tejada sufocou uma exclamação.
Ontem, às quatro e cinqüenta e nove da madrugada, alguém usou um telefone da biblioteca para ligar para o senhor. Só podem ter sido os ladrões.
- Jesus! Eu nem sequer sabia que...
O senhor nos disse, padre - Carlos tentou acalmá-lo. - Mas é importante que, caso se lembre de algo, seja o que for, ou caso voltem a ligar, o senhor se comunique conosco.
Conhece alguém na Biblioteca Nacional? - A pergunta de José Luis soou como uma acusação.
Enrique Valiente, o diretor, é um bom amigo. Foi aluno meu neste mesmo colégio.
Está bem, padre. Se precisarmos, ligaremos para o senhor.
O padre Tejada sequer sorriu. A notícia do roubo o havia
afetado.
Eu os acompanharei até a saída.
Já na porta, enquanto José Luis se dirigia para o carro, o passionista ainda teve tempo de segurar Carlos pelo braço. Enquanto o policial aproveitava a ocasião para ligar para a delegacia, o padre Tejada sussurrou algo a Carlos que o deixou desconcertado:
Você não é da Polícia, é?
Não... - balbuciou Carlos.
E por que se interessa pela madre Ágreda?
A força com que a mão do gigante se cravava em seu bíceps obrigou-o a se abrir.
É uma longa história, padre. Na realidade, tenho a sensação de que, de alguma maneira, alguém me meteu nisso.
Alguém? - o gigante ergueu os ombros, sem entender. - Quem?
Não sei. É o que estou tentando descobrir.
Tejada ajeitou a batina e adotou uma atitude de confessor.
Sabe, rapaz? Muitos chegaram a madre Ágreda graças a um sonho, a uma visão, ou ao final de um acúmulo de coincidências que, de repente, aplainaram o caminho até a Venerável.
O jornalista sentiu um nó no estômago.
Conheço pessoas que sonharam com a madre Ágreda sem saber quem ela era - prosseguiu. - Ela aparece banhada em luz azul e sempre nos leva aonde quer.
Carlos engoliu em seco. Seus músculos continuavam tensos.
A Dama Azul é um poderoso arquétipo - prosseguiu Tejada -, um símbolo de transformação. Aos índios, anunciou a chegada de uma nova era política e histórica; aos frades, mostrou fenômenos que os deixaram impressionados. E agora, de repente, parece que quer emergir outra vez das brumas da História.
O padre disfarçou um acesso de tosse antes de prosseguir: - Lembre que ela sempre se serve dos anjos para suas tarefas. Eles organizam tudo. Tudo. Mas suas ações são camufladas sob a roupagem das coincidências. Senão, por que acha que estariam aqui?
"Sim. Por quê?", perguntou-se Carlos. E, dando-lhe a mão, aliviado por poder fugir dali, foi correndo para o Renault 19 de José Luis, que se preparava para entrar em movimento praça abaixo.
Então? - O tom do policial era inquisitivo. Estranho. - Ele disse mais alguma coisa?
Carlos negou com a cabeça, tentando esconder sua inquietude.
Pois eu tenho notícias. E importantes - sorriu.
Importantes? O que aconteceu?
Esta manhã, enquanto você e eu estávamos a caminho de Bilbao, o diretor da Biblioteca Nacional, justamente o amigo do padre Tejada, recebeu uma ligação dos Estados Unidos perguntando pelo Memorial de Benavides.
Não pode ser.
Ele achou tão estranho que alguém se interessasse pelo conteúdo desse livro que atendeu à ligação pessoalmente. Depois, entrou em contato com a delegacia. Acabaram de me confirmar. O nome dele é Enrique Valiente - disse, conferindo em suas anotações antes de retomar a marcha.
Carlos sufocou uma expressão de espanto. Esse era o nome que o padre Tejada acabara de lhes dar.
As sincronicidades nos perseguem, meu amigo. Estamos perto. Muito perto. Você me acompanha amanhã ao escritório dele?
O jornalista assentiu. Sua inquietude já havia se tornado um poço de preocupação.
LOS ANGELES
Às 17h25, hora da costa oeste, um furgão amarelo de serviço postal urgente parou em frente à casinha branca de Jennifer Narody. Havia dado três voltas no quarteirão até perceber que a rua que procurava era uma vielinha paralela ao célebre Ocean Front Walk, em Venice, o passeio marítimo mais famoso do Pacífico.
O carteiro, contrariado pelo atraso em sua rota, entregou-lhe uma grossa carta procedente de Roma. "Roma!", pensou Jennifer. "Justamente hoje." A mulher apressou-se a abri-la.
Era estranho. Em nenhum lugar constava o remetente. Só eram legíveis o selo da cidade emissora, seu próprio endereço e o carimbo de urgente de uma agência central da Cidade Eterna, como se aquela encomenda houvesse sido entregue em mãos no balcão da Via Venetto e colocada em um serviço prioritário sem maiores precauções. Não obstante, seu conteúdo revelou-se mais estranho ainda: do fundo do envelope emergiu um punhado de folhas apergaminhadas, costuradas de um dos lados, sem uma única nota que as acompanhasse.
Jennifer não foi capaz de adivinhar o remetente. Ainda por cima, aquele texto estava escrito em espanhol, com uma caligrafia péssima em que era impossível decifrar uma maldita palavra. "Talvez amanhã a doutora Meyers possa me dar uma mão com isto", pensou enquanto se lembrava de sua ligação para a Espanha.
Pouco depois, havia esquecido aquela correspondência. Guardou-a em uma gaveta, jogou o envelope no lixo e passou o resto da tarde assistindo à televisão. Lá fora, na praia, o céu voltava a descarregar água sobre a costa. Os trovões podiam ser ouvidos de dentro da sala.
- Maldito temporal - resmungou.
Jennifer adormeceu às 19h54, em meio ao temporal. E seus sonhos, evidentemente, continuaram.
ISLETA, NOVO MÉXICO
FIM DO VERÃO DE 1629
— Vede! Vede bem, padre!
Frei Diego López chacoalhou o velho padre Salas. Suas horas de marcha pelo deserto o haviam desgastado. Desde que tinham saído de Gran Quivira e decidido prestar contas a seu superior dos milagres que haviam presenciado naquelas terras, as forças o haviam abandonado pouco a pouco. Só o rosário que Masipa e Ankti lhe haviam dado antes de partir infundira-lhe o ânimo necessário para não desfalecer.
Estais vendo? - insistiu o jovem franciscano.
Mas isso é...
Sim, padre. É Isleta! Chegamos!
A vida voltou ao rosto do velho.
Graças a Deus! - exclamou.
Quase perdidas no horizonte, além das grandes sabinas que marcavam a linha do rio Grande, erguiam-se, orgulhosas, as torres da missão de Santo Antonio de Pádua.
Frei Juan teve tempo apenas de sorrir. Ao aguçar o olhar, notou algo estranho em volta da missão.
Estais vendo também, irmão Diego? - sua voz soou trêmula.
Vendo? Vendo o que, padre?
As sombras em volta da igreja. Parece a caravana de outono, que vai para a Cidade do México.
O irmão Diego forçou a vista, tentando identificar os vultos que descansavam ao pé das torres. Salas prosseguiu:
Essa caravana vem só uma vez por ano para cá. Faz o caminho entre Santa Fé e Cidade do México com uma escolta armada, e é o grande acontecimento da temporada. Mas... é muito cedo para ela.
Cedo? - frei Diego continuava se esforçando para distinguir o comboio. - Talvez tenha se adiantado. Recordai que frei Esteban nos avisou que o padre custódio, frei Alonso de Benavides, deixaria seu cargo em Santa Fé em setembro. Pode ser sua caravana de regresso ao México.
Salas acabou aceitando as observações de seu jovem discípulo. Não havia outra resposta mais convincente: a missão havia sido tomada pelo comboio militarizado do novo vice-rei, o marquês de Cerralbo, e nele devia viajar frei Alonso de Benavides. Quem mais?
Suas reflexões cessaram assim que se aproximaram o suficiente de Isleta. Abordada pelo lado ocidental, a missão parecia um povoado andaluz em feira. Cerca de oitenta carroças pesadas, de dois e quatro eixos, reuniam-se junto à paliçada. Protegidos por patrulhas de soldados, os "extramuros" da missão transbordavam de índios, mestiços e fidalgos castelhanos.
Quem dera Isleta fosse sempre assim!
Em meio ao tumulto, foi fácil para os frades adentrarem o povoado sem chamar a atenção. Os recém-chegados abriram caminho até a praça da igreja. E ali, em frente aos campanários de tijolos, a satisfação do dever cumprido começou a embriagá-los.
Deveríamos procurar frei Esteban de Perea, não?
Claro, irmão Diego. Claro - assentiu o velho.
- Já tendes vosso veredicto sobre a Dama Azul, padre? Sabeis que Esteban é um homem exigente, e me pedirá que confirme vossas palavras uma por uma.
Não vos preocupeis com isso, Diego. Serei tão contundente que não lhe restará vontade de vos inquirir.
Frei Diego riu.
Ambos apertaram o passo rumo ao grande toldo branco erguido junto à parede ocidental do templo. Um soldado com calças de tecido pardo, colete de badana, armadura e lança fazia guarda na porta.
Que desejais?
O soldado deixou cair a arma sobre seu braço esquerdo, cortando-lhes o passo.
É esta a tenda de frei Esteban de Perea? - indagou Salas.
É a do padre custódio frei Alonso de Benavides - disse secamente o guarda -, mas o padre Perea encontra-se aqui.
Os frades trocaram um sorriso de cumplicidade.
Somos os irmãos Juan de Salas e Diego López - apresentou-se. - Partimos há mais de um mês para terras jumanas e trazemos notícias para ele.
O soldado não se alterou. Sem mudar sua expressão marcial, deu meia-volta e entrou na tenda. Alguns segundos bastaram. O silêncio que reinava no acampamento foi quebrado pela inconfundível voz do inquisidor.
Irmãos! - tronou de algum lugar lá de dentro. - Entrai! Entrai, por favor!
Os expedicionários se deixaram guiar pelas exclamações de Esteban de Perea. No fundo da tenda, em volta de uma mesa comprida, estavam reunidos o próprio Perea, dois franciscanos de sua comitiva e um quarto religioso que, a princípio, nenhum dos dois missionários conseguiu identificar. Era um homem de aspecto severo, sobrancelhas brancas muito fartas, rugas na testa, nariz grosso e achatado, e uma tonsura cuidada com primor. Havia entrado já no meio século, mas, longe de diminuí-lo, os anos lhe conferiam um porte majestático, solene. Era - não podia ser outro - o português frei Alonso de Benavides, responsável pelo Santo Ofício no Novo México e máxima autoridade da Igreja naquele deserto.
Benavides olhou fixamente para eles, mas deixou Esteban de Perea abordá-los.
Correu tudo bem?
Frei Esteban parecia emocionado.
A Divina Providência cuidou de nós com seu costumeiro zelo - respondeu frei Juan.
E da Dama? Que sabeis dela?
Benavides ergueu os olhos para eles ao ouvi-lo citar a mulher azul.
Esteve muito perto de nós, padre. Houve, inclusive, quem a tenha visto perto do povoado no dia anterior a nossa partida de Cueloce.
Deveras?
Frei Juan adotou um semblante sério.
Não são só palavras, padre - disse. - Trouxemos uma prova material do que estamos dizendo. Um presente do céu.
Frei Esteban e Alonso de Benavides trocaram um olhar de estranheza, enquanto o velho padre Salas procurava algo em suas coisas. Benavides, homem douto, sentiu um calafrio: o entusiasmo que emanava daquele frade lembrou-lhe o ocorrido cem anos antes, na vésperas do Natal de 1531, no monte do Tepeyac, perto do México. Outro homem humilde, embora laico, também procurou entre seus pertences o presente que a Virgem lhe havia entregado para convencer alguns clérigos descrentes. Esse homem chamava-se Juan Diego. Sua Virgem era chamada Virgem de Guadalupe. Mas o papa Urbano viu havia dado ordens restritas para que o culto a ela fosse suspenso. Por que, então, aceitaria a afirmação de que aquele presente que frei Juan de Salas procurava vinha da mesma Virgem?
O velho franciscano ergueu, finalmente, seu presente:
Este rosário - disse muito solene, estendendo um colar em perfeito estado - foi um obséquio da Dama Azul a dois índios de Cueloce.
Nos olhos do inquisidor cintilou um brilho de cobiça. Pegou em suas mãos aquelas contas pretas e beijou a cruz. Depois, estendeu-a a Alonso de Benavides para que o examinasse. Este limitou-se a dar uma olhada, guardando o rosário sob o hábito.
Dizei-me - falou por fim o padre Benavides, com um forte sotaque português -, como chegou a vossas mãos este... presente?
A Dama Azul o confiou a um casal de jumanos. É evidente que Nossa Senhora quis nos dar uma prova de suas aparições.
Deixai a teologia para mim - atalhou o custódio. - Dizei-me: e por que essa Dama não se apresentou diretamente a vós, padre?
Eminência - interveio o jovem Diego López -, vós sabeis que Deus guarda essas razões só para si. Não obstante, se me permitis o comentário, a Virgem só aparece para os puros de coração e para quem mais precisa dela. Não foi a crianças e pastores que sempre se manifestou?
Vós também acreditais nisso? - perguntou secamente o padre custódio ao velho padre Salas.
Sim, Eminência.
Acreditais, então, que a Dama é uma aparição de Santa Maria?
A Dama, padre, é uma manifestação inédita de Nossa Senhora. Temos certeza disso.
O português corou. Acariciou o bolso no qual havia guardado o rosário, sentindo-o, e deu um sonoro soco na mesa. Todos os olhares cravaram-se nele.
Mas isso não é possível! - explodiu.
Frei Alonso, por favor... - Esteban de Perea tentou apaziguá-lo, aproximando-se dele com um pote de água fresca. - Já discutimos esse assunto antes.
Não é possível! - repetiu. - Temos outro relatório que contradiz vossa conclusão. Que invalida vossa hipótese! Que esclarece este engano!
Benavides não se deixou aplacar.
Não lestes a declaração de frei Francisco de Porras? Tudo está lá!
Frei Francisco de Porras?
Esteban de Perea tomou a palavra:
Eles não podem conhecer isso, padre Benavides. Esse documento chegou depois de partirem para Gran Quivira.
Documento? - o rosto do padre Salas estava lívido. - De que documento falais?
O inquisidor aproximou-se dele com uma expressão compassiva no rosto. Sentia um profundo respeito por aquele velho que havia consagrado sua vida a pregar em uma região tão erma, tão dura. E quase lamentava ter de contradizê-lo.
Vede, padre - disse conciliador -, depois que vós partistes com os jumanos, o padre Benavides enviou outra expedição de frades ao norte desses territórios.
Porras? - insistiu.
O padre Salas havia ouvido falar dele.
Frei Francisco de Porras, de fato, encabeçou o grupo. Tratava-se de uma pequena expedição de quatro frades escoltada por doze homens armados. Chegaram no dia de São Bernardino a Awatovi, o maior povoado moqui, e lá fundaram uma missão com esse nome. Foi lá - prosseguiu - que registraram a notícia que queremos vos dar, padre Salas.
Uma notícia? Dos moquis?
Sem dúvida deveis ter ouvido falar deles sob outra denominação. Esses índios são conhecidos também por hopis ou hópitus, que significa "os pacíficos". Vivem a umas sessenta léguas daqui.
Frei Alonso ainda olhava para eles com o semblante corado. Para ele, era inaceitável que a Virgem Santíssima houvesse "perdido tempo" instruindo aqueles infiéis. Devia existir, sem dúvida, uma solução "mais racional" para aquele quebra-cabeça. E Benavides, com aquele espanhol de sotaque estranho, estava disposto a encontrá-la:
A expedição às terras moquis voltou ontem mesmo - anunciou - e nos informou de seu primeiro contato com os habitantes de Awatovi.
E então?
A expedição do padre Porras atingiu seu objetivo no dia vinte de agosto passado. Lá, encontrou uma população hospitaleira, mas reticente a nossa fé. Seus líderes logo quiseram testar os recém-chegados, para desacreditá-los.
Testá-los? Aos frades? Como?
Ali os feiticeiros são muito poderosos, padre. Mantêm a população acovardada com suas histórias de kachinas e espíritos dos antepassados. Nossos padres tentaram combatê-los falando do Criador Todo-poderoso; então, os bruxos levaram a eles uma criança cega de nascença e lhes pediram que a curassem em nome de nosso Deus...
Os moquis não viram a Dama Azul?
Aguardai, padre - pediu Esteban de Perea. - O que aconteceu ali foi diferente.
Diferente?
Recordais quando, há mais de um mês, interrogamos Sakmo, o jumano?
Como se fosse ontem, padre Esteban.
E recordais quando frei Garcia de San Francisco, nosso irmão de Zamora, mostrou-lhe o retrato da madre Maria Luisa de Carrión?
Claro que lembro! O guerreiro disse que a Dama Azul que ele havia visto tinha uma certa semelhança com ela, mas que a Mulher do Deserto era mais jovem.
Pois bem, irmão, nosso padre custódio tem razões para acreditar que essa freira, a madre Maria Luisa, está intervindo de forma milagrosa em nossas terras.
E por quê? - disse incrédulo, quase irritado, procurando o rosto vigilante de Benavides.
Não vos exalteis, eu vos rogo - disse este. - Os padres que visitaram os moquis eram devotos da madre Maria Luisa. Então, quando os chefes índios levaram a eles aquela pequena criança, colocaram sobre seus olhos uma pequena cruz de madeira com inscrições que essa freira havia abençoado na Espanha. Por sua graça, depois de orar com aquele crucifixo sobre a criança, ela se curou.
Frei Alonso, mais calmo, acrescentou:
Compreendeis, meus padres? A criança se curou por mediação da cruz da madre Carrión. É ela quem está intervindo aqui!
E onde Sua Eminência vê a mão da Dama Azul nesse episódio, padre Benavides? - protestou frei Diego energicamente. - O fato de uma criança se curar por uma cruz abençoada não...
O padre Benavides atalhou:
A conexão é evidente, irmão. Se um objeto abençoado pela madre Maria Luisa cura, por que não admitir que ela também pode se bilocar, desdobrar-se até estas terras e nos ajudar discretamente em nossa tarefa? Não é uma religiosa franciscana como nós? Não velaria por nosso sucesso se estivesse a seu alcance?
Mas...
Claro que esse prodígio será estudado por meu sucessor, o padre Perea - sentenciou. - Ele provará se existe ou não relação entre ambos os acontecimentos. Não obstante, antes de retornar à Espanha, há algo que quero que comproveis por vós mesmos.
Juan de Salas esticou o pescoço e frei Diego deu dois passos rumo à mesa para contemplar o que Benavides queria lhes mostrar. Colocou em frente aos frades o rosário de Ankti e a cruz da madre Carrión. Procurou por entre as contas até localizar a cruz de prata que adornava o objeto e situou-a junto à trazida pelos outros frades das terras moquis.
Vedes? São como duas gotas d'água!
O padre Salas pegou as duas cruzes nas mãos, levando-as até os olhos. De fato, tinham o mesmo tamanho e as mesmas bordas em relevo. Olhou-as atenciosamente, avaliando-as em seus enrugados dedos.
Com todo meu respeito, padre Benavides - disse por fim -, todas as cruzes se parecem.
E frei Diego acrescentou:
Isso não prova nada.
MADRI
O número 20 de Paseo de Recoletos fervilhava de atividade às nove da manhã. Visto da calçada dos Apartamentos Colón, aquele fabuloso imóvel neoclássico dava a impressão de ser um formigueiro gigante: preciso e organizado. Cheio de vida.
José Luis Martin e Carlos Albert caminharam decididos para a guarita de segurança. Seus nomes constavam da lista de visitantes aguardados, de modo que não lhes foi difícil chegar à área restrita da Biblioteca Nacional e serem levados imediatamente à sala do diretor. O formigueiro logo se transformou em um palácio suntuoso, de corredores de mármore e valiosas obras de arte que vigiavam os visitantes de quase qualquer ângulo. E Enrique Valiente, qual formiga-rainha naquele labirinto, recebeu-os em um aposento amplo de paredes de madeira, sentado atrás de uma mesa de mogno que teria não menos de duzentos anos.
- Prazer em vê-los - disse enquanto apertava a mão de seus visitantes. - Já sabem alguma coisa sobre o manuscrito Benavides?
José Luis negou com a cabeça.
Ainda não - admitiu. - Mas nós o recuperaremos. Não se preocupe.
O senhor Valiente não tinha tanta certeza. Fez um gesto e convidou seus hóspedes a se sentarem. Tinha um certo ar quixotesco. Magro, de barba bem recortada e testa limpa, seu olhar era vivo e franco. Se não usasse aquele impecável terno de lã merina e gravata azul, José Luis e Carlos teriam pensado estar diante de dom Alonso Quijano em sua biblioteca lotada de livros sobre cavalos. Enquanto terminava as apresentações, dom Enrique começou a remexer, nervoso, o mar de notas, cartões, boletins oficiais e recortes de jornal que povoavam sua mesa.
Tomara que o encontrem antes que o despedacem e o vendam como folhetos! - grunhiu ao pegar a agenda que, pelo jeito, procurava. - Vocês não imaginam o azar que estamos tendo ultimamente com esses manuscritos.
Azar? - o policial estranhou. - A que se refere?
Ah! Não lhe contei quando vieram investigar o roubo?
Contou o que, senhor Valiente?
Há apenas uma semana, sofremos outra agressão a nosso acervo histórico. E, curiosamente, a um texto aparentado com o manuscrito desaparecido.
Carlos e José Luis trocaram olhares de surpresa.
Foi no final de março - prosseguiu. - Uma cidadã italiana chegou a nossa sala de leitura e solicitou um exemplar de um livro impresso em 1692, escrito por um jesuíta gaditano chamado Hernando Castrillo. Naturalmente, é um livro raro - disse, procurando algo a sua volta. - Intitula-se História e magia natural ou Ciência da filosofia oculta, e é uma espécie de enciclopédia popular da época.
E por que diz que está aparentado com...?
Deixe-me explicar.
Enrique Valiente pegou um exemplar do mesmo título, retirando-o do aparador a suas costas.
Aqui está! Este é o livro em questão.
O exemplar que exibia era um sólido livro de capa de couro, lombada rígida, bem costurado e com uma etiqueta com o nome do autor colada no centro.
Essa mulher tentou arrancar um dos capítulos - disse enquanto folheava aquela jóia. - Um intitulado "Se a notícia da fé chegou aos fins da América". Não lhe parece curioso?
Carlos sentiu um calafrio:
Um texto sobre a evangelização da América! Como o Memorial de Benavides!
E o que aconteceu com a italiana? - perguntou José Luis, mais pragmático.
Isso foi o mais estranho! A bibliotecária do turno surpreendeu-a enquanto tentava cortar as páginas desse capítulo. Naturalmente, impediu-a e pediu-lhe que aguardasse sentada em sua cadeira a escolta de um segurança.
-E...?
E ela desapareceu!
Como assim, desapareceu?
Dom Enrique, sério, apoiou as duas mãos no caos de sua mesa e olhou fixamente para José Luis.
É exatamente o que estou dizendo, agente. Desapareceu. Aquela mulher evaporou. Desintegrou-se. Sumiu. Como um fantasma.
Não vá me dizer que vocês também têm fantasmas aqui, como no Palácio de Linares...
Carlos sorriu ao recordar aquele episódio. Quinhentos metros rua abaixo, no número 2 do mesmo Paseo de Recoletos, um velho casarão havia se tornado famoso pelo rumor de que estava infestado de espíritos. Acontecera exatamente um ano antes. Toda a imprensa havia falado do assunto, e algumas revistas até distribuíram fitas cassete com as supostas vozes das almas.
O que estou lhe dizendo é muito sério, senhor - disse Valiente, sem desviar os olhos de Carlos. - Essa mulher era real. Registrou-se na entrada. Tirou seu cartão de sócia. Preencheu a ficha para pedir o livro de Castrillo, e depois evaporou.
Como um fantasma, sim - arrematou José Luis, incrédulo.
Posso dar uma olhada no livro?
O pedido do jornalista não surpreendeu o diretor da biblioteca.
Ora, ora! - exclamou o jornalista ao recebê-lo. Carlos o havia aberto no capítulo agredido. O policial inclinou-se sobre o livro tentando identificar a fonte da surpresa. Aquelas páginas ainda estavam costuradas, mas uma tira de tecido cinza cobria o rasgo feito pelo "fantasma". A ferida era profunda.
O que foi, Carlitos?
Veja isto. O autor se pergunta se alguém havia conseguido evangelizar partes do Novo Mundo antes da chegada de Colombo à América.
Não me diga!
Enrique Valiente olhava para eles sem pestanejar.
Aqui diz, bastante claro, que a Dama Azul não foi a primeira. Diz que os primeiros jesuítas que chegaram à América do Sul descobriram que outros cristãos haviam pregado por lá séculos antes deles.
É um livro muito curioso, sim - disse o diretor em tom profissional. - Também diz que o próprio Colombo percebeu que os índios das Antilhas veneravam formas adulteradas da Santíssima Trindade. E conta que no Paraguai conservavam a lembrança da passagem de um tal de Pay Zumé, que, cruz em riste, pregou a boa-nova da ressurreição duzentos anos antes da chegada dos espanhóis.
E isso... é aceito?
José Luis parecia estar ouvindo um verdadeiro disparate. Missionários católicos na América antes de Colombo?
Bem - dom Enrique hesitou -, o que os jesuítas disseram, então, suponho que para não contradizer os interesses da Coroa espanhola, é que aquele prodígio devia ser obra de são Tomás. É engraçado: o apóstolo cético de Jesus!
E por que São Tomás?
Acreditavam que esse Pay Zumé dos índios era uma deformação fonética de São Tomás. Mas o mais curioso é que existem provas arqueológicas que sugerem que, de fato, houve missionários andando pela América antes de 1492.
É mesmo?
Por exemplo, nas ruínas de Tiahuanaco, perto do lago Titicaca. Lá, no planalto boliviano, existe um monólito de mais de dois metros de altura que representa um homem de barba. E, como vocês devem saber, os índios dessas latitudes são imberbes. A estátua está, hoje, em um recinto semissubterrâneo, como as kivas dos nativos da América do Norte, chamado Kalasasaya. Acredita-se que representa um pregador. Aliás - acrescentou -, muito perto dali existem outras estátuas, que os indígenas chamam de "monges", e que bem poderiam ter representado esses primeiros evangelizadores cristãos, muito anteriores a Colombo ou Pizarra.
Ao ouvi-lo, José Luis encolheu os ombros:
E por que interessaria a alguém roubar algo assim?
Eu também me faço a mesma pergunta, detetive. A mulher podia ter nos pedido um microfilme. Mas seu interesse parecia outro: queria fazer esse capítulo desaparecer. Normalmente, esse tipo de coisa só é feita por maníacos que não querem que ninguém mais tenha acesso a uma determinada informação.
Maníacos? - o instinto do policial se aguçou. - Sabe se a bibliotecária notou algo estranho naquela visitante?
Agora que pergunta, na verdade, sim. Ao preencher a ficha, ela disse que havia acabado de chegar do Brasil.
Brasil?
Sim. Disse que havia ido para lá visitar, no Estado da Bahia, na Baía de Todos-os-Santos, uma rocha que tinha umas pegadas de pés humanos gravadas nela. Os índios dizem que são pegadas de Pay Zumé. Também disse que em Itapuã, Cabo Frio ou na Paraíba existiam mais pegadas como essas... Coincidentemente - acrescentou -, a bibliotecária que a atendeu é brasileira, e jamais tinha ouvido falar dessas coisas antes. Por isso recordava tão bem.
Entendi.
O policial olhou pensativamente para seu interlocutor.
E o que me diz dessa ligação que recebeu dos Estados Unidos ontem?
Da mulher perguntando pelo Memorial de Benavides? - o diretor encarou José Luis fixamente. - Isso sim me surpreendeu!
Conte-nos.
Ora, não é normal que nos roubem um manuscrito de um franciscano do século XIII e, depois de algumas horas, uma psiquiatra nos ligue dos Estados Unidos perguntando por um frade que é citado no livro roubado.
Normal não é; concorda, José Luis? - perguntou o jornalista.
O comentário de Carlos tinha certa ironia. O policial e antigo sacerdote era daqueles que acreditam que nada é por acaso. Que tudo está programado. Estaria, também, aquela ligação em particular? Ou aquele caso em geral?
A questão é que peguei o endereço e telefone dela para lhe informar se conseguisse saber alguma coisa mais sobre esse frade - acrescentou Enrique. - Ela estava muito interessada! Disse-me que uma paciente dela estava tendo estranhas visões que diziam respeito a esse período.
Mencionou a Dama Azul?
O diretor assentiu.
Sim. Tudo isto é muito estranho, não acham?
Poderia nos fornecer esses dados, senhor Valiente?
Dom Enrique rabiscou algo em um bloco de notas e estendeu a folha ao policial.
Faremos o possível - disse José Luis ao recebê-la. - Embora esteja fora de nossa jurisdição, graças à Interpol o FBI costuma colaborar neste tipo de assunto. Principalmente quando está relacionado com patrimônio.
Não poderíamos ir aos Estados Unidos?
José Luis disfarçou uma gargalhada diante da ingenuidade de Carlos.
Nós? Se já foi difícil fazer com que o Corpo Nacional de Polícia pagasse as despesas de nossa viagem a Bilbao, imagine um vôo até... - deu uma olhada na informação que tinha nas mãos - ... Los Angeles!
Mas o jornalista tivera uma idéia. Talvez fosse uma loucura, mas não perderia nada tentando.
Com certeza a Polícia não poderia lhe pagar uma viagem a Los Angeles - disse -, mas minha revista poderia fazer um esforço por mim. Se me der uma credencial e um contato com a Interpol, eu poderia descobrir alguma coisa. Prometo que lhe contarei tudo antes de publicar.
Por que não? - intercedeu Enrique, entusiasmado com a idéia. - Eu também morro de curiosidade. E, para o prestígio desta biblioteca, seria muito bom saber do paradeiro do manuscrito.
José Luis coçou o queixo pensativo.
Está bem, dom Enrique: dê-me uma boa pista para que eu possa seguir este caso em Madri enquanto mandamos Carlitos para os Estados Unidos.
Uma boa pista?
O diretor não captou a fina ironia daquelas palavras. Na realidade, não estava lhe pedindo nada. Apenas procurava uma desculpa para concluir a conversa de forma amigável. Mas a pressão levou dom Enrique Valiente a dizer algo curioso:
Que tal outro detalhe sobre a italiana que quis levar as páginas de Castrillo?
José Luis não esperava aquilo.
É um detalhe feminino - disse sem dar muita importância. - A bibliotecária disse que essa mulher usava os mocassins vermelhos mais chamativos que já havia visto na vida.
Como?
Que aquela mulher, que estava totalmente de preto, calçava mocassins vermelhos muito pouco comuns.
É mesmo?
Algo estalou dentro de José Luis Martin. Teria apostado o distintivo em que aquela era uma boa pista.
Mas pista de quê?
"Maldito excêntrico", pensou, e depois se arrependeu.
Giuseppe Baldi cruzou contrariado a porta da Filarete, a loggia delle benedizione da basílica mais famosa da cristandade, e dirigiu-se à área em que os turistas faziam fila para subir à Cúpula de São Pedro do Vaticano.
Após dar uma olhada nos confessionários do lado Sul, procurou o número 19. Os dígitos mal se viam sobre aquelas caixas de madeira, mas, prestando atenção, um bom observador poderia acabar intuindo o que um dia haviam sido maravilhosos números romanos pintados de ouro localizados no ângulo superior direito de cada "locutório divino". O XIX correspondia ao mais oriental de todos; o mais próximo ao rebuscado cenotáfio de Adriano vi, e exibia um cartaz embolorado que anunciava as confissões em polonês do sacerdote responsável, o Czestocowa.
Baldi sentia-se ridículo. Envergonhava-se só de pensar. Devia fazer um século que ninguém usava os confessionários para uma reunião discreta entre clérigos, e muito menos em tempos em que o Vaticano já dispunha de salas à prova de escutas ilegais. Mas admitia que era improvável que os sofisticados microfones que os serviços de segurança do Santo Ofício e de outras "agências" estrangeiras tanto gostavam de colocar em gabinetes cardinalícios chegassem até ali.
O beneditino não tinha escolha. O encontro era inequívoco. Mais ainda: inquestionável. Uma mensagem depositada na caixinha de correspondência do abrigo em que pernoitava não lhe deixava outra opção.
Assim, pois, obediente, o veneziano acabou se ajoelhando no lado direito do confessionário XIV. Como era previsível, nenhum polonês pretendia receber a absolvição a essa hora. Os conterrâneos do Santo Padre costumavam utilizar esse momento do dia para cochilar ou assistir tevê.
Ave Maria Puríssima - sussurrou.
Sem pecado concebida, padre Baldi.
A resposta do outro lado da gelosia confirmou que havia escolhido certo. O "evangelista" tentou disfarçar seu entusiasmo.
Monsenhor?
Fico feliz por ter vindo, Giuseppe - disse. - Tenho notícias importantes a lhe comunicar, e razões para acreditar que nem mais minha sala é um lugar seguro.
A inconfundível voz nasal de Stanislaw Zsidiv tinha certo ar funesto que deixava o "penitente" intranquilo. Seu ritmo cardíaco se acelerou.
Sabe algo novo sobre a morte do padre Corso?
Os exames da adrenalina no sangue descobriram que "são Mateus", nosso amado Corso, recebeu um forte abalo antes de morrer. Algo que o impressionou tanto que decidiu acabar com sua vida.
O que pode ter sido, Eminência?
Não sei, filho. Mas algo terrível, sem dúvida. Agora, como o doutor Ferrell deve ter dito, todos os esforços se concentram em descobrir quem foi a última pessoa que o padre Corso atendeu e se influiu ou não em sua decisão de acabar com a própria vida.
Entendo.
Mas não o fiz vir para isso, meu filho.
Ah, não?
Lembra quando falamos, em minha sala, do Memorial de Benavides?
O monsenhor pôs à prova a memória de Baldi.
Se bem me lembro, era um relatório redigido por um franciscano do século XIII sobre as aparições da Dama Azul no sul dos Estados Unidos...
De fato - assentiu Sua Eminência satisfeito. - Aquele documento, como lhe disse, deixou Corso fascinado em seus últimos dias porque acreditava ver nele a descrição de como uma freira de clausura havia se deslocado fisicamente da Espanha à América para pregar aos índios... em 1629!
Sim. Entendo.
O que você não sabe é que Corso andou perguntando por um manuscrito inédito do mesmo padre Benavides, que identificava a Dama Azul como uma freira chamada irmã Maria de Jesus de Ágreda, e dava conta do procedimento que ela usara para se bilocar na América.
A fórmula da biloc...?
Isso mesmo.
E ele o encontrou? Achou o manuscrito?
Isso é o mais grave, meu filho. Trata-se de um texto ao qual ninguém havia dado a menor atenção até agora. Corso procurou-o nos arquivos pontifícios, mas não o encontrou. Porém, por esses mesmos dias, alguém entrou na Biblioteca Nacional de Madri e roubou um manuscrito que havia pertencido ao rei Felipe IV.
O confessor suspirou antes de o beneditino reagir.
Sim, Giuseppe. Era o memorial que "são Mateus" procurava.
A mente do veneziano lutava desesperadamente para encontrar uma relação lógica em tudo aquilo.
Segundo nos informaram esta manhã - prosseguiu Zsidiv -, a Polícia espanhola ainda não prendeu os ladrões, mas tudo leva a crer que se trata de um trabalho de profissionais. Talvez os mesmos que roubaram os arquivos do padre Corso.
Por que suspeita disso, Eminência?
Tenho a impressão de que alguém quer fazer desaparecer toda a informação relativa à Dama Azul. Alguém de dentro. Alguém que quer prejudicar o avanço de nossa Cronovisão, e que parece não medir esforços para isso.
E por que tanto empenho?
A única coisa que me ocorre - murmurou Zsidiv - é que esse "alguém" deve ter desenvolvido uma pesquisa paralela à nossa e obtido resultados satisfatórios, e agora está apagando as pistas que o levaram ao sucesso.
Baldi protestou.
Mas são apenas conjecturas.
Por isso o fiz vir até aqui. Não me sinto seguro em São Pedro, filho. As paredes têm ouvidos. E o Santo Ofício convocou uma assembléia interna para avaliar o que está acontecendo com esse assunto. Uma assembléia no mais alto nível.
Acha, Eminência, que o inimigo está no seio da Igreja?
E você tem outra idéia, Giuseppe?
Nenhuma. Talvez, se soubéssemos o que esse documento roubado continha, saberíamos por onde começar a investigar...
O monsenhor fez um esforço para esticar as pernas dentro daquela espécie de ataúde vertical. E, lacônico, comentou:
Isso sabemos.
É mesmo?
Claro, filho. Benavides atualizou seu Memorial do Novo México aqui, em Roma. Fez duas cópias dele: uma para Urbano viu e outra para Felipe IV. A cópia roubada é a segunda.
Então nós o temos!
Sim e não... - pontuou. - Frei Alonso de Benavides foi custódio da província do Novo México até setembro de 1629. Depois de interrogar os missionários que haviam reunido dados sobre a Dama Azul, foi para o México, e de lá seu superior, o arcebispo vasco Manso y Zúniga, mandou-o para a Espanha a fim de completar certa investigação...
Que investigação, Eminência?
"São João", o coordenador do projeto da Cronovisão, sorriu do outro lado da gelosia.
Benavides saiu do Novo México certo de que a Dama Azul era uma freira com fama de milagreira na Europa, chamada Maria Luisa de Carrión. O único problema é que os índios a haviam descrito como uma mulher jovem e bonita, e a madre Carrión já passava dos sessenta anos. Porém, aquilo não persuadiu Benavides. E, em vez de acreditar que a Dama Azul podia ser uma nova aparição da Virgem de Guadalupe, preferiu acreditar que a "viagem pelos ares" havia feito Maria Luisa de Carrión rejuvenescer.
Que bobagem!
Era o século XIII, filho. Ninguém sabia o que podia acontecer com alguém que voasse.
Sim, mas...
Deixe-me lhe explicar uma coisa, filho - atalhou. - Algo que descobri esta manhã no Archivio Segreto.
Baldi abriu bem seus ouvidos.
Na Cidade do México, o arcebispo mostrou a Benavides uma carta de certo frade franciscano chamado Sebastián Margila, que falava de outra freira mais jovem, mística, que também sofria todo tipo de êxtase sobrenatural.
Ela se bilocava?
Essa era uma de suas graças, de fato. Seu nome era irmã Maria de Jesus de Ágreda. Manso y Zúniga, estranhando a notícia, enviou o próprio Benavides à Espanha para investigar. Cruzou o Atlântico no início de 1630, desembarcou em Sevilha e de lá foi para Madri e Ágreda para investigar. Interrogou pessoalmente a suposta Dama Azul e instalou-se aqui, em Roma, para redigir suas conclusões.
Então, por que diz que a cópia do Memorial que fez para o papa não serve?
Porque a do rei da Espanha e a do papa não eram exatamente idênticas. Para começar, a do Santo Padre foi datada, por erro, de 1630. E assim consta no Archivio. Por isso Corso não a encontrou. E, em segundo lugar, no exemplar que Benavides enviou ao rei, o português acrescentou certas notas nas margens, com especificações de como acreditava que a freira havia se deslocado fisicamente, levando consigo objetos litúrgicos que distribuiu aos índios.
Objetos litúrgicos?
Rosários, cálices... Tudo isso os franciscanos encontraram quando chegaram ao Novo México. Os índios os guardavam como presentes da Dama Azul. Benavides pegou um rosário, com o qual pediu para ser enterrado.
E como pôde essa Dama...?
Ao que parece, meu filho, enquanto a madre Ágreda caía em transe em seu mosteiro e parecia adormecida, sua "essência" se materializava em outro lugar. Fazia-se carne.
Como os "sonhadores" de Ferrell!
Como?
Baldi adivinhou a expressão de surpresa do cardeal Zsidiv por trás da grade do confessionário.
Pensei que já soubesse, Eminência.
Soubesse o quê?
Que o último experimento de Corso e esse dottore tentou enviar uma mulher, que chamaram de "sonhadora", ao tempo da Dama Azul, no Novo México. Queriam que descobrisse o segredo dessas viagens e o servisse de bandeja ao Inscom.
E conseguiram?
Bem: a mulher foi excluída do projeto. Disseram que a mente dela estava turva e ela parou de trabalhar com eles. Voltou para os Estados Unidos, mas ainda não a pude encontrar.
Localize-a! - ordenou Zsidiv muito sério. - Ela tem a chave! Tenho certeza!
Mas como farei isso?
O cardeal aproximou-se tanto da gelosia que Baldi conseguiu sentir seu hálito no rosto.
Deixe-se levar pelos sinais - disse.
Dos rigores do deserto do Novo México ao sufocante verão da meseta castelhana. Assim saltou Jennifer Narody de cenário e de tempo, com a facilidade que só os sonhos permitem. Mas... sonhos? Só sonhos? E por que se encadeavam estes como se fossem seqüências lógicas? Será que estava "canalizando" lembranças de outro tempo, de uma época à qual, por alguma misteriosa razão, estava vinculada?
Será que a doutora Meyers estava certa ao mencionar a memória genética? E, nesse caso, todas as suas visões se entrançavam com seus remotíssimos antepassados indígenas?
Jennifer acomodou-se sob os lençóis de algodão, procurando a melhor posição para continuar dormindo.
Se assim fosse, se todos aqueles sonhos formassem uma história real, queria saber. Começava a acreditar que, durante suas sessões na "sala do sonho" em Fort Meade, ou talvez no tempo que havia passado na Itália, tinham injetado em sua mente imagens que agora afloravam em seu mundo onírico. Sentia-se suja, como se houvessem profanado sua intimidade. Mas, ao mesmo tempo, intrigada. Queria saber aonde suas visões a levariam. E assim, sonho após sonho, Jennifer ia enfrentando cenários cada vez mais distantes e exóticos.
Por exemplo, a Espanha.
Jamais estivera ali. Nunca se preocupara com a história dos austrias, a poderosa dinastia imperial desse país, nem se interessara por sua capital, Madri. Porém, a clara imagem de um edifício fortificado, com balcões de cimento negro e galerias em penumbra, impregnava agora suas retinas. Nessa ocasião, Jennifer Narody também soube a que tempo e lugar pertencia aquela construção.
Ia de surpresa em surpresa.
ALCÁZAR DE MADRI
SETEMBRO DE 1630
Haveis causado uma profunda impressão em Sua Majestade, frei Alonso.
Essa era minha intenção, padre.
O rei recebe dezenas de memoriais a cada temporada sobre os mais variados assuntos, mas só o vosso mereceu a honra de ser impresso por nossa Imprensa Real.
Frei Alonso de Benavides caminhava devagar, deleitando-se com os quadros de Tiziano, Rubens e Velázquez que Felipe IV havia pendurado na Torre de França. Diferente de seus austeros predecessores, o jovem rei pretendia adornar os escuros corredores do Alcázar, o palácio real dos austrias, com soberbas obras de arte.
O padre Benavides estava acompanhado pelo frei Bernardino de Siena, comissário-geral da Ordem de São Francisco, um velho conhecido do monarca por quem este professava uma indisfarçada simpatia.
Frei Bernardino era um homem habilidoso nas relações diplomáticas. Uma personalidade invejada pelos superiores de outras Ordens, que não conseguiam tantos favores reais. E também o único responsável por ter feito circular pela corte o rumor de que um milagre havia impulsionado as conversões franciscanas do Novo México.
Um gênio da estratégia palaciana, em suma.
A audiência com Sua Majestade acontecerá excepcionalmente na biblioteca - confiou frei Bernardino ao padre Benavides enquanto eram escoltados por um mordomo vestido de preto.
Excepcionalmente?
Sim. O habitual é sermos recebidos no Salão do Rei, mas Sua Majestade gosta de quebrar o protocolo em alguns assuntos.
É um bom sinal?
Excelente. Como vos disse, vosso manuscrito o impressionou, por isso deseja ouvir de vossos lábios outros detalhes relativos a vossa expedição. Em especial, tudo o que lembreis desse assunto da Dama Azul.
Então, é verdade que leu meu relatório...
Da primeira palavra à última - sorriu satisfeito o comissário. - Padre, se conseguirmos interessá-lo, garantiremos o controle da futura diocese de Santa Fé. O destino da Ordem está, hoje, em vossas mãos.
O mordomo parou em frente a uma sóbria porta de carvalho. Voltou-se para seus hóspedes e pediu-lhes que aguardassem. A seguir, com grande pompa, entrou em um aposento precariamente iluminado para realizar uma exagerada reverência.
Da porta, intuía-se que era uma sala ampla, com balcões de ferro fundido ao fundo. Um tapete vermelho cobria parte do chão e a sombra de um enorme planisfério de cobre caía em um de seus ângulos.
Majestade - anunciou o mordomo -, vossa visita chegou.
Faze-os entrar.
A voz soou forte e grave. Frei Bernardino, familiarizado com aqueles misteres, tomou a dianteira, arrastando atrás de si o padre Benavides. A certeza de se saber em palácio, a poucos passos do monarca mais poderoso do mundo, causou-lhe um leve calafrio.
E, de fato, ao fundo daquele salão coberto de livros e tapeçarias, estava o rei. Sentado em uma cadeira forrada de seda, com apoios de braço de corda, contemplava em silêncio os recém-chegados. Atrás dele, em pé, encontrava-se o mordomo principal. Ao vê-los, anunciou em voz alta a identidade de seus hóspedes.
Majestade, o comissário-geral da Ordem de nosso seráfico padre São Francisco, frei Bernardino de Siena, e o último padre custódio de seus domínios no Novo México, frei Alonso de Benavides, rogam vossa atenção.
Está bem, está bem.
O rei, com um gesto informal, fê-lo calar.
Tinha boa aparência: a despeito de seu rosto lânguido e cansado, herança de seu avô Felipe II, em suas faces despontava uma saudável cor rosada. Os rumores sobre sua saúde nunca eram bons. Seus olhos azuis brilhavam mais ainda que seus cabelos claros, e seu corpo parecia razoavelmente forte. Quebrando o protocolo, o jovem monarca levantou-se de seu trono e, dirigindo-se a frei Bernardino, beijou-lhe a mão.
Padre, faz tempo que ansiava vos ver.
Eu também, Majestade.
A vida nesta corte é monótona, e só os progressos em meus domínios de ultramar me ajudam a distrair minhas preocupações.
Felipe, homem de apenas 25 anos, já falava como um verdadeiro rei. Acabava de deixar para trás uma adolescência salpicada de excessos e uma vida controlada por seu primeiro-ministro, o conde duque de Olivares, e agora exalava uma serena majestade.
Acompanha-me o padre Benavides, autor do documento que tanto vos interessou - anunciou frei Bernardino. - Desembarcou em Sevilha no dia primeiro de agosto.
Frei Alonso inclinou-se levemente, em sinal de respeito ao rei.
Bem, bem, padre Benavides... Quer dizer que sois quem afirma que a madre Maria Luisa apareceu no Novo México e converteu a nossa fé algumas tribos indígenas.
Bem, Majestade, por ora, é só uma hipótese.
E acaso Vossa Paternidade sabia que irmã Luisa da Ascensão, mais conhecida como a freira de Carrión, é uma velha amiga desta Casa Real?
O padre Benavides arregalou os olhos.
Não, Majestade. Ignorava por completo.
Porém, vosso relatório me pareceu confuso em um ponto. Segundo vosso escrito, a mulher que apareceu aos índios do Norte era jovem e linda.
Sim, isso mesmo. Isso também nos confunde, Majestade.
E como pode ser, se a madre Maria Luisa já está velha e doente?
Meu rei - frei Bernardino interrompeu o monarca ao ver que o custódio do Novo México estava hesitante -, embora a descrição dada pelos índios ao padre Benavides não coincida, está mais que provada a capacidade de bilocação da madre Luisa. Não seria de estranhar, portanto, que...
Isso já sei, padre.
Os olhos do monarca se cravaram no superior dos franciscanos. Um brilho de malícia cintilou neles antes de Felipe iv desviar suas novas perguntas para ele.
Não vos recordais, frei Bernardino, que meu pai trocou correspondência com a freira de Carrión durante anos, ou que minha rainha ainda o faz? Vós mesmo a interrogastes sobre seus desdobramentos há alguns anos. Fostes vós quem determinastes que esta freira chegou a se deslocar milagrosamente até Roma e inclusive quebrar um copo com vinho envenenado antes que o papa Gregório XI o bebesse...
Requiescat in pace... - murmurou o comissário.
E também comprovastes que a madre Luisa esteve, pela graça de Deus, junto ao leito de morte de meu pai, acompanhando-o até o momento de subir aos céus.
Sim, Majestade. Minha memória é frágil e lamento. Porém, lembro que madre Maria Luisa me falou de um anjo que a transportou de seu mosteiro a esta corte e que foi ela quem convenceu Sua Majestade Felipe III a morrer vestindo o hábito franciscano.
Isso já passou - o rei não gostava de falar de seu pai, e fixou-se novamente em Benavides. - Porém, vosso relatório continua sem coincidir com a descrição atual da madre Maria Luisa...
Na realidade, estamos indagando em outras direções.
Outras direções? A que vos referis?
Acreditamos... - sua voz tremeu - que poderíamos estar diante da bilocação de outra freira de clausura.
Como?
Felipe cruzou as mãos à altura do queixo e olhou para o frade fixamente.
Vede, Majestade - Benavides respirou fundo -, quando frei Bernardino investigou os prodígios de irmã Luisa da Ascensão, visitou um mosteiro em Soria, onde interrogou outra jovem freira que sofria estranhos transes e êxtases.
Padre Bernardino! Jamais me falastes disso!
Não, Majestade - justificou o comissário. - Não julguei que fosse um assunto importante e arquivei o caso.
Falai-me agora dessa freira - ordenou o rei.
O rosto enrugado do comissário-geral adotou certo ar de solenidade. Juntou ambas as mãos e, traçando pequenos círculos em frente à cadeira do monarca, começou a se explicar.
Pouco depois de interrogar a irmã Luisa em seu mosteiro de Carrión de los Condes, recebi uma carta de frei Sebastián Margila, que agora é provincial de nossa Ordem em Burgos.
Eu o conheço. Prossegui.
O padre Margila era, então, confessor do mosteiro da Conceição em Ágreda e notou que uma de suas freiras, uma certa irmã Maria de Jesus, sofria estranhos acessos de histeria. Em estado de transe, tornava-se leve como uma pena, e até a expressão de seu rosto mudava, tornando-se beatífico e complacente.
E por que vos chamaram para visitá-la?
Muito simples, Majestade. Na Ordem, sabia-se que eu estava muito interessado em provar a verdade acerca da bilocação da madre Maria Luisa; então, como aquela jovem também havia protagonizado alguns incidentes nos quais parecia ter estado em dois lugares ao mesmo tempo, fui interrogá-la.
Compreendo - o rei baixou seu tom de voz. - E suponho que essa freira também é franciscana.
Deus premia assim a nossa Ordem. Lembro-vos que foi são Francisco, nosso seráfico padre, quem primeiro recebeu os estigmas de Cristo e experimentou o poder dos dons místicos.
E não poderia se tratar de algum outro tipo de fenômeno?
Felipe, já acostumado à alteração da informação atendendo a interesses particulares de uns e outros, quis mostrar a seus hóspedes que já não era o jovem ingênuo de antes.
Não compreendo, Majestade.
Sim, meu bom padre. Nunca pensastes que talvez a mulher que evangelizou os índios não era uma freira? Poderia ser a Virgem, ou um demônio!
Os frades se persignaram.
Mas, Majestade - replicou frei Alonso -, um demônio jamais ensinaria o Evangelho a almas que já estariam garantidas para o inferno.
E a Virgem?
Esse foi um tema que discutimos muito no Novo México e, na verdade, não dispomos de provas para afirmar nada. Não temos evidências que confirmem sua visita, tal como ocorre com a imagem milagrosa de Nossa Senhora, que o indiozinho de Guadalupe entregou ao bispo Zumárraga no México...
Ah! A famosa Virgem de Guadalupe! - exclamou o rei. - Gostaria de ver essa imagem um dia.
Muitos pintores já a copiaram, Majestade. Mostra uma jovem linda, em expressão de recolhimento, doce, coberta por um manto azul salpicado de estrelas, da cabeça aos pés.
Uma Dama Azul?
Sim - hesitou o frade. - Mas ela apareceu há mais de cem anos. Em 1531. E em um lugar povoado, o México. Por que a Virgem teria de se manifestar em uma região desértica como o rio Grande?
Está bem, está bem - admitiu o rei. - Dizei-me, quais serão vossos passos seguintes neste assunto, padres?
Frei Bernardino tomou a palavra.
Dois, com vossa vênia, Majestade. O primeiro, mandar frades de reforço ao Novo México para converter à fé cristã vossos novos súditos. E, o segundo, enviar o padre Benavides a Ágreda para que converse com irmã Maria de Jesus.
Gostaria de estar a par desses progressos.
Rigorosamente, Majestade.
Por ora - anunciou o rei com certa solenidade o Memorial do padre Benavides será impresso em minhas oficinas na próxima semana, não é, Gutiérrez?
O mordomo gesticulou pela primeira vez em toda a reunião. Aproximou-se de uma mesa de ébano embutida entre as estantes e, após procurar em suas gavetas, fez uma comprovação rotineira em uma agenda.
Serão quatrocentos exemplares, dos quais dez serão enviados a Roma para a supervisão de Sua Santidade Urbano viu - precisou o funcionário com voz grave.
Excelente - sorriu frei Bernardino. - Sua Majestade é bom rei e ainda melhor cristão.
Felipe sorriu.
Três fortes golpes retumbaram na basílica de São Pedro. Foram detonações secas, surdas, cujo eco estremeceu inclusive o confessionário onde se encontravam Zsidiv e Baldi. Ambos ficaram gelados. O que estava acontecendo? Era como se a colossal estátua de mármore de são Longinho, obra-prima de Bernini, houvesse caído de seu pedestal e seus 5 metros de altura houvessem explodido no chão. Explodido? Aquelas descargas soaram próximas. O beneditino afastou por instinto o rosto da gelosia do confessionário e tentou localizar sua procedência. Os golpes vinham da não menos colossal efígie de santa Verônica. Mas, do ângulo que sua posição lhe permitia, só distinguiu uma massa de fumaça elevando-se para o teto da nave.
Um atentado...! - sussurrou espantado.
Como? - o monsenhor estava paralisado.
Parece um ataque contra a Verônica - disse.
Não é possível! Santa Verônica?
Ninguém teve tempo de reagir. Dois segundos depois, uma mulher de compleição atlética usando uma roupa preta emergiu daquela nuvem de pó e fumaça. Movia-se como um gato. Contornou os fiéis que contemplavam o espetáculo e correu diretamente para o padre Baldi e a porta de acesso à cúpula.
Um minuto, trinta segundos - arfou.
O beneditino cambaleou para trás, caindo sobre seus calcanhares enquanto a fugitiva ainda tinha tempo - e fôlego - para pronunciar uma estranha frase:
Pergunte ao segundo, Giuseppe. Atenda ao sinal.
Baldi hesitou. Havia pronunciado seu nome? E que negócio era aquele de sinal? Zsidiv acabara de dizer o mesmo...
O segundo? - De repente, Baldi entendeu o cerne da mensagem. Enquanto voltava o rosto na direção da fugitiva, ainda conseguiu gritar:
É comigo? Ouça! Está falando comigo?
O segundo - repetiu.
Foi a última coisa que viu.
Um robusto turista alemão, armado com uma pequena Nikon prateada e vestindo um horrível moletom escuro, disparou nesse momento seu flash contra um dos cenotáfios apoiados nos confessionários. O brilho, desproporcional, deixou o beneditino desconcertado.
Santa Madonna! - queixou-se Baldi, com os olhos irritados. Em um segundo, a mulher da roupa preta havia desaparecido.
O turista estava tão atônito quanto ele. Incrédulo, examinava a parte dianteira de sua Nikon.
Você a viu? - gritou Baldi.
Nein... nein.
Os sampietrini foram os seguintes a chegar ao local. Chegaram correndo, mas sem perder a compostura que se espera da guarda solene do papa.
Padre, estamos perseguindo uma mulher que fugiu para cá - disse o oficial de vanguarda, um rapagão ruivo com o rosto cheio de sardas. - Sabe se subiu ao terraço?
Uma fugitiva?
Uma terrorista. O guarda suíço, impecável, pontuou com aprumo.
Passou junto a mim... Voando... Mas juro que não sei para onde foi. Esse turista a fotografou! - gaguejou Baldi.
Obrigado, padre. Por favor, não abandone o templo ainda.
A patrulha agiu com destreza: abordaram o alemão e confiscaram o filme de sua câmera. Depois, voltaram ao padre Baldi, anotaram seus dados e lhe pediram que não se afastasse de sua residência provisória na Via Bixio por dois dias. Outros dois homens corriam cúpula acima. De algum modo, Baldi sabia que voltariam de mãos vazias.
Podem me dizer o que está acontecendo aqui?
O "santo" percebeu a decepção dos guardas.
Uma fanática, padre. São centenas por semana, mas costumamos interceptá-las a tempo.
Posso ver.
Esta tentou abrir um buraco na base de mármore da Verônica. E só para deixar um bilhete encravado nela!
Baldi ficou perplexo. Por prudência, calou o detalhe sobre o que a terrorista lhe havia sussurrado.
Um bilhete? E que dizia? Se é que posso perguntar, claro...
Nada importante, padre - sorriu o ruivo segurando o papel em questão. - Está vendo? "Propriedade da Ordo Sanctae Imaginis, Ordem da Santa Imagem." O senhor entende?
Na verdade, não.
A maioria dessas pessoas só pretende assustar. São loucos. Apocalípticos. Malucos que, se pudessem, poriam uma bomba atômica debaixo da poltrona do papa.
-É... surpreendente.
Se a pegarmos, padre, riós o chamaremos. Precisaremos que a identifique, mas talvez isto nos ajude.
O suíço acariciou satisfeito o rolo de filme e o guardou em um pequeno bolso junto ao peito. Depois, anotou em um pequeno caderno o endereço provisório do padre Baldi em Roma, bem como o telefone de seu estúdio na rádio Vaticana, e despediu-se dele fazendo uma pequena reverência. Tudo aconteceu a tempo de os dois oficiais que haviam subido até a cúpula correndo voltarem acalorados e contrariados.
Desapareceu! - ouviu-os dizer.
Baldi, confuso, voltou ao confessionário número 19 em busca de respostas. Mas o monsenhor também havia desaparecido.
Devia ter aproveitado a confusão para dar por terminado o encontro e não deixar vestígios.
O beneditino sentiu, então, uma estranha sensação de solidão.
Não entendo - repetiu em voz baixa, como se implorasse a alguém. - Não entendo nada.
O sacerdote permaneceu ali, com a mente perdida, mais alguns minutos. O que significava tudo aquilo? Havia sido uma coincidência que "são João" e aquela desconhecida lhe dissessem, em questão de segundos, que prestasse atenção aos sinais? A fumaça, a fugitiva que desaparece de repente, o turista que quase o deixa cego e aquela frase - "Pergunte ao segundo" - dirigida a ele (a quem mais?) começaram a se repetir em sua mente, como uma boa jogada em uma narração esportiva.
"Que sinal?", pensou Baldi.
Angustiado, percorreu os 20 metros que o separavam da coluna pentagonal atacada. Ainda teve tempo de dar uma rápida olhada nos prejuízos causados pelo atentado antes de os sampietrini acabarem de cercar a área. Não havia sido nada: a base de mármore da pilastra da Verônica não havia sofrido dano algum; apenas a inscrição que Urbano viu havia mandado gravar a seus pés em 1625 ficara ligeiramente enegrecida.
Que curioso - pensou Baldi com seus botões. - Não foi Urbano viu o papa a quem Benavides enviou seu Memorial? Será esse o sinal?
Nada convencido, o "evangelista" perambulou pelos arredores até chegar ao espetacular baldaquino desenhado por Bernini. Era uma obra impressionante. Ouvira dizer que o escultor a desenhara quando tinha apenas 25 anos. Devia ter sido um desses homens tocados pela mão de Deus, pensou. E ali, impressionado diante de tanta beleza, ergueu os olhos para a cúpula e pediu a esse mesmo ser supremo que o fizesse ver o bendito sinal.
Não podia imaginar que aquela atitude resolveria o enigma.
Baldi, distraído, foi descendo os olhos até a base daquela corte celeste, pousando-os em suas perchinas. O espetáculo que a genial obra de Michelangelo oferecia era único. Seus 42 metros de diâmetro e seus 136 metros de altura transformavam-na na maior abóbada da cristandade. Ali estavam os quatro evangelistas. Os redatores dos quatro textos mais importantes do Novo Testamento. Mateus segurava uma pena de 1,5 metro de comprimento. Tão grande quanto o enigma que cercava a morte do "seu Mateus", Luigi Corso...
Domine Noster! - exclamou ao perceber. - Está debaixo do meu nariz!
As efígies dos quatro pareciam rir em seus medalhões de 8 metros de altura.
Claro! Como sou idiota! O "segundo evangelista" é o sinal! Meu sinal!
A audiência com o rei da Espanha deixara um estranho sabor na boca de frei Bernardino. O pequeno e agitado comissário-geral havia visto, por um momento, seus interesses perigarem, e comunicou o fato a frei Alonso enquanto abandonavam o palácio.
Como Sua Majestade pode ter pensado que a Dama Azul era a Virgem? - matutava em voz alta.
Faz sentido, padre comissário. Vós dissestes: a Dama cobria-se com um manto azul, como a Virgem de Guadalupe... usava um hábito branco, como ela... e até descia do céu como ela. Também eu estive tentado a defender essa idéia. Não obstante, seguindo vossas instruções e as do arcebispo do México, defendi a hipótese da franciscana em bilocação.
E continuai defendendo! Se o rei, os jesuítas ou os dominicanos fossem capazes de dar uma virada neste assunto e fizessem todos acreditar que foi a Virgem quem apareceu, adeus às reivindicações franciscanas! Entendeis?
Preferiria que me explicásseis, padre.
É muito simples - disse frei Bernardino em um sussurro.
- Se não conseguirmos convencer Sua Majestade de que foi uma freira conceicionista franciscana, ajudada pela Divina Providência, a responsável pelas conversões no Novo México, amanhã Sua Majestade poderia confiar a evangelização de nossas terras de ultramar a outra Ordem. Sabeis quão veleidosa é a vontade dos reis. Mas há algo mais - acrescentou. - Se a idéia de que essas conversões foram obra de Nossa Senhora de Guadalupe for difundida, sabeis que os dominicanos não tardariam nem uma semana a pedir a intervenção do rei. E depois viria a Companhia de Jesus. Poderíamos perder para sempre nossa primazia na América! Entendeis agora?
Claro, padre. Uma aparição da Virgem transformaria a evangelização do Novo México em patrimônio de todos; por outro lado, a de uma freira conceicionista a deixaria só em nossas mãos. Não vos preocupeis. A mensagem está clara.
Após atravessar os pátios, os frades foram conduzidos à porta do palácio. Dali, adentraram os becos da capital rumo ao convento de São Francisco.
Quando dispusermos dos primeiros exemplares de vosso Memorial, quero que vades a Ágreda e interrogueis a irmã Maria de Jesus.
O tom acre do comissário soou mais duro que de costume.
Dar-vos-ei por escrito as ordens para que a freira fale e vos porei a par de algumas informações sobre ela para que vades prevenido.
Prevenido?
Irmã Maria de Jesus é uma mulher de caráter forte. Antes de completar a idade regulamentar, obteve o privilégio de ser madre superiora e goza de boa reputação na comarca. Não vos será fácil convencê-la a favorecer nossos interesses...
Bem - disse frei Alonso enquanto iam para a Plaza Mayor talvez não seja necessário. Talvez, afinal de contas, ela seja a verdadeira responsável por essas bilocações...
Sim. Mas não podemos correr riscos. Quando a conheci, muito mais jovem, descobri que é uma dessas místicas de raça que jamais mentiriam deliberadamente. Creio que me entendeis.
Frei Alonso negou com a cabeça.
Que quereis dizer com "mística de raça"?
Vós, claro, não conheceis sua história familiar. Irmã Maria é filha de uma família de boa posição que perdeu tudo e há alguns anos decidiu se dissolver de forma peculiar. O pai dela, Francisco Coronel, ingressou no mosteiro de São Julião de Ágreda, e a mãe transformou a casa da família em mosteiro de clausura, obtendo as licenças necessárias em um tempo inesperadamente breve.
- Ora...
A questão é que, antes disso, o bispo de Tarazona, monsenhor Diego Yepes, havia confirmado os votos da pequena Maria de Jesus quando ela tinha apenas quatro anos.
Monsenhor Yepes? - estranhou Benavides. - O biógrafo de Santa Teresa de Jesus, grande mística?
Podeis imaginar. Yepes vira, na época, que a menina tinha aptidões místicas, o que também não é de estranhar.
Ah, não?
A essa hora do dia, o centro de Madri estava lotado de gente. Frei Alonso e o comissário atravessaram a Plaza Mayor, abrindo caminho por entre vendedores de pão e tecidos, enquanto prosseguiam a conversa.
A mãe dela, Catarina de Arana, foi uma mulher que vivenciou fenômenos extáticos: ouvia "a voz de Nosso Senhor". De fato, foi ela, seguindo as instruções daquela voz, quem levou seu marido à vida conventual. Mais tarde viriam seus êxtases, as visões de luzes extraordinárias em sua cela, os anjos... e não sei o que mais!
Anjos?
Sim. Não anjinhos alados, mas pessoas de carne e osso com estranhos poderes. Quando visitei Ágreda pela primeira vez, a própria irmã Catarina me contou que, desde o começo das obras do mosteiro, em 1618, andavam por ali dois rapazes que, sem mal comer e beber, nem cobrar a jornada, trabalhavam de sol a sol nas obras.
E o que tinham a ver com os anjos?
Por exemplo: salvaram muitos trabalhadores de quedas ou ferimentos provocados por desabamentos. Além do mais, conseguiram se tornar muito amigos de irmã Maria de Jesus, exatamente no período de 1620 a 1623, quando ela teve suas experiências místicas mais fortes...
Isso sim é curioso.
Curioso? O que vos parece curioso, frei Alonso?
Bem, lembro o que me disseram dois frades no Novo México; eles haviam investigado as aparições da Dama Azul entre os jumanos. No relatório, afirmaram que aquela mulher havia falado de "senhores do céu" capazes de passar inadvertidos entre nós e de provocar todo tipo de fenômeno extraordinário.
Que tipo de fenômeno?
De todo tipo, padre. Inclusive, explicou que esses anjos é que e a levavam pelos ares.
Santo Deus, frei Alonso. Descobri o quanto puderdes sobre esse assunto. Anjos que podem se camuflar entre nós e levar as pessoas pelos ares me deixam intranqüilo. E ao Santo Ofício também, acreditai.
A grande silhueta de Txema Jiménez falando na frente da placa de Ágreda, alguns dias antes, martelava na cabeça de Carlos. Enquanto se acomodava na poltrona 33-C do 767 da American Airlines que o levaria a Los Angeles, pensava em como havia chegado até ali. A sucessão de acontecimentos, de conexões sutis, achados e encontros fortuitos era incrível.
"Eu acredito no destino", repetia o fantasma de suas memórias com a voz do fotógrafo. "E, às vezes, sua força nos empurra com o ímpeto de um furacão." Carlos remexeu-se. "... com o ímpeto de um furacão."
Na tarde anterior, depois de abandonar o escritório de dom Enrique Valiente, Carlos havia telefonado para o diretor da revista Mistérios. José Campos, acostumado aos vaivéns de seu melhor jornalista, aceitara desembolsar as 250 mil pesetas da passagem de última hora para Los Angeles. "É melhor me trazer uma boa história", ameaçara-o sem muita seriedade. "Ou duas."
Mas, dessa vez, Carlos não temia o fracasso. E isso era estranho.
Aquela sucessão de sincronicidades o levava ao território da confiança. Da segurança em sua própria estrela. E disso à fé era só um passo.
Seus pensamentos não o deixaram ver que o avião estava quase vazio. Era quarta-feira. Em um mês nada significativo para sair de férias. Por isso, sua fila de poltronas estava tentadoramente vazia. Mas Carlos estava com a mente em outras coisas. Desde sua visita a Ágreda primeiro, a Bilbao e aquele avião depois, tudo havia ocorrido muito rápido. Quase como se aqueles acontecimentos - o roubo na Biblioteca Nacional inclusive - houvessem sido escritos muito antes e ele se limitasse a agir seguindo um roteiro preestabelecido. "Eu daria tudo para conhecer o libretista desta ópera!", pensou. Sentia-se como quando, na infância, copiava frases absurdas com uma caligrafia que não era a sua, imitando a letra dos cadernos Rubio.
Que explicação tinha, por exemplo, o fato de o diretor de sua revista o mandar para o outro lado do oceano sem lhe pedir explicações? Nenhuma!
No fundo, tantas facilidades o inquietavam. Até a Interpol não havia se incomodado em ajudá-lo. Em sua bagagem de mão levava o número de fax do diretor de delitos de patrimônio do FBI de Los Angeles, Mike Sheridan, com quem tinha um encontro marcado em apenas 24 horas. Mas tudo aquilo, longe de reconfortá-lo, fazia com que se sentisse desconfortável, manipulado. A questão era por quem. E para quê.
Que força maior o arrastava aos Estados Unidos atrás de uma mulher cujo único delito era ter perguntado na hora errada por um documento roubado? A probabilidade de que aquela "pista" fosse uma mera ilusão era altíssima. Mas, com o aval de seu diretor e as passagens de avião na mão, já não podia voltar atrás.
Com o ímpeto de um furacão.
Carlos sussurrou aquela frase pela terceira vez. E, sem abrir os olhos, abandonou seu caderno de anotações e fechou o livro que estava lendo. Era de um psicólogo de Princeton, um tal de Julian Jaynes, que tentava explicar cientificamente alguns dos mais importantes fenômenos místicos da História.
Místicos... Loucos! - resmungou.
O avião de motores Pratt & Whitney planou suavemente sobre o Atlântico, acima do nível de voo 330, enquanto o comandante anunciava a seus passageiros que estavam deixando as Açores ao Sul.
Nas próximas dez horas, percorreremos quase oito mil quilômetros até o aeroporto de Dallas-Fort Worth, Texas - anunciou -, e depois mais dois mil até nosso destino final em Los Angeles. Tenham um vôo agradável.
Distraído, acomodado em sua poltrona da classe turística, Carlos processou a informação: aqueles oito mil quilômetros representavam, metro a mais ou a menos, a mesma distância que a madre Ágreda devia ter superado em estado de bilocação. Ou seja, aquela mulher de três séculos atrás vencia dezesseis mil quilômetros - quase metade de uma volta completa ao mundo - no tempo de um êxtase. Para fazer a mesma coisa, ele ia precisar de nove horas e um aparelho de tecnologia impressionante.
Impossível. É simplesmente impossível - sussurrou. Respirou fundo antes de se abandonar a um aconchegante torpor. Se tudo corresse bem, pensou, dormiria pelo menos até sobrevoar a Flórida. Soltou os cadarços das botas, a gola da camisa, e, reclinando ligeiramente a poltrona, cobriu-se com uma manta para tentar cochilar.
Achou que poderia.
Ao cabo de um segundo, notou que alguém se sentava na poltrona ao lado. "Com tantas poltronas livres, tem de vir me incomodar", pensou. Ia se mexer para dar as costas ao inoportuno passageiro quando uma voz suave, de mulher, com um forte sotaque italiano, fê-lo estacar.
Nada é impossível, Carlos. Essa palavra não existe no vocabulário de Deus.
Seus olhos se abriram como duas bolas de gude. O jornalista levantou-se sobressaltado e fixou-se em sua interlocutora.
Nós... nós nos conhecemos? - hesitou.
A mulher que havia ocupado a poltrona contígua tinha algo de hipnótico. Era morena. Sua cabeleira lisa estava presa em um rabo-de-cavalo, que acentuava a beleza de seu rosto doce, em formato de lua. Seus olhos verdes, brilhantes, escrutavam-no com curiosidade. Usava um suéter de lã preto justo. E, se precisasse imaginar sua procedência, Carlos teria dito que era napolitana.
Se nos conhecemos? Você a mim, não. Ou não diretamente. Mas também não importa.
O que aquela mulher tinha de estranho? A reação do metabolismo de Carlos foi desproporcional: seu ritmo cardíaco atingiu 120 pulsações por minuto e uma descarga de adrenalina o fez tremer da cabeça aos pés. Ali, a 37 mil pés acima do nível do mar, com uma temperatura externa de -80°C, o simples timbre de sua voz o havia levado ao limite de sua capacidade cardíaca. E em um segundo!
- Já ouviu falar do Programador? - perguntou a passageira.
Programador?
Carlos sabia do que ela estava falando. Claro. Aquele velho professor de matemática que conhecera havia algumas semanas o mencionara pela última vez. Mas decidiu negar com a cabeça.
Como se pudesse ler sua mente, a mulher sorriu:
Foi ele quem escreveu este roteiro. Não era você que o queria conhecer?
O jornalista engoliu em seco.
Mas como...?
Como sei? - a garota assoviou enigmaticamente enquanto se acomodava em sua poltrona. - Também sei o que vai fazer em Los Angeles. E que nos persegue.
Persigo?
Sim. Não lembra? Há alguns dias, tomou a decisão de "caçar o Programador". Tudo começou com essa medalhinha no seu pescoço. A que você encontrou na porta de sua redação.
Carlos acariciou a medalha enquanto ela lhe fornecia outro detalhe:
Essa medalha é minha, Carlos.
Ele empalideceu.
- Sua?
Eu a coloquei ali para o atrair exatamente aonde está hoje. Achei que estava preparado para isso.
Mas quem é você?
Chamam-me de muitas formas. Mas, para que você entenda, direi que sou um anjo.
Carlos puxou a correntinha com a medalhinha para se certificar de que estava acordado. Sentiu o ouro se cravar em seu pescoço. O livro que acabara de fechar, A origem da consciência na quebra da mente bicameral, era um ousado ensaio que tentava explicar justamente a origem das "vozes na cabeça" e as visões religiosas na História. Ele havia acabado de ler que grandes profetas bíblicos, Maomé, o herói sumério Gilgamesh ou centenas de santos cristãos tiveram visões nas quais confundiram a realidade com as alucinações devido a um problema neurológico comum. Julian Jaynes afirmava que, até o ano de 1250 a.C., a mente daqueles homens era dividida em dois compartimentos que ocasionalmente "falavam" entre si, dando base para o "mito" das vozes divinas. Os profetas, portanto, foram homens com uma massa encefálica primitiva. Por isso, quando os hemisférios direito e esquerdo do cérebro humano evoluíram o suficiente para se conectarem entre si, as vozes desapareceram por completo... e, com elas, os deuses antigos.
E ele?
O que estava acontecendo com ele?
Um anjo. Pois bem - Carlos tentou acalmar seu ritmo cardíaco, que ainda pulsava em seu peito com força.
Surpreso?
A mulher tocou o pescoço de Carlos, deixando-o perceber a pele suave e quente de suas mãos. Com delicadeza, pegou a medalhinha, olhando para ela com afeto.
A Verônica... - disse. - É uma de minhas imagens favoritas.
Digamos que acredite - o jornalista interrompeu-a - que você pôs esta medalha em meu caminho para me atrair para tudo o que está acontecendo comigo. Então, qual é seu papel nisso? Por que se apresenta a mim assim, de repente?
Meu trabalho consiste em proteger um velho segredo. Algo que só um homem antes de você nos arrancou sem querer.
Não me diga...
Chamava-se Alonso de Benavides. E é seu segredo que estou tentando proteger, para que não caia em mãos equivocadas. Quanto ao fato de me apresentar assim... - hesitou. - Sei que não vai acreditar.
Experimente. Se eu acreditar que é um anjo, posso aceitar qualquer coisa.
Embora possa tocá-lo, embora você me veja aqui - disse -, na realidade sou uma projeção. Um duble. Uma imagem bilocada.
É mesmo?
Sabia que não ia acreditar. Agora mesmo, outra parte de mim está em Roma indo para o aeroporto Leonardo da Vinci para pegar um avião para a Espanha.
Sei.
A mulher não se alterou com a desconfiança que seu interlocutor demonstrava.
Logo se convencerá de nossa existência. É questão de tempo.
"Nossa existência"? - perguntou Carlos.
Vamos, Carlos! - Os olhos verdes da mulher cintilaram à luz da cabine. - Não imagina que trabalho sozinha, não é? Nunca leu nada sobre anjos? Foi minha espécie que advertiu José em sonhos de que Herodes tramava contra sua mulher e seu filho. Ali, agimos sutilmente, penetrando em sua psique. Mas Jacó brigou corpo a corpo com um dos nossos e quebrou-lhe uma perna. Está escrito na Bíblia. E Abraão deu-nos comida. Em Sodoma, até tentaram abusar de nós, porque lhes parecemos belos. De carne e osso. Lindos. Nunca leu as Escrituras?
Carlos estava atônito.
E por que está me contando isso?
Primeiro, para que saiba que existimos. Está me vendo. Embora bilocada, eu sou tão real quanto você - sorriu outra vez, tornando a tocar o pescoço dele. - E, segundo, porque acreditamos que vai nos ajudar com nosso segredo.
O jornalista remexeu-se em sua poltrona.
O que a faz pensar isso?
Tudo se encaixa, meu amigo. Você chegou perto do nosso segredo na Itália, quando conversou com o padre Baldi. Foi lá que o conhecemos.
A Cronovisão?
Ela assentiu. Uma torrente de imagens inundou a mente de Carlos. Sua visita à ilha de San Giorgio Maggiore. Txema bombardeando Giuseppe Baldi com flashes. Ele tentando levar seu interlocutor a um assunto a respeito do qual passara vinte anos tentando não dizer nem uma palavra. E, depois, sua reportagem. A grande satisfação dos leitores. Sua obsessão por saber mais...
Após seu encontro com Baldi, vimos que você era um sujeito peculiar. Incrédulo por fora, Carlos, mas, no fundo, por dentro, havia uma enorme vontade de acreditar. Então, canalizamos sua busca pela transcendência para nossos interesses.
Canalizaram?
Por exemplo: por que acha que liguei para o padre Tejada em Bilbao na noite em que entramos na Biblioteca Nacional, se não foi para lhe deixar uma pista a seguir?
Carlos estremeceu.
Não precisa se sentir mal. Fazemos isso há séculos.
É mesmo?
Claro - a mulher olhou outra vez para ele com aquele par de esmeraldas. - Eram nossas as vozes que ouviram Constantino, George Washington, Winston Churchill e tantos outros personagens em momentos decisivos da História. Leia suas biografias e encontrará as alusões a essas inspirações! Mas também fomos nós que guiamos Moisés para fora do Egito, que levamos pelos ares Elias e Ezequiel e que escurecemos Jerusalém quando Jesus morreu na cruz.
E as sincronicidades? As coincidências impossíveis?
Essa é nossa especialidade! Adoramos, Carlitos!
O jornalista tornou a sentir aquele estranho choque percorrendo suas costas. Só José Luis o chamava assim. O homem que havia lhe falado das sincronicidades e de Jung pela primeira vez. Ela também sabia?
Mas eu pensava que os anjos eram incorpóreos... - protestou.
É um erro muito comum.
E por que veio me ver?
A palavra anjo, meu amigo, vem do grego, "mensageiro". Portanto, vim entregar a você uma mensagem.
Uma mensagem?
Nessa bolsa você tem informações de Linda Meyers, uma médica de Los Angeles que há quarenta e oito horas telefonou para a Biblioteca Nacional perguntando por um manuscrito roubado.
Carlos decidiu deixá-la falar.
Pois bem: precisa saber que ela não é seu objetivo final. Vim para lhe poupar tempo.
Meyers não é meu objetivo?
Não. Tome nota do nome que precisa procurar. Ela, e não a doutora, o ajudará a resolver o caso. Chama-se Jennifer Narody. Estamos há algum tempo entrando em seus sonhos, preparando tudo para sua chegada.
O anjo falou aquele nome bem devagar enquanto Carlos tomava nota.
Ela tem o segredo. Mas não sabe.
E como isso é possível? - Carlos sentia, ainda, seu coração bater acelerado. Sua pulsação o fez escrever o nome com um garrancho. Escreveu-o em seu caderno de capa de cortiça como se fosse a última coisa que fizesse naquele dia.
- Como é possível? Digamos que eu o pus nas mãos dela só para que acabasse nas suas. Acha estranho?
A jovem já não disse nada mais. Levantou-se da poltrona, guardou em um bolso de sua saia preta a medalha que o jornalista usava e, com a desculpa de retornar a seu lugar, afastou-se pelo corredor para o setor de primeira classe do avião.
Foi então que ele os viu.
E outra chicotada no peito tornou a acelerar sua pulsação.
Aquela garota, impecavelmente vestida de negro, usava mocassins vermelhos!
As diferenças de horário são difíceis de calcular quando se voa a mais de 10 mil metros de altura e se cruzam os imaginários meridianos terrestres a 900 quilômetros por hora. Cada uma dessas linhas fictícias, dispostas em intervalos de 15 graus sobre o planisfério, marca uma hora de diferença em relação à anterior. Então, bem se poderia dizer que a cinco meridianos de distância, entre o 767 da American Airlines e a praia de Venice, na Califórnia, Jennifer Narody recebia uma nova peça desse quebra-cabeça do qual ainda não sabia que fazia parte.
Dessa vez, sua psique voava na direção contrária à de Carlos.
Rumo à Espanha.
ÁGREDA, SORIA
30 DE ABRIL DE 1631
Mais de seis meses Benavides esteve na Madri dos austrias, cuidando de sua cada vez mais volumosa correspondência e das ocupações nascidas à sombra do sucesso do Memorial. Nos corredores do palácio, não recordava uma expectativa semelhante, e isso acabou pagando o bom frade com uma montanha de cartas, felicitações e compromissos inesperados, que o obrigaram a deitar raízes além da conta junto à corte.
A burocracia da capital retardou sua investigação sobre o "caso da Dama Azul", enchendo-o de tristeza. Porém, as intrigas palacianas, principalmente as dos dominicanos tentando convencer o rei a investigar os números de convertidos no Novo México, mantiveram-no alerta. Benavides, felizmente, conservava o ânimo intacto para continuar lutando por seus interesses. Sabia bem que os "cães do senhor", os domini canes, pretendiam enviar os próprios missionários ao rio Grande e impedir que Benavides levasse toda a glória pelas conversões.
Mas os planos deles fracassaram.
Felizmente, em abril de 1631, chegou a frei Alonso a documentação e a licença necessárias para abandonar Madri e prosseguir com sua tarefa. Os resultados de seu trabalho paralisariam as ambições dominicanas para sempre. Estava autorizado a visitar o mosteiro da Conceição de Ágreda e a interrogar sua abadessa; e era exortado a redigir um relatório com suas averiguações.
Aquilo deu novos brios ao português.
No dia 30 de abril, pela manhã, a carroça de Benavides, uma discreta carruagem de madeira adornada com ribetes de cobie e ferro, avançava a galope pelos sóbrios campos sorianos em direção às faldas do Moncayo. Em seu interior, o antigo responsável pelo Santo Ofício no Novo México ultimava os preparativos.
Quer dizer que vós fostes confessor de madre Ágreda antes que se tornasse abadessa...
O balanço da carruagem sacudia também o padre Sebastián Margila. Seu estômago ia da esquerda para a direita, ao compasso dos caprichos do veículo. O padre Margila estava havia bom tempo tentando se controlar, de modo que não lhe foi difícil simular a compostura necessária para responder.
Isso mesmo, frei Alonso. De fato, fui eu quem escreveu ao arcebispo do México alertando-o do que podia acontecer se as regiões do Norte fossem exploradas.
O que podia acontecer? A que estais vos referindo?
A que fossem descobertos novos reinos como os de tidán, chilliescas, carbucos ou jumanos.
Ah, fostes vós?
A cara de lua do padre Margila iluminou-se de satisfação.
Adverti Sua Eminência Manso y Zúniga acerca da existência dessas regiões, e, se Vossa Paternidade leu minha carta, sem dúvida não ignorou meu convite para comprovar a existência de vestígios de nossa fé nessas terras.
E, claro - deduziu Benavides -, essa informação a transmitistes a madre Ágreda.
Naturalmente.
E como ousastes transgredir um segredo de confissão?
Na realidade, não foi assim. As confissões eram exercícios de mea-culpa, entoados por uma freira jovem que não compreendia o que estava acontecendo com ela, mas em nenhum caso foram fonte de detalhes tão precisos. Acreditai, nunca a absolvi de seus "pecados de geografia".
Ora... - assentiu agora com um gesto frei Alonso - pois devo dizer-vos que, de todos esses reinos, eu só conheço o dos jumanos, que está situado ao noroeste do rio Grande. Do resto, nenhum franciscano ou soldado de Sua Majestade soube nada ainda.
Nada? - o tom do padre Margila soou incrédulo.
Nem uma palavra.
Talvez não seja tão estranho. Teremos tempo de esclarecer esses pontos com a própria abadessa de Ágreda, que nos prestará conta de tudo que lhe pedirmos.
Frei Alonso de Benavides e o provincial de Burgos, Sebastián Margila, deram-se bem de imediato. Margila havia se juntado, na cidade de Soria, à carruagem do veterano custódio do Novo México; e, desde então, ambos compartilharam horas que lhes valeram tanto para combinar sobre o questionário a que pretendiam submeter a religiosa quanto para estabelecer os limites de suas competências.
Foi tanto e tão intenso o que falaram, que nenhum deles notou nem as mudanças abruptas da paisagem nem o perfil dos povoados que atravessaram; nem, a propósito, a breve chegada ao destino.
À primeira vista, Ágreda se perfilava como um sereno recanto das terras altas de Castela, passagem obrigatória entre os reinos de Navarra e Aragão, e encruzilhada para pecuaristas e agricultores. Como em qualquer vila de fronteira, as poucas famílias nobres do local e as ordens religiosas eram seus únicos pontos de referência permanentes. E o mosteiro da Conceição estava entre eles.
Naquele claustro recém-inaugurado, tudo estava preparado para aquele que tinham de vir. As freiras haviam colocado um longo tapete púrpura entre o caminho de Vozmediano e a porta da igreja, e até haviam disposto mesas com massas, água e um pouco de bom vinho para deleite de seus ilustres visitantes.
Graças à licença conseguida pelo padre Margila, a congregação inteira aguardava fora do claustro a chegada da delegação. Ali, oraram e cantaram durante toda a manhã, percorrendo o via-crúcis do muro externo seguidas por um número crescente de fiéis que sabiam da importância da delegação que esperavam.
Por isso, quando a carruagem de Benavides parou em frente ao tapete vermelho, um silêncio supersticioso apoderou-se dos presentes.
Da carruagem, a visão não podia ser mais reveladora: as freiras, dispostas em duas filas e encabeçadas por um franciscano e uma irmã, que logo deduziram ser a madre Ágreda, aguardavam impacientes. Como ensinava a regra de Santa Beatriz da Silva de 1489, todas elas usavam hábito branco, escapulário de prata com a imagem da Virgem, véu preto na cabeça e aquele impressionante manto azul...
- Que Deus nos assista!
O inesperado lamento do padre Benavides surpreendeu seu acompanhante. Murmurou-o assim que pôs o pé na terra e deu uma olhada na paisagem. Margila assustou-se.
Estais bem, irmão?
Perfeitamente. É só que essas paragens planas, esses vales cheios de plantações e esses hábitos azuis parecem o reflexo das terras que deixei do outro lado do mar. É como se já houvesse estado aqui!
Omnia sunt possibilia credenti - sentenciou Margila de novo. - Para o crente, tudo é possível.
A recepção foi mais breve que o previsto. Após descer da carruagem, entre os te-déum e as genuflexões das freiras, o franciscano que acompanhava as religiosas apresentou-se como frei Andrés de la Torre, confessor de irmã Maria de Jesus desde 1623, e frade residente do mosteiro vizinho de São Julião. À primeira vista, parecia de caráter afável. Um homem ossudo, de nariz torto e grandes orelhas em forma de sino que lhe conferiam certo aspecto de roedor. Quanto à madre Ágreda, sua aparência era bem diferente: tinha pele branca como o leite, rosto alongado e ligeiramente rosa, e grandes olhos pretos com imensas pupilas pardas, que lhe conferiam um olhar harmônico e forte ao mesmo tempo.
Benavides sentiu-se impressionado.
Bem-vindas sejam Vossas Paternidades - disse. E, sem fazer uma pausa, acrescentou: - Onde desejais interrogar-me?
O tom da suposta Dama Azul soou seco. Como se não lhe agradasse ter de prestar contas de suas intimidades a um estranho.
Acho que a igreja será o lugar adequado - murmurou Margila, recordando seus tempos de sacerdote naquele recinto. - Podemos entrar nela sem profanar o claustro e poder-se-ia habilitar ali uma mesa com luz, tinta e todo o necessário. Além do mais, dessa maneira teremos Nosso Senhor como testemunha.
Benavides aceitou a sugestão de bom grado e deixou a abadessa intervir.
Nesse caso, encontrareis tudo preparado amanhã às oito em ponto.
Comparecereis a essa hora?
Sim, se essa for a vontade do comissário-geral e de meu confessor. Desejo enfrentar o quanto antes vossas perguntas e dissipar as dúvidas que tenham trazido convosco.
Tenho certeza de que será menos doloroso do que imaginais, irmã - acrescentou o português.
Também a crucificação de Nosso Senhor foi dolorosa, e nem por isso deixou de ser necessária para a redenção da humanidade, padre.
A súbita irrupção das irmãs entoando o Gloria in Excelsis Deo a caminho do claustro salvou Benavides de responder ao comentário.
E agora, se nos desculpais - disse madre Ágreda -, devemos nos recolher para nossas vésperas. Servi-vos do ágape que vos preparamos. Frei Andrés arranjou tudo para que vos alojeis no convento de São Julião.
E, dizendo isso, perdeu-se claustro adentro.
Mulher de caráter forte.
Sem dúvida, padre Benavides. Sem dúvida.
Carlos demorou alguns minutos para recuperar o fôlego. Não saberia dizer por que, mas a proximidade daquela mulher o havia afetado profundamente. Um anjo? E o que importava?! Parecia saber tudo dele! Ele, porém, ignorava tudo dela.
Se, como suspeitava, a italiana que havia tentado sumir com as páginas do livro de Castrillo e o anjo fossem a mesma pessoa, talvez ela soubesse algo sobre o Memorial. Tudo parecia estranhamente relacionado!
Deixou a poltrona 33-C e a grandes passos chegou às poltronas da primeira classe. Não a viu.
Uma mulher morena, vestida de preto e sapatos vermelhos?
A comissária de bordo balançou a cabeça incrédula.
Lamento, senhor. Estamos só com trinta passageiros a bordo. Nenhum na primeira classe. E posso garantir que nenhuma passageira com essas características embarcou.
"Um anjo?"
Carlos permaneceu acordado durante o resto do vôo. E agora, a quem ia contar aquilo?
Antes de se dirigir ao aeroporto internacional Leonardo da Vinci de Roma, o padre Giuseppe Baldi deu uma volta pela delegacia dos sampietrini. já havia decifrado o sinal que o levaria a seu passo seguinte, mas, por ora, preferia manter a discrição. Queria, não obstante, resolver um pequeno detalhe antes de abandonar o Vaticano. E ali não foi difícil chegar até a sala do capitão Ugo Lotti, o homem com cara de abóbora, ruivo, que o atendera na basílica na tarde anterior.
O capitão Lotti se ofereceu para esclarecer qualquer dúvida que tivesse. Infelizmente, as 24 horas transcorridas desde o incidente não haviam lhe servido para determinar as circunstâncias do ataque à coluna de santa Verônica. A guarda suíça continuava na mais absoluta incerteza e ignorava o motivo que podia induzir a atentar contra uma obra de arte como aquela.
- É um caso bastante estranho - admitiu o oficial enquanto passava a mão sobre sua pasta marrom. - As bombas foram colocadas em três pontos fracos da estrutura da torre, com uma perícia que nos permite afirmar que se tratava de uma profissional. Mas, ao mesmo tempo, tudo foi urdido como se, na realidade, não se quisesse causar dano ao monumento.
Quer dizer que essa mulher não pretendia destruir nada, só chamar ou distrair a atenção de alguém?
Sim, é o que parece.
Não me parece muito convencido disso.
Veja, padre: todo ano, há cinco ou seis tentativas de agredir uma das 395 estátuas da basílica de São Pedro. A Pietà é a mais vulnerável, mas nunca antes haviam atentado contra a Santa Verônica, uma obra menor de Francesco Mochi, sem nenhuma relevância particular...
Talvez não fosse a estátua que quisessem destruir. Talvez tenha sido um ato simbólico. Já pensou nisso?
O capitão Lotti balançou-se em sua poltrona e abordou seu visitante em um tom propositalmente cúmplice.
Por acaso o senhor sabe de algo que eu deveria saber?
Infelizmente, não - respondeu.
Baldi não esperava aquela pergunta, e hesitou.
Agora sou eu quem não o vê muito convencido, padre.
Eu estudei a história dessa coluna, mas não encontrei nada - justificou-se o sacerdote. - Como deve saber, foi desenhada por Bramante, mas, quando Júlio II encomendou a Michelangelo a construção da cúpula, este modificou o projeto, tornando-a mais sólida. Então, foram projetados "vãos" para abrigar tesouros.
Chama as santas relíquias de tesouros? - o sampietrino olhou para o padre sorrindo.
Bem, na coluna agredida guarda-se o lenço original da Verônica, no qual se acredita que Jesus enxugou seu suor a caminho do calvário. Alguns, inclusive, acreditam ver nessas manchas o perfil do rosto do Messias.
E o senhor sabe alguma coisa sobre essa Ordem da Santa Imagem?
Nem uma palavra.
Então, por que veio me ver, padre?
O "evangelista" endireitou as costas.
Por dois motivos: primeiro, para lhe dizer que hoje deixarei Roma, mas que poderá me localizar por meio da Secretaria de Estado. Eles saberão a todo momento onde me encontro. E, segundo... - hesitou -, para que me diga, se puder, se o filme que confiscaram na basílica lhes forneceu alguma pista.
Ah! Esse é outro belo mistério. Ontem, naturalmente, revelamos o rolo em nossos laboratórios, e na última foto apareceu algo muito estranho...
O suíço procurou nas pastas até localizar a imagem.
Aqui está. Consegue ver?
Baldi pegou-a nas mãos. Era uma cópia de 15 x 20 centímetros, em papel mate. Observou-a com cuidado durante alguns segundos. A tomada era de uma qualidade deficiente e estava quase velada. Na parte inferior distinguia-se o piso de mármore da basílica e, muito ao fundo, as pontas de uns mocassins vermelhos, novos, impecáveis. Não obstante, o mais chamativo não era o que estava sobre o pavimento, mas o que ocupava o flanco central esquerdo do instantâneo.
O que o senhor acha que pode ser?
Não tenho a menor idéia, capitão. Já lhe disse, na basílica, que o flash da câmera me cegou e não me deixou ver para onde a mulher fugiu. O que não recordava - sorriu - é que usava sapatos tão exóticos.
Mas como uma câmera tão ridícula poderia cegá-lo, padre? - protestou o policial.
Eu sei. Até o proprietário estava assombrado com o brilho. E, se a esse detalhe o senhor juntar agora esta foto, tudo se complica, não é?
O "evangelista" apontou para uma série de estranhas marcas luminosas que se estendiam como a rabiola de um papagaio ao longo da foto. Perguntou ao policial o que achava. O capitão não soube o que dizer.
Talvez sejam as chamas de algumas velas que, com a exposição...
Mas, capitão - objetou Baldi -, o senhor disse que era uma câmera ridícula, dessas que têm flash embutido e que não permitem fazer fotos com exposição.
Então, talvez se trate de um defeito da lente.
Mas essas marcas apareceriam em todas as fotos, não é?
Tem razão - reconheceu. - Essas marcas não aparecem em nenhuma das fotos restantes, e não têm explicação alguma. Ontem à tarde, o tenente Malanga ampliou esse segmento da imagem com a ajuda de um computador, mas não encontrou nada por trás das linhas. São só isso: linhas.
Linhas invisíveis ao olho humano, capitão.
O beneditino ajustou os óculos no nariz antes de prosseguir.
Embora possa parecer ridículo, sabe que impressão me causam?
Diga-me.
O "evangelista" sorriu de orelha a orelha, como se fosse debochar do homem com cara de abóbora.
Que são as "asas" de um anjo, capitão.
Um anjo?
Sabe, um ser de luz. Um desses personagens que, segundo as Escrituras, aparecem sempre para nos trazer alguma mensagem, algum recado do Altíssimo. Um sinal.
Ah, claro - respondeu Ugo Lotti sem entusiasmo. - Mas um anjo em São Pedro...
Posso ficar com ela?
A foto? Por que não? Temos o negativo.
A vida da Dama Azul es tivera sujeita a uma férrea rotina durante os últimos dez anos. Aquele fim de dia não parecia ser uma exceção.
Ao cair do sol, por volta das oito da noite e mal tendo jantado, irmã Maria de Jesus retirou-se a sua cela para fazer um exame de consciência acerca do que havia sucedido durante o dia. Fazia isso sempre em silêncio, alheia às tarefas de suas irmãs, mergulhada em um estado que parecia a todas elas doloroso e lamentável.
A religiosa orou até as 21h30, deitada de bruços no piso de tijolos do quarto. Depois, lavou-se com água fria e deitou-se para cochilar sobre uma áspera tábua de madeira, tentando não pensar na lancinante dor que já era dona de suas costelas.
Por volta das onze, quando as demais irmãs estavam enclausuradas em suas celas, irmã Maria de Jesus submeteu-se, também como de costume, ao "exercício da cruz". Era uma prática terrível. Durante uma hora e meia torturava-se e golpeava-se com pensamentos sobre a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo; depois, carregava nos ombros uma cruz de ferro de 50 quilos, arrastando-se de joelhos até cair exausta. A seguir, após uma pausa para repor suas forças, pendurava a cruz na parede da cela e se suspendia nela por mais trinta minutos.
Irmã Prudência a avisava toda madrugada, às duas horas, para que descesse para o coro e presidisse as matinas, que costumavam se prolongar até as quatro. Sempre comparecia. Não importava se estivesse com febre, doente ou ferida. Mas, naquele dia, justo naquele dia, preferiu ficar no andar de cima. Queria disfarçar a aflição que lhe causava saber que, em poucas horas, uma comissão de frades a submeteria a um interrogatório.
A duzentos passos dali, no convento de São Julião, a última noite de abril havia passado mais tranqüila. Às sete horas em ponto, os padres Maigila e Benavides haviam completado suas orações e ingerido um frugal café-da-manhã à base de frutas e pão. Haviam tido tempo suficiente para organizar as folhas de pergaminho necessárias para anotar as respostas da madre Ágreda.
Misericórdia, mãe de Deus, misericórdia.
A angústia de irmã Maria de Jesus vazava por baixo da porta de sua cela.
Sabeis que vos sou fiel e que guardo com discrição as coisas maravilhosas que me ensinastes. Sabeis que nunca trairei nossos diálogos... Mas socorrei-me neste difícil momento.
Nenhuma irmã a ouviu. Também ninguém respondeu a suas súplicas. Aturdida pelo silêncio, a abadessa deitou-se no catre, mas não conciliou o sono.
Trinta e cinco minutos depois, o mosteiro de São Julião abriu-se para frei Andrés de la Torre e o secretário encarregado de transcrever o interrogatório. Depois dos cumprimentos de praxe e de se certificar de terem o que precisavam, os quatro cruzaram o povoado de Ágreda. Caminharam até o claustro conceicionista. E ali, como havia prometido a abadessa, encontraram uma mesa e cinco cadeiras bem dispostas e dois grandes candelabros nas duas cabeceiras da tábua.
Não se podia pedir mais. A igreja era um lugar fresco e tranqüilo, discreto, que tornaria seu trabalho mais confortável. De quebra, permitiria a algumas irmãs da congregação espiarem do coro situado acima da porta do templo.
A abadessa foi pontual. Usava o mesmo hábito da tarde anterior, e seu jovem rosto denotava evidentes sinais de cansaço; já eram muitos anos dormindo duas horas diárias.
Irmã Maria de Jesus cumprimentou os quatro padres que a aguardavam. E, após fazer uma reverência em frente ao sacrário do altar-mor, sentou-se e esperou que se completassem os primeiros formalismos. Seus olhos brilhavam. Haviam passado a noite chorando.
Em primeiro de maio do ano do Senhor de 1631, na igreja matriz do mosteiro da Conceição de Ágreda, procedemos ao interrogatório de irmã Maria de Jesus Coronel y Arana, natural da vila de Ágreda e abadessa desta Santa Casa.
Irmã Maria ouviu, em silêncio, o escrivão pronunciar seu antigo nome completo enquanto lia a ata. Quando terminou, ergueu os olhos da página - quase em branco - e perguntou à religiosa:
Sois vós irmã Maria de Jesus?
Sim, sou.
Sabeis, irmã, por que haveis sido convocada hoje perante este tribunal?
Sim. Para prestar contas de minhas exterioridades e dos fenômenos que Deus Nosso Senhor quis que protagonizasse.
Neste caso, respondei sob juramento a tudo que vos for perguntado. Para este tribunal, o segredo de confissão foi suspenso e deveis responder a todas as questões com cristã humildade. Aceitais?
Ela assentiu. A religiosa encarou frei Alonso de Benavides nos olhos. Seu aspecto severo e seu grande nariz recordaram-lhe a efígie de São Pedro que presidia o altar daquele mesmo templo. Era um homem investido de autoridade. Benavides estava sentado em frente a ela, atrás de uma pilha de papéis com anotações indecifráveis e um exemplar da Bíblia. Ao sentir-se observado pela abadessa, tomou a iniciativa.
Em nossos relatórios consta que haveis experimentado fenômenos de transe, de êxtase. Podeis explicar a este tribunal quando começaram?
Aproximadamente há onze anos, padre, em 1620, quando tinha dezoito anos recém-completados. Foi quando Nosso Senhor quis que me assaltassem transes durante os ofícios religiosos, e que algumas irmãs me vissem elevar-me do chão.
Benavides escrutou-a.
Não foi um dom que solicitei, padre, mas que me foi concedido, como a minha mãe, Catarina. Ela também teve seus transes, e tanta foi sua fé que, já idosa, decidiu professar como freira desta Ordem.
Levitastes?
Foi o que me disseram, padre. Nunca tive consciência disso.
E como explicais que vossos transes transcendessem os muros do claustro?
Meu antigo confessor, frei Juan de Torrecilla, não era um frade especialista nesses assuntos.
Que quereis dizer?
Que, levado pelo entusiasmo, comentou esses acontecimentos fora daqui. A notícia despertou interesse em toda a região e muitos fiéis vieram me ver.
Vós sabíeis?
Na época, não. Mas estranhava acordar na igreja cercada de laicos. Porém, como sempre que saía desse estado trazia o coração cheio de amor, não prestei muita atenção nem lhes perguntei acerca de sua atitude.
Recordais quando ocorreu o primeiro êxtase?
Perfeitamente. Um sábado depois da Páscoa do Espírito Santo do ano de 1620. O segundo foi no dia da Madalena.
Frei Alonso inclinou-se por sobre a mesa para tentar dar mais ênfase a suas palavras.
Sei que o que vou perguntar é matéria de confissão, mas ouvimos que gozais do dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo.
A freira assentiu.
Tendes consciência desse dom, irmã?
Só às vezes, padre. De repente, minha mente está em outro lugar, mas não sei vos dizer nem como cheguei lá nem que meio utilizei. No início, foram viagens sem importância, aos extramuros do mosteiro. Ali via os pedreiros trabalhando, e até lhes dava instruções para que modificassem as obras de uma ou outra maneira.
Eles vos viram, irmã?
Sim, padre.
E depois?
Depois me vi arrastada a lugares estranhos, onde nunca havia estado, e encontrei pessoas que sequer falavam nosso idioma. Sei que preguei a eles a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquela gente de raça desconhecida ignorava tudo sobre a fé. Porém, o que mais me inquietava era ouvir dentro de mim uma voz que me levava a instruí-los. A ensinar-lhes que Deus nos criou imperfeitos e nos enviou Jesus Cristo para nos redimir.
Uma voz? Que tipo de voz?
Uma voz que me fazia sentir mais confiante. Acho que foi o Sancti Spiritu que me falou, como fez aos apóstolos no dia de Pentecostes.
Como começaram essas viagens?
Frei Alonso certificou-se, de soslaio, de que o escrivão tomava nota de tudo aquilo.
Não tenho certeza. Desde menina, preocupava-me saber que nas novas regiões descobertas por nossa Coroa havia milhares, talvez milhões, de almas que não conheciam Jesus, e que estavam fadadas à condenação eterna. Pensar nisso me deixava doente. Mas, em um daqueles dias de dor, enquanto repousava, minha mãe chamou dois pedreiros com fama de curadores. Pediu-lhes que me examinassem com cuidado e que tentassem erradicar a doença que me havia prostrado na cama.
Prossegui.
Os pedreiros trancaram-se em minha cela. Falaram-me de coisas que mal recordo, e revelaram que eu tinha uma missão importante a cumprir.
Não eram pedreiros, não é...?
Frei Alonso recordou as advertências que o comissário-geral em Madri lhe havia feito.
Não. Admitiram ser anjos com uma missão itinerante. Disseram ter meu mesmo sangue. Minha família. E explicaram-me que viviam havia anos entre os homens para ver quem tinha aptidões para Deus. Foi quando me falaram das almas do Novo México e da pressa de nossos missionários de alcançar tão remotas regiões.
Quanto tempo estivestes com eles?
Daquela primeira vez, quase o dia todo.
Retornaram?
Oh, sim. Lembro que nessa mesma noite voltaram, entraram em meu quarto e me tiraram de lá sem acordar ninguém.
Foi tudo muito rápido. De repente, encontrei-me sentada em um trono, sobre uma nuvem branca, e voando pelos ares. Divisei nosso mosteiro, os campos plantados, o rio, a serra do Moncayo, e comecei a subir mais, até que tudo se fez escuro e vi a face redonda da Terra, metade em sombras, metade em luz.
Vistes tudo isso?
Sim, padre. Foi terrível... Fiquei muito assustada. Principalmente quando me levaram acima dos mares até um lugar que não conhecia. Sentia claramente o vento batendo em meu rosto e vi que aqueles pedreiros, transformados em criaturas radiantes, controlavam os movimentos da nuvem, guiando-a ora para a direita, ora para a esquerda, com grande segurança.
Frei Alonso esboçou uma expressão ao ouvir a descrição. Aquele relato coincidia com as reclamações heréticas do bispo de Cuenca, Nicolás de Biedma, investigadas tempos atrás, ou do célebre doutor Torralba, que, entre final do século XI e início do XII, afirmara ter subido em nuvens desse tipo, ter voado a Roma com elas e, pior, ter sido guiado por diabinhos de duvidosas intenções.
Como podeis ter tanta certeza de que aqueles homens eram anjos de Deus?
A freira persignou-se.
Ave Maria! Que outras criaturas poderiam ser?
Não sei. Dizei-me vós, irmã.
Bem - hesitou -, de início, como Vossa Paternidade, perguntei-me se não estaria sendo enganada pelo Maligno, mas depois, quando ao empreender aquele vôo me ordenaram que descesse para pregar a Palavra de Deus, meus receios desapareceram.
Mandaram-na descer, dizeis?
Sim. Estenderam uma espécie de tapete de luz sob meus pés e me ordenaram transmitir uma mensagem a um grupo de pessoas que aguardava. Soube que não eram cristãos, nem muçulmanos ou inimigos de nossa fé. Vestiam-se com peles de animais e vieram a mim impressionados pela luz que a nuvem emitia.
Madre, meu dever é insistir: tendes certeza de que eram anjos?
E como não? - insistiu também a abadessa. - Aquelas pessoas não refutavam minhas palavras; aceitavam de bom grado minha fé em Deus e a consideravam com respeito e devoção. O Diabo não teria resistido tanta louvação a nosso Pai Celestial.
Entendo. E o que aconteceu depois?
Fiz tudo o que me pediram. Naquela noite, visitei mais dois lugares e falei com outros índios, e, embora usassem outras línguas, pareceram me entender.
Como eram?
Chamou muito minha atenção o tom acobreado da pele deles e o fato de quase todos terem o torso, os braços, as pernas e o rosto pintados. Viviam em casas de pedra, como em nossos povoados, só que entravam nelas pelo telhado, e reuniam-se para suas cerimônias em uma espécie de poços em que só podiam entrar homens autorizados por seus bruxos.
Frei Alonso hesitou. Ele mesmo, com os próprios olhos, havia visto tudo aquilo no Novo México. Mas como podia ela...?
Falastes aos índios da chegada dos franciscanos? - prosseguiu.
Oh, sim! Os anjos insistiram nisso. Inclusive, permitiram-me ver lugares onde trabalhavam padres de nossa seráfica ordem. Em um deles, vi um índio chamado Sakmo implorar a um de nossos religiosos, um velho pregador, que levasse a Palavra de Deus ao povoado de que vinha. Aquele Sakmo, um homem adusto, de costas largas e grandes, rogava que lhe designassem missionários que eu mesma lhes havia dito que exigissem.
Isleta!
Não saberia vos dizer como se chamava o lugar, ninguém me disse. Porém, vi, desolada, que o frade lhe negou ajuda por falta de homens. Sabeis? Eu conversei com esse Sakmo pouco antes e disse-lhe para onde devia caminhar a fim de encontrar nossos missionários.
Quantas vezes acreditais ter estado ali?
É difícil de precisar, porque tenho a convicção de que em muitas ocasiões não tive consciência disso. Sonhava diariamente com essas terras, mas não poderia vos dizer se foi porque estava nesse estado, ou porque Nosso Senhor queria que revivesse certas cenas de minha pregação.
Tentai calcular. É importante.
Talvez umas... quinhentas vezes.
Frei Alonso arregalou os olhos. Sua voz tremeu um pouco.
Quinhentas vezes, de 1620 até hoje?
Não, não. Só entre 1620 e 1623. Depois, após pedir a Deus Nosso Senhor e a seus intercessores com todas as minhas forças, cessaram as exterioridades. Foi pouco a pouco. E aqueles anjos que me acompanhavam diariamente começaram a diminuir suas visitas. Primeiro uma por semana, depois uma por mês. E, finalmente, nenhuma.
Entendo... Alguém vos disse como deter vossas "exterioridades"?
Não. Mas mortifiquei meu corpo para detê-las. Parei de comer carne, leite ou queijo e comecei uma dieta só de legumes. Além do mais, três vezes por semana praticava jejum estrito de pão e água. Pouco depois, tudo acabou.
Para sempre?
E quem pode saber disso senão Deus?
Mas uma dama de sua aparência continua se manifestando nessas distantes terras - murmurou Benavides.
Também pode acontecer, padre, que os anjos estejam tomando minha forma e continuem aparecendo entre os índios sem que eu saiba. Ou que tenham pedido a ajuda de alguma outra irmã.
Frei Alonso rabiscou algo em um pergaminho e o dobrou.
Está bem, irmã Maria de Jesus. É tudo por hoje. Devemos pensar acerca do que haveis declarado a este tribunal.
Como desejardes.
A submissão da freira desarmou o português, mas reconfortou o padre Margila, que via com agrado que não estava decepcionando as expectativas do ex-custódio do Novo México. Benavides não tinha mais dúvidas: aquela religiosa era a Dama Azul que procurava. Todo seu esforço se centraria, então, em arrancar-lhe o segredo de suas viagens ao Novo Mundo.
Não iria embora dali sem ele.
Duas horas depois, enquanto despachava sua bagagem no balcão da Alitalia, o beneditino ainda conservava o sorriso irônico que esboçara na delegacia. O aeroporto estava tranqüilo e nas portas de embarque do terminal não havia nem rastro de passageiros.
Baldi atravessou o controle de segurança como se flutuasse em uma nuvem. Não percebeu que uma garota vestida de preto, com mocassins vermelhos, o seguia. O beneditino tinha outras coisas em que pensar. A permissão que o secretário pessoal de Sua Santidade, monsenhor Stanislaw Zsidiv, lhe havia dado aquela manhã depois do susto do dia anterior no confessionário o havia rejuvenescido. Tratava-se de uma autorização speciale modo para que conversasse com o "segundo evangelista". Esse era o sinal! E, embora contrariasse uma vez mais as normas do projeto da Cronovisão, dessa vez era com o salvo-conduto de "são João". Ele lhe havia dito que confiasse nos sinais. E via-se obrigado, agora, a respaldar seu homem.
Volte com notícias antes da assembleia interna do domingo - dissera. - Sua prioridade é encontrar a mulher que trabalhou com Corso. Tomara que "Marcos", o "segundo evangelista", o ajude.
"São Lucas", Giuseppe Baldi, voou até o aeroporto de El Prat em Barcelona, onde fez conexão com um veterano Fokker F27 Friendship da Aviaco com destino ao sempre difícil aeródromo de San Sebastián. Ali, com o cartão de crédito que o próprio Zsidiv lhe havia fornecido, alugou um Renault Clio branco de três portas, com placa de Bilbao, e pegou a estrada A-8 com destino à capital de Vizcaia.
Quarenta e cinco minutos depois, à entrada da cidade, estacionou o carro e parou um táxi, entregando-lhe o endereço de seu destino escrito em um papel. Enquanto refletia sobre com que rapidez se podia cruzar a Europa no final do século XX, o taxista, estranhando as indicações daquele padre de aspecto nervoso, pisou no acelerador em direção à Universidade de Deusto. Em Bilbao. Não demorou nem dez minutos a chegar. No edifício de estilo neoclássico que abriga a Faculdade de Teologia, no segundo andar, "são Marcos", ou melhor, o padre Amadeo Maria Tejada, tinha seu escritório.
Um guia pendurado na entrada especificava o número e a localização de sua sala.
Baldi subiu de dois em dois os degraus da escada de mármore, e, já em frente à porta do gabinete, tentou a maçaneta. Um segundo depois, anunciou-se com os nós dos dedos.
Que deseja?
O padre Tejada, com sua inconfundível silhueta de titã, olhou de cima a baixo seu interlocutor, tentando adivinhar que diabos fazia um homem de idade avançada como aquele em um formigueiro de estudantes, em plena época de provas. Seu visitante usava o hábito de são Benedito e olhava para ele com cara de espanto.
"São Marcos"? - hesitou em italiano.
O rosto do gigante iluminou-se. De repente, compreendia tudo.
Domine Deus! Conseguiu permissão para vir até aqui?
Baldi assentiu. O perfeito sotaque italiano de seu interlocutor estimulou-o a prosseguir a conversa nesse idioma.
Sou "são Lucas", irmão - disse.
O músico! - Tejada ergueu os braços para o céu, como que agradecendo. - Por favor, entre e sente-se. Quanto tempo aguardei uma visita assim!
O titã de barba branca estava risonho como um colegial. Não entendia que assunto havia levado um dos chefes da equipe da Cronovisão até seu escritório, mas intuía que devia ser algo importante para que, pela primeira vez em quase meio século, transgredisse a principal norma de segurança do projeto.
Monsenhor Zsidiv foi quem autorizou esta visita, padre Tejada. Você sabe - piscou para ele -, "são João".
Suponho, então, que o assunto seja grave.
É da máxima importância, irmão - tentou explicar "são Lucas", que de repente não encontrava as palavras adequadas. - Imagino que está a par do suicídio do "primeiro evangelista", não?
Sim. Recebi a notícia há alguns dias. Algo terrível.
Baldi assentiu.
O que talvez não saiba ainda é que, após a morte dele, desapareceram de seu computador pessoal documentos relacionados a sua investigação. E não sabemos por onde começar a procurar.
Não entendo. E por que se dirige a mim? Eu não sou da Polícia.
Bem... foi a Divina Providência quem me guiou até você. Digamos que... - hesitou - que me deixei levar pelos sinais.
Muito bem, padre - aprovou. - Poucas vezes vejo um clérigo levando sua fé até as últimas conseqüências!
Além do mais, você é um especialista em anjos, não é? Estudou melhor que ninguém o modo como agem. Semeiam sinais aqui e ali, e você é o mais indicado para interpretar seus desígnios.
Tejada ergueu os ombros em sinal de modéstia. Era evidente que alguém em Roma havia fornecido seu currículo ao visitante.
Aceitarei isso como um elogio - disse.
O que quero dizer, irmão, é que... é melhor que veja por si mesmo.
"São Lucas" fuçou em sua bolsa em busca da fotografia que o capitão Lotti lhe entregara. Tirou-a de um envelope marrom e, com cuidado, depositou-a sobre a mesa do professor Tejada.
Foi tirada ontem, na Cittá do Vaticano, depois de a mulher que deveria estar na foto detonar três pequenos explosivos junto à coluna da Verônica.
Esses sapatos vermelhos são dessa mulher?
Baldi assentiu.
Ora! Essa notícia não chegou até aqui. Houve danos?
Foi um incidente sem importância, que sequer mereceu duas linhas no L'Osservatore Romano de hoje. Mas, repare bem. Os sapatos que vê um pouco atrás dos vermelhos, junto a essas linhas que cruzam a imagem, são meus. Eu estava lá e presenciei o atentado.
O padre Tejada examinou a foto com atenção. Depois de dar uma olhada em alguns detalhes com uma lupa que tirou da escrivaninha, cofiou a barba.
Sabe que tipo de câmera foi utilizada?
Uma Nikon de bolso. A foto foi tirada por um turista.
Compreendo. E o senhor não viu nada, não é?
Nada... A luz do flash, que, aliás, iluminou tudo com uma potência que até ao proprietário da câmera estranhou, cegou-me.
Humm - disse Tejada. - Provavelmente não foi a luz do flash que o cegou, padre.
Baldi esboçou uma expressão de espanto, mas não disse nada.
Talvez - prosseguiu Tejada - o brilho tenha sido o que "engoliu" a suposta terrorista.
"Engoliu"?
Sabe alguma coisa de física, padre? Lê alguma publicação científica sobre o tema?
Não. Meu negócio é história da música.
Nesse caso, vou tentar explicar da forma mais simples possível. O que viu talvez tenha sido um efeito estudado em alguns experimentos de física de partículas, especialmente naqueles em que um fóton é capaz de se desdobrar em dois, projetando uma réplica exata de si mesmo a outro ponto qualquer do universo. Esse fenômeno de desdobramento é chamado de teleporte de partículas; mas, se os cientistas fossem rigorosos, deveriam chamá-lo de bilocação.
Baldi estremeceu. Bilocação?
Durante esse processo de duplicação da matéria - prosseguiu Tejada -, foi possível comprovar que o fóton original emite grande quantidade de energia luminosa, uma forte radiação que é perceptível para nossos instrumentos e que poderia impressionar um negativo fotográfico sem problemas.
Mas estamos falando de partículas elementares, não de pessoas que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo!
O veneziano começava a compreender as imensas implicações daquela teoria. Se aquilo fosse verdade, Baldi estivera a poucos metros de uma pessoa capaz de se bilocar... como a irmã Maria de Jesus de Ágreda.
E quem disse que não foi desenvolvida uma tecnologia capaz de levar essa característica dos fótons aos humanos?
- Jesus! Quem?
A estupefação de "são Lucas" divertia Tejada.
Vai achar estranho, mas não é a primeira vez que vejo esse tipo de linhas em fotografias. Às vezes, em casos em que se acredita que houve intervenção de entidades sobrenaturais, como nas aparições da Virgem em Medjugore, na Iugoslávia, foram obtidas imagens assim.
É mesmo?
Isso é algum tipo de manifestação energética que cerca certos indivíduos e que é invisível ao olho humano. É algo parecido com a auréola que os artistas pintavam nos santos, só que, neste caso, se trata de algo com base física.
Está me dizendo que a Virgem...
Em absoluto. Para afirmar isso, teríamos de reunir provas extraordinárias. Mas, para ser sincero, creio que a mulher que não aparece na foto pode ser uma "infiltrada", um anjo, alguém capaz de controlar seu desaparecimento de um cenário como se fosse um fóton, e que aproveitou o flash do turista para disfarçar sua fuga, criando um relâmpago para desaparecer.
Isso são só especulações.
Sim, é verdade. Mas você sabe que tanto a tradição cristã quanto outras mais antigas nos falam deles como seres de carne e osso, que com freqüência adotam formas e substâncias superiores, e que nos vigiam inseridos em nossa sociedade, como se fossem uma quinta coluna... Não entende? Como os fótons, que são onda e partícula, os anjos são corporais e imateriais ao mesmo tempo.
Você me surpreende, irmão.
Além do mais - acrescentou Tejada brandindo a foto da basílica -, por alguma razão que desconhecemos, as câmeras fotográficas, mais sensíveis que o olho humano às diferentes formas de luz, não captam o aspecto que nossos olhos vêem, mas outro diferente.
A essa altura da conversa, Baldi estava convencido de que havia encontrado o homem adequado. Havia atendido aos sinais, e eles o haviam guiado muito bem. Confiante nos desígnios da Divina Providência, o beneditino ajustou os óculos de aros metálicos e, sem tirar os olhos de Tejada, disse:
Ainda não lhe expliquei a segunda parte desta aventura, irmão. Vai ver que, se me dei ao trabalho de vir de Roma não foi para lhe mostrar uma foto, embora seja um reputado especialista na matéria.
Fico agradecido, padre Baldi. Sou todo ouvidos.
Antes que essa imagem fosse obtida, a "terrorista", ou anjo, tanto faz, murmurou algo para mim. Disse algo como ficar atento aos sinais e perguntar ao "segundo". Deduzi, então, que devia falar com você, com o "segundo evangelista". Foi quase uma inspiração.
O gigante observou-o incrédulo.
É verdade que os anjos se manifestam para nos dar sinais. Mas o que isso tem a ver comigo?
Quando aquela câmera disparou, eu tentava encontrar uma resposta para o desaparecimento dos arquivos de "são Mateus". Essa era minha missão e, acredite, não sabia o que fazer, "são João", Zsidiv, então, sugeriu que me deixasse levar pelos sinais, por um milagre. E ele chegou por meio dessa imagem. Entende agora? Você é meu milagre! Você tem algo a me dizer!
Pois vamos descobrir! - exclamou, disposto, o sacerdote.
Tenho certeza de que a informação que você tem me ajudará a encontrar a informação roubada de "são Mateus". Para isso deram-me o sinal, e para isso vim até aqui. Não percebe?
Então, padre, credo quia absurdum.
A frase latina "acredito porque é absurdo" resumia perfeitamente a situação de Tejada. O bom titã esforçava-se para ajudar, mas não entendia muito bem como. Assim era a Providência.
Diga-me, padre Baldi, que tipo de informação desapareceu após o suicídio de "são Mateus"?
Isso é difícil de precisar.
Deve saber de algo.
Sim, claro. Antes de morrer, Luigi Corso estava obcecado por um assunto bem curioso: a estranha capacidade de uma freirinha espanhola de se deslocar entre o novo e o velho continente durante o século XIII. Ao que parece, suas "visitas" à América lhe valeram o apelido de "Dama Azul" entre os índios do sudoeste dos Estados Unidos.
Tejada ficou boquiaberto.
A Dama Azul! Tem certeza?
Sim, claro. Por quê...?
Eis aqui a Providência, padre! - riu às gargalhadas. - Não é maravilhoso?
Fico feliz que conheça o caso.
E como não ia conhecer? - exclamou com certa dramaticidade o gigante diante de um Baldi desconcertado. - Eu sou o responsável por seu processo de beatificação!
O que Amadeo Tejada contou a seguir deixou Baldi perplexo. A despeito dos enormes prodígios que lhe foram atribuídos em vida, a madre Ágreda nunca foi declarada santa pela Igreja de Roma. Alguma coisa aconteceu. Nenhum papa que abriu sua causa de santidade viveu o suficiente para vê-la chegar aos altares. León XIII e Clemente XIV fecharam esses trabalhos com "decretos de silêncio". Nenhuma outra mulher da Igreja jamais recebeu tratamento tão duro. Mas, em 1987, o padre Tejada conseguiu suspender ambos os decretos e fez reabrir a investigação sobre a Dama Azul. Amadeo Tejada era, sem dúvida, o homem que mais sabia sobre o mundo da freira que se bilocava na América. E o padre Baldi, por um capricho do destino, estava diante dele.
Ouça bem, padre - disse o passionista, tão assombrado quanto o veneziano. - Há alguns dias, a Polícia esteve aqui para perguntar sobre um manuscrito do século XIII que pertenceu a Felipe IV. Nele, pela primeira vez, foi registrada a história completa da Dama Azul.
Baldi não podia acreditar no que o outro estava lhe dizendo.
Ao que parece - prosseguiu Tejada -, o texto detalhava que tipo de método a freira empregou para se bilocar.
Zsidiv havia falado daquele texto. Baldi sabia perfeitamente que alguém o havia roubado em Madri, mas não disse nada.
E por que a Polícia se interessou por esse manuscrito? - perguntou sem mostrar suas cartas.
Muito fácil: segundo meus cálculos, foi roubado da Biblioteca Nacional... - Tejada hesitou um segundo enquanto consultava um calendário de mesa que tinha a sua frente - ... no mesmo dia que "são Mateus" se suicidou!
Surpreendente. E sabe o que mais esse manuscrito continha?
Claro. Quando, em 1630, os franciscanos suspeitaram que talvez a mulher que havia sido vista no Novo México pudesse ser uma freira de sua Ordem, e não uma aparição da Virgem de Guadalupe, mandaram a Ágreda aquele que havia sido padre custódio em Santa Fé. Pediram-lhe que interrogasse e, se fosse o caso, desmascarasse a "suspeita". Suas perguntas se estenderam por duas semanas, após as quais o custódio...
Benavides?
Exato. O custódio redigiu um relatório no qual registrou suas conclusões.
Sabe quais foram?
Só em parte. Ao que parece, Benavides deduziu que a freira conseguia se desdobrar (ou bilocar, como preferir) sempre depois de ouvir cânticos que a faziam entrar em um transe muito profundo. De fato, no passado, falei bastante sobre esse assunto com o assistente de "são Mateus".
O doutor Alberto. Conheço.
Ele mesmo.
E o que ele lhe disse?
Baldi perguntava enquanto tentava encaixar as peças. Se Tejada havia falado com il dottore sobre a Dama Azul, por que este nunca tinha falado do especial interesse de Luigi Corso por esse caso? E por que nenhum deles, nem sequer "são João", mencionara a existência dessa freira?
Tejada, alheio àqueles pensamentos, prosseguiu:
Albert Ferrell mostrou-se muito interessado nessa "pista" - disse. - E, de certa maneira, era lógico, visto que seus estudos sobre prepolifonia, padre Baldi, haviam circulado entre os "evangelistas". Aqueles em que concluía que certas freqüências de música sacra podiam ajudar a provocar estados alterados de consciência que favorecessem a bilocação.
Quer dizer, então, que levaram a sério meus trabalhos... - Baldi sorriu.
Oh, sim! Lembro um dos relatórios que enviou ao padre Corso, no qual falava de Aristóteles. Dizia que esse filósofo havia estudado o modo como a música agia sobre a vontade.
E não somente ele! - interveio Baldi. - Os pitagóricos também descobriram que o modo ré (ou frígio) aumentava o entusiasmo dos guerreiros; o modo dó (ou lídio) conseguia o efeito contrário, debilitando a mente do ouvinte; o modo si (ou mixolídio) provocava acessos de melancolia... E os usaram no campo de batalha, para estimular suas tropas ou deprimir as do inimigo.
Pois ouça bem, padre: o assistente de Luigi Corso confirmou-me que haviam descoberto que cada coisa ou situação criada na natureza tem uma vibração exclusiva, e que, se uma mente conseguir se situar nessa mesma vibração, terá acesso não só a sua essência, mas a seu local e época.
Il dottore lhe disse isso?
O padre Tejada cofiou mais uma vez a barba. Estava tão emocionado que nem pestanejava.
Naturalmente! Não entende? O pouco que eu sabia dos interrogatórios de Benavides à irmã Maria de Jesus era que ela lhe explicara detalhadamente em que momentos costumava entrar em transe e deslocar-se até a América. Bilocava-se ouvindo as Aleluias, durante a missa. E suas vibrações projetavam-na a mais de dez mil quilômetros de distância.
As Aleluias? Tem certeza, irmão? - Baldi acariciou seus óculos de aros metálicos.
Por que acha estranho, padre? Santo Agostinho deixou bem claro em seus escritos: as Aleluias facilitam a união mística com Deus.
E por acaso sabe, irmão, se Corso conseguiu reproduzir um desses transes com alguém?
Era a segunda vez que Baldi jogava com cartas marcadas. Ele sabia que a resposta a essa questão era afirmativa. Mas Tejada saberia de algo mais? Algo que Ferrell não conhecia, a despeito de trabalhar tão perto de Corso?
Agora que está dizendo, sim... - respondeu pensativo o passionista. - Lembro que Corso me falou que, nas composições musicais para missas medievais, havia encontrado elementos acústicos que funcionaram. E que administrara a alguns sujeitos.
O beneditino mostrou-se mais ansioso que nunca, mas preferiu fazer um pequeno rodeio antes de abordar a questão principal:
Sabe que sons exatamente foram aplicados? - perguntou.
Deixe-me pensar... Desde o século XII, o Introito da missa era cantado em modo dó. O Kyrie Eleison ou Senhor, tende piedade e o Gloria in Excelsis Deo ou Glória a Deus nas alturas, posteriores, em modo ré. E o modo mi era utilizado entre as leituras da Bíblia e a consagração com as Aleluias.
É claro! - o veneziano deu um pulo. - A missa tradicional cifra uma oitava completa, do início ao fim! É evidente que a liturgia foi criada para, entre outras coisas, provocar estados místicos que catapultassem as pessoas mais sensíveis para fora do corpo. Minha tese!
Mas, padre Baldi, por que esse "efeito catapulta" só foi vivido pela madre Ágreda, e não por outras freiras do mosteiro?
Bem... - hesitou. - Deve existir uma resposta neurológica para isso.
O beneditino levantou-se da cadeira e começou a caminhar em pequenos círculos. Havia chegado o momento.
Corso me disse que utilizou essas freqüências com outras pessoas. Em Roma, ontem mesmo, il dottore disse que aplicaram esses sons a uma mulher que chamavam de Grande Sonhadora. Porém, no meio dos experimentos, a mulher decidiu ir embora para casa.
Uma mulher? Italiana?
Não. Norte-americana. Isso lhe diz alguma coisa?
Tejada ficou olhando para o padre com um enorme sorriso desenhado no rosto. Era uma expressão entre debochada e afetuosa que escondia algo. Um jogo, talvez.
- Já sei que informação o destino quer que eu ponha em suas mãos, padre Baldi.
A certeza do bilbaíno o fez estremecer.
- Hoje, um amigo meu, o diretor da Biblioteca Nacional, disse-me que a Polícia localizou uma mulher que há alguns dias sonha com a Dama Azul. Ela mora em Los Angeles e trabalhou há pouco tempo em Roma, na rádio Vaticana. Eles já devem estar a caminho. É a ela que procura, não é?
LOS ANGELES
— Santo Deus!
O rosto de Linda Meyers refletia indignação. Dois agentes do fbi e uma terceira pessoa, estrangeira, tentavam esclarecer com ela a situação que investigavam. Estavam havia uma hora na sala de interrogatórios do terceiro andar do 1100 da Wilshire Boulevard.
Já lhes disse que eu não tinha como saber que haviam roubado esse valioso manuscrito em Madri. E menos ainda que o frade sobre o qual perguntei ao diretor da Biblioteca Nacional era citado nesse documento. Não acreditam?
Estava escrito na cara de Mike Sheridan que não engolia nem uma única palavra daquilo. A doutora Meyers podia ver isso em sua linguagem corporal. Mas o estrangeiro parecia mais condescendente. Dirigiu-se a ele:
O que posso saber eu de história espanhola?
Na realidade - disse aquele indivíduo, jovem, com cara mais de estudante universitário que de agente especial, e que falava um inglês com um forte sotaque hispânico -, não é história espanhola, mas americana. O documento desaparecido é parte da história do Novo México.
O homem...
Valiente. Enrique Valiente.
O senhor Valiente me denunciou por roubo? - completou sua frase.
Não. Só estamos investigando um fio solto neste caso. A senhora.
E acrescentou:
A propósito, meu nome é Carlos Albert, sou espanhol.
Meyers o encarou fixamente.
Veio devido à minha ligação para a biblioteca?
Isso mesmo.
O que queremos saber, senhora Meyers - interrompeu Sheridan -, é de onde tirou o nome de frei Esteban de Perea.
A beleza africana da doutora escondia algo selvagem. Algo que intimidava Carlos e o segundo agente naquela sala, que permanecia hierático junto à porta. Carlos olhava para aquela cena como se estivesse dentro de um longa-metragem de Hollywood. Na Espanha, as delegacias não eram tão espaçosas como aquele edifício federal e os agentes não andavam impecavelmente vestidos como Mike Sheridan.
Então? - insistiu este. - Vai nos dizer quem lhe falou desse frade?
É sigilo profissional, agente.
Como sigilo profissional?! Só estou lhe pedindo um nome.
Uma fonte que possamos comprovar - insistiu. - Do contrário, será considerada suspeita de roubo.
Está brincando? Eu só fiz uma ligação telefônica!
Doutora - intercedeu Carlos -, ontem, conversei em Madri com o senhor Valiente. E, recordando a conversa que manteve com a senhora, ele disse algo que me chamou a atenção.
Meyers aguardou o espanhol acabar de falar.
Ele disse - prosseguiu - que a informação sobre frei Esteban de Perea havia sido dada por uma paciente sua, uma mulher que tinha estranhas visões sobre certa Dama Azul. É verdade?
A doutora não respondeu.
É verdade, senhora Meyers? - pressionou o agente Sheridan.
Carlos tornou a olhar para o federal. Parecia-lhe estranho
ver um guardião da ordem mascando chiclete para evitar acender um cigarro. Em Madri, todos fumavam.
Poderia nos dar os dados dessa paciente? - insistiu o jornalista, mais gentil.
Após um segundo de silêncio, Linda Meyers respondeu o que temiam:
Lamento. É sigilo profissional. Não posso revelar dados pessoais de uma paciente. E, se vão continuar me interrogando, gostaria de chamar um advogado.
E se já tivéssemos esses dados? - Carlos olhou para ela desafiadoramente. - Confirmaria?
O senhor tem esses dados? - O tom de Linda Meyers soou incrédulo. - Nunca os forneci ao diretor da biblioteca.
O estrangeiro pegou seu caderno de capa de cortiça e procurou a última anotação. A que havia feito a bordo do avião que o havia levado até lá. Quando a encontrou, sentou-se junto à suspeita e sorriu enigmaticamente:
O nome Jennifer Narody lhe diz alguma coisa? O rosto da doutora empalideceu.
Como... como diabos o senhor tem esse nome?
Não são diabos, senhorita. É coisa de anjos - brincou.
Quardião para base, está me ouvindo?
Ouvindo cinco por cinco, Guardião.
O pássaro saiu do ninho. Deixo que voe?
Não. Se se afastar muito, detenha-o. A gaiola estará pronta em alguns segundos. Desligo.
Quando Giuseppe Baldi abandonou a Universidade de Deusto e viu o magnífico dia de primavera que o aguardava, decidiu dar um passeio até o centro. Bilbao acabava de sair de uma semana de copiosas chuvas, e a cidade estava limpa e fresca.
Tudo estava calmo. Tudo, menos um furgão Ford Transit com placa de Barcelona e vidro fumê que ronronou ao notar a presença do "evangelista" na porta do recinto universitário.
É o pássaro.
Um homem de compleição musculosa situado ao volante do furgão acendeu um cigarro enquanto seguia o padre Baldi com o olhar.
Quando atravessar a faixa de pedestres, detenha-o. Ouviu, Guardião?
Um estalo encerrou a comunicação. O homem do cigarro deixou seu walkie-talkie sobre o banco, ajustou os óculos de sol e levou o veículo para perto do beneditino, que caminhava confiante.
- Já? - A voz do Guardião tronou exigindo instruções.
Agora.
Foi o suficiente.
O Guardião, um robusto piemontês, guardou o receptor no bolso de sua jaqueta e apertou o passo rumo ao objetivo. Em questão de segundos ultrapassou-o, parando ao lado de um semáforo vermelho. Ali, aguardou que o "evangelista" se situasse a seu lado. Não havia ninguém a menos de 5 metros deles. Era a ocasião perfeita. E assim, ombro a ombro com o sacerdote, o Guardião soltou em perfeito italiano:
Bello giorno, vero?
Baldi surpreendeu-se. Assentiu com um sorriso indiferente, mas tentou ignorar o estranho mantendo a vista cravada no outro lado da rua. Foi a última coisa que fez antes que o careca, vestido impecavelmente de Armani, desembainhasse uma arma curta com silenciador e a cravasse em suas costelas.
Se se mexer, atiro aqui mesmo - sussurrou.
O "evangelista" ficou lívido. Seu coração quase saiu pela boca. Que estranha sensação. O sacerdote sequer havia visto a pistola, mas podia visualizar a boca do cano apertando-se contra seu fígado. Jamais lhe haviam apontado uma arma, e um terror frio, irracional, paralisou-o.
É... é um engano - murmurou em um espanhol forçado. - Não tenho dinheiro.
Não quero seu dinheiro, padre.
Mas... Mas eu não...
O senhor não é o padre Giuseppe Baldi?
Sim - murmurou.
Então não há engano algum.
Antes de o Guardião acabar de falar, o furgão parou no semáforo. Bastou um empurrão para que o corpo do "evangelista" cedesse e caísse de bruços dentro do veículo. Uma vez ali, dois braços fortes o içaram a bordo, sentando-o no fundo.
Agora, espero que se comporte direitinho. Não queremos lhe fazer mal.
Quem são vocês? Que querem de mim?
Baldi gaguejou em italiano aquelas duas frases. Continuava confuso, com o pulso acelerado e dois hematomas nos antebraços, mas começava a entender que estava sendo seqüestrado.
Há alguém que deseja vê-lo - disse o careca. - Acomode-se.
O homem que lhe havia apontado a arma estava sentado ao lado
do motorista e olhava fixamente para o "evangelista" pelo retrovisor.
Não faça bobagens, padre. Temos algumas horas de viagem antes de chegar a nosso destino,
Algumas horas? Aonde vamos? - balbuciou.
-A um lugar onde possamos conversar, querido "são Lucas".
Nesse momento, Baldi temeu por sua vida.
Aqueles homens não o haviam seqüestrado por engano: sabiam quem era. E o pior: para localizá-lo, deviam tê-lo seguido desde Roma. A questão era por quê.
Uma picada no braço o fez perder a consciência. Injetaram-lhe 10 mg de Valium, a dose exata para mantê-lo dormindo durante cinco horas.
Quando tudo escureceu, o Ford Transit pegou a circunvalação de Bilbao até desembocar na estrada A-68 em direção a Burgos. Dali, pegou a Nacional-1 e desceu rumo a Madri até Santo Tomé dei Puerto, pouco antes de começar a escalada do porto de Somosierra. Nesse ponto nasce a Nacional-110, que leva até Segóvia, onde os seqüestradores puseram 7 mil pesetas de combustível no posto colado ao aqueduto romano. Depois, pegaram a estrada secundária para Zamarramala, onde não chegariam a entrar.
O relógio do furgão marcava 22h07. O veículo parou junto a uma cruz de pedra cravada a poucos metros de um dos mais estranhos templos medievais espanhóis. Ali, desligou o motor. Dois sinais longos de luzes na fachada da igreja advertiram a seus ocupantes que o convidado que esperavam havia acabado de chegar.
VENICE BEACH, CALIFÓRNIA
Jennifer atendeu à porta no terceiro toque da campainha. Não conseguia imaginar quem poderia importuná-la com tanta insistência numa segunda-feira às sete horas da manhã. Envolveu-se em seu roupão de seda branca, balançou o cabelo e cruzou a toda velocidade a sala bagunçada. Ao olhar pelo olho mágico, descobriu um jovem de uns trinta anos, com óculos de armação metálica, magro, que aguardava impaciente do outro lado. Jamais o havia visto.
Senhorita Narody? - O visitante formulou sua pergunta quando intuiu que estava sendo observado.
Sim, sou eu. Que deseja?
Não sei como explicar... - hesitou ao perceber o tom incomodado de sua interlocutora. - Meu nome é Carlos Albert, e estou colaborando com o FBI em uma investigação na qual talvez possa nos ajudar.
Os federais?
Sei que pode lhe parecer absurdo, mas o nome Dama Azul lhe diz alguma coisa?
Jennifer ficou rígida.
Como disse?
Vim lhe perguntar sobre a Dama Azul, senhorita Narody. E sobre algo que recebeu e que acho que deve me entregar.
Carlos havia decidido jogar todas as suas cartas. Convencera o FBI a deixar que conversasse a sós com Jennifer. De fato, persuadira-os de que para um jornalista estrangeiro seria mais simples, menos brusco, obter informações úteis para recuperar um manuscrito roubado em Madri que a eles mesmos. E, evidentemente, contava também com os detalhes que lhe dera o anjo de sapatos vermelhos.
Jennifer olhou-o com receio.
Quem lhe deu meu endereço? Não consta da lista - disse.
Veja, senhorita Narody, o que temos para conversar é importante. Eu vim de Madri só para vê-la. Sua psiquiatra, a doutora Linda Meyers, telefonou para a Biblioteca Nacional há alguns dias perguntando pela Dama Azul, e isso me permitiu chegar até você. Posso entrar?
Jennifer abriu.
A mulher que lhe franqueou o passo tinha uma estranha beleza. Apesar de ter saído da cama naquele momento, com os olhos afundados em olheiras, era alguém que irradiava harmonia. Morena. De pele bronzeada. Boa aparência e rosto gentil, de lábios grossos e pômulos salientes. Tinha na sala muitos suvenires da Itália; uma Torre de Pisa de bronze fazia as vezes de peso de papel; uma coleção de discos de intérpretes latinos estava esparramada em frente ao equipamento de alta-fidelidade; e uma grande foto aérea do Coliseu adornava a parede maior daquele aposento. Para Carlos, aqueles objetos trouxeram boas lembranças.
Conhece a Itália, senhorita Narody?
Jennifer sorriu pela primeira vez. Seu visitante estava brincando com uma pequena gôndola veneziana de bronze que estava ao lado do televisor.
Sim. Morei em Roma durante algum tempo.
É mesmo?
Oh, sim. É uma cidade maravilhosa. Conhece?
Carlos assentiu. Durante alguns minutos trocaram impressões sobre o afável caráter dos italianos, como era fácil para qualquer turista integrar-se ao caos do trânsito e como estranhavam sua comida. O acaso - ele outra vez - quis que ambos conhecessem um pequeno restaurante perto do Panteão de Agripa, La Sagrestia, onde faziam a melhor massa da cidade ("só para romanos", brincaram). De fato, um ponto de encontro tão simples como aquele logo os predispôs a uma conversa muito mais relaxada. Um pouco depois, Jennifer já havia esquecido a menção de Carlos ao interesse do FBI pela Dama Azul.
A propósito - disse ela -, quer tomar alguma coisa? Um suco? Uma água?
Carlos negou com a cabeça. Já pensava em como ia fazer as perguntas que havia preparado quando sua anfitriã tomou definitivamente a iniciativa da conversa.
Então, já que está aqui, talvez me ajude a esclarecer um mistério.
Um mistério?
O jornalista remexeu-se no sofá.
Sim. Você é espanhol, não?
Isso mesmo.
Veja, ontem recebi um envelope com um manuscrito antigo escrito em seu idioma. Estava pensando que talvez pudesse me ajudar a traduzi-lo.
O coração de Carlos deu um salto.
Um manuscrito?
Sim... - Jennifer acendeu um cigarro antes de ir buscá-lo. - Deve estar por aqui. Pretendia mostrá-lo amanhã à doutora Meyers, que fala espanhol. Mas você é nativo e o entenderá melhor. Chegou aqui como se houvesse caído do céu!
Carlos sorriu com seus botões. "Pode-se dizer isso, de fato."
Quando ela se aproximou com algumas velhas folhas amarradas com um grosso laço de sisal, o jornalista já sabia o que era aquilo. Por todos os santos! Havia percorrido 10 mil quilômetros justamente para ter nas mãos aquelas páginas. O anjo dos sapatos vermelhos tinha razão: essa mulher tinha um segredo nas mãos, mas não sabia.
Incrível - assoviou. - Sabe o que é isto, senhorita Narody?
Evidente que não. Por isso estou lhe perguntando.
O jornalista, mudo de espanto, pegou as folhas em suas mãos. No início, teve dificuldade para se adaptar àquela caligrafia barroca, cheia de arabescos, mas depois leu fluentemente: "Memorial a Sua Santidade, papa Urbano viu, nosso senhor, relatando as conversões do Novo México feitas durante o mais feliz período de sua administração e pontificado, e apresentado a Sua Santidade pelo padre frei Alonso de Benavides, da ordem de nosso padre São Francisco, custódio das citadas conversões, em 12 de fevereiro de 1634". O documento, colado em uma fina tira de papel de seda, era acompanhado por uma inscrição mais recente feita com lápis vermelho: "Mss. Res. 5062".
Este documento - disse por fim Carlos - foi roubado há alguns dias da câmara blindada da Biblioteca Nacional de Madri. Por isso estou colaborando com o FBI. Para recuperá-lo e devolvê-lo.
Jennifer Narody tentou conter sua surpresa.
Eu não o roubei! - defendeu-se. - Se assim fosse, acha que o teria mostrado assim, sem mais nem menos?
Carlos deu de ombros.
Está bem. A única coisa que sei é que isso é o corpo de delito, e está em sua casa. Vai ser difícil justificar sua posse.
Corpo de delito? Mas...
A brigada criminal da Polícia espanhola e o grupo antisseitas alertou a Interpol temendo que este texto houvesse saído ilegalmente de meu país. E, evidentemente, tinham toda a razão.
Carlos acentuou mais que o normal o "este texto" enquanto o batia na palma de sua mão com força. Jennifer assustou-se.
E por que uma brigada antisseitas está investigando um documento antigo?
Suspeitavam de um grupo de fanáticos, senhorita. Às vezes, esse tipo de grupo se interessa por um livro ou uma obra de arte pelas razões mais estranhas. De fato, quem entrou na biblioteca roubou só esse documento, sendo que podia ter levado outras obras muito mais valiosas.
Parece estranho, não?
Muito. Por isso, mereço algumas explicações, senhorita.
Um momento! - atalhou ela. - Eu também mereço algumas, hã...
Albert. Carlos Albert.
Albert: você me perguntou pela Dama Azul. O que ela tem a ver com este livro?
Tudo! - sorriu. - Este documento explica o que aconteceu com a Dama Azul e como a irmã Maria de Jesus de Ágreda conseguiu se bilocar até aparecer no Novo México, no início do século XIII.
Irmã Maria de Jesus de Ágreda!
Jennifer não pronunciou o difícil nome tão bem quanto o espanhol, mas reconheceu-o imediatamente.
Conhece?
Claro! Ela, frei Alonso de Benavides, Felipe iv... Eu os vi. Há dias que os vejo.
- Vê?
Jennifer compreendeu o espanto do visitante.
Albert - disse embora seja difícil de acreditar, o conhecimento que tenho de Benavides e do que fez no Novo México chegou a mim por meio de sonhos.
A esta altura, senhorita, já não me é difícil acreditar em nada - respondeu acariciando o manuscrito.
- Juro que nunca antes havia ouvido falar de Benavides nem havia lido nenhum livro que o mencionasse. Nunca me interessei pela história de meu país, nem dos nativos americanos. Mas acho que meus genes me predispuseram a isso. Minha psiquiatra acredita que é memória genética. Você já a conhece.
Sim. Mas ela não sabe por que você tem esses sonhos. Não quis falar disso, embora desse a impressão de estar bastante perdida.
Bem... Eu não lhe contei algumas coisas. Principalmente quanto esses sonhos têm a ver com meu último trabalho.
Em que trabalhava?
Jennifer torceu o nariz, mostrando desagrado.
E que o faz acreditar que vou lhe contar o que não contei à doutora Meyers?
Talvez, se lhe explicar como cheguei até aqui, o que vivi antes de encontrá-la... Diga-me uma coisa: acredita em coincidências?
Naquela manhã, enquanto Jennifer preparava duas xícaras de café e umas tortinhas de geléia de mirtilo, seu visitante lhe contou tudo: desde a nevasca que o guiara a Ágreda até o impacto que lhe causara ver o rosto da irmã Maria de Jesus, com seu corpo milagrosamente conservado em uma urna de vidro, no mosteiro que ela mesma fundara. Quando lhe contou como uma pequena medalhinha com uma imagem da Verônica, ou a "santa face", o pôs em um caminho cheio de surpresas, e como essa correntinha voltou a sua legítima proprietária no avião que o levara a Los Angeles, Jennifer se lembrou de algo. Um pequeno detalhe que, naquele contexto, não podia ser uma coincidência. É que ela, em Roma, havia visto uma medalha como aquela.
Havia sido na "sala do sonho" da rádio Vaticana. No primeiro dia de trabalho. Após ser convocada em Fort Meade por um agente do Inscom em Roma, lembrou de tê-la visto em sua sessão inaugural. Pendia do pescoço de seu instrutor, doutor Albert Ferrell. E era - tinha de ser - idêntica à que aquele espanhol tivera em suas mãos.
Sabe uma coisa? - disse por fim. - Não. Eu também não acredito em coincidências.
O rosto de Carlos se iluminou. Sabia que, mais uma vez, algo - ou alguém? - aplainava seu caminho. Jennifer Narody, confortavelmente instalada em seu sofá favorito, contou a última parte de uma história da qual ambos, de algum modo estranho, já faziam parte.
Até pouco tempo, fui tenente do Exército dos Estados Unidos e trabalhava na seção de Inteligência - disse. - Meu trabalho estava associado a uma divisão de espionagem psíquica, da qual só participavam pessoas com certas faculdades extras-sensoriais. Como pode imaginar, nossa atividade era matéria altamente sigilosa.
Carlos sentiu um calafrio.
Durante os dois últimos anos, estive Roma trabalhando em um projeto que pretendia explorar as faculdades-limite da mente humana.
Faculdades-limite?
Sim. Habilidades psíquicas como a transmissão de pensamento ou a visão remota por meio de pessoas treinadas em clarividência. Entende o que estou falando?
Perfeitamente.
Carlos estava perplexo. Já havia ouvido falar desse tipo de projeto em várias ocasiões. Em sua revista, inclusive, havia lido reportagens que falavam de certa "guerra paranormal" entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Mas jamais pensara que conheceria alguém implicado nesses programas.
Durante o governo Reagan - prosseguiu Jennifer -, meu esquadrão tentou imitar os resultados conseguidos pelos russos para espiar a distância instalações militares com ajuda de pessoas com habilidades psíquicas. Formaram um exército de "viajantes astrais" que pudessem "voar" até seus objetivos. Mas, infelizmente, a maior parte desses experimentos fracassou. Simplesmente não conseguiram controlá-los. Nosso general foi destituído.
E quando você entrou em cena?
Em meados da década de 1980. O projeto de espionagem psíquica nunca foi abandonado totalmente porque, depois da queda do Muro de Berlim, soubemos que os russos prosseguiam com seus experimentos. Sigilosamente, continuavam trabalhando a fim de desenvolver essas faculdades-limite. E, ainda por cima, os russos haviam vendido parte de suas descobertas psíquicas a outras potências.
Entendo.
Também tínhamos um orçamento limitado. Então, o instituto para o qual trabalhava, o Inscom, decidiu aliar-se a um sócio discreto, interessado nesse tipo de misteres.
Um sócio?
Sim. O Vaticano.
Carlos balançou a cabeça.
Não estranhe. O Vaticano está, há séculos, interessado em questões que a nós só atraem há algumas décadas. Por exemplo, foram eles que cunharam o termo "bilocação" para se referir às viagens astrais. Os arquivos da Igreja estão cheios de casos. A cúria queria saber que mecanismos psíquicos provocavam esses desdobramentos, e chegamos a um bom acordo: eles forneciam a informação histórica e nós, a tecnologia para "reproduzir" tais estados.
Tecnologia?
Jennifer terminou o que restava de sua tortinha antes de prosseguir. Estava se livrando de um grande peso, como se aquela conversa fosse a terapia que precisasse receber desde que saíra da Itália. Carlos acompanhava-a com o olhar, atento a cada gesto, a cada palavra.
O instituto para o qual trabalhava - prosseguiu - enviou um de nossos homens a Roma, à rádio Vaticana. Era um engenheiro de som que havia trabalhado na Virgínia. Antes de minha chegada, já sabia que certos tipos de música sacra favoreciam o desdobramento do corpo. A propósito, usava uma medalhinha como essa que você falou.
Carlos não deixou passar despercebido o dado:
E só com música podiam...
A música não era o importante. A chave estava na freqüência vibratória do som. Era ela que fazia com que o cérebro se comportasse de uma determinada forma, permitindo experiências psíquicas intensas.
E você? Para que foi à Itália?
Fui destinada a Roma para trabalhar com o líder de um estranho grupo. Nós o conhecíamos como "primeiro evangelista".
"Primeiro evangelista"?
Claro que era um codinome. Uma vez ali, em uma sala idêntica à que tínhamos em Fort Meade, fui usada como cobaia. O "evangelista" estava empenhado em me projetar a outra época com os novos sons que haviam sintetizado.
Outra época? O passado?
O passado. Mas não conseguiu nada. Submeteu-me a sessões de cinqüenta minutos nas quais me expunha a sons intensos. No laboratório não acontecia nada, mas à noite vinha o pior: eu tinha pesadelos com figuras geométricas que davam voltas em minha cabeça até me deixar tonta; cores e vozes me atormentavam. Descansava mal e até perdi peso de tanto tormento.
Carlos não disse nada.
Era como se houvesse sintonizado um canal de televisão cuja antena estivesse com defeito e o sinal não fosse bem recebido.
E não lhe disseram por que queriam mandá-la ao passado?
Sim, disseram. Na época não entendi, mas agora tudo se encaixa.
O que quer dizer?
Queriam decifrar o conteúdo de um antigo documento que continha as instruções para realizar projeções físicas de pessoas mediante sons.
Físicas? Em carne e osso?
Os olhos claros de Jennifer confirmaram a importância daquela apreciação.
Ao que parece, uma mulher havia conseguido no século XIII.
A Dama Azul.
Exato. Mas nem o Vaticano nem nosso governo sabia bem como. Pelo visto, esse documento continha a chave. Foi redigido por um franciscano para o rei da Espanha.
E o documento - murmurou Carlos - é este.
Sim. Não é incrível?
Você sonhou com ele?
Na realidade, sonhei com quem o escreveu e com o momento histórico em que foi redigido. Suponho que em Los Angeles, afastada dos laboratórios, meu cérebro tentou "ajustar o sinal" por sua conta e finalmente conseguiu. Mas, claro, fora do prazo fixado pelos especialistas em Roma.
E por que lhe mandaram um documento que sequer consegue ler?
Isso você deve saber melhor que eu. Ou a mulher dos sapatos vermelhos que encontrou no avião. Ela o mandou a mim para que você o pegasse, não foi?
A escura silhueta da ermida da Vera Cruz contrastava com o mosaico de faróis de Segóvia ao fundo. Nem o Alcázar, a inexpugnável fortaleza que domina essa cidade castelhana, era capaz de tirar um pingo de mistério de um edifício dodecagonal tão estranho. A Vera Cruz é diferente de todos os monumentos que a cercam. Na realidade, é diferente de quase todas as igrejas da cristandade. Nenhum edifício do Velho Continente dispõe de doze paredes dispostas como as do Santo Sepulcro de Jerusalém. Nenhum... salvo este.
Mergulhada em penumbra absoluta, só o fino fio de luz que escapava de sua porta oeste indicava que o recinto não estava vazio.
- Depressa, Guardião, não temos tempo a perder.
Duas grandes sombras introduziram o corpo inerte do "evangelista" na igreja. Tateando, deixaram para trás seus quase invisíveis afrescos medievais com perfis de templários e cavaleiros cruzados, e buscaram a íngreme escada que levava ao aposento mais sagrado. Era a edícula, um pequeno quarto escondido na grossa coluna que sustentava o edifício. Na realidade, aquilo não era uma igreja. Era um martyrium, um templo criado para evocar a morte e ressurreição de Cristo. E esse aposento era seu sanctasanctorum.
Com cuidado, os homens robustos depositaram Giuseppe Baldi no piso de lajotas de barro, atentando para que sua cabeça não batesse no altar que presidia o ambiente. Ali, aguardava-os um estranho casal: um homem coberto com uma túnica branca e uma mulher vestida de preto, com mocassins vermelhos.
Demoraram - disse o homem.
A censura retumbou nas paredes vazias, burlando a penumbra. O homem do cigarro se justificou.
O pássaro demorou além da conta.
Está bem, não importa. Agora, deixem-nos a sós.
O motorista do furgão, submisso, despediu-se com uma reverência. Segundos depois, um golpe seco surgido do fundo do templo anunciou que o portão da Vera Cruz havia sido trancado. Então, o homem de capa branca inclinou-se sobre o desfalecido padre Baldi e tentou reanimá-lo.
Seu "retorno" foi lento.
Primeiro, notou uma estranha corrente de ar que o percorreu de cima para baixo. A seguir, seu coração foi pulsando ritmicamente no mesmo compasso de suas têmporas. Quando o sacerdote conseguiu abrir os olhos, tudo estava borrado. Tudo, exceto um par de sapatos vermelhos que ele havia visto em algum lugar.
Um segundo depois, Baldi estava em pé.
Onde estou?
Tremia.
Em Segóvia.
A voz do encapuzado, em contraste com a sua, soou firme. Ainda assim, emitia certo tom de familiar idade.
Quem são vocês? Que querem de mim?
Só retê-lo por um tempo, padre. O suficiente para que o plano seja executado sem interferências.
Plano? Que plano?
O senhor já descobriu muitas coisas em pouco tempo. Mas, se atingir sua meta antes do tempo, vai pôr nossa missão a perder.
Sua missão? Mas quem diabos são vocês? - repetiu Baldi.
Não se altere, padre. O senhor me conhece. E não vou lhe fazer nenhum mal.
O homem do manto branco jogou o capuz que o cobria para trás, mostrando a inconfundível franjinha esticada de Albert Ferrell.
Dottore Alberto! - Baldi quase perdeu o equilíbrio pela surpresa.
Também creio que teve oportunidade de cruzar, em Roma, com minha acompanhante, não é? - Ferrell sorriu olhando para sua bela companheira.
Na basílica de São Pedro! É verdade! - exclamou. - Você é a mulher da foto. A que me disse que seguisse os sinais. A mulher dos sapatos vermelhos.
E, olhando para ela com uma expressão incrédula, acrescentou:
Sei que tipo de criatura você é.
Melhor - disse ela, com um suave sotaque napolitano. - Assim, entenderá o que fizemos.
O que fizeram? - "evangelista", recomposto, replicou cravando seu olhar em Ferrell. - Que eu saiba, você foi destinado a Roma pelo governo norte-americano para desenvolver a vertente técnica da Cronovisão. Quanto a você...
Não se engane, padre. Ela e eu, e os homens que o trouxeram até aqui, trabalhamos juntos. Somos muitos. Centenas. Mas nem o Pentágono nem o Vaticano são nossos chefes.
Não entendo...
Logo entenderá - prometeu. - Nosso trabalho está vinculado a um grupo muito antigo chamado Ordo Sanctae Imaginis. A Ordem da Santa Imagem. Somos os legítimos proprietários de igrejas como esta em toda a Europa, que vêm guardando importantes relíquias de Cristo. O senhor está em nosso território. Mas deixe-me explicar que, durante séculos, também preservamos um segredo terrível para a cristandade. Um segredo que, se houvesse sido revelado no passado, a destempo, poderia ter destruído a Igreja inteira. Porém, agora deve vir à tona.
A mulher tomou a palavra:
O senhor, padre, com seu trabalho na Cronovisão, quase o descobriu. Por isso o trouxemos até aqui. Para assegurarmos que não o revelará ao mundo antes que digamos quando e como.
Ordem da Santa Imagem? - O cérebro e o pulso de Baldi aceleravam-se descontroladamente. - Foram vocês que puseram as bombas na Verônica!
Ora, vamos! O senhor acredita que alguém de nossa natureza precisa pôr bombas em algum lugar?
Sua natureza? - Baldi, embora aturdido, começava a compreender. Olhando para Ferrell, com os olhos ainda irritados pela sedação, perguntou: - Você também é um... anjo?
Até a ele mesmo pareceu estranha aquela pergunta. A despeito de ter recebido uma estrita formação teológica e estar preparado para enfrentar realidades transcendentes, Baldi não podia acreditar que alguém tão mundano como il dottore tivesse procedência tão sublime. Não era isso que havia aprendido com o padre Tejada, em Bilbao.
Meu nome é Maria Coronel, padre. Nasci anjo há trinta anos - disse a mulher.
O beneditino não prestou muita atenção àquela última frase. Preferiu acusá-la com o dedo.
E pôs as bombas em São Pedro.
Não, padre - replicou ela sem perder a calma. - As bombas foram coisa de nossos inimigos. De pessoas de dentro da Igreja que quiseram atentar contra nosso mais sagrado símbolo com a única intenção de montar uma armadilha e nos deter.
Detê-los?
Deixe-me explicar: uma das chaves deste assunto está nessa Verônica, padre. Está vendo esta medalha?
Maria tirou de um dos bolsos de sua saia uma corrente com o rosto de Jesus gravado em um lenço. A Verônica. Uma representação de uma relíquia cujo nome é, em si, um criptograma: Verônica não é um nome de mulher; procede do latim vera icon, verdadeira imagem. Baldi contemplou-a absorto.
O senhor estudou história - prosseguiu. - Sabe que a coluna de Santa Verônica foi erigida por ordem papal para abrigar a relíquia da "santa face". As outras três colunas que sustentam a cúpula de São Pedro guardam um crânio de Santo André, um pedaço da cruz ou a lança que atravessou o flanco de Nosso Senhor. Todas relíquias falsas. Mas a "santa face" é mesmo o retrato de Cristo, misteriosamente gravado no tecido...
Todo o mundo conhece essa história.
Os templários que erigiram esta igreja - interveio Ferrell - sabiam do segredo e também o protegeram.
O segredo?
É o que quero explicar, padre. A beleza de Maria era radiante. Era por isso que Baldi sentia o ar lhe faltar?
Foi Clemente VII, no século XVI, o primeiro a perceber que o lenço da Verônica havia sido impresso da mesma forma milagrosa que o poncho do índio Juan Diego, no México, em 1531. Na época, não se sabia nada sobre radiações, e decidiram chamar aquelas duas relíquias de um termo grego que designa imagens não feitas por mão humana.
Estão querendo dizer que vocês protegem o segredo da formação dessas imagens?
Não se precipite - advertiu-o Maria. - O Santo Sudário de Turim, a "santa face" e o poncho de Guadalupe têm a mesma origem. As três peças foram impressas pela radiação emitida por um tipo muito particular de "infiltrado", de ser metade humano, metade divino. Jesus foi um deles. Mas nós, de sua estirpe, continuamos caminhando sobre a face da Terra. A energia que impregnou aqueles objetos, a que nós emitimos, é a mesma que alterou a foto que o senhor foi pegar esta manhã no quartel dos sampietrini.
Como sabe quê...?
As paredes têm ouvidos, padre.
E o que isso tem a ver comigo?
Muito.
Quem atentou contra a coluna de santa Verônica? - perguntou o "evangelista", nervoso. - E para quê?
Acalme-se, padre. Nossos inimigos quiseram nos obrigar a aparecer, padre. Queriam nos deter. Mas fracassaram.
E quem são? - insistiu.
Os mesmos para quem o senhor trabalha, e que pretendem tirá-lo do projeto da Cronovisão. Não lembra para que foi a Roma? - O olhar de Maria era frio. - Nossos inimigos são os seus, padre Baldi. Os mesmos que há séculos perseguem pessoas como Ferrell ou como eu para se aproveitar de nossa energia.
O beneditino não respondeu.
Maria Coronel contou ao padre Baldi, então, uma história surpreendente. Era o relato de sua família, de suas origens. Uma fábula citada no próprio livro do Gênesis quando explica como os anjos de Deus se misturaram com as filhas dos homens e deram à luz criaturas híbridas. Crianças metade humanas, metade divinas. A humanidade, explicou ela, partiu dessa mistura, e, desde então, de quando em quando, certas famílias engendram criaturas com poderes extraordinários, mais próximas aos anjos que a suas mães biológicas. Muitos deles descobriram isso tarde: a energia que irradiavam era capaz de alterar a vida a seu redor. Emitiam algum tipo de radiação que poderia até matar. Uma força invisível que, ao mesmo tempo, era capaz de transformá-los em energia pura e fazê-los sofrer experiências prodigiosas, como a bilocação. Ou o dom da vidência. Ou a habilidade de penetrar na psique dos humanos normais e alterá-la.
Meu sobrenome, padre - explicou Maria -, pertence a uma dessas famílias. Irmã Maria de Jesus de Ágreda chamava-se, na realidade, Maria Coronel, como eu. Esse foi seu nome civil antes de trocá-lo quando professou como religiosa. Ela morreu consumida pela própria energia. No século XIV, outra mulher chamada Maria Coronel sofreu os mesmos transes. Seu corpo se conserva hoje, incólume, no real convento de Santa Inês de Sevilha. Ela morreu acossada pelo rei Pedro, o Cruel de Castela.
Disse que pessoas como vocês são perseguidas...
Sim. A Igreja de Roma descobriu muito rapidamente o potencial que tínhamos e decidiram aproveitá-lo a seu favor.
Aproveitá-lo?
Sim, padre - prosseguiu Maria, muito séria. - É o que aconteceu, por exemplo, com o caso de irmã Maria Luisa de la Ascensión, mais conhecida como a freira de Carrión, que experimentou bilocações a diversos lugares do mundo. Ela também foi filha de anjos, como nós. Esteve em Assis visitando o sepulcro de são Francisco; em Madri atendeu ao moribundo Felipe III; no Japão, reconfortou o mártir franciscano frei Juan de Santamaría nas batalhas travadas contra os infiéis; auxiliou os barcos espanhóis que regressavam da América e temiam ser assaltados por piratas ingleses, e foi vista até mesmo em algumas tribos do oeste do Novo México, evangelizando-as. E tudo isso sem sair nunca da província de Palencia!
E como alguém pôde se aproveitar desse dom, Maria?
Acidentalmente, em vários daqueles "saltos", a irmã Maria Luisa foi confundida com uma aparição de Nossa Senhora. Quando o Santo Ofício descobriu o efeito que causava na população pagã, foi adestrada para que se fizesse passar pela Virgem. Sua tarefa ajudou a assentar o culto católico em muitas regiões.
Mas isso é impossível! - protestou Baldi, cada vez menos convencido.
Não, padre. É possível. E é aqui que o senhor entra na história.
Albert Ferrell tomou a palavra:
Foram pessoas como nós que, com o tempo, acabaram dominando essa capacidade de desdobramento. Descobrimos que as bilocações estavam associadas a certos tipos de vibração musical e decidimos manter o segredo longe do controle da Igreja. Então, urdimos um plano: se liberássemos nosso segredo, conseguiríamos fazer com que Roma parasse de nos utilizar para seus propósitos; que acabassem a perseguição e a secular impostura.
E conseguiram?
Ferrell não quis responder.
Nosso primeiro passo foi pôr essa técnica nas mãos de Robert Monroe, o engenheiro de som de quem lhe falei em Roma.
Ele tinha certa propensão natural às viagens astrais e à "canalização"; então, decidimos ajudá-lo. Acreditamos que, se Monroe desenvolvesse a técnica de viagem astral, que é uma de nossas capacidades "angelicais", talvez deduzisse como a humanidade vinha sendo enganada há séculos com falsas aparições, e nos libertaria.
E por que escolheram ele, e não qualquer outro?
O cérebro dele tinha o lóbulo temporal direito muito sensível. Esse lóbulo é a "antena" de nosso cérebro, e a dele era realmente receptiva. Para nós, foi fácil entrar em seus sonhos e orientá-lo para nossos interesses. Queríamos que um homem do século XX sistematizasse o que frei Alonso de Benavides, três séculos antes, havia escrito nos margens do exemplar do Memorial que roubamos da Biblioteca Nacional.
E por que o roubaram?
Maria Coronel aproximou-se de onde estava o padre Baldi e o encarou penetrantemente com o olhar. Seu coração tornou a se acelerar:
Primeiro quisemos comprá-lo. Mas rejeitaram nossa oferta. Então, decidimos pegá-lo emprestado. Jamais se deixava alguém consultar esse manuscrito. Na prática, havia sumido. E precisávamos que alguém alheio a nós o descobrisse e o divulgasse. Mas a Igreja, por meio de seus múltiplos tentáculos, sempre impediu que ele fosse trazido à luz. Felizmente, jamais conseguiu que fosse enviado a Roma.
Continuo sem entender seus propósitos - disse Baldi, angustiado. - Para que o querem divulgar?
Para que a cristandade compreenda como foi enganada. Como foram forjadas tantas e tantas aparições da Virgem que ajudaram a escravizar gente como nós.
Na realidade - acrescentou Ferrell -, nós o roubamos para que possa vir à luz, junto com a existência da Cronovisão e os esforços do Inscom de criar um departamento de espiões astrais. Nossa pretensão é que alguém reúna toda a verdade e explique que a Virgem nunca esteve no Novo México. Que foram freiras angelicais, de nossa estirpe, utilizando técnicas precisas, que estiveram realmente lá, e que tudo foi um complô para manter uma fé primitiva baseada na manipulação.
Alguém? Quem?
Primeiro, tentamos convencer Luigi Corso. Além de ser um dos "evangelistas" de seu projeto - "são Mateus" - e de conhecer bem os avanços do som aplicado às bilocações, era escritor.
Mas ele se negou - esclareceu Maria.
E vocês o mataram...
Não, padre - sua interlocutora reagiu. - Estive com Corso antes de sua morte. Passei várias horas com ele tentando convencê-lo, mas não houve jeito. Naquela manhã, muito impressionado, ele decidiu abandonar o projeto da Cronovisão. Deixou-me copiar seus arquivos e, fora de si, formatou seu computador diante de meus próprios olhos.
E depois?
Depois o deixei lá. Em sua solidão. Decidindo se colaborava conosco ou se continuava servindo à grande mentira à qual havia consagrado sua vida. Ele decidiu se matar.
Baldi baixou os olhos, doloridamente.
Posso ter certeza de que vocês não o mataram?
Pelo menos não tivemos vontade de fazê-lo - interveio Ferrell.
Que quer dizer, dottore?
O senhor já deve ter notado como nossa presença pode alterar um ritmo cardíaco normal, não é?
Baldi agitou-se, surpreso. Era verdade: seu coração continuava batendo com força em seu peito. E, se pensasse um pouco... isso havia acontecido toda vez que se encontrara com Ferrell.
Pois bem - prosseguiu -, a autópsia revelou que Corso sofria de uma insuficiência cardíaca moderada. Deixe-me dizer de outro modo. Talvez, após ter Maria perto de si por muito tempo, a insuficiência de Corso tenha se transformado em um infarto. O infarto gerou dor. E a dor o levou a pedir ajuda pela janela. Ele então caiu no vazio, já morto.
O horror estava estampado no rosto do beneditino.
Isso, dottore - hesitou -, é uma mera hipótese?
Não. É mais que isso. É uma certeza. O coração de Corso não estava batendo quando caiu no pátio de Santa Gemma. A última autópsia inclui esse dado. Esqueci de lhe contar - sorriu.
E, digam-me - Baldi se recompôs já escolheram alguém para substituir Corso?
Sim. A esta hora - disse Maria olhando para seu relógio -, está a dez mil quilômetros daqui. Prestes a descobrir sua missão.
Carlos levou mais de duas horas para ler a versão do manuscrito que Benavides havia escrito para o rei. Devorou não somente o texto principal - não muito diferente do Memorial impresso em 1630 por Felipe IV mas também as notas à margem que especificavam que melodias sacras favoreciam o "vôo místico" e que tipo de operação certos anjos praticaram no cérebro de irmã Maria de Jesus para que respondesse a elas.
O jornalista não ignorava como havia sido comum esse tipo de relato na literatura mística universal. De fato, irmã Maria de Jesus de Ágreda não foi a única religiosa daquele tempo a receber a intervenção de anjos de carne e osso. Santa Teresa de Jesus, a maior mística do Século de Ouro espanhol, também sofreu essas "operações". "Via em suas mãos um dardo de ouro longo, e no fim dele parecia ter um pouco de fogo", escreveu. "Sentia como se fosse enfiado em meu coração algumas vezes, e me chegava às entranhas. Ao ser retirado, parecia que as levava consigo, e me deixava toda abrasada em amor grande de Deus."
O Memorial de Benavides incluía, ainda, outro tipo de comentários. Existia - é o que afirmava o texto - uma fórmula baseada em vibrações acústicas para se bilocar. Uma fórmula importada para a cristandade por certos "infiltrados" que haviam descido à Terra na noite dos tempos. E afirmava que o Santo Ofício localizara seus descendentes e lhes arrancara a fórmula.
- Jennifer... - murmurou finalmente Carlos, depois de um bom tempo em silêncio.
- Sim?
Você viu a Dama Azul em seus sonhos, não é?
Sim.
Como era?
Bem... Eu a vi descer do céu em um cone de luz. Irradiava tanta luminosidade que a duras penas pude distinguir seus traços... Mas apostaria que era a mesma mulher com quem sonhei mais tarde. Essa que chamavam de Maria de Jesus de Ágreda.
Sempre foi a mesma?
Acho que sim.
E a viu sempre sozinha?
Sim. Por que me pergunta isso?
Porque, segundo este documento - disse Carlos, segurando aquelas páginas -, houve várias Damas Azuis que voaram para a América nesse mesmo período. Diz que foram enviadas pelo menos mais três freiras àquele lugar para pregar. E que, mais tarde, foram identificadas pelos nativos como a Virgem. Sabe alguma coisa sobre isso?
Não. Ninguém do projeto me falou de outras Damas Azuis.
Carlos olhou para Jennifer, que esperava ansiosa que terminasse de traduzir o texto.
A propósito, não me disse que nome recebeu esse projeto conjunto entre o Inscom e o Vaticano.
Não, não disse. Não sei se é importante, também não sei se é um segredo de Estado. Mas, quer saber? Tanto faz.
Jennifer inclinou-se e sussurrou-lhe algo que o deixou pregado no sofá:
Chamava-se Cronovisão.
Cronovisão?
Isso mesmo. Já ouviu falar?
O jornalista evitou o olhar de Jennifer.
Sim... Há algum tempo.
Jennifer não insistiu.
Carlos, definitivamente, acabava de abraçar a fé da sincro- nicidade. Aquilo havia sido minuciosamente traçado pelo Programador. Já não lhe importava encontrá-lo ou não algum dia. Sabia que ele era real.
E isso era mais que suficiente.
Cinco impressionantes Fiats pretos, com as cortininhas dos bancos traseiros fechadas, atravessaram a toda velocidade a porta do único bloco independente da Piazza do Sant'Uffizio, no número 11, não muito longe da esplanada de São Pedro. Aquilo não era um bom sinal. A máxima autoridade havia convocado para aquele conselho o prefeito do Conselho para os Assuntos Públicos da Igreja, o cardeal responsável pela Sagrada Congregação para as Causas dos Santos, o diretor-geral do Instituto para Obras Exteriores (IOE) , o secretário pessoal do papa e o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. O encontro ia acontecer no salão senhorial desta última Congregação. No Santo Ofício. Às 22h30 em ponto.
Os cinco homens subiram ao terceiro andar escoltados por seus respectivos secretários. Enquanto tomavam assento, três beneditinas serviram chá e biscoitos em jogos de prata com as chaves de Pedro em baixo-relevo, enquanto vários funcionários do Santo Ofício distribuíam grossas pastas com a documentação a debater.
O prefeito do Santo Ofício, um homem com fama de poucos amigos, aguardou que seus convidados se instalassem. Depois, com a solenidade que o caracterizava, anunciou o início da sessão com seu sininho de bronze.
Eminências, a Santa Mãe Igreja foi atacada de dentro, e Sua Santidade deseja que combatamos esta agressão terrorista antes que seja tarde demais.
Os cardeais entreolharam-se com uma expressão de surpresa. Ninguém havia ouvido nem uma palavra sobre sabotagens, conspirações ou tramas dentro do Vaticano fazia meses. Desde o atentado que o papa havia sofrido pelas mãos de um fanático turco na praça São Pedro, uma certa calma havia se instalado em Roma. Só monsenhor Ricardo Torres, homem de frente da Congregação para as Causas dos Santos, ergueu a voz acima do resto e exigiu uma explicação.
O prefeito Cormack, um homem magro com fama de implacável - bem ganha, desde que em 1979 o papa o encarregara de neutralizar a teologia da liberação -, aguardou que os murmúrios cessassem. Observava os cardeais como quem se prepara para anunciar uma desgraça irreparável.
Continuamos sem notícias do padre Giuseppe Baldi, seqüestrado na Espanha esta semana.
Fez uma pausa. Os prelados retornaram aos murmúrios.
Seu desaparecimento não somente deixou no ar nosso projeto de Cronovisão como também forçou os serviços secretos a investigar o assunto, descobrindo uma documentação que creio devem conhecer imediatamente.
Cormack passou os olhos pela sala, exigindo silêncio.
Nas pastas que acabaram de receber - prosseguiu encontrarão documentos que peço que examinem com atenção. Foram reproduzidos pela primeira e única vez para este Conselho.
Estavam depositados na câmera blindada do Archivio Segreto, e confio que os manipularão com a maior discrição.
Os arquivos a que o monsenhor Joseph Cormack se referia, de capa plastificada e com a bandeira branca e amarela dos Estados Pontifícios, foram abertos por todos com curiosidade.
Atentem, por favor, ao primeiro documento - prosseguiu o anfitrião. - Verão uma tabela cronológica onde são enumeradas algumas das principais aparições da Virgem. Se repararem, verão que, antes do século XI, a única registrada é a visita que Nossa Senhora, a Virgem Maria, fez ao apóstolo Santiago, perto do rio Ebro, na Espanha, no ano quarenta.
Eminência...
Monsenhor Sebastiano Balducci, prefeito do Conselho para os Assuntos Públicos da Igreja e o purpurado mais velho dentre os convocados, levantou-se de sua cadeira brandindo aquelas folhas de forma ameaçadora.
Suponho que não nos convocou para uma reunião de máxima prioridade para discutir velhas aparições - disse.
Sente-se, padre Balducci! - gritou Cormack com os olhos vermelhos. - Vocês sabem quanto Sua Santidade aprecia o culto à Mãe de Deus e quanto trabalhou em sua consolidação...
Ninguém replicou.
Pois bem, alguém quer pôr em evidência os métodos que utilizamos para promover esse culto e desprestigiar a nossa instituição.
A situação é desconcertante, Eminências - Stanislaw Zsidiv, o secretário do papa e último homem a ver Baldi em Roma, tomou a palavra, olhando para cada um dos reunidos com sua fria expressão de lenhador polonês. - De alguma maneira, vazou para fora dos muros vaticanos a técnica que utilizamos para provocar certas aparições de Nossa Senhora.
Métodos? Técnica? Pode-se saber do que estão falando...? - O velho Balducci voltou à carga ainda mais irritado.
Monsenhor Balducci, o senhor é o único nesta sala que não foi informado sobre o objeto de discussão desta noite - atalhou Cormack de novo. - Porém, vai ter um papel fundamental no controle da tempestade que se avizinha.
Tempestade? Esclareça, por favor.
Veja outra vez os documentos e lhe explicarei algo que nossa instituição vem mantendo em segredo durante séculos.
Joseph Cormack, que apesar de seus trinta anos em Roma nunca havia conseguido polir seus modos de padre de bairro agitador, aguardou pacientemente que Balducci terminasse de estudar o primeiro documento.
O que está lendo, padre, é a história da primeira aparição da Virgem. Vou resumi-la: acredita-se que Maria, preocupada com os poucos avanços da evangelização na Hispânia, apresentou-se em corpo e alma a Santiago, o Maior junto ao rio Ebro, na cidade de Caesar Augusta.
É a lenda que deu origem à construção da basílica do Pilar, em Zaragoza - pontuou monsenhor Torres, o único espanhol da reunião e declarado devoto de Nossa Senhora do Pilar.
A questão é, Eminências, que essa "visita" ocorreu em vida da Virgem, antes de sua ascensão aos céus. Mas também serviu para que deixasse em Zaragoza uma lembrança física de sua visita: uma coluna de pedra que ainda é venerada em nossos dias.
Balducci olhou para Cormack de soslaio e balbuciou algo.
Fábulas! - protestou. - O apóstolo Santiago jamais esteve na Espanha. Isso é um mito medieval.
Pode ser que Santiago não, padre, mas a Virgem sim. De fato, discutiu-se muito sobre aquele prodígio nos primeiros anos de nossa instituição e chegou-se à conclusão de que foi um milagre de bilocação. Nossa Senhora desdobrou-se pela Graça de Deus até as margens do rio Ebro e levou consigo uma pedra da Terra Santa que ainda está lá.
E daí?
Cormack insistiu:
Se observar a tabela, as aparições históricas seguintes datam do século xi. Mil anos depois!
Monsenhor Balducci contemplava, incrédulo, aquela enumeração de nomes, datas e lugares. Ainda não sabia aonde o prefeito queria chegar.
A partir do ano mil, as novas visões da Virgem espalharam-se como uma epidemia por toda a Europa. Ninguém sabia o que estava acontecendo - e a Igreja menos ainda até que o papa Inocêncio III encomendou uma investigação a fundo que revelou algo surpreendente. Algo que decidiu manter em segredo dadas as suas conseqüências históricas.
Prossiga, padre Cormack.
Está bem - respirou fundo. - Talvez vocês não se recordem, mas a Europa esteve perto do colapso em 999. Todo o mundo, inclusive o papa, tinha certeza de que o mundo acabaria em trinta e um de dezembro daquele ano, mas nada aconteceu. E aquilo, em vez de desanimar os crentes, produziu uma revitalização sem precedentes de nossa fé. Os fiéis multiplicaram a esperança na redenção e as ordens monásticas viram seus recrutamentos crescerem até cotas impensáveis. Muitos desses novos clérigos e religiosas entraram de repente em um mundo regrado, onde foram submetidos a todo tipo de estímulo novo, e os místicos começaram a proliferar. A comissão do papa Inocêncio estabeleceu um claro paralelismo entre as aparições da Virgem e os fenômenos místicos vividos por algumas religiosas. Em geral, tratava-se de mulheres que viviam êxtases intensos nos quais irradiavam luz, levitavam ou entravam em estados epilépticos severos.
E por que isso foi escondido?
Os reunidos sorriram diante da ingenuidade do padre Balducci.
Homem de Deus! Aquelas freiras bilocadas confundidas com a Virgem não nos prejudicaram. A crescente fé medieval em Nossa Senhora serviu para enterrar muitos cultos anteriores ao cristianismo, especialmente deusas pagãs, e justificou a construção de catedrais e ermidas por toda a Europa. Onde a fé perigava, "inventava-se" uma invocação mariana. Porém, só um tempo depois é que foi possível controlar o fenômeno do desdobramento de algumas místicas, e foram criadas intencionalmente invocações da Virgem. Aquelas místicas começaram a ser controladas por nós ferreamente.
Intencionalmente? - Balducci já não dava crédito ao que ouvia. - Que quer dizer? Que a Igreja criou as próprias aparições da Virgem?
Sim, Eminência. Descobriu-se que, se essas mulheres fossem submetidas a freqüências musicais determinadas, favoreciam-se êxtases, que depois evoluíam para bilocações. O jogo era perigoso, visto que aquelas freiras envelheciam rapidamente, sua saúde mental se deteriorava em poucos anos e ficavam quase imprestáveis para novos serviços.
Monsenhor Balducci deu uma olhada em outra lista incluída no dossiê que a secretaria do Santo Ofício havia lhes fornecido. Nela constavam nomes de religiosas, do século XI ao XIX, que participaram daquele programa. Aquilo era um escândalo. Freiras como a cisterciense Aleydis de Schaerbeck, que em 1250 se tornou célebre porque sua cela se enchia de uma luz fulgurante enquanto seu corpo "aparecia" em Toulouse e outras regiões do sudeste francês; a reformadora clarissa Colette de Corbie, santa, que, até sua morte, em 1447, deixou-se ver nos arredores de Lyon, dando origem a várias invocações de Nossa Senhora da Luz pela intensidade com que sua imagem foi vista por aqueles lados; irmã Catarina de Cristo, na Espanha de 1590; irmã Madalena de São José, em Paris um século depois; Maria Madalena de Pazzi em 1607, na Itália... e assim por diante, até totalizarem mais de cem freiras.
Mas isso requeria uma organização que coordenasse muita gente - arguiu Balducci cada vez mais atônito.
A organização existiu, e era uma pequena divisão dentro do Santo Ofício - respondeu gentilmente Giancarlo Orlandi, diretor geral do IOE, que até esse momento havia permanecido calado.
E agiu impune durante tantos séculos, sem ser descoberta?
Impune mais ou menos, padre - foi Cormack quem respondeu com certo pesar. - Essa é, justamente, a razão que motivou esta reunião. De fato, em outra parte dessa documentação encontrará dados sobre a única grave indiscrição que esse projeto cometeu em oito séculos de existência. Aconteceu em 1631, depois que o Santo Ofício concluiu com sucesso um programa de "evangelização" a distância, projetando uma freira de clausura espanhola ao Novo México.
A Dama Azul?
Ora, conhece o caso? - a resposta de Balducci surpreendeu os reunidos.
E quem não conhece? Até os ratos em Roma sabem que desapareceram documentos históricos de bibliotecas e arquivos públicos relativos a esse incidente nesses últimos meses.
Era sobre o que ia falar, padre.
O padre Cormack inclinou a cabeça, permitindo a monsenhor Torres que explicasse algo mais:
O assunto dos documentos desaparecidos - começou Torres - é um mistério. Foram roubados da Biblioteca Nacional de Madri e até do Archivio Segreto Vaticano. Os ladrões selecionaram só os textos que revelavam a existência deste programa de criação de "aparições" marianas e tentaram vazá-los à opinião pública.
Logo, os ladrões estão a par de tudo... - murmurou o secretário Zsidiv.
Esse é o problema. Não há dúvida de que uma organização muito poderosa infiltrou-se entre nós, e quer nossa ruína. Existe uma quinta coluna que está tentando jogar por terra um trabalho de séculos.
Padre, está acusando alguém desta mesa? - Giancarlo Orlandi sobressaltou todo o Conselho.
Não se exalte. A coluna de que estou falando age pelas costas da Igreja. Por ora, conseguiu pegar um documento que todos considerávamos sob controle, quase esquecido, que explica as técnicas para criar falsas aparições da Virgem e outros prodígios, como as vozes de Deus, mediante o uso de vibrações acústicas.
Deus! Isso é possível?
Balducci olhou horrorizado para o padre Cormack, vendo-o assentir.
Isso mesmo.
E o que aconteceria se a farsa fosse descoberta?
Sofreríamos um imenso desprestígio. Imagine: seríamos os criadores de aparições por meio de "efeitos especiais". Os fiéis se sentiriam traídos e se afastariam da tutela da Santa Igreja...
Agora entendo por que me convocaram - murmurou Balducci. - Querem que convença a cristandade da autenticidade dessas aparições em minha qualidade de prefeito do Conselho para os Assuntos Públicos da Igreja, não é isso?
Não exatamente. O dano é irreparável, e a potência hostil que pegou a documentação já tomou medidas para revelar a terrível verdade.
E então?
Sua missão será dosar essa informação ao mundo para que não seja tão traumática quando nossos inimigos a revelarem. Tememos seriamente que o assunto já esteja fora de controle.
E como farei isso?
Isso é o que devemos acertar. Mas tenho várias idéias. Peça, por exemplo, que alguém escreva um romance, que façam uma série de televisão, que rodem um filme... sei lá! Utilize a propaganda. Como sabe, quando a verdade se disfarça de ficção, por alguma razão acaba perdendo verossimilhança.
Monsenhor Zsidiv levantou-se com um gesto triunfal:
Tenho uma proposta. Baldi, antes de desaparecer, falou com um jornalista e lhe forneceu certos detalhes da Cronovisão, que mais tarde foram publicados na Espanha.
Nós nos lembramos - interrompeu-o Cormack.
E por que não convidar esse jornalista para escrever o romance que o senhor está propondo? Afinal de contas, ele já tem certos elementos com que começar a traçar sua história. Poderia intitulá-la A Dama Azul...
O prefeito do Santo Ofício esboçou um sorriso de orelha a orelha.
Esse é um bom ponto de partida. O senhor pensa como os anjos - comentou.
Zsidiv sorriu com seus botões. Era, de fato, a primeira vez na história que um anjo chegava a ocupar uma posição tão alta no Vaticano, e conseguia impor sua opinião. Mas nem Cormack nem o resto do Conselho sabia. Lembrou o amargo desconcerto em que devia estar àquela hora o padre Baldi em seu refúgio segoviano. Lamentava ter enganado aquele homem, obrigando-o a perseguir documentos que estavam havia longo tempo sob seu controle. Mas não podia deixar que outros da Igreja se aproveitassem de seus conhecimentos. Sua intenção era liberá-lo naquela mesma noite, mandá-lo de volta a sua cela veneziana e, dado que a essa altura já devia conhecer todos os detalhes de sua estirpe angelical, proporia a ele que se juntasse a sua causa e pusesse seus conhecimentos técnicos a serviço da Verdade.
Quanto a Carlos Albert, divertia-o pensar nas muitas sincronicidades que dali em diante o assaltariam. Tinha certeza de que o jornalista que um dia chamara a atenção de sua Ordo Sanctae Imaginis fazendo inoportunas perguntas sobre a Cronovisão voltaria a ter fé. Pelo menos em anjos. E também Jennifer Narody. Mas nenhuma de suas alegrias era tão grande quanto a de saber que, a partir daquele dia, ninguém voltaria a usar um de seus irmãos para enganar um semelhante.
- Anjos? - sussurrou a Cormack com expressão de divertimento. - Sim. Anjos rebeldes.
[1] A imagem de um homem em "negativo" (luz em sombra e as sombras mais claras) gravado no Sudário de Turim é conhecida como "O homem do sudário", em torno do qual existe a polêmica quanto a ser o próprio Jesus. (N. da T.)
[2] Para comodidade do leitor, fornecemos os anos do calendário ocidental. (N. do A.)
[3] Os Gedeones Internacionales é uma associação, presente em mais de 170 países, de homens cristãos dedicados aos negócios, cujo propósito é a divulgação do Evangelho. (N. da T.)
Javier Sierra
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















