



Biblio VT




Era uma vez uma quinta toda cercada de muros.
Tinha arvoredos maravilhosos e antigos, lagos, fontes, jardins, pomares, bosques, campos e um grande parque seguido por um pinhal que avançava quase até ao mar.
A quinta ficava nos arredores duma cidade. O seu pesado portão era de ferro forjado pintado de verde. Quem entrava via logo uma grande casa rodeada por tílias altíssimas cujas folhas, dum lado verdes e de outro lado quase brancas, palpitavam na brisa.
Era nessa casa que morava Isabel.
Isabel nesse tempo tinha onze anos e por isso ia todos os dias da semana ao colégio, baloiçando a sua pasta cheia de livros ora numa mão ora na outra.
Mas às quatro horas voltava para casa, lanchava a correr e saía para a quinta.
Isabel não tinha irmãos e por isso sabia brincar sozinha e conversar com as árvores, com as pedras e com as flores.
Todos os dias ela percorria a quinta. No Outono apanhava castanhas esmagando com o pé os ouriços verdes. No Inverno colhia violetas e camélias. Na Primavera trepava às cerejeiras para comer as primeiras cerejas doces, escuras e vermelhas. E também subia às árvores onde todos os anos havia ninhos, ninhos redondos feitos de ervas, folhas secas e penas e que tinham lá dentro quatro ovos verdes sarapintados de castanho. Caminhava entre o trigo que era como um doce mar, aéreo e leve. Às vezes passava horas a ler sob o caramanchão onde as flores lilases das glicínias pendiam em grandes cachos perfumados rodeados de abelhas. Ou caminhava devagar na luz verde do parque escutando o rumor das altas copas dos plátanos. E conhecia o lugar onde, escondidos entre ervas e folhas, cresciam os morangos selvagens.
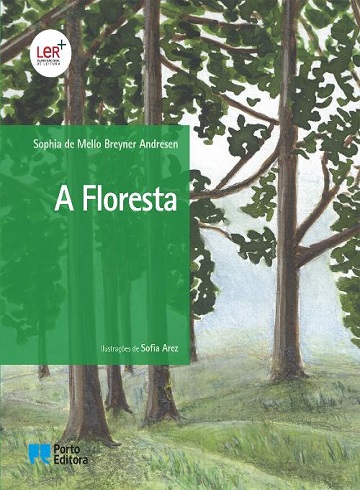
Em geral Isabel brincava sozinha. Mas às vezes passeava com o velho jardineiro chamado Tomé que era seu grande amigo. Tomé ensinava-lhe os nomes das árvores e das flores e Isabel ajudava-o a regar e a arrancar ervas más. E também com Tomé ela ia aos sítios onde não podia ir só. Pois a porta da estufa, a porta do galinheiro e a porta da adega estavam sempre fechadas à chave. Na estufa enorme, sob o telhado de vidro caiado, o ar era húmido e quente. Aí cresciam as avencas maravilhosas, finas e leves, as begónias roxas, as orquídeas verdes e sarapintadas com o seu ar de bichos venenosos, e outras plantas e flores que tinham os seus nomes esquisitos escritos numa placa de alumínio atada aos seus pés com ráfia.
No galinheiro Isabel distribuía o milho e logo uma multidão de galinhas a cercava cacarejando. Então ela gritava «Peru velho». E o peru logo respondia inchando todas as suas penas: «Glu, glu, glu». E havia sempre uma nova ninhada de pintos amarelos e castanhos. Isabel apanhava-os do chão com muito cuidado rodeado com as duas mãos o leve calor das suas penas onde palpitava um pequeno coração rápido e aflito.
Tomé, depois levava-a à adega. Lá dentro tudo estava escuro. Isabel gritava «Hu!; e logo uma revoada de morcegos se desprendia das paredes. Então ela atava um lenço à cabeça para que os morcegos não se prendessem nos seus cabelos. Havia ali grandes tabuleiros de madeira onde as peras e as maçãs acabam de amadurecer depois de colhidas. E por isso na adega cheirava sempre a Outono.
Tomé tirava dos tabuleiros a maçã mais vermelha para Isabel. A casca fina estalava entre os dentes e a polpa era doce e fresca, branca e dura.
Isabel conhecia bem todas estas coisas maravilhosas. Cada ano repetia de novo as suas quatro estações. Era a Primavera que enchia as árvores de leves folhagens verdes, e espalhava nos campos a multidão das papoilas. Então as andorinhas voltavam e tudo se enchia de flores que baloiçavam docemente nas brisas transparentes. Depois o Verão chegava, os dias cresciam, o ar povoava-se de perfumes, as abelhas zumbiam em roda dos cachos de glicínias. Rosas, narcisos, cravos e tulipas desabrochavam nos canteiros. O jardineiro levava todas as manhãs à cozinha grandes cestos cheios de fruta: primeiro eram cerejas e morangos, depois pêssegos, ameixas e peras. Um pouco mais tarde apareciam figos e uvas. Então começava o Outono. Os dias ficavam mais curtos e mais doirados, as vinhas eram vindimadas, dos castanheiros caíam os primeiros ouriços verdes, nos jardins havia dálias e crisântemos, o chão cobria-se de folhas amarelas e secas que se desprendiam uma a uma dos altos galhos das árvores e tombavam lentamente dando voltas no ar. De repente um grande vento cinzento varria a quinta, ouvia-se ao longo o ronco furioso do mar e começava o Inverno. Chovia sem parar durante uma semana. Quando parava de chover começava o frio. Apareciam muito brancas as primeiras camélias. Cada dia era mais curto do que o da véspera. Os plátanos e as tílias, despidos das suas folhas, erguiam no céu pálido os seus galhos nus. Até que a água dos tanques gelava e de manhã, quando Isabel ia para o colégio, os caminhos estavam cheios de geada.
No Inverno, nos dias de chuva, Isabel passava as suas tardes em casa.
Naquela casa tudo era enorme: as portas, as janelas, a cozinha, a copa, os quartos, as salas, as escadas, os corredores.
Mas a maior divisão da casa era o grande átrio onde no Natal se armava o pinheiro. À roda desse átrio ficavam as salas: a sala de jantar com a sua mesa interminável: a sala de estar onde se tomava o chá nas tardes de Inverno: a sala do piano onde Isabel experimentava um por um o som misterioso das teclas brancas e pretas: a biblioteca com as estantes cheias de livros de capas duras com sombrios desenhos doirados e com uma grande mesa onde estava pousado o globo do mundo: a sala vermelha para onde entravam as visitas: a sala dos jogos onde Isabel fazia castelos de cartas sobre a mesa do pano verde, ou construía com as pedras do mah-jong e do dominó maravilhosas cidades habitadas só pelos cavalos do jogo de xadrez: a sala de bilhar onde ela fazia rolar as bolas de marfim vermelhas e brancas tentando acertar nos sacos de rede. Mas a sala mais misteriosa era a sala de baile. A casa era tão grande que nunca ninguém lá ia. Talvez os criados às vezes a limpassem quando Isabel estava no colégio. Mas desde a sua infância ela só tinha visto aquela sala desabitada e com as janelas fechadas.
Às vezes, nas tardes de chuva, Isabel ia explorar a sala de baile. Entreabria com custo uma das portadas e um fio de luz iluminava a penumbra. Então surgiam os móveis cobertos de panos brancos, as pesadas cortinas de damasco vermelho, os grandes espelhos líquidos como um lago, as estátuas de mármore, brancas, imóveis e mudas, e o grande tapete azul cheio de rosas encarnadas. Sobre todas estas coisas pairava um grande sono, um pesado silêncio como se fosse ali o palácio da Princesa Adormecida. Um dia, pensava Isabel, chegaria um cavaleiro. Ele tocaria lá fora a sua trombeta de caça e as patas do seu cavalo fariam rolar as pequenas pedras soltas do pátio. Depois havia de se ouvir nas escadas de granito da entrada o tilintar das suas esporas de prata. Então num momento como tocada por um relâmpago a sala de baile acordaria, O piano começaria a tocar sozinho, nos castiçais uma mão invisível acenderia todas as velas, os panos brancos cairiam dos móveis e uni perfume de rosas invadiria a sala, e as estátuas, uma por uma, sorrindo desceriam do seu pedestal. Mas até esse dia era preciso esperar. Era preciso que a sala continuasse muda, imóvel, sozinha, mergulhada em silêncio e penumbra. E por isso Isabel tornava a encostar a portada da janela, corria o duro fecho de ferro, e saía levemente, sem fazer nenhum barulho, pé ante pé.
Do outro lado da casa ficavam a cozinha, a copa e a rouparia. Aí havia sempre barulho e agitação e as criadas iam e vinham, lavando, arrumando, cozinhando e conversando. Nesse lado da casa a pessoa mais importante era a cozinheira, sempre ocupadíssima, rodeada de carnes, ovos, legumes e galinhas. No Verão ela mexia num enorme tacho o doce de morangos, no Outono fazia marmelada que ficava durante muitos dias a secar ao sol da varanda virada para o Sul. No Natal, assava os perus recheados de castanhas e farófia, na Páscoa metia no forno os cabritos perfumados de ervas. Trazia sempre um molho de chaves pendurado da cintura e era ela quem reinava na despensa, reino misterioso e sombrio onde pairava um perfume de baunilha e canela.
A cozinheira tinha muito mau génio e resmungava todo o dia com a sua ajudanta, a Emília, que descascava as batatas, lavava os tachos e depenava as galinhas. Mas quando estava bem disposta dava a Isabel magníficos presentes: às vezes eram pequenos bolos redondos e doirados, ainda quentes acabados de sair do forno. Outras vezes eram barras, de duro chocolate de fazer bolos que ela guardava na despensa, ou uvas passas e figos secos.
Assim Isabel conhecia bem todas as coisas daquela casa: sabia que no Natal havia um pinheiro carregado de luzes e bolas de vidro no meio do átrio. Sabia que na Páscoa se escondiam no jardim de buxo os ovos pintados. E sabia que no dia dos seus anos havia visitas e presentes.
— Faltam dois meses para o Natal — pensava ela.
Ou então o jardineiro dizia:
— Para o mês que vem já há cerejas.
Ou:
— Para a semana já há tulipas.
Mas um dia aconteceu uma coisa extraordinária e diferente.
Era no mês de Outubro, num sábado à tarde. Nos sábados à tarde Isabel não tinha aulas.
Por isso, mal acabou o almoço, saiu para a quinta.
O tempo estava ainda muito quente e nem uma erva bulia.
Isabel dirigiu-se para um pequeno bosque que ficava perto da casa.
Era um lugar muito solitário onde nunca passava ninguém. Mesmo o jardineiro era raro ali ir pois naquele lugar tudo crescia selvagem e não havia canteiros nem flores.
O chão estava todo coberto de musgo e das altas copas das árvores descia uma sombra trémula atravessada aqui e além por raios doirados de sol.
Isabel estendeu-se ao comprido no chão junto dum carvalho e começou a ler. Mas o livro maçou-a e ao fim de um quarto de hora ela pousou-o a seu lado e começou a olhar um carreiro de formigas que avançando através de musgo se dirigia para um buraco que ficava perto da árvore. Então o olhar de Isabel pousou no tronco do carvalho. Era escuro, enorme e rugoso e seriam precisos três homens para o abraçar. As raízes saindo um pouco da terra formavam arcos e cavidades que lembravam pequenas cavernas.
— Um sítio bom para morarem anões — pensou Isabel.
Este pensamento interessou-a extraordinariamente.
Aos sete anos, logo que tinha aprendido a ler, Isabel tinha lido a história da Branca de Neve e dos Sete Anões. Pensava muitas vezes nessa história. Parecia-lhe que viver entre anões devia ser uma coisa maravilhosa. Imaginava as casas dos anões, os seus palácios enterrados na terra como as luras dos coelhos ou escondidos em lugares solitários, dentro do tronco das árvores.
Queria ver um anão — pediu ela à sua criada Mariana.
— Não há anões: isso são histórias que vêm nos livros — respondeu Mariana.
Mas Isabel não acreditou.
Durante meses procurou os anões entre as pedras e as plantas e as ervas do parque. Mas nunca encontrou nenhum. Por isso acabou por se convencer de que Mariana tinha razão.
Mas agora, em frente das raízes do velho tronco, pensava:
— É pena não haver anões. Podia-se fazer aqui uma casa, óptima para anões.
E tendo meditado alguns momentos resolveu fazer ali uma casa pequenina e imaginar que os anões viriam morar nela.
Com cascas de plátano, paus e pedras fez muros e telhados à roda do tronco. Depois cobriu os telhados com musgo para proteger bem a casa da chuva e do frio. Foi buscar canas e cortou-as todas em pedaços iguais com a tesoira de podar as flores que foi pedir emprestada ao jardineiro. E atando com ráfia as canas fez uma porta que se podia abrir e fechar.
Passou a tarde inteira a fazer todos estes trabalhos.
No dia seguinte era Domingo.
Isabel foi à casa das bonecas que lhe tinham dado nos anos, quando era mais pequena, e tirou de lá um tapete, uma mesa, uma cadeira e uma cama com o seu colchão, a sua almofada e os seus cobertores.
Pôs tudo num cesto, enfiou o cesto no braço, galgou as escadas a quatro e quatro e correu para a quinta.
Ajoelhou-se em frente da árvore e com muito cuidado para não fazer cair os telhados e as paredes que tinha construído, estendeu o tapete no chão da casa. Em cima do tapete pôs a cama com o colchão, a almofada e o cobertor. Ao lado pôs a mesa e a cadeira.Depois, com pedaços de musgo e pequenas pedras, tapou muito bem todos os buracos.
A casa estava magnífica. Tinha um ar muito cómodo e muito amigo. Apetecia imenso viver dentro dela ao lado do velho tronco rugoso, ou, pelo menos, dormir lá uma noite. Isabel desejou ter meio palmo de altura para caber lã dentro. E suspirou depois de ter contemplado longamente a sua obra:
— Que pena esta casa ser a casa de ninguém!
E com muito cuidado fechou a porta de cana que tinha feito na véspera.
Nesse instante ouviram-se vozes chamando:
— Isabel, Isabel!
Eram os primos que vinham brincar e lanchar com ela, como sempre acontecia aos Domingos à tarde.
Mas Isabel não queria que eles vissem aquela casa pois tinha medo que a desfizessem e estragassem. Por isso levantou-se, enfiou o cesto no braço e correu ao encontro das vozes. E quando encontrou os primos afastou-se com eles para outro lado da quinta.
Na segunda-feira Isabel trouxe muitos deveres para fazer e por isso não pôde ir ao pequeno bosque a ver a casa que tinha construído. Na terça teve de ir com a mãe aos anos duma tia. Na quarta teve de ir à costureira.
Mas na quinta-feira foi feriado.
Isabel levantou-se tão cedo que as criadas ainda não estavam todas acordadas.
A ajudanta da cozinheira, que era sempre a primeira pessoa da casa a pôr-se a pé, serviu-lhe na copa a sua xícara de café com leite e o pão com mel. Isabel bebeu o leite dum trago, enfiou um casaco, agarrou o pão e saiu para a quinta.
O nevoeiro da noite ainda não se tinha levantado e tudo estava envolvido numa grande nuvem branca e suspensa. As árvores pareciam flutuar e o fundo dos caminhos não se via. O ar estava maravilhosamente perfumado a Outono, a maçã e a alecrim.
Saltando e correndo Isabel dirigiu-se para o pequeno bosque. Ia tão apressada que nem se lembrava de comer o pão que levava na mão. Ia cheia de curiosidade e de medo pois temia que alguém tivesse destruído a sua obra.
Mas quando chegou em frente do velho tronco sorriu de alegria. A casa estava intacta com o telhado de casca de plátano muito bem coberto de musgo e a porta de cana muito bem fechada. E tinha um ar extraordinariamente sossegado e confortável.
Isabel ajoelhou-se no chão e com cuidado abriu a porta.
Aquilo que viu deixou-a imóvel, muda, com a boca aberta, com os olhos esbugalhados e as mãos erguidas e abertas no ar.
Durante alguns momentos o seu espanto foi tão grande que nem se podia mexer, nem podia pensar o que via.
Depois, devagar, esfregou os olhos. Abriu-os muito e murmurou:
— Estou a sonhar!
Pois dentro da casa tinha acontecido uma coisa extraordinária e incrível:
Em cima da cama estava deitado um verdadeiro anão
Esse anão dormia. E dormia tão profundamente que até ressonava. A sua cara era vermelha como um morango e as pontas da sua longa barba tocavam no chão.
No meio do seu espanto Isabel sentia uma grande alegria e uma grande ternura. Pensando bem parecia-lhe que durante toda a sua vida tinha estado sempre à espera daquele anão. Encontrá-lo agora, ali, era uma coisa muito extraordinária mas também muito simples.
Mediu-o com o olhar e calculou que ele devia ter exactamente um palmo de altura.
— Os anões ainda são mais pequenos do que eu imaginava — pensou ela.
Apetecia-lhe acordá-lo pois tinha a maior curiosidade de saber se ele falava e em que língua. Temia que existisse uma língua dos anões que ela não fosse capaz de entender. Pensou chamar baixinho por ele:
— Senhor anão!
Mas teve medo de o assustar. E resolveu esperar que ele acordasse.
Sem fazer nenhum barulho estendeu-se ao comprido no chão e apoiou a cara nas mãos. Era uma posição cómoda. Poderia ficar assim muito tempo a olhar enquanto ele continuasse a dormir.
O anão estava tapado com o cobertor mas a ponta das suas botas estava descoberta. A sua cara muito vermelha e cheia de pequeninas rugas tinha uma expressão ao mesmo tempo alegre e sisuda. Uma das mãos estava fora da roupa poisada sobre a barba e no dedo anelar brilhava um minúsculo anel de oiro.
Isabel não se cansava de olhar.
E pensava:
— Que coisa tão extraordinária! Fiz uma casa para um anão que não existia e o anão apareceu!
Mas o musgo do chão onde ela se tinha estendido estava ainda húmido do orvalho da noite e ao fim de dez minutos de contemplação Isabel deu um grande espirro.
Foi como se rebentasse um trovão.
O anão abriu os olhos e ao ver a cara de Isabel quase encostada à porta da sua casa ficou tão aterrorizado que rolou da cama abaixo.
— Não te assustes, não te assustes — implorou ela.
Mas ele com uma cara cada vez mais aflita saltou para o outro lado da cama.
— Eu não te faço mal nenhum, não tenhas medo de mim — pediu Isabel.
Mas o anão nem lhe respondeu.
Olhava à sua roda procurando um buraco por onde pudesse fugir. Mas ela tinha tapado com pedras e musgo todos os buracos. Daquela casa só se podia sair pela porta.
Vendo a aflição do homenzinho a rapariga começou a ficar também aflita. Não sabia o que havia de fazer para o sossegar.
Lembrou-se do pão com mel que ainda não tinha comido e que estava poisado no chão ao seu lado. Partiu um bocado muito pequeno e estendeu-o ao anão. Mas ele abanou a cabeça mostrando bem que a oferta não o interessava.
Isabel suspirou e depois de ter meditado um pouco fez-lhe este discurso:
— Anão, anão do meu coração! Não tenhas medo de mim. Eu não te quero fazer mal. Só te quero conhecer. Adoro anões. Passei a minha vida toda a pensar em anões. Quando eu era mais pequena passei tardes e tardes no parque, nos bosques e no pinhal à procura dum anão. Espreitava atrás das moitas e nos buracos das árvores. Mas nunca encontrei nenhum. Por fim, com grande desgosto, convenci-me de que os anões não existiam! Mas, agora, encontrei-te, tu existes e estamos aqui, um em frente do outro, agora, aqui. Mas tu tens medo de mim! Diz-me: que é que eu hei-de fazer para tu fazeres as pazes comigo e seres meu amigo?
— Deixa-me sair daqui — respondeu o anão.
A sua voz era pequena mas clara e bem timbrada.
— Ai! — exclamou Isabel — que bom! sabes falar a minha língua!
— Sei falar todas as línguas — respondeu o homenzinho com ar um tanto desconfiado.
— Eu só sei português e francês — disse Isabel. — Mas só tenho onze anos. Tu que idade tens?
— Trezentos anos.
— Que sorte! — exclamou Isabel cheia de admiração. — Deves saber muitas coisas.
— Os anões sabem sempre muitas coisas — disse ele.
— Então conta-me uma história — pediu Isabel.
Mas o anão abanou a cabeça e disse:
— Agora não. Só quando formos amigos.
— Que hei-de eu fazer para tu seres meu amigo?
— Deixa-me sair daqui e vai-te embora.
— Se eu te deixar sair e me for embora tu foges e nunca mais apareces.
— Lá isso é verdade.
— Então que havemos de fazer? — perguntou ela.
— Vai-te embora para eu poder sair daqui.
— És muito teimoso e muito desconfiado — disse Isabel indignada. — Pensei sempre que os anões fossem mais inteligentes. Então não vês que se eu quisesse te agarrava num minuto com as minhas mãos e te metia no bolso e te levava para minha casa? Se eu não te agarro é porque não te quero assustar e quero que tenhas confiança em mim.
— Se queres que eu tenha confiança em ti sai daí e deixa-me ir embora.
— Bem — suspirou Isabel — vejo que não nos entendemos. O melhor é conversarmos um pouco para ver se perdes o medo. Conta-me como é que vieste parar aqui à minha casa.
— Bem — explicou ele — eu tenho muitas casas: umas são debaixo da terra em lugares misteriosos que tu nem imaginas. Outras são dentro de velhos troncos ocos das árvores e estão todas forradas de penas, folhas de árvores e ervas secas como os ninhos. As minhas casas são muito cómodas e fofas, quentes no Inverno e frescas no Verão. Como tu sabes – ou talvez não saibas, pois as pessoas sabem tão pouco de nós que até julgam que não existimos – os anões dormem de dia e passeiam de noite. Esta noite quase de madrugada, um pouco depois da lua desaparecer, passei por aqui. Vi a tua casa e achei-a simpática. Resolvi experimentar a cama para ver se era cómoda. Estendi-me e tapei-me. Nem tirei as botas pois não pensava demorar-me. Mas estava cansado porque tinha andado muito e, não sei como, adormeci.
— Foi uma sorte!
— Uma pouca sorte! — respondeu ele.
— Anão — implorou Isabel — deixa de ter medo. Podes ter a certeza que não te prendo.
— Ouve — disse o anão — vamos fazer um pacto.
— Está bem, como há-de ser?
O homenzinho apontou com o dedo uma tília que estava a dez metros de distância e disse:
— Vai-te pôr ao pé daquela tília e deixa-me sair daqui em paz. Não corras atrás de mim. Eu vou-me embora mas volto.
— Prometes que voltas?
— Prometo — disse ele solenemente.
— Aceito a tua promessa.
E tendo dito isto Isabel fitou o anão, levantou-se e foi-se pôr ao pé da tília.
Mal a viu a dez metros de distância o anão, rápido e ligeiro saiu da casa. O seu corpo mal se via além de ser muito pequeno usava um fato verde que se confundia com os musgos e as folhagens. Corria muito e dando a volta à árvore desapareceu numa moita de canas.
Isabel ficou durante longos minutos no imóvel para ver se ele voltava... Mas o anão não deu sinal de si.
Isabel dirigia-se para a moita de canas e chamou:
— Anão!
Mas não apareceu ninguém.
Ela tornou a chamar:
— Anão, anão! Estou à tua procura. Responde!
Mas ninguém respondeu.
Isabel procurou durante muito tempo. Sacudiu as moitas de canas, espreitou atrás de todas as árvores.
Estava triste e desiludida.
Por fim foi sentar-se ao pé do carvalho em frente da casa.
Disse muito alto:
— Anão, estou aqui à tua espera.
Pegou no pão que tinha trazido e comeu-o devagar. Mas quando chegou ao fim o anão ainda não tinha aparecido.
Às vezes ela ouvia um ruído e voltava a cabeça. Mas era só uma folha do carvalho que se desprendia do ramo e caía levemente sobre o musgo do chão.
Esperou a manhã inteira.
Até que ao longe se ouviu tocar o sino que chamava para o almoço.
Então ela levantou-se e olhando à sua roda disse:
— Anão, estou muito zangada. Agora vou almoçar. Mas depois do almoço volto para aqui. Espero que cumpras a tua promessa e apareças. Se não apareceres nunca mais na minha vida tenho confiança em ninguém.
E tendo dito isto foi para casa.
Terminado o almoço Isabel enfiou o seu cesto no braço e foi à cozinha pedir à cozinheira que lhe desse chocolate e uvas passas. A cozinheira como sempre era seu costume àquela hora do dia, estava mal disposta e por isso fez-se rogada. Isabel teve de repetir várias vezes o seu pedido. Mas finalmente conseguiu o que queria.
Pôs o chocolate e as passas no cesto e correu para a quinta.
Quando chegou ao pé do velho carvalho chamou:
— Anão!
Mas ninguém respondeu.
Tornou a chamar:
— Anão, meu amigo anão, estou aqui, sou eu!
Mas à sua volta só via arvoredos, musgos, fetos, canas, ervas trémulas.
Com muito cuidado examinou o recinto do pequeno bosque. Mas o anão era tão pequeno que em qualquer parte se podia esconder, e se ele não queria aparecer era impossível descobri-lo. Aliás já podia ter fugido para longe, para o parque ou para o pinhal.
Isabel sentiu-se desesperada.
Sentou-se no chão junto da linda casa que tinha construído e pôs-se a chorar.
Depois ergueu a cabeça e disse:
— Anão, faltaste à tua promessa. És um mentiroso e um covarde.
Mal acabou de falar sentiu uma pancada na cabeça. Era uma bolota que alguém tinha atirado com certa força. A rapariga olhou para cima e viu o anão a cavalo num galho. Parecia furioso.
A sua cara estava encarnadíssima, sacudiu com força as barbas e com um dedo espetado no ar gritou:
— Não admito! Não admito que me chames mentiroso e covarde. Tenho trezentos anos e nunca ninguém me tinha chamado esses nomes.
— Desculpa, desculpa — disse ela. — Pensei que não voltavas.
— Cumpro sempre a minha palavra — declarou o homenzinho.
E saltando de ramo em ramo pôs-se a descer do carvalho.
Isabel estendeu-lhe as suas mãos abertas e o anão pousou nelas.
Era um verdadeiro anão.
O seu fato era de fazenda verde, as botas de coiro castanho. À roda da cintura trazia um cinturão com um punhal de prata e na cabeça usava um gorro verde como o seu fato e enfeitado com uma pena de pássaro.
Com o maior respeito e o maior cuidado a rapariga pousou-o no chão.
Ela sentia-se feliz de o ver ali em sua frente com as suas barbas brancas e a sua cara vermelha, que começou a bater palmas de alegria, cantando:
— Estou tão feliz, tão feliz, tão feliz!
O anão riu e disse:
— Não é preciso fazer tanto barulho.
Isabel tirou do cesto o chocolate e as passas e sentaram-se os dois no chão a comer os presentes da amizade.
Pois a partir desse dia tornaram-se grandes amigos.
Às quatro da tarde, quando ela voltava do colégio, encontravam-se junto do velho carvalho.
Ele encarrapitava-se no ombro dela e assim davas grandes passeios pelo jardim. Se aparecia alguém Isabel escondia-o no bolso ou no cesto que trazia sempre cheio de flores.
Ele ensinava-lhe muitas coisas.
— Tu não tens livros e nunca estiveste num colégio nem numa universidade, como é sabes tantas coisas? — perguntou-lhe ela um dia.
— Bem — respondeu ele — nós os anões vivemos quinhentos anos e assim temos muito tempo de ver muito, ouvir muito, pensar muito. E temos uma grande memória. Quando somos novos, os velhos anões contam-nos tudo quanto viram, durante os cinco séculos da sua vida. E também nos contam tudo quanto os pais deles lhes ensinaram. Ora um anão que ouve uma coisa fica a sabê-lo de cor para sempre. É por isso que eu te posso contar histórias que se passaram há mais de mil anos. Além disso viajamos muito.
— Como é que podes viajar com umas pernas tão pequenas? — perguntou Isabel.
— Viajamos pelo mundo todo a cavalo nos pássaros. Nós somos grandes amigos dos pássaros. E quando eles na Primavera e no Outono emigram em bandos levam-nos com eles sempre que nós temos vontade de mudar de sítio ou de ir ver o mundo. Eu já estive na Pérsia, no Pólo Norte e na Índia e fui com uma cegonha branca desde a Alsácia até ao Norte de África. E é por isso que sei todas as línguas da terra, as dos homens e as dos animais. Sei conversar com um turco e sei conversar com uma perdiz.
Isabel, maravilhada, ouvia.
O anão contava-lhe histórias do passado, histórias de moiros, guerreiros, navegadores, princesas e reis antigos. Depois falava dos países distantes: camelos que atravessam lentamente o grande deserto do Sara e descrevia os Esquimós que vivem no Pólo Norte em casas feitas de gelo.
Mas havia uma coisa que o anão nunca lhe contava: era a sua própria vida. Em vão ela lhe perguntava porque é que ele vivia sozinho naquela quinta, longe de todos os outros anões.
— Por enquanto não te posso responder — dizia ele. — Primeiro preciso de te conhecer melhor para saber se mereces que eu te conte a minha história.
Nesse Inverno quando tinha muito que estudar, Isabel ia ao jardim, enchia o seu cesto de violetas e camélias e trazia o anão para casa escondido entre as flores.
Pois tinham combinado um com o outro que ela não contaria a ninguém que conhecia um anão.
Ele sentava-se no dicionário de francês em cima da mesa de estudo e ia explicando a Isabel as suas lições.
Era um grande explicador.
Com ele Isabel depressa compreendeu que a história, as ciências naturais, a geografia e a gramática eram coisas muito divertidas. Mas a grande especialidade do anão era a matemática. Ele resolvia os problemas e fazia contas de cabeça num segundo.
Isabel perguntava:
— Quanto é 563 vezes 432?
E o anão respondia imediatamente:
— 243216.
E assim passou um ano. Passaram o Inverno, a Primavera e o Verão e voltou o Outono.
E numa tarde de Outono o anão disse a Isabel:
— Amanhã é Domingo e faz um ano que nos conhecemos. Agora já sei que posso ter confiança em ti. Por isso amanhã vou contar-te a minha história. Logo que acabares de almoçar, vem ter comigo, ao lago do parque.
E assim foi. No dia seguinte à hora marcada Isabel estava no lugar combinado.
O lago ficava no meio do parque no sítio mais solitário da quinta. As altas ramagens dos plátanos, dos carvalhos e das tílias cruzavam no céu os seus ramos. A luz era verde e doirada. O chão estava coberto de folhas. Aqui e além estava um galho seco. E de vez em quando, de repente, gritava um pássaro.
Isabel e o anão sentaram-se os dois num velho tronco caído e coberto de musgo que estava estendido no chão.
E o anão começou a contar a sua história:
Antigamente estes lugares estavam todos cobertos por uma espessa floresta solitária e selvagem da qual agora só restam alguns carvalhos e castanheiros centenários que ainda vês neste parque. Nesse tempo a floresta estendia-se durante várias léguas e estava toda povoada de anões. Pessoas havia poucas. Ao todo moravam nestes sítios dez lenhadores e três frades. O convento era muito pequeno pois tinha quatro celas, um refeitório e uma capela. A quarta cela era para os viajantes que às vezes ao cair da tarde pediam pousada aos frades. Do convento agora só restam aqueles dois muros de pedra cobertos de hera que vês além. O resto desapareceu. Quando se construiu o muro desta quinta o convento já estava em ruínas e os pedreiros quando lhes faltavam pedras vinham buscá-las aos muros que agora desapareceram levados pedaço por pedaço.
Mas naquele tempo antigo o convento era muito bonito embora pequeno e pobre e o seu sino tocando as matinas e as ave-marias dobrava a paz destes bosques.
Os anões fugiam dos lenhadores e dos viajantes que atravessavam a floresta mas eram muito amigos dos monges. E quando há dez séculos o convento foi construído foram eles que ajudaram os frades a erguer as paredes e a talhar os bancos de madeira. Pois os anões são grandes carpinteiros, e óptimos pedreiros. E também ensinaram aos frades muitos dos seus segredos. Ensinaram-lhes a falar com os pássaros, ensinaram-lhes a conhecer as plantas medicinais e ensinaram-lhes a construir habitações subterrâneas. Por baixo da capela do convento há um quarto com entrada secreta que foi construído pelos anões.
Neste último século a cidade tem crescido muito. De ano para ano avança e agora já quase vem tocar os muros desta quinta. Mas naqueles tempos antigos a cidade era pequena e ficava muito distante. Os viajantes passavam ao longe pela estrada e era muito raro que alguém deles penetrasse na floresta. Às vezes apareciam caçadores. Então o relinchar dos cavalos, a algazarra dos cães e o toque das trombetas invadiam o ar fino e leve das manhãs. Eram dias de grande confusão. As lebres corriam como loucas, as setas assobiavam no ar, veados assustados fugidos, as aves entontecidas esvoaçavam sem descanso. Mas ao cair da tarde os caçadores chamavam os seus cães e desapareciam. E de novo a paz regressava à floresta. Só se ouvia o canto dos pássaros, o sussurrar da brisa nas folhas, o estalido dos ramos secos.
Mas um dia aconteceu uma grande desgraça: atraída pela vastidão e espessura dos arvoredos uma quadrilha de bandidos veio instalar-se nestes bosques. Aqui ninguém os podia perseguir. Aqui organizaram eles em paz os seus esconderijos secretos onde viviam e guardavam as coisas que tinham roubado. Os bandidos passaram a ser os reis da floresta. Os lenhadores apavorados fugiram com as suas famílias. Isto era no Outono. Daí a dias houve uma grande caçada. O sol acabava de nascer, os seus raios oblíquos penetravam entre os troncos sombrios e a névoa da manhã estava ainda suspensa no ar quando vimos chegar os caçadores. Os cavalos relinchavam, os cães saltavam e os homens riam e conversavam alegremente com uma mão segurando a rédea e a outra pousada sobre a anca. Tinham ouvido contar que a floresta estava no poder dos bandidos, mas não os temiam pois confiavam na pontaria das suas armas, na bravura dos seus cães, na rapidez dos seus cavalos e na sua própria força e valentia.
Mas os bandidos assobiaram de alegria quando, escondidos, viram os caçadores penetrar na floresta.
— Vamos caçá-los — disseram eles uns aos outros.
E rapidamente combinaram um plano.
Os cavaleiros caçaram durante a manhã inteira mas sem apanhar nenhum animal pois os bandidos iam espantando a caça à sua frente.
— Parece que os ladrões caçaram tudo — disse um dos cavaleiros rindo.
— Talvez fosse melhor não irmos mais longe — disse outro — nós somos só sete e contam que eles são mais de vinte.
— Somo sete — atalhou um terceiro caçador — mas temos dez cães e boas armas e bons cavalos. Como vês eles nem têm coragem para nos aparecer.
E assim gracejando continuaram a embrenhar-se na floresta.
O dia estava a aquecer e perto do meio-dia os cavaleiros dirigiram-se para o sítio onde corria uma pequena fonte.
Mas os bandidos estavam à espreita e antes que os cavaleiros desmontassem e que os cães começassem a beber enxotaram para perto deles um veado.
Vendo o animal os cavaleiros e os cães esqueceram a sua sede e partiram como relâmpagos com grandes gritos de alegria atrás da caça.
O veado, porém, era ágil, jovem e robusto e os cavaleiros tiveram de o perseguir durante muito tempo até o apanharem.
Assim se afastaram para longe e se embrenharam mais ainda nos bosques.
Morto o veado, resolveram não caçar mais naquele dia e voltaram para trás.
No caminho de regresso pararam de novo junto da fonte. Os cavaleiros desmontaram e todos beberam à vez: primeiro os homens, depois os cavalos, no fim os cães.
Encarrapitados nas árvores cuja densa folhagem os escondia, os bandidos espreitavam. E quando os dez cães se reuniram todos para beber na boca da fonte dispararam contra eles.
Sete cães caíram logo varados pelos tiros certeiros. Os outros três fugiram aterrorizados e desapareceram ganindo entre os arvoredos.
Houve um momento de grande confusão. Dois dos cavalos fugiram também. Os outros escoiceavam e faziam cangochas e empinavam-se.
Obedecendo a um sinal, os bandidos saltaram todos ao mesmo tempo das árvores.
A batalha foi rápida. Num abrir e fechar de olhos os vinte salteadores cercaram, derrubaram e desarmaram os sete cavaleiros. Depois tiraram-lhes as ricas esporas de prata, as botas de pluma e apoderaram-se dos seus cavalos. Descalços, apeados, seminus e feridos, os sete caçadores regressaram às suas casas.
A partir desse dia acabaram as caçadas. Nunca mais sob estes arvoredos se ouviu o longo ressoar das trombetas e a alegre algazarra dos cães. Nunca mais houve caçador que se aventurasse a penetrar na floresta onde reinavam os bandidos.
Isto passou-se há mais de dois séculos quando eu era ainda muito novo. Vi tudo muito bem com os meus próprios olhos, pois estava junto da fonte escondido dentro do tronco oco dum velho castanheiro. Por cima de mim, num ramo mais alto, estavam empoleirados dois bandidos que diziam um ao outro:
— A nossa caça são os caçadores!
Daí em diante este lugar mergulhou numa paz profunda. O arvoredo crescia em sossego frondoso e selvagem, cada vez mais espesso e mais sombrio, multiplicando os seus ramos. Os fetos mediam um metro de altura e o musgo ia cobrindo todas as pedras. Os lenhadores tinham desaparecido, os caçadores tinham desaparecido, os viajantes tinham desaparecido.
Só os três frades continuavam no seu convento.
Eram tão pobres que não temiam os ladrões. Não tinham nada que valesse a pena roubar.
Pouco tempo depois de se ter instalado na floresta o chefe dos bandidos fez-lhes uma visita.
Percorreu com ar de desprezo as quatro celas onde só havia enxergas de palha e pequenas cruzes feitas de dois paus atados. Visitou o refeitório onde só viu quatro bancos, uma mesa e algumas tigelas. Depois dirigiu-se à capela. Olhou os toscos santos de madeira que um dos frades tinha esculpido, examinou o altar de cortiça. Nenhuma destas coisas o tentou.
— Bem — disse ele aos frades — podeis ficar aqui. Mas com uma condição. Ouvi dizer que sabeis muito de medicina.
— Sabemos fazer um chá de folhas secas que faz desaparecer a febre. Sabemos fazer vários emplastros de ervas para curar as feridas. E sabemos fazer um xarope que faz passar a tosse.
— Muito bem. Doravante sereis os nossos médicos. Na vida que levamos apanhamos muitas chuvadas quando ficamos de noite nos caminhos à espera que passem os viajantes que precisamos de assaltar. Por isso sofremos muito de constipações e temos grande necessidade de chás e de xaropes. E também temos grande necessidade dos vossos emplastros pois travamos todos os dias combates e os nossos corpos estão sempre cheios de golpes e de feridas. De maneira que vamos fazer um pacto: vós tratareis de nós quando estivermos doentes e em paga disto eu dou-vos licença para continuardes a morar na vossa casa.
E assim foi.
Os anos foram passando e os bandidos, à medida que os anos passavam, iam enriquecendo.
Saíam de noite para as estradas, assaltavam os viajantes e roubavam-lhes as moedas, as jóias, as roupas e os cavalos. Ninguém os podia perseguir pois mal despontava o dia eles voltavam para a floresta onde ninguém tinha coragem de entrar.
Assim foram acumulando enormes tesoiros que guardavam nas suas cabanas em dois grandes cofres de coiro.
Dizia-se que tinham morto mais de cem pessoas e às vezes, de madrugada, quando voltavam dos seus roubos, traziam as mãos cheias de sangue.
Estas notícias afligiram muito os frades que resolveram ir falar com o capitão dos bandidos.
— Irmã — disse o frade mais velho — a vida que levas é uma vida de fera e não uma vida de homem. Roubar é uma coisa muito feia, mas matar é muito pior.
Mas o bandido riu com grandes gargalhadas e respondeu:
— Os mais fortes têm o direito de roubar e matar os mais fracos. Nós somos os mais fortes e por isso temos o direito de fazer tudo quanto queremos.
— Irmão — disse o frade — isso que dizes não é justo nem verdadeiro.
— Frade — gritou o bandido — não quero saber nem de verdades nem de justiças. Se falas mais nessas coisas mando-te cortar a língua.
E com grandes ameaças e insultos o capitão mandou embora os frades.
Mas os anos passaram e os bandidos foram envelhecendo. Começaram a ficar trôpegos, já não tinham boa vista nem boa pontaria. E no Inverno quando apanhavam chuva ficavam constipadíssimos. Tossiam durante meses e já não havia chá nem xarope que os curasse.
E um dia a roda da fortuna virou.
Soube-se que vinha a caminho da cidade um mercador muito rico que trazia consigo jóias, dinheiro e um grande carregamento de sedas, tapetes e veludo.
Os bandidos resolveram assaltá-lo.
— Vou fazer fatos novos — disse um deles.
— Vou pôr tapetes na minha casa— disse outro.
— Vou pôr cortinas nas minhas janelas — disse um terceiro.
E pela calada da noite, envolvidos nos seus capotes, os vintes salteadores esconderam-se à beira da estrada.
Era uma noite sem luz e mal se via.
Esperaram mais de uma hora. Estava muito frio. Agachados atrás duma moita os bandidos apertavam-se muito uns contra os outros tentando proteger-te do frio. Mas da planície soprava um vento cortante que penetrava tudo e ao fim dum certo tempo eles começaram todos a espirrar e a tossir.
— Estas noitadas dão cabo de mim — resmungou um deles.
— Tenho o coração apertado — resmungou outro.
— Já não tenho idade para estas coisas — resmungou o terceiro.
— Estamos precisando duma reforma — resmungou um quarto.
— Quem fala em reformas? — trovejou o capitão.
Mas logo uma voz sussurrou:
— Xiu, xiu! Olhai!
Viraram todos a cabeça para a esquerda.
Ao longe, na estrada sombria, ouvia-se um barulho longínquo de carros e cavalos.
Ficaram todos suspensos:
O barulho aproximava-se e na escuridão da noite começaram a desenhar-se vultos que cresciam lentamente.
Um dos bandidos que estava postado mais à esquerda rastejou até aos seus companheiros e avisou:
— São quatro carros fechados e dez homens a cavalo.
— É gente de mais — sussurrou a voz que tinha dito «estamos precisando duma reforma».
— Temos de desistir — disse outro.
— Desistir! Não! — atalhou o capitão. — Vêm carregados de oiro, de prata, de jóias e de sedas. São só dez homens a cavalo. Num dos carros deve vir o mercador, nos outros três só há mercadorias. Nós somos vinte e valentes. Num instante damos cabo deles. Não se desiste. Somos os mais fortes! Racho a cabeça a quem falar em desistir.
Ninguém mais ousou repontar.
Mas os cálculos do capitão estavam errados.
Pois o mercador, sabendo que aqueles lugares estavam infestados de salteadores, trazia consigo além dos dez homens a cavalo mais doze homens armados escondidos entre as mercadorias.
Os carros aproximavam-se devagar.
Estava cada vez mais frio. Ouviam-se onze tossidelas e seis espirros.
— Silêncio — ordenou o capitão. — Tudo a postos e ninguém tussa.
Os bandidos com grande esforço retiveram a tosse.
Os carros aproximavam-se. Quando chegaram a dez metros de distância o capitão ordenou:
— Tudo para a estrada!
Num salto os vinte homens galgaram as moitas e rodearam os carros.
Os cavalos estacaram e os bandidos apontando as armas gritaram:
— Mãos ao ar!
Os dez homens que estavam a cavalo ergueram os braços e os bandidos aproximaram-se mais do carro.
Mas nesse momento os doze criados do mercador que estavam escondidos entre as bagagens dispararam.
Dez bandidos caíram feridos e os outros aterrorizados com a resposta imprevista, recuaram.
— Estamos perdidos — gritou um deles.
E começaram todos a fugir.
Mas os cavaleiros correram atrás deles e não os deixaram sair da estrada.
Houve meia hora de luta e confusão e os bandidos foram totalmente vencidos. Estavam quase todos gravemente feridos. Os restantes foram desarmados e ataram-lhes as mãos com cordas.
Só um conseguiu escapar: o capitão.
A meio da luta, ferido no peito, tinha caído no chão.
Mas aproveitando a escuridão e a desordem conseguiu rastejar para fora da estrada e escondeu-se numa moita.
Terminada a batalha o mercador ordenou que deitassem os feridos nos carros e o cortejo continuou a sua vigem para a cidade próxima. Os bandidos que podiam andar seguiram a pé, amarrados uns aos outros e rodeados pelos cavaleiros.
Quando eles se afastaram, o capitão saiu da moita e dirigiu-se para a floresta.
Logo à entrada dos bosques estavam os cavalos que os bandidos tinham deixado, atados às árvores, à sua espera.
O capitão montou no seu e cavalgando com custo durante o resto da noite dirigiu-se para o convento onde chegou ao nascer do dia.
Os três frades deitaram-no na cela destinada aos viajantes, na cela onde há tantos anos não se deitava ninguém.
Examinaram-lhe e lavaram-lhe a ferida e cobriram-na com ervas refrescantes.
Mas no dia seguinte o bandido piorou muito. Ardia em febre e mal podia abrir os olhos.
Pediu ao frade mais velho que se chamava frei João que ouvisse a sua confissão.
Durante uma hora o capitou contou os seus crimes. No fim disse:
— Irmão, agora conheces os meus pecados. Sabes quantas pessoas roubei e quantas pessoas matei, espanquei e feri. Sabes todo o sofrimento que eu causei neste mundo. Agora eu queria poder apagar o mal que fiz. Queria poder voltar atrás e viver a minha vida de outra maneira. Os crimes que pratiquei, pratiquei-os todos por amor à riqueza. Quando eu era pequeno era pobre e corria descalço nas ruas. Comecei então a invejar a fortuna dos ricos. Invejava os sacos cheios de oiro, os fatos de veludo, as jóias, as casas opulentas. Decidi ser rico. Durante mais de vinte anos roubei e matei para enriquecer. Parecia-me sempre que não havia oiro que me pudesse saciar. Quanto mais rico eu era mais amava e desejava o dinheiro. Além, no meio da floresta, por detrás da fonte, entre um carvalho e uma bétula, debaixo duma grande pedra redonda, estão enterradas duas grandes arcas cheias de moedas de oiro. Esse oiro é o fruto dos meus crimes. Por causa dessas moedas muita gente sofreu, chorou e morreu. Frade, transforma em bem o fruto do mal. Faz com esse dinheiro uma obra boa. Dá esse dinheiro a uma pessoa boa que o gaste a fazer bem para apagar o mal que eu fiz. Mas tem cuidado frade: aquele a quem deres o dinheiro tem de ter uma alma inteiramente pura pois o dinheiro é um veneno que destrói os espíritos mais fortes.
O frade prometeu ao capitão que cumpriria o seu pedido, e deu-lhe a absolvição.
Poucas horas depois o bandido morreu.
Os frades enterraram-no com muitas lágrimas e muita piedade mas também com alegria por verem que aquele pecador tinha morrido arrependido.
Daí a três dias os frades depois de terem discutido muito entre si este assunto chamaram os anões e contaram-lhes o que tinha acontecido.
— Sabemos muito bem onde está o tesoiro do capitão — disse o rei dos anões — mas as arcas são enormes, vai ser preciso um carro para as transportar.
— Como havemos de arranjar um carro — perguntou o frade mais novo que se chamava frei António.
— Nós fazemos o carro — disse o rei dos anões.
E durante uma semana, nós, os anões, trabalhámos sem descanso, cortando árvores, aplainando troncos, pregando pregos.
Ao fim de oito dias o nosso trabalho ficou pronto e muito bem feito.
Atrelámos o carro ao cavalo do capitão e fomos desenterrar as arcas.
Eram muito pesadas e tivemos de as transportar uma por cada vez.
Mas quando chegámos ao convento surgiu um problema: as arcas eram enormes e não cabiam nas celas nem no refeitório. E guardá-las na capela era impossível.
Foi por isso que nós, os anões, construímos por baixo da capela um quarto subterrâneo com uma entrada secreta. As arcas foram lá guardadas e ainda lá estão!
— Ainda lá estão? — perguntou Isabel.
— Ainda — suspirou o não — e este é o problema da minha vida. Não sei o que lhes hei-de fazer!
— Então os frades não as deram a um homem muito bom?
— Ai! — exclamou o anão — o homem muito bom nunca apareceu.
E continuou a contar a sua história:
— Depois daquela noite em que os bandidos foram todos presos houve na cidade grande alegria.
— Estamos livres dos salteadores — dizia toda a gente. — Agora já podemos andar em sossego pelas estradas e já podemos passear na floresta.
Daí a tempos começou a correr de boca em boca que os bandidos tinham deixado grandes tesoiros escondidos na floresta.
Então começou um verdadeiro inferno.
A floresta foi invadida por bandos de aventureiros que vinham à procura do oiro roubado. Era uma gente que parecia louca. Abriram buracos no chão por toda a parte e serraram as árvores mais antigas e mais belas para ver se tinham alguma coisa escondida no tronco. Nós, os anões, já não tínhamos sítio onde nos esconder.
— Porque é que os frades não lhes deram o tesoiro para eles se irem embora? — perguntou Isabel.
— Era gente muito má. Passavam o dia a brigar uns com os outros e só falavam em dinheiro. Felizmente, como não encontravam nada, ao fim dum tempo foram-se embora e deixaram-nos em paz.
Os anos foram passando e os frades iam envelhecendo.
A floresta começou a povoar-se. Encheu-se de lenhadores e todos os dias por aqui passavam viajantes.
Um dia espalhou-se na região uma epidemia terrível.
Os três frades adoeceram.
Ao fim de sete dias de doença sentiram que tinha chegado a hora da sua morte.
Nós, os anões, viemos visitá-los e vendo-os tão mal começámos todos a chorar.
— Queridos irmãos anões — disse o frei João — não deveis chorar. — Estamos muito velhos e desejamos mais o outro mundo do que este. Alegramo-nos com a bênção de Deus que faz que morramos todos três no mesmo dia pois teríamos muita pena de nos separarmos. Só uma coisa nos preocupa: o tesoiro dos bandidos. Infelizmente não nos foi possível cumprir a promessa que fizemos ao capitão. Por isso vamos deixar aquele oiro nas vossas mãos: procurai, procurai bem pois haveis de encontrar alguém a quem o dar.
No dia seguinte os três frades morreram e os anjos desceram do céu para buscar as suas almas.
O convento ficou vazio e lentamente começou a tombar em ruínas.
Nós, os anões, não sabíamos o que havíamos de fazer àquele oiro tão pesado e tão incómodo. Os anos iam passando e não conseguíamos descobrir nenhum homem que fosse inteiramente bom.
Até que um dia um senhor da cidade comprou uma parte da floresta, justamente a parte onde ficava o convento e onde agora estamos. Resolveu fazer aqui uma quinta. Vieram homens que deitaram abaixo quase todas as árvores: só este parque ficou como era. Começaram depois a cultivar os campos. Então o senhor, para que ninguém roubasse as suas searas, as suas flores e os seus frutos, mandou fazer um alto muro à volta da quinta. Foi nessa altura que levaram quase todas as pedras do convento, deixando só dois muros.
Ora nós, os anões, amamos a liberdade e não nos podemos sentir presos. Saber que tínhamos um muro à nossa roda tirava-nos toda a alegria. Por isso o nosso rei reuniu o seu conselho.
— Estes lugares — disse ele — tornaram-se inabitáveis. Temos de emigrar para as florestas do Norte. Infelizmente ainda não conseguimos dar destino ao tesoiro dos bandidos. Um de nós terá de ficar aqui de guarda às arcas até encontrar alguém a quem as possa entregar.
Tirámos à sorte para saber quem havia de ficar e, infelizmente, a sorte coube-me a mim.
Quando chegou o Outono os meus companheiros montaram a cavalo nos patos bravos e partiram todos para as florestas do Norte.
Isto foi há mais de duzentos anos. E há mais de duzentos anos que eu aqui estou sozinho, longe dos meus amigos e parentes, preso entre os muros desta quinta, amarrado ao tesoiro dos bandidos.
— Ai, que história tão triste! — suspirou Isabel — temos de encontrar um remédio.
— Talvez tu me possas ajudar. Eu sou um anão, não falo com ninguém como é que eu hei-de descobrir o homem de que preciso!
Isabel ficou calada pensando.
Passados uns minutos exclamou:
— Já sei!
— Diz depressa — pediu o anão.
— Dá o tesoiro ao meu professor de música. É um homem extraordinário. Chama-se Cláudio e tem vinte e três anos. Passa o dia a tocar violino. E também faz versos. E diz sempre: «A fortuna, a glória, o dinheiro não contam. Só a verdade e a beleza é que nos dão felicidade». É um poeta.
— Parece-me bem — disse o anão. — Sempre gostei de poetas.
— Ouve — disse Isabel — amanhã ele vem-me dar lição de música e vou trazê-lo aqui.
No dia seguinte, quando Cláudio chegou, Isabel contou-lhe a história do tesoiro.
Ele achou uma história muito bonita e não se espantou nada.
— Agora vamos ter com o anão — disse Isabel.
E foram os dois pela quinta fora.
O anão já os esperava junto do lago sob a luz doirado e verde coada pelas altas folhagens.
Depois de ele ter travado conhecimento com o professor de música Isabel perguntou:
— Anão, queres mostrar-nos o tesoiro?
— Venham comigo — disse o homenzinho.
E seguiram os três através do parque. De vez em quando uma folha amarela desprendia-se dos galhos, dava duas voltas no ar e caía no chão com um leve rumor.
Ao fim de dez minutos chegaram em frente de dois muros de pedra velhíssimos cobertos de musgo e de trepadeiras que formavam um ângulo.
— É aqui que está o tesoiro. Estas são as duas paredes que restam da capela. E agora olhai bem — disse o anão.
E tirando do cinto o seu punhal introduziu a lâmina numa fenda entre duas pedras. As pedras recuaram e no lugar delas ficou uma abertura que dava para uma escada.
— Este trabalho fomos nós, os anões, que o fizemos — disse o anão orgulhosamente. — Vede a nossa habilidade: passados três séculos este mecanismo ainda funciona bem. As arcas estão lá em baixo. Agora temos de descer pela escada.
E o homenzinho entrou pela fenda e pôs-se a saltar de degrau em degrau.
— Está muito escuro. Não posso descer, não vejo nada — exclamou Isabel.
— Cá em baixo há velas — gritou o anão.
— E eu tenho aqui fósforos — disse Cláudio.
E acendendo um fósforo deu a mão a Isabel e desceram juntos as escadas.
Lá dentro havia um cheiro húmido a bafio.
O professor acendeu dois castiçais que estavam pousados numa mesa.
As arcas eram enormes, feitas de coiro, rodeadas por tiras de ferro e velhíssimas.
O professor de música levantou as tampas e à luz trémula das velas o oiro surgiu faiscante e belo. Eram moedas e moedas, redondas e polidas.
Isabel agarrou duas mãos cheias e deixou-as cair devagarinho tilintando umas sobre as outras.
— É lindo — disse ela.
O anão virou-se para Cláudio.
— Se quiseres dou-te este oiro todo.
Mas ele abanou a cabeça e pôs-se a assobiar.
— Então? — perguntou o anão.
— Não quero — respondeu o músico. — É de mais. É riqueza de mais. Se estiveres de acordo aceito vinte moedas para comprar um violino novo.
— Isso é impossível. O frei João prometeu ao capitão dos bandidos que daria o oiro a uma pessoa. Tudo a uma pessoa. Foi isto que ficou combinado e eu não posso faltar ao combinado. Se eu tivesse ordem de distribuir as moedas já as teria distribuído há muito tempo. Tem paciência: aceita o oiro e distribui-o tu como quiseres.
— Isso não. Ficaria preso ao dinheiro como tu. Ficaria cheio de dúvidas e problemas. Teria de fazer muitas contas. Seria uma grande complicação. O dinheiro é um veneno se se toma em grandes doses. Tenho medo que o teu oiro envenene a minha vida.
— Então que vamos fazer? — perguntou Isabel desconsolada.
— Ai de mim — suspirou o anão — nunca mais me vejo livre destas duas arcas!
Ficaram os três calados a pensar.
De repente o professor de música deu um salto e exclamou.
— Tenho uma ideia. Já sei o que se há-de fazer com o tesoiro.
— Diz, diz — pediu o anão.
— Tenho um amigo muito sábio e muito velho chamado Doutor Máximo. Desde muito novo ele dedicou toda a sua vida a um sonho: descobrir a maneira de transformar as pedras em oiro. Nunca pensou noutra coisa. Dantes era muito rico mas agora está arruinado, pois gastou toda a sua fortuna em laboratórios e experiências. A gente da cidade troça dele e chama-lhe louco. Passeia pelas ruas a falar sozinho, discutindo consigo próprio. Os garotos atiram-lhe pedras e gritam:
— «Transforma-as em oiro».
Ele nunca se zanga: é um homem muito bom e nunca o vir querer mal a ninguém.
— Mas para que é que um homem bom pensa tanto no oiro? — perguntou o anão.
— Bem, não é por causa da riqueza. É por causa da ciência. Ele é um homem apaixonado pela ciência. Além disso diz que quando puder transformar as pedras em oiro há-de enriquecer todos os pobres. Há dias levou-me ao seu laboratório, mostrou-me um tanque cheio de pedras e disse-me:
— Estou agora a fazer a minha última experiência. Se esta experiência falhar nunca mais poderei fazer outra porque gastei tudo quanto tinha nestes preparativos. Durante a minha vida fiz tantas experiências! E todas falharam. Mas esta agora tem de dar bom resultado. Nela pus todo o meu saber, todo o fruto de sessenta anos de estudo!
E tendo dito isto começou a despejar frascos e frascos cheios de líquidos verdes, roxos e pretos. Esteve uma hora a despejar frascos até que as pedras ficaram todas cobertas duma água espessa e sombria.
Depois fechou as janelas, virou-se para mim e disse:
— Vamos embora.
Saímos e ele fechou a porta à chave. E explicou-me:
— As pedras devem ficar durante um mês às escuras, mergulhadas naquela mistura de líquidos que elas beberão lentamente. Hoje é o dia 20 de Outubro. No dia 20 de Novembro as pedras devem estar transformadas em oiro. Se esta experiência falhar é porque falhei a minha vida. Mas se esta experiência der resultado serei um homem completamente feliz. E farei a felicidade de muitas pessoas. Ouve: Hoje é o dia 20. Daqui a três dias as pedras devem estar todas pretas. Três dias depois devem estar todas azuis. Passados mais três dias devem estar brancas. Depois, a partir do décimo dia as pedras devem começar a ficar amarelas. Até se transformarem todas em oiro! Durante este mês vou viver roído de impaciência. Tenho de me afastar daqui. Vou para o campo. Lá poderei descansar e tentar distrair o meu espírito. Mas peço-te um favor: enquanto eu estiver ausente toma conta da chave do laboratório. Não tendo a chave comigo eu resistirei melhor à tentação de vir rondas estes lugares. Além disso sou muito distraído, a minha cabeça está cansada e nunca sei onde é que ponho as coisas. Tenho medo de perder a chave nas mudanças da viagem.
E dizendo isto o Doutor Máximo estendeu-me a chave que desde então trago sempre no meu bolso.
Ele partiu daí a uma hora para o campo. Eu, passados três dias, não resisti. Fui ao laboratório: as pedras não estavam pretas, continuavam iguais ao que antes eram. Passaram-se mais três dias e voltei ao laboratório. As pedras não estavam azuis, continuavam cor de pedra. E mais uma vez, passados três dias, voltei ao laboratório: as pedras não tinham mudado.
Hoje é o décimo dia. Esta manhã fui ver as pedras. Estão na mesma.
— Então a experiência falhou! — exclamou Isabel.
— Falhou — disse Cláudio. — Mas há um remédio: podemos deitar fora as pedras e despejar este oiro no tanque do laboratório. Assim o Doutor Máximo julgará que a sua experiência se realizou. E assim este oiro que foi causa de tantos crimes e de tanta dor, irá transformar-se em alegria.
— É uma ideia maravilhosa — disse Isabel — mas o Doutor Máximo não vai ficar espantado quando vir que as pedras além de se transformarem em oiro se transformaram também em moedas?
— Ai, isso é verdade — respondeu o rapaz — mas que havemos de fazer?
— Nesse ponto — disse o anão — não há nenhuma dificuldade. Nós, os anões, somos muito sábios na arte de fundir metais. Em menos de três dias eu posso fundir as moedas e dar-lhe a forma de pedras. Deixai-me só que eu vou já começar a trabalhar. Daqui a três dias vem ter comigo ao pé do lago.
— Enquanto tu trabalhas o oiro eu vou deitar fora as pedras que estão no tanque do laboratório — disse o Professor de música.
E dando a mão a Isabel saiu do subterrâneo.
Muitos séculos antes, sob o chão da quinta, os anões tinham escavado o seu palácio subterrâneo.
Foi lá que o anão foi buscar as ferramentas para o seu trabalho e em três dias, como tinha prometido, fundiu o oiro e moldou-o em forma de pedras. Então o professor veio com uma mala buscar o tesoiro. Mas as pedras de oiro eram tantas que foram necessárias muitas viagens para as transportar todas. Este trabalho por isso demorou mais de quinze dias. Mas no dia 19 de Novembro estava tudo pronto e organizado. E na manhã do dia 20 o jovem professor de música bateu à porta do velho Doutor Máximo que na véspera tinha voltado do campo.
— Trago aqui a chave — disse ele.
— Obrigado — respondeu o sábio. Mas agora não me abandones, vem comigo ao laboratório. Não tenho coragem para estar sozinho neste momento tão grave.
— Amigo, anima-te. Tens estudado tanto e trabalhado tanto que a tua experiência está com certeza certa.
— Ai — suspirou o velho — a minha esperança está quebrada. Têm sido tantas as experiências que têm falhado! Os meus cálculos estão certos, eu sei que estão certos, mas na prática da experiência há sempre qualquer coisa que corre mal. Se eu agora tiver falhado nunca mais na vida terei coragem para fazer nada.
Quando entraram no laboratório as mãos do Doutor Máximo tremiam.
— Abre tu as janelas — pediu ele ao amigo.
A luz invadiu a grande sala cheia de máquinas, alambiques, retortas e frascos.
O professor de música com uma pinça tirou do tanque uma pedra e ergueu-a no ar.
— Oiro! — exclamou o sábio.
Agarrou o metal nas mãos e virou-o de todos os lados. Depois começou a rir e a chorar ao mesmo tempo e disse:
— Mal posso acreditar no que vejo! Já não sou um velho tonto e falhado. Consegui demonstrar a minha descoberta. Não falhei a experiência. Estou tão feliz, tão feliz! E vou tornar felizes todas as pessoas à minha roda!
No dia seguinte a notícia da grande descoberta já se tinha espalhado na cidade inteira. Os jornais não falavam de outra coisa. Os curiosos rodearam o laboratório. À noite houve fogo de vista.
O presidente da Academia das Ciências, o reitor da Universidade e o presidente da Câmara vieram pessoalmente visitar o Doutor Máximo e fizeram o seguinte discurso:
— Doutor, Vossa Excelência é um sábio universal. A sua descoberta honra a nossa cidade. Estamos orgulhosos. A Academia, a Universidade e a Câmara Municipal felicitam Vossa Excelência. A sua descoberta é um acontecimento oficial, é um dos maiores acontecimentos do século do Progresso. Já decretámos conceder-lhe a grande condecoração do Mérito Público. E também decretámos que na próxima quinta-feira haverá feriado em honra de Vossa Excelência. E também nesse mesmo dia, para celebrar a grande descoberta, se efectuará na Praça da Câmara, uma grandiosa cerimónia em honra de Vossa Excelência e durante a dita cerimónia nós teremos a subida honra de entregar a Vossa Excelência a grande condecoração que lhe foi atribuída.
— Muito obrigado, muito obrigado — disse o Doutor Máximo — calha muito bem: Eu vou aproveitar a ocasião para no fim da cerimónia distribuir aos pobres da cidade as minhas pedras de oiro.
O presidente da Academia, o reitor da Universidade e o presidente da Câmara olharam uns para os outros e foram-se embora comentando:
— É uma bela acção! Muito original! Mas é esquisito!
Daí a momentos bateram outra vez à porta do Doutor Máximo.
Era uma bicha de banqueiros e negociantes.
O sábio recebeu-os um por um.
— Caro amigo — disse o primeiro que foi recebido — o oiro é um metal precioso. É o alimento, o sangue e o nervo das civilizações. É preciso empregá-lo bem. Eu venho ensiná-lo a empregar o seu oiro. Trago-lhe um negócio magnífico que dará a ambos grandes lucros.
— Agradeço — respondeu o doutor — mas sou um sábio, não sou um homem de negócios. Fiz a minha descoberta por amor à ciência e não por amor à fortuna. Na próxima quinta-feira vou distribuir o meu oiro todo aos pobres desta cidade. E, mais tarde, quando fizer outras experiências, espalharei o oiro pelos pobres de outras cidades. Assim irei remediando as desigualdades do mundo.
O homem de negócios, vermelho de espanto e confusão, atalhou:
— Mas o meu negócio é um negócio extraordinário! Um negócio que deve render cinquenta por cento ao ano!
— Mas eu não amo a fortuna e posso transformar as pedras em oiro. Para que havia eu de querer esses lucros?
O homem de negócios retirou-se indignado e confuso.
Os seus companheiros desfilaram depois, um por cada vez, no escritório do inventor.
Todos eles propunham negócios e todos eles ouviram as mesmas respostas.
Retiraram-se indignados, resmungando:
— Este homem é um doido perigoso.
No dia seguinte de manhã o sábio estava a trabalhar no seu laboratório.
Tinha vestido uma bata branca e com os óculos pousados na ponta do nariz olhava atentamente uma retorta cheia de um líquido espesso, verde e viscoso.
Mas a campainha tocou e ele interrompeu os seus exames e foi abrir a porta.
Eram alguns dos negociantes que o tinham procurado na véspera. Desta vez eram só sete mas esses sete eram os homens mais ricos da cidade.
— Espero que não me venham falar em negócios! — exclamou o sábio aflito.
— Não, não caro amigo — disse o mais importante de todos que se chamava Dr. Sabido — hoje venho falar da ciência. Mostre-nos o seu laboratório e explique-nos os seus estudos e a sua descoberta.
O Doutor Máximo olhou com espanto o visitante. Este era um homem atarracado e feio com duas grossas bochechas de sapo que tremiam dos dois lados da cara. Toda a gente na cidade sabia que ele não se interessava pela ciência e que só se interessava pelo dinheiro.
Mas o velho sábio era um homem amável e começou logo a mostrar as suas retortas e as suas maquinetas.
Ao fim de uma hora de explicações o inventor disse:
— Mas os segredos da minha ciência estão aqui.
E ao falar assim abriu uma porta e entraram todos para um quarto que tinha as paredes cheias de livros e as mesas e as cadeiras carregadas de papéis. E na parede de fundo estava pendurado um quadro coberto de fórmulas escritas a giz.
— Aqui — continuou o Doutor Máximo apontando o quarto em sua volta — aqui é o meu gabinete. É aqui que estudo, faço os meus cálculos e imagino os meus inventos que depois experimento no laboratório. Nestes papéis estão escritas as fórmulas das minhas descobertas. E nestas fórmulas está toda a minha ciência. Pois estou velho e a minha memória esquece tudo, mas nos meus papéis está guardado tudo aquilo que eu sei.
Os sete negociantes entreolharam-se em silêncio e depois o doutor Sabido disse:
— A sua descoberta é uma glória para a ciência. No campo da cultura é um acontecimento notável. Mas no campo prático, no plano da vida de todos os dias, a sua descoberta é um erro e um desastre.
— Como? — interrogou o sábio.
— A sua descoberta vem perturbar a ordem estabelecida. Até aqui os pobres trabalhavam para ganhar o sustento e os ricos trabalhavam para ficar mais ricos. Mas daqui em diante ninguém mais há-de querer trabalhar.
— Não, não — interrompeu o Doutor Máximo — as pessoas não podem comer oiro nem vestir-se com oiro: terão de cavar a terra e fabricar as suas roupas como dantes.
— Nunca mais será como dantes! — berrou outro negociante. — O oiro valia muito porque era raro. Quando o oiro for abundante pouco valerá. E então que será feito de todos aqueles que passaram a sua vida a fazer economias e que juntaram com tanto amor umas moedas de oiro ao canto da gaveta? Vamos ficar todos arruinados!
— Lamento, lamento! — suspirou o sábio.
— O senhor está-nos a fazer uma concorrência desleal — gritou um terceiro comerciante. — Nós para juntarmos a nossa fortuna precisamos de muitos anos, mas o senhor no prazo de um mês transformou em tesoiro um montão de pedras.
— Sim — disse o Dr. Sabido — isto não pode continuar. Caro amigo, admiramos muito o seu talento mas é preciso que as suas experiências não se repitam. Viemos aqui para falar consigo muito a sério. Isto não pode continuar: o senhor tem de nos garantir que vai acabar com as suas experiências.
— Um homem de ciência — respondeu o sábio — não pode interromper o seu trabalho.
— Mas nós pedimos-lhe que os interrompa — disse o doutor Sabido.
— Não!
— Muito bem. Somos sete homens ricos e poderosos e temos muitos amigos ricos e poderosos. De hoje em diante somos seus inimigos e havemos de arranjar maneira de pôr cobro à sua obra.
E batendo as portas os sete negociantes foram-se embora.
Nesse dia e no dia seguinte o Doutor Máximo não conseguiu um minuto de sossego.
Ininterruptamente batiam pessoas à sua porta. Vinham propor negócios, ou pedir empréstimos, ou oferecer ideias e planos. E muitos deles pediam ao inventor que não continuasse a transformar as pedras em oiro.
O sábio tonto de confusão, suspirava.
Finalmente chegou a quinta-feira.
A cidade estava em festa. Havia colchas nas janelas e estalavam foguetes para o lado do rio.
A população da cidade apinhou-se na praça da Câmara e nas ruas vizinhas. A banda municipal tocava hinos.
Os vendedores ambulantes vendiam gasosas e pedras e apregoavam:
— Comprai estas pedras que o sábio há-de transformá-las em oiro.
Rodeado pelas autoridades o sábio subiu para um estrado. Ao seu lado estava o professor de música que tinha o anão escondido num bolso. Estavam os dois divertidíssimos embora a desafinação da banda municipal os arrepiasse um pouco.
Mas depois os hinos calaram-se e o presidente da Câmara, o presidente da Academia das Ciências e o reitor da Universidade fizeram cada qual o seu discurso. O reitor que foi o último a falar terminou dizendo:
— O Doutor Máximo é o máximo doutor.
Houve muitas palmas e a música recomeçou a tocar com entusiasmo enquanto o presidente da Câmara colocava a grande condecoração de Mérito Público no peito do sábio inventor.
Em seguida começou a distribuição do oiro. Em cima do estrado foram colocadas quatro arcas.
O Doutor Máximo levantou as tampas e o tesoiro do anão brilhou à luz do sol.
Os guardas abriram uma ala no meio da multidão e os pobres principiaram a desfilar. Vinham descalços, vestidos de farrapos, os seus olhos brilhavam nos rostos pálidos e magros e tinham um ar de paciência e de esperança. Parecia impossível que numa cidade tão rica e tão bonita pudessem existir tantos miseráveis. E eram tantos que desfilaram até ao pôr-do-sol.
Com as suas próprias mãos o Doutor Máximo ia distribuindo o Tesoiro. E correu tudo tão bem que o número das pedras de oiro era exactamente igual ao número dos pobres.
O sol desapareceu ao longo para os lados do mar, o céu ficou todo vermelho desenhando o perfil escuro do casario.
A cidade encheu-se de cantos e danças. As pessoas passavam a rir pelas ruas onde baloiçavam balões de papel colorido dentro dos quais ardiam velas. Nas varandas tocavam guitarras, nas praças dançava-se o vira.
Mais tarde houve fogo de vista. No céu estalavam grandes flores de luz que logo se desfaziam em estrelas e caíam devagar, roxas, vermelhas, doiradas e azuis sobre a água escura do rio.
O mundo parecia transformado numa festa.
Mas o Doutor Máximo não pôde alegrar-se com esta alegria. Rodeado pelas autoridades foi arrastado para um banquete.
O sábio estava cansadíssimo e o banquete pareceu-lhe interminável. Serviam-se três pratos de peixe e quatro assados. Depois apareceram os pudins e os sorvetes. E para terminar houve brindes, saúdes e mais discursos.
Cláudio que também tinha sido convidado, pois o sábio o tinha apresentado como seu colaborador, ficou sentado numa ponta da mesa, com o anão no seu bolso, e observava sorrindo aquilo tudo.
De vez em quando falava baixinho explicando ao anão as coisas que ele não via e disfarçadamente, dava-lhe pedacinhos de comida.
— Que homem tão esquisito — comentou um dos seus vizinhos — fala sozinho e mete comida no bolso.
— Deve ser um sábio — respondeu um segundo vizinho — são gente muito esquisita.
— Esquisita e perigosa — observou o primeiro vizinho. — Esta descoberta do oiro sintético vai causar grandes confusões.
— Também me parece: dizem que o oiro vai perder o valor.
E abanavam a cabeça com ar preocupado.
Quando acabou o banquete o Doutor Máximo foi levado para uma sala por um grupo de homens muito importantes que se sentaram à sua roda e lhe falaram durante duas horas sem parar.
Era já meia-noite quando o sábio conseguiu ver-se livre deles.
Então, depois de se ter despedido da assistência, chamou o professor de música e saíram os dois. Cá fora a cidade continuava em festa, cheia de vaivém de gente, cheia de risos, cantos, balões coloridas, e danças. O fogo de vista erguia no céu o seu grande clarão verde e as lágrimas de luz recaíam lentamente sobre os telhados.
Uma mulher passou gritando:
— Vai haver fogo preso, vai haver fogo preso no rio.
Dum salto, um grande balão iluminado elevou-se lentamente, subiu no ar da noite e cambaleando seguiu a sua viagem sonhadora.
— Isto é uma grande festa. Vê esta alegria toda. É tudo em tua honra. Estás contente? — disse Cláudio.
— Estou contente mas estou triste! — suspirou o sábio. — Que vai ser de mim? Há pouco aqueles homens muito importantes disseram-me que as minhas experiências vão ser proibidas porque estão causando perturbações nos negócios da cidade. Um amigo meu preveniu-me de que estou a correr grandes perigos. Parece que há entre os comerciantes desta terra uma organização secreta. Unem-se sempre todos contra quem vem contrariar os seus negócios. É uma coisa muito tenebrosa e muito esquisita: são gente que se move na sombra e tem um grande poder. Que vai ser de mim? Diz o meu amigo que agora se unirão todos contra mim. Que hei-de eu fazer?
— Só te posso dar um conselho, amigo: desiste das tuas experiências e declara que nunca mais hás-de transformar as pedras em oiro.
— Isso não: um cientista não pode abandonar os seus trabalhos. Seria uma grande vergonha para mim se eu depois de tanta glória renunciasse à ciência.
— Bem — suspirou Cláudio — então teremos de arranjar outra solução. Mas hoje é tarde. Amanhã havemos de pensar.
Enquanto falavam tinham chegado à porta da casa do Doutor Máximo. Os dois amigos despediram-se e o professor de música afastou-se e seguiu o seu caminho.
A rua, um pouco afastada do centro da cidade, estava deserta àquela hora pois a multidão tinha-se reunido nas ruas e nas praças do centro e nos cais que davam para o rio.
O anão pôs a cabeça fora do bolso e perguntou:
— Porque é que tu queres que ele interrompa as experiências? Ele não descobriu nada. Que diferença é que faz que ele repita as experiências se as experiências não podem dar nenhum resultado?
— Quero que ele não continue por duas razões: primeiro porque se ele repetir a experiência as pedras continuarão a se pedras e ele terá uma terrível desilusão. Segundo porque se ele continuar a fazer experiências nunca mais terá sossego. Os homens importantes nunca mais o deixarão em paz e hão-de inventar mil maneiras de o perseguir e de o atormentar.
— Então que havemos de fazer?
— Não sei. Estou muito aflito. O oiro do bandido só traz confusões.
— Foi muito mal ganho — comentou o anão.
— Mas há-de aparecer uma solução — disse o professor de música.
Nessa noite o anão dormiu em casa do jovem músico.
De madrugada foram acordados por um grande tilintar de campainhas.
— São os bombeiros — disse Cláudio. — Foi algum balão caído que pegou fogo a alguma coisa. Mas os bombeiros já lá vão acudir.
E voltaram os dois a adormecer.
Mas de manhã quando saíram para a rua a cidade tinha um ar muito desarrumado e confuso. O chão estava cheio de papéis sujos e nas varandas pendiam balõezinhos apagados.
Nas ruas e nas praças reuniam-se magotes de pessoas que falavam muito. Os caixeiros estavam todos às portas das lojas sem fazerem nada. As cozinheiras à volta da praça paravam a conversar nas esquinas.
Todos falavam da grande notícia: durante a noite a biblioteca e o laboratório do Doutor Máximo tinham ardido.
— Foi algum balão que pegou o fogo — disse um velho.
— Ou foi alguma explosão. Nos laboratórios há sempre coisas muito explosivas e perigosas — disse um senhor bem vestido.
— Não, não — gritou uma mulher. — O sábio agora tinha muitos inimigos. Os homens poderosos da cidade diziam que esta descoberta os ia arruinar. Foi fogo posto. Foram os inimigos do Doutor Máximo que fizeram isto.
Cláudio afastou-se do grupo e disse ao anão:
— Vês, apareceu a solução. Vamos procurar o nosso amigo.
À porta do laboratório estava uma fileira de polícias que impediam os curiosos de entrar.
Os bombeiros já se tinham ido embora pois havia mais de duas horas que o fogo fora completamente apagado.
O professor de música explicou quem era e os polícias deixaram-no passar.
O Doutor Máximo estava sozinho, rodeado de cinzas e ruínas. Da biblioteca não restava nem um livro, nem um manuscrito, nem um papel. No laboratório os frascos, os tubos de ensaio e as retortas tinham rebentado. O chão estava cheio de água, de vidros, de pedaços de borracha queimada, de madeira carbonizada e de ferros torcidos.
Quando viu aparecer Cláudio o sábio abriu os braços e exclamou:
— Amigo, não te aflijas! Este incêndio foi a minha salvação! Estou aliviado e contente. Vês, apareceu a solução. Sem os manuscritos onde tinha escrito todas as fórmulas não posso continuar as experiências. Ainda bem! A minha glória tinha-me trazido muitas arrelias. Assim continuo a ter a glória e vejo-me livre das arrelias. Agora vão-me deixar em paz. Fiz uma grande descoberta científica e já ninguém pode duvidar da minha sabedoria. Mas estou liberto das complicações que a minha descoberta me trouxe. Esta ideia de transformar as pedras em oiro criava grandes problemas e trouxe-me muitos inimigos. Mas este incêndio destruiu os problemas. Os meus inimigos vão-se desinteressar-se de mim e eu vou-me dedicar a outros trabalhos.
— De qualquer maneira — disse o professor de música — és o homem mais célebre desta cidade! E já não há ninguém que faça troça de ti.
— Lá isso é verdade — respondeu o sábio. Mas estou farto de glória. A glória é maçadora e complicada. Só quero sossego.
Nesse mesmo dia ao fim da tarde Isabel, o anão e Cláudio sentaram-se os três num banco coberto de musgo no fundo do parque. Estavam calados e quietos e olhavam as folhas que caíam devagar dos ramos altos.
Foi o anão que quebrou o silêncio.
— Há três séculos que moro nestes sítios onde nasci — disse ele — mas hoje chegou a hora da minha partida. Vou ter muitas saudades deste lugar mas já é tempo de eu me ir encontrar com os meus irmãos anões nas florestas do Norte. Obrigado Isabel, obrigado meu amigo músico. Graças a ti Isabel, ao Doutor Máximo e a Cláudio estou liberto do tesoiro terrível do bandido. O Rei dos Anões tinha-me ensinado: «Confia nas crianças, nos sábios e nos artistas».
— Ai — suspirou Isabel — vou ter tantas saudades de ti, meu querido anão. Como é que eu me hei-de consolar da tua partida?
— Quando fores crescida — disse o professor de música — escreve esta história. As coisas que passam ficam vivas para sempre numa história escrita.
Porém, apesar deste conselho, Isabel começou a chorar.
Mas o anão fez um discurso tão sensato que ao fim de alguns minutos ela limpou as lágrimas.
Então do cimo dum carvalho desceu um belo pássaro preto de bico amarelo. As suas penas eram brilhantes e as suas asas grandes e vigorosas.
— Que lindo pássaro! — exclamou a rapariga.
— É ele que me vai levar até às florestas do Norte onde me espera o meu povo. É longe, muito longe. Vamos voar durante longos dias. Temos de atravessar a Espanha, a França, a Alsácia e o mar. Chegou o momento de nos despedirmos.
E tendo dito isto o homenzinho fez uma mesura, beijou a mão de Isabel, apertou um dedo de Cláudio e saltou para as costas da ave.
— Adeus, adeus — disse ele — nunca nos esqueceremos.
— Nunca, nunca — respondeu Isabel.
O pássaro elevou-se no ar. O anão dizia adeus com uma mão. As suas barbas brancas esvoaçavam em roda da sua cara pequenina, alegra e sisuda, vermelha como um morango.
O professor de música e Isabel seguiram longamente com os olhos os dois viajantes: viram-nos voar em direcção ao Norte sobre arvoredos e campos. Até que se tornaram um minúsculo ponto preto que desapareceu na distância. E os dois amigos de mãos dadas caminharam lentamente para casa.
O parque ficou sozinho e vazio. As altas copas das árvores formavam uma abóbada verde. Os troncos dos plátanos e das bétulas desenhavam na verdura as suas manchas brancas. Não se ouvia voz nem passo humano. As folham caíam rodopiando devagar em largos círculos e pousavam quase sem ruído na macieza do chão. Aqui e além estalavam ramos secos. Aqui e além um pássaro cantava. Ervas trémulas dançavam à menor brisa. No ar pairava um perfume de maçã de Outono.
A água clara da fonte cantava ao cair de pedra em pedra. Era a mesma fonte onde tanta vez tinham bebido os caçadores estouvados, os bandidos terríveis e os sábios anões tão alegres e tão sisudos.
Sophia de Mello Breyner Andresen
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















